Posts com a Tag ‘Saeculum – Revista de História (S-RH)’
Afro-Clio: direitos humanos, história da África e outras artesanias | Elio Chaves Flores
Lélia Gonzalez (acima) e Elio Flores (abaixo) | Fotos: Divulgação / Brasil de Fato
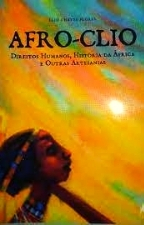
Flores é professor Titular do Departamento de História da UFPB, pesquisador na área de História Moderna e Contemporânea e atua nas áreas de Cultura Histórica, Ensino de História, História da África, Educação das Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos e Saberes Históricos.
O livro está organizado em quatro capítulos: o primeiro deles intitula-se “Sair da história: direitos humanos, tempo presente”; o capítulo 2, “Mergulhar na história: viradas, ventanias”. No capítulo 3 o autor reflete sobre o “Fazer-se professor (e historiador) de História da África – Licenciaturas”; e no quarto capítulo apresenta a “A tal tese e outras tensões (ou doutoristicamente falando?)”. Aos capítulos apresentados seguem-se as “Considerações Finais: à guisa do Posfácio” e a sua produção intelectual bibliográfica. Leia Mais
Memórias de Plantação: episódios de racismo cotidiano – KILOMBA (S-RH)
KILOMBA, Grada. Memórias de Plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. Resenha de: NICHNIG, Claudia Regina. “Escrevo da periferia, não do centro”: mulheres negras e experiências de racismo cotidiano”. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v.25, n.43, p.398-405, jul./dez. 2020.
O livro de Grada Kilomba é resultado de sua tese de doutorado defendida e publicada na Alemanha em 2008 somente dez anos mais tarde publicado no Brasil, em 2019. A pesquisadora, escritora e artista, nascida em Lisboa, na apresentação da edição de seu livro ao público brasileiro, aponta que sua experiência de estudante negra em Lisboa-Portugal, mas também em Berlim-Alemanha, fez com que se sentisse em um não lugar destinado à pesquisadora negra, jamais reconhecida nesta posição, muitas vezes confundida com a pessoa da limpeza. Ao discutir a história colonial destes dois países, Grada Kilomba vai mostrar como o racismo se faz presente nas práticas diárias e que, mesmo que estes países não tenham mais colônias na atualidade, a herança deste período ainda persiste nas marcas coloniais. Foi na Alemanha que encontrou “uma forte corrente de intelectuais negras que haviam transformado radicalmente o pensamento e o vocabulário contemporâneo global durante várias décadas” (KILOMBA, 2019, p. 12) e, portanto, a sua escrita dialoga com as mais importantes autoras e autores da diáspora africana e do feminismo negro, como Gayatri Spivak, Patricia Hill Colins, bell hooks, Philomena Essed, Frantz Fanon, Stuart Hall, Paul Gilroy, destacando autoras que abordam as questões de gênero entrelaçadas com o debate de raça. Leia Mais
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 – BURKE (S-RH)
BURKE, Peter. Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. O conhecimento sem pátria. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 25, n. 42, p. 222-226, jan./jun. 2020.
Todos os que acompanham a atualidade política sabem que um tema em particular está quase sempre presente no debate público, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos: a imigração. A polêmica discussão é animada não somente pelos jornalistas e atores políticos, com posicionamentos nem sempre apaziguadores, mas também pelos intelectuais. São inúmeros os acadêmicos – filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas – que tentam, através de uma análise mais serena e por meio dos instrumentos fornecidos pela ciência que professam, analisar a imigração como um fenômeno social complexo, com diferentes causas e diversas consequências para a sociedade. O último livro de Peter Burke, fruto de conferências proferidas na Historical Society of Israel em 2015, é um belo exemplo de como um historiador, de quem se costuma esperar apenas um olhar crítico sobre o passado, também pode enriquecer a reflexão acerca de problemas atuais. A obra Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, publicada em 2017, estuda um tipo específico de imigração: a dos intelectuais que deixaram seu país natal, de modo espontâneo ou forçado, e prosseguiram a sua produção intelectual em outras terras. A partir desse grupo seleto de imigrantes, o autor examina os efeitos do encontro – ou eventualmente do choque – entre duas culturas na produção e difusão do conhecimento. Este é o pressuposto central do livro: a imigração é um fato social de efeitos recíprocos, isto é, tanto os indivíduos que imigram quanto a sociedade estrangeira que os acolhe são de algum modo afetados e transformados pelo intercâmbio que se opera. Está claro, portanto, que o livro refuta o argumento, às vezes invocado em âmbito político, segundo o qual a influência estrangeira é necessariamente nociva para a cultura nacional. Leia Mais
História medieval – SILVA (S-RH)
SILVA, Marcelo Cândido da. História medieval. São Paulo: Contexto, 2019, 160p. Resenha de: SILVA, Kléber Clementino da. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 24, n. 41, p. 453-463, jul./dez. 2019.
A vinda a lume do novo livro do professor da USP Marcelo Cândido da Silva, História medieval, pela editora Contexto, deve sem dúvida dar motivo a comemorações por parte de estudantes e professores de história, bem como do mais público interessado. Apesar dos recentes avanços da medievalística em terras tupiniquins, por mérito de pesquisadores como Neri de Barros Almeida, Renato Viana Boy, Johnni Langer, entre outros, sem excluir o próprio autor ora resenhado – que já publicou sua tese doutoral sobre a monarquia franca, um conhecido livro discutindo a “queda” do Império Romano do Ocidente e outro sobre o crime no Medievo – sínteses atualizadas e de qualidade, ao alcance do leitor brasileiro, sobre os dez séculos em que, na periodização tradicional, se alonga a Idade Média são ainda produtos raros. E é precisamente esta a lacuna que a recente publicação procura preencher: uma obra de pequena extensão e linguagem simples, tecida com sólida erudição e rigor acadêmico, revisitando tópicos julgados basilares para o primeiro contato com o campo da medievalística: o debate sobre as migrações germânicas e a “queda” do Império Romano do Ocidente; a dominação senhorial; a Reforma da Igreja; a crise dos séculos XIV e XV, entre outros. A opção pela exposição que combina capítulos temáticos com um discernível encadeamento cronológico, ademais, diferencia o novo texto do já clássico Idade Média: o nascimento do Ocidente, de Hilário Franco Jr., publicado em 1986, cujos blocos temáticos pensam o tempo medieval a partir de “estruturas” (políticas, econômicas, sociais, culturais, etc.), faceta teórico-metodológica recorrente nos estudos daquele professor. Este, aliás, como veremos, não é o único elemento que aparta ambos os estudos. Leia Mais
La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social – JELÍN (S-RH)
JELÍN, Elizabeth. La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2018. Resenha de: CARNEIRO, Ana Marília Menezes. As lutas pelo passado e a construção de um futuro democrático na América Latina. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [39]; João Pessoa, jul./dez. 2018.
“Um passado que não passa”2. Há pouco mais de duas décadas, o historiador Henry Rousso se valeu desta célebre sentença para referir-se à presença viva e contundente da memória da ocupação alemã e da II Guerra Mundial na sociedade francesa. A potência da expressão utilizada por Rousso, na qual a concepção de que o passado está sempre presente é central, traz à tona um amplo debate envolvendo as relações entre história, memória e o papel do historiador no espaço público. Essas questões ocuparam um lugar de destaque em grande parte da produção historiográfica recente e uma importante contribuição à esse debate é o recém-publicado La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social, de Elizabeth Jelín.
Um dos eixos centrais que perpassa a perspectiva de análise da autora ao longo da obra é afirmação – apenas aparentemente despretensiosa -, de que falar de memórias significa falar de um presente. A memória não é passado, e sim a maneira pela qual os sujeitos constroem um sentido de passado, que sempre se atualiza no presente, temporalidade que contém e constrói a experiência passada e as expectativas futuras. Em tom autobiográfico, com uma escrita híbrida e ao mesmo tempo harmoniosa, “entre o acadêmico, o compromisso cívico-político e a própria subjetividade”3, a autora transita com competência e rigor metodológico na análise do cenário complexo, ambíguo e conflituoso das lutas pela memória do passado recente. Leia Mais
Al-Ma’mūn, the Inquisition and quest for Caliphal authority – NAWAS (S-RH)
NAWAS, John Abdallah. Al-Ma’mūn, the Inquisition and quest for Caliphal authority. Atlanta: Lockwood Press, 2015. Coleção “Resources in Arabic and Islamic studies”, n. 4. 212 p. ISBN-13: 9781937040550 (impresso) | 9781937040567 (e-book). Resenha de: CRUZ, Alfredo Bronzato da Costa. Religião e historicidade: a batalha pela ortodoxia islâmica no Califado Abássida SÆCULUM– Revista de História, João Pessoa, [38] jan./ jun. 2018.
Pode não ser muito evidente no ambiente acadêmico brasileiro, às vezes ensimesmado em questões muito particulares, mas o campo dos estudos sobre o Islã tem crescido de forma vertiginosa nas universidades europeias e norte-americanas desde o fim da Guerra Fria, vinculado a fatores geopolíticos claros, que determinam de modo mais ou menos indireto as tendências intelectuais e a distribuição dos recursos destinados à pesquisa. De fato, desde o fim da década de 1980, tem-se experimentado uma expansão da investigação ocidental sobre o Islã comparável em magnitude unicamente à que teve lugar cem anos antes disso, em paralelo com a expansão imperialista sobre os continentes africano e asiático, ou seja, também sobre as terras tradicionais da presença e hegemonia muçulmana. As analogias possíveis entre os dois momentos não são apenas formais, mas também discerníveis em certos elementos de conteúdo significativos. Apesar dos excelentes estudos sobre a história do Islã e do ecúmeno muçulmano atualmente disponíveis, ainda é parte do senso comum acadêmico a noção não só de que o movimento dos seguidores de Muḥammad é essencialmente igual a si mesmo desde o século VII até a contemporaneidade, mas de que ele surgiu na história consistente e beligerante, tal como Palas Atena saltando adulta e inteiramente armada da cabeça de Zeus.2 No suporte a esta ideia, vaga, mas poderosa, estão, de um lado, os orientalistas e neoorientalistas, que se arrogam o direito de falar aos ocidentais sobre o ser do Islã, projetando na história das coletividades uma ontologia tão estática quanto politicamente enviesada. Do outro, elemento novo, encontram-se os intelectuais muçulmanos ou filo-muçulmanos instalados nas universidades ocidentais, pesquisadores que em realidade pouco fazem além de transcrever em discurso acadêmico, de maneira muito pouco crítica, a narrativa dos próprios devotos a respeito do surgimento e desenvolvimento do Islã. Sob o emaranhado de enunciados que constitui a disputa pela fala legítima a respeito das questões pertinentes à história e religiosidade islâmicas, portanto, há certa concordância tácita sobre o que caracterizaria esse movimento político-religioso em sua essência; questões que são produto de processos sociais e conjunturas históricas bastante particulares são, dessa forma, cristalizados como se não mais do que realizações no tempo e no espaço de uma natureza do Islã. O principal problema desse tipo de abordagem, contudo, é que ele distorce em diferentes níveis a compreensão que se pode ter a respeito do passado islâmico, submetendo-o a juízos fundados precisamente na desconsideração da historicidade de todos os atos e ideias dos seres humanos.
Mencione-se um exemplo significativo, ou seja, o da miḥna, a dita inquisição islâmica. O vocábulo árabe ة محن pode ser literalmente traduzido como julgamento ou como prova, no sentido de teste; foi tradicionalmente usado tanto pelos historiadores muçulmanos, medievais e modernos, como pelos especialistas ocidentais para designar o período de perseguição religiosa iniciado durante o governo do califa abássida al-Ma’mūn (813-833) e continuado sob seus dois sucessores, al-Mu’taṣim (833-842) e al-Wāthiq (842-847). Durante a miḥna, uma série de oficiais do governo, teólogos, juristas, cronistas, compiladores de aḥādīt, sábios e santos muçulmanos foram submetidos à prisão, aos castigos físicos e, eventualmente, à execução, por se recusarem a subscrever a doutrina, então sustentada pelos abássidas, de que o Corão havia sido criado por Alá e que, portanto, sendo acessível à inteligência em sua plenitude, poderia ser submetido a escrutínio racional. A confissão alternativa a essa, por outra parte, sustentava que o Corão era anterior a toda a criação, subsistindo desde sempre em Alá como arquétipo do Texto que foi, em determinado momento histórico, efetivamente revelado a Muḥammad. Essa divergência explodiu em conflito aberto quando, alguns meses antes de seu falecimento, al-Maʾmūn determinou que os especialistas religiosos de sua corte denunciassem como falsos todos os aḥādīt em que se guardavam tradições a respeito do caráter supostamente incriado do Corão; a recusa de alguns em fazê-lo desencadeou reações violentas da parte do soberano, assim como um exaltado sentimento popular a favor dos perseguidos. No califado de al- Mu’taṣim, a miḥna foi institucionalizada tanto em verificações regulares que eram feitas aos cortesãos e demais oficiais do governo quanto à sua opinião a respeito do caráter criado ou incriado do Corão, quanto em tribunais inquisitoriais estabelecidos em al-Fustât, Kūfa, Bagdá, Basra, Damasco, Meca e Medina, cortes cuja autoridade foi estendida a todos os funcionários, militares, magistrados, eruditos e líderes comunitários dessas cidades nevrálgicas do ecúmeno islâmico. Sob al-Wāthiq, a perseguição perdeu força e acabou por se extinguir. O complexo período que se seguiu, marcado por uma crescente ascendência dos ghilmān (escravos-soldados) turcos sobre todos os negócios do califado, fez com que essa discussão teológica fosse esvaziada e desmontado o aparato institucional que os abássidas construíram durante a década de 830 para lidar com ela. O califa al-Mutawakkil, por fim, reconheceu abertamente o fracasso da miḥna determinada por seus antecessores e estabeleceu que seus súditos seriam livres para decidir por si mesmos se acreditariam no caráter criado ou incriado do Corão.
Não raro a miḥna foi pensada pelos analistas ocidentais como mais uma das expressões da essência intolerante do Islã. Definido o caráter intolerante de uma religião, entretanto, efetivamente é possível encontrar provas desse por toda parte.
Poucas vezes se considerou a sério, de outra parte, que a perseguição e a resistência a ela foram assuntos que se deram entre homens que se consideravam todos muçulmanos fiéis. Todo o episódio mostrou com clareza os limites do poder dos califas em matéria do estabelecimento da ortodoxia islâmica; daí em diante ficou claro que os soberanos do império islâmico, que já então havia iniciado seu processo de desagregação político-territorial, haveriam de negociar cuidadosamente, a cada pronunciado estritamente religioso que se arvorassem a fazer, com a intelligentsia constituída pelos diferentes tipos de sábios e santos muçulmanos. O lugar da fala doutrinária legítima não era mais, de modo necessário, a corte califal, mas as madraças, as academias de jurisprudência, de belas letras e de teologia que eram os loci em que se elaboravam a autoconsciência daquilo que emergia então como a vertente sunita do Islã. Ao contrário do que muitos analistas menos informados continuam a sustentar, de fato, o sunismo não é idêntico ponto a ponto à ideologia não-álida ou anti-álida que se desenvolveu sob os omíadas e os abássidas; não é uma confissão por rejeição, mas uma identidade islâmica que se desenvolveu na história, tanto ao redor de uma oposição quietista aos próprios califas majoritariamente reconhecidos como legítimos, quando de uma crescente veneração aos ditos e feitos atribuídos a Muḥammad e seus Companheiros, tomados como interpretações e performances autorizadas da Revelação divina consignada no Corão. A junção entre religião e política que muitos sustentam necessária e mesmo natural na história islâmica foi agudamente colocada em questão durante todo o episódio da miḥna – inclusive, talvez principalmente, em seu encerramento. Aos califas abássidas foi então negado o direito de uma intervenção cesaropapista na teologia islâmica; e ainda que não se tenha esvaziado o seu papel estritamente religioso de chefe dos crentes e lugartenente de Deus à frente da Ummah, a comunidade dos muçulmanos, esboçou-se um conflito entre poder espiritual e poder secular que nos remete mais a certos episódios da história das sociedades cristãs de matriz euro-americana do que às ideias cristalizadas que temos a respeito do que foram e são as sociedades aderentes ao Islã, nas quais a vida política parece a não poucos ser indissociável da vida religiosa, ou vice-versa.3 Isto tudo considerado, a miḥna apresenta-se como um episódio muito bom para pensar o Islã na história, ou seja, para se refletir sobre os processos sociais, bem localizados no tempo e no espaço, pelos quais os muçulmanos – que a princípio não dispõem de uma estrutura análoga à da hierarquia eclesiástica do cristianismo – produziram a ortodoxia e a dissidência religiosa a partir das quais se definem enquanto muçulmanos. De fato, ela não é facilmente interpretável caso se considere o Islã como um movimento sempre igual a si mesmo; trata-se, portanto, de uma brecha, uma rasgadura que permite que consideremos com mais vagar a dialética entre o desejo de permanência e o advento de mudanças que está presente em toda e qualquer instituição ou complexo de ideias. Da mesma forma, não ajuda muito a analogia, comum nos autores ocidentais do século XIX e da primeira metade do século XX, entre a miḥna e as inquisições católica ou protestante dos séculos XV a XVIII. Em todos esses sentidos, para compreender este episódio em sua importância capital, ajuda-nos o livro aqui referido, de autoria de John Abdallah Nawas (n.1960), versão revista e expandida de sua tese de doutorado, Al-Maʾmūn: miḥna and Caliphate, defendida em 1993 na Universidade Católica de Nimegue (mais tarde renomeada como Universidade Radboud de Nimegue). Nawas é agora professor de Estudos Árabes e Islâmicos do Departamento de Estudos do Oriente Próximo da Universidade de Louvaina, na Bélgica, e diretor da Escola Europeia de Estudos Abássidas, com sede na mesma instituição. Nos quase vinte e cinco anos que se seguiram ao seu doutoramento, a tese de Nawas tornou-se uma referência para os estudos que de alguma forma se referem à miḥna, tanto pela clareza de sua argumentação, quanto por seu extraordinário domínio das fontes de época e da bibliografia pertinente à sua análise. Em 2014, o autor publicou um número da série Oxford Bibliographies Online com um extenso levantamento comentado dos trabalhos até então disponíveis sobre a miḥna, a maior parte estudos orientalistas em inglês e textos de autores árabes. Com base nessa pesquisa, Nawas atualizou as referências de sua tese, ainda que não tenha incorrido em mudança significativa em seu argumento. O volume assim revisado e expandido foi publicado no ano seguinte em versão impressa e online pela Lockwood Press, de Atlanta, EUA, tornando assim mais acessível um estudo fundamental aos interessados em questões de história sociopolítica, intelectual e religiosa do Islã medieval.
No primeiro capítulo de Al-Maʾmūn, the Inquisition and quest for Caliphal authority (pp. 1-20), Nawas situa seu estudo ao apresentar os marcos cronológico e geográfico deste, juntamente com uma investigação preliminar do que já foi escrito a respeito das motivações dos abássidas para estabelecerem e suspenderam a miḥna. Aí também são elencados os documentos de época que o autor consultou a respeito, procurando situá-los como peças de combate dentro daquelas que se constituíam como as oposições fundamentais que tensionavam e davam forma ao debate político-religioso islâmico ao tempo de al-Maʾmūn, seus imediatos antecessores e sucessores – ou seja, as disputas entre o califa e seus cortesãos e os ulemás e seus alunos, entre os álidas, os xiitas e os conformistas que estavam em vias de se constituírem religiosamente como sunitas (mas colocando em questão, nesse processo, seu próprio conformismo político), e entre os que defendiam o caráter criado e os que sustentavam a preexistência e eternidade do Corão. No segundo capítulo (pp. 21-30), reconstitui-se a trajetória de al-Maʾmūn, tratando-se principalmente de sua controversa nomeação e do conflito que se seguiu a essa, uma disputa familiar e cortesã que eclodiu na chamada quarta fitna, guerra entre diferentes facções abássidas que se estendeu de 811 a 819, com prolongamentos regionais até 830, e que foi, entre outras coisas, uma tentativa dos partidos árabes e persas de definirem quem haveria de impor seus interesses e autoridade sobre o califado.
No terceiro capítulo (pp. 31-50), Nawas considera os diferentes discursos a respeito do papel do califa (abássida) que circulavam durante a quarta fitna e pouco depois, sistemas de ideias com os quais al-Ma’mūn foi forçado a dialogar em diferentes níveis para estabelecer sua própria autoridade como chefe (ao menos nominal) do mundo muçulmano. Esses discursos eram principalmente três: o da escola mu’tazilita, protocontratualista, que sustentava que a autoridade dos califas devia-se antes do mais a uma livre delegação do poder feita por seus súditos; o dos álidas, que sustentavam que o califa deveria ser um descendente em linha direta de Muḥammad; e o dos xiitas, que argumentavam que o verdadeiro governante da Ummah não era qualquer califa, mas o imān, o líder espiritual da comunidade, descendente direto do Profeta do Islã e capaz de dar aos fiéis a interpretação autorizada tanto do Corão quanto das aḥādīt, que infalivelmente estaria capacitado a separar entre verdadeiras e falsas.
Como mais ou menos evidente nesta recapitulação sumária, as ideias dos álidas e dos xiitas eram largamente coincidentes e, a princípio, idênticas; no correr dos séculos VIII e IX, entretanto, elas foram se partindo em corpos conceituais distintos, ainda que comunicantes e geneticamente vinculados. Surgiram então facções álidas que apoiavam as pretensões ao califado dos descentes de outros parentes de Muḥammad que não os da linhagem de ‘Ali e Fátima – como era o caso dos próprios abássidas, que inicialmente fundaram sua autoridade no fato de serem descendentes de Al- ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib, um dos mais jovens tios paternos do Profeta do Islã; ao passo que não poucos dos que seguiam defendendo a legitimidade unicamente do governo de ‘Ali e seus descendentes diretos, com a implacável perseguição destes, tanto pelos omíadas quanto pelos abássidas, acabou se refugiando em uma espécie de quietismo que postergava para um tempo escatológico, o do retorno de Muḥammad ibn Hasan al-Mahdī, o Imān Oculto, o restabelecimento do governo legítimo sobre a Ummah. Para constituir sua própria teoria do poder, al-Maʾmūn e seus ideólogos inicialmente dialogaram de modo dinâmico e complexo com essas três tendências, incluindo os xiitas – por exemplo, ao reivindicar uma autoridade espiritual próxima do imamato para este governante. Por fim, em 827, a teoria mu’tazilita do poder foi adotada na corte de al-Maʾmūn como oficial e ortodoxa. Isso, contudo, longe de atenuar os conflitos entre os califas e seus ideólogos e os mu’tazilitas, acabou por intensificá-los, pois não eram poucos os juristas e teólogos dessa escola que consideravam al-Maʾmūn em particular – pela forma como tomou o poder através da deposição e assassinato de seu irmão, Muḥammad al-Amīn ibn Harūn al-Rashīd –, ou os abássidas no geral – pelo modo como tomaram o poder aos omíadas pela violência –, como usurpadores que não detinham uma procuração legítima da parte dos fiéis para exercer sobre eles o poder absoluto. Além disso, os mu’tazilitas sustentavam que a autoridade religiosa encontrava-se inteiramente concentrada no Corão, que devia ser analisado de acordo com a razão, concebida segundo as categorias da filosofia greco-romana clássica, principalmente a lógica aristotélica; negavam, portanto, uma autoridade de princípio ao califa, qualquer que fosse, em matéria teológica.
No quarto capítulo (pp. 51-76), Nawas apresenta sua hipótese central, ou seja, de que a miḥna deve ser pensada não como uma intervenção caprichosa de al-Ma’mūn e seus imediatos sucessores em uma questiúncula teológica, mas como instrumento de uma teoria da prática, ou seja, como um dos meios, talvez o principal, pelo qual esses governantes pretenderam criar um discurso de legitimação do poder califal que sintetizasse as hipóteses a este respeito então mais populares no mundo islâmico, ao mesmo tempo em que se autorizavam, por motivo de zelo religioso, a agir direta e duramente contra seus opositores mais estridentes – tanto álidas e xiitas que sustentavam o caráter incriado do Corão e vinculavam isso às suas definições a respeito do poder dos califas, que supostamente lhes seria concedido não pela vontade dos homens, mas por um direito de nascimento determinado por uma procuração eterna da parte de Alá; quanto mu’tazilitas que veementemente negavam aos califas quaisquer funções no estabelecimento da ortodoxia islâmica. Para sustentar essa linha de argumentação, Nawas faz um levantamento dos autores modernos que a esboçaram, procurando ler os documentos que utilizaram para essa formulação – principalmente as cartas de al-Maʾmūn e al-Mu’taṣim aos cádis e emires a respeito da miḥna – dentro de seu contexto histórico particular, reconstituído através das narrativas dos cronistas árabes e não-árabes do período. O autor ainda considera o extraordinário timing da miḥna no esforço de estabelecer uma legitimação dos abássidas e os procedimentos pelos quais diferentes indivíduos tiveram suas crenças, e sua lealdade ao califa, devidamente testados. Ressalta-se ainda o valor estratégico da doutrina referente ao caráter criado ou incriado do Corão no espectro políticoteológico da época; para dimensioná-lo, pode-se ressaltar um exemplo citado por Nawas. Ora, alguns eventos históricos, como a Batalha de Badr (624) são citados no Corão; reconhecer que este Livro é incriado significa aderir à opinião de que a eclosão e desdobramento desse combate estavam predeterminados desde sempre, enquanto reconhecer que o Livro foi criado, em uma interação entre o conteúdo eterno da Revelação dada a Muḥammad e o contexto particular no qual esse se encontrava, significa corroborar que o resultado em Badr, antes do mais, deveu-se aos méritos e esforços das pessoas que aí se encontravam. Em suma, o debate de fundo era também entre predestinação e livre-arbítrio, e seu corolário político eram então evidentes; de fato, em 836, al-Ma’mūn fez com que se execrassem publicamente os nomes de todos os monarcas omíadas e seus apoiadores, a começar por Muʿāwiyah ibn Abī Sufyān (661-680), o primeiro dos califas dessa dinastia; como poderia, entretanto, não ter incorrido al-Maʾmūn em blasfêmia ao fazê-lo caso, mesmo tomando a ascensão dos omíadas como uma usurpação e uma injustiça do ponto de vista estritamente político, se viesse a considerá-la como pré-determinada por Alá desde infinitamente antes da criação do mundo? Depois de uma breve conclusão (pp. 77-82), na qual Nawas retoma e reitera os principais elementos que o levaram a pensar na miḥna como vetor de constituição da autoridade de al-Maʾmūn, são apresentados uma série de úteis apêndices, como uma listagem em ordem cronológica da documentação de época consultada (pp. 83-94), uma súmula das questões impostas aos interrogados pelos homens desse califa (pp.95-106), e uma linha do tempo com a indicação dos principais eventos que interferiram de alguma forma no governo de al-Maʾmūn (pp. 107-108). Segue a apresentação da bibliografia utilizada (pp. 109-124) e um índice onomástico, conceitual e topográfico do volume (pp. 125-130). Por fim (pp. 131-209), é reproduzido o texto Aḥmed ibn Ḥanbal and the miḥna: a biography of the imān including and account of the Mohammedan Inquisition called the Miḥna, publicado em 1897 pelo orientalista Walter Meville Patton (1863-1928), professor do Colégio Teológico Wesleyano de Montreal, Canadá. Ibn Ḥanbal (780-855), venerado por muitos muçulmanos sunitas como Imān Aḥmad, foi um dos teólogos, juristas e compiladores de aḥādīt que padeceu nas mãos dos agentes da miḥna por se recusar a obedecer aos mandatos de al-Ma’mūn, al-Mu’taṣim e al-Wāthiq em matéria doutrinária. Reconhecido como um dos confessores do tradicionalismo islâmico diante das intervenções dos califas abássidas, a Ibn Ḥanbal também se atrelou a fama de ser um dos amigos de Deus, ou seja, um dos muitos santos da tradição islâmica.
Esse texto de Patton tem um duplo mérito ao estudioso contemporâneo da miḥna: reunir e apresentar uma primeira tradução comentada ao inglês de praticamente todos os relatos dos cronistas árabes a respeito, e oferecer uma entrada para o entendimento tradicional dos comentadores ocidentais desse episódio da história islâmica.
O livro do Prof. Nawas é bem escrito, rico em informações e bons insights e fundado em uma pesquisa erudita irrepreensível. Ao mesmo tempo em que faz uma leitura cuidadosa das fontes islâmicas, não hesita em recuperar as opiniões dos especialistas ocidentais a respeito delas, estabelecendo um diálogo não só crítico, mas criativo com toda uma rica tradição intelectual que infelizmente passou a ser vedada em muitos meios, condenada como desprezível sem sequer ter sido analisada em seus muitos méritos, depois da publicação, em 1978, do Orientalismo de Edward W. Said (1935-2003). Os especialistas na história e nas discussões religiosas do Islã decerto farão um proveito mais imediato da leitura de Al-Maʾmūn, the Inquisition and quest for Caliphal authority, mas qualquer interessado minimamente atento será capaz de ter um bom entendimento do livro. O maior mérito do volume reside no fato de ser uma contribuição fundamental no sentido de compreender o Islã como um movimento histórico, não só no acessório, mas em seu próprio conteúdo estritamente religioso, apesar das recusas obstinadas e cúmplices dos orientalistas e dos fiéis em reconhecer isso. Lendo este trabalho de Nawas, tem-se bem evidenciado que o Islã não foi sempre igual a si mesmo, não sendo em sua eminente historicidade fundamentalmente diverso de qualquer outro movimento religioso, político ou político-religioso conhecido da história da humanidade. Trata-se de uma abordagem importante de ser considerada em um cenário como o nosso, em que os estudos acadêmicos a respeito do Islã ainda são em boa medida empreendidos por seus devotos e por seus críticos. De modo efetivo, todo o debate sobre o caráter divinamente estabelecido ou não da autoridade califal, vinculado de modo intestino à querela sobre a natureza criada ou incriada do Corão, tem na história islâmica, mantidas, é claro, todas as proporções devidas, uma importância que é análoga à que os debates trinitários e cristológicos dos séculos IV e V tiveram na história cristã; ou seja, mostram que não há nada de tão sagrado e constante que esteja completamente intocado pelas variações, interesses, paixões e atritos que compõem a história dos indivíduos e das coletividades.
Nota
2 Para facilitar a leitura, todas as datas constantes no presente textos são apresentadas de acordo com seu equivalente no calendário gregoriano.
3 Estou bem consciente de que o conceito de cesaropapismo é normalmente aplicado pelos historiadores ocidentais, tanto confessionais quanto seculares, para descrever o tipo de ingerência que os imperadores romanos do oriente (bizantinos) tinham ou pretendiam ter sobre a Igreja em seus domínios, e é justamente por isso que o utilizo aqui; afinal, reitero, o tipo de poder obtido ou pretendido por governantes como Justiniano (482-565), Heráclio (575-641) e Leão III Isáurico (675- 741) sobre a vida religiosa de seus súditos foi justamente o que foi negado aos califas abássidas na década de 830. Não se trata essa de uma aproximação arbitrária, na medida em que os abássidas mantiveram com os romanos do oriente relações que não foram nunca só de conflito, mas também de intercâmbio e de imitação, inclusive no plano das ideias políticas e religiosas. Sobre a intrincada evolução histórica do conceito de cesaropapismo, ver por primeiro: TAVEIRA, Celso. O modelo político da autocracia bizantina: fundamentos ideológicos e significado histórico. Tese de Doutorado em História apresentado ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2002, pp. 291-317.
Alfredo Bronzato da Costa Cruz – Doutorando em História Política pelo PPGH/UERJ (2015- ). Bolsista CAPES (2015- ) e Nota 10/FAPERJ (2017- ). Membro do Núcleo de Estudos de Cristianismos no Oriente do GT de História das Religiões e das Religiosidades da ANPUH-Rio. Membro do Núcleo de Pesquisa Histórica do Instituto Pretos Novos. E-mail: <[email protected]>.
[MLPDB]
Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena: a outra face do homem – CABRAL et al (S-RH)
CABRAL, Iva; SOUTO, Márcia; ELÍSIO, Filinto. (Orgs.). Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena: a outra face do homem. Lisboa: Rosa de Porcelana Editora, 2016, 398 p. [Acervo fotográfico e fac-símile da correspondência]. Resenha de: FLORES, Elio Chaves. Documentos afetivos: cartas, amorosidades e revoluções no mundo Atlântico (1946-1960). SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [36]; João Pessoa, jan./jun. 2017.
A expressão “mundo atlântico” está inscrita na modernidade de Áfricas, Europas e Américas. A modernidade empilhou documentos da economia política do capitalismo (Europa), da escravidão e da colonização (Américas), do tráfico diaspórico e do colonialismo (África). Tudo isso tornou possível que um jovem nascido na Guiné na década e 1920, que fez estudos básicos em Cabo Verde, nas décadas de 1930-1940, e que se encontrava em Lisboa depois da Segunda Guerra Mundial, em meio ao primeiro arrebatamento amoroso, registrasse indignação sobre os problemas raciais no Brasil da “democracia racial”. Agora publicados, esses documentos afetivos – Aqui me tens − totalizam cinquenta e três cartas à colega (1946-1948), namorada (1949- 1951) e esposa (1952-1960) Maria Helena, escritas nessas temporalidades amorosas.
Na carta de 28 de agosto de 1950, Amílcar Cabral escreve a Maria Helena a sua percepção sobre o lado de cá do mundo atlântico, esse é o tema da missiva, o racismo no Brasil:
Recebi hoje tua carta, bem como o recorte do Primeiro de Janeiro, referente ao problema ‘racial’ no Brasil. O República já tinha publicado a notícia e também o acontecimento relativo à bailarina negra, Katherine Dunham, e ao campeão de box, Joe Louis. É mais uma prova de que a ‘lepra’ dos preconceitos raciais grassa por todos os lados.
[…] Uma coisa, porém, é preciso atenção: não serão, nem poderiam sê-lo, as leis como as promulgadas no Brasil que resolverão o problema. Em muitos dos Estados Unidos da América existem leis análogas – e o negro é linchado ou escorraçado. A Constituição portuguesa é um dos mais belos documentos da igualdade dos homens, sem distinções ante o direito às benesses da civilização – e o negro em Portugal, é afastado do exército, da marinha, da Magistratura, etc. Leis do gênero da referida – quando não servem apenas para ‘deitar poeira nos olhos’, não conseguem mais do que amedrontar os racistas menos audaciosos ou menos poderosos, economicamente. Outras serão as que hão de extirpar de vez e para sempre o preconceito – e essas terão de corresponder a uma alteração profunda do complexo econômico-social do Mundo, base, afinal, dos preconceitos.
Por isso que essas leis − levarão o seu tempo, mas hão de ser realidade – não interessarão apenas aos Negros: interessam a todos os Homens. (p. 312-313) A carta de Amílcar é, a rigor, uma “carta pública”, pois de íntima tem apenas o vocativo da amada, depois da data, “Lena”. Amílcar cita várias vezes o antropólogo norte-americano Alfred Métraux ao tecer críticas aos eventos racistas no Brasil contra Katherine Dunham e Joe Louis que foram proibidos de se hospedar num hotel supostamente apenas para brancos na cidade de São Paulo2. Para Métraux, o racismo era um “mito novo”, justamente dos séculos da modernidade atlântica e que, para ele, talvez não sobrevivesse “à grande revolução da nossa época” – as sociedades contemporâneas que acabavam de inventar os direitos humanos. Amílcar também cita e destaca estudos da UNESCO/ ONU assinados por cientistas de vários países do mundo sobre as “diferenças” e a “história cultural” dos grupos humanos:
“Os fatores que tiveram papel preponderante na evolução intelectual do homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade. Esta dupla aptidão é o apanágio de todos os seres humanos”. Amílcar parece estar ciente de que o racismo é mito novo, da ordem capitalista e, mesmo do lado de cá do Atlântico, para superá-lo, haveria de se gestar “uma alteração profunda do complexo econômico-social do Mundo”. Nem Amílcar nem Maria Helena que se enfiaram de corpo e alma nas revoluções africanas e contra o regime racista português de Salazar, suportariam o “dogma racial” nos exílios da Guiné-Conacry e do Marrocos.
Desde que Amílcar Cabral e Maria Helena se conheceram a “linha de cor”, inexistente para a amizade, parece que acaba por condicionar as relações familiares e as sociabilidades acadêmicas. Se na primeira carta (07 out. 1946) Amílcar se despedia como “colega ente amigo”, o namoro assumido no ano de 1948 informa uma poética de amorosidades que precisa enfrentar o dogma racial. Na carta de 25 de abril de 1948, Amílcar lamenta a “falsidade de preconceitos nascidos de condições criadas pelo próprio homem, da teimosia (cega, aliás) num erro que hoje, dentro de limitadíssimas oportunidades, é denunciado pelas mais palpitantes manifestações das realidades, realidades que a Vida patenteia e a Ciência demonstra” (25 abr. 1948, p.91). Pelos argumentos da paixão e pelo que se dizia de sua “africanidade”, Amílcar se sente interpelado a se posicionar etnicamente e a se universalizar na condição humana.
Não sabem (eu gostaria de poder dizer-lhes) que sei que sou negro, isto é, que não sou caucásico ou mongoloide, mas que entre estas três raças existem diferenças apenas na cor da pele e em alguns traços fisionômicos; que tu sabes que sou negro e, mais do isso, que não é na cor da pele que reside o valor de um homem ou as características que poderão denunciar sua superioridade ou inferioridade perante os outros indivíduos.
Não sabem, Lena, quando dizem “Ela não aguenta”, que na realidade não tens nada que aguentar, a não ser, do meu lado, algum passageiro dissabor que naturalmente te adviria de qualquer homem, e, do lado dos descontentes, uma incompreensão facilmente destrutível, filha, aliás, da ignorância e da cegueira causadas por infundamentados preconceitos; que o teu amor por mim não é um amor de mártir ou de sacrificada, mas, sim, o amor de uma Mulher por um Homem, amor que dignifica e eleva. Eu gostaria de dizer-lhes, Lena querida, que a “linha de cor” é um mito que, felizmente, a Humanidade, sempre progressiva, vai afastando do seu seio, semelhantemente ao que sucedeu a muitos outros mitos. (25 abr. 1948, p. 91) Isso não é tudo. Amílcar precisa responder a uma questão ainda mais complexa, pois se refere à reprodução social da vida. É que o dogma racial se antecipa ao próprio evento social: “Que será dela quando tiver um filho” – negro, moreno ou mulato, nas expressões lisboetas. Lembremo-nos de Fanon: um negro castrado não é problema; a negrura estéril é utopia da brancura. A resposta que Amílcar deseja que Maria Helena distribua a esse tipo abjeto de constrangimento racial é mundana: “Não sabem, Lena, que à pergunta ‘Que será dela quando tiver um filho’, tu poderás responder, muito singelamente que serás uma Mãe. Mas uma mãe consciente da sua missão, integrada nos problemas da Vida – e que saberá preparar, no Mundo e para o Mundo, os seus filhos” (25 abr. 1948, p. 91).
Noutra carta, do dia 20 de agosto do mesmo ano, Amílcar deixa transparecer na narrativa certo aborrecimento sobre a mesma questão que aparece reiterada na correspondência de Maria Helena, “às pessoas que te dizem coisas mirabolantes por causa da cor da minha pele”. Ele reitera que “o mito das raças é apenas um mito” e, taxativo, escreve: “Desde que sejamos absolutamente conscientes da nossa posição dentro do sério problema da nossa vida” (20 ago. 1948, p. 135). Essa longa carta, carregada de tensão e desejo, também define a confissão do “chamamento africano”, a justificativa para o retorno ao continente de origem: ”Mas tu sabes, como eu, quais as forças que me chamam pra a África, forças a que não resistirei, porque seria trair me, trair a própria vida”. Amílcar repassa para Maria Helena as contingências africanas e o faz na estilística da verve colonial, como se voltasse como herói civilizador, para “lá, onde pouquíssimo ou nada ainda se fez”; ou, “lá, onde a Técnica e a Ciência ainda são sombras”; ou, “lá, onde a vida me chama”. Trata-se de uma decisão que é comunicada à luz dos eventos relacionais envoltos na subjetividade da linha de cor. Assim foi narrado: “Hoje, já que as circunstâncias mo exigem, quero dizer-te que, se totalmente impossível, tu não me acompanharás. Mas eu tenho de ir.
Acabado o curso, eu só ficarei na metrópole, se de todo não puder seguir para África”. Depois, passa a explicar o sentido dessa decisão: “Não conto viver toda a minha vida lá, nem espero viver no sertão, longe dos grandes centros [que designou antes como cidades progressivas e belas do litoral]. Conto apenas viver parte da minha vida em África e dar, com toda a boa vontade de que for capaz, em todo o amor imenso que em anima, o meu esforço no sentido de fazer alguma coisa pelas gentes africanas, pelos homens, afinal”. O final do parágrafo é denotativo de um manifesto: “Quero dizer: subordino-me conscientemente a esta contingência da vida:
tenho de ir para África”. A leitura dos últimos dois parágrafos da carta permitem adjetivar esse manifesto de amoroso: “E viverão juntos [os dois enamorados] na terra onde a vida lhes oferece maiores horizontes no sentido de serem úteis à Humanidade.
E creio que tu concordas comigo que esse local, para nós e porque eu sou um desses indivíduos, deve ser a África”. Ao finalizar, duas verdades emolduram a missiva:
“uma, é que tenho de ir para a África; outra, Lena, a outra é esta: Eu amo-te” (20 ago. 1948, p. 137-138). Nas cartas seguintes, Amílcar reconhece o tormento, a tensão e a necessidade da “consciência coletiva vencer a individual”. Na carta de 26 de agosto ocorre a citação da resposta de Maria Helena: “resolvi deixar tudo para te ajudar e seguir-te” (26 ago. 1948, p. 175). É vida que segue3.
Na carta de 23 de agosto de 1950, uma semana antes da referida carta em relação aos eventos raciais no Brasil, Amílcar narra ironicamente o caráter burguês do bairro lisboeta onde estava residindo. O tropos da ironia para vituperar a classe burguesa será uma das expressividades de Amílcar. Ele informa que fixou residência à Av. Casal Ribeiro, num meio termo entre os bairros de Alcântara e Bairro Azul. Dizia que mais abaixo se encontravam Casal Ventoso e a Fonte Santa “e todas as demais imundícies que a injustiça social criou e alimenta”. A pobreza ao longe e o modo de vida burguês na sua proximidade:
interessante, mas o ar que se respira é demasiadamente burguês para nos deixar saborear a beleza das suas árvores centrais. Sim, demasiadamente burguês. Ali, defronte, as janelas eternamente fechadas: a ‘madame’ está na praia, como não podia deixar de ser. À tarde, meninas anêmicas e olheirentas penduram-se à janela, na linha dos cabelos propositadamente desprendidos atiram a isca de um olhar à Dorothy, condimentado pelo batom berrante. A mamã, rechonchuda e metafísica, de vez em quando vem à janela, observa a ‘pesca’ e palita os dentes, ruminando os detritos do ‘bombom’ que o papá-dinheirudo ofereceu, certamente uma compensação da última façanha extralar ou intracabret. (23 ago. 1950, p. 307)
Esse olhar crítico à cultura burguesa – às amorosidades burguesas – ironizada em 1950, ganha ares de indignação na única carta do início de 1951, na qual Amílcar se insurge contra as comemorações cristãs de passagens do ano: “O que espanta nesta decantada Civilização Cristã – é o cinismo comum às manifestações mais vulgares. Um cinismo tremendamente hipócrita, uma hipocrisia tremendamente cínica. Feliz Ano Novo” (03 jan. 1951, p. 329-330).
Amílcar Lopes Cabral (1924-1973) e Maria Helena de Ataíde Vilhena Rodrigues (1927-2005) se casaram no dia 21 de dezembro de 1951, afirmando um namoro interracial começado no Instituto Superior de Agronomia, quando eram colegas de faculdade, desde o ano de 1946, numa Lisboa salazarista e ainda “metrópole” de colônias portuguesas em África. Amílcar Cabral era filho de Juvenal Cabral e de Iva Pinhel Évora, ambos nascidos em Cabo Verde e que se encontraram na Guiné no início da década de 1920. A Guiné propiciou trabalho a Juvenal que se tornou funcionário administrativo, professor e comerciante. Sabe-se que Iva Évora chegou à Guiné aos 29 anos com um filho e, em seguida à relação amorosa com Juvenal, deu à luz ao segundo filho, Amílcar, no dia 12 de setembro de 1924, em Bafatá, na região central da Guiné. Maria Helena era filha de Joaquim Rodrigues e Carlota Ataíde Vilhena, nascidos e radicados no norte de Portugal. Carlota Ataíde deu à luz a Maria Helena em Chaves – Casas Novas, no ano de 1927. O pai de Maria Helena era capitão médico do exército colonial e há notícia de que foi gravemente mutilado numa das campanhas da África.
Para nós, brasileiros, que a cada três frases, pelo menos numa louvamo-nos como agentes das mestiçagens modernas, mas pouco toleramos amores entre homens negros e mulheres brancas, o conteúdo epistolar desses “documentos afetivos” – as cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena – escritos na temporalidade 1946-1960 podem inspirar algumas reflexões sobre os casamentos interraciais e seus desdobramentos político-afetivos no mundo atlântico contemporâneo, isto é, a segunda metade do século XX. Talvez seja preciso concordar com Frantz Fanon que, em Pele Negra, Máscaras Brancas (1952), defendeu a ideia, num capítulo seminal, de que “é preciso falar mais longamente das relações possíveis entre o negro e a branca”.
Casas características nitidamente princípio do século, grandes prédios em linha impecável, esta Avenida é na realidade O primeiro semestre de 1952 foi de preparativos para a viagem de retorno à África. No mês de setembro acontece a viagem. Em carta escrita a bordo da embarcação, “Atlântico, a 12 horas de Cabo Verde, em 17/9/52”, Amílcar se prepara para rever Cabo Verde e, depois, chegar à Guiné, destino que aguardará, também, Maria Helena. Essa carta é expressiva do que estamos chamando “mundo atlântico”.
Embebido pela viagem, Amílcar observa para Maria Helena: “Hás de notar que o movimento constante do mar é o reflexo de um exemplo de movimento constante de tudo quanto existe”. Nesse estado de espírito, de rever Cabo Verde e, em seguida, rever Iva, a mãe, na Guiné, sabe-se da gravidez da Maria Helena: “Porque será que eu já não sei pensar a Iva sem pensar-te?”. Os planos nessa África atlântica não cessam e se a vida e o trabalho não vingarem na Guiné deveriam “abalar para Angola”. O Atlântico narrado por Amílcar não é o da Grande Travessia – a trágica Middle Passage – dos negreiros da modernidade atlântica, esse Atlântico “amilcariano” é uma espécie de passagem da promissão, uma vida adulta em África que se pretendia plena.
O mar, sempre em movimento, é um manto azul, salpicado de branco. Pequenas vagas que se formam e se desfazem no próprio seio do mar. Espumas. Um cardume-bando de peixes voadores que se assustou com o monstro do ferro, e levantou voo. Ali, à esquerda, há uma estrada de prata levando ao horizonte: o reflexo do sol no mar. A conga continua, dançando o navio ao som da sua música íntima e monótona: o motor que geme. Eu, aqui, esperançoso e esperançado, escrevendo para ti, falando contigo. Ouvirá o que não digo.
Sentirás o que sinto. […] Eu incompleto, chegando. (17 set.1952, p. 337-39) Na carta do dia 24 de setembro, na Guiné, Amílcar informa sobre o trabalho, a casa, a mobília, a granja, o emprego e os preparativos para a viagem e a chegada de Maria Helena. Apresenta a Guiné como projeção de africanidade emancipada: “A natureza aqui, apesar de tudo quanto opiniões metafísicas podem apontar, convida ao trabalho e à conquista no sentido da ‘vivificação da vida’. Se alguma certeza eu tenho – oh, se tenho certezas! – é a de que gostarás disto. Da terra e dos povos, das coisas e das gentes” (24 set. 1952, p. 348).
Não é possível saber da chegada de Maria Helena, o nascimento da primeira filha e os seus desdobramentos pela ausência de cartas, apenas uma no ano de 1953 e nenhuma no ano de 1954. Mas no ano de 1955 veremos Amílcar em viagem para São Tomé e depois para Angola. Decepciona-se com Luanda e o racismo intrínseco do fato colonial – “Isto de Luanda que estou a conhecer”, dirá consternado, “é das coisas mais miseráveis que imaginar se pode em matéria de ambiente colonial”.
Amílcar conta o que seus olhos avistam e compara realidades coloniais africanas. Trata-se de uma visada sociológica impressionista:
Há muitos prédios em construção, é certo, mas que valem os prédios, se os homens ‘vivem’ deploravelmente? Além disso, como cidade, coitadinha de Luanda aos olhos de Dakar, por exemplo. E coitadinhos dos indígenas destas paragens, aos olhos da gente da Guiné, sim, da Guiné dita portuguesa. Uma miséria, Lena. Só para pensares, fica sabendo que aqui, os choferes de táxi, os criados de hotel, restaurantes e cafés, etc. a raia miúda da sociedade é constituída por europeus.
Calcularás por certo quais as posições e as situações que restam (mas o que poderá restar?) para os africanos. Miséria de todos os tamanhos. Para brancos e pretos. Racismo do mais sujo, com sorriso nos lábios, só para os pretos. Enjoado, Lena. Mas a esperança e a certeza de que afora de tudo, o mundo marcha. Há de caminhar para a redenção na terra destes seres que por aqui vegetam e que são homens de coração e de cabeça.
[…] Passam crianças pretas sujas, mal vestidas. Parecem negros tristes e sem esperança. Passam brancos ricos, bem postos, de espada, e também brancos miseráveis. Eu penso em ti e na Mariva. (30 ago. 1955, p. 365)
São nas cartas de 1955 que, ao final, Amílcar passa a se referir, também, a Mariva – Iva Maria, a primeira filha. Parece aumentar a recorrência à “linha de cor”. Nesse caso, a linha de cor, sofisticada na metrópole e na academia, salta aos olhos no espaço colonial: “Passam negros tristes e sem esperança. Passam brancos ricos, bem postos, de espada, e também brancos miseráveis. Eu penso em ti e na Mariva”.
Pensar “raça” com Maria Helena e Mariva é universalizar a si mesmo, mas pensar “classe” amedronta o futuro. Vide que, aqui, é a “linha de classe” – ricos e pobres – que divide também os brancos. A experiência Angola/ Luanda fixa uma ambiguidade amilcariana que era apenas verve quando glosa do bairro burguês lisboeta da carta de 23 de agosto de 1950. Agora ele começa a trabalhar nessa dimensão: raça e classe, isto é, o fato colonial. Nas cartas seguintes, em que conhece outras cidades angolanas, Amílcar anuncia uma posição: “Lobito e Benguela são razoáveis. Mas a miséria continua. Miséria contra a qual hei de lutar” (01 set. 1955, p. 369).
Na carta de 10 de outubro de 1955, escrita em Catumbela, próxima de Lobito, Amílcar fala entusiasmado da leitura de Jorge Amado. Recheados na carta, copiados entre aspas, constam vários trechos da obra, mas não se menciona o título. Amílcar apenas diz: “Vou no 2.º volume e do primeiro vou transcrever-te umas passagens, belas de verdade pela poesia que encerram”. Essa pista leva à trilogia, Subterrâneos da Liberdade (São Paulo, Livraria Martins Editora, 1954)4. As passagens são aquelas dos enamorados, João e Mariana, operários que também se casam “por uma vida melhor”. Amílcar se inspira em várias literaturas e não seria exagero se falar de um Atlântico das letras. A prosa engajada de Jorge Amado parece empolgar o missivista para o advento da luta revolucionária e, ele mesmo, vê analogias entre a história de amor, ficcional do lado de cá, mas realista do lado de lá: Amílcar e Maria Helena. O primeiro volume, Os Ásperos Tempos, recebe um tratamento de poética de amorosidade à primeira leitura. Amílcar lê o Brasil da “democracia racial” pela narrativa de Amado:
Operários e camponeses, ‘coronéis’ e banqueiros, luta, flor.
Luta subterrânea, na legalidade e na ilegalidade, buscando em cada gesto, em cada pensamento, a estrela que a penumbra não pode esconder, gerando sob e sobre a lama dum presente de crianças famintas, o porvir de todos os homens. A hipocrisia e o cinismo desenfreados, o interesse, o estômago dominando o coração e o cérebro, a lealdade mais bela, a solidariedade transformada em atos vividos em cada instante, o desinteresse pessoal numa luta impessoal mas coletiva. E sobre esse mundo brasileiro de 37 a 40 [1937- 1940], a luz do luar e a luz do sol, do luar do amor e da esperança num céu grávido de estrelas, do sol nascendo da terra, das entranhas da terra, do coração dos homens e das mulheres que lutam, do olho simples e interrogativo das crianças desamparadas. O amparo nascendo do desamparo, a certeza gerada da incerteza, a luz brotando da escuridão. Só o amor, esse é o livro de Jorge Amado. Um livro dos homens, um livro para nós todos, na imensidão do seu amor e da sua esperança. Da sua certeza. (10 out. 1955, p. 373-374)
Pode ser que desse “céu grávido de estrelas”, nos dois lados do Atlântico, nasça algo parecido com a revolução da justiça e da igualdade. Na carta seguinte, Amílcar se acha “um pouco gongórico”, pois na medida em que se enfia no “sertão” angolano, mais necessidade de mudança ele sente para a África: “Campos de sisal por todo o lado. Nem uma parte da terra para o indígena cultivar. Exploração dos diabos. O que vale e consola e anima é que isso tudo vai mudar, vai acabar – oh se vai! – para a ressurreição da vida nestas paragens” (31 out. 1955, p. 378). Entretanto, dois anos depois, as vicissitudes econômicas do cotidiano, os problemas de saúde de Maria Helena e os seguidos deslocamentos pela Guiné, incitam uma frase lapidar, quase como súplica: “Que haja a compreensão e a paz racional que é a única mesologia adequada às nossas consciências” (21 out. 1957, p. 387).
A última carta é de 1960 e trata da guinada revolucionária. Desse lapso epistolar de dois anos o leitor nada saberá. A vida pública e a impossibilidade de servir ao Estado salazarista e aos empreendimentos coloniais parecem “apressar” uma possibilidade que vinha desde 1955 – “Não renuncio seja ao que for, mas penso que se impõe traçar um caminho seguro”. Escrita de Paris, Amílcar está imerso nas atividades revolucionárias. O plano está traçado: “Tenho na algibeira a passagem para a viagem definitiva. Tenho também a ordem das passagens para ti e para Mariva, que ficarão aqui depositadas em teu nome e à tua disposição”. Várias recomendações são elencadas para Maria Helena tomar providências: a papelada e os livros deveriam ser enviados para Dakar – Senegal; vender a mobília da casa e o carro; levar apenas as roupas e as coisas pessoais necessárias; transferir o dinheiro e economias para Londres; arrumar escola para Mariva; ajudar as mães de cada um, Carlota e Iva; ordens aos companheiros, resolver casos de hipoteca e cooperativa; enfim, “tudo o resto, inclusive o gato Mico”. O término da carta indica a “nova” vida, a vida revolucionada e pela revolução: “Por hoje, paro aqui. Cheio de saudades.
Talvez de ansiedade também. Mas cheio de esperanças no futuro, na vida que vamos construir. E a certeza, a consciência, a alegria de que esta carta é talvez a mais bela carta de amor que já te escrevi” (30 abr. 1960, 391-394). Ainda em 1960: Maria Helena e Mariva ficam oito meses em Paris. Amílcar Cabral adota o nome da clandestinidade, Abel Djassi. O decorrer do ano de 1960 é vida em profusão: Amílcar/Abel escreve ensaio sobre o colonialismo português; organiza quadros e escola de formação revolucionária na Guiné-Conacry; vai à China comunista; tornase a principal liderança do PAIGC – Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde; no mês de dezembro, o comitê do partido lança o informativo do movimento emancipacionista: Libertação. Amílcar Cabral organiza a luta e continua a escrever5.
A cuidadosa edição epistolar de Amílcar Cabral, com a adição de importante acervo fotográfico e a impressão fac-símile de cinquenta e três cartas escolhidas desloca do espaço privado para o campo da história política o cenário e a trajetória de formação e práxis revolucionária de umas das expressões do marxismo negro. As cartas, que podem ser definidas como poéticas de amorosidades compartilhadas, não deixam de narrar experiências de racismo, africanidades e vontades criadoras numa África que se pretendia emancipada do fardo colonial. Assim, um “patrimônio privado”, carregado de afetividades, foi possível ser disponível para um vasto público leitor graças ao projeto de edição coordenado pela historiadora Iva Maria Cabral, primeira filha de Amílcar Cabral e Maria Helena, pesquisadora da “história racial” em Cabo Verde e autora da tese de doutorado A Primeira Elite Colonial Atlântica: dos “homens honrados brancos” de Santiago à “nobreza da terra” – Final do século XV – Início do século XVII (Praia: UCV, 2013). Antes do “Aqui me tens” – o corpus epistolar − uma primeira parte, constitutiva de “considerações, apresentações e prefácios”, converge para a escrita e o casal protagonista. Os editores, Márcia Souto e Filinto Elísio, na apresentação “Triunfar sobre a morte vulgar ou considerações acerca da edição do livro Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena: a outra face do homem”, acertaram na metodologia de edição, ao proporem, em vez de anexos que se tornam irrelevantes, “acompanhar cada transcrição com seu respectivo original, de modo a propiciar ao leitor não só o acompanhamento, no calor da leitura, do texto manuscrito (o papel, a letra e os estados de alma, elementos que possam vir a revelar mais acerca do autor no momento da feitura da carta), mas também para facilitar alguma atenção especial que os leitores possam ter em relação a alguma passagem e facilitar o contato mais próximo com o texto autógrafo” (p. 13).
Pedro Pires, companheiro do autor das missivas nas lutas de libertação e atual presidente da Fundação Amílcar Cabral, assina o prefácio “Convergência no tempo e nos propósitos” (p. 19-24) onde se surpreende pela ausência da correspondência de Maria Helena, “desconhecemos a plenitude das suas cartas e das suas respostas aos apelos e interpelações do Amílcar”. Essa diluição da voz feminina nalgumas citações da escrita masculina não se coaduna com os avanços notáveis das teorias feministas desde que Maria Helena se tornou uma das primeiras engenheiras agrônomas formadas numa faculdade portuguesa. O olhar atento de Pedro Pires vê em “Lena” a confidente e depositária das ideias e reflexões de Amílcar Cabral, mas que, “por vezes, o diálogo ganhava a força de um monólogo em que martelava e repetia as ideias quase que se dirigindo a si próprio”. Pires atenta para cinco momentos reveladores das cartas que permitem acompanhar a trajetória e formação revolucionária do sujeito apaixonado. O primeiro foi o enfrentamento do racismo ao se relacionar com uma mulher branca. O segundo dizia respeito à questão ética das relações humanas e da política. O terceiro implicava a defesa da dignidade humana e as responsabilidades sociais frente às injustiças e desigualdades econômicas. O quarto, talvez o mais pragmático, seria o “chamamento africano” como se fosse um destino traçado em lutar pela emancipação dos povos africanos, notadamente os da Guiné e de Cabo Verde. Por fim, o quinto, narrado na última carta, configura “o fim do ciclo da vida privada” e a consequente “partida para o desconhecido e o incerto” com uma pitada de fé na “vitória sobre o colonialismo”.
A pesquisadora Inocência Mata, no ensaio prefacial, “As cartas de Amílcar a Maria Helena como documento expressivo na construção de uma narrativa coletiva” (p. 27- 33), defende a hipótese que as cartas formam “um duplo espaço biográfico” do emissor e da destinatária, ainda que estejam ausentes as “respostas físicas” de Maria Helena. A autora pontua que embora a função prevalecente nas cartas seja a “razão emotiva” o livro se constitui como “filigrana documentativa de um tempo ainda presente na memória coletiva, vale dizer, no caso, (trans)nacional (pelo menos Guiné- Bissau, Cabo Verde e Portugal) – e nisso consiste o interesse público e institucional deste acervo”. Outra apresentação das cartas, “História em Dueto” (p. 37-40), assinada por Carlos Lopes, organizador do importante livro Desafios Contemporâneos da África: o legado de Amílcar Cabral (São Paulo: Editora da UNESP, 2012) e atual secretario executivo da comissão econômica das Nações Unidas em África, observa que desde a primeira carta, datada de 1946, aparece “uma personalidade vocacionada para fazer história”. Lopes enfatiza um percurso, “indivíduo e sociedade”, perceptível no suporte carta, “documento afetivo”, que presumivelmente seria o espaço para a “vivacidade poética” e o “arrebatamento amoroso”. Lopes também lamenta ficar “sem acesso às cartas de Helena”, mas defende que a “história em dueto” seria também aquela protagonizada por Maria Helena, “a de Amílcar e a de África”.
Bem, já que decidimos apresentar a “primeira parte” ao final desta resenha, voltaremos, para concluir, à carta do dia 21 de outubro de 1946, a segunda do corpus, na qual Cabral escreve para uma já notada colega de faculdade, ela então com 19 anos e, ele, recém-chegado a Lisboa, com 22 anos: “Bem: já vou longe…
Retorno, e respeito o pouco tempo de que dispõe, cara colega. A propósito do tempo de que dispõe: eu queria escrever no princípio: Leia quando tiver tempo, mas só o faço no fim. Quantas vezes, na vida, o fim não é o princípio?” (21 out. 1946, p. 47).
Aqui me tens! Do privado para o público. Entretanto, segundo as teorias feministas, o privado é público e o pessoal é político. Então, além do que expressamos como documentos afetivos, esse conjunto de cartas não seria também um patrimônio?
Notas
2 A antropóloga norte-americana Irene Diggs também foi discriminada num hotel do Rio Janeiro, por essa mesma época. Alguns casos “internacionais” repercutiam na imprensa, mas as práticas racistas institucionais e nos estabelecimentos comerciais, clubes e escolas eram diárias assim como a ausência da população negra do processo político brasileiro. Para essa discussão no contexto 1945-1960, ver: NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2003, p. 221-280.
3 A última carta de agosto é um relato “historiográfico” dos acontecimentos da África do Sul e da institucionalização do regime de segregação racial com a vitória do Dr. Malan, adepto do fascismo europeu, nas eleições de 1948. Amílcar anota o aspecto positivo de alguns casamentos interraciais na África do Sul (29 ago. 1948 p. 193-195). Em setembro vai para Coimbra e se encanta com a cidade, onde “sente-se toda a alma portuguesa” (12 set. 1948, p. 231). O ano de 1948 contém o maior número de correspondência: 31 cartas. Não foram escritas cartas no ano de 1949, mas aparecem três sonetos, dois dedicados a Maria Helena e um para a mãe, Iva Évora. Em abril de 1950, carta enigmática sobre a morte, onde Amílcar pensa duas mortes, a vulgar, “cessação do fenômeno vital”, e a outra, uma espécie de “morte social” (p. 275-278). Na carta de 18 ago. 1950 Amílcar estuda o “africanista” Maurice Delafosse e o poeta negro cubano Nicolás Guillén (p. 302-304).
4 Os volumes são: Os ásperos tempos (1.º), Agonia da noite (2.º) e A luz do túnel (3.º). As citações que Amílcar envia para Maria Helena são do primeiro. Publicados em São Paulo, pela Livraria Martins Editora, a trilogia Os Subterrâneos da Liberdade ficcionaliza o Estado Novo (1937-1945) em três momentos, a partir da “voz” de um membro do Partido Comunista Brasileiro: a instauração da ditadura; a greve dos estivadores do porto de Santos; e, a perseguição aos comunistas. A edição mais recente da trilogia, no formato original, isto é, em três volumes veio a lume também em São Paulo (Companhia das Letras, 2011). Parece provável que Amílcar tenha adquirido a obra de Jorge Amado em Luanda, pois essa disponibilidade da literatura brasileira em Angola vinha desde os primeiros modernistas. Conferir: MADRUGA, Elisalva. Nas trilhas da descoberta: a repercussão do modernismo brasileiro na literatura angolana. João Pessoa: Ed. Universitária/ UFPB, 1998.
5 Quase a totalidade dos escritos políticos de Amílcar Cabral foi publicada numa primeira edição, em 1977, em dois volumes, sob a coordenação de Mário de Andrade, seu biógrafo angolano e também intelectual ativista das emancipações africanas, especialmente de Angola. Depois disso, a obra foi republicada. Ver: CABRAL, Amílcar. Unidade e luta: a arma da teoria. Vol. 1; Unidade e luta: a prática revolucionária. Vol. 2 (Obras Escolhidas). Praia: Fundação Amílcar Cabral, 2013.
Elio Chaves Flores – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Professor Associado do Departamento de História e Docente Permanente dos Programas de Pós-Graduação em História e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Pesquisador do CNPq – PQ-2 (Área de História Moderna e Contemporânea). E-mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico – AURELL et al (S-RH)
AURELL, Jaume; BALMACEDA, Catalina; BURKE, Peter; SOZA, Felipe. Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: Ediciones Akal, 2013, 494 p. SILVA, Wilton Carlos Lima da. Outras palavras: sobre manuais e historiografias¹. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [34]; João Pessoa, jan./jun. 2016.v
Entre minhas aventuras recentes se inclui uma tentativa de praticar exercícios e alongamentos através de aulas de Pilates, que resultaram ao mesmo tempo em uma rápida melhoria de minhas condições físicas de homem obeso e sedentário ao custo de algumas pequenas dores musculares e certas sequelas em minha autoestima – se a traição amorosa dói, no entanto pode ser relativizada pelas minhas particularidade e as do objeto do meu desejo, já a percepção de que seu próprio corpo está lhe traindo e que isso acontece porque somente você é o responsável dói o dobro. No entanto, em meio ao desconforto pela constatação de minhas limitações físicas e certo orgulho pela persistência estoica naquela atividade que expunha de forma inquestionável uma de minhas muitas limitações, uma sobrinha, que é fisioterapeuta, me consolou: “Pilates é assim. Se está fácil é porque você não está fazendo direito!”. Ensinar história, particularmente na universidade, é um desafio de mesma natureza e que poderia ser descrito de forma bastante semelhante – quando é feito de forma simples e fácil é porque não está sendo bem feito. A tensão entre as exigências de uma boa formação, as limitações de tempo e de recursos para a construção de um bom curso, os diferentes níveis de envolvimento e cognição dos alunos, a intensa e extensa produção historiográfica contemporânea, a acessibilidade limitada aos textos, as dificuldades de intercâmbios intelectuais, as tendências corporativas e de endogêneses teórico-metodológicas, a crescente especialização do trabalho docente, entre outros aspectos do ensino universitário, tornam o surgimento de bons manuais algo extremamente necessário e positivo. No caso brasileiro, o destaque confirmado pelas seguidas edições de Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia3, de 1997, e o surgimento de Novos domínios da História4, em 2012, ambos manuais organizados por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, entre outros exemplos possíveis, demonstra a importância desse tipo de publicação enquanto ferramenta de trabalho para professores e pesquisadores. Publicações semelhantes em outros idiomas oferecem uma vantagem a mais, além do mapeamento e da ordenação de natureza didática e expositiva de um campo amplo e múltiplo que qualquer historiografia dinâmica apresenta, a possibilidade do reconhecimento de convergências e divergências temáticas e teórico-metodológicas são um ganho difícil de desprezar. Nesse sentido, Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico é um livro com quatro autores, de três países distintos e diferentes especialidades, o que se traduz em um panorama historiográfico rico e diferenciado5. A ambição de se oferecer uma história da historiografia, pelo menos em língua inglesa, tem outros respeitáveis representantes recentes em distintas tradições intelectuais, como A History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century (2007), um alentado volume de 553 páginas do historiador inglês John Burrow6, A global History of History (2011), outro volumoso livro, de 605 páginas, do professor anglo-canadense Daniel Woolf7, ou The Oxford History of historical writing (2011-2012) que é uma obra coletiva, em cinco volumes, que envolve uma infinidade de autores e editores distintos por volume8. Embora todas as três tenham méritos indiscutíveis nenhuma delas está livre de algumas críticas e questionamentos. O historiador inglês Keith Thomas fez uma elogiosa resenha do livro de Burrow, professor emérito de Oxford, na qual reconhece no autor, uma das maiores autoridades sobre a história intelectual dos séculos XVIII e XIX e, na obra, o resultado de um enorme esforço de erudição, com texto um muito agradável e repleto de observações agudas9.
Embora também assinale a existência de alguns pequenos equívocos só perceptíveis por especialistas, como por exemplo, a inclusão de somente duas mulheres entre os historiadores dignos de nota (Anna Commena, um princesa bizantina do século XII, e Natalie Zemon Davis, a autora norte-americana de O retorno de Martin Guerre10) ou seu escopo de análise limitado a historiadores da Europa e da América do Norte (particularmente os que escreveram em inglês ou estão disponíveis em tradução). Por sua vez o livro de Woolf, que já havia organizado A global Encyclopedia of historical writing11, de 1998, impressiona pela combinação de uma significativa erudição com um estilo agradável e didático, utilizando-se de mútuas referências entre textos e imagens, em um esforço de apresentação de uma abordagem claramente desvinculada da perspectiva eurocêntrica, e que em busca de uma perspectiva verdadeiramente global, ao longo de seus nove capítulos, valoriza escritos históricos da América do Sul, Coréia, Tailândia, Islândia, Tibete e Pérsia ao lado de outros da Antiguidade Greco-Romana, do Renascimento e do Iluminismo no Ocidente. Os dois últimos capítulos, inclusive, intitulados respectivamente “Clio’s empire: European historiography in Asia, the Americas and Africa” e “Babel’s tower: history in the Twentieth Century”, trazem duas questões extremamente interessantes: a questão da força e influência dos modelos intelectuais europeus na historiografia não europeia e a poliglosia do discurso historiográfico contemporâneo. Curiosamente, talvez como sintoma de nosso isolamento intelectual, quer pela questão idiomática quer por limitações da produção local, nas dezesseis páginas do índice onomástico da edição em inglês não existe nenhuma referência sobre a historiografia brasileira. Finalmente, a extensa obra financiada por Oxford tem uma clara preocupação em afirmar tanto a excelência acadêmica de sua equipe internacional de estudiosos quanto a ênfase na diversidade cultural. O volume 1, com 672 páginas, é organizado por Andrew Feldherr12 e Grant Hardy13, oferecendo ensaios de diversos autores sobre o desenvolvimento da escrita histórica a partir do antigo Oriente Próximo, da Grécia clássica, Roma, e do Leste e Sul da Ásia desde as suas origens até 600 d.C. O volume 2, também com 672 páginas, sob coordenação de Sarah Foot14 e Chase F. Robinson15 reúne vinte e oito especialistas que buscam apresentar a diversidade da escrita da história na Europa e na Ásia entre 400-1400, realçando tanto características regionais e culturais quanto abordagens temáticas e comparativas sobre gênero, guerra e religião, entre outros aspectos, que se fazem nos trabalhos de historiadores do período delimitado. O volume 3, com 752 páginas, é organizado por quatro especialistas, o argentino Jose Rabasa16, o japonês Masayuki Sato17, o italiano Edoardo Tortarolo18, e o canadense, já citado, Daniel Woolf19, abordando o período entre 1400 e 1800, em ordem geográfica de leste a oeste, da Ásia as Américas, com as principais contribuições da escrita da história no período. O volume 4, com 688 páginas e organizado pelo australiano Stuart MacIntyre20, Juan Maiguashca21 e Attila Pok22, apresenta ensaios sobre a historiografia no mundo entre 1800 e 1945, abordando um leque de culturas e países que se estende do pensamento histórico e da erudição europeia passando por Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, México, Brasil e América do Sul espanhola, além de China, Japão, Índia, Sudeste da Ásia, Turquia, o mundo árabe e da África Subsaariana. Finalmente, o último volume, de número 5, com 744 páginas e organizado pelo sinólogo Axel Schneider23 e pelo canadense Daniel Woolf, que também participou da organização de um dos volumes anteriores, apresenta um arco temporal que se estende de 1945 até os dias atuais, discutindo distintas abordagens teóricas e interdisciplinares para a história assim como buscando demarcar particularidades e similitudes entre historiografias nacionais e regionais. O diferencial de Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico, em contraste com as obras anteriormente citadas, segundo seus próprios autores, é que o time de quatro pesquisadores permite superar as limitações de formação de um único especialista (o caso dos trabalhos de Burrow e Woolf) ao mesmo tempo em que o número relativamente reduzido de colaboradores permite a articulação do texto enquanto um panorama mais articulado e menos semelhante a um jogral com temas estanques – o caso do manual de Oxford –, resultando em uma combinação específica de volume informacional e inteligibilidade do quadro panorâmico. A famosa frase de Gaston Bachelard, que compara o conhecimento a uma fraca lanterna que é utilizada para iluminar um grande sótão, de modo que iluminar um dos cantos do aposento é deixar boa parte dele na escuridão, é uma imagem recorrente para descrever toda obra de síntese. Assim como os três textos referenciados anteriormente apresentam problemas e soluções para o pesquisador ou docente interessado em ampliar ou compartilhar seus conhecimentos em uma perspectiva global da produção historiográfica, o mesmo se percebe no volume de Aurell, Balmaceda, Burke e Soza.
Esse trabalho, inclusive, apresenta mais duas particularidades, uma de dimensão geracional, pois Burke pode facilmente ser reconhecido como um autor consolidado em termos de tempo, extensão da obra e diversidade de temas, Aurell e Balmacera seriam autores de produção mais recente, com obras bem referenciadas, mas que ainda estão se constituindo, e Soza é um jovem pesquisador, e o foco linguístico cultural, pois o historiador inglês, casado com uma brasileira, tem tanto familiaridade com a tradição intelectual de língua inglesa e francesa, como também em português, e os demais autores, enquanto conhecem a historiografia europeia, também transitam pela produção de língua espanhola – entre outros aspectos isso permitiu, em contraste com algumas das obras citadas, que a produção espanhola e portuguesa aparecesse desde de a Idade Média e houvesse um capítulo específico sobre a América Latina (assim como outros dois sobre a historiografia chinesa e a árabe). O esforço em resgatar a prática da cultura historiográfica enquanto rede de relações que envolve produtores do conhecimento, seus receptores e os mecanismos de conservação e divulgação aproxima a estrutura do trabalho da obra clássica da história da literaturas Mimésis24 (1946), de Erich Auerbach, na qual a apresentação do cânone divide espaço com o incentivo a descoberta e a busca dos originais. Para isso, ao final de cada capítulo há um conjunto de indicações bibliográficas e comentários sobre as principais tendências teórico-metodológicas, os autores e as obras mais representativas de cada período. Em termos estruturais, os dois primeiros capítulos, sobre a antiguidade greco-romana (p. 09-94) ficam a cargo de Catalina Balmaceda; o terceiro capítulo, do período medieval (p. 95-142), é abordado por Jaume Aurell; os capítulos 4º, do Renascimento e a Ilustração (p. 143-182), e 5º, sobre historiografia islâmica e chinesa (p. 183-198), são escritos por Peter Burke; o 6º, sobre historicismo, romanticismo e positivismo (p. 199-236), o 7º, sobre a transição do século XIX ao XX (p. 237-286) e o 8º, sobre o giro linguístico e as histórias alternativas (p. 287- 340), são tratados por Jaume Aurell e Peter Burke; enquanto que o 9º e último capítulo (p. 341-437), sobre historiografia latino-americana, é assinado por Felipe Soza25. Além da oportunidade de entrar em contato com características das obras de autores pouco conhecidos na tradição intelectual brasileira, como os árabes Ibn Khaldun e Mustafa Naima, os chineses Sima Qian e Ouyang Xiu ou o indiano Ranajit Guha, o livro destaca-se pela síntese rica e ampla sobre a historiografia latino americana. Em geral os manuais enfrentam o desafio de equilibrarem-se entre a representação da extensão de um conhecimento sobre o qual se projetam e a síntese didática e acessível de um vasto campo de conhecimento, buscando oferecer um que o detalhismo do especialista. Com certeza todos os trabalhos aqui citados, e em especial, pelas particularidades anteriormente expressas, o livro Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico cumpre de forma exemplar tais ambições, merecendo inclusive uma tradução para o português. Quem ler, comprovará.
Notas
1 Este texto é resultado de um estágio de pesquisa realizado na Universidade de Sevilha, Espanha, entre janeiro e fevereiro de 2016, com bolsa do Programa de Movilidad de Profesores e Investigadores Brasil-España, da Fundación Carolina.
3 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
4 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2012.
5 Jaume Aurell é Professor Titular de Historia Medieval e Teoria da História na Universidade de Navarra, Espanha; Catalina Balmaceda, professora de Historia Clássica do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile; Peter Burke, professor emérito da Universidade de Cambridge, Inglaterra; e Felipe Soza, professor adjunto do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile.
6 A obra foi traduzida para o português. Ver: BURROW, John. Uma História das Histórias: de Heródoto e Tucídides ao século XX. Tradução de Nana Vaz de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2013.
7 A obra foi traduzida para o português. Ver: WOOLF, Daniel. Uma História global da História. Tradução de Caesar Souza. Petrópolis: Vozes, 2014.
8 FELDHERR, Andrew & HARDY, Grant (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 1: beginnings to AD 600. Oxford: Oxford University Press, 2011. FOOT, Sarah & ROBINSON, Chase F. (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 2: 400-1400. Oxford: Oxford University Press, 2011. RABASA, José; SATO, Masayuki; TORTAROLO, Edoardo & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 3: 1400-1800. Oxford: Oxford University Press, 2011. MacINTYRE, Stuart; MAIGUASHCA, Juan & POK, Attila (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 4: 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011. SCHNEIDER, Axel & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 5: historical writing since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2012.
9 THOMAS, Keith. “Mapping the world – a History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries, from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century”. The Guardian, Londres, 15 dez. 2007. Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 20 out. 2015.
10 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
11 WOOLF, Daniel (org.). A global ecyclopedia of historical writing. Londres: Taylor & Francis; Nova York: Routledge, 1998.
12 Professor de Antiguidade Clássica na Universidade de Princenton, EUA.
13 Professor da História de Religiões na Universidade da Carolina do Norte, EUA.
14 Professora de História das Religiões na Universidade de Oxford, Reino Unido.
15 Professor da Universidade de Nova York, especializado em História islâmica.
16 Professor da Universidade de Harvard, EUA, especialista em literatura e estudos pós-coloniais. 17 Professor da área de Teoria da História e Historiografia da Universidade Yamanashi, Kyoto, Japão. 18 Professor de História Moderna e de Historiografia da Universidade de Turim, Itália. 19 Professor da Queen’s University, Kingston, Canadá. 20 Professor da Universidade de Melbourne, Austrália. 21 Professor especialista em História da América Latina da Universidade de York, Toronto, Canadá. 22 Professor da Academia Húngara de Ciências, Budapeste, Hungria. 23 Professor da Universidade de Gottingen, Alemanha.
24 AUERBACH, Erich. Mimésis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Tradução de G. B. Sperber. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 25 Sobre História e historiografia da/na América Latina, ver também: MAIGUASHCA, Juan. “História marxista latino-americana: nascimento, queda e ressurreição”. Almanack, São Paulo, UNIFESP, n. 7, mai. 2014, p. 95-116. Disponível em: <http://www.almanack.unifesp.br/>. Acesso em: 21 out. 2015.
Wilton Carlos Lima da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Assis. Professor Livre-Docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Assis. Coordenador do MEMENTO – Grupo de Pesquisa de Memórias, Trajetórias e Biografias (UNESP Assis/ Diretório CNPq). E-Mail: <wilton@ assis.unesp.br>.
https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/download/29242/15841
[MLPDB]O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem – RIEGL (S-RH)
RIEGL, Aloïs. O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. Tradução de Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014 [1903]. 88 p. Resenha de: ROCHA, Mércia Parente; TINEM, Nelci. O culto moderno dos monumentos e o patrimônio arquitetônico. SÆCULUM – Revista de História [35]; João Pessoa, jul./dez. 2016.
Ao elaborarmos esta resenha da obra O Culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem, do historiador da arte austríaco Aloïs Riegl, publicada no início do século passado, em 1903, nos interessou a possibilidade de discutir quais os aspectos que a mantém, juntamente com a Teoria da restauração (1963) de Cesare Brandi, que veio à luz sessenta anos mais tarde, como as mais citadas no debate e na prática da conservação contemporânea do patrimônio arquitetônico, que hoje incorpora as obras da produção moderna do século XX, abarcando um campo interdisciplinar, que inclui entre outras disciplinas, a história, a estética, a filosofia e a própria arquitetura.
É, portanto, na perspectiva de darmos alguma contribuição para esse tema que este pequeno ensaio se coloca. Para tanto, tomaremos como referência duas traduções para a língua portuguesa, a primeira elaborada a partir da tradução francesa, por Elane Ribeiro Peixoto e Albertina Vicentini, em 2006, e a segunda, realizada por Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel, a partir do texto original em alemão, no ano de 20143.
Seu duplo vínculo, com a Universidade de Viena (reflexões teóricas) e com o Museu Austríaco de Artes Decorativas (intervenções práticas), lhe permitiu uma abordagem interdisciplinar teórico-prática da História da Arte (proporcionada pela formação no Instituto Austríaco de Pesquisas Históricas) e, ao mesmo tempo, uma compreensão das artes consideradas “decadentes” e a valorização das chamadas “artes menores”, ou seja, lhe permitiu uma visão ampla, diversificada e aberta da história das artes que redundou em uma ótica avançada e uma avaliação crítica dos valores das obras a serem conservadas.
[…] ele teve a audácia […] de negar, pelo menos em teoria, qualquer sistema normativo dos valores, de denunciar a noção de decadência, de renunciar à segregação entre a grande arte e as artes ditas menores.4
Assim como Teoria da restauração de Cesari Brandi5, O Culto moderno dos monumentos de Riegl busca estabelecer princípios operativos como forma de orientar a condução da política de conservação das instituições às quais estavam vinculados, fundamentando suas obras numa consistente relação entre teoria, História e prática, daí sua importância.
A razão da atualidade é clara, as reflexões propostas por Riegl são avançadas para um homem do século XIX, sob o domínio de uma concepção positivista da História.
Se, por um lado, defendia a “evolução” em direção ao progresso da história da arte, por outro, negava a existência de um valor de arte absoluto e advogava apenas um valor relativo e moderno6.
A obra desenvolve-se em três partes. Na primeira, o autor entende que sua tarefa é “definir a natureza do culto moderno dos monumentos, levando em consideração as mudanças ocorridas, com a comprovação de sua relação genética com as fases anteriores de evolução do culto dos monumentos”. A questão da evolução, para ele, era fundamental:
De acordo com os conceitos mais modernos, acrescentaremos a ideia mais ampla de que aquilo que foi não poderá voltar a ser nunca mais etudo o que foi forma o elo insubstituível e irremovível de uma corrente de evolução ou, em outras palavras, tudo que tem uma sequência, supõe um antecedente e não poderia ter acontecido da forma como aconteceu se não tivesse sido antecedido por aquele elo anterior. O ponto-chave de todo conceito histórico moderno é formado pela noção de evolução.7
Apesar de fundamentar-se em uma visão evolutiva da história, própria do século XIX, o autor desenvolve uma noção de monumento baseada não mais em valores permanentes e objetivos como na Renascença, mas em valores assentados antes na significação, do que na forma, e determinados no presente, pelos sujeitos históricos.
Interessa a Riegl compreender não apenas como os significados são atribuídos aos monumentos, mas como se dá a recepção desses valores pela sociedade e quais as gradações sociais desse acesso (os especialistas, o apreciador de arte médio, as massas).
Entendia que, se até o século XIX prevalecia a tese de que existia um cânone artístico rígido, um ideal artístico objetivo e absoluto, o século XX teria abolido definitivamente essa pretensão da Antiguidade, emancipando todos os períodos conhecidos da arte com seu significado independente, sem abandonar a crença em um ideal artístico objetivo. Assim, a kunstwollen (a vontade artística de uma época), como princípio, admite que a manifestação artística possa assumir diferentes alternativas conforme o momento histórico, a população envolvida e o lugar geográfico.
Consequentemente, a definição do conceito de ‘valor da arte’ deve variar de acordo com a visão adotada. Conforme a mais antiga, uma obra possui um valor da arte, na medida em que responde às exigências de uma estética supostamente objetiva, mas jamais formulada até agora de maneira correta.
Segundo o conceito moderno, o valor da arte de um monumento é medido pelo modo como ele atende às exigências do querer moderno da arte, exigências essas que não foram formuladas claramente e que, a rigor, nunca o serão, pois mudam constantemente de sujeito para sujeito e de momento para momento.
Para nossa tarefa, torna-se uma condição importante esclarecer essa diferença quanto à essência do valor da arte, pois para a preservação dos monumentos, esse princípio orientador terá uma influência decisiva. Se não existe um valor da arte eterno, mas apenas um relativo, moderno, o valor da arte de um monumento não é mais um valor de memória, mas um valor de atualidade.8
Riegl estabelece na sua teoria de valores uma taxonomia em que esses são agrupados em duas grandes categorias: os valores de memória, vinculados ao “aspecto não moderno do monumento” e os valores de atualidade, relacionados não mais à memória, mas às necessidades contemporâneas. E essas duas categorias são tratadas pelo autor nas duas partes finais do livro9.permanentes e objetivos como na Renascença, mas em valores assentados antes na significação, do que na forma, e determinados no presente, pelos sujeitos históricos.
Interessa a Riegl compreender não apenas como os significados são atribuídos aos monumentos, mas como se dá a recepção desses valores pela sociedade e quais as gradações sociais desse acesso (os especialistas, o apreciador de arte médio, as massas).
Entendia que, se até o século XIX prevalecia a tese de que existia um cânone artístico rígido, um ideal artístico objetivo e absoluto, o século XX teria abolido definitivamente essa pretensão da Antiguidade, emancipando todos os períodos conhecidos da arte com seu significado independente, sem abandonar a crença em um ideal artístico objetivo. Assim, a kunstwollen (a vontade artística de uma época), como princípio, admite que a manifestação artística possa assumir diferentes alternativas conforme o momento histórico, a população envolvida e o lugar geográfico.
Consequentemente, a definição do conceito de ‘valor da arte’ deve variar de acordo com a visão adotada. Conforme a mais antiga, uma obra possui um valor da arte, na medida em que responde às exigências de uma estética supostamente objetiva, mas jamais formulada até agora de maneira correta.
Segundo o conceito moderno, o valor da arte de um monumento é medido pelo modo como ele atende às exigências do querer moderno da arte, exigências essas que não foram formuladas claramente e que, a rigor, nunca o serão, pois mudam constantemente de sujeito para sujeito e de momento para momento.
Para nossa tarefa, torna-se uma condição importante esclarecer essa diferença quanto à essência do valor da arte, pois para a preservação dos monumentos, esse princípio orientador terá uma influência decisiva. Se não existe um valor da arte eterno, mas apenas um relativo, moderno, o valor da arte de um monumento não é mais um valor de memória, mas um valor de atualidade.8 Riegl estabelece na sua teoria de valores uma taxonomia em que esses são agrupados em duas grandes categorias: os valores de memória, vinculados ao “aspecto não moderno do monumento” e os valores de atualidade, relacionados não mais à memória, mas às necessidades contemporâneas. E essas duas categorias são tratadas pelo autor nas duas partes finais do livro9.
Para Riegl, dentre os valores de memória (valor de antiguidade, valor histórico e valor de comemoração), o de antiguidade corresponde àquele que se estabelece no decorrer do tempo, através da ação destrutiva da natureza, que age de forma lenta e gradual sobre as obras, provocando sua dissolução e remetendo ao ciclo natural da vida de criação-destruição.
Para ele, o valor de antiguidade seria o mais acessível às massas, e, inevitavelmente, o mais abrangente a partir do século XX. A recepção do valor histórico, pelo contrário, requereria conhecimentos de história da arte e estaria assentada em bases científicas e não atingiria as massas.
O valor de antiguidade tem, portanto, a pretensão de influenciar as grandes massas e se sustenta sobre a possibilidade de incluí-las na mobilização pela defesa do patrimônio. Uma preocupação permanente, ainda hoje não resolvida, nos debates contemporâneos do século XXI.
Contrariando o pensamento de Riegl, a arquitetura moderna torna-se patrimônio ainda no século XX, antes mesmo do tempo ter lhe conferido valor de antiguidade.
Essa ausência de valor de antiguidade, possivelmente, é a principal razão da dificuldade do reconhecimento desse patrimônio pela sociedade em geral.
Por outro lado, essa novidade, impensável para o teórico na época, distancia o patrimônio moderno dos constantes conflitos que se estabelecem entre o valor de antiguidade e os demais valores memória, como entre esses e os valores de atualidade definidos por Riegl, ao menos, enquanto o tempo entre o patrimônio moderno e a sociedade que o reconheceu for tão próximo.
Segundo Riegl, diferentemente do valor de antiguidade, para os valores histórico e de comemoração, interessa a obra em sua forma original e intacta:
O valor histórico é tanto maior quanto mais puramente se revela o estado original e acabado do monumento, tal como se apresentava no momento de sua criação: para o valor histórico, as alterações e degradações parciais são perturbadoras […] Trata-se mais de conservar um documento o mais autêntico possível para a pesquisa futura dos historiadores da arte […] As destruições passadas, imputáveis aos agentes naturais, não podem ser anuladas e, do ponto de vista histórico, elas não devem também ser reparadas. Mas as destruições futuras, as que o valor de antiguidade não somente tolera, mas postula, são inúteis aos olhos do valor histórico […].10 […] o valor de rememoração intencional não reivindica menos para o monumento que a imortalidade, o eterno presente, a perenidade do estado original […] A restauração é, pois, o postulado de base dos monumentos intencionais […].11
O aspecto mais atual no discurso de Riegl é a forma como ele enxerga o valor de arte, sujeito a flutuações de época, e o valor de antiguidade que se baseia na subjetividade e é acessível a todas as classes (o valor mais democrático). Riegl desloca-se de uma visada objetiva para uma subjetiva – quase religiosa – aproximando-se de Ruskin, mas apenas nesse ponto.
Na terceira e última parte do texto, Riegl se debruça sobre os valores que, segundo o autor, respondem às necessidades da sociedade moderna tal qual a obra nova: nos seus aspectos funcionais, sensoriais e espirituais. A estes denomina valores de atualidade, subdividindo-os em duas outras categorias: o valor de uso e o valor de arte. Para esses valores de atualidade, assim como para o valor histórico e de comemoração, interessa a manutenção do estado original da obra.
No caso das obras que continuam sendo utilizadas, no entanto, o valor de uso não pode fazer nenhuma concessão ao valor de antiguidade: “para a maioria, um monumento ainda utilizado deve apresentar, mesmo em nossos dias, a aparência juvenil e robusta de suas origens e recusar as marcas de seu envelhecimento ou de suas fragilidades”12.
Por outro lado, os monumentos dotados de valor de arte, que respondem à exigência da moderna Kunstwollen, ou seja, que satisfazem à aspiração de vontade artística do momento comportam duas exigências: uma refere-se à forma conservada nas suas cores e integridade, denominada por Riegl como valor de novidade, e pode ser apreciada por qualquer indivíduo; a outra, que chama de valor relativo, apenas acessível aos que possuem cultura estética, refere-se à presença nas obras passadas de certas qualidades atuais. Em ambos a necessidade recai sobre a conservação integral do bem.
Considerando que toda obra do passado, em princípio, possui valor histórico, e tendo em conta a ausência do valor de antiguidade no patrimônio moderno, pode-se dizer que são os valores de atualidade que melhor caracterizaram esse patrimônio, portanto, a observação desses valores é fundamental para as intervenções no mesmo.
É importante, porém, esclarecermos que esse fato não autoriza intervenções que recusem toda e qualquer marca do passado. Riegl, ao tratar dos valores de atualidade destaca, por um lado, que poderão ser tolerados “certos sintomas de degradação” e, por outro, esclarece que não existe valor de arte eterno, apenas relativo e que, portanto, as exigências relacionadas a esse valor devem ser consideradas em relação ao valor histórico do monumento, de forma que o mesmo não perca seu caráter de documento.
A formulação teórica de Riegl pressupõe um conflito constante entre os diversos valores presentes nos monumentos e a necessidade de uma abordagem crítica para o enfrentamento do dilema que se estabelece na conservação, uma vez que coexistem em uma mesma obra valores antitéticos.
Segundo Françoise Choay, pela primeira vez na história da noção de monumento histórico e de suas aplicações, Riegl toma distância para:
[..] empreender o inventário dos valores não ditos e das significações não explícitas, subjacentes ao conceito de monumento histórico. De uma só vez, este perde sua pseudotransparência de dado objetivo. Torna-se o suporte opaco de valores históricos transitivos e contraditórios, de metas complexas e conflitivas. Riegl mostra que, no plano da teoria assim como no da prática, o dilema destruição/conservação não pode ser opção absoluta, o quê e o como da conservação não comportando jamais uma solução – justa e verdadeira –, mas soluções alternativas, de pertinência relativa.13
Acertadamente Fabris (2014) afirma que Riegl “antecipa algumas propostas do restauro crítico que foram transformadas em reflexão teórica por Brandi”, em exatos sessenta anos depois. Enfatizando essa perspectiva, na apresentação da edição brasileira da Teoria da Restauração, de 2004, traduzida por Beatriz Mugayar Kühl, Giovanni Carbonara afirma que a reflexão de Cesare Brandi “manifesta uma dívida implícita no que concerne à contribuição teórica de Aloïs Riegl”14. Por isso mesmo, Annateresa Fabris destaca, na introdução à tradução de 2014:
O que resta de seu legado nos dias de hoje? A ideia de que toda intervenção em um monumento não pode prescindir de um juízo crítico, já que o restauro caracteriza-se por ser uma ação sociocultural, a requerer ‘uma investigação preliminar sobre a natureza daquilo que se conserva, a fim de detectar na vasta gama das preexistências, os papéis específicos e as vocações de cada uma delas’. Desse modo, Riegl antecipa as propostas do restauro crítico formuladas no segundo pósguerra por profissionais como Roberto Pane, Renato Bonelli e Agnoldomenico Pica, e transformadas em reflexão teórica por Cesare Brandi.15
Pouco mais de um século após a elaboração da obra de Riegl, e seis décadas da obra de Brandi, é possível afirmar que nenhuma outra obra de tamanha consistência teórica para a conservação surgiu, apesar do alargamento não apenas cronológico e geográfico dos bens patrimoniais ocorrida, segundo Françoise Choay16, a partir da década de 1960 e da ampliação da noção de Patrimônio Cultural, incluindo os bens imateriais desde o final do século passado.
Somado a isso, alguns desafios enfrentados para a conservação do recente patrimônio moderno não encontram precedentes na práxis da conservação como: as novas possibilidades documentais trazidas com o acervo de projetos das obras, os grandes componentes e sua substituição integral, ou as especificidades espaciais dessa arquitetura, abrindo o campo de pesquisa e sugerindo não necessariamente a negação dessas teorias, mas sua revisão e ampliação17.
Ao contrário da questão material, a abordagem dos aspectos espaciais das obras de arquitetura nas teorias da conservação é incipiente e, consequentemente, sua importância tem sido pouco considerada na prática patrimonial.
Em Riegl, embora o valor de uso devesse estar intrinsicamente vinculado aos aspectos espaciais da obra de arquitetura como parte de seu valor artístico, é reduzido apenas à sua dimensão utilitária e, nesse sentido, o foco, para o autor, recai sobre os possíveis conflitos com o valor de antiguidade18.
O autor, ao tratar o valor de uso e o valor artístico como distintos, cria não apenas a possibilidade de conflito entre eles, como a prevalência do valor artístico sobre o de uso, aspecto que é reforçado, posteriormente, na Teoria da Restauração de Brandi.
Por outro lado, o princípio de integração entre espaços interiores e exteriores, inerente à arquitetura moderna, torna-se difícil de ser contemplado quando são entendidos como entidades separadas e estanques e quando há prevalência do espaço exterior, conforme aborda Brandi no capítulo destinado aos “Princípios para a Restauração dos Monumentos”. A diluição desses limites faz com que os dilemas espaciais já existentes na conservação da arquitetura fiquem mais evidentes ou agudos com o patrimônio moderno.
A configuração espacial moderna, ao estar em parte fundamentada nas teorias do espaço arquitetônico do final do século XIX e início do século XX19, coloca em questão a preponderância dada à materialidade nas práticas da conservação dessa arquitetura e aponta para a impossibilidade, ou ao menos a inadequação, de uma abordagem conservativa sem a devida importância que deve ser dada também aos seus aspectos espaciais.
Apesar de muito citadas, as obras de Riegl e Brandi ainda são pouco exploradas na utilização operacional e pouco aprofundadas nos debates e reflexões sobre a questão da conservação do patrimônio artístico ou arquitetônico.
Quais as razões para tão pouca atenção e discussão sobre o tema? As razões estarão no enfraquecimento das relações entre teoria, historia e prática? O problema estaria na crescente complexidade da sociedade contemporânea e na diversidade do corpo patrimonial que dificulta a abordagem teórica no tratamento desse patrimônio? Aprofundar o entendimento sobre essas obras a partir do olhar contemporâneo, como nos ensina Riegl, talvez seja o ponto de partida para a ampliação da discussão da conservação da arquitetura (não apenas moderna), da prática da conservação, bem como do papel das instituições patrimoniais na conservação desse patrimônio.
Notas
3 As duas traduções brasileiras do livro de Aloïs Riegl consultadas são: a primeira, feita a partir da edição francesa, Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse (Paris: Seuil, 1984), publicada pela Editora da Universidade Católica de Goiânia em 2006, e a segunda, feita a partir da edição original em alemão, Der moderne denkmalkultus: sein wesen und seine entstehung (Viena & Leipzig: W. Braumüller, 1903), publicada pela Editora Perspectiva em 2014.
4 ZERNER apud FABRIS, Annateresa. “Os valores do Monumento”. In: RIEGL, Aloïs. O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. Tradução de Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 19.
5 BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004 [1963].
6 O moderno a que se refere Riegl pertence às transformações modernas do século XIX e não pode ser confundido com o termo utilizado quando nos referimos à produção moderna da arquitetura no século XX.
7 RIEGL, O culto moderno…, p. 32.
10 RIEGL, Aloïs. O culto dos monumentos: sua essência e sua gênese. Tradução da edição francesa por Elane Ribeiro Peixoto e Albertina Vicentini. Goiânia: Editora da Universidade Católica de Goiás, 2006, p. 76-77.
11 RIEGL, O culto dos monumentos…, p. 85-86.
12 RIEGL, O culto dos monumentos…, p. 99.
13 CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo:
Estação Liberdade; Editora UNESP, 2001 [1992], p. 13-16.
14 CARBONARA, Giovanni. “Apresentação”. In: BRANDI, Teoria da restauração…, p. 9.
15 FABRIS, Annateresa. “Os valores do monumento”. In: RIEGL, O culto moderno…, p. 20-21.
16 CHOAY, A alegoria do Patrimônio…, passim.
17 ROCHA, Mércia Parente. Patrimônio arquitetônico moderno: do debate às intervenções. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2011.
18 RIEGL, O culto dos monumentos…, p. 38-39.
19 Sobre os trabalhos que ao final do século XIX introduzem na teoria da arquitetura o conceito de espaço, até então objeto de estudo em especial da filosofia, destacam-se aqueles elaborados pelos pesquisadores alemães August Schmarsow e Adolf Hildebrand, cujo pensamento está fundado numa visão da arquitetura a partir de seu interior.
Mércia Parente Rocha – Arquiteta, Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba. Professora do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do CESED/ FACISA em Campina Grande – PB.
Nelci Tinem -Arquiteta, Doutora em História da Arquitetura Urbana pela Universitat Politecnica de Catalunya. Professora Titular do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba.
[MLPDB]
América aborigen: de los primeros pobladores a la invasión europea – MANDRINI (S-RH)
MANDRINI, Raúl. América aborigen: de los primeros pobladores a la invasión europea. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013. 289 p. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Um recorrido por la Historia de la América Precolombiana: uma reseña de homenaje y despedida. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, [34] jan./jun. 2016.
Reseñar un libro nunca es una tarea sencilla, pero siempre resulta apasionante, puesto que uno siente que realizar una lectura atenta, detenida y profunda de la obra con el fin de darla a conocer constituye, pues, un indudable privilegio que sólo puede presentarse en contadas ocasiones. Sí, escribir la reseña de un libro no es una tarea simple. Y en el caso del libro América aborigen. De los primeros pobladores a la invasión europea, resulta ser una tarea aún más difícil y compleja, puesto que nos enfrenta a una obra que fue escrita por un historiador de talla como Raúl Mandrini, uno de los investigadores más conocidos en el medio académico argentino y con una amplia proyección en el mundo latinoamericano y europeo. Habiendo atesorado una prolífica carrera académica docente e investigativa con el correr de los años2, Raúl Mandrini contribuyó – desde el regreso de la democracia en Argentina (1983) – a un giro fundamental en la historiografía de los pueblos indígenas, presentando una visión original y renovada de esos temas y dejando una fuerte impronta en los estudios históricos sobre las poblaciones indígenas y los múltiples contactos que existieron entre el mundo de los nativos y el de los “blancos” o criollos, con claras proyecciones en las producciones posteriores. Son numerosos los investigadores que completaron su formación y dieron los primeros pasos de una carrera de destacada producción académica gracias a su visión y generosa capacidad de reconocer talentos. Y qué decir de los retos intelectuales frente al producto de uno de esos autores que, debemos confesarlo, concitó nuestra atención y entusiasmo desde temprano, al punto de que somos conscientes de que ha marcado – y sigue haciéndolo – nuestra propia y actual carrera como docente e investigador universitario. Para quienes tuvimos la posibilidad de conocer y conversar con Raúl Mandrini, nos encontramos con uno de esos grandes eruditos en un mundo de sabios del fragmento, sin por ello dejar de ser un especialista de la primera hora, muy riguroso y crítico; pero sobre todo, una excelente persona a nivel humano, un hombre amable, honesto, sensible, abierto y comprometido con una sociedad más democrática y plural. Más aún, cómo confeccionar una reseña cuando la triste noticia de que Raúl Mandrini ha fallecido recientemente – 23-XI-2015 – pareciera dejar sin sentido tal empresa, sugiriendo que la redacción de esas habituales “palabras de despedida” sería, en todo caso, la tarea más correcta y apropiada en este momento. Frente a esta serie de condicionantes, nos preguntamos ¿cómo no caer en el terreno de un halago meramente formal que nos impidiera expresar nuestras propias opiniones en relación a los aportes del libro y, además, evitar el exceso descriptivo sin dejar de destacar la importancia que el contenido de la obra en cuestión puede ofrecer al lector? Por otro lado, ¿cómo soslayar el enfocarse en aquellos temas que resultan más afines a nuestro interés en desmedro de otros que no son tan atractivos para nosotros? Finalmente, ¿cómo evitar ser aburrido o reiterativo, sobre todo suponiendo que el que tiene el libro entre sus manos – o la posibilidad de acceder a él – lo leerá completamente? En definitiva, ¿de qué modo es posible congeniar la revisión crítica y la enorme responsabilidad del merecido homenaje a una persona cuya impronta se ha transformado en legado? Son estos interrogantes las razones que hacen que escribir una reseña del último libro del profesor, del historiador, de Raúl – como me dijo “tutéame sin problemas” – sea un gesto que (nos) cuesta mucho. Sin embargo, decidimos construir esta recensión a partir del modo que, quizás, nos hubiera aconsejado seguir, procurando dar cuenta de la cantidad y densidad de los problemas abordados en las casi trescientas páginas que abarca el volumen de América aborigen. De los primeros pobladores a la invasión europea, una obra que ya constituye un referente obligado del mundo académico latinoamericano sin lugar a dudas. A riesgo de que esta última afirmación pueda resultar una fórmula muchas veces repetida, no queremos dejar de usarla por varios motivos. En primer y contenido en el título, puesto que justamente se aboca a recuperar la historia – mal conocida, cuando no expresamente borrada de la memoria histórica – de la vida y la cultura de los diferentes pueblos que ya llevaban habitando varios milenios el continente en los momentos iniciales de la conquista. Este libro, enmarcado en el emprendimiento más amplio de la colección Biblioteca Básica de Historia del sello editorial Siglo XXI, es un producto de una historia social, esto es, una reconstrucción del pasado prehispánico diferente de aquellos análisis que pueden ofrecer los arqueólogos y antropólogos sociales, quienes por muchos años fueron los que indagaron acerca de estas sociedades dadas las tradiciones disciplinares forjadas al calor de las ideologías decimonónicas. Pero a la vez un tratamiento específico, que procura dejar en claro que la historia no es una verdad fijada de una vez y para siempre, sino que se trata de una construcción intelectual que forjamos desde el presente, producto de los trabajos sucesivos que en conjunto van modificando la comprensión del pasado prehispánico. De esa manera, el autor parte de una noción de que no sólo el futuro es impredecible – por el hecho de que está siendo construido – sino que incluso el ayer nunca es cerrado y definitivo. En concordancia con estas premisas, Raúl Mandrini cuestiona los parámetros sobre los cuales se asentó la historiografía americanista del siglo XIX y gran parte del XX, que mostró a estos colectivos sociales como “pueblos sin historia” o – en algunos casos – de poca antigüedad, homogéneos en términos culturales y raciales, primitivos y estáticos. Amparado en una concepción específica de la historia social, su propuesta contribuye a confirmar la antigüedad de la presencia de estas comunidades, su gran diversidad y heterogeneidad, la complejidad de sus formas de organización económica, social y cultural, sus elaboradas expresiones artísticas y estéticas, sus destrezas y habilidades para adaptarse a un medio a veces hostil, las profundas transformaciones que experimentaron y, en definitiva, el dinamismo de su vida histórica. En segundo lugar, es una obra de síntesis que trata de delinear una perspectiva general, sistemática y organizada del pasado (o los pasados) de esas poblaciones originarias a partir de una narración atrapante donde su objeto nunca se desdibuja, por lo que su redacción no puede más que concebirse como un esfuerzo por compaginar el ingente volumen de información – producto de los impresionantes avances de la investigación arqueológica y la disponibilidad de un mayor número de testimonios – que conforma el estado actual de nuestro conocimiento sobre los entornos ecológicos y las prácticas socioculturales de aquellas sociedades. Por tanto, su composición deja entrever las virtudes de quien, como Mandrini, domina de modo magistral tanto la profesión docente como el oficio de historiador, permitiéndole ofrecer un texto de lectura sencilla, elocuente y accesible, sin que su apego a la rigurosidad del conocimiento científico signifique sobrecargar la obra con los tecnicismos de la jerga académica, las complejidades del lenguaje científico y el abuso de la cita erudita. Esto no ha impedido que el autor dote varias de sus afirmaciones con cierto tono hipotético o que no refleje las polémicas vigentes y si no las soluciones para las mismas, al menos algunas de las distintas interpretaciones que al día de hoy coexisten y compiten sobre una misma problemática. Y ello no sólo hace más interesante al libro, sino que además lo convierte en el reflejo de um mundo académico en perpetuo debate y construcción. A lo largo del volumen se traza un cuadro de una historia cercana a veinte milenios, marcada por profundas y complejas dinámicas sociohistóricas, desde los primeros pobladores hasta el surgimiento de las formas económicas y sociopolíticas más complejas, expresadas en las dos grandes construcciones estatales encontradas por los españoles, los imperios azteca e inca. La obra concluye en torno al año siglo XV, momento en que la presencia de los europeos, a través de sus instituciones y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, trastocó definitivamente el mundo social y espiritual aborigen. En lo que atañe al marco espacial es necesario remarcar la flexibilidad y pertinencia de su dilucidación, en la medida en que Mandrini sortea los escollos de las historiografías latinoamericanas nacionalistas que proyectaron los límites geopolíticos y las jurisdicciones contemporáneas – nacionales o provinciales – sobre las realidades que se remontan milenios atrás y plantea que es preciso tener en cuenta que la percepción misma de los medios y paisajes, así como la organización del espacio, de las poblaciones indígenas eran distintas de las nuestras. Con destreza analítica el autor explicita que las experiencias vividas a lo largo de la historia de estas sociedades evidencian la ocupación de una gran heterogeneidad ecológica, en la cual se ven implicados una pluralidad de climas, suelos, ambientes y recursos, logrando así sintetizar tanto los cambios como las continuidades y mostrar que las comunidades humanas no eran receptoras pasivas de ellas, sino que actuaban sobre el medio y lo transformaban. En vinculación con este conjunto de consideraciones, otro aspecto que diferencia este libro de otros volúmenes dedicados a la historia de la América precolombina es la organización de los contenidos y del relato, la cual en este caso se presenta alejada de los marcos historiográficos comúnmente aceptados, así como de las periodizaciones arqueológicas convencionales, al tiempo que enfatiza el análisis de los grandes procesos sociales que vivieron los pueblos indígenas americanos por sobre la descripción de la cultura material y documentos. Tampoco se arroga la ciclópea tarea de ensayar una historia total, sino que por el contrario se centra en las experiencias más significativas que atravesaron aquellas poblaciones originarias en el curso del tiempo y que permiten comprender de manera vívida y sugerente los significados que una comunidad atribuye a los acontecimientos en los que participa. Así, el libro consta de una introducción, diez capítulos, un epílogo y un acápite con bibliografía comentada, en el que el lector puede encontrar textos de referencia susceptibles de ser consultados ante cualquier duda o intento de profundización de una temática particular o un período específico. De igual modo, la presente edición se encuentra por fortuna profusamente acompañada por mapas, imágenes y fuentes, un aspecto que merece subrayarse precisamente porque en tanto recurso bien empleado, contribuye a hacer entender de mejor manera las explicaciones y reforzar el sentido del texto, haciendo más vivida la historia, pero también posibilita concientizar sobre el significado e importancia de ese patrimonio histórico y cultural. Luego de la introducción, destinada a plantear sintéticamente algunas cuestiones vinculadas a los desafíos que significa construir una historia social del mundo indígena prehispánico, el primer capítulo ofrece un panorama general de las poblaciones del continente en la etapa inicial de las exploraciones españolas, hacia 1500. Además de reseñar lo que serán las “grandes civilizaciones” de Mesoamérica y los Andes, sobre las que profundizará más adelante, ofrece una breve aproximación a las sociedades de las tierras frías y templadas de América del Norte, el área intermedia y las zonas orientales y meridionales de regiones bajas tropicales y subtropicales de América del Sur. La decisión de comenzar el libro con ese momento encuentra su justificación en una doble premisa: en primer lugar, dejar en claro que América no era un continente vacío ni poco poblado, y que los espacios no ocupados eran aquellos donde las condiciones ambientales eran tan extremas que hacían imposible la vida humana; y en segundo lugar, mostrar la multiplicidad de adaptaciones creadas por las comunidades humanas, la variedad de formas económicas, sociales y políticas, y la diversidad y riqueza de sus manifestaciones culturales. Seguidamente a los procesos generales del poblamiento del continente, Mandrini aborda el carácter de los primeros antiguos cazadores-recolectores que pudieron adaptarse a ambientes desiguales y aprender a explotar una variedad de recursos a lo largo de diversas latitudes, entre cuyas transformaciones más fundamentales para hacerlo aparecen el paso al modo de vida sedentario en aldeas y la domesticación de plantas y animales. En los siguientes acápites, el autor profundiza en las implicancias que tuvieron el avance de la producción de alimentos, el aumento sostenido de la población, el afianzamiento de las aldeas y la incorporación de la alfarería y la metalurgia para las poblaciones de Mesoamérica y los Andes centrales y meridionales, bases para el ulterior proceso de emergencia de desigualdades sociales, formación de grandes áreas de interacción e integración regional y, más tarde, de unidades sociopolíticas de tamaños variables en dichas macro-regiones. Se estudian las diferentes tradiciones político-culturales que resultaron en ambas áreas de la profundización de las diferencias sociales, la consolidación de las sociedades urbanas y la emergencia de los primeros Estados fuertemente regionalizados, fenómenos que a su vez implicaron la expansión de las economías políticas, el incremento del poder de las elites urbanas al vincularlo con el mundo de las divinidades y el surgimiento de estilos artísticos bien definidos. También se ocupa sobre los procesos de crisis y colapso de las unidades políticas, así como también de las nuevas tendencias a la regionalización que estuvieron acompañadas por el incremento de la violencia, la inestabilidad política, el retroceso en las condiciones medioambientales y el desplazamientos de poblaciones. En último capítulo Mandrini enfoca su atención en la construcción de las formaciones políticas más extensas y complejas del mundo prehispánico con las que se toparon los españoles, los imperios azteca e inca, que dominaron más de la mitad del territorio mesoamericano y los Andes centrales y meridionales respectivamente. Una especial consideración merece en esta sección el profundo razonamiento explicitado por el autor acerca de que más allá de sus diferencias, las políticas imperialistas de estos Estados compartían un punto en común: recogiendo tradiciones y experiencias anteriores, ambos lograron someter a un abigarrado mosaico de poblaciones cultural, política y lingüísticamente diferentes, exigiéndoles tributos y distintas prestaciones o servicios. El libro se cierra con el epílogo donde se vierten algunas líneas acerca del impacto de la presencia europea sobre las sociedades aborígenes.
Sin demérito de las aportaciones mencionadas hasta el momento – ya que todas evidencian ser fruto tanto de una profunda investigación empírica como de una reflexión teórica sensata –, una cuestión que sorprende es la falta de una mayor atención sobre otras poblaciones amerindias, especialmente aquellas que habitaron en las llanuras y planicies del tercio meridional de América del Sur y las zonas interiores de las grandes cuencas fluviales tropicales del Orinoco, el Amazonas y el Plata, más allá de lo expuesto escuetamente en el capítulo segundo. Desde luego, este hecho no es el resultado de una decisión deliberada de excluir a tales sociedades indígenas, sino que puede obedecer a otra serie de razones. En principio, puede decirse a favor de Mandrini que gran parte de esas poblaciones originarias, en particular las comunidades que en el curso del tiempo vivieron en el actual territorio argentino y sus regiones vecinas, fueron objeto de otro de sus libros de divulgación que publicó en la misma colección y sello editorial3, por lo cual volver a trazar esa historia resultaba ser una elección poco inteligente cuando el campo historiográfico ya cuenta con un excelente volumen que pone el foco sobre los grandes procesos sociales atravesados por esas poblaciones. No obstante, no dejan de brillar por su ausencia algunos capítulos que reflejen la vida de las poblaciones originarias de la región amazónica de la América del Sur, sociedades suficientemente investigadas y documentadas en libros y artículos de revistas editados en las últimas décadas. En vistas de esto, hubiera sido deseable que Mandrini ahondara más en la experiencia de tales comunidades humanas, favoreciendo así a un mejor conocimiento – mucho más claro y explícito – de la antigüedad de su presencia en el entorno selvático, sus destrezas para adaptarse a un medio a veces hostil, su gran diversidad sociopolítica y heterogeneidad cultural y la complejidad de su universo simbólico. Esto permitiría entender los mecanismos concretos que les han posibilitado conservar modalidades de organización sociopolíticas laxas y segmentarias pese a estar en contacto con sociedades mucho más centralizadas, cuestiones tan centrales a la problemática que convoca el libro. Respecto de esta llamativa ausencia temática en un producto de divulgación elaborado por un especialista como Mandrini, podemos enunciar – al menos – dos razones. En primer lugar, la larga vigencia, dentro del mercado editorial de contenido histórico, de una perspectiva historiográfica localizada casi exclusivamente en las denominadas “altas culturas” de Mesoamérica y Andes, fuente inagotable de orgullo nacionalista para ciertos países – como México, Perú y Bolivia – y objeto de numerosos proyectos de investigación, mientras que las sociedades de áreas culturales consideradas “marginales”, aquellas que usualmente habitaron las periferias de las “grandes civilizaciones”, no han recibido la misma atención por parte de los especialistas ni han sido objeto de una revalorización equivalente en las obras sobre historia indígena precolombina. Y en segundo lugar, el escaso diálogo del medio académico argentino con los estudios arqueológicos y etnohistóricos acerca de las poblaciones amazónicas, llevados a cabo principalmente por antropólogos, historiadores y arqueólogos de Brasil y que tanto han hecho para reconocer el lugar de la Amazonía antigua en la historia americana. Esta particular deuda con la historiografía amazónica constituye una situación que merece ser reevaluada en el futuro, procurando acortar la brecha aún existente entre ámbitos y especialidades, buscando ampliar los contactos personales de los estudiosos y potenciar la formación de redes académicas, propiciando tanto la articulación de proyectos individuales en programas más amplios de investigación interdisciplinaria como la organización de reuniones científicas internacionales que sirvan para socializar y discutir los resultados; todo un conjunto de actividades que permitan reconocer la variedad de formaciones sociales nativas que han coexistido e interactuado, contribuyendo a una comprensión más íntegra de un mundo indígena sumamente complejo, heterogéneo, dinámico y contrastante. Más allá de estas últimas puntualizaciones críticas, es indudable que este último volumen que nos legó Raúl Mandrini constituye un gran aporte a la historiografía y antropología americanas al ofrecer, a través de una perspectiva original, sintética y rigurosa, una recorrido ágil y, sobre todo, una prosa sencilla y directa, una muy buena obra de divulgación para aquel que desee conocer el pasado de estas sociedades. Un libro como éste se convierte rápidamente – como ha ocurrido con otros materiales del mismo autor pensados con el mismo propósito4 – en un insumo básico y obligatorio para estudiantes, docentes e investigadores. Son éstos tipos de producciones sólidas las que motivan la disposición de continuar explorando novedosos medios para investigar y divulgar una amplia, prolífica y compleja realidad sociocultural que todavía ofrece mucha tela para cortar: las diversas historias de las sociedades originarias del continente americano.
Notas
2 Raúl Mandrini se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA), Lomas de Zamora (UNLZ), Salta (UNSa), del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Rosario (UNR), y Luján (UNLu). Se inició en la UBA como Ayudante de Trabajos Prácticos en 1965, culminando como Profesor titular en las tres últimas. Por razones políticas permaneció alejado de la vida académica entre 1975 y 1983. Entre enero y marzo de 1989 fue profesor invitado en la Universidad Autónoma de Puebla (México). En la UNCPBA, se desempeñó como Profesor Titular con dedicación exclusiva, cargo obtenido por concurso público en 1985, por segunda vez en 1991, renovado por el Consejo Superior en 1996, y renovado nuevamente por Concurso Público en 2004, teniendo a su cargo las cátedras de Historia General II (Antigua) e Historia de América I (Prehispánica). Renunció por jubilación en abril de 2009. Dictó además, como profesor invitado o visitante, seminarios y cursos especiales de grado y postgrado en universidades argentinas y del exterior (México, Uruguay, Chile, España). Inició su trabajo en investigación como Auxiliar de Investigaciones en el Instituto de Historia Antigua Oriental de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 1965 y 1972. Durante 1985 fue becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina, y adscripto al Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Ingresó por concurso al Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU) de CONICET. Desde su fundación en 1986, y hasta su jubilación en 2009, fue investigador titular del Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la UNCPBA, institución de la que fue director entre 1992 y 2000. Fue además investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Nacional Patagónico dependiente del CONICET, la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y la Universitat de Girona. Desde 2010 y hasta su fallecimiento fue Investigador adscripto, con categoría de Profesor Titular interino (ad-honorem), en el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Participó en congresos y jornadas científicas en Argentina y el exterior con presentación de ponencias; dictó seminarios, conferencias y cursillos sobre temas de su especialidad en instituciones públicas y privadas de distintas ciudades de la Argentina (Buenos Aires, Bahía Blanca, Azul, Tandil, Balcarce, Olavarría, Salta, Jujuy, Río Gallegos, Mar del Plata, Posadas, Trelew, La Plata, Venado Tuerto, Carmen de Patagones, Santa Rosa, Neuquén, Necochea y Puerto Madryn) y del exterior (México, Monterrey, Saltillo, Temuco, Montevideo, Madrid, Barcelona, Gerona, Huelva, Sevilla, Cádiz, Providence, Pittsburgh y Filadelfia). MANDRINI, Raúl. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008.
Raúl J. Mandrini publicó Volver al país de los araucanos (en coautoría con Sara Ortelli, Buenos Aires: Sudamericana, 1992), Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos XVIII y XIX. Un estudio comparativo (compilado junto a Carlos Paz, Tandil: IEHS-UNICEN, 2002), Los indígenas de la Argentina. La visión del “otro” (Buenos Aires: Eudeba, 2004), Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII-XIX (Buenos Aires: Taurus, 2006) y Sociedades en movimiento. Los pueblos indígenas de América Latina en el siglo XIX (compilado junto a Antonio Escobar y Sara Ortelli, Tandil: IEHS-UNICEN, 2007).
Horacio Miguel Hernán Zapata – Historiador. Doctorando en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Argentina. E-Mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Educação pela higiene: a invenção de um modelo hígido de educação escolar primária na Parahyba do Norte (1849-1886) – MARIANO (S-RH)
MARIANO, Nayana Rodrigues Cordeiro. Educação pela higiene: a invenção de um modelo hígido de educação escolar primária na Parahyba do Norte (1849-1886). João Pessoa: Ideia, 2015, 305 p. Resenha de: XAVIER, Wilson José Félix. Por gerações sãs e fortes: nos rastros de um modelo hígido de educação escolar primária na Parahyba do Norte. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [33] jul./dez. 2015.
Como preâmbulo a esta resenha, apresentamos um livro de leitura prazerosa, resultado da tese de doutoramento da autora, defendida em fevereiro de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. O texto, que mantém a estrutura original da tese, é enriquecedor pelas informações reunidas na interpretação da autora, bem como por sua amarração com as perspectivas de outros autores, neste caso, sobretudo, Michel Foucault e o professor José Gonçalves Gondra. A obra, organizada em quatro capítulos, trata basicamente da análise instigante (e até certo ponto corajosa) da construção de um modelo hígido de educação escolar durante o século XIX na Parahyba do Norte, a partir das prescrições higiênicas do e no espaço escolar.
Sendo assim, no primeiro capítulo, “Breve História de uma Pesquisa”, são apresentadas as escolhas teórico-metodológicas que viabilizaram a realização da pesquisa, tomando-se como fio condutor da narrativa a vida do professor primário e político Graciliano Fontino Lordão (1844-1906) e as epidemias do cólera-morbo na Parahyba do Norte (momentos em que o discurso médico aparecia com mais evidência). Neste capítulo, a autora relata como partiu da análise, principalmente, de regulamentos gerais da instrução pública parahybana do período imperial – os de 1849, 1860, 1884 e 18862 –, mas também de relatórios de Presidentes de Província, Códigos de Postura, revistas, jornais, manuais, compêndios e livros de leitura escolar; para desvelar as profundas relações entre medicina e educação, e dessa forma, tecer uma convincente trama histórica que leva o leitor ou a leitora a perceber como os preceitos de ordem médica foram adentrando o universo escolar para a invenção do referido modelo – invenção essa apresentada não como algo ficcional, mas no sentido de designar uma fabricação, uma construção de concepção de educação escolar. Assim, o sentido de tal pretensão, i.e., de tal construção, ganha contornos teóricos mais precisos a partir da categoria “biopolítica”, pensada por Foucault como procedimento institucional de administração da coletividade3.
Sob esse aparato teórico, a autora aponta como no Oitocentos, a medicina se posicionou como detentora de conhecimentos vitais, que, por meio de uma elite dirigente, se infiltra no incipiente mundo escolar das “casas de escola”, local de funcionamento da maioria das cadeiras isoladas.
No segundo capítulo, “Saberes da Medicina; Higienismo e Educação Escolar”, a autora detém-se nos aspectos relativos à arte de curar e às relações entre higienismo e educação. Dentre várias das reflexões feitas pela autora, talvez o grande leitmotiv que perpassa todos os subitens é o insight foucaultiano que leva o “olhar” da autora para o horizonte do que é “menor, marginal, periférico”4, conduzindo-a a questões relacionadas com a medicina, o corpo, e a sexualidade, permitindo que a categoria “biopolítica” jogue luz sobre certos aspectos do saber médico como parte constitutiva do processo de escolarização da Parahyba do Norte. É nesse sentido que a autora transita por caminhos ainda pouco trilhados no que tange a questão da escolarização, tais como os saberes e práticas sociais das parteiras, barbeiros, benzedeiras e boticários, bem como a atuação de médicos de formação acadêmica ou práticos (sem formação acadêmica) na Parahyba do Norte na segunda metade do século XIX. Não menos importante são as incursões da autora, analisando as habitações do século XIX e as Posturas Municipais, destacando a influência do ideário higienista na reorganização dos espaços urbanos.
Segundo a autora, tanto a disseminação da instrução pública quanto o avanço dos saberes médico-higienistas na ordenação do cotidiano fazem parte de um projeto maior de construção do Estado moderno brasileiro – formar as novas gerações passou a ser a tarefa fundamental no amplo projeto de construção e consolidação da nação. Os conhecimentos advindos da educação e da medicina propiciariam condições de governabilidade, e, para a autora, acompanhando Gondra, a Higiene foi a área da medicina que mais ajudou na organização da educação escolar. É, portanto, no final deste segundo capítulo que a autora defende o pioneirismo do Regulamento Geral de Instrução Pública de 1849, a partir do qual se começa a pensar e a debater na Parahyba do Norte, um modelo hígido de educação escolar, ou seja, esse documento foi precursor nas prescrições de natureza médica, abrindo caminhos para a invenção de uma educação escolar higiênica e higienizadora.
Dando continuidade à tentativa de mostrar como se deu a constituição dos dispositivos regulamentadores e disciplinares que foram criados para ordenar o mundo urbano e a educação de sua população, no capítulo três, “A Construção do Modelo Hígido de Educação Escolar na Parahyba do Norte”, a autora destaca como as escolas começam a ser pensadas como um lugar limpo e sadio. A partir da norma médica, tentava-se produzir um espaço interno escolar calmo, confortável, iluminado e mobiliado, enfim, higiênico, que cada vez mais se distanciava do “desordenado”, “conturbado” e “promíscuo” ambiente doméstico. Nesse sentido, sob a influência do higienismo, educadores, engenheiros, médicos e políticos defendiam a separação entre as residências dos professores e as “casas de escolas”, ganhando força entre certos grupos sociais, a ideia da necessidade de espaços próprios para o funcionamento das escolas. Sua análise é significativa, pois compreende desde a abordagem minuciosa dos Regulamentos Gerais de Instrução dos anos de 1849, 1860 e 1886, passando pelas reproduções imagéticas da educação ocorrida em ambientes domésticos (como foi muito comum nas escolas isoladas no Brasil imperial), e pelas imagens de mobílias escolares consideradas higiênicas. Eis mais um dos tantos méritos do livro: saber utilizar as imagens visuais para a investigação histórica e suas possibilidades de uso para a compreensão da construção de uma sociedade de normalização e, consequentemente, da elaboração de um espaço escolar diferente de outros espaços sociais como a igreja e a família.
Destaque também neste capítulo, para a boa discussão acerca da ordenação do espaço público e privado na província da Parahyba do Norte e das “casas de escola”. Não menos interessante são as incursões pelos preceitos higiênicos contidos no compêndio Livro do Povo (1865)5 e nos motivos que levaram à ausência da Parahyba do Norte na Exposição Internacional de Higiene e Educação em Londres, ocorrida em 1884. Todas essas circunstâncias são habilmente utilizadas para fortalecer o argumento central do livro.
No quarto e último capítulo, intitulado “O Gerenciamento da Vida pela Medicina:
O Colégio de Educandos Artífices”, a autora trata de vários aspectos desse tipo de instituição profissionalizante que, mesmo tendo vida efêmera, no caso da Parahyba do Norte – acolhendo, educando e instruindo crianças das chamadas “classes perigosas” entre os anos de 1865 a 18746 –, aponta em seu regulamento prescrições originárias do saber médico. Essas normatizações, que estavam de acordo com o Regulamento Geral da Instrução de 1849, indicavam a constante preocupação com as doenças e práticas sexuais dos educandos artífices, trazendo à tona a busca por um ambiente espaçoso, arejado e limpo, com alunos asseados e bem vestidos. Ao que parece, para a autora a normatização médica presente no Colégio de Educandos Artífices da Parahyba do Norte é a representação mais cabal na província, do modelo hígido que se inaugura com o Regimento Geral da Instrução de 1849 com o intuito de promover o progresso da província diante das transformações sociais, culturais e políticas da segunda metade do século XIX.
A tônica da composição do livro, que merece destaque, é o constante esforço em dialogar com o que se produzia naquele momento na Corte e em outras províncias, sem perder de vista a pertinente perspectiva de que o projeto higienista parahybano oitocentista guardou as suas peculiaridades diante de outros projetos desenvolvidos em outras províncias brasileiras no século XIX. Um bom exemplo do que se diz é a eficiente articulação tecida entre o Regulamento Geral da Instrução de 1860 com o Decreto n. 1.331-A de 1854, conhecido como Reforma Couto Ferraz, que aprovava uma reformulação para o ensino primário e secundário dirigido ao Município da Corte.
De forma igualmente perspicaz, ao tratar do “corpo educado”, a autora ressalta, amparada nos estudos de José Gondra, algumas das principais representações ou concepções de Educação Física, lembrando as marcas próprias das ações médicas: disciplinar, higienizar, medicalizar, fortalecer, biologizar e regenerar.
Quanto a medicina do Oitocentos, há um alerta para o fato do corpo não ser visto de forma isolada, sendo acompanhado das dimensões moral e intelectual.
Cabe lembrar que, muitas das questões levantadas pela autora acerca da Educação Física reaparecerão entre os intelectuais da chamada “Geração de 1870”, que se empenharam numa construção teórica, política e ideológica pautada no ideário de modernização do país7.
As questões da vacinação, do não padecimento de moléstias contagiosas por parte de alunos, da escolha do ambiente limpo asseado e de casas apropriadas e bem colocadas para a instrução, ressurgem frequentemente nos Regulamentos citados anteriormente. Nesse processo, indica a autora, todas as reformas abordadas objetivavam garantir o gerenciamento da população, dentro de um projeto que buscava produzir sujeitos docilizados, úteis, instruídos, hígidos, dentro de um programa civilizador, “já que a instrução era vista como instrumento propagador de transformações e progresso”8.
Entretanto, a questão mais polêmica do livro é justamente o seu argumento central: a propositura da constituição de um modelo hígido na Parahyba do Norte ainda no século XIX. Se a obra tem o mérito de desconstruir o “mito” de que na província nada foi feito ou aconteceu em torno das discussões e práticas higienistas nesse período, há sempre os riscos assumidos em se apontar a formação de um modelo. Esse tipo de representação advindo da Matemática – o modelo – é sempre problemático quando apropriado pelos campos da História e da História da Educação, principalmente, quando proposto a partir da limitada documentação disponível sobre o Oitocentos na Parahyba do Norte. Não obstante, a autora defende bem o seu ponto de vista com uma boa delimitação de seu objeto, um adequado tratamento das fontes e a rigorosidade (sem rigidez) metodológica característica que perpassa todo o trabalho, que a leva a construir um modelo “local” que, dialogando com um processo mais abrangente de formação da nação consegue ganhar força de sustentação. O modelo mais restrito, referente à Província da Parahyba do Norte, se perde em alcance para a compreensão/ explicação de outras realidades, ganha em poder heurístico com relação à história educacional paraibana. Pode-se dizer que esta estratégia metodológica de perdas e ganhos calculados é bastante acertada para o estudo em questão. Mas, certamente, não é este um assunto esgotado.
Trata-se, portanto, de uma obra que deve ser lida, apreendida e, sobretudo, discutida por todos os pesquisadores, notadamente por aqueles que estão vinculados às pesquisas em História da Educação, e/ ou aos que se dedicam aos estudos históricos das doenças e da medicina na Paraíba. Em conclusão, é uma obra imprescindível à comunidade acadêmica pela abrangência, profundidade e ousadia com que são tratadas as questões, e que contribui, sobremaneira, para o debate sobre os sentidos do projeto modernizador de edificação de uma escola considerada moderna, num momento em que a Higiene ganhava espaço no universo escolar, entrelaçando instrução, educação e saber médico.
Notas
2 Segundo a própria autora, a Província da Parahyba do Norte possui sete Regulamentos Gerais da Instrução, datados de 1849, 1852, 1860, 1879, 1881, 1884 e 1886. Contudo, os regulamentos de 1852, 1879 e 1881 não foram encontrados por pesquisadores em nenhum acervo documental até o momento.
3 MARIANO, Nayana Rodrigues Cordeiro. Educação pela Higiene: a invenção de um modelo hígido de educação escolar primária na Parahyba do Norte (1849-1886). João Pessoa: Ideia, 2015, p. 52- 53.
4 MARIANO, Educação pela Higiene..., p. 55.
5 Compêndio de autoria do bacharel em Direito maranhense Antonio Marques Rodrigues, publicado pela primeira vez em 1865 e adotado nas escolas primárias da Parahyba do Norte.
6 A instituição foi criada em 1859, porém, somente em 1865 é que começou a ser organizada. A razão de tal demora deve-se à ausência de recursos do governo provincial.
7 Um dos intelectuais mais importantes dessa “Geração”, José Veríssimo, dedica o capítulo IV da obra “A Educação Nacional” (publicada pela primeira vez em 1890, e republicada no Rio de Janeiro em 1906), à importância da Educação Física como proposta para a regeneração física, moral e intelectual do povo.
8 MARIANO, Educação pela Higiene..., p. 261.
Wilson José Félix Xavier – Doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e Professor Adjunto do Centro de Ciências Agrárias da mesma instituição, Campus de Areia. E-Mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Comer: necessidade, desejo, obsessão – ROSSI (S-RH)
ROSSI, Paolo. Comer: necessidade, desejo, obsessão. Tradução de Ivan Esperança Rocha. São Paulo: Editora da UNESP, 2014 [2011], 192 p. Resenha de: OLIVEIRA, Carla Mary S. Miríades do comer: por uma compreensão ampla do ato de se alimentar. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [32] jan./jun. 2015.
Paolo Rossi (1923-2012) foi um dos mais destacados historiadores italianos da segunda metade do século passado e começos deste século. Tendo se dedicado ao estudo da História das Ideias na Europa dos séculos XVI e XVII, especializouse no pensamento de Francis Bacon. No Brasil teve, infelizmente, poucos mas inegavelmente marcantes trabalhos publicados além do livro sobre o político e filósofo inglês2, como O passado, a memória, o esquecimento3 e O nascimento da Ciência moderna na Europa4.
Se pensarmos no boom editorial que ocorreu em relação aos livros dedicados à gastronomia nas duas últimas décadas, não causaria espécie que um historiador como Rossi também se voltasse ao campo que abarca o ato de comer. Dentro da História Cultural, por sinal, não se trata de objeto de pesquisa inédito5, tendo despertado o interesse inclusive de pesquisadores avant la lettre como Gilberto Freyre6, muito antes de que ficasse na moda se fazer de gourmet/ gourmand ou de os historiadores brasileiros se dedicarem com mais afinco ao tema – quadro que nos últimos anos vem se modificando significativamente, aliás7.
Em Comer: necessidade, desejo, obsessão8 o que temos é justamente uma das últimas obras de um pesquisador arguto e criterioso, que mesmo partindo de uma proposta temática emersa de seu próprio círculo familiar, não se furta a exercitar com extrema perícia a crítica e o pensamento histórico acerca do objeto que se propôs a destrinchar9. Rossi se colocou a pensar o ato de comer a partir do convite para escrever o prefácio do primeiro livro de uma amiga muito próxima de sua filha, que também vira crescer, Laura Dalla Raggione, psiquiatra especialista no tratamento de distúrbios alimentares10. Dividido em dezenove curtos capítulos, o saboroso ensaio passeia por diferentes aspectos ligados ao ato de comer que, em síntese, pode ser visto como procedimento fundamental, indispensável e inteiramente necessário à manutenção da existência de todos os seres vivos.
Mas o que torna esse livro de Rossi interessante para os historiadores, já que em primeira instância ele não trata de um fato, evento ou processo histórico em particular, mas sim de uma prática que corta transversalmente todas as temporalidades e todas as sociedades, mesmo as mais “primitivas”? Talvez a própria forma escolhida por seu autor para abordar o tema. Nas últimas três décadas é inegável que assistimos à consolidação da História Cultural como campo hegemônico da produção historiográfica. Nesse processo emergiram objetos de pesquisa dos mais variados tipos, e entre eles a alimentação e suas peculiaridades, sem dúvida, alcançou uma posição de destaque e visibilidade extrema não apenas entre os profissionais de Clio, mas também entre o público não acadêmico – e no próprio mercado editorial, como já destaquei – interessado em devorar avidamente o universo pitoresco ligado ao comer e ao beber característicos de outros lugares, outros tempos e outros povos. No entanto, não são essas peculiaridades ou informações pitorescas ou mesmo exóticas o mote escolhido por Rossi para construir sua narrativa. Ele lança seu olhar sobre o comer por meio de seus aspectos mais arquetípicos, ligados não só ao ato cultural de alimentar-se, mas também à escolha religiosa ou ritual pela privação de alimento, às limitações de oferta de gêneros alimentícios em períodos de exceção, ao estabelecimento de interditos e tabus alimentares pelas mais variadas motivações, às transgressões abomináveis como o canibalismo, às maldições diabólicas imaginárias como o vampirismo e, característica grotesca da contemporaneidade, a escolha pseudoestética pela magreza anoréxica das top models ou a condenação moral dos indivíduos que trazem seus corpos acima do peso considerado “normal” ou “saudável”.
Antes de tudo, Rossi se propõe a escrever seu livro a partir da visada da História das Ideias, logo no curtíssimo primeiro capítulo, destacando o inusitado de sua escolha: “A História, ou melhor, as muitas histórias que procuro narrar aqui são repletas de coisas agradáveis, mas também de horrores, às vezes, inimagináveis” (p. 15).
Em seguida ele começa a servir ao leitor o percurso que definiu para pensar os diversos comeres que permeiam a existência humana. Como elemento fundador de qualquer ato do homem civilizado, Rossi destaca a força das ideias: para ele, elas “tornam-se formas de pensamento e geram comportamentos” (p. 17). São as humanas – é fácil pensar aqui no conceito bourdieniano de habitus, admito. Outro fator preponderante para a existência do gênero humano, sem dúvida, se trata da natureza, quaisquer que sejam as interpretações semânticas que lhe sejam dadas.
A natureza está ligada tanto ao estado natural, primeiro, primitivo das coisas, como também àquilo que está subjacente à própria vida, posto que é dela, da natureza, que advém o sustento diuturno dos seres vivos em todo o planeta: “Uma grande parte da noção comum ou corrente de natureza é ainda hoje, como era nas origens, resultado de projeções antropomórficas, entremeadas por mitos e ligadas a impulsos irracionais” (p. 21).
Na perspectiva analítica escolhida por Rossi fica claro que, para ele, a natureza se trata de algo pré-existente ao homem e, a partir do momento em que este passa a interferir nela a própria relação homem/ natureza atinge patamares cada vez mais complexos de interação, retroalimentando-se dessa própria relação e de suas consequências. Ora, neste processo o que se constrói na verdade é aquele algo disforme e de contornos indefinidos e fluidos a que chamamos de cultura.
Lembrando o antropólogo Marvin Harris, Rossi indaga:
[…] dado que todos os que pertencem à espécie humana são onívoros e dotados de um aparelho digestivo absolutamente idêntico, como é possível que em alguns lugares do mundo sejam consideradas iguarias coisas como formigas, gafanhotos ou ratos, que em outros lugares parecem ser imundícies repulsivas? (p. 23-24) Num entendimento de clara influência antropológica, ele tenta mostrar os relativismos intrínsecos a qualquer construto cultural e, obviamente, privilegia a apresentação da diversidade envolvida no ato de alimentar-se, pois para ele “Comer não envolve apenas a natureza e a cultura. Situa-se entre a natureza e a cultura. Participa de ambas” (p. 29).
Retornando ao pensamento de Lévi-Strauss, o historiador italiano destaca o quanto a alimentação traz, em suas práticas, muito do grupo que a reproduz cotidianamente:
As formas de alimentação podem dizer algo importante não apenas sobre as formas de vida, mas também sobre a estrutura de uma sociedade e sobre as regras que lhe permitem persistir e desafiar o tempo. (p. 30) Em outros termos: a alimentação, seja no que se refere àquilo que lhe serve como ingrediente, seja na forma como ela é preparada ou mesmo praticada, está permeada de elementos culturais profundamente relacionados aos aspectos identitários tanto do próprio indivíduo quanto, especialmente, do grupo ao qual ele pertence e com o qual se identifica enquanto ser social. Nesse sentido, comer deixa de ser algo natural, automático e instintivo quando o homem começa a interferir diretamente em todas as etapas envolvidas nesse processo. Ao selecionar determinadas espécies vegetais, primeiro para simples coleta na vegetação virgem, depois para cultivo; ao escolher determinado animal na caça, em detrimento de outros; ao começar a criar e domesticar certas espécies com o intuito de abatê-las mais tarde para seu próprio consumo; ao desenvolver apetrechos, ferramentas e técnicas variadas de cocção; tudo se relaciona a escolhas culturais motivadas pelos mais diversos fatores, alguns ligados às condições objetivas de existência, outros dirigidos por questões subjetivas, de fundo religioso, político ou social:
O alimento não é apenas ingerido. Antes de chegar à boca, ele é preparado e pensado detalhadamente. Adquire o que geralmente se chama de valor simbólico. O preparo do alimento marca um momento central da passagem da natureza à cultura. (p. 32) Do mesmo modo que o preparo da comida se constitui num ato de afirmação identitária e definição cultural, Rossi também salienta o quanto a privação voluntária de alimento por meio do jejum se trata de um dos mais antigos caminhos inventados para se alcançar a purificação espiritual e a transcendência:
O desejo constitui a origem do mal e o desejo da comida é um dos mais enraizados e profundos. Distanciar-se dos desejos faz parte do caminho da salvação. (p. 35) Nesse sentido, não espanta que o desejo e o consumo exagerado de alimentos, no Ocidente cristão, tenham sido associados, desde muito cedo, ao pecado, e que este pecado tenha sido nomeado – a gula – e que sobre ele tenham recaído condenações morais das mais diversas, justamente pelo fato de que não podemos viver sem alimento, mas entregar-se à lascívia gastronômica seria admitir de maneira veemente o lado animal de todo ser humano, diametralmente oposto àquele que busca a salvação divina:
A história da gula foi descrita muitas vezes como um pecado capital detestável, que, como a luxúria, está enraizado na corporeidade humana. Esse enraizamento, no caso da gula, parece indelével. Pode-se renunciar à sexualidade e levar uma vida casta, mas não se pode viver sem comer.
(p. 47) No entanto, à sociedade ocidental contemporânea, que já não exalta tanto assim o jejum ascético – embora ele continue a ser visto com bons olhos pela Igreja Romana – se impõe outra urgência: como aceitar que milhões passem fome, quando a produção atual de grãos, animais e derivados e hortifrutigranjeiros seria suficiente para garantir a segurança alimentar de uma dieta de 2000 calorias diárias a todos os seres humanos do globo terrestre? Para Rossi, as grandes fomes europeias da Idade Média ou mesmo do século XX tiveram motivações diversas, contudo expõem igualmente a vulnerabilidade da vida: a morte por inanição já dizimou exércitos como o de Napoleão na frente russa, prisioneiros de campos de concentração na Polônia ocupada pelos nazistas, mas hoje ela atinge principalmente as nações periféricas e mais pobres da África e da Ásia. E essa indiferença dos países ricos em resolver esta questão incomoda a Rossi de maneira contundente:
Destes horríveis e inaceitáveis massacres, em geral, permanece apenas uma lembrança que nos incomoda, e continuamos a viver (com uma espécie de remorso oculto, mas tolerável) […]. (p. 55) Se a fome “acompanha toda a história humana, desde a mais remota antiguidade até o presente” (p. 57), fica claro que no século XX e mesmo hoje essas situações de falta de alimentos, especialmente para as populações mais pobres, “foram muitas vezes provocadas por escolhas políticas erradas ou equivocadas” (p. 66).
Por outro lado, a recusa pela ingestão de alimentos pode também ter um caráter político, de protesto, como último recurso para se conseguir que uma reivindicação considerada justa seja atendida. A greve de fome como instrumento político já era utilizada, segundo Rossi, na antiga Índia e na Irlanda da Idade Média. Contudo, foi somente no século XX que, no Ocidente, ela se tornou uma tática comum de ação reivindicatória. Talvez a figura pública mais conhecida que a praticou diversas vezes, numa perspectiva mundial, tenha sido Mahatma Gandhi. Em síntese, fica claro que a greve de fome é sempre um ato extremo e que, muitas vezes, pode ter um desfecho fatal e não atingir seus propósitos quanto ao objetivo que a motivou.
Tem-se já como certo que um dos maiores estupores causados pelo advento do Novo Mundo no imaginário europeu do final do século XV foi a notícia de que os gentios selvagens recém contatados pelos navegadores praticavam o maior dos interditos já imaginados pelo homem, presente na mitologia grega e também na de diversos outros povos do Oriente e do continente africano: o canibalismo. No décimo capítulo de seu livro Rossi se dedica a buscar a compreensão dos arquétipos atávicos relacionados a tal prática, não sem antes destacar como a visão construída sobre o tema entre os povos europeus da Idade Moderna causava discussões profundas, de cunho não apenas religioso, mas também filosófico e ético:
[Montaigne, em seus ‘Ensaios’, de 1580,] faz referência a tribos do Brasil: para julgar os povos não europeus não é possível nem lícito adotar o ponto de vista europeu e cristão. A humanidade se expressa em uma variedade infinita de formas e ‘cada qual denomina barbárie aquilo que não faz parte de seus costumes’. (p. 77) Mais ainda, Rossi destaca o fato de que comer nacos de um defunto não era mais ou menos selvagem do que jogar concidadãos aos cães raivosos por motivos de fé, como ocorrera à época de Montaigne e que o próprio filósofo condenara, em meio às guerras religiosas que sacudiram a França sob os Valois.
As referências ao canibalismo, embora hoje pareçam inusitadas, são frequentes na cultura europeia desde há muito tempo: vão dos arquétipos psicanalíticos de Freud em Totem e Tabu, de 1912/1913; já marcavam presença no teatro de Shakespeare, como em A Tempestade, ou nos romances do irlandês Jonathan Swift no século XVIII. Mesmo de forma figurada, o ato de devorar seu semelhante, aniquilá-lo e sorver a sua essência, mantém sua força. Rossi destaca como exemplo desta força o Manifesto Antropofágico dos modernistas brasileiros, pleno de metáforas, no qual a redenção possível ao colonizado americano é aquela representada pelo ato de devorar a civilização europeia.
Mas Rossi vai além disso, ao tratar do – talvez – maior interdito que a civilização ocidental pode ter para si. Na verdade ele mostra diversos eventos, desde a Idade Média, onde os europeus, como que tomados por um frenesi catártico, praticaram o canibalismo, em praça pública ou em pocilgas infectas. Isso só para nos mostrar o quão pouco nós, ocidentais, sabemos pouco de nossa própria História sobre o tema.
Seguindo sua jornada pelo ato de alimentar-se, Rossi leva o leitor àquele mundo fantasioso dos vampiros, bruxas e feiticeiros. Tendo os bebedores de sangue como mote, ele descortina no 11º capítulo de seu livro a enorme constelação de crenças sobrenaturais que povoaram o imaginário europeu a partir da Idade Moderna e que incluíam a possibilidade de hábitos alimentares dos mais vis e ignominiáveis:
Acreditar na bruxaria, por exemplo, significava acreditar, em parte ou na totalidade, nas seguintes coisas: seres humanos que voam, que se acasalam durante a noite com o diabo, que se transformam em animais (geralmente gatos ou lobos), que causam doenças, tempestade, fome. (p. 92) Mais do que crer na bruxaria, acreditava-se que determinados indivíduos arrebatados pelas forças do mal, involuntária ou conscientemente, eram capazes de tanto praticar atos de canibalismo, como os licantropos, quanto de sobreviver alimentando-se apenas de sangue humano. A crença ferrenha de que realmente existiam vampiros povoou prodigamente os contos populares, a literatura das culturas hegemônicas e o imaginário do senso comum por toda a Europa. Basta lembrar-se da estúpida crueldade de alguns governantes que, com seus atos vis, levaram à criação de mitos e histórias dantescas influenciadas por personagens como Vlad Tepes, na Transilvânia, atual Eslováquia, que tinha o hábito de empalar vivos seus inimigos e inspirou a figura do Conde Drácula, ou da condessa Erzsébet Báthory, que viveu em antigos territórios do reino da Hungria, personagem real e de temperamento psicótico, que instada por crenças mágicas se tornou a primeira serial killer registrada nos tribunais do mundo moderno ao ser condenada por assassinar mais de 600 jovens entre 1585 e 1610, acreditando que ao beber o sangue dessas donzelas teria garantida a juventude eterna. Sua história, que ela mesma registrou num diário que serviu de prova material em seu julgamento, também inspirou, assim como Tepes, romances românticos sobre vampirismo no século XIX. Como lembra Rossi:
Desde os tempos antigos, nos mitos e rituais que envolvem o sangue está presente tanto a ideia de que existem pessoas que se alimentam de sangue humano, como a ideia de que uma oferta de sangue pode purificar uma pessoa ou uma comunidade e contribuir para a sua salvação. (p. 93) Inegavelmente, a estirpe dos bebedores de sangue sobrenaturais existe apenas no campo fictício. No entanto, se trata de um arquétipo de tanto apelo e força imagética que continua, até hoje, a fornecer personagens para os romances – atualmente pensados predominantemente para o público juvenil – e toda a indústria cultural que lhes segue, como os seriados de TV, blockbusters do cinema, histórias em quadrinhos e games eletrônicos.
Mas Rossi segue com seu ensaio nos apresentando, no capítulo seguinte e com certo desencanto, a grande obsessão que a comida se tornou para a sociedade ocidental contemporânea. Praticamente todas as áreas do conhecimento humano têm algo a dizer sobre o assunto. Fala-se sobre o que se deve ou não comer; sobre os nutrientes de cada produto alimentício; sobre possíveis contaminações químicas naquilo que se ingere; sobre animais de abate criados à base de hormônios; sobre a necessidade de se buscar hábitos e produtos alimentares saudáveis e naturais, cultivados/ criados de forma orgânica, como forma de garantir a longevidade e a qualidade de vida; sobre veganismo; sobre intolerâncias e restrições alimentares adquiridas ou impostas por questões terapêuticas… Tudo envolvendo a comida se tornou digno de nota na contemporaneidade, inundando a mídia e o cotidiano ocidental com relatórios, documentários, programas de TV, livros, revistas e, é claro, trabalhos acadêmicos:
O tema foi discutido por tuttologos [ – pessoas “especialistas” em tudo, neologismo irônico de Rossi – ], filósofos (os dois grupos tendem a se unir), jornalistas, sindicalistas, aspirantes a políticos, políticos, cronistas e publicitários, teólogos, médicos, defensores da medicina alternativa e da antiglobalização, romancistas e amadores. (p. 101) Num tom que flerta com o sarcasmo, o historiador italiano vai mostrando a pseudo-sofisticação presente na descrição de pratos, vinhos e produtos como o azeite, nas mais diversas mídias, como sites especializados, catálogos de venda ou mesmo num singelo cardápio de qualquer pequeno restaurante hipster. Incomoda a Rossi a onisciência arrogante dos chefs televisivos, a profusão de outdoors com temas alimentares e também a invasão de maîtres e connaisseurs na privacidade dos comensais, com suas entediantes explicações sobre a essência daquilo que, em última instância, nos serve apenas como combustível, mesmo que esperemos ou suponhamos algum prazer ao introduzi-lo em nosso organismo.
Concordando com a antropóloga italiana Alessandra Guigoni, Rossi vaticina que neste terceiro milênio em que vivemos a alimentação tende a tornar-se um dos grandes campos da Antropologia, justamente pelo fato de que em nosso planeta existe uma abundância de alimentos que, de modo estupefactamente paradoxal, parece constituir-se cada vez mais em uma obsessão. Como sinal dessa distorção, o experiente historiador destaca o surgimento de distúrbios alimentares como a ortorexia, uma preocupação patológica por alimentos saudáveis, em que os indivíduos passam a guiar suas vidas pela busca de uma inalcançável perfeição alimentar.
Por outro lado, Rossi também apresenta um tipo de atitude para com a comida que pode, à primeira vista, parecer positiva e salutar mas que, em seu entendimento, trata-se de algo tão propenso à distorção quanto a seu inverso: a crescente e ferrenha tendência de valorização de produtos e hábitos regionais em contraposição à globalização padronizante de sabores e paladares, resultado da lógica do capital e da busca insana por lucros também pelos grandes conglomerados alimentares, que podem ir da rede de fast food à agroindústria. Para ele, instalou-se na sociedade contemporânea um mal estar muito próximo àquele preconizado por Freud na primeira metade do século XX, embora de características diametralmente opostas:
enquanto o psicanalista vienense atribuía tal sensação à renúncia “civilizada” à satisfação dos instintos, hoje ela estaria ligada a um imperativo do gozo, calcado nas necessidades impostas pelo consumismo exacerbado estimulado pelo mercado.
Em meio a este mal estar pós-moderno, nossa sociedade se afunda em paradoxos alimentares, com uma multidão de obesos se contrapondo a um número praticamente equivalente de famintos, num mundo que há muito já produz muito mais além do que o suficiente para que o estigma da fome não existisse mais sobre a face da terra. A questão, nesse caso, extrapola os limites médicos ou nutricionais e se expande até o campo político-ideológico: que mundo desejamos deixar a nossos descendentes? Um onde exista uma insípida padronização de sabores e hábitos alimentares, fonte de altíssimos lucros para os grandes conglomerados multinacionais, movidos pelo apetite sem limites do capitalismo voraz? Ou num mundo onde sejamos conscientes de nosso consumo e privilegiemos o mercado local, os produtores familiares e a sustentabilidade? Rossi demonstra como essa questão, apesar de suscitar debates acalorados no mundo contemporâneo, ainda está muito longe de ser resolvida. Trata-se, sobretudo, de uma questão filosófica com profundos desdobramentos no mundo das coisas práticas e que, quando pende para o lado da exaltação de uma vida “natural” ou “primitiva”, organizada em moldes ancestrais, é vista por Paolo Rossi como algo ilusório, inalcançável e até risível. Talvez a idade avançada tenha feito o historiador italiano perder a esperança pelo advento de uma sociedade mais justa, e me pergunto mesmo se ele não estaria realmente correto em seu modo de ver a atual cena mundial.
Essa ideia da volta à natureza e a uma idílica ancestralidade, aliás, motiva outro importante questionamento no capítulo XV de Comer. Trata-se de nos indagarmos se realmente houve, ao longo da História, algum momento em que a comida ingerida pelas mais diversas classes sociais tenha sido realmente genuína, isto é:
que não estivesse sofrendo adulterações intencionais, motivadas pela sanha pelo lucro fácil ou pela escassez de alternativas de melhor qualidade para compor um cardápio nutritivo, saudável e saboroso. Essa falta de genuidade poderia ser causada tanto pela trapaça de um moleiro ou comerciante que alterasse a composição da farinha que vendia, acrescentando-lhe impurezas e outros grãos mais baratos para aumentar seu volume e peso, assim como pela introdução na dieta cotidiana de animais, insetos e plantas que, não houvesse a escassez causada por guerras ou intempéries, jamais teria ocorrido.
Iguarias como as trufas, por exemplo, fungos subterrâneos comestíveis que os europeus começaram a consumir há mais de 3 mil anos em momentos de penúria alimentar, devido a seu alto grau proteico e sabor soberbamente agradável, eram algo que apenas cães de caça, javalis e porcos selvagens se interessavam em degustar na mais remota Antiguidade. Mas as coisas mudaram muito e hoje apenas um quilograma da raríssima trufa branca da região de Alba, no Piemonte italiano, pode alcançar estratosféricos € 10 mil se não se tratar de uma peça única, pois essas, mais raras ainda, quando porventura são encontradas, verdadeiras gigantes de 750g ou mais, já ocorreu de serem leiloadas por mais de € 100 mil no mercado da alta gastronomia europeia.
Peculiaridades à parte, estranhezas deixadas de lado, Rossi não crê que esse interesse crescente por uma “volta aos bons tempos de outrora” tenha, realmente, algo a contribuir ou que torne a vida em si melhor. Por trás do discurso do ecologicamente correto e da sustentabilidade alimentar ele enxerga interesses tão escusos como os do agronegócio transgênico ou do fast food: ali também há multinacionais interessadas em aumentar lucros, atingindo nichos de mercado cada vez mais específicos e delimitados, não nos enganemos com as aparências ou com o discurso cheio de pompa e circunstância. De forma irônica, o experiente intelectual italiano assevera:
O mundo seria mais bonito, mais natural, mais rico e com maior biodiversidade – é este e não outro o significado de tais mensagens – se os equilíbrios não tivessem sido alterados, se a natureza ainda estivesse intacta e se o homem tivesse se mantido, como no início, apenas como uma espécie de símio, ou melhor (na sábia definição de Vico, que não era primitivista), ‘como uma besta toda espanto e ferocidade’. (p. 128) No XVI capítulo de seu livro Rossi aborda as questões ligadas ao comer em excesso e sua principal consequência, a obesidade. O texto parte de uma aproximação muito interessante com o universo da neurociência e das descobertas fisiológicas sobre o olfato e, consequentemente, o paladar. Ainda dirigindo sua crítica ácida ao universo de sommeliers e/ ou experts que entopem a atenção dos simples mortais com sua verborragia “literária” inócua sobre as qualidades de vinhos, azeites, vinagres e até mesmo água mineral11, Rossi deixa bem claro que tudo isso pouco importa para os mecanismos corpóreos e biológicos ligados à identificação do gosto e sua associação, no nível cerebral, ao prazer:
O que denominamos gosto é uma forma de sensibilidade elaborada por um sistema sensorial específico que está na origem dos sabores, tais como o doce, o salgado, o azedo e o amargo […]. As relações entre motivação, prazer dos sentidos e ingestão alimentar dão lugar a uma intrincada teia: necessidade, desejo e prazer surgem em redes neurais que se sobrepõem. (p. 134-135)
É justamente a partir desta teia intrincada citada por Rossi que surge a obesidade, individualmente. Mas o excesso de peso de grande parte da população mundial também é consequência da vida moderna, da má qualidade nutricional dos alimentos e de tantas outras vicissitudes contemporâneas. O problema é complexo e merece uma urgente e comprometida abordagem multidisciplinar, é o que fica evidente: impossível não passar a enxergar com outros olhos um naco de carne gordurosa depois de ler estas ponderações.
Daí vem o mote para o capítulo seguinte, onde o historiador italiano aborda de forma sucinta as diversas doenças relacionadas ao ato de comer. Enquanto alguns males como a gota12 eram associados àqueles que comiam bem, outros certamente afligiam aqueles que não tinham a mesma sorte e padeciam de uma debilitante carência alimentar.
Nos dois últimos capítulos de seu ensaio Rossi se debruça, de fato, sobre o comportamento ligado à alimentação que forneceu o mote primeiro para iniciarse sua escrita: a anorexia, distúrbio estudado pela psiquiatra Laura Ragione, a amiga de infância de sua filha. O círculo se fecha, mas permanece certo estupor com o fato de que jovens cultuem e troquem entre si, pela web, formas de evitar a absorção de nutrientes pelo organismo e atingir o ideal de magreza endeusado pela moda e pela grande mídia. Percebe-se que o historiador italiano não atina de completo qual o sentido de tanta insensatez. Enquanto multidões ainda fenecem pela falta de alimento mundo afora, teenagers que jamais terão a mesma privação por questões econômicas ou geopolíticas escolhem não se alimentar simplesmente por não estarem satisfeitos com o próprio corpo, por desejarem atingir um corpo ideal improvável e inalcançável, posto que é invenção pura, idealização estética, imposição midiática. Fica a indignação.
Notas
2 ROSSI, Paolo. Francis Bacon: da magia à ciência. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini.
Londrina: EDUEL; Curitiba: Editora da UFPR, 2006 [1957].
3 ROSSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da História das Ideias. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Editora da UNESP, 2007 [1991].
4 ROSSI, Paolo. O nascimento da Ciência moderna na Europa. Tradução de Antonio Agonese.
Bauru: EDUSC, 2001 [1997].
5 Observe-se, por exemplo, a profusão de obras historiográficas publicadas, não só no Brasil mas também no exterior, nos últimos anos. Ver: ADAMOLI, Vida. La bella vita: life, love and food in Southern Italy. Chichester: Summersdale Publishers, 2002; ALBALA, Ken. Food in Early Modern Europe. Stockton, EUA: Greenwood Press, 2003; BARNES, Donna R. & ROSE, Peter G. Matters of taste: food and drink in Seventeenth-Century Dutch art and life. Albany: Albany Institute of History & Art; Syracuse: Syracuse University Press, 2002; BENDINER, Kenneth. Food in painting: from the Renaissance to the present. Londres: Reaktion Books, 2004; DE JEAN, Joan. A essência do estilo: como os franceses inventaram a alta-costura, a gastronomia, os cafés chiques, o estilo, a sofisticação e o glamour. Tradução de Mônica Reis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010 [2005]; FLANDRIN, Jean-Louis & MONTANARI, Massimo (orgs.). História da alimentação. Tradução de Luciano Vieira Machado & Guilherme João de Freitas Teixeira. 6. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009 [1996]; FREEDMAN, Paul (org.). Food: the History of taste. Berkeley: University of California Press, 2007; GRIMM, Veronika E. From feasting to fasting – the evolution of a sin: attitudes to food in late Antiquity. Londres: Routledge, 1996; HELSTOSKY, Carol. Garlic & oil:politics and food in Italy. Oxford: Berg, 2004; KELLY, Ian. Carême: cozinheiro dos reis. Tradução de Marina Slade Oliveira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005 [2003]; MacDONALD, Nathan. Not bread alone: the uses of food in the Old Testament. Oxford: Oxford University Press, 2008; MARTIN, A. Lynn. Alcohol, sex, and gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Basingstoke: Palgrave, 2001; McWILIAMS, James E. A revolution in eating: how the quest for food shaped America. Nova York: Columbia University Press, 2005; MONTANARI, Massimo (org.). O mundo na cozinha: história, identidade, trocas. Tradução de Valéria Pereira da Silva. São Paulo: Editora SENAC-SP; Estação Liberdade, 2009 [2006]; __________. Comida como cultura. Tradução de Letícia Martins de Andrade. 2. ed. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2013 [2004]; PANCORBO, Luis. El banquete humano: una historia cultural del canibalismo. Madri: Siglo XXI, 2008; PARASECOLI, Fabio. Bite me: food in popular culture. Oxford: Berg, 2008; PILCHER, Jeffrey M. Food in World History. Nova York: Routledge, 2006; QUELIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. Tradução de Gian Bruno Grosso. São Paulo: Editora Senac SP, 2011; RAMOS, Anabela & CLARO, Sara. Alimentar o corpo, saciar a alma: ritmos alimentares dos monges de Tibães, século XVIII. Porto: Edições Afrontamento, 2013; SARTI, Raffaella. Casa e família: habitar, comer e vestir na Europa moderna. Tradução de Isabel Teresa Santos. Lisboa: Editorial Estampa, 2001 [1999]; SPANG, Rebecca L.A invenção do restaurante: Paris e a moderna cultura gastronômica. Tradução de Cynthia Cortes e Paulo Soares. Rio de Janeiro: Record, 2003 [2000]; STRONG, Roy. Banquete: uma história ilustrada da culinária, dos costumes e da fartura à mesa. Tradução de Sérgio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004 [2002]; TALLET, Pierre. História da cozinha faraônica: a alimentação no Antigo Egito. Tradução de Olga Cafalcchio. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2005 [2002]; THIS, Hervé & GAGNAIRE, Pierre. Cooking: the essential art. Tradução de M. B. DeBevoise. Berkeley:University of California Press, 2008; WILKINS, John M. & HILL, Shaun. Food in the Ancient World. Malden, EUA: Blackwell, 2006.
6 FREYRE, Gilberto. Açúcar: uma sociologia do doce, com receitas de bolos e doces do Nordeste do Brasil. 5. ed. revista. São Paulo: Global, 2007 [1939].
7 Exemplos do incremento do interesse de historiadores brasileiros sobre o tema não faltam. Entre as publicações mais recentes, ver: CANDIDO, Maria Regina (org.). Práticas alimentares no Mediterrâneo Antigo. Rio de Janeiro: NEA/UERJ, 2012; COUTO, Cristiana. Arte de cozinha: alimentação e dietética em Portugal e no Brasil (séculos XVII-XIX). São Paulo: Editora SENAC-SP, 2007; DÓRIA, Carlos Alberto. A formação da culinária brasileira. São Paulo: Publifolha, 2009; FERNANDES, João Azevedo. A espuma divina: sobriedade e embriaguez na Europa Antiga e Medieval. João Pessoa: Editora Universitária/ UFPB, 2010. __________. Selvagens bebedeiras: álcool, embriaguez e contatos culturais no Brasil colonial (séculos XVI-XVII). São Paulo: Alameda, 2011; HUE, Sheila Moura. Delícias do Descobrimento: a gastronomia brasileira no século XVI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009; LELLIS, Francisco & BOCCATO, André. Os banquetes do imperador. São Paulo: Editora SENAC-SP; Boccato, 2013; LODY, Raul (org.). Farinha de mandioca: o sabor brasileiro e as receitas da Bahia. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2013; MAGALHÃES, Sônia Maria de. A mesa de Mariana: produção e consumo de alimentos em Minas Gerais (1750- 1850). São Paulo: Annablume; FAPESP, 2004; PANEGASSI, Rubens Leonardo. O pão e o vinho da terra: alimentação e mediação cultural nas crônicas quinhentista sobre o Novo Mundo. São Paulo:Alameda, 2013; SILVA, Paula Pinto e. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil colonial. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2005; VARELLA, Alexandre C. A embriaguez na conquista da América: medicina, idolatria e vício no México e Peru, séculos XVI e XVII. São Paulo: Alameda, 2013.
8 Devo destacar que cheguei a este livro de Rossi por puro acaso, graças a meu interesse gastronômico, pois o encontrei perdido na seção de livros de receitas culinárias de uma grande livraria no Recife, certamente por desinformação ou descuido de um funcionário ou estagiário desavisado, o que não deixou de ser uma forma peculiar de descobrir um livro e tomar posse dele.
9 Desde já me desculpo por este e outros trocadilhos afeitos às preparações culinárias, mas confesso que me foi inteiramente irresistível usá-los nesta resenha.
10 RAGIONE, Laura Dalla. La casa delle bambine che non mangiano: identità e nuovi disturbi del comportamento alimentare. Apresentação de Massimo Cuzzolaro. Prefácio de Paolo Rossi. Roma:Il Pensiero Scientifico Editore, 2005.
11 Apenas alguns dos epítetos utilizados por estes especialistas, enumerados de forma bem sarcástica por Rossi: “[…] aéreo, côncavo, convexo, curto, extrativo, denso, feminino, denso, fugaz, espesso, impreciso, tênue, longo, fino, maciço, mastigável, macio, suave, mudo, olivoso, passado, perturbado, salgado, grave, apagado, esvaecido, tenso, louco, vibrante, volátil, envolvente…” (p. 133).
Carla Mary S. Oliveira – Historiadora. Doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Realizou estágio pósdoutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais em 2009, com o financiamento de uma bolsa Capes/ PROCAD-NF. Professora Associada do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba. Sítio eletrônico: <http://www.carlamaryoliveira.pro.br/>. E-Mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Guerras santas: como quatro patriarcas, três rainhas e dois imperadores decidiram em que os cristãos acreditariam pelos próximos mil e quinhentos anos – JENKINS (S-RH)
JENKINS, Philip. Guerras santas: como quatro patriarcas, três rainhas e dois imperadores decidiram em que os cristãos acreditariam pelos próximos mil e quinhentos anos. Tradução de Carlos Szlak. Rio de Janeiro: LeYa, 2013, 352 p. Resenha de: CRUZ, Alfredo Bronzato da Costa. Cinzas que queimam. sÆculum – Revista de História, João Pessoa, v.30, jan./jun. 2014.
Philip Jenkins nasceu no País de Gales em 1952 e estudou no Clare College da Universidade de Cambridge, onde se formou como historiador especialista em estudos anglo-saxões, nórdicos e célticos. Ele realizou seu doutorado nesta mesma instituição, sob a orientação de John Plumb, pesquisador da história social das elites políticas inglesas do fim do século XVII e início do século XVIII. No período de 1977 a 1980, Jenkins trabalhou como auxiliar de pesquisa de Leon Radzionowicz, que foi o pioneiro dos estudos de Criminologia em Cambridge. Em 1980, foi admitido como Professor Assistente de Direito Penal na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos EUA, e durante algum tempo dedicou-se aos estudos da história sociopolítica deste país. No avançar da década de 1980, contudo, seus interesses de investigação inclinaram-se cada vez mais para os estudos sobre a trajetória histórica do cristianismo. Jenkins tornou-se Professor (1993) e Catedrático (1997) de História e Estudos da Religião na mesma Universidade Estadual da Pensilvânia, e começou a produzir uma série de trabalhos nesta área.
Em 2002, Jenkins envolveu-se pessoalmente no campo da controvérsia religiosa quando anunciou sua conversão à Igreja Episcopal desde o catolicismo, e proferiu uma crítica aberta ao celibato normativo do clero católico romano.
Em 2007, ele tornou-se Livre Docente do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Pensilvânia, e recebeu em 2011 a Emerência desta mesma instituição. Atualmente Jenkins é Professor do Departamento de História e Codiretor do Programa de Estudos Históricos da Religião do Instituto para Estudos da Religião da Universidade de Baylor – uma instituição confessional de ensino e pesquisa vinculada à Igreja Batista, que, estabelecida em 1845, foi a primeira universidade norte-americana fundada a oeste do Rio Mississipi e a mais antiga em funcionamento contínuo no Estado do Texas. Também é um dos editores do The American Conservative, escreve uma coluna mensal para o The Christian Century e artigos regulares para pelo menos outros três periódicos de grande público nos EUA.
Em 2013, a Editora LeYa publicou, sob o título de Guerras Santas, a tradução de Carlos Szlak para o Jesus Wars, dado a público por Jenkins três anos antes.
A transcrição de um comentário feito em Christianity Today sobre o Jesus Wars na orelha da capa frontal da edição brasileira pode ser bastante instrutiva para esclarecer a questão de porque uma empresa com tal perfil e público alvo investiu na publicação deste volume: “[…] Você gosta de contos incríveis de intrigas religiosas, cheios de conspirações, casos bizantinos, assassinatos e confusão? Ou prefere um relato acurado, sólido e informativo sobre o surgimento do cristianismo ortodoxo? Se a sua resposta foi ‘sim’ para ambas as perguntas, este livro é para você”. De um ponto de vista do mercado editorial, portanto, parece que o Guerras santas foi recebido como uma espécie de Código da Vinci baseado em fatos reais, ou como um guia politicamente incorreto da antiguidade cristã. O texto de Jenkins de fato, se presta parcialmente a isto: o modelo narrativo de sua prosa empolgante parece ter sido o irônico Declínio e queda do Império Romano de Edward Gibbon, citado já na introdução do volume, autor que, com Voltaire e Hume, é um dos pais de toda discussão politicamente incorreta travada no mundo contemporâneo a respeito dos primeiros séculos de existência do movimento cristão. Tal apropriação, contudo, tende a diminuir, ou mesmo ofuscar, a relevância deste volume para uma área tão carente de bons trabalhos entre nós como é a dos estudos sobre o cristianismo de tradição não ocidental.
De um modo geral, Jesus War é um desenvolvimento lógico do interesse de Jenkins pelas mudanças que marcaram o mundo cristão no século XX. Em trabalhos anteriores, este autor tratou da emergência de um cristianismo latinoamericano, asiático e africano que contrasta tanto com as formas majoritárias de cristianismo existentes há um século atrás que é como se estivéssemos lidando com uma religião completamente nova. Jenkins argumenta, entretanto, que o cristianismo que floresce nestas regiões que são periferias do sistema sociopolítico e econômico global não só não é uma adesão ingênua a uma ideologia imperialista, imposta de cima para baixo, mas está bastante próximo do horizonte mental do mundo bíblico e das antigas igrejas cristãs que outrora prosperaram (com exceção da América Latina) nestas mesmas regiões. O cristianismo não é um enxerto exótico na África e na Ásia, como parecem assumir tanto o senso comum ocidental quanto o islamismo militante, mas, no século XX, com a expansão missionária, começou a fazer um certo caminho de volta para casa.
Em termos culturais e demográficos, a compreensão de que a Europa é desde sempre e por excelência a terra dos cristãos é um equívoco politicamente orientado, já que mesmo no auge da civilização cristã medieval possivelmente havia mais fiéis cristãos no continente asiático do que no mundo europeu, e ainda subsistiam comunidades cristãs populosas no continente africano, grupos que foram simplesmente esquecidos pelos analistas ocidentais. Tal equívoco ocasiona tanto uma miopia na descrição da trajetória histórica do cristianismo quanto uma exasperação indevida nas análises de sua atual conjuntura. O avanço simultâneo do islamismo e do secularismo anticristão na Europa ocidental não significa um recuo geral do movimento cristão; não apenas porque ele continua em processo de expansão e reinvenção em outras regiões do globo, mas porque ele nunca foi exatamente coextensivo ao mundo europeu, mas sempre algo maior e diverso dele.
De fato, não parece adequada a ênfase na suposta natureza euroamericana do cristianismo quanto se procura ver este movimento no contexto mais amplo de sua de sua história bimilenar. A forma particular de cristianismo com que o ocidente se acostumou no último meio milênio, e que a maior parte dos interessados ocidentais e ocidentalizados, cristãos ou anticristãos, passou a considerar como o estado natural deste movimento religioso é um desenvolvimento relativamente acidental.
Durante a maior parte de sua história, o cristianismo foi uma religião tricontinental, com forte presença na Ásia, na África e na Europa – e isso foi válido para o tempo dos Carolíngios tanto quanto para as vésperas da expansão ibérica. “[…] Feitas as contas”, escreveu Jenkins, “na época da Magna Carta ou das Cruzadas, se quisermos imaginar um cristão típico, ainda deveremos pensar não num artesão francês, mas num camponês sírio ou num morador urbano da Mesopotâmia”2.
O cristianismo tornou-se predominantemente europeu nos quinhentos e poucos anos mais recentes de nossa história, não por causa de alguma afinidade óbvia entre este continente e a fé, mas pelo fato de que as igrejas europeias conseguiram escapar da pressão do Islã militante de uma forma que não foi possível às antigas igrejas apostólicas asiáticas e africanas, outrora culturalmente dinâmicas e muito numerosas. Foi pouco depois de o cristianismo africano e asiático passar a enfrentar novos e mortíferos desafios políticos, dos quais não viria a se recuperar, e de o movimento cristão entrar em colapso na China (décadas de 1360-1370) e na Núbia (década de 1450), que, “por volta de 1500, podemos ter o primeiro vislumbre doo padrão de expansão cristã que ficou conhecido nos estereótipos populares, ou seja, uma religião transportada por navios de guerra e mosquetes europeus para os nativos vulneráveis da África ou da América do Sul”3.
Fundamentando tanto a vulnerabilidade de tão vastas comunidades cristãs ao avanço de um poder político religiosamente diverso, quanto o afastamento e o esquecimento destas pelos ocidentais, encontra-se uma querela teológica que eclodiu com especial violência em meados do século V. Neste período, o mundo cristão se partiu em três blocos que definiam de diferentes formas a natureza de Jesus Cristo, selando com a divergência religiosa as poderosas forças centrífugas da disputa política e da diferença cultural. Os cristianismos asiático, africano e europeu enveredaram por trajetórias históricas gradativamente mais distintas e distantes umas das outras, enquanto aquilo que era o centro político do ecúmeno cristão – o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla – oscilava entre uma e outra posição teológica. O que acabou por fim consagrado como a ortodoxia cristã, cunhada por oposição aos monofisitas africanos e aos nestorianos asiáticos – classificações que não são apenas nomes, mas rótulos prenhes de juízos de valor negativo, cunhados por seus inimigos no complicado combate publicitário que marcou o tabuleiro político-teológico do Mediterrâneo oriental do primeiro milênio de nossa era – foi o resultado de um processo gradativo, lento e, não raro, sangrento.
Na origem destas categorias e atuando como seu lastro, encontram-se lutas, golpes e guerras abertas ao longo dos séculos, confrontos cujo resultado, de forma alguma já estava dado a priori. Isto bem considerado se pode imaginar um desenvolvimento histórico alternativo, no qual os agora chamados ortodoxos tivessem sido desdenhados como heréticos; um universo contrafatual em que o cisma entre Roma e o Oriente ocorreu no século V, e não no século XI, nunca se recuperando o papado da sujeição a sucessivas ondas de ocupantes bárbaros, e em que um Império Romano Monofisita, fundado num âmbito oriental unido fielmente, que se estendia do Egito ao Cáucaso, da Síria aos Balcãs, teria lutado com unhas e dentes contra os recém-chegados muçulmanos e, de modo concebível, mantido as fronteiras do tempo de Justiniano. Nesta realidade paralela, os estudiosos posteriores do cristianismo se dedicariam a estudar preferencialmente o grego, o copta e o siríaco, e apenas os pesquisadores mais ousados, dispostos a investigar uma língua marginal de alfabeto enigmático, se lembrariam de figuras como Agostinho de Hipona, Patrício da Irlanda e Leão de Roma4.
Jenkins argumenta que o fato de que outros caminhos, de incomensuráveis consequências, poderiam ter sido facilmente tomados pelo cristianismo dá boas razões para que se eleja o meado do século V como o período mais formativo de toda a história do movimento cristão. Outros autores têm enfatizado o período imediatamente circunvizinho ao Concílio de Niceia como este ponto de cristalização, de mudança fundamental entre as definições e práticas do cristianismo primitivo e medieval, mas eles não têm considerado de forma adequada como a luta para definir as crenças básicas do movimento cristão se arrastou para além dos primeiros séculos de sua existência e assumiu formas institucionalizadas bastante coerentes.
Alguns ainda têm retratado a história da Igreja como um movimento firme rumo a uma clarificação crescente da fé em sentido ortodoxo, seja para elogiá-lo (o desenvolvimento do dogma faz a Igreja ser mais consciente e mais fiel ao que já acreditava desde o princípio) ou para criticá-lo (o movimento espiritualmente igualitário de Jesus atrofiou-se até dar origem à estrutura burocrática e repressiva do cristianismo bizantino e medieval). Dada a evidente origem teológica destas posições, elas devem ser postas entre parênteses pelo historiador, que tem o dever de chamar a atenção para o quanto, em diversos momentos, a própria definição do que é a fé cristã poderia ter sido radicalmente modificada. As lutas do século V a respeito do significado da ortodoxia cristã deram-se no quadro de uma guerra de domínio entre as Sés de Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma, e essa disputa teve como claras vencedoras as duas últimos, enquanto as duas primeiras tiveram de se haver com os crescentes problemas políticos associados à perda global de prestígio no âmbito do cristianismo mediterrânico. O fato destas se encontrarem desde cedo em território muçulmano, e hoje manterem minorias cristãs fisicamente ameaçadas de extinção em meio a populações majoritariamente islâmicas em número e tradição, é significativo para apreendermos o quanto todas as cartas foram postas na mesa no conflito do século V, e quais foram as consequências deste para o cristianismo ter vindo a adquirir o seu desenho atual.
Tudo isto posto, o objetivo de Guerras Santas é reconstituir a disputa política e teológica entre as diversas facções cristãs do século V, extraindo-lhe as consequências históricas e os aportes que este enredo pode ter para se compreender a atual conjuntura do cristianismo como religião mundial. Na introdução do volume (Quem vocês dizem que Eu Sou?), Jenkins levanta a questão básica, de origem bíblica, que levou às disputas cristológicas do primeiro milênio, ressaltando que as Escrituras Sagradas dos cristãos não são nada claras a respeito de um assunto tão hermético quanto a discussão sobre a natureza de Jesus Cristo, e que pelos padrões rigorosos dos primeiros concílios eclesiásticos, a maioria dos não especialistas modernos – incluindo numerosos clérigos – não saberiam explicar a fé que professam, ou seriam condenados como professando algum tipo de heresia. A compreensão da maioria das igrejas atualmente subsistentes sobre a identidade de Cristo é que ele é simultaneamente Deus e homem, sem divisão e sem separação, compreensão fundada nas posições tornadas canônicas pelo Concílio de Calcedônia (451). A resposta dada por esta assembleia de eclesiásticos a tal questão, contudo, não era a única solução possível – nem a solução obvia, ou, talvez, a mais lógica. As disputas que acompanharam esta definição e a tentativa dos imperadores ortodoxos de impô-la às antigas e recalcitrantes igrejas africanas e asiáticas enfraqueceram e dividiram a Igreja e o Império, e, no longo prazo, levaram diretamente ao colapso do poder romano no Mediterrâneo oriental, à ascensão política do islamismo e ao eclipse do cristianismo no mundo não europeu. Para Jenkins, de fato, o conflito a respeito de qual seria a definição hegemônica a respeito da natureza de Jesus Cristo resolveu-se por uma questão objetiva: as igrejas que aceitaram a definição calcedônica livraram-se da pressão islâmica por um milênio pelo acaso geográfico e sucesso militar, e tornaram-se certas basicamente porque sobreviveram mais viçosas e tiveram a oportunidade de contar a história cristã a seu próprio modo.
No primeiro capítulo (O xis da questão), Jenkins parte do violento caso do assassinato do Patriarca Flaviano de Constantinopla para cartografar algumas das semelhanças e diferenças existentes entre o universo sociocultural do mundo dos primeiros concílios que definiram a fé cristã e o nosso. Se ainda na década de 1980 a imagem de um Jesus casado e com uma família presente no filme A última tentação de Cristo incitou clamores mundiais de blasfêmia, a questão sobre quem era Jesus Cristo suscitava ainda maiores paixões nos séculos IV a VI. De um modo geral, as diversas respostas a esta questão se dispunham no espectro de duas tendências conflitantes. De um lado, havia aquelas “forças muito poderosas que atraíam Cristo na direção de Deus e do céu”, imaginando-o como “um juiz celestial temível ou um soberano cósmico, o pantokrator (…) que lançava um olhar furioso da cúpula de uma basílica imensa, e cujo status humano era difícil de aceitar”. Do outro, aqueles que “lutaram para preservar a face humana de Jesus, estabelecendo-o firmemente em solo terreno e na sociedade”, “uma figura que compartilha nossa experiência e pode ouvir nossas preces”, “que sofreu agonia física, que conheceu a dúvida e a tentação, que foi o irmão e o modelo dos homens em sofrimento”5.
Durante a história bimilenar do movimento cristão, estas tendências estiveram em interação, na maior parte das vezes conflituosa, mas em nenhum momento o debate foi tão aceso e visceral do que durante o século V. Então, por algumas décadas, pareceu que o consenso dos fiéis abandonaria a crença na natureza humana de Cristo, passando em definitivo a descrevê-lo apenas como um ser divino – o que, afinal, oficialmente não ocorreu. Subjacentes a estes intrincados debates teológicos agitavam-se as rivalidades profundas entre os grandes núcleos eclesiásticos do cristianismo do primeiro milênio: Antioquia enfatizava a natureza humana de Cristo; Alexandria combatia de forma veemente toda fórmula teológica que separasse o elemento humano do divino em Jesus Cristo; e Constantinopla, sede do Império Romano Cristão, servia como campo de batalha para as facções destes elementos poderosos, do Primeiro Concílio de Éfeso ao Concílio de Calcedônia (ou seja, de 431-451), cristalizou-se o ensinamento de que nenhuma declaração a respeito de Jesus Cristo poderia omitir os aspectos divino ou humano de sua pessoa. Esta posição, que encontrou oposição ferrenha em três quartos dos antigos centros da fé cristã, estabelecendo-se firmemente nas igrejas reunidas em torno das sés de Constantinopla e de Roma, veio a ser a base da teologia cristã ocidental, hoje hegemônica.
Jenkins observa que a batalha a respeito das naturezas de Jesus Cristo colocou em choque visões de mundo muito diferentes, surgidas de ênfases interpretativas diversas aplicadas a um mesmo substrato bíblico. Estavam em jogo noções acerca do significado do nascimento e da morte de Cristo, do papel de sua mãe, da bondade ou maldade relativa da materialidade e da visualidade, do papel do ser humano na redenção do mundo, e da atuação política das comunidades cristãs. O autor ressalta que, neste debate, punham-se de forma dramática os recorrentes – na verdade, estruturais – dilemas do conflito e da cooperação interdenominacional, dilemas que remontam, literalmente, à fundação do movimento cristão, e que o seu desenrolar revela muito acerca de como o cristianismo se desenvolveu ao longo do tempo, de como “a Igreja engendra sua própria mente humana”6. Ele pondera que, se, para o público moderno, “acostumado a séculos de diversidade e tolerância religiosa”, o investimento de criar e manter a todo custo um consenso teológico parece desnecessário para quaisquer indivíduos mentalmente saudáveis – pois “parece óbvio que, quando lados opostos estão completamente apartados, devem concordar com uma separação amigável” – para os diversos partidos cristãos da Antiguidade Tardia, contudo, “essa opção não estava disponível, e não porque os cristãos de então eram, em algum sentido moralmente inferiores em relação aos seus descendentes”. O caso é que o pensamento cristão – fosse católico, monofisita ou nestoriano – não podia então prescindir do conceito da Igreja como corpo unificado de Cristo concretizado em uma unidade institucional. “Se o corpo não era unido, então era deformado, mutilado e imperfeito, e esses termos, sem dúvida, não podiam ser aplicados ao corpo de Cristo”7. A necessidade psicológica, pastoral e – a partir do século IV – política de estabelecer uma unidade institucional marcada pela conformidade teológica diante uma grande diversidade de formas de se compreender, celebrar e viver a fé cristã, somada ao fato de que nenhum indivíduo ou grupo tinha real autoridade para impor sua versão do cristianismo aos demais de maneira simples e direta, de que os debates teológicos tornaram-se rapidamente questões de Estado para as autoridades romanas, e de que havia a convicção de que os conflitos deveriam ser solucionados por declarações gerais de todo o corpo eclesial na forma de concílios, fez abrir uma verdadeira Caixa de Pandora.
“Ao estudar os concílios eclesiásticos daquela era”, registra Jenkins, “certos temas vêm à mente, incluindo a caridade cristã, a contenção, a decência humana comum, a disposição de perdoar ofensas antigas, de dar a outra face. Nenhum deles se apresentou em qualquer um dos debates principais. Em vez disso, os concílios foram marcados por xingamentos e traições (tanto figurativas quanto literais), por conspirações implacáveis e intrigas secretas, e por ameaças generalizadas de intimidação”. Para este autor, de fato, os concílios, palcos de ardentes embates intelectuais, atravessados por rivalidades e redes de influência que ligavam as diferentes sedes eclesiásticas não apenas à sala do trono dos herdeiros dos Césares, mas também aos aposentos das imperatrizes e princesas, aos quartéis das legiões e aos covis das torcidas do grande hipódromo constantinopolitano, raramente se assemelhavam a reuniões de santos empenhados em definir a fé. O debate teológico era atravessado por questões que hoje consideraríamos como absolutamente extrínsecas ao campo religioso, mas se deve ter em mente que a forma específica assumida pela disputa política era, então, de ordem teológica. Daí o fato de todas as grandes controvérsias cristológicas terem implicado em sérias consequências políticas; tratava-se tanto de batalhas a respeito do futuro do Império, como um todo e em cada uma de suas partes, quanto de tentativas de estabelecer definições inequívocas da verdade eterna8.
Deve-se considerar, mais ainda que, enquanto os bispos debatiam questões teológicas em meio a ícones dourados e nuvens de incenso, as decisões tomadas nestas assembleias tinham um real impacto real nas vidas das pessoas comuns, convencidas como estas estavam de que o núcleo essencial da crença cristã estava em risco. Jenkins faz uma análise bastante sensível de como as sutilezas teológicas angustiavam as pessoas dos campos, vilas e cidades, até o ponto de elas se disporem a espancar, torturar ou assassinar seus vizinhos por uma palavra ou expressão proferida de maneira reconhecida como incorreta. Em primeiro lugar, o autor destaca que não faz sentido distinguir as motivações religiosas das não religiosas em tais explosões de violência popular. Isso seria violentar a sua especificidade histórica com um anacronismo inoportuno, atribuindo-lhe um fanatismo ou cinismo que só são possíveis a partir de uma situação em que se pode distinguir, de forma mais ou menos clara, uma esfera temporal de uma esfera espiritual; e tal distinção é um fenômeno relativamente recente e, em larga medida, restrita ao ocidente moderno. Em segundo, a maioria das pessoas da Antiguidade Tardia, ignorantes e letradas, parece ter acreditado firmemente em visões de mundo providencialistas, dentro das quais as práticas religiosas e as formulações teológicas possuem implicações sociais e cosmológicas – a dissidência e a heresia enraiveceriam a Deus, maculando a realidade, propiciando males como distúrbios civis, perda das colheitas, terremotos, invasões de bárbaros, golpes de estado, peste, infertilidade na família imperial, sinais nos céus, entre muitos outros.
Era o senso comum que “[…] A menos que os malfeitores ou crentes equivocados fossem suprimidos, a sociedade poderia perecer por completo”9. Em terceiro, a violência pôde ocorrer porque o Estado não tinha nem a vontade, nem a capacidade de reprimir o uso da força por grupos privados muito motivados; menos porque as instituições públicas estavam em situação de fraqueza extrema ou à beira de um colapso, e mais porque as autoridades constituídas decidiram favorecer e se aliar a alguns destes grupos contra outros, que consideravam danosos. Em quarto, entrava em jogo o fundamental conceito de honra, o grande “elemento subestimado do conflito religioso, e não só no cristianismo”; honra que clérigos, monges e simples fiéis transferiram de seus círculos familiares e das relações de clientelismo tão características das sociedades mediterrânicas para suas circunscrições e facções eclesiásticas, e que, em certas circunstâncias, precisava ser defendida pela força; honra que deveria ser protegida a todo custo de desafios reais e imaginários, além de reforçada pela consequente humilhação dos rivais. Para Jenkins, tudo isto precisa ser levado em consideração, pois, de fato, “[…] Quase não conseguimos compreender a malignidade espantosa que marcou a longa batalha entre as grandes Igrejas de Antioquia e Alexandria, a menos se entendermos que estamos lidando nesse caso com uma disputa sanguinária literal, que se estendeu por um século ou mais”10.
Findo o primeiro capítulo do livro, que é dos seus mais interessantes, começa a primeira parte do volume (Deus e César), onde Jenkins monta o cenário e apresenta os atores do drama que se dispôs a contar. No segundo capítulo (A guerra das duas naturezas), explora os elementos propriamente teológicos do grande conflito que precede e segue o Concílio de Calcedônia, apresentando as grandes correntes da interpretação cristológica da antiguidade cristã e demonstrando de que forma as ênfases da teologia antioquena e da teologia alexandrina tornaram-se cada vez mais divergentes. Também reconstitui como as lacunas existentes entre a alta especulação teológica e as compreensões populares do cristianismo não impediram que o debate se alastrasse pelos espaços públicos e assumisse em certos momentos a intensidade explosiva de um confronto civil, incendiado pela oratória sacra de clérigos carismáticos, pelas lealdades regionais dos contentores e por um sistema de classificação e atribuição de culpa por associação que se assemelhava a um autômato publicitário.
No terceiro capítulo (Quatro cavaleiros: os patriarcas da Igreja), descreve as trincheiras, alianças, traições, compromissos e ressentimentos que regiam as relações mútuas das mais altas instâncias de prestígio eclesiástico da antiguidade cristã – os patriarcados de Alexandria e Antioquia, de Constantinopla e de Roma (e também os ambiciosos, mas menos poderosos, bispados de Éfeso e de Jerusalém) – e como a disputa por prestígio e elementos que hoje consideraríamos ainda mais mundanos influíram, ou, melhor, foram partes constitutivas das batalhas para definir que era a ortodoxia e que era a heresia nos primeiros séculos do movimento cristão. Esses patriarcados foram governados por verdadeiras linhagens de prelados, unidos não por laços de parentesco, mas por relações de mestre e discípulo muito firmes, e eles eram ciosos daquilo que os tornava diversos de seus concorrentes eclesiásticos, “não apenas devido à sucessão apostólica, mas também à busca de autoridade real”11. Uma posição que nos parece particularmente curiosa é a do Patriarcado de Roma, pois, embora saibamos, em retrospecto, que ele seria o grande sobrevivente das guerras teológicas do primeiro milênio, a ponto de sua história – e as histórias dele derivadas – serem constituídos no teleos de toda a história do movimento cristão pela maior parte dos historiadores eclesiásticos, então, tratava-se ele de uma a natureza de Jesus, vulnerável por razões que eram a um só tempo políticas, culturais e linguísticas.
No quarto capítulo (Rainhas, generais e imperadores), expõe-se até que ponto, nos grandes debates teológicos da Antiguidade Tardia, as autoridades do império cristão, investidos de um poder que não era de forma alguma puramente secular, atuaram “como uma força no interior da Igreja, mais intensa do que a de um honesto inspetor tentando impor o jogo limpo entre as partes contentoras”12. No processo de constituição da ortodoxia cristã, intervieram não apenas o cálculo político de membros das famílias imperiais, mas suas devoções, expectativas, simpatias e ressentimentos particulares, sua abertura ou rejeição de determinado lobby eclesiástico, suas próprias ideias teológicas. Deste jogo, que não estava de forma alguma restrito às igrejas e à sala do trono, participava também um dinâmico e complexo, bizantino, universo formado pela corte, pela burocracia, pelos administradores regionais, pelos mosteiros constantinopolitanos, pelos generais e pelos senhores da guerra quase independentes que, nominalmente empenhados na defesa das fronteiras do império, naturalmente, mantinham uma agenda de interesses próprios. Aos olhos de um espectador moderno, causa algum escândalo o fato de, de forma tão ampla, as igrejas pensarem e atuarem como império e o império pensar e atuar como uma igreja, mas Jenkins recorda-nos que essas eram as regras que então eram normativas dos processos político-teológicos do ecúmeno cristão. Em função disto, da mesma forma que as intrigas cortesãs ajudaram a dar sua forma específica ao debate teológico, esse foi alçado ao nível de problema de interesse e de segurança pública. Uma nova, radical intolerância religiosa voltouse contra as minorias religiosas na medida em que penosamente se definia uma ortodoxia de Estado. Tratou-se de uma crucial mudança nas disputas dogmáticas, “em escalada rumo ao centro da questão, no sentido de que a força total do governo e da lei se voltaria contra o lado perdedor. A discussão teológica tornou-se um jogo de soma zero, com implicações de longo alcance no mundo material”13.
Na segunda parte do volume (Concílios do Caos), Jenkins narra o drama que é o cerne de seu livro, abrangendo aquele período do século V e do início do século VI no qual o conflito entre Alexandria e Antioquia chegou a um clímax especialmente violento e no qual as ideias teológicas longamente cultivadas nestas regiões cristãs assumiram formas tais que foram consideradas heréticas pelo eixo formado por Constantinopla e por Roma, ensejando uma fissura cataclísmica no seio do império romano cristão. No quinto capítulo (Não é a mãe de Deus?), trata-se da figura de Nestório, que ficou associada a episódios impressionantes da história cristã e que, ainda hoje, é lembrado por alguns fiéis como um arqui-herege e por outros como um brilhante pensador e um líder santo que sofreu uma injustiça da parte dos imperadores bizantinos. Jenkins busca apresentar uma imagem equilibrada deste personagem, reinserindo-o no contexto onde se desdobrou o drama passional de que fez parte, reiterando que, neste, ele “marcou presença como um líder ora maior e ora menor do que a lenda proclama”14. Além de Nestório, traça-se um perfil de dois de seus principais opositores – a princesa Pulquéria e o patriarca Cirilo de Alexandria – e investiga-se a importância e o funcionamento das redes de influência alexandrina e antioquena na capital imperial, dos ressentimentos eclesiásticos, das facções monásticas e da devoção popular à Virgem Maria, incidental, mas crucialmente engolfada no debate sobre a natureza de seu filho.
Findo o drama de Nestório, o capítulo sexto (A morte de Deus) trata da tragédia de Flaviano de Constantinopla, ferido de morte no Segundo Concílio de Éfeso (449), que foi um dos cumes da influência do Patriarcado de Alexandria, rejeitado pela Igreja de Roma e, posteriormente, pela de Constantinopla, como um Sínodo dos Ladrões, um Concílio que Nunca Houve, ou, mais popularmente, como o Latrocínio de Éfeso. No sinuoso caminho para esta controversa assembleia, encontram-se a ruína do limes imperial diante do assédio germânico e persa; o desaparecimento formal do Império Romano do Ocidente; a ameaça dos hunos; as ideias teológicas e os dotes de orador do monge Eutiques de Constantinopla; a influência de seu apadrinhado, o eunuco Crisáfio, que veio a se tornar uma figura importante na corte bizantina; as formulações dos teólogos de Alexandria, Antioquia e Edessa; a violenta ofensiva dos partidários da Natureza Única de Jesus Cristo contra aqueles que defendiam que Ele subsistia em Duas Naturezas; e o intolerante e intolerável zelo de Dióscoro de Alexandria. A definição de ortodoxia cristã então respaldada pela autoridade imperial, encabeçada por Teodósio II, inclinou-se para uma fórmula mais favorável à teologia egípcia; enquanto Roma, sujeita às falhas estruturais que marcavam já de mais de um século os elos de comunicação subsistentes entre os cristãos de língua grega e os de língua latina, colocava-se ainda mais à margem da principal disputa teológica do momento ao condenar abertamente as ideias de Eutiques e assumir os altos riscos de afirmar que Jesus Cristo era a um só tempo Um e Dois, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Retrospectivamente, sabemos que esta viria a ser a definição cristológica majoritária no cristianismo europeu, latino e bizantino, mas, então, tal possibilidade sequer parecia se assomar no horizonte de expectativas.
O seguimento do Segundo Concílio de Éfeso foi marcado por uma ofensiva ainda maior dos partidários da Natureza Única contra seus rivais, na Síria, na Palestina e em Edessa; por uma série de intervenções imperiais nos bispados do Mediterrâneo oriental; pela fuga de teólogos de formação antioquena rumo aos domínios do Xá da Pérsia, para além do braço daquilo que consideravam um governo herético; pela emergência de um furor inquisitorial e de um espírito de caça às bruxas, no escopo do qual todos os defeitos morais imagináveis, incluindo o conluio consciente com o Diabo, passaram a ser atribuídos aos que se considerava hereges, aos seus alunos, discípulos ou mesmo simpatizantes. Para um analista que vivesse este momento histórico, não era absurdo imaginar Roma como o último refúgio de uma minoria herética em um mundo cristão em que os monofisitas se tornaram a maioria e a ortodoxia cristã. Nesta conjuntura, o centro de poder no interior da Igreja teria se deslocado em definitivo para Alexandria, e pouco poderia ser feito para deter o estabelecimento de uma hierarquia fiel à Natureza Única nas refratárias regiões da Itália ou da Síria enquanto o imperador comandasse o território e esta facção predominasse em sua corte15.
Então, contudo, interveio o acaso, o hálito do inferno ou a providência divina: em 28 de julho de 450, Teodósio II morreu em consequência de uma queda de cavalo e, com isso, o cenário político-teológico se modificou bruscamente. No sétimo capítulo (Calcedônia), Jenkins relata como esta mudança aturdiu o mundo cristão e possibilitou que a formulação do verdadeiro Deus e verdadeiro homem suplantasse a da Natureza Única e se tornasse de modo duradouro – e, no último meio milênio de nossa história, decisivamente hegemônico – a definição cristológica formal daquilo que se reconhece a ortodoxia cristã institucionalizada. A pressão dos hunos sobre as fronteiras imperiais faz parecer incrível que, ao invés de organizar algum tipo de iniciativa militar mais consistente, o imperador Marciano, sucessor de Teodósio II, estivesse disposto a dedicar tanto tempo a uma tal reorientação da política religiosa bizantina, “mas, de fato, essa era sua prioridade”. Prioridade em parte prática, já que cidades indóceis e tumultuosas em função de querelas teológicas generalizadas “eram muito mais difíceis de defender e impossíveis de se mobilizar em termos de homens e impostos”; mas que se devia mais à “sensação de que o império só sobreviveria com a ajuda divina, por ser o reino cristão ortodoxo, e que as recentes derrotas e desastres demonstraram, fora de qualquer dúvida, que a relação divina estava sob grave estresse” e que “[…] Somente a restauração da ortodoxia poderia salvar o mundo cristão”16. Foi por essa porta estreita que a corte imperial voltou-se para as concepções cristológicas da Sé Romana, condensadas no Tomo de Leão I, e do falecido patriarca Flaviano, cujos restos mortais, antes execrados como se os de um herege, foram levados para Constantinopla e sepultados com honras de mártir – isso ao mesmo tempo em que Crisáfio encontrou uma morte violenta e Eutiques seguiu Nestório no exílio. Embora não houvesse espaço para dúvidas quanto à nova coloração religiosa da ortodoxia, a lógica e o costume demandava uma declaração oficial de crença atestada por um novo concílio. Este, inicialmente convocado para Niceia, local prenhe de simbolismo por ter sediado o primeiro dos concílios ecumênicos, foi deslocado para Calcedônia, próxima aos subúrbios de Constantinopla, devido ao temor de um ataque bárbaro ou da irrupção de hordas de monges contrários à política religiosa de Marciano – eventos que possivelmente teriam um desenrolar igualmente violento.
O Concílio teve como seus objetivos revogar as decisões do Segundo Concílio de Éfeso, revertendo seus efeitos na política eclesiástica, e rejeitar de modo decisivo as versões menos transigentes da doutrina da Natureza Única (pregada por Eutiques) e das Duas Naturezas (atribuída a Nestório). Dióscoro de Alexandria foi considerado o grande culpado pelas violências intestinas que atingiram as igrejas do Mediterrâneo oriental na década anterior, e a grande Sé egípcia foi decisivamente desprestigiada. Alguns de seus seguidores conseguiram se adequar no devido tempo à nova ordem – como o bispo Juvenal de Jerusalém que, depois de vinte anos conspirando com os alexandrinos, decidiu que não mais mantinha a teologia que havia reconhecido antes como ortodoxa e conseguiu manter o estatuto patriarcal de sua Sé. O concílio também elevou o status e os privilégios de Constantinopla, que, por ser a capital subsistente do Império Romano, foi alçada à paridade com a velha – e então materialmente arruinada – Roma. A Sé constantinopolitana foi declarada como o segundo dos patriarcados em autoridade – de jurisdição superior às igrejas mais antigas de Alexandria e Antioquia –, tribunal de recurso dos sínodos provinciais do Oriente e superiora imediata das metrópoles eclesiásticas do Ponto, da Ásia, da Trácia e daquelas dioceses que estavam entre os bárbaros – expressão ambígua, mas que anunciava glórias vindouras naquele momento em que havia um notável incremento do esforço missionário na Europa oriental e na Ásia ocidental.
Evidentemente, o Patriarcado de Roma não se dispôs a aceitar de bom grado esta diminuição relativa de sua autoridade, e uma nova linha de trincheiras, vertical, não mais horizontal, começou a ser escavada no centro do Mediterrâneo cristão.
Depois de Calcedônia, Marciano foi saudado como sendo o segundo Constantino, mas, naquele momento, a assembleia não pareceu o fim, mas um estágio de um processo. A corte imperial ainda estava dividida em suas lealdades e regiões cruciais do império estavam firmemente comprometidas com opiniões consideradas heréticas pelos padres conciliares reunidos em Calcedônia.
Protestos furiosos e verdadeiras insurreições se alastraram por todo o crescente de territórios que vai do Alto Egito à Mesopotâmia, passando por Jerusalém e pelo sul da Anatólia. Os crentes da Natureza Única ficaram muito decepcionados, pois pouquíssimo tempo antes da reunião convocada por Marciano, “tiveram todos os motivos para acreditar que dominavam absolutamente a Igreja e o império”17.
Muitos consideravam o Concílio de Calcedônia tão repugnante quanto os romanos e bizantinos passaram a considerar o Segundo Concílio de Éfeso, e no Egito e em boa parte do Oriente Próximo os termos calcedônico e nestoriano começaram a ser utilizados como sinônimos. Jenkins observa que “[…] O grau de reação pode parecer estranho quando consideramos o quão expressivamente o concílio se inspirou no pensamento de Cirilo, mas aquele era um mundo mental em que mesmo a menor concessão ao erro em questões tão essenciais era uma traição contra a substância total da verdade cristã” 18. Nesta senda, Alexandria mergulhou na desordem política e religiosa, e a história de seu patriarcado foi durante uma centena de anos uma conturbada história de deposições e insurgências, exílios e restaurações. Os habitantes de mosteiros e eremitérios comprometidos com a posição teológica da Natureza Única constituíram-se em centros de formidável resistência à autoridade bizantina, seus carismáticos pregadores, aos quais se atribuíam costumeiramente dons taumatúrgicos, encabeçando verdadeiros levantes populares contra os representantes do governo constantinopolitano. O prolongado desgaste associado a este atrito haveria de cobrar seu preço em não muito tempo.
Na terceira parte do volume (Um mundo a perder), Jenkins faz um balanço do impacto global do Concílio de Calcedônia na história do movimento cristão.
No oitavo capítulo (Como a Igreja perdeu metade do mundo), ele narra como a condução da crise teológica catalisada por Calcedônia teve um encaminhamento dramático. Dois séculos depois do fim deste Concílio as facções beligerantes de de Constantinopla buscavam de forma cada vez mais desesperada algum tipo de entendimento que reconciliasse os partidários de Calcedônia com os diversos matizes de defensores da Natureza Única e das Duas Naturezas. Na década de 630, essa necessidade era tão premente que ensejou de forma serena a violência imperial contra o Patriarcado de Roma, que não se dispunha a aceitar de maneira dócil a definição, então apoiada por Constantinopla, de que importava em Jesus Cristo menos o fato de ele possuir uma natureza ou duas do que o de Ele atuar com uma vontade única19. De meados do século V ao final do século VII, houve períodos em que a ortodoxia calcedônia reinou na corte bizantina, períodos em que os regimes toleravam os partidários da Natureza Única, e períodos em que os imperadores simpatizavam com eles e buscavam uma conciliação de maneira ativa. Mesmo depois do credo calcedônico alcançar uma vitória política formal, as mesmas questões voltavam à pauta, irrompendo em novas formas. Os cismas entre jurisdições eclesiásticas importantes tornaram-se corriqueiros, mesmo entre Roma e Constantinopla, e partes rivais chegaram a estabelecer igrejas paralelas alternativas nas mesmas regiões. As deposições e os expurgos foram incorporados à vida eclesiástica corrente, enquanto tumultos dividiam cidades e províncias por divergências teológicas20.
Ainda que as autoridades imperiais nunca admitissem a divergência formal da ortodoxia que sustentavam, no começo do século VI, o mundo cristão estava, de fato, cindido em diversas igrejas transnacionais, cada uma com suas reivindicações de verdade absoluta e, progressivamente, mais e mais afastadas em suas formas de espiritualidade, disciplina eclesiástica, teologia e liturgia. O exemplo do estabelecimento de hierarquias pró-bizantinas (melquitas) no Delta do Nilo e no Oriente Próximo, estrutura que gradativamente constituiu uma espécie de enxerto de experiências eclesiais similares àquelas diretamente dependentes de Constantinopla nessas regiões mais antigas do cristianismo, promovendo uma releitura do patrimônio religioso da antiguidade cristã à luz da ortodoxia calcedônica, é o mais conhecido no ocidente, mas não o único. Uma importante facção da Igreja do Oriente manteve sua lealdade a Nestório e a partir primeiro de Edessa, uma região fronteiriça entre os domínios romanos e os persas, e depois de Nisibis, já em território governado pelo Xá, promoveu a expansão da teologia das Duas Naturezas desde as franjas orientais do território bizantino até o sul da Península Arábica, a Ásia Central, o Tibete, a China, a Índia e o Sri Lanka. Por sua vez os partidários da Natureza Única, associados de modo indelével à experiência do cristianismo egípcio, afirmaram-se como a ortodoxia cristã na Etiópia e na Núbia e estabeleceram uma presença permanente na Palestina, na Síria, em Edessa, na Mesopotâmia e na Índia, mantendo simultaneamente focos de atividades na Anatólia e na própria Constantinopla. No Egito, a rejeição de um patriarca de Alexandria nomeado pelo imperador bizantino em 516, e a crescente identificação deste governante, supostamente herético, com as forças infernais equivaleu a uma declaração aberta de independência da Igreja local.
De acordo com Jenkins, grosso modo, o credo calcedônico sobreviveu porque desenvolveu raízes profundas em centros fundamentais e organizados do cristianismo que ascenderam em prestígio e poder político ativo na segunda metade do primeiro milênio de nossa era: a Ásia Menor e os Balcãs, territórios cada vez mais centrais do Império Romano do Oriente, e em Constantinopla, sua capital. Roma permaneceu como um sólido bastião de apoio, mas manteve-se à margem das principais ondas de confronto teológico que abalavam e cindiam o mundo cristão, a não ser naqueles períodos, relativamente curtos, nos quais esteve diretamente sob o domínio político do imperador de Constantinopla. A manutenção da ortodoxia calcedônica, entretanto, fez-se ao custo de um prolongado e profundo desgaste do domínio sobre as áreas mais orientais do império. As divisões religiosas em grande escala, concentradas em áreas fronteiriças especialmente importantes do ponto de vista da geoestratégia e da sua produção de recursos materiais e humanos, abriram enormes fissuras no tecido imperial romano. Por primeiro, vieram os persas, que então baseavam suas reivindicações de expansão na fé zoroastrista, religião oficial do império dos Xás. Seu avanço significou o brusco direcionamento da Palestina e da Síria para o oriente, o virtual colapso de largas áreas da economia bizantina, o despovoamento de cidades e campos e o decisivo afastamento de muitas igrejas desta área da cristologia calcedônica – afinal, supunha-se que Deus não permitiria que tal derrota fosse infringida a um governo que estivesse praticando sua religião da forma correta. Em seguida, vieram os árabes muçulmanos. Enquanto o Egito e o oriente bizantino se afundavam em feudos religiosos, e o conflito com os persas chegava a um fim de jogo caracterizado pela exaustão mútua, novas forças religiosas se agitavam na Península Arábica. A história da ascensão do Islã é bem conhecida, mas, de fato, é difícil de compreender se não se leva em conta o estado das divisões cristãs posteriores ao Concílio de Calcedônia. Não por acaso, o colapso das posições bizantinas diante do avanço islâmico deu-se por primeiro naquelas regiões onde o sentimento popular se inclinava mais fortemente em direção das igrejas monofisita e nestoriana. Autores destas tradições chegaram a saudar os conquistadores árabes como libertadores da opressão causada por um regime herético e, ao menos nas primeiras décadas, de domínio islâmico, eles não viram maiores razões para mudarem de opinião; de fato, os muçulmanos pouco se importavam com as divisões dos cristãos, desde que todos eles respeitassem sua autoridade, pagassem seus impostos no prazo e, de um modo geral, estivessem dispostos a colaborar com os governantes adventícios.
No entanto, observa Jenkins, o livramento dos calcedônicos veio a um preço exorbitante. Por séculos, os cristãos monofisitas e nestorianos sobreviveram e até prosperaram nas sociedades dominadas por muçulmanos, mas, protegida pela autoridade constituída de uma civilização florescente, a parcela da população que professava a fé de Maomé cresceu mais e mais. Naquelas terras nas quais o cristianismo havia se estabelecido por primeiro, as comunidades cristãs gradativamente se tornaram minorias cada vez menores, sujeitas a leis mais duras, a medidas discriminatórias e, eventualmente, a campanhas de conversão forçada. “A Alexandria cristã virou progressivamente a Alexandria muçulmana, até que o Cairo, completamente muçulmano, se apropriou da maior parte de sua glória e riqueza”21. A partir do século XIII, uma série de desastres políticos e militares combinados com mudanças econômicas e climáticas decisivas criaram um ambiente intolerável para as minorias, algumas das quais foram totalmente eliminadas. De acordo com Jenkins, portanto, foi basicamente por falta de outra opção que o futuro do cristianismo esteve, primeiro, naquelas regiões minguantes ainda sujeitas ao Império Romano, que não tinham mais necessidade de conciliar as opiniões do Egito ou da Síria, e, depois, naquelas partes da Europa ocidental que nunca desafiaram o credo calcedônico22.
O nono e último capítulo do volume (O que foi salvo), é de morfologia e, pareceme, de intenção bastante diversa dos demais. Jenkins assinala sua crença de que “o processo de estabelecer a ortodoxia [cristã] envolveu muito mais do que podemos chamar de acidente político”; lembra que “[…] A experiência cristã inclui uma grande variedade de tendências diferentes, interpretações diferentes, e a maioria acha ao menos alguma justificativa nas Escrituras Sagradas ou na tradição”; e destaca que, afinal, “não é evidente por que uma corrente triunfou sobre a outra”23.
Daí a conveniência dos cristãos serem tolerantes “a respeito da diversidade das expressões não essenciais da fé”: “[…] Visto historicamente, sabemos que outras versões poderiam ter tido sucesso, e podem conseguir isso em tempos vindouros”24.
Após esta asserção, o autor passa a considerar alguns exemplos que mostram que, depois das batalhas de Éfeso e Calcedônia, seus temas continuaram a agitar cristãos de diferentes latitudes, que sabiam pouco ou nada a respeito desses acontecimentos originais. Para ele, é algo típico da história cristã que ideias e crenças continuem a ressurgir muito tempo depois que supostamente foram derrotadas ou exterminadas – seja porque sobreviveram enquanto tradições subterrâneas, clandestinas e contra hegemônicas; porque foram redescobertas mediante a pesquisa erudita e a leitura de textos antigos; ou porque constituem respostas mais ou menos necessárias a certas variáveis encadeadas pela combinação de determinadas ênfases ao se ler a Bíblia com uma constelação particular de estímulos e de sentimentos religiosos vinculados ao cristianismo.
Mais do que apenas constatar que “[…] A história da crença cristã é a história de ressurreições sem fim” de uma série vasta, mas não infinita, de temas e dramas teológicos, Jenkins conclui seu volume argumentando que as ideias alternativas que foram vencidas eram e são partes tão estruturais da fé tanto quanto a ortodoxia ainda subsistente, de modo que sempre precisam ser envolvidas, compreendidas e confrontadas pelos cristãos. “Num mundo ideal, livre das disputas de poder da Antiguidade”, destaca o autor, “esse diálogo pode em si ser uma coisa positiva, uma maneira pela qual o pensamento cristão desenvolve sua própria compreensão.
Uma religião que não está constantemente gerando alternativas e heresias parou de pensar e alcançou apenas a paz dos cemitérios”25.
Tal leitura humanista das guerras santas da Antiguidade Tardia, que é um corretivo necessário ao novo triunfalismo cristão que tem assumido, entre nós, a perigosa faceta de um movimento intolerante e potencialmente violento, é apenas um dos méritos do livro de Jenkins. Gostaria de apontar mais três deles.
O primeiro é sua escrita ao mesmo tempo fluida e segura, que torna acessível a qualquer leitor culto um tema tão complexo, normalmente reservado de um modo hermético apenas aos mais intrépidos teólogos e especialistas em história da religião. Por infeliz acaso, o encanto do texto é prejudicado na edição brasileira por uma tradução de qualidade muito desigual e por uma revisão especialmente mal realizada. São numerosos os anglicismos, os erros de pontuação e de concordância e até as confusões nominais, que tornam o entendimento do escrito muito mais difícil do que aquilo que o tema naturalmente já exige. Tais falhas se acumulam página a página – em certa parte, Tertuliano é confundido com Mani; em outra, Pôncio Pilatos é promovido de governador a imperador; e assim por diante –, causando sobressaltos e sinuosidades inexistentes na publicação original e bastante prejudiciais ao leitor. O simples concurso de um especialista no tema poderia ter melhorado muitíssimo a publicação e espera-se que, em uma possível segunda edição do volume, ao menos os erros mais gritantes sejam suprimidos. (Por exemplo, aquele, risível, que se verifica na p. 141, onde o esquema da árvore genealógica da dinastia de Teodósio é substituído pela observação “Entra figura da árvore”). Não obstante este sério problema, o estilo de Jenkins, que denuncia, sob seu professo cristianismo tolerante e conciliador, escandalizado com a violência das disputas religiosas do primeiro milênio, o impacto da verve irônica de Edward Gibbon, é por si só um atrativo do volume. Outro mérito é o fato de o pantanoso e espinhento terreno dos debates cristológicos ser destrinchado com a ajuda de imagens extraídas da atualidade, da cultura contemporânea, analogias que, sem cair em anacronismo simplista, ajudam o leitor a estabelecer parâmetros de comparação e a desnaturalizar as concepções mais difusas da história cristã. A paleta de referências mobilizadas nesta tarefa é notável: a Família Soprano, o Gangues de Nova Iorque de Scorcese, as batalhas de hooligans, o ativismo xiita, Osama bin Laden, as convenções anuais do Partido Republicano, o macarthismo e os esquetes de Monty Python são todos referidos para que o leitor seja introduzido no debate acerca de como os conflitos que precederam, marcaram e seguiram as assembleias eclesiásticas de Éfeso e Calcedônia reinventaram o cristianismo, de como “um mundo [foi] moldado pelo resultado daquelas lutas quase esquecidas do século V, que aconteceram num mundo de impérios e Estados que acabaram todos na ruína”26.
O terceiro e talvez maior dos méritos do livro de Jenkins, especialmente no mercado editorial brasileiro, é o fato de ele basear seu trabalho não apenas nos textos tradicionalmente utilizados pelos historiadores ocidentais do cristianismo, mas investir na consideração das fontes que consideram a própria versão do cristianismo que veio a se tornar a hegemônica no mundo ocidental como herética. O autor não se guiou apenas pelos manuais, nem mesmo pela bibliografia específica, mas foi ler e apresentar aquilo que foi registrado nas eventualmente confusas atas conciliares e nos historiadores eclesiásticos dissidentes bizantinos, siríacos e coptas; ao lado dos conhecidos volumes de Sozômeno, Evágrio. Sócrates e Procópio de Cesareia, Jenkins arrola a crônica do Pseudo-Dioniso de Tell-Mahre, a História dos Patriarcas de Alexandria, as hagiografias de Pedro Ibérico e de Severo de Antioquia, a crônica de João, bispo de Nikiu, as cartas de Filoxeno de Mabbôgh, entre outros escritos.
Ele faz especial referência ao Bazar de Heráclides, longa e interessante memória escrita pelo deposto e condenado Nestório durante seu exílio, que teve uma edição siríaca redescoberta por estudiosos europeus em um mosteiro no Curdistão no começo do século XX. Para o desconhecimento destas fontes, cujas consequências são a aceitação de certas valorações teológicas (como ortodoxo) como se simples descrições históricas e a acentuação da parcialidade que sua exclusão implica, contribuem – é bom que se tenha claro – não apenas dificuldades de ordem linguística ou o fragilíssimo estado da pesquisa em língua portuguesa neste campo de investigação, mas também preconceitos residuais de ordem especificamente religiosa. Utilizando um leque mais amplo de versões acerca dos acontecimentos eclesiásticos do século V e de seus desdobramentos, Jenkins consegue devolvê-los à sua historicidade particular e desnaturalizar as narrativas oficiais mais difundidas no ocidente sobre a história do cristianismo. Graças a este redirecionamento, todo um novo campo se abre à investigação histórica e teológica sobre a constituição da ortodoxia cristã conforme agora nós a conhecemos.
Notas
2 JENKINS, Philip. A próxima cristandade: a chegada do cristianismo global. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 44.
3 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 48.
4 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 43-44.
5 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 27-28.
6 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 45.
7 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 46.
10 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 55.
11 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 109.
12 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 128.
13 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 149.
14 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 159.
15 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 223.
16 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 226.
17 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 244.
18 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 244.
19 Rejeitada não apenas por Roma, mas também pelos egípcios e pelos sírios – as partes contentoras que pretendia contemplar – e abandonada posteriormente pela Igreja Bizantina, esta fórmula de fé continua a subsistir como a cristologia oficial da Igreja Apostólica Armênia. Cf. DALE, Irvin T. & SUNQUIST, Scott W. História do movimento cristão mundial – Vol . 1: do cristianismo primitivo a 1453. Tradução de José Raimundo Vidigal. São Paulo: Paulus, 2004, p. 262-263.
20 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 259 21 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 295.
22 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 295.
23 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 297-298.
24 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 298.
25 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 308.
26 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 60.
Alfredo Bronzato da Costa Cruz – Mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bacharel e Licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E-Mail: bccruz.alfredo@ gmail.com.
[MLPDB]O momento da Inquisição – SIQUEIRA (S-RH)
SIQUEIRA, Sonia. O momento da Inquisição. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013, 706 p. Resenha de: ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Significar o medo? Sobre as múltiplas inquisições, em todos os seus momentos. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [30] jan./jun. 2014.
Se o foco do historiador é a preocupação com o passado, e o distanciamento deste permite uma observação, espera-se, mais coerente dos fatos, a própria História, por seu lado, dá mostra de suas transformações, ciência viva que é, quando, já distantes, olhamos para o modo como as análises eram feitas no início.
Percebe-se, assim, não apenas maior minúcia nas interpretações, mas também uma percepção refinada da evolução do devir histórico ao longo das gerações.
É neste sentido, dentre tantos outros possíveis e desejáveis, como o cuidado da pesquisa que lhe foi causa, que devemos louvar o lançamento, passadas mais de quatro décadas depois de sua concepção inicial, do livro recentemente trazido à tona pela pesquisadora Sonia Aparecida Siqueira, ela própria, como bem sabemos, incansável nas análises, que soaram como desdobramentos e continuidades deste trabalho que ora se apresenta, sobre o Tribunal do Medo. Autora conceituada de obras já clássicas acerca do Tribunal da Inquisição no mundo português, é interessante perceber como suas inquietações sobre o tema foram construídas ao longo de suas décadas de dedicação ao assunto e os caminhos que tomaram em escritos posteriores.
Trata-se, a obra em questão – O Momento da Inquisição (João Pessoa: Editora Universitária, 2013) – da publicação da tese de doutoramento da autora, defendida na Universidade de São Paulo em 1968. Iniciativa bem-vinda dos Grupos de Pesquisa Officium (PPGH-UFPB) e Videlicet (PPGCR-UFPB) – que já haviam brindado os interessados no tema da Misericórida & Justiça, em 2011, com a reedição das Confissões da Bahia, também sob a coordenação da mesma autora, publicada originalmente em 1963, contendo o conjunto documental dos depoimentos dados à mesa do visitador do Santo Ofício durante a segunda estada no Brasil, iniciada em 16182.
O Momento da Inquisição, é preciso frizar, tem inegável pioneirismo. Numa época em que o doutorado era ainda destinado a poucos pesquisadores, foi dos primeiros trabalhos, senão o inaugural, defendido nos programas de pós-graduação do país, a tratar do tema da implementação e funcionamento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição bem como a apontar indícios e especificidades de sua atuação na América portuguesa.
À época em que a pesquisa foi desenvolvida, estudar o Santo Ofício não era tarefa das mais fáceis: não apenas porque o tema era ainda pouco visitado e conhecido no país, mas ainda por serem poucos aqueles que reuniam condições para fazer pesquisa no exterior: toda a documentação referente ao tribunal encontra se depositada no Arquivo da Torre do Tombo, em Portugal, e os deslocamentos envolviam, então, burocracias, tempo e gastos bem mais dispendiosos do que hoje em dia, quando os interessados em pesquisar o assunto podem ter acesso, via internet, a milhares de páginas processuais e códices documentais digitalizados, facilitando a tarefa, democratizando o contato com estas fontes de maneira inimaginável até bem pouco tempo atrás, poupando tempo, dinheiro e deslocamentos. A tecnologia do futuro, voilà, ajudando a desnudar tempos idos…
Mas, justiça seja feita, não foi pioneira só: a década de 1960 marca o aparecimento de pesquisadores e a publicação de obras que virariam referência para as futuras gerações: é caso, por exemplo, de Arnold Wiznitzer, com Os Judeus no Brasil Colonial3; de Elias Lipiner, em Os judaizantes nas capitanias de cima4; de José da Costa Pôrto, e seu Nos tempos do visitador5; de Eduardo França, que assinaria a primeira edição das confissões da Segunda Visitação do Santo Ofício ao Brasil com Sonia Siqueira6…
Passados quase cinquenta anos da defesa da tese – e justamente no momento em que se comemoram os primeiros cinquenta anos das publicações recentes sobre o Tribunal do Santo Ofício e tudo que o cerca, dando início ao que hoje se apresenta como um dos mais produtivos ramos da historiografia brasileira sobre o mundo moderno – a publicação em livro da tese de Sonia Siqueira permite o acesso a um dos textos fundadores desta moderna historiografia aos pesquisadores – cada vez em maior número – do Tribunal do Santo Ofício, sua estrutura, personagens, ideologias e vítimas. Permite mais: datado, como qualquer texto, que fique claro, torna-se, ele próprio, além de análise científica sobre o assunto, também fonte documental e de pesquisa para compreender os avanços, desdobramentos e continuidades nas pesquisas sobre a temática no último meio século, acenando ainda para o que está por vir.
O livro, em si, propõe situar a Inquisição em seu tempo e lugar, compreendendo a lógica em que se insere o Santo Ofício na Modernidade. Desta forma, não se trata, apenas, do momento da Inquisição, mas do momento que permitiu e/ ou desejou a Inquisição, do contexto de sua época e da influência que sofreu desta e nesta imprimiu, da cultura que o permitiu existir e sobreviver por quase trezentos anos no mundo português, de 1536 a 1821. Enfim, é ver o Santo Ofício como parte integrante de um modelo maior, que não se limita a ele nem se justifica isoladamente: o que se alimenta e é alimentado por ele; o momento da Inquisição é o momento em que ela fez parte de um projeto social que tinha nas ideologias e práticas inquisitoriais um de seus modelos de controle e afirmação, um espelho do que queria impor. Como destaca a autora, O momento, no presente trabalho tem a configuração da hoa e da vez de seus primórdios quando esmoreciam os valores do Humanismo Renascentista: transmudando-se para o Humanismo Cristão no aflorar da cultura barroca.7 Dividido em três partes – O processo do estabelecimento do Santo Ofício; Estruturas do Santo Ofício; Os procedimentos do Santo Ofício – e com mais de setecentas páginas, mostra ter fôlego para desenvolver as questões que apresenta, dialogando com a historiografia produzida até então, e apresentando farta pesquisa de fontes, citadas a todo momento para evidenciar o discurso da autora. Desta forma, discorre sobre uma gama de interpretações acerca das condições históricosociais para a implementação do Tribunal da Inquisição e sua inserção no cotidiano do luso mundo, sua estrutura de funcionamento (regimentos, bulas, órgão, cargos e funções), as hierarquias e serviços, as dotações financeiras e sustento da máquina inquisitorial, os procedimentos administrativos, as expectativas de perseguição, definições de crimes e heresias que alimentavam a estratégia persecutória, confissões, denúncias, processos, interrogatórios, prisões, confiscos, sentenças, autos-de-fé, custas, visitações. Numa frase, o mundo da Inquisição, em tudo que fazia parte da azeitada engrenagem de seu funcionamento.
Vale destacar que a autora optou por não atualizar a bibliografia ou suas considerações e análises com a vasta produção sobre a temática inquisitorial que se produziu nas últimas décadas, mantendo fidelidade ao texto: se por um lado, isto impede o texto de dialogar com conclusões ou pontos de vista mais recentes, deixando claras as imprecisões que Sonia Siqueira não conseguiu ou não se preocupou em resolver à época, ajuda o historiador do tema a compreender a “fortuna crítica” das análises com a chegada de novas gerações de pesquisadores e das descobertas e revisões historiográficas. O que se destaca, como pano de fundo da obra, desta forma, é o pioneirismo, o esforço inicial de uma pesquisa, as primeiras impressões sobre questões que, mais tarde, foram desenvolvidas por outros autores. Mas, longe de ser anacrônico, é uma espécie de “história do futuro”, na perspicácia da autora em chamar a atenção para assuntos até então desprezados e que, com o tempo, ganham status de centralidade em pesquisas sobre o tribunal. Por fim, o que o livro indica, num conselho sábio para qualquer pesquisa historiográfica, é que é preciso entender o Santo Ofício e sua atuação em seu contexto, seu tempo, seu momento… “Cada época tem a Inquisição que merece e a merece na medida em que consente em sua existência”8, conclui a autora na frase com que encerra seu texto. Também a História, fruto de sua época e do que esta quer ver ou esquecer. Atentos, então, para não que as análises históricas compreendam o seu “momento”, apregoando juízos de valor ao que anseia por entendimento. Afinal, julgaar não é nossa peleja. Para não corrermos o risco de sermos, nós, inadvertidamente, historiadores de uma verdade inquestionável, e em desdobramento, inquisidores da Inquisição – ou de Clio.
Notas
2 SIQUEIRA, Sonia. Confissões da Bahia – 1618-1620. 2ª ed. João Pessoa: Ideia Editora, 2011.
3 WIZNITZER, Arnold. Os judeus no Brasil Colonial. São Paulo: Pioneira; Edusp, 1966.
4 LIPINER, Elias. Os judaizantes nas capitanias de cima: estudos sobre os cristãos-novos do Brasil nos séculos XVI e XVII. São Paulo: Brasiliense, 1969.
5 PÔRTO, José da Costa. Nos tempos do visitador; subsídio ao estudo da vida colonial pernambucana, nos fins do século XVI. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1968.
6 “SEGUNDA visitação do Santo Ofício às partes do Brasil pelo inquisidor e visitador o licenciado Marcos Teixeira. Livro das Confissões e Ratificações da Bahia – 1618-1620”. Introdução de Eduardo d’Oliveira França e Sonia Siqueira. Anais do Museu Paulista, Tomo XVII, São Paulo, 1963.
7 SIQUEIRA, Sonia. O momento da Inquisição. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013, p. 18.
8 SIQUEIRA, O momento da Inquisição, p. 683.
Angelo Adriano Faria de Assis – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa. Professor Associado do Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: <[email protected]>.
[MLPDB]A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII – RAMINELLI (S-RH)
RAMINELLI, Ronald. A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, 180 p. Resenha de: CHAVES JUNIOR, José Inaldo. Uma era revisitada: a América Espnahola em Tempos de conquistas. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [30] jan./jun. 2014.
É eclética e volumosa a produção de saberes sobre a América desde a chegada dos europeus nos estertores do século XV, com notícias sobre as suas potencialidades, suas gentes, matas, rios, minérios e, principalmente, os caminhos para acessálos.
Em tempos de expansão marítima, uma cartografia do lugar foi desde cedo valorizada pela Monarquia católica e recompensados com mercês e honras foram aqueles que se dispuseram a produzi-la. Doravante, uma controvertida literatura de viagem, produzida por religiosos, conquistadores e aventureiros das mais variadas origens geográficas e sociais, dedicou-se à narrativa da conquista ibérica sobre o Novo Mundo. Plenamente inseridos no contexto de consolidação das monarquias europeias, estes relatos demonstraram a intrínseca relação mantida entre homens e mulheres de cá e d’além-mar, desde quando os primeiros pés castelhanos pisaram o chão do Eldorado. Desde o século XVI, o Novo Mundo jamais conseguiu ser tão distante e ausente como alguns relatos faziam crer, e, a despeito da imensidão oceânica e das intempéries das rotas marítimas, suas histórias entrecruzaram-se com as do velho continente, integrando-se aos cenários renascentista e de formação dos estados modernos.
O contato inicial entre ameríndios e europeus foi copiosamente narrado e ilustrado, asseverado em descrições barrocas acerca da violência étnica, da guerra e da consequente ruína demográfica indígena, resultados últimos da desapropriação de seus bens e das doenças trazidas pelo homem branco. Um discurso de vitimização das populações indígenas da América hispânica caracterizou parte significativa dos relatos da conquista, assinalando, por outro lado, a crueldade colonizadora e sua sanha pelo sangue autóctone, pelo ouro e por suas terras. Em larga medida, este imaginário da violência, produzido, em sua maioria, pelos opositores da hegemonia ibérica sobre o Atlântico ou por religiosos protestantes e católicos que questionavam os propósitos da conquista, contagiou uma cultura histórica subsequente.
A era das conquistas, de Ronald Raminelli, dedica-se generosamente a este e outros temas, passando por frutíferas searas, como o governo imperial de Carlos V e Felipe II, as elites coloniais e o acirrado relacionamento entre a Coroa, os conquistadores e as populações indígenas entre os séculos XVI e XVII. Realizando um importante balanço historiográfico e problematizando tradicionais jargões de uma vasta e qualificada historiografia sobre a América espanhola, esse livro integra o arrojado editorial da coleção de bolso da Editora FGV, que já lançou outros títulos de igual relevância, defendendo a proposta de livros de síntese escritos pelos melhores especialistas, mas prezando por uma linguagem acessível ao grande público, e não apenas aos iniciados2.
Neste sentido, é ocioso acrescentar que o tema do livro resenhado não constitui novidade para Raminelli, experiente professor de História da América na Universidade Federal Fluminense. Não somente suas aulas, mas sua produção acadêmica tem se voltado para o campo da História da América há algum tempo, o que faz do autor uma reconhecida referência. Seguindo a trilha inaugurada por Sergio Buarque de Holanda, sobretudo no seu Visão do Paraíso (1959), o autor localiza muitos de seus livros e artigos na intersecção entre as histórias das Américas portuguesa e hispânica, buscando, a partir de sólidas e refinadas investigações sobre as elites coloniais, as hierarquias sociais e a produção de saberes no Novo Mundo, um caminho comparativo autêntico e rigoroso, não afeito aos modismos, sem com isso descuidar do diálogo com os pares, como atesta este novo livro3.
Em sua introdução, A era das conquistas destaca as Grands Voyages, do impressor e gravador calvinista Theodore de Bry, obra publicada em 1590 e que marcou significativamente as representações do Novo Mundo produzidas a partir de então, uma vez que abriu espaço às coleções de narrativas em vernáculos, acompanhadas por iconografias que somente alcançaram o grande público depois do referido título. Os treze volumes reunindo relatos das primeiras viagens à América popularizaram-se, sobretudo, por conter centenas de xilogravuras que impunham uma visão aterradora do Novo Mundo e de seus habitantes aos europeus em sua maioria iletrados. No entanto, os gravuristas e cronistas que passaram pela América ou dela ouviram falar registraram suas impressões do outro, do novo, a partir de um conjunto rico de lembranças e memórias próprio das culturas europeias.
Neste sentido, o esforço de absorção do estranho, desse exótico Novo Mundo, se deu graças ao uso de códigos e padrões estéticos forjados em associações e experiências anteriores, aproximações (como na fórmula de Merleau-Ponty, “perceber é recordar”)4 que integraram o americano ao imaginário europeu enquanto selvagem, bárbaro, canibal e satânico. Como nos lembra Lucien Febvre, os homens de Quinhentos, tanto os frequentadores dos círculos letrados quanto o humilde camponês analfabeto, enxergavam um universo povoado de e imagéticos que eles registraram seu contato com a América e os povos que por cá viviam.
Esta percepção do outro enquanto “reconhecimento” e “projeção de lembranças” valeu inclusive para fundamentar as críticas produzidas contra a própria ação conquistadora, como ilustrou Theodore de Bry, nascido em Liège em 1528. De Bry era filho de uma abastada família, mas perdera tudo ao converter-se ao calvinismo durante a perseguição religiosa promovida pelos espanhóis católicos nos Países Baixos. Refugiando-se em Estrasburgo, cidade de relativa liberdade religiosa e política e com um florescente mercado editorial, aprimorou sua arte e pôs em gravuras a conquista da América, tendo como referencial político as guerras de religião e a aversão à idolatria e ao papismo dos espanhóis6. Numa Europa dividida pelas guerras religiosas e apavorada pela expectativa da Parúsia, as visões escatológicas do Novo Mundo oscilaram entre a descrição do Paraíso – um ponto originário e redentor onde os homens viviam despidos do pecado – e o lugar da depravação moral, prenunciadora do fim dos tempos7. Nas suas imagens, a crueldade dos espanhóis na conquista era vista como emblema de uma monarquia decadente e perniciosa, sendo sua destruição anunciada pelo desvio do propósito evangelizador.
Dentre os relatos utilizados por De Bry estava o do frei Bartolomé De Las Casas, em sua Brevíssima relación de la destrucción de las Indias, de 1552. O cronista e religioso católico era um conhecido crítico da conquista espanhola e registrou particularmente “as guerras, a exploração dos nativos, e os desvios do projeto de conversão e salvação das almas americanas”8. Ronald Raminelli relata que a ilustração de De Bry, de 1598, “agravou ainda mais as denúncias de Las Casas” e endossou a leyenda negra – uma história em que uns poucos espanhóis armados a cavalo conseguiram ardilosamente roubar a vida, as terras e as riquezas de milhares de ameríndios9.
Entretanto, como nos mostra Raminelli, as imagens de Theodore de Bry, fundadas em cronistas como Las Casas, fizeram muito mais que difundir os horrores da conquista espanhola, descreveram também a inércia americana, sua incapacidade frente ao avanço europeu, estando, pois, na gênese de uma arraigada interpretação vitimizadora do lado indígena que, ao fim e ao cabo, tornou-se contraproducente na compreensão das estratégias de resistência, acomodação e sobrevivência não apenas física, mas política dos povos indígenas em situação colonial. Por sua vez, uma visão linear, determinista e excessivamente sectária (conquistadores versus ameríndios) obliterou as disputas existentes dentro dos próprios flancos espanhóis e as imprescindíveis alianças entre chefias indígenas e conquistadores que tiveram como propósito inicial a destruição de inimigos comuns. As próprias lógicas culturais da guerra ameríndia operaram alianças deste tipo desde muito antes da chegada dos europeus, de modo que a vitória hispânica sobre os impérios mexica e inca dependeu largamente da contribuição de povos indígenas insatisfeitos com o jugo anterior.
Não por menos, o autor trata de conquistas, buscando apresentar um panorama multifacetado de atores, empresas e diferentes estratégias que compuseram a construção do mundo colonial hispânico entre os séculos XVI e XVII, revendo, portanto, “uma visão simplista e imparcial da conquista da América”10. O percurso analítico escolhido faz a opção por integrar plenamente a conjuntura do assalto espanhol ao Novo Mundo aos processos estruturais de formação das monarquias ibéricas, sendo as guerras empreendidas em solo americano parte primordial da estratégia de fortalecimento da autoridade régia. Segundo o autor, Com a prata americana, os reis expandiram a burocracia, remuneraram aliados e armaram tropas. De fato, os ameríndios não foram os únicos a se submeter às leis monárquicas. Colombo, Cortés, Pizarro e os mais afamados conquistadores se enquadraram ou foram aniquilados pelos representantes de Sua Majestade.11 Neste novo trabalho, o historiador fluminense explora a afirmação do poder real diante do ímpeto de conquistadores que pretendiam afirmar-se como verdadeiros senhores feudais na América. Destarte, homens como Cortés e Pizarro “não dispunham dos mesmos trunfos empregados pela nobreza castelhana no momento da negociação de seus direitos”12 e, por conseguinte, a autoridade central terminou por controlar melhor as localidades distantes que os próprios reinos e ducados da Península, repletos de facções e partidos que dividiam as nobrezas e fragilizavam o poder régio13. Na verdade, reiterando a tese do renomado historiador inglês John Elliott, Raminelli acrescenta que, sob algum aspecto, “a administração hispânica da América era mais moderna que o próprio governo da Espanha e das monarquias da Europa quinhentista”14.
Isto ocorria porque a América estava menos sujeita às chantagens dos poderes locais e aos impasses da manutenção de uma ampla rede de aliados, problemas diuturnamente enfrentados pela Monarquia de Carlos V, espremida entre a cruz e a espada, entre a satisfação da expansão imperial sobre territórios político e culturalmente variados e o atendimento dos anseios da nobreza castelhana, ressentida com seu rei absenteísta e desinteressado15.
A era das conquistas divide-se em cinco capítulos, nos quais o autor testa, com habilidade, seu argumento de que diferentes frentes de conquista subsidiaram a produção dos territórios coloniais da Monarquia católica, da Espanha à América.
O artífice central (embora não exclusivo) das empresas de conquista foi a própria Coroa dos Habsburgo que, sob duras penas, afirmou seu poder em um processo de construção de centralidades com marchas e contramarchas na Europa e nas possessões ultramarinas. No primeiro capítulo, Raminelli narra as dificuldades da Monarquia em controlar a insatisfação dos nobres castelhanos, levantados em armas na Revolta dos Comuneros (1520-1522). Conservadores, os nobres saudavam a antiga Castela, anterior a união dos reinos de Isabel e Fernando de Aragão (1469); defendiam seus antigos privilégios, esquecidos desde então; e questionavam o peso tributário lançado pela Coroa e a sagração de Carlos V como imperador do Sacro Império. Um rei ausente e mais preocupado com as suas batalhas travadas no norte da Europa, contra a Inglaterra e o avanço protestante, desprestigiara a nobreza castelhana, embora precisasse mais que nunca de seus préstimos para manter sua política imperial belicosa. Todavia, para os nobres castelhanos, mais importava a Espanha que o Império.
Como a história nos conta, a revolta da fidalguia de Castela foi debelada por Carlos V ao levar-se ao limite a sua política de alianças, feito um “gigante inerte”, dependente do apoio financeiro e militar das nobrezas castelhana e estrangeira de seu vasto Império, e igualmente frágil diante da concessão de seu poder interventor sobre as localidades – um preço alto a ser pago na tentativa de conter os focos de resistência aristocrática. Este interessante capítulo segue com o debate acerca do Estado moderno, seu limites, conflitos de jurisdição bem como as principais interpretações historiográficas acerca de sua emergência. O pano de fundo continua sendo a Monarquia católica e seu complexo acerto imperial. A missão de governar na época moderna era partilhada e o rei dividia, ao menos, com a Igreja, a nobreza e as municipalidades as atribuições do governo dos povos – um governo indireto e polissinodal, caracterizado pela difusão dos centros de decisão política. Todavia, nestes primeiros tempos da modernidade, ainda que a instituição “Estado”, tal como nos é acessível hoje em dia, fosse desconhecida dos coevos, o autor relata que as monarquias reuniram as condições de sua posterior emergência a partir da ampliação da esfera jurisdicional, do crescimento do oficialato régio e da sistematização de leis e a territorialização do poder régio16.
A disseminação da autoridade do rei em cenários nos quais os poderes locais possuíam fortíssima proeminência, tanto na Europa quanto na América, proliferou os conflitos de jurisdição, motivados, na maioria das vezes, pela própria inserção dos oficiais da Coroa (vice-reis, magistrados, bispos dentre outros) nos jogos políticos locais. Embora a decisão final das querelas sempre dependesse do Conselho das Índias, criado entre 1523 e 1524, ou, em último caso, do rei, “a distância e a fugidia presença régia promoviam forças centrífugas e levavam, por vezes, para longe de Madri o governo do Novo Mundo”17. Diante da dispersão das decisões políticas, a venalidade dos altos oficiais de Sua Majestade, em especial dos vice-reis, tornouse um primoroso mecanismo político através da construção de lealdades que nem sempre significaram o incremento do poder real. Coube a Monarquia cercear estes desvios de autoridade, uma missão quase sempre realizada parcamente, mas para a qual dedicou-se conspícua atenção dos órgãos centrais.
Entretanto, se, por um lado, os conflitos de jurisdição e as venalidades foram fenômenos típicos dos modos de governar na época moderna, tanto na Europa quanto no ultramar, segundo Ronald Raminelli, as disputas entre poderes locais e poder central no Novo Mundo não tiveram as mesmas proporções daqueles desencadeadas na metrópole, isto porque por aqui “o governo sentia menos as interferências do legado feudal, dos senhorios, das jurisdições múltiplas, enfim do forte poder local, ainda determinante na Espanha”18. Além disso, como nos conta o autor:
Em princípio, na América colonial, os impedimentos contrários ao bom cumprimento das ordens régias eram atenuados, pois os poderes locais nativos foram dizimados nas guerras, nas epidemias e nas negociações empreendidas entre monarcas, conquistadores e chefes indígenas.19 Neste sentido, uma das principais contribuições trazidas por Ronald Raminelli é apontar que, se as guerras contra os indígenas e a crueldade colonial foram dimensões inegáveis da conquista, como apontaram os cronistas, não foram elas, contudo, monopolizadoras de um processo muito mais intricado. As conquistas do Novo Mundo implicaram, inclusive, no enquadramento dos interesses dos primeiros conquistadores e das chefias indígenas aliadas, segmentos sociais ambiciosos pelas benesses régias, os prêmios e honras da empresa colonial. Este é o assunto do 2º capítulo de A era das conquistas. Após um período de concessões e salvaguarda das vassalagens a partir de uma eficiente economia das mercês, a contínua redução da capacidade remuneratória da Coroa fez parte de uma “política de sufocamento” do poder dos conquistadores antigos, que contou ainda com a extinção da transmissão hereditária das encomiendas (Leis Novas) e com a supressão do controle do trabalho indígena por parte dos encomienderos (1549), que passaram a dispor legalmente apenas dos tributos pagos pelos nativos. Por sua vez, o incentivo régio à colonização produziu mais concorrência por terra e trabalho, ao passo que garantiu a formação de uma segunda geração de conquistadores fiel à Sua Majestade, sem os tradicionais vícios da leva que trouxe Colombo, Pizarro e Cortés ao Novo Mundo.
Cabe-nos destacar, na esteira da reflexão encetada por Raminelli, que, ao inviabilizar a concentração de poder, tanto entre os conquistadores quanto entre vice-reis, ouvidores governadores e bispos, a Coroa hispânica elevou o fenômeno dos conflitos de jurisdição ao patamar de estratégia primaz do exercício de sua autoridade na América, pois, ao jogar com as parcialidades e promover uma contínua redistribuição dos poderes, conseguia neutralizar a autonomia de seus agentes e garantir a vigilância contínua diante de possíveis focos de contestação (system of checks and balance). Aquilo que aparentemente representava irracionalidade administrativa e erosão política transformou-se num poderoso mecanismo de controle sobre as municipalidades coloniais, ainda que houvesse sensíveis limites a plena ação do poder real, dadas as sempre precárias condições da governabilidade no ultramar.
Aliás, o 3º capítulo dedica-se à discussão de conceitos-chave da recente historiografia política da época moderna, em especial das conquistas coloniais, a exemplo da aplicação da categoria elites nas investigações sobre segmentos sociais privilegiados no Novo Mundo. Neste sentido, o autor apresenta uma caracterização do cabildo enquanto locus do poder local na América hispânica, considerando as formas de enriquecimento e ascensão, as práticas sociais, como o descaminho e a ilicitude, os perfis regionais, as condições de ingresso e as tentativas da Coroa de limitar os seus poderes na localidade, inclusive através dos conflitos de jurisdição com órgãos como as audiências.
De acordo com Raminelli, para resistir às investidas da Coroa e de seus agentes, sobretudo dos governadores e das Audiências, as elites locais encasteladas nos cabildos tradicionalmente recorreram à máxima da administração castelhana, “obedezo pero no cumplo”, repetindo no ultramar os valores de uma cultura política própria do Antigo Regime, ainda que desta mantivesse sensíveis distanciamentos.
Seja como for e dadas as contumazes interferências régias, o fato é que os cabildos do Novo Mundo perderam gradativamente sua capacidade de representar os interesses locais e negociar com a Coroa e, pelos idos de 1650, “entraram em franca decadência”, recobrando alguma proeminência apenas no século XVIII, em meio às decorrências das reformas bourbônicas20.
Doutra feita, uma relevante problematização de conceitos como “sociedade estamental” e “Estado absolutista” é realizada pelo autor, que afirma que os novos estudos acerca das hierarquias e da mobilidade social no Antigo Regime ibérico questionaram abertamente a suposta rigidez das classificações sociais na Europa moderna e, mais ainda, no Novo Mundo, haja vista a permissividade de sociedades onde a norma e a prática não possuíam limites claros, nem mesmo para os representantes do poder constituído. Considerando o caso espanhol, Raminelli resgata a tese do historiador Enrique Soria, para quem “a ascensão social era o importante motor do poder régio, ou seja, que em busca de honra e enriquecimento os vassalos prestavam serviços e demonstravam lealdade ao soberano. Portanto, aos poucos, as ordens (nobreza, clero, povo) tiveram suas fronteiras enfraquecidas”21.
Por conseguinte, mais do que preocupar-se em encontrar as razões de um suposto Estado absoluto e onipresente, o problema historiográfico atual tem se voltado para a compreensão dos corpos políticos periféricos e de seu primordial papel na afirmação da centralidade régia ao longo da época moderna – uma verdadeira inversão analítica, das macroestruturas aos micro-poderes –, tendo em consideração que “o poder local nem sempre se situava no plano da lei e do direito oficial, mas à margem dessa lei e desse direito”22.
Os capítulos que encerram esta contribuição historiográfica de Ronald Raminelli dirigem a análise a um outro palco desta era de conquista no plural pois, se, em sua primeira parte, o autor concentrou-se em discorrer sobre as tentativas e efetividade do controle régio sobre as forças colonizadoras – conquistadores e oficiais da Coroa –, integrando a colonização da América ao contexto de afirmação da Monarquia católica; neste último momento, seu interesse se voltará para os colonizados. A questão central dos capítulos 4º e 5º é, pois, a superação, nos estudos coloniais, de uma interpretação que considerou a conquista do Novo Mundo enquanto aculturação. Segundo o autor, o conceito aculturação ganhou relevo nos anos 1980 e seu uso visou investigar “as transformações culturais provocadas pela conquista, pelo confronto entre a tradição ibérica e as várias etnias encontradas na América”, porém, compreendendo-as como perdas das tradições indígenas originárias23.
Resgatando clássicos estudos que utilizaram o conceito, o autor cita, por exemplo, as tipologias propostas por Wachtel. Algumas delas foram as categorias de “processo de integração” e “processo de assimilação” para dar conta das modificações nos padrões culturais e socioeconômicos das sociedades indígenas em situação colonial. De acordo com Raminelli, por “processo de integração” Wachtel definia a “incorporação de valores e costumes estranhos, mas que adquiriam novo sentido entre os autóctones”; já “processo de assimilação” era caracterizado pela “transformação cultural imposta pelos colonizadores”24. Outro renomado autor, Todorov, também recebeu a atenção de Raminelli, justamente por, tal como Wachtel, dedicar-se à análise dos mecanismos de dominação espanhola tendo como premissa o conceito de aculturação. Na perspectiva de Todorov, a grande artimanha de colonizadores como Cortés foi justamente aprender a manipular os valores e símbolos ameríndios, revertendo em seu favor às estruturas de poder e dominação de uma época pré-hispânica. Além disso, para Todorov, uma superioridade técnica (armas e mobilidade) teriam completado a equação que garantiu uma vitória inexorável aos espanhóis.
Atualmente, perspectivas interpretativas como as Wecthel e Todorov encontramse em desuso e uma leva de estudos tem proposto uma nova abordagem da conquista, resgatando a agency indígena e contestando uma participação meramente figurativa ou pálida. Como vimos no início deste breve comentário à obra de Raminelli, desde os cronistas coloniais, as populações indígenas foram tradicionalmente condenadas ao desaparecimento pela violência devastadora da conquista, não lhes restando mais que a morte ou a assimilação. A irredutibilidade do trágico devir indígena, tantas vezes narrado nas tristes cenas das crônicas coloniais, contagiou boa parte da historiografia e estudos sociais dedicados à conquista da América. Destarte, uma New Indian History e as aproximações entre história e antropologia, sobretudo a partir de um redimensionamento da noção de grupo étnico, não mais visto como portador de uma essência cultural atemporal, promoveu uma mudança qualitativa nas análises sobre as interações sociais da época da conquista, não mais entendidas necessariamente como “perdas culturais”, mas retratadas a partir de conceitos como “etnogênese” e “mestiçagem”25.
As investigações acerca da importância da participação indígena nas empresas de conquista, bem como o papel dos cacicazgos na mediação do contato com o mundo colonial, tem relevado relações sociais que sobreviveram “sem as dicotomias cristalizadas pela história tradicional, sem a oposição rígida entre os interesses espanhóis e indígenas, sem a superioridade inconteste dos exércitos espanhóis, sem a debilidade inerente às sociedades indígenas”26. Num situação colonial, quase sempre tangenciada pela violência, os indígenas traçaram suas próprias estratégias de adaptação (resistência adaptativa), que poderiam representar também objetivos pragmáticos de redução de perdas27. Destarte, as chefias indígenas que apropriaram-se dos códigos aristocráticos da cultura ibérica, recebendo da Coroa ofícios e honras militares, tornaram-se mediadoras fundamentais na execução da administração colonial, que não pôde abrir mão das heranças pré-hispânicas de governo e teve que fazer concessões para tornar a conquista efetiva. Não se trata, pois, de negar a agressividade da ordem colonial, mas de explorar interpretações que destaquem as possibilidades de reação indígena, não restrita à tradicional dicotomia “morrer ou aculturar-se”28. Tal como conclui o autor da obra resenhada, Em sua suma, os povos não estavam submersos na tradição imemorial, congelados no tempo e incapazes de reagir. Por vezes a conquista e a colonização promoviam identidades novas, transformações socioculturais para sobreviver em meios adversos. O conflito e a violência eram promotores de novos arranjos políticos, culturais e sociais. A mestiçagem e a etnogênese são conceitos fartamente empregados para analisar a reação das comunidades indígenas frente aos conquistadores.29 Se é a reflexão historiográfica e o diálogo com os pares uma reconhecida dimensão de nosso ofício, em A era das conquistas Ronald Raminelli realiza com maestria um exercício próprio dos grandes historiadores, unindo erudição e originalidade em um caminho crítico que apresenta riquíssima e larga literatura especializada, sem, contudo, ceder à exposição enfadonha e despropositada. Ao final da obra, sua tese de uma conquista multifacetada – conquista no plural – que atuou não somente sobre indígenas, mas também sobre conquistadores e encomienderos, compondo, deste modo, a conjuntura de afirmação da autoridade régia na Europa e no Novo Mundo, é fartamente defendida. Contudo, o autor não deixa de considerar que os custos de manutenção da Monarquia católica, entre os séculos XVI e XVII, eram enormes. Um acerto imperial que reunia díspares interesses e possuía a guerra como seu principal mote, não tardou até demonstrar sinais de esgotamento. Doutra feita, julgamos excessivo o papel atribuído à capacidade interventiva da Coroa espanhola sobre os territórios coloniais, de modo que nos parece mais prudente pensar que a construção da centralidade régia processou-se, diacronicamente, a partir de uma forte dependência das forças políticas e sociais periféricas, como propôs Xavier Gil Punjol30. Seja como for, este é um tema em aberto e A era das conquistas lança-se como uma importante contribuição.
Notas
2 Da série História, destacamos, em especial, MALERBA, Jurandir. A história na América Latina:
ensaio de crítica historiográfica Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. FRAGOSO, João; GUEDES, Roberto & KRAUSE, Thiago. A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna: monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
3 Cf. notavelmente: RAMINELLLI, Ronald. “A monarquia católica e os poderes locais no Novo Mundo”. In: AZEVEDO, Cecília & RAMINELLI, Ronald (orgs.). História das Américas: novas perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011; RAMINELLI, Ronald. “Nobreza e riqueza no Antigo Regime Ibérico setecentista”. Revista de Historia (USP), vol. 169, p. 83-110, 2013. RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do Índio de Caminha a Vieira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
4 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
5 FEBVRE, Lucien. Problema da incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
6 BAUMANN, Thereza B. “Notícia de uma coleção: as ‘Grandes Viagens’ da família De Bry”. Paper avulso. Rio de Janeiro: IFCS-UFRJ, s.d. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/humanas/0036.htm>.
7 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. Tradução de Maria Lúcia Machado; tradução de notas de Heloísa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. A esse respeito, cf. também: KOSELLECK, Reinhart. Futuro Pasado: para una semântica de los tempos históricos. Barcelona: Paidós, 1993, sobretudo a primeira parte.
8 RAMINELLI, Ronald. A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2013, p. 09.
9 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 10.
10 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 11.
11 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 12.
12 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 12.
13 Vale ressaltar que a ideia de uma inversão administrativa colonial das monarquias ibéricas esteve presente na obra de Sergio Buarque de Holanda, que já em Raízes do Brasil aventou a tese de que uma administração colonial mais centralizada e dominadora foi levada a cabo justamente pela Monarquia hispânica, habituada com a contumaz descentralização de seus territórios continentais, acentuadamente divididos política e culturalmente e, nalguns casos, rebeldes, como era a Catalunha. Em Portugal, entretanto, onde a centralização régia havia sido operada muito antes, já nos estertores do medievo, o desleixo e o desinteresse ditaram a tom do governo ultramarino, sobrelevando, a esse respeito, a própria precariedade das formas urbanas do Brasil colonial, assimétricas, desordenadas e feitas ao acaso, quase sem contradizer a natureza, quando comparadas com a regularidade arquitetônica da América hispânica. A esse respeito, ver: HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 110. Para uma crítica ao primado da irracionalidade do urbanismo colonial português, ver: MOURA FILHA, Maria Berthilde de Barros Lima e. De Filipéia à Paraíba: uma cidade na estratégia de colonização do Brasil (séculos XVI-XVIII).Tese (Doutorado em História da Arte). Universidade do Porto. Porto, 2004 (introdução).
14 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 12.
15 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 13.
16 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 21.
17 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 43.
18 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 47.
19 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 47.
20 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 105.
21 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 73.
22 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 72.
23 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 108.
24 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 110.
25 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 115. Para uma síntese das recentes contribuições à história indígena, cf. a importante reflexão presente em: BOCCARA, Guillaume. “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos – Débats [On Line], 08 fev. 2005. Disponível em: <http://nuevomundo.revues.org/426>. Acesso em: 15 jan. 2014. Segundo o autor, uma tendência recente da historiografia indígena (New Western History e New Indian History) considerou a “re-inscripción de las realidades indígenas en su contexto histórico por un lado y el nuevo interés por las estratégias y los discursos elaborados por los nativos por el outro, han conducido a romper con un conjunto de dicotomías discutibles (mito/ historia, naturaliza/ cultura, pureza originaria/ contaminación cultural, sociedades frías/ sociedades cálidas) para buscar en las narrativas y en los rituales indígenas así como también en las reconfiguraciones étnicas y en las reformulaciones identitarias, los elementos que permitan dar cuenta tanto de las conceptualizaciones nativas relativas al tremendo choque que representaron la conquista y colonización de América como de las capacidades de adaptación y reformulación de las ‘tradiciones’ que desembocaron en la formación de Mundos Nuevos en el Nuevo Mundo”. BOCCARA, “Mundos nuevos en las fronteras…”, p. 03.
26 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 118.
27 ALMEIDA, Os índios na História do Brasil…, p. 23.
28 Neste sentido, cabe-nos ressaltar a importância da categoria de “índio colonial”, proposta por Karel Spalding e magistralmente discuta por John Monteiro. MONTEIRO, John Manuel. Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de História Indígena e do Indigenismo. Tese (Livre Docência). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2009.
29 MONTEIRO, Tupis, Tapuias e Historiadores…, p. 115.
30 PUNJOL, Xavier Gil. “Centralismo e localismo? Sobre as relações políticas e culturais entre capital e territórios nas monarquias europeias dos séculos XVI e XVII”. Penélope – Fazer e desfazer a história, n. 6, Lisboa, 1991, p. 129-130.
José Inaldo Chaves Júnior – Doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em História pela mesma instituição, Graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba. Professor Assistente de História do Brasil na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Integra o Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Cultural da UFF (NUPEHC/UFF). Bolsista de Doutorado do CNPq. E-Mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Esplendor do Barroco luso-brasileiro – TOLETO (S-RH)
TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco luso-brasileiro. Cotia: Ateliê Editorial, 2012, 368 p. Resenha de: SANTOS, Izabel Maria dos. O barroco e seu esplendor, no Brasil e em Portugal. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [28] jan./jun. 2013.
Arquiteto e urbanista por formação, Benedito Lima de Toledo é professor titular de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). Especialista nos estudos sobre a formação da cidade de São Paulo e autor de vários livros a respeito da História da Arquitetura da referida cidade, Benedito Lima de Toledo é referência quando o assunto é a arquitetura e o urbanismo da maior metrópole do país e sua trajetória intelectual tem sido voltada para questões e assuntos ligados à terra da garoa.
Em seu último livro, porém, Lima de Toledo envereda pelo fantástico universo do Barroco e resvala em um dos períodos mais ricos da arte brasileira, em que podemos perceber três séculos das mais variadas formas de manifestações artísticas marcadas pela atmosfera emocional e mítica característica da estética barroca. O leitor é convidado a mergulhar em 365 páginas de História e rico acervo visual para entender os caminhos e descaminhos do estilo europeu em terras tupiniquins.
O livro é dividido em 17 capítulos e traz, além de um vasto material fotográfico, mapas e desenhos, um aporte teórico e uma densa bibliografia sobre o tema em debate. O autor inicia a obra abordando as diversas teorias acerca do Barroco e a ainda candente querela acerca da periodização do movimento, sempre fazendo ligações diretas com a Arquitetura, seu lugar de conforto. Ao longo de todo o livro, Lima de Toledo consegue trazer a teoria para explicar suas ideias a respeito das mais diversas características daquilo que define como Barroco luso-brasileiro, comparando monumentos erigidos no Brasil com outros, localizados em Portugal, tornando a discussão compreensível e, de maneira interessante, indiscutivelmente didática.
Enquanto no primeiro capítulo Lima de Toledo, ao discutir as teorias do Barroco lançadas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, vai de Pierre Lavedan, passando por Lourival Gomes Machado, até Heinrich Wölfflin, e deixa claro que o Barroco já foi visto, entre outras coisas, como arte da Contrarreforma e como arte do Absolutismo. No segundo, ele discorre sobre a questão da periodização e cronologia do Barroco no Brasil e defende que podemos estabelecer três etapas de evolução do barroco no Brasil, afirmando que a primeira etapa do barroco nos trópicos brasileiros foi uma tentativa de reproduzir os padrões europeus mesmo sem ter os meios necessários, a segunda etapa foi marcada pela Restauração de 16402 e pela descoberta do ouro no território brasileiro, que teria feito com que a Coroa portuguesa voltasse seus olhos para a sua rica colônia tropical e a terceira e última etapa foi caracterizada pelo apogeu da riqueza e do ouro e pelo período de produção das mais originais manifestações da arte barroca do Brasil.
Para Benedito Lima de Toledo, quando falamos em Barroco nos referimos não só a um estilo de arte, mas a uma autentica civilização. Ele acredita que o barroco está não só na arte e na mentalidade, mas inclusive na formação espacial da própria cidade e isso se confirma, segundo o autor, no fato de as cidades que nasceram à época do Barroco terem uma estrutura diferente das demais, ou seja, uma configuração específica. As cidades portuguesas, portanto, não fugiriam a esta regra e teriam se desenvolvido à luz das imposições barrocas e da influência mediterrânea, e este legado teria chegado às enladeiradas e mal ajambradas ruas do território brasileiro, encontrado assim terreno propício ao desenvolvimento, de sua chamada, civilização barroca. O mundo colonial estava se barroquizando, em especial, devido à semelhança topográfica encontrada pelos portugueses nas cidades do Brasil, especificamente, nas cidades mineiras.
Após a explanação teórica e a cronologia, e deixando clara a ligação das manifestações barrocas do Brasil com as de Portugal, o autor começa a traçar um detalhado panorama da arte e da arquitetura no Brasil. Ele inicia falando um pouco sobre a arquitetura Jesuíta no Brasil, passa pela Franciscana e chega, por fim, a Beneditina. Em seguida, faz um apurado estudo sobre a azulejaria e a talha brasileiras e ainda nos traz algumas palavras sobre o rococó mineiro, sobre a arquitetura de mineração e a arquitetura civil e sobre a pintura e a cerâmica produzidas no Brasil. Ou seja, o autor nos dá um panorama geral sobre o comportamento e a adaptação do estilo barroco no Brasil sempre deixando claros os seus antecedentes portugueses em todas as suas formas de manifestação. Mas afinal, para Lima de Toledo que rumos teria tomado o Barroco ao aportar nos trópicos? Segundo o autor, a especificidade barroca pode ser percebida mesmo em território europeu, antes de mais nada, pela configuração espacial e arquitetônica das cidades que surgiram na época do Barroco, sobre isso Lima da Toledo afirma que:
[…] as cidades nascidas à época do Barroco, ou que então conheceram florescimento, têm configuração específica, criando por vezes surpresas, como espaços abertos em meio a traçados irregulares de rua, frente a edifícios, só perceptíveis quando aí chegado, o que pressupõe movimentação do observador. (2012, p. 31)
Nesse sentido, podemos perceber que a distribuição espacial das ruas e dos prédios obedece às leis de configuração barrocas, onde o espectador é convidado a movimentar-se para observar com precisão as formas, linhas e curvas dramáticas características do estilo em questão. Essa peculiaridade por ser conseqüência da mentalidade barroca acaba transparecendo em todas as manifestações artísticas, sociais e culturais da Europa, inclusive nas soluções encontradas para problemas públicos como o abastecimento de água. Sobre isto, o autor afirma que o problema foi resolvido com a instalação de pequenos aquedutos e chafarizes ao redor das cidades. Esses chafarizes, porém, acabaram tornando-se símbolos de poder e de autoridade e ostentavam um rico conjunto de formas, constituindo-se como verdadeiras obras de arte.
Também como conseqüência dessa nova mentalidade a imagem passa a ter o destino certeiro de comover até mesmo os mais indiferentes à fé através da emoção, da dramaticidade e do realismo. Esse apego a imagem dramática acaba chegando aos grandes templos e igrejas da época e encontra na talha dourada e na música a alquimia perfeita para encher de emoção e dramaticidade a estética da época.
A preocupação com a expressão dramática era tanta que Lima de Toledo chega a firmar que “nos retábulos dos altares, colunas, entablamentos, frontões, tudo perdeu sua função estrutural, para se tornar elemento expressivo.” (2012, p.35).
Assim, o autor deixa claro que o Barroco é muito mais que um estilo, é uma mentalidade, uma civilização, e que isso pode ser comprovado na medida em que percebemos que a Europa barroca alimenta-se de todos os sentidos e sentimentos proporcionados pelo estilo e que isto é feito em tão alto grau que não fica restrito à arte, reverbera também nas manifestações cotidianas, no equipamento público, como os ricos chafarizes da época, no equipamento domiciliar, como o mobiliário, no vestuário e até nos hábitos daquela sociedade, ou seja, para Lima de Toledo nenhuma forma de expressão da época escapou ao conceito barroco.
Assim, o Barroco, desconhecendo limites, chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses e logo tratou de adaptar-se à região, adaptação esta que encontrou facilidades devido à semelhança espacial entre algumas das mais antigas cidades brasileiras e as cidades portuguesas, já que, segundo o autor, os portugueses, donos de uma forte tradição marítima, historicamente não se incomodavam em desenvolver seu caminhos e sistemas de comunicação terrestres e eram completamente indiferentes à qualquer preocupação com a ordenação de ruas e cidades, tanto na Metrópole, quanto em sua porção colonial da América. Dessa maneira, a desorganização estrutural das cidades portuguesas acabou encontrando semelhanças nas cidades brasileiras, sobre isto Lima de Toledo afirma que, as exceções a este traçado, cidades como Recife e Mariana, devem seu plano regular a agentes externos e não aos esforços portugueses.
As cidades brasileiras, portanto, obedecem às mesmas regras de ordenação espacial das portuguesas e acabam herdando características consequentes da tradição portuguesa como a maritimidade, além, é claro, de constituírem-se como grandes espaços abertos diante das Igrejas e de seus elementos externos como o adro, as escadarias e o próprio cemitério. Dessa forma, muitas das cidades brasileiras, em especial as cidades mineiras, assumem semelhanças, não só de ordenação, mas, inclusive, de topografia, com as cidades portuguesas e acabam tornando-se palco perfeito para a implantação e adaptação da mentalidade e do conceito barroco. A respeito disto o autor afirma:
Essas cidades mineiras lembram as cidades montanhosas do norte de Portugal, com suas ladeiras e terreirinhos (para usar a expressão de Alexandre Herculano). Por vezes em cidades como Bragança (Trás-dos-Montes), temse a sensação de se ter regressado ao Brasil e se estar a percorrer as ruas de Serro, Diamantina, São João Del- Rei, Ouro Preto, Mariana. A mesma topografia, a mesma implantação das casas subindo e agarrando-se às ladeiras.
Em Braga, ou em Guimarães, são as igrejas que nos trazem à mente as capelas das ordens terceiras de Minas Gerais. Em Bom Jesus do Monte, Braga ou em Nossa Senhora dos Remédios, Lamego, a evocação do santuário de Congonhas do Campo é inevitável. Em Guimarães a Igreja do Senhor dos Santos Passos evoca os melhores exemplares do barroco mineiro. (2012, p. 63) Assim, fica claro que para Lima de Toledo o Barroco ganha espaço no Brasil devido à sua rápida adaptação às condições de desenvolvimento que são semelhantes às encontradas pelo estilo da Metrópole. Dessa maneira, o Brasil constitui-se como campo fértil para as mais ricas manifestações do estilo, que mesmo com antecedentes portugueses diretos, acabou ganhando características próprias em terras tropicais.
Na arquitetura, por exemplo, a influência das ordens religiosas portuguesas se faz presente e fortemente influente na construção do conjunto arquitetônico das mais diversas cidades brasileiras. Essas ordens enviam para o Brasil dezenas de pedreiros, carpinteiros, mestres de obras e arquitetos para que estes construam em terras brasileiras Igrejas que sigam o mesmo plano das igrejas portuguesas e, assim, mantenham uma unidade na arte produzida na Metrópole e na colônia. Entre jesuítas, franciscanos e beneditinos o conjunto arquitetônico das cidades brasileiras foi tornando-se real e adaptando-se às condições locais de materiais disponíveis, de clima e de paisagem. Segundo Lima de Toledo um dos exemplos mais notáveis dessa adaptação do estilo ao território brasileiro é o convento franciscano de Santo Antônio em João Pessoa na Paraíba, sobre este o autor afirma:
O convento franciscano de João Pessoa é, por tudo isso, um documento de invulgar importância na arquitetura brasileira. É o coroamento vigoroso de um longo processo evolutivo que deixou no Nordeste conventos de proporções generosas, dotados de claustros notáveis pelo ritmo de suas arcadas e por sua adequação ao nosso clima, de adros acolhedores e frontispícios onde se permitiu aos artistas a realização de apurada obra de cantaria. (2012, p. 116) Nos conventos Beneditinos, a tradição de ser criterioso na escolha de seus arquitetos é transportada juntamente com a ordem para o Brasil. Eram enviados ao Brasil respeitados arquitetos que pudessem trazer para as construções da ordem o máximo de rigor e seriedade, estes, algumas vezes trabalhando em conjunto com aprendizes brasileiros, acabaram nos deixando como herança construções inspiradas em importantes Igrejas européias, como é o caso do Mosteiro de São Bento em Salvador, que, segundo Lima de Toledo tem influência evidente da planta da Igreja de Gesú em Roma. Sobre isto o autor afirma que:
As afinidades com São Bento são inúmeras, a começar pela planta da Igreja. A influência da planta de Gesú, de Roma, é muito clara, incluindo transepto, nave com abóbada, cúpula e capelas laterais intercomunicáveis. O frontispício aproxima-se do primeiro desenho de Vignola para Gesú em 1569. (2012, p. 133).
As ordens religiosas, portanto, acabam fazendo o trabalho de transposição do estilo e de seu conceito para o Brasil, impedindo que este perca sua essência, mas, ao mesmo tempo, permitindo adaptações à nova realidade espacial em que ele está inserido. Dessa maneira, podemos dizer que, para o autor, o conjunto arquitetônico colonial do Brasil sofreu influências do método europeu, mas acabou ganhando novas características devido ao novo ambiente em que estava inserido.
Isso pode ser constatado também na própria arquitetura civil das cidades coloniais do Brasil, que apesar de guardar peculiaridades regionais, segue um estilo e conceito aplicável em todo o território. Ou seja, podemos dizer que, mesmo guardando proporcionais peculiaridades regionais, a arquitetura civil do Brasil colonial segue um padrão nos hábitos construtivos, padrão esse que é diretamente influenciado pelos padrões portugueses.
No Brasil, a arquitetura popular em grande parte é produzida através da técnica do pau a pique que consiste basicamente em fincar esteios no chão, verdadeiras varas dispostas perpendicularmente e amarrá-las com embira3 e depois arremessar barro contra o trançado. A técnica desenvolveu-se a acabou conhecendo formas estruturalmente mais apuradas, sendo utilizada, inclusive na construção de grandes sobrados. Além das construções em pau a pique, podemos citar também as construções em taipa e em granito bem desenvolvidas no Brasil. A chegada de engenheiros europeus ao Brasil acabou contribuindo para uma renovação das técnicas arquitetônicas locais, mas não alterou substancialmente a essência da arquitetura civil no Brasil colonial, que manteve sua personalidade a despeito das influências.
Essas mudanças podem ser observadas não só na arquitetura, mas também na azulejaria, na talha, na pintura, na cerâmica e na escultura barrocas produzidas no Brasil. Lima de Toledo também discorre sobre estes temas em seu livro.
Sobre a azulejaria e a talha, tradições nacionais portuguesas, o autor afirma que encontraram solo fértil para o seu desenvolvimento em solo brasileiro e que, aqui adaptadas, sofreram um processo de renovação, cultivando novas características, algumas destas seriam transportadas para a própria Metrópole. Como afirma o autor, quando diz que:
Os claustros conventuais no Brasil, revestidos de azulejo, evocam os pátios das alcáçovas com seu arejamento aprazível. No Brasil, o azulejo ganhará o exterior dos edifícios e,bem sucedido aqui, esse processo será levado à Metrópole. Um brasileirismo, portanto. Mas não termina aí essa evolução. Em Minas Gerais, na cidades distantes do litoral e dele separadas por péssimas estradas, o uso do azulejo se tornará quase impossível. Surgirá, então, como já vimos, uma solução local: tábuas com bordas recortadas serão afixadas às paredes da capela-mor de igrejas e pintadas de forma a lembrar azulejos. Olhando esses painéis constatamos o quanto se caminhou ao sabor da invenção desde os panos de rás flamengos, dos até a solução mineira. (2012, p. 144) Com relação à talha, podemos entender que ocorre o mesmo processo evolutivo e adaptativo quando esta chega ao Brasil e encontra condições diferenciadas das de seu lugar de origem. Essas mudanças, segundo Lima de Toledo, ficam mais claras quando percebemos que “a imaginária da pedra vai no seiscentismo cedendo lugar à escultura em madeira policromada. Os objetos de culto anteriormente feitos em ouro ou prata dourada passam a ser elaborados em madeira dourada, conservando por vezes o tratamento próprio do metal” (2012, p. 145). Os retábulos brasileiros, portanto, apesar de seguirem o estilo português também cultivam características e personalidade próprias, especialmente aqueles que foram produzidos em terrenos distantes do litoral sob o influxo das atividades de mineração de ouro e diamante, já que esta concentração de riquezas, segundo o autor, atraiu mestres de obras portugueses, o que influenciou a formação de uma intensa vida urbana nessas regiões e, portanto, o florescimento de uma intensa vida cultural. Sobre isto, Lima de Toledo afirma que:
O relativo isolamento das cidades terá tido influência no surgimento de uma arte com personalidade própria, fato por vezes superestimado. Distantes do litoral e dele separados por péssimos caminhos, os núcleos de mineração não podiam ter à mão material trazido como lastro de navio como ocorria nas cidades litorâneas. (2012, p.181) Como não tinham acesso ao material vindo de Portugal, utilizavam-se dos materiais abundantes na região, inclusive do ouro, e isso teria legado às manifestações artísticas da região, à essa época, uma personalidade própria que contribuiu categoricamente para o que se denomina problematicamente de Barroco Brasileiro. Tal denominação enfrenta grandes dificuldades para se afirmar, já que sabemos que “há um descompasso entre manifestações de regiões diferentes, tornando-se problemática a caracterização formal implícita na expressão ‘Barroco Brasileiro’ para um momento específico” (2012, p. 356).
Com relação à pintura, o autor defende que “a pintura do Brasil colonial, como estamos vendo, conheceu uma diversificação em função de vários condicionantes, como região, entidade patrocinadora que por vezes formava seus próprios artistas e fatores circunstanciais” (2012, p. 345). A pintura de forro, por exemplo, que era feita por pintores locais acabou por revelar-se como personalidade da arte colonial manifesta no Brasil, mesmo tendo grandes problemas na denominação estilística.
Um exemplo disso são as pinturas ilusionísticas, que alcançaram grande expressão no Brasil, seguindo a tradição italiana e espalhando-se pelo território, ostentando grande diversidade.
Com relação aos ceramistas o autor afirma que tal arte até hoje ainda sofre certos preconceitos por ser uma manifestação artística que presta-se a artistas de qualquer nível, mas que mesmo assim, podemos dizer que são feitas de barro algumas das melhores e mais ricas peças da arte colonial brasileira, em especial os trabalhos feitos pelos freis Agostinho da Piedade e Agostinho de Jesus. Esses dois artistas traduzem em barro a mesma dramaticidade e emoção características do Barroco e são de grande sensibilidade artística, pois trazem para o barro, com muita competência, temas muitas vezes explorados com materiais considerados mais nobres.
Podemos perceber, portanto, que ao longo do livro, Benedito Lima de Toledo, percorre os mais diversos caminhos para entender e elucidar a arte barroca no Brasil, deixando evidente a matriz portuguesa dessas manifestações, mas fazendo questão de sublinhar a personalidade artística desenvolvida pelo estilo em território tropical.
O autor investiga os diferentes aspectos dos diversos campos de manifestação do Barroco, levando em consideração não só a arquitetura, mas também a pintura, a escultura, a talha e a azulejaria, dando assim um panorama geral que exprime a ideia de que o Barroco no Brasil tem uma personalidade própria.
O autor conclui o livro concordando com Victor Tapié, quando este alerta para o problema das denominações de estilos, já que acredita que uma denominação só é válida para orientar pesquisas. E, portanto, foi baseado nisto que Lima de Toledo escreveu, consciente de que os rótulos estilísticos e cronológicos não dão conta dos descompassos da arte no Brasil e que termos como arte colonial e Barroco tornamse apenas denominações que orientam e organizam a pesquisa, mas que por vezes perdem seu significado.
Dessa maneira, Lima de Toledo nos faz crer que o Barroco luso-brasileiro não obedece a enquadramentos cronológicos e cultiva, apesar de seus íntimos antecedentes portugueses, características próprias que foram desenvolvidas devido ao contato com a realidade colonial e que foram, antes de qualquer coisa, produto das novas relações estabelecidas entre Metrópole e Colônia, assim o autor afirma que “o maneirismo, o barroco e o rococó escapam aos enquadramentos regionais e cronológicos globalizadores, sendo, nesse aspecto, imagem do próprio país”.
(2012, p.356) Portanto, podemos dizer que mesmo intimamente ligado a Portugal, o Barroco encontra seus caminhos e descaminhos em solo brasileiro e traduz as contradições do Brasil dando expressão aos desejos de autoafirmação da nação.
Notas
2 Em 1640 Portugal torna-se livre do jugo espanhol e coloca fim na chamada União Ibérica, tornandose novamente um país independente, restaurando assim o trono português. Este processo teria como conseqüência a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e, dessa maneira, a restauração do poder português sobre as terras do Brasil.
3 Fibra extraída da casca de algumas árvores, para a confecção de barbantes e cordas.
Izabel Maria dos Santos – Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em História da Arte, Patrimônio e Turismo Cultural pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E-Mail: <izzabelmds@ gmail.com>.
[MLPDB]Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América Portuguesa – Século XVIII – IVO (S-RH)
IVO, Isnara Pereira. Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América Portuguesa – Século XVIII. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2012, 355 p. Resenha de: CHAVES, Elisgardênia de Oliveira. Gentes, cores e formas: mobilidades de produtos e saberes nos sertões de fronteiras tênues. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [29] jul./dez. 2013.
Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América portuguesa – Século XVIII, de Isnara Pereira Ivo, foi lançado em 2012 pelas Edições UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – na qual a autora do livro é pesquisadora e professora). O estudo é fruto da Tese de Doutorado, concluída em 2009 pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O título do livro é sugestivo. É uma obra que, como salienta Eduardo França Paiva, autor do prefácio, discute “as formas de locomoção, de transporte e de comércio que se desenvolveram a partir [dos] caminhos, assim como as dinâmicas de ocupação das regiões e de integração do interior da América Portuguesa, isto é, dos imensos sertões” (p.13).
As relações “não só econômicas” nos sertões, por Isnara analisadas, estabeleceram-se, mais precisamente, entre o Norte da Capitania de Minas Gerais (Comarca do Serro Frio) e os sertões da Capitania da Bahia, quais sejam: o Sertão da Ressaca (fronteira com o norte da Capitania de Minas Gerais) e o Alto sertão da Bahia (Vila de Rio das Contas), durante o século XVIII.
As perspectivas teórico-metodológicas e conceituais para as análises da documentação e compreensão do contexto histórico pautam-se em uma variedade de autores e obras que vem fomentando uma reescrita da História sobre os sertões, bem como do mercado e vias de abastecimento interno do império português.
Dentre esses autores, têm-se: Eduardo França Paiva, Serge Gruzinski, Maria Odília da Silva Dias, Júnia Ferreira Furtado, Douglas Cole Libby, John Russell-Wood, Antonio Manoel Espanha, além de autores clássicos como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Charles Boxer.
A pesquisa empírica, com poucas exceções, foi realizada em Arquivos Brasileiros como o Arquivo Público Mineiro (APM), em Belo Horizonte; Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), em Salvador; Arquivo do Fórum João Mangabeira (AFJM), em Vitória da Conquista; e Arquivo Municipal de Rio da Contas (AMRC).
O arcabouço documental é muito variado, de diversos tipos, compondo-se de alvarás, cartas e ordens régias, cartas patentes, inventários, testamentos, atas de câmara, correspondências de vice-reis, governadores, superintendentes e capitãesmores, diário de registros fiscais, livros de nota, crônicas, relatos de viagens, mapas, iconografia, entre outros.
A par dessa documentação submetida a um sistemático tratamento qualitativo e quantitativo, a abordagem metodológica pauta-se em uma análise que não menospreza os índices estatísticos, ao mesmo tempo em que não se limita a eles.
Para além das séries numéricas que consistem em organizar informações esparsas em tabelas, possibilitando dados gerais para se compreender comportamentos demográficos e características populacionais dos sertões, Ivo investiga as pessoas pelos nomes.
Por meio dos nomes, Isnara traça trajetórias, desvenda e interpreta significados sobre as relações travadas e vivenciadas pelos sujeitos – homens de caminho:
portugueses, africanos, indígenas, crioulos, mestiços, mulatos, cabras, curibocas, homens, mulheres, livres, forros e escravos. Em outras palavras, de onde vieram, a que categorias sociais e que grupos étnicos pertencem e como foram miscigenandose biológica e culturalmente. Por esse prisma, compreendemos que o trabalho da autora dialoga com os estudos dos micro-historiadores ao se deter sobre a trajetória de um indivíduo ou de grupos de pessoas.
Essa pluralidade de tipos, e consequentemente as conexões por eles travadas, constitui a problemática central para se compreender as dinâmicas que forjaram a formação socioeconômica e cultural dos sertões por ela analisados. A concepção de sertão em movimento e conectado, portanto, perpassa toda a obra.
Para Isnara Pereira Ivo, a historiografia que retrata o sertão surgiu com relatos sobre sertanistas e bandeirantes nos primeiros anos do século XVIII. Nela, “a categoria sertão foi utilizada para identificar as regiões não litorâneas e referiase a lugares pouco povoados, nos quais a atividade econômica limitava-se à pecuária” (p. 32). Nesses estudos, o sertão foi “considerado inculto e cheio de façanhas barbarescas” (p. 32). Um sertão “concebido como o abrigo da pobreza, da desordem e do isolamento, características opostas à forma de viver das regiões litorâneas, consideradas espaços privilegiadas para a civilização, para a diversidade econômica e para o exercício da política” (p. 32).
Diferente da imagem de fixidez que o sertão do período foi imaginado pela literatura e pela historiografia, a nova realidade historiográfica, bem como a documentação por Isnara analisados, lhes possibilitou constatações sobre a fluidez das populações e os constantes encontros e mudanças entre os habitantes de terras diferentes, fazendo dessas paragens locais de misturas e trocas de conhecimentos e hábitos.
Ancorada nesse conceito de sertão, no decorrer do primeiro capítulo, Isnara analisa a trajetória de três europeus: o italiano Pedro Leolino Mariz; o mulato, filho de portugueses, João da Silva Guimarães; e o preto forro, nascido em Portugal João Gonçalves da Costa, como “protagonistas e agentes da interiorização portuguesa nos sertões de Minas Gerais e da Bahia, no setecentos” (p. 28) A partir da ação desses agentes que interiorizaram e, portanto, conectaram os sertões ao mundo ultramarino, Isnara Pereira Ivo discute o processo de mundialização, empreendido por portugueses e espanhóis, quando da união das Coroas Ibéricas, cuja expansão intercontinental “fomentou trânsitos e circulações inéditas” (p. 29), envolvendo pessoas “dos quatro cantos do mundo, conectando continentes” (p. 29). Essa movimentação “em escala planetária alimentou não apenas grandes deslocamentos demográficos”, mas também, “a circulação de pessoas de origens distintas e distantes, trazendo consigo os mais variados e inusitados conhecimentos, crenças, práticas, sentimentos e gostos” (p. 29).
Pelo prisma da mundialização, conexão e planetarização entre os continentes europeu, africano, asiático e americano, ocasionados pela mobilidade do império ultramarino, a perspectiva da autora dialoga com a concepção de História Atlântica, muito difundida por parte de uma vertente historiográfica brasileira, nas últimas décadas.
Essa perspectiva, segundo Russell-Wood, pauta-se em intercâmbios entre e dentro os quatro continentes ao redor do Oceano Atlântico – Europa, África, América do Sul e a América do Norte – e todas as ilhas contíguas a esses continentes e naquele oceano:
[…] as conexões, interconectividade, redes e diásporas que ligam a Europa, as Américas e a África; intercâmbio, seja de indivíduos, de flora e fauna, de mercadorias e produtos, seja de línguas, de culturas, de manifestações de fé, e de costumes e práticas tradicionais; um Atlântico caracterizado pelo movimento, pelo vaivém, e transições, e a vários ritmos de aceleração; e um mundo onde instituições, mesmo reinos, se formam, reformulam-se de um modo distinto, fragmentam-se, apenas para reaparecerem com uma nova configuração. Um conceito inerente a esta história é que nenhuma parte possa existir em isolamento.2 No entanto, mesmo dialogando com essas concepções, Isnara vai além de uma História Atlântica, já que não se pode pensar em interconectividade continental ou mundial deixando de lado o Índico, o Pacífico, o Mediterrâneo.
No segundo capítulo, ao analisar as atividades comerciais nos sertões mineiro e baiano, bem como os caminhos que proporcionaram a imersão do poder colonial e intensificaram o processo de trocas culturais com as áreas mineradoras das Minas Gerais e do império português, Ivo traz mais elementos que intensificam essas afirmações. Nas palavras da autora:
Seja através de caminhos permitidos ou proibidos, nestas áreas de trânsito circularam escravos, alimentos e pessoas livres que portavam produtos e culturas de origens distintas. As atividades neste comércio multifacetado eram exercidas por mulheres e homens livres, forros e escravos que circulavam nos sertões conduzindo não só produtos da terra, mas também mercadorias de luxo vindas da Europa e da Ásia que eram consumidas nas duas partes dos sertões. (p. 116).
Ao enfatizar a dinâmica interna, a autora põe em cheque o conceito de Antigo Regime para a América Portuguesa, desenvolvido por parte da historiografia brasileira. Em linhas gerais, os defensores dessa perspectiva, “concluem que a natureza arcaica da metrópole portuguesa reiterou uma estrutura tradicional e agrária na Colônia, e que a apropriação do excedente reproduziu e perpetuou, na Metrópole, uma estrutura econômico-social vinculadas ao Antigo Regime” (p.119).
Para Isnara, o uso indiscriminado desse conceito para a sociedade colonial não tem considerado o escravismo. Na realidade, houve “práticas do Antigo Regime na sociedade colonial escravista, mas não de um Antigo Regime” (p. 119), pois “a composição social profundamente mestiça propiciou formas de organização maleáveis e dinâmicas, tonificando, inclusive, um mercado interno fortemente lastreado no poder de consumo de camadas médias urbanas, compostas, em boa medida, por forros e não brancos, nascidos livres” (p. 119).
Em contraposição, Ivo considera mais adequada a ideia de um império ultramarino, na qual se vincula a constituição de uma conjuntura específica no Atlântico Sul, a partir do século XVII. Essa visão permite compreender laços entre Brasil e África e estabelecer elos entre esses dois universos culturais.
Ao escrever sobre os principais caminhos de terra e de água que alimentavam o trânsito pelos sertões, possibilitando o desenvolvimento de um mercado interno, Isnara Pereira Ivo destaca os caminhos fluviais e afirma que na América, assim como na África, “as redes fluviais eram vitais para o comércio Atlântico” (p. 129) e que “de maneira semelhante à corrida nas terras africanas, as ações dos agentes integralizadores nos sertões, Mariz, Guimarães e Costa fizeram parte do processo de conquista do interior da América portuguesa” (p. 129).
A integralização entre os sertões mineiro e baiano, em fins do século XVII, foi aguçada pela descoberta de ouro. A partir desse momento, as autoridades portuguesas adotaram e intensificaram medidas disciplinadoras de ocupação, exploração e tributação das atividades mineradoras.
No decorrer do capítulo, os caminhos e suas várias artérias são bem especificados e ilustrados por mapas, indicando a visualização dos espaços. A descoberta do ouro impulsionou o surto migratório e contribuiu para a abertura dos caminhos para as Minas Gerais. O Caminho Geral do Sertão era formado a partir das rotas interligadas pelas cabeceiras dos rios das Velhas, das Mortes e Doce que atingiram a parte superior do Rio São Francisco. Do lado oposto, o Caminho Velho passava por Paraty e conectava o Rio de Janeiro as Minas Gerais. Já o Caminho Novo, conhecido também como Estrada Real – do Rio de Janeiro a Vila Rica – passava pela baía de Guanabara, ligando o Rio de Janeiro à região mineira.
Por fim, Isnara enfatiza as formas de administração e contratos sobre as entradas dos muitos caminhos e rios que davam acesso e interligava a Bahia e as Minas Gerais e traz várias tabelas referentes aos nomes dos contratantes responsáveis pelas estradas e passagens dos rios que davam acesso aos espaços em estudo.
O desenvolvimento das atividades mineradoras e comerciais e as medidas de controle sobre a arrecadação dos impostos, fundição e escoamento aurífero são analisados com mais detalhes no terceiro capítulo. Novamente, tabelas, mapas e uma iconografia sobre ferramentas, meio de transporte fundamentam as análises.
Em relação à atividade mineradora do Novo Mundo, as conclusões são de que essas atividades abrigaram conhecimentos dos quatro continentes. Para a autora, “nos sertões, as técnicas, instrumentos de trabalho, saberes indígenas e europeus de diferentes lugares, agregam-se às experiências vindas de várias partes da África e da Ásia e formam, ali, infinitos espaços mestiços” (p. 229). Desse modo, “o conceito de mestiçagem instrumentalizado para compreender o sertão em movimento, vincula-se aos trânsitos planetários intensificados com a união das coroas católicas” (p. 229).
O intercâmbio, seja de indivíduos, de técnicas de flora e fauna, de mercadorias e produtos seja de línguas, de culturas, de manifestações de fé, de costumes e práticas tradicionais, delineou o universo cultural do Brasil Colonial, marcado por essa mobilidade interna, proporcionada pelos encontros entre esses distintos elementos étnicos. Mesmo que Isnara Pereira Ivo não fale explicitamente em dinâmicas de mestiçagens, suas análises sobre mobilidade, trânsito, maneiras de viver e formas de pensar, de negociar, mesclas biológicas e culturais, corroboram para a definição de conceito.
Conceito, esse, cada vez mais sedimentando nos estudos de uma corrente historiográfica, em que autores como Eduardo França Paiva, Serge Gruzinski, Carmem Bernand, Berta Arres Queija, dentre outros, primam pela análise da complexidade do processo e dos agentes, não necessariamente mestiços, mas que pelos contatos em diferentes espaços e ocasiões – no ambiente de trabalho, nos caminhos, nos mercados, em festas, cerimônias religiosas e de diferentes formas:
efêmeros, voluntários ou forçados – fomentaram circulações de ideias, surgimento de relações afetivas, familiares, potencializando misturas biológico-culturais3.
É importante ressaltar que essas concepções de mestiçagens assentam-se em noções contemporâneas sobre o termo, já que não se relaciona com as propostas “racialistas” pensadas no século XIX , mas comungam com pontos de vista que analisam a questão sob o prisma do encontro, da mistura da convivência, conveniência e coexistência entre os elementos étnicos: brancos, negros e índios.
A mestiçagem populacional não constitui um fenômeno biológico apenas do cruzamento genético como também, “não se reduz a uma concepção que valorize uma cultura, etnia ou raça superior por meio do processo eugênico, como foi proposto por alguns viajantes e teóricos dos séculos XVIII, XIX e XX”4.
Desse modo, “o grande problema do conceito de mestiçagem para seus críticos assenta-se no caráter que associa a mistura biológica entre os seres com a ideologia racial de inferioridade e superioridade, largamente difundida no século XIX”5.
É importante pensar a mestiçagem em diversas temporalidades e locais, o que já nos remete a uma concepção relacional e indissociável entre o biológico e o cultural. Nesse aspecto, torna-se importante diferenciar o que se entende por processo de mestiçagem e a definição de mestiço. Afinal o mestiço é a derivação desse processo que envolve o biológico, o físico e o cultural e constitui-se na mistura resultante dele. Do ponto de vista populacional, mestiço significa descendente de indivíduos biológica e culturalmente diferentes e\ou individuo cujos pais ou ascendentes são de etnias diferentes.6 Os perfis dos homens de caminho – comboieiros, tropeiros, viandantes –, pessoas que ao conduzirem suas vidas pelos caminhos transportavam também alimentos, animais e objetos consumidos pelos moradores dos sertões, são objeto do quarto e último capítulo.
Aspectos relacionados a formatos de rostos, de corpos, tipos e cores de cabelo, barbas e olhos, qualidade e condição – “expressões usadas na documentação setecentista portuguesa e espanhola para se referir aos vários tons de pele, origens e fenótipos” (p. 252) – compõem os elementos essenciais nas análises. As conclusões são de que, ao contrário do que defendeu boa parte da historiografia para a América Portuguesa e Espanhola, até as últimas décadas do século XX, não se pode correlacionar a cor da pele à condição social, ou seja, nem todo branco era livre e nem todo negro era escravo. A par das considerações de Douglas Cole Libby7, Ivo afirma que, durante no século XVIII, as pessoas podiam perder ou mudar de cor com certa facilidade. Desse modo, “as categorias brancos e negros são construções históricas que adquirem significados específicos conforme os agentes sociais e os momentos históricos vivenciados” (p. 254). Condição social e qualidades são elementos emblemáticos que acentuam ainda mais as dinâmicas nos sertões.
De acordo com a documentação analisada, a partir da qual Isnara construiu várias tabelas nesse capítulo, os comerciantes, com suas idas e vindas por aquele imenso território, com mobilidade e autonomia, declararam passagens nos registros oficiais fiscais e são descritos como homens, mulheres, brancos, negros, índios, pardos, crioulos, livres, escravos e forros. Para o caso das mulheres, a autora contesta uma historiografia que tem mostrado a forte presença feminina associada apenas ao comércio ambulante de produtos alimentícios – as chamadas negras de tabuleiro, bem como, ao pequeno comércio de abastecimento das áreas mineradoras. Nessas concepções, as mulheres comercializavam, sim, mas em espaços caracterizados como femininos.
As mulheres de caminho, “ao contrário, conduziam toneladas de mercadorias em surrões, concorrendo com homens que viviam dessa atividade” (p. 306).
Na realidade, mulheres livres e pobres, escravos e escravas, forros e forras “desempenharam papéis, tidos como próprios de uma elite branca, que tinha a permissão de integralizar os espaços coloniais com práticas comerciais” (p. 306).
Para além disso, não se pode deixar de frisar, que ao contrário do que se pensou, a produção aurífera não abafou a produção de gêneros alimentícios diversos nas Minas Gerais. A Bahia, da mesma forma, era dotada de uma estrutura alicerçada na produção de vários gêneros e gado capaz de abastecer diversas localidades.
Esses gêneros, portanto, além de ouro e pedras preciosas, eram conduzidos pelos homens de caminho, consumidos pelos moradores dos sertões e exportados para outras capitanias e, consequentemente, para outros continentes, a exemplo da Europa e da África.
Por fim, no vai e vem pelos imensos caminhos, há de se destacar os constantes desvios dos postos fiscais. Os “descaminhos” de mercadorias eram facilitados pelas artérias e veredas desconhecidas pelas autoridades e, por isso, a preocupação por parte dessas em ampliar medidas de combate através de diferentes meios, como bandos, portarias e interditos de contenção da evasão fiscal.
As vontades próprias em relação às estratégias de comercialização, ou seja, essas atitudes comerciais destoantes do poder imposto pela legislação portuguesa para as formas de produção e venda na Colônia pensadas com base em práticas culturais complexas e, portanto repletas de contradições e conflitos, dialoga com a concepção de Ginzburg, para quem a cultura “oferece ao indivíduo um horizonte de possibilidades latentes – uma jaula flexível e invisível dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um”8.
A par das informações postas, aqui, de forma generalizada, tendo em vista a complexidade e beleza da obra Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América portuguesa – Século XVIII, ao integrar e aprofundar análises historiográficas desenvolvidas, sobretudo nas últimas décadas do século XX, a partir de perspectivas que primam por uma História conectada, cujos agentes sempre em trânsito, seja por mares, oceanos, rios e/ ou pelos sertões, construíram caminhos, integraram continentes e territórios, garantindo povoamento, ocupação, comércio e, portanto conexões, misturas biológicas e culturais extremamente complexas, é leitura obrigatória.
Quem dera que nossa historiografia já fosse sedimentada por estudos dessa natureza sobre outras partes desses imensos sertões brasileiros, a exemplo dos sertões móveis e conectados, também, pela irradiação das boiadas, sobre os quais Capistrano de Abreu, no início do século XX, já chamava a atenção: “pode-se chamar pernambucanos os sertões de fora, desde a Paraíba até o Acaraú no Ceará; baianos os sertões de dentro, desde o Rio São Francisco até o Sudoeste do Maranhão”9. Somente a partir de ações como essa, podemos produzir histórias cada vez mais conectadas e comparadas.
Notas
RUSSELL-WOOD, A. J. R. “Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a ‘Atlantic History’”. História, São Paulo, USP, vol. 28 , n. 1, 2009, p. 20-21.
3 Dentre outros estudos ver: QUEIJA, Berta Arres & GRUZINSKI, Serge (coords.) Entre dos mundos; fronteiras culturales y agentes mediadores. Sevilha: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1997; BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. Histoire du Nouveau Monde: les métissages, 1550-1640. Paris: Fayard, 1993; PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo: uma história lexical das Américas portuguesa e espanhola, entre os séculos XVI e XVIII (as dinâmicas de mestiçagem e o mundo do trabalho). Tese (Concurso de Professor Titular de História do Brasil). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.
4 CERCEAU NETTO, Rangel. “População e mestiçagem: a família entre mulatos, crioulos e mamelucos em Minas Gerais (séculos XVIII e XIX)”. In: PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira & MARTINS, Ilton César (orgs.). Escravidão, mestiçagens, população e identidades culturais. São Paulo: Annablume, 2010, p. 166.
5 CERCEAU NETTO, “População e mestiçagem…”, p. 168-169.
6 CERCEAU NETTO, “População e mestiçagem…”, p. 168.
7 LIBBY, Douglas Cole. “A empiria e as cores: representações identitárias nas Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX”. In: PAIVA, IVO & MARTINS, Escravidão, mestiçagens…
8 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição. Tradução de Maria Betânia Amoroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 27.
Elisgardênia de Oliveira Chaves – Doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bolsista Capes. E-mail: <elis_ [email protected]>.
[MLPDB]Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços – PAIVA et al (S-RH)
PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira; AMANTINO, Márcia (Orgs.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. Belo Horizonte: PPGH-UFMG; São Paulo: Annablume, 2011, 284 p. Resenha de: SILVA, Kalina Vanderlei. Um manifesto sobre os usos dos conceitos na História. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [27] jul./dez. 2012.
Dentro do atual cenário acadêmico brasileiro, e de suas rigorosas exigências em torno da produção científica – exigências muitas vezes mais quantitativas que qualitativas –, os grupos de pesquisa vêm agindo como verdadeiros palcos para o desenvolvimento do debate científico e da pesquisa sistemática, chamando a atenção tanto das instituições de investigação quanto das agências de fomento. No entanto, especificamente no campo historiográfico, nem todos conseguem de fato realizar um trabalho efetivo de diálogo entre diferentes instituições e ao mesmo tempo apresentar os resultados para o público mais amplo de pesquisadores.
Nesse sentido, o Grupo de Estudos Escravidão e Mestiçagens tem se destacado positivamente por conseguir ultrapassar as exigências básicas postas a seus congêneres ao reunir regularmente pesquisadores de várias regiões brasileiras. Seus integrantes compartilham um interesse temático que gira em torno da diversidade de situações coloniais – sempre observadas em suas especificidades, mas jamais desligadas das múltiplas conexões externas às Américas – e de uma preocupação teórico-metodológica com os conceitos empregados na construção do saber historiográfico.
Apesar de sediado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, o grupo – cujos primórdios datam de uma primeira reunião realizada no âmbito do XXIII Simpósio Nacional de História2 – não apenas congrega historiadores para discutir conceitos teóricos e metodologias de investigação, mas também vem produzindo obras de qualidade, como o recente Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços.
Privilegiando uma metodologia comparativa, embasada sempre em detalhada pesquisa documental cujos objetos são colocados em espaços coloniais específicos e bem definidos, os autores discutem as possibilidades conceituais no estudo da escravidão e das mestiçagens coloniais, inquietando-se acerca de quais conceitos e categorias podem ser empregados – e de que forma podem ser empregados – a fim de maximizar a compreensão o mais aproximada possível das realidades coloniais, de seus múltiplos personagens e de suas tão distintas identidades.
Terceiro livro da série, ‘… Paisagens e Espaços’ traz questionamentos que aprofundam e espelham outros já visíveis nas duas obras anteriores: no primeiro livro, ‘Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas’, a reflexão principal girava em torno da utilização da metodologia comparativa em estudos sobre os dois grandes conceitos do grupo3; no segundo livro, por sua vez, ‘Escravidão, mestiçagens, populações e identidades coloniais’, a preocupação basilar eram as identidades4.
Por outro lado, tanto a metodologia comparativa quanto os estudos identitários podem ser percebidos também em ‘Escravidão, Mestiçagens, Ambientes, Paisagens e Espaços’, o que dá aos três livros uma coerência interna e os apresenta como obras conectadas, realmente integrantes de uma série.
Assim é que, dando continuidade a essas discussões, os organizadores defendem na apresentação de sua terceira obra, além do cuidado com os conceitos relacionados ao mundo colonial – seu tema mais recorrente –, também a necessidade de focar outros espaços que não os urbanos, já que esses são em geral pensados de forma privilegiada pela historiografia como cenários para os jogos políticos coloniais. E para levar essa proposição a cabo, Eduardo França Paiva, Isnara Pereira Ivo e Márcia Amantino – historiadores em atividade respectivamente em Minas Gerais, na Bahia e no Rio de Janeiro – dividem sua obra em duas partes: a primeira, mais extensa, abrangendo o período colonial e a segunda se debruçando sobre o século XIX. Nesta última, o recorte espaço-temporal privilegiado se distancia do cenário favorito do grupo, a sociedade colonial americana. Apesar disso, os artigos mantêm a conexão temática e teórica ao enfocar aspectos das relações socioculturais estabelecidas por escravos, forros e livres do Império brasileiro a partir de premissas discutidas para os espaços coloniais.
Os capítulos de ‘…Paisagens e Espaços’ seguem uma perceptível divisão temática: o olhar sobre as paisagens urbanas perpassa principalmente os artigos de José Newton Menezes, de Carla Mary de Oliveira, de Maciel Carneiro Silva e de Luiz Gustavo Cota, enquanto o mundo para além das ruas escravistas é estudado por Isnara Pereira Ivo, que se debruça sobre o sertão, e Márcia Amantino, que focaliza as fazendas jesuítas. Por sua vez, a preocupação com os atores sociais dentro desses espaços preenche as páginas de Maria Lemke, Marcelo Rocha e Renato Rangel, que se preocupam com aspectos particulares das vidas de personagens mestiços, usando diferentes conceitos para abordá-los: pardos, mulatos, mamelucos. Já Eliane Garcindo e Eduardo Paiva, por seu turno, propõem reflexões conceituais mais amplas sobre as identidades mestiças, enquanto João Azevedo Fernandes traça uma revisão historiográfica, ou como ele denomina uma ‘arqueologia cultural’, dos mamelucos em autores clássicos tais como Freyre e Darcy Ribeiro.
De forma geral, percebe-se uma coerência teórica na abordagem das mestiçagens pelos múltiplos autores que seguem, basicamente, a definição de mestiçagem estabelecida por França Paiva na apresentação da obra: nela, Paiva expressa a fé de ofício do grupo, propondo a compreensão das mestiçagens enquanto mesclas bioculturais processadas nas dimensões complexas e dinâmicas dos espaços coloniais ibero-americanos5. Por outro lado, as espacialidades – um dos focos temáticos principais do livro – são abordadas com diferentes ênfases ao longo do texto.
O tratamento conceitual mais aprofundado dedicado a estas está no texto de José Newton Coelho Menezes. Em seu artigo ‘Escalas espaço-temporais e História Cultural: reflexão de um historiador sobre o espaço como categoria de análise’, ele se debruça sobre o uso historiográfico de conceitos de espacialidade, estabelecendo definições que pensam o lugar enquanto produto da ação humana, e a paisagem enquanto espaço percebido pelos sentidos. Tomando as Minas setecentistas como recorte, Menezes defende uma abordagem que busque compreender a relação entre identidades e espacialidades sempre considerando as características históricas da construção do lugar estudado. Esse seria o caso do estudo dos limites entre o urbano e o rural que o autor utiliza como exemplo: partindo de uma análise que considera as características urbanas comuns dentro do Império português, ele descreve uma complexa malha de lugares na capitania das minas, buscando pensar dentro dela o lugar dos escravos. Em cima dessa base empírica, ele passa a enfocar a historicidade dos conceitos de espaço, ou seja, como esses conceitos são não apenas construídos mas também mutáveis ao longo do tempo: conceitos tais como lugar – o lugar de determinados personagens na paisagem. Propõe assim que os lugares dos escravos na sociedade colonial, por exemplo, sejam buscados através dos sentidos que possuíam então.
Essa preocupação com a construção e a mutação dos significados dos termos, expressões e conceitos coloniais – uma inquietação que aponta para a preocupação mais profunda com a reconstrução exata das formas de pensar e socializar-se no mundo colonial – perpassa todos os textos do livro. Chamada de “polissemia dos termos colonial”, ela aponta para a busca pelas identidades como objetivo principal da maioria dos autores de ‘… Paisagens e Espaços’. Caso de Marcelo Rocha que em seu artigo ‘Vidas mescladas: mulatos livres e hierarquias na Nova Espanha (1590- 1740)’ reflete, baseado em ampla documentação hispânica, sobre as identidades mulatas no México colonial. Identidades não apenas mutáveis, mas também muito dependentes da relação que os grupos sociais que as construíram mantinham com o sistema de castas vigente no Império espanhol. Para Rocha, inclusive, essas identidades dependiam da capacidade dos atores de “instrumentalizar condições de assimilação aos distintos contextos a partir das relações grupais ou interpessoais”6. O que significa, de fato, que as identidades mestiças nada tinham de estáveis nem de fixas, mudando conforme os personagens se adaptavam a novos cenários, geográficos ou sociais.
Importante ressaltar que ‘… Paisagens e Espaços’ se apresenta como um verdadeiro panorama da diversidade dos espaços coloniais no mundo iberoamericano: seus autores, se em sua maior parte continuam a privilegiar os espaços urbanos, por outro lado privilegiam diferentes espaços urbanos: das vilas mineiras setecentistas às capitanias do norte do Estado do Brasil. E fora dos espaços urbanos a heterogeneidade também prevalece: dos sertões baianos às fazendas jesuítas, do mundo andino à Nova Espanha.
Ainda em torno dos espaços urbanos coloniais, Carla Mary S. Oliveira se apropria de uma abordagem cara ao grupo Escravidão e Mestiçagem ao analisar a produção artística barroca de Minas Gerais e das Capitanias do Norte do Estado do Brasil de forma comparada. Com um olhar treinado pela História da Arte, a autora enfoca trajetórias de vida de artesãos mestiços em um texto cujo repertório documental está fundado sobre os forros de igrejas e os óleos sobre madeiras que constituem o patrimônio visual dos templos das irmandades/ ordens religiosas em Minas Gerais, Recife, Salvador e João Pessoa. Esmiuçando os elementos pictóricos dessas fontes, ela busca compreender as representações artísticas que os artesãos, eles mesmo mestiços, construíam sobre as mestiçagens no mundo colonial.
Sem desconsiderar as rígidas imposições de regras artísticas que a Igreja tridentina trazia para o mundo colonial, a autora reflete sobre as “estratégias de apropriação e ressignificação que se cristalizaram na arte religiosa colonial dos séculos XVII e XVIII no Brasil, estratégias essas que historiadores como Gruzinski chamam de hibiridização”7. E se em seu texto a influência de Serge Gruzinski é mais direta, essa influência paira, por outro lado, em muito da produção dos pesquisadores do grupo Escravidão e Mestiçagem.
Se no capítulo de Oliveira as identidades são buscadas dentro de cenários urbanos coloniais, no trabalho de Isnara Ivo essas identidades são perseguidas nos sertões. Os personagens de Ivo são os chamados ‘homens de caminho’, comerciantes de diferentes etnicidades que percorriam, constantemente, os interiores coloniais da América portuguesa. Trabalhando sobre registros fiscais, a autora procura desenhar um retrato desses personagens, ousando analisar as descrições físicas trazidas pelos documentos. Assim, as descrições setecentistas de barbas, cabelo e cor dos olhos, tornam-se, em sua abordagem, elementos para reflexão não apenas sobre o imaginário e as identidades coloniais, mas também sobre as próprias conceituações generalistas usadas pela historiografia em torno do difícil personagem do mestiço. Tudo isso, todavia, sem fugir do recorte teórico dedicado às espacialidades.
No entanto, se as espacialidades compõem a temática central da obra, em associação com os conceitos de escravidão e de mestiçagem, isso não significa que todos os autores prefiram focá-las de forma central em seu trabalho. Assim é que alguns capítulos, como o de Maria Lemke sobre Goiás e o de Rangel Cerceau sobre Minas Gerais, cuidam menos de especificar as espacialidades, apesar de perceptivelmente focarem urbes coloniais, e mais de analisar identidades e formas de sociabilidades. Por um lado, Lemke se utiliza de uma metodologia cada vez mais atual na historiografia para melhor compreender os contextos e estruturas sociais: o estudo de trajetórias de vida; uma metodologia devedora de Ginzburg, apesar de não creditada a ele no texto. A partir dessa abordagem ela segue alguns ortodoxa’ de alguns governadores régios, ampliaram seus espaços de ação em Vila Boa, Capitania de Goiás. Assim é que através da descrição da correspondência administrativa, a autora descortina um cenário de conflitos políticos que envolviam ‘homens bons’ e representantes régios, mas também pardos ascendidos a posições oficiais.
Já o tema de Cerceau são as famílias. De fato, são “as mesclas envolvendo as uniões familiares constituídas por indivíduos desiguais social e culturamente”8. Assim como Lemke, ele também realiza estudos de caso sobre trajetórias de personagens específicos: no seu caso, as mulheres forras. Com relação à metodologia, sua abordagem dá uma atenção especial às conceituações setecentistas que poderiam influenciar as representações identitárias desses personagens. Assim é que ele analisa as definições de dicionaristas, pintores e cronistas para tentar se aproximar das imagens vigentes, nos setecentos, sobre os crioulos9.
Todas essas considerações conceituais em torno das mestiçagens e espacialidades, associadas ao contexto escravista americano ficam, de fato, bem exemplificadas no texto de Eliane Garcindo de Sá. Em seu artigo, intitulado ‘Identidade, espacialidade e territorialidade: reflexões sobre a presença africana no universo colonial’, Sá se debruça sobre crônicas andinas para questionar as espacialidades em sua relação com as representações construídas sobre as identidades coloniais. Seguindo uma das mais fortes premissas do grupo – a de buscar as interpretações próprias aos muito diversificados grupos mestiços sem concessões às leituras eurocêntricas e teleológicas impostas pela historiografia –, a autora lê as crônicas indígenas andinas em busca de suas versões próprias acerca da presença dos estrangeiros – fossem espanhóis fossem africanos – nos espaços incaicos. E nessa trilha ela identifica em algumas dessas crônicas um “libelo contra a mestiçagem”10. Além disso, a autora percebe a noção de território como um fator fundamental nas definições identitárias estabelecidas dentro dos domínios da Monarquia Católica, contexto no qual seus personagens se inseriam: para ela, os autores indígenas, eles próprios mestiços como Poma de Ayala, definiam africanos, espanhóis e descendentes de ambos como estrangeiros a partir de uma consideração geográfica, associando sempre as identidades desses personagens a seus territórios de origem. O que tornava esses autores – mestiços que nem sempre se autoidentificavam como tal, lembremos – opositores do próprio processo de mestiçagem. Esta mestiçagem, por sua vez, sempre entendida em suas páginas como a permanência de atores sociais estrangeiros, de fora daquelas espacialidades específicas.
Entre os textos que pensam as espacialidades não urbanas está, por sua vez, o capítulo de Márcia Amantino sobre as fazendas jesuíticas. Compondo um detalhado estudo de caso focado em uma fazenda específica – a fazenda de São Cristóvão no Rio de Janeiro setecentista – a autora apresenta dados de extrema relevância para a história da escravidão, bem característicos de uma tradicional História Social: dados populacionais, principalmente. Uma abordagem compartilhada também por Carlos Engelman, que discorre sobre as identidades crioulas no Vale do Paraíba também a partir de densos dados seriais.
Mas Engelman, por sua vez, vem se somar já à segunda parte de ‘…Paisagens e Espaços.’ E se esta é consideravelmente mais curta e menos coesa que a primeira, apesar disso ela traz interessantes contribuições para a discussão temática geral da obra: além de Engelman também Maciel Silva, que compara as ruas de Salvador e Recife a partir do personagem das domésticas, dialoga ativamente com as principais questões do grupo, desde a metodologia comparativa até os problemas identitários. Entre os dois estão os textos de Luiz Gustavo Cota – mais culturalista, centrado em festividades abolicionistas estudadas a partir de uma abordagem que mistura discursos, memória e a própria espacialidade urbana para compreender a difusão e as leituras da ideia de liberdade – e de João Azevedo Fernandes com sua crítica historiográfica que pinça a imagem do mameluco desde Varnhagen até Darcy Ribeiro.
Assim, em seu conjunto todos os textos de Escravidão, Mestiçagens, Ambientes, Paisagens e Espaços se inserem na discussão inicialmente proposta em sua apresentação, apesar de que as diretrizes teóricas esboçadas a princípio não chegam a engessar os resultados de seus diferentes autores. Tal mescla de coerência conceitual e flexibilidade metodológica torna a obra extremamente enriquecedora tanto para os estudiosos das temáticas canônicas do grupo quanto para a historiografia sociocultural que se debruça sobre o mundo colonial americano. Mas, além disso, esse terceiro volume do grupo Escravidão e Mestiçagens funciona também como exemplo do que uma obra historiográfica coletiva deveria ser: pela miríade de diferentes fragmentos desse mundo colonial que apresenta; pela coerência teórica que embasa tantos autores de diferentes contextos; pela seriedade e pertinência do trabalho com as fontes históricas.
Notas
2 Cf. Anais do XXIII Simpósio Nacional de História – História: Guerra e Paz. Londrina: ANPUH; Editorial Mídia, 2005.
3 Cf. PAIVA, Eduardo França & IVO, Isnara Pereira (orgs.). Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH-UFMG; Vitória da Conquista: Ed.UESB, 2008.
4 Cf. PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira & MARTINS, Ilton Cesar (orgs.). Escravidão, mestiçagens, populações e identidades coloniais. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGHUFMG; Vitória da Conquista: Ed. UESB, 2010.
5 PAIVA Eduardo França; Ivo, Isnara Pereira & AMANTINO, Márcia. “Apresentação” In: PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira & AMANTINO, Márcia (orgs.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 2011, p. 07-09.
6 ROCHA, Marcelo. “Vidas mescladas: mulatos livres e hierarquias na Nova Espanha (1590-1740)”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 94.
OLIVEIRA, Carla Mary S. “Arte colonial e mestiçagens no Brasil setecentista: irmandades, artífices, anonimato e modelos europeus nas Capitanias de Minas e do Norte do Estado do Brasil”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 97.
8 CERCEAU NETO, Rangel. “Famílias mestiças e as representações identitárias: entre as maneiras de viver e as formas de pensar em Minas Gerais, no século XVIII”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 165.
9 CERCEAU NETO, “Famílias mestiças…”, p. 165.
10 SÁ, Eliane Garcindo de. “Identidade, espacialidade e territorialidade: reflexões sobre a presença africana no universo colonial”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 39.
Kalina Vanderlei Silva – Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Docente da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, Universidade de Pernambuco. E-mail: <kalinavan@ uol.com.br>.
[MLPDB]O Direito às Avessas: por uma história social da propriedade – MOTTA; SECRETO (S-RH)
MOTTA, Márcia; SECRETO, María Verónica (Orgs.). O Direito às Avessas: por uma história social da propriedade. Guarapuava: Unicentro; Niterói: Ed. UFF, 2011. 480 p. Il. Resenha de: PESSOA, Ângelo Empilio da Silva; GONÇALVES, Reginna Célia. Para aquém do latifúndio: construindo uma História Social da propriedade. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [26] jan./jun. 2012.
A história das diversas formas de apropriação territorial e da configuração da propriedade fundiária no Brasil tem ensejado investigações de longo curso, muitas das quais se constituíram em obras seminais do pensamento social brasileiro. Desde estudiosos da formação territorial do quilate de Felisbello Freire e Basílio de Magalhães, no início do século XX, até pensadores marcantes da nossa estrutura agrária como Alberto Passos Guimarães ou Caio Prado Júnior, em meados da mesma centúria, além de copiosos exemplos mais recentes. A questão da terra e do território permanece como fonte de numerosos estudos e controvérsias, que estão longe de apresentar qualquer consenso.
As acirradas lutas pela posse e propriedade da terra que tomaram o proscênio de nossa vida política, ensejaram debates acalorados e significativa elaboração intelectual em torno das mesmas. Uma das questões que se afirmou quase como axioma foi o do absoluto predomínio da grande propriedade, num quadro asfixiante sobre o conjunto da sociedade, que ficou celebrizado numa visão do latifúndio plenamente dominante em todo o vasto território brasileiro e os códigos legais apenas como a cobertura para os grandes latifundiários governarem essa sociedade segundo os seus interesses. Certamente, essa visão está estribada numa percepção geral e válida em larga medida, perceptível nos diversos processos de apropriação territorial, mas que exige aproximações para a análise dos casos concretos, nos quais esse predomínio está longe de ser tão exclusivo e o exercício do poder tão plácido e absoluto. A própria configuração dos princípios legais que orientaram os direitos de propriedade esteve, todo o tempo, imersa nas tensões sociais e disputas abertas entre diversos sujeitos. Dentre esses, as pesquisas mais recentes revelaram povos indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais de diversas condições, pequenos proprietários, numa amplitude de agentes que se colocaram e se colocam aquém de um latifúndio que domina sozinho a paisagem territorial do país. Leia Mais
Açúcar e Colonização – FERLINI (S-RH)
FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Açúcar e Colonização. São Paulo: Alameda, 2010, 267p. Resenha de: LOPES, Gustavo Acioli. Identidades, mentalidades e sistema colonial. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [26] jan./jun. 2012.
Os estudos e pesquisas sobre a história do Brasil colonial têm crescido sobremaneira, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo, nas últimas duas décadas. Se, em parte, este crescimento pode ser atribuído à multiplicação das pós-graduações, com linhas específicas de pesquisa, também se deve ao renovado interesse que o período vem despertando entre as novas gerações de historiadores. E este, por sua vez, ganhou considerável impulso com os debates que se seguiram às críticas que parte desta nova geração enumerou contra a linha de análise que privilegia o Antigo Sistema Colonial como elemento explicativo principal. Juntamente com a história econômica, esta linha esteve na defensiva nos anos 1990, quando as abordagens totalizantes, em particular as de viés marxista, foram seriamente questionadas (fenômeno que atingiu as Ciências Sociais em todo o Ocidente). No entanto, a partir das críticas e debates que resultaram destas, a abordagem do Antigo Sistema Colonial também se viu renovada, particularmente pela ampliação dos temas abordados e pelo aprofundamento da pesquisa documental, seja em história econômica, seja em história social e cultural. América portuguesa ou Brasil colônia? Antigo Sistema Colonial ou Antigo Regime nos Trópicos? Colonos/colonizadores ou cidadãos/súditos do império? Leia Mais
O Navio Negreiro: uma história humana – REDIKER (S-RH)
REDIKER, Marcus. O Navio Negreiro: uma história humana. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 446 p. Resenha de: FERNANDES, João Azevedo. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [25] jul./ dez. 2011.
Em 1843, na costa índica da África, a nau inglesa que transportava o reverendo Pascoe Grenfell Hill capturou um navio negreiro brasileiro, o Progresso, de acordo com a lei inglesa e os tratados internacionais que escreviam os capítulos finais da tragédia do tráfico africano para as Américas. Em meio a chocantes descrições da vida e morte em um negreiro lotado, em sua maior parte por crianças, Hill observou uma cena que nos diz muito acerca da natureza do “infame comércio”. Alguns africanos eram encarregados de prestar serviços no navio, recebendo por isso roupas e outros sinais distintivos, o que divertia os marinheiros, como descreve o reverendo:
A estranha aparência e os desajeitados esforços causaram alguma hilaridade entre a tripulação. “Nós devemos ter sentimentos para com esses infelizes, mais do que temos”, disse um marinheiro para o seu companheiro. O outro replicou: “Ora, nós não temos sentimento uns pelos outros, muito menos por eles.” Mesmo os mais respeitosos estavam propensos a olhar aquela infeliz raça como seres de uma ordem inferior; como se o Criador não tivesse “feito de um sangue todas as nações dos homens em toda a face da Terra”. Assim ouvimos as expressões: “Isso vai morrer”, “Aquilo está morrendo”, “Aquele sujeito não pode viver.”2 Neste trecho transparece toda a crueldade envolvida em um negócio no qual a principal mercadoria era a carne humana. A violência da escravidão é um tema tratado há muito pelos historiadores, mas poucos até agora se debruçaram sobre as experiências de vida dos indivíduos que efetivamente realizavam o comércio, ou daqueles que eram traficados. Leia Mais
Ações Afirmativas – A Questão das Cotas: análises jurídicas de um dos assuntos mais controvertidos da atualidade – FERREIRA (S-RH)
FERREIRA, Renato (Coord.). Ações Afirmativas – A Questão das Cotas: análises jurídicas de um dos assuntos mais controvertidos da atualidade. Niterói: Impetus, 2011, 404 p. Resenha de: FLORES, Elio Chaves; FERNANDES, Eduardo. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [25] jul./ dez. 2011.
Parece ser uma evidência entre os historiadores do século XXI (todos eles sem exceção nascidos no século anterior) que a divisão entre o visível e o invisível passa por profunda e quase trágica desestabilização. Bem disse o historiador das antiguidades clássicas, François Hartog, preocupado com o que os historiadores veem, ao disparar sem papas no francês: “o que há para ver quando se pode ver tudo?”3.
Não deixa de ser uma ironia o fato de que o país entra num novo século, que abre o terceiro milênio cristão, tentando resolver o mais invisibilizado dos seus teoremas no século XX, o problema racial. Basta que citemos o primeiro parágrafo da obra seminal do escritor negro norte-americano WEB Du Bois, em 1903, que na sua reflexão prévia foi anunciador: “o problema do século XX é o problema da barreira racial”4. Mas o Brasil não leu WEB Du Bois e levamos quase cem anos para ter a sua obra traduzida para o português enquanto que a mais inconsútil novidade historiográfica francesa chega de Paris no mesmo momento, até em lançamentos simultâneos. O tempo presente do historiador e a simultaneidade dos tempos do capitalismo cultural parecem não deixar nada para depois: o que ainda se pode ver sobre a questão racial no Brasil que ainda não foi visto pela “historiografia pátria” e pelos “intérpretes do Brasil”? Em recente tradução para o português da História Geral da África, em oito volumes, o autor da Introdução Geral, Joseph Ki-Zerbo, fala da “diversão alienadora” que poderia levar à abstração das “tarefas da atualidade”. Ao ponderar que “a história é a memória dos povos” o historiador de Burkina Faso também alertava numa premissa que não seria estranho ao mundo jurídico: “é preciso que a verdade histórica, matriz da consciência desalienada e autêntica, seja rigorosamente examinada e fundada sobre provas”5. Esse foi um bom motivo para propor a resenha de um livro que permite ao historiador a compreensão de um evento que se tornou “vida cotidiana” na “arena judicial”. Evento presentista, posto que em curso, o livro traz à tona análises jurídicas de “um dos assuntos mais controvertidos da atualidade”, as ações afirmativas e as cotas para negros e indígenas no ensino superior. Outro motivo, não menos importante, é o evento acadêmico de maior impacto na universidade para a “história do futuro”, a aprovação pela UFPB, das cotas raciais e sociais no sentido de democratizar o acesso ao ensino superior no estado da Paraíba. Uma luta dos movimentos negros e indígenas que não durou menos do que uma década, traduzindo-se num acesso tardio às políticas públicas de ações afirmativas6. Leia Mais
Culturas Políticas na História: novos estudos – MOTTA (S-RH)
MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Org.). Culturas Políticas na História: novos estudos. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009, 232 p. Resenha de: CORDEIRO JUNIOR, Raimndo Barroso. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [24] jan./ jun. 2011.
A produção e o uso de conceitos, construtos semânticos que ultrapassam o sentido pragmático da linguagem ordinária e se impõem na medida em que são elaborados e apropriados pelos falantes, pressupõe uma tensão social e política interposta no conflito gerado por uma multiplicidade de significados. Ainda mais, quando sabem os usuários que os sentidos atribuídos aos termos da fala fatalmente serão discordantes e, em consequência disso, impor uma definição hegemônica representa lograr uma vitória política.
As disputas pelo controle desses significados marcam o cotidiano das comunidades linguísticas em dimensões diversas: política, filosofia, estética, ciência etc. Além disso, nas ciências humanas, considerando a especificidade de sua natureza epistemológica, a instrumentalização de conceitos heurísticos e operacionais configura um desafio de significação e de consistente manuseio de instrumentos teorico-metodológicos. Leia Mais
La saga de Fridthjóf el valiente y otras sagas islandesas – ANÔNIMO (S-RH)
ANÔNIMO. La saga de Fridthjóf el valiente y otras sagas islandesas. Tradução de Santiago Ibáñez Lluch. Madrid: Miraguano, 2009, 365 p. Resenha de: LANGER, Johnni. História e memória dos vikings. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [23] jul./ dez. 2010.
Desde o momento em que foram amplamente divulgadas durante o século XIX, as sagas islandesas2 constituem um material imprescindível para o estudo da história dos povos escandinavos durante a Era Viking. Mas, por isso mesmo, são motivos de intenso debate pelos especialistas: até que ponto esse material literário, composto entre os séculos XIII e XIV, pode ser utilizado para a pesquisa de sociedades que viveram entre os séculos IX e XI? Tradicionalmente, as sagas islandesas eram vistas como o registro por escrito de tradições advindas de uma memória social, conservada fidedignamente pela tradição oral – mas para os historiadores, o subgrupo das sagas de família tinha maior interesse, devido às suas características de possuírem um estilo mais “realista”, em contraposição as chamadas sagas lendárias, de conotações mais fantásticas.
A polêmica intensificou-se, e hoje não se contrapõe mais o oral com o escrito (ambas existiram paralelamente e com mútua dependência) e qualquer tipo de saga possui reflexos sociais e interesse histórico, independente de seu estilo literário. Um dos tipos de sagas islandesas que vem sofrendo maior reavaliação por parte dos acadêmicos são as fornaldarsögur (sagas lendárias). Estas narrativas descrevem aventuras fantásticas ocorridas na época dos vikings (século IX ao XI), tendo como base material nativo e folclórico, mas também com muitas influências externas (romances de cavalaria, material céltico, árabe, persa, bizantino)3, com o objetivo básico de entreter a aristocracia islandesa do século XIII4. Mesmo não tendo um valor histórico como as sagas de famílias, as narrativas lendárias estão sendo utilizadas como fontes para o estudo da literatura, da ideologia, monarquia, valores éticos e morais, gênero, entre outros, tanto do período em que foram compostas quanto da época que retratam. Leia Mais
Contos e lendas da mitologia celta – LÉOURIER (S-RH)
LÉOURIER, Christian. Contos e lendas da mitologia celta. Tradução de Monica Stahel. São Paulo: Editora WMF/ Martins Fontes, 2008, 224 p. Resenha de: CAMPOSI, Luciana de. Entre a História e a Memória dos mitos e lendas celtas. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [23] jul./ dez. 2010.
Mitos, lendas e contos folclóricos sempre foram guardiões da memória e, para algumas culturas que valorizavam sobremaneira a oralidade, essas narrativas também eram as responsáveis por transmitir a história. As narrativas mitológicas celtas2, que, na sua maioria vão apresentar as batalhas travadas entre deuses e monstros, homens e criaturas fantásticas, são narrativas fundamentais para se entender a dinâmica da sociedade celta na Irlanda. Todos esses contos que hoje lemos refletem, por assim dizer, a reverência que os celtas nutriam pela oralidade: conferiam um caráter quase que sagrado às palavras atribuindo a elas um aspecto mágico como é possível constatar em algumas narrativas como, por exemplo, em “A busca dos filhos de Tuireann” em que três jovens empreendem uma viagem pelos mares do mundo em busca de tesouros fantásticos e para se locomoverem apenas dizem: “– Barco de Mananann, já que estás sob nossos pés, leva-nos à Pérsia!” (p.45). São as palavras as responsáveis por conduzir os jovens a incontáveis aventuras, da mesma maneira que as palavras são usadas para transmitir o conhecimento, as tradições e, desta feita, perpetuar pela oralidade as tradições, a história e a memória. Leia Mais
Minha guerra alheia – COLASANTI (S-RH)
COLASANTI, Marina. Minha guerra alheia. Rio de Janeiro: Record, 2010. 286 p. Resenha de: ABRANTES, Alômia. “O mosaico falhado de memória”: composições da infância e da guerra. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [23] jul./dez. 2010
No fluxo da produção de biografias e autobiografias lançadas no Brasil, Marina Colasanti, conhecida e premiada escritora, surpreende-nos com um livro de memórias sobre a sua infância vivida em meio a conflitos bélicos, em especial, no cenário italiano da II Guerra Mundial.
Poderíamos apressadamente pensar que trata-se de mais um trabalho de memória sobre um conflito reiteradamente narrado por tantos escritores, inspirador de tantas obras literárias e cinematográficas, mas “Minha Guerra Alheia”, além da marca sensível comum à escrita da autora, insinua um fazer escriturístico que ressoa nas inquietações de quem se debruça sobre a reflexão acerca da produção da memória, da escrita de si, e da relação destas com a história. Leia Mais
Cadernos Negros, três décadas: ensaios, poemas, contos – RIBEIRO; BARBOSA (S-RH)
RIBEIRO, Esmeralda; BARBOSA, Márcio. (orgs.). Cadernos Negros, três décadas: ensaios, poemas, contos. São Paulo: Quilombhoje; Brasília: SEPPIR, 2008, 333 p. Il Resenha de: FLORES, Elio Chaves. A literaturanegra nas aulas de História e de Historiografia. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [22] jan./ jun. 2010.
A expressão “cadernos”, numa era de ferramentas virtuais, soa um pouco escrever artesanalmente à moda dos românticos oitocentistas: ao bico de pena. A par disso, também podem implicar corpus fragmentários de atividades intelectuais que, encadernados, sustentam concepções de história e de cultura histórica. Antonio Gramsci, no cárcere do fascismo italiano, não deixou de escrever suas cartas filosóficas e políticas que, mais tarde, teriam grande aceitação entre os intelectuais das esquerdas como reflexões de renovação da própria tradição marxista e da “cultura revolucionária”. Mas se Gramsci fosse negro ou afrodescendente sua escrita em cadernos teria o mesmo reconhecimento? Qual seria a diferença entre um escritor marxista branco e um escritor marxista negro na perspectiva do materialismo cultural? Stuart Hall, um expoente da diáspora negra contemporânea, no denso ensaio “A relevância de Gramsci para o estudo de raça e etnicidade”, observa que devido às circunstâncias de produção numa epocalidade racialmente transtornada “os Cadernos [gramscianos] representam uma proeza intelectual surpreendente”2. O próprio Gramsci pode iluminar uma resenha sobre um livro que reúne trinta anos de literatura negra no Brasil. Dos seus Cadernos do Cárcere é possível apoderar-se das ideias de que “literatura não gera literatura”, “ideologias não geram ideologias”, “superestruturas não geram superestruturas senão como herança de inércia e passividade”, pois elas são geradas “pela intervenção do elemento ‘masculino’, a história”. Dessas ideias incompletas e polêmicas, retiradas de um diálogo negativo de Antonio Gramsci com Benedetto Croce (Cultura e Vida Moral), passamos a outra que nos acompanhará até ao final de nossa análise: “se o mundo cultural pelo qual se luta é um fato vivo e necessário, sua expansividade será irresistível, ele encontrará os seus artistas”3. Leia Mais
Guerras e Açúcares: política e economia na Capitania da Parayba (1585-1630) – GONÇALVES (S-RH)
GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e Açúcares: política e economia na Capitania da Parayba (1585-1630). Bauru: Edusc, 2007, 329 p. Resenha de: MELO, Josemir Camilo de. Conquista da Paraíba sob foice, espada e cruz. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [21] jul./ dez. 2009.
Sob o título de Guerras e açúcares, a historiadora paulista radicada na Paraíba, Regina Célia Gonçalves, estudou um pequeno recorte da colonização da Paraíba em sua tese de doutorado, pela USP, defendida em 2004, sob a orientação da Dra.
Vera Lúcia Amaral Ferlini, prefaciadora da obra. Trata-se de um belo livro da Editora da Universidade do Sagrado Coração. Apesar de seu recorte ser de apenas 45 anos (1585-1630) procura desvendar as tramas políticas para dizimar os Potiguara e obter suas terras para o açúcar, principalmente a partir do acordo de paz firmado com os Tabajara em 1585. Gonçalves fez um excelente trabalho sobre esse período incipiente da construção da Paraíba, mas o mais importante é sua premissa, a de que se criou na mentalidade local uma paraibanidade tabajarina, fruto da representação que o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano tem feito desde sua criação, em 1905. Leia Mais
História: a arte de inventar o passado – Durval M. Albuquerque Jr
Os historiadores brasileiros não têm a tradição de publicar obras que versem sobre discussões teórico-metodológicas. Nas últimas décadas, o número de pesquisas históricas cresceu vertiginosamente, em todas as regiões do país, porém, esse crescimento não foi acompanhado na mesma proporção pelas pesquisas focadas em torno das questões atinentes ao processo de produção do conhecimento da disciplina. Isto é, no mínimo, preocupante, pois o ofício do historiador jamais pode prescindir da dimensão epistemológica. O fazer histórico engloba a etapa empírica (que consiste no trabalho de coleta e cotejamento das fontes) e a etapa epistemológica (que consiste na interpretação das fontes coligidas, a partir do diálogo com a historiografia especializada e à luz dos instrumentos conceituais e pressupostos teóricos). Não basta descrever e narrar os fatos; deve-se interpretá-los, explicá-los, a partir de problemas e hipóteses de pesquisa e tendo em vista categorias analíticas e correntes historiográficas. São justamente as questões epistemológicas da historiografia contemporânea o tema central do livro História: a arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Leia Mais
Mulheres e Poder – histórias, ideias e indicadores – MELO (S-RH)
MELO, Hildete Pereira de; THOMÉ, Débora. Mulheres e Poder – histórias, ideias e indicadores. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. Resenha de: SILVA, Tamy Amorim. Mulheres, feminismos e poder: caminhos de lutas. SAECULUM – Revista de Hhistória, João Pessoa, v.40, p.461-466, jan./jun. 2009.
Mulheres e poder – histórias, ideias e indicadores é uma obra necessária em momentos atuais. Publicado no ano de 2018 pela editora Fundação Getúlio Vargas, o livro nos traz relevantes discussões para aprendermos sobre a longa duração das lutas das mulheres pelo acesso à educação, ao trabalho, ao voto, entre outras, esboçadas durante os capítulos, e procura nos fazer refletir sobre o quanto ainda falta para lograr a equidade de gênero.
Uma das autoras, Débora Thomé, é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Entre outras publicações suas estão os livros O Bolsa Família e a social democracia e 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer – este último voltada para o publico infantil. Atualmente, suas pesquisas se destinam a explorar a participação política de mulheres no Brasil. A outra autora é Hildete Pereira de Melo, professora associada da Universidade Federal Fluminense, doutora em Economia. Seu currículo se expande em número de publicações, orientações e experiências de pesquisa, sendo que um dos temas aos quais dedicou suas investigações diz respeito às assimetrias de gênero no campo do trabalho doméstico. Na apresentação do livro fica evidente que militância e pesquisa acadêmica estão imbricadas e é relevante mencionar que Hildete Pereira indica sua articulação com os feminismos desde meados de 1976, sendo, nesse livro, uma “testemunha desta história” escrita (Melo; Thomé, 2018, p. 191). Leia Mais
Debret e o Brasil: obra completa (1816-1831) – BANDEIRA; LAGO (S-RH)
BANDEIRA, Julio; LAGO, Pedro Corrêa do. Debret e o Brasil: obra completa (1816-1831). Rio de Janeiro: Capivara, 2007, 720 p. Resenha de: Oliveira, Carla Mary S. O cotidiano Oitocentista pelos olhos de Debret. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [19] jul./ dez. 2008.
Jean-Baptiste Debret tornou-se um artista extremamente divulgado no Brasil, graças às gravuras de sua obra de três volumes, Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, publicada entre 1834 e 1839 em Paris, pela Casa Firmin Didot, após seu retorno à França2.
Essas imagens, baseadas em parte dos desenhos, aquarelas e esboços que o artista produziu quando morou no Rio de Janeiro, entre 1816 e 1831, popularizaram-se em plagas tupiniquins ainda no século XIX, e durante o século XX muitas delas viraram ilustrações obrigatórias de livros didáticos ou de qualquer outro tipo de texto que se referisse ao Brasil oitocentista. Leia Mais
História do estruturalismo – DOSSE (S-RH)
DOSSE, François. História do estruturalismo. Tradução de Álvaro Cabral; revisão técnica de Marcia Mansor D’Alessio. Bauru: Edusc, 2007. v. 1: O campo do signo – 1945/1966. 513 p. – v. 2: O canto do cisne – de 1967 a nossos dias. 575 p. Resenha de: CARVALHO, Francismar Alex Lopes. “A consciência desperta e inquieta do saber moderno”: Uma História do Estruturalismo. sÆculum – Revista de História, João Pessoa, v.18, jan/ jun. 2008.
Dentre os méritos desta importante obra do historiador francês François Dosse, pode-se destacar a acuidade com que seu autor escapou de uma dupla tentação muito comum no acirrado campo de batalha teórica das ciências humanas: por um lado, cair em posicionamentos unilaterais em favor da primazia das estruturas ou dos indivíduos, que não raro impedem que se compreenda a interação entre estes e aquelas; por outro, evitou a atitude desqualificadora que consiste em “jogar sobre [as correntes teóricas precedentes] a placa de chumbo do esquecimento, e partir assim mais livremente numa direção oposta”.2 Cuidados como esses fazem de História do estruturalismo, que aparece agora em nova edição3, um panorama vigoroso da história intelectual do século XX, obrigatório mesmo àqueles que não partilham do quadro teórico estruturalista. Pois mais do que acompanhar o desenvolvimento das idéias estruturalistas, o que Dosse realiza em seu livro é uma audaciosa articulação entre contextos históricos, concorrências institucionais e combates teóricos, tendo como eixo central a problemática do contraponto entre as diversas formas de ver as estruturas em que os homens encontram-se encerrados e as várias correntes que se opõem a tais perspectivas e valorizam os homens como sujeitos de sua própria história. Leia Mais
O Brasil e os dias: estado-nação, modernismo e rotina intelectual | André Botelho
O modernismo no Brasil tem atraído a atenção de diversos estudiosos, preocupados com a pormenorização (no espaço e no tempo), a delimitação (de autores e obras) e, principalmente, a revisão (conceitual, teórico-metodológica e historiográfica) do tema, desde o final dos anos de 1980.
A pesquisa de André Botelho, originalmente apresentada como tese de doutorado de Sociologia em 2002 na Unicamp, com o título Um ceticismo interessado: a obra de Ronald de Carvalho dos anos 20, sob a orientação da professora Élide Rugai Bastos, além de se inserir nesse amplo e diversificado movimento de renovação dos estudos sobre o modernismo (a modernidade e a modernização) brasileiro, traz, ele próprio, uma bela contribuição para os debates. Leia Mais
Jango: as múltiplas faces | Ângela de Castro Gomes e Jorge Ferreira
Em primeiro de abril de 1964, um furioso editorial intitulado “Fora” era publicado pelo jornal carioca Correio da Manhã. O golpe civil-militar efetivava-se no país, sem que a ordem de resistência, esperada por muitos, fosse dada pelo Presidente João Goulart.
O personagem, centro da crise instaurada a partir da renúncia de Jânio Quadros, do qual fora vice-presidente, sofreu, a partir de então, como toda a sociedade brasileira, as conseqüências do golpe civil-militar desencadeado contra o seu governo, amargando o exílio no qual morreu em dezembro de 1976. A partir do golpe, sofreria também constante julgamento de aliados, colaboradores e adversários dos mais diversos lugares sociais e políticos. Leia Mais
Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos índios no Brasil – 1580-1620 | Charlotte de Castelnau-L’Estoile
Em maio de 1583 dois padres vindos de Lisboa” desembarcaram em Salvador da Bahia. Eram eles Cristóvão de Gouvêa, encarregado pelo Geral da Ordem Jesuíta, o italiano Claudio Acquaviva, de visitar a Província do Brasil, e o jovem Fernão Cardim, seu companheiro e secretário. Por essa época, encerrava-se a primeira fase da história da Companhia, o tempo heróico da fundação, e ingressavase na era da redefinição de sua administração, pois o generalato de Acquaviva (1581-1615) seria marcado pelo esforço central da Ordem por ‘regularizar’ e unificar “as práticas intelectuais, espirituais e administrativas das diferentes províncias, ou seja, a da ação missionária na periferia, em busca da afirmação de uma identidade jesuíta” (p. 20). Leia Mais
Imagem e persuasão: ensaios sobre o barroco | Giulio Argan
Giulio Carlo Argan (1909-1992) certamente constitui-se como uma das raras exceções onde a atuação política no exercício de cargos públicos não comprometeu a vida intelectual. Prefeito de Roma entre 1976 e 1979, senador eleito pelo Partido Comunista italiano em 1983 – cargo que exerceu por duas legislaturas – e catedrático de História da Arte Moderna na Universidade de Roma a partir de 1959, foi dos mais produtivos dentre os historiadores da Arte de sua geração, que inclui nomes como Ernst H. Gombrich, H. W. Janson e André Chastel. Seus estudos se estenderam por uma gama enorme de temas, que vão do Trecento italiano à Bauhaus, do Românico à Arte Moderna, de Fra Angelico a Caravaggio. Na verdade, alguns de seus livros são obras fundamentais quando se fala de Historiografia e Crítica de Arte produzida no século XX: História da Arte como História da Cidade[2]; Clássico Anticlássico[3]; Arte Moderna [4] e História da Arte Italiana[5] são apenas alguns de seus principais trabalhos, numa extensa lista iniciada ainda na década de 30. Leia Mais
Deuses e mitos do norte da Europa | Hilda Roderick Ellis Davidson
Recentemente vem ocorrendo um grande resgate da cultura Viking. Dezenas de livros, documentários, eventos acadêmicos e descobertas arqueológicas vem demonstrando o valor da Escandinávia para o estudo da formação do Ocidente Medieval e Moderno, bem como a desmitificação de muitos estereótipos e fantasias2. Dentre todas as áreas de investigação, algumas das mais promissoras são os estudos de mitologia e religião pré-cristã, extremamente importantes para se entender o posterior processo de estruturação da mentalidade religiosa na Europa.
Uma das mais famosas pesquisadoras de mitologia germânica é a inglesa Hilda Davidson, autora do clássico Gods and Myths of Northern Europe, originalmente publicado em 1964 e que agora recebe a primeira tradução para a língua portuguesa3. Esta obra se tornou um marco das investigações na área, tanto por seu caráter sistematizador quanto pela utilização de diversos tipos de fontes, sejam elas históricas (documentos e livros de caráter nobiliárquico/institucionais), literárias, epigráficas, iconográficas e arqueológicas. A obra é dividida em oito capítulos, seguidos de uma interessante relação de referências onomásticas e de um índice remissivo. Leia Mais
A História repensada | Keith Jenkins
Até meados do século XX, a História ainda era muito parecida com as estradas do oeste norte-americano imortalizadas por Hollywood: reta, plana e sem vicinais. Essa estrada chamada positivismo era percorrida com segurança pelos historiadores até seu destino, a verdade. No entanto, novos caminhos surgiram para novos pontos de chegada trazidos pelo que conhecemos como pós-modernismo. As estradas também começaram a ser percorridas por novos transeuntes. É nesse emaranhado viário, ou melhor, paradigmático, de tráfego intenso, que muitos historiadores estão perdidos, tanto os mais jovens, que se sentem obrigados a escolher um dentre vários caminhos, como os mais velhos, que têm dificuldades para percorrer as novas estradas. Nessa situação, ainda que apresente algumas imprecisões e lacunas, A História repensada (Rethinking History) do historiador inglês Keith Jenkins permite aos historiadores se localizarem com mais precisão perante as mudanças provocadas pelo pós-modernismo. Apesar de ter sido publicado em 1991 e traduzido em 2001 – primeiro livro de Jenkins no Brasil -, sua discussão continua pertinente e assim promete continuar por muito tempo. Leia Mais
Uma história cultural do humor | Jan Bremmer e Herman Roodenburg
Resenhista
Élio Chaves Flores
Referências desta Resenha
BREMMER, Jan; ROODENBURG, Herman (Orgs). Uma história cultural do humor. Trad. Cynthia Azevedo e Paulo Soares. Rio de Janeiro: Record, 2000. Resenha de: FLORES, Élio Chaves. A História deixou de ser agelasta? SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 8/9, p. 181-189, jan./dez. 2002/2003.
Vita Brevis: a carta de Flória Emília para Aurélio Agostinho | Jostein Gaarder
Resenhista
Monique Cittadino
Referências desta Resenha
GAARDER, Jostein. Vita Brevis: a carta de Flória Emília para Aurélio Agostinho. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Resenha de: CITTADINO, Monique. “Vita Brevis”: uma visão feminina do pensamento agostiniano. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 4/5, p. 327-335, jul./dez. 1998/1999.
A opção brasileira | César Benjamin e Emir Sader
Resenhista
Jaldes Reis de Meneses
Referências desta Resenha
BENJAMIN, César; SADER, Emir et al. A opção brasileira. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. Resenha de: MENESES, Jaldes Reis de. Caminhos e descaminhos do Projeto Nacional. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 4/5, p. 337-352, jul./dez. 1998/1999.
Viagem à luta armada: memórias romanceadas | Eugênio Carlos Paz
Resenhista
Michelle Dayse Marques de Lima
Referências desta Resenha
PAZ, Carlos Eugênio. Viagem à luta armada: memórias romanceadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. Resenha de: LIMA, Michelle Dayse Marques de. Impressões sobre uma viagem à luta armada. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 4/5, p. 353-357, jul./dez. 1998/1999.
O cultivo do ódio | Peter Gay
Elio Chaves Flores
Referências desta Resenha
GAY, Peter. O cultivo do ódio. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Resenha de: FLORES, Elio Chaves. Nós, os bárbaros. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 3, p. 189-195, jan./dez. 1997.
Santa Evita | Tomás Eloy
Resenhista
Regina Maria Rodrigues Behar
Referências desta Resenha
MARTÍNEZ, Tomáz Eloy. Santa Evita. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Resenha de: BEHAR, Regina Maria Rodrigues. Não chores por mim, Argentina. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 3, p. 197-202, jan./dez. 1997.
A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XVI e XVIII | Roger Chartier
Resenhista
Rosilene Alves de Melo
Referências desta Resenha
CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Brasília: Editora da UnB, 1994. Resenha de: MELO, Rosilene Alves de. História da leitura, leituras da História: o livro e os leitores na Idade Moderna. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 2, p. 233-238, jul./dez. 1996.
O cânone ocidental | Harold Bloom
Resenhistas
Élio Chaves Flores
Iris Helena Guedes de Vasconcelos
Referências desta Resenha
BLOOM, Harold. O cânone ocidental. São Paulo: Objetiva, 1995. Resenha de: FLORES, Élio Chaves; VASCONCELOS, Iris Helena Guedes de. Eras anglófilas, séculos verbalizados. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 2, p. 239-250, jul./dez. 1996.
O último dos moicanos | James Fenimore Cooper
Resenhista
Alômia Abrantes
Referências desta Resenha
COOPER, James Fenimore. O último dos moicanos. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. Resenha de: ABRANTES, Alômia. O último dos moicanos: uma aventura no estudo da América. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 1, p. 145-150, jul./dez. 1995.
Carne, moral e pecado no século XVI. O Ocidente e a repressão aos “delitos” por cúpula “ilícita” | Ruston Lemos de Barros
Resenhista
José Ernesto Pimentel Filho
Referências desta Resenha
BARROS, Ruston Lemos de. Carne, moral e pecado no século XVI. O Ocidente e a repressão aos “delitos” por cúpula “ilícita”. São Paulo: USP, 1993. Resenha de: PIMENTEL FILHO, José Ernesto. A sexualidade, a Igreja e o Santo Ofício no Brasil. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 1, p. 139-143, jul./dez. 1995.
Acesso apenas pelo link original [DR]
Saeculum | UFPB | 1995
Sæculum – Revista de História (João Pessoa, 1995-) aceita para publicação propostas de dossiês temáticos e de artigos, resenhas e entrevistas para os dossiês com chamadas de trabalhos abertas, sendo os mesmos na área de História e que devem ser enviadas apenas eletronicamente, com redação em português, inglês, francês, italiano ou espanhol, e cujo(s) autor(es) seja(m) doutorando(a)(os)(as) ou portador(a)(es)(as) do título de doutor.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 0104-8929 (Impresso)
ISSN 2317-6725 (Online)
Acessar resenhas [Coletar 1996-2007]
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos



