Posts com a Tag ‘Editora da Unesp (E)’
O polímata: uma história cultural – De Leonardo da Vinci a Susan Sontag | Peter Burke
O polímata: uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag foi publicado, simultaneamente, no ano de 2020, em língua inglesa pela Yale University Press e em língua portuguesa pela Editora Unesp. Mais recente livro do historiador inglês Peter Burke – professor da Universidade de Cambridge e considerado um dos intelectuais mais conceituados a respeito da Idade Moderna europeia e da história cultural –, traz uma narrativa cativante que se destaca pela “erudição e clareza”, como descreveu o jornalista João Pombo Barile (2021), e por “seu caráter pedagógico”, como sugeriu a professora e escritora Carlota Boto (2021).
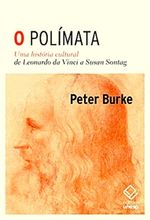
Um mundo sem guerras: a ideia de paz, das promessas do passado às tragédias do presente – LOSURDO (RBH)
O ano de 2019 certamente não será recordado pela ocorrência de grandes avanços em favor da paz mundial. Na África, a Líbia não conseguiu superar a instabilidade política instaurada com a derrubada de Muammar Kadhafi, em 2011, e a disputa pelo poder transformou-se em uma extensa guerra civil desde então. Naquele mesmo ano, no Oriente Médio, a Síria de Bashar Al-Assad foi arrastada para um conflito envolvendo agentes internos e externos, e até este momento o país devastado se defronta com o enfrentamento de grupos antagônicos que impedem a pacificação do país. Leia Mais
Debates feministas. Um intercâmbio filosófico – BENHABIB et al (REF)
BENHABIB, Seyla; BUTLER, Judith; CORNELL, Drucilla; FRASER, Nancy. Debates feministas. Um intercâmbio filosófico. Trad. de Fernanda Veríssimo, São Paulo: Editora Unesp, 2018. Resenha de: SANTOS, Patrícia da Silva. Feminismo, filosofia e teoria social: mulheres em debate. Revista Estududos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3 2019.
O discurso filosófico e teórico nas sociedades ocidentais estabeleceu-se, por muito tempo, como território predominantemente masculino. O debate acerca da boa vida e as concepções em torno de suas instituições subjacentes à filosofia e à teoria social eram, até há pouco, protagonizados por homens que se apresentavam como as vozes “neutras” e “objetivas” de nossas formulações teóricas. O que acontece quando quatro feministas se reúnem para debater suas questões em profundo diálogo com algumas das mais relevantes tendências teóricas contemporâneas – como a teoria crítica, o pós-estruturalismo e a psicanálise? É claro que não se poderia exigir dessa empreitada a homogeneidade e o consenso próprios da suposta “universalidade” com que se disfarçou a moderna racionalidade ocidental.
Debates feministas, publicado originalmente no início dos anos 1990 e só agora disponível em edição brasileira, não é somente um livro sobre teoria feminista (uma das lições implícitas é justamente a impossibilidade de se pensar tal concepção no singular). É um testemunho de que o abalo geral provocado pelo pensamento contemporâneo em concepções basilares como identidade, normas e cultura exige que sejam autorizados sujeitos de discurso até então silenciados para que a filosofia e a teoria social se dispam da falsa neutralidade e incorporem os ruídos do não-idêntico, da subversão e da diferença. Em seus debates, Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell e Nancy Fraser buscam apontar o lugar dos discursos feministas nessa tarefa de reelaboração do pensamento filosófico e teórico – as quatro pensadoras já apareciam, juntamente a outras, em volume publicado no Brasil há um bom tempo (Seyla BENHABIB; Drucilla CORNELL, 1987). Leia Mais
Filosofia no Brasil: Legados & perspectivas. Ensaios metafilosóficos – DOMINGUES (RFA)
DOMINGUES, Ivan. Filosofia no Brasil: Legados & perspectivas. Ensaios metafilosóficos. São Paulo: Editora da Unesp, 2017. Resenha de: PERINE, Marcelo. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.30, n.50, p.540-546, maio/ago., 2018.
Um livro de filosofia apresenta especiais dificuldades para ser resenhado porque, segundo Eric Weil, ele só se torna plenamente compreensível na segunda leitura. Resenhar, após a primeira leitura, um livro de filosofia comum segundo subtítulo de ensaios metafilosóficos é particularmente difícil, a começar pelo seu enquadramento no gênero ensaio. Dicionarizado na rubrica literatura, o ensaio é definido no Aurélio como “prosa livre que versa sobre tema específico, sem esgotá-lo, reunindo dissertações menores, menos definitivas que as de um tratado formal, feito em profundidade”. A definição não se aplica rigorosamente aos seis passos que compõem o livro em pauta. Com efeito, a sua prosa, embora verse sobre um tema específico, não é uma prosa livre, mas firmemente atada ao propósito demonstrativo que caracterizou o discurso filosófico desde as suas origens gregas. É verdade que o autor não pretende esgotar o tema vastíssimo expresso no título do livro. O primeiro subtítulo o atesta: legado é, ao mesmo tempo, algo que se recebe e que se transmite; perspectiva é um modo de ver até onde os olhos alcançam, é uma prospectiva, mas é também um sentimento de esperança, uma expectativa. Ademais, o volume reúne dissertações de diferentes dimensões, que não alimentam a pretensão de serem definitivas, como podem ser os tratados formais em alguns campos do saber. A decisão de imprimir às suas reflexões a forma do ensaio filosófico permitiu ao autor escolher “a provisoriedade dos resultados, a aventura do pensamento não objetual e a abertura de picadas ou de caminhos das tentativas, pois ensaiar é tentar, como viu Montaigne, que o inaugurou em filosofia” (p. 2). A escolha se revelou acertada, pois em filosofia a profundidade não se mede pela extensão. Um aforismo de Heráclito é infinitamente mais profundo do que carradas de razões que pululam no tom superior que recentemente ecoou de novo na filosofia, para falar como Kant.
Mas os legados e perspectivas da reflexão sobre o problema filosófico da existência ou não de uma filosofia no Brasil se apresentam na forma de ensaios metafilosóficos. Estamos, portanto, diante de um livro de filosofia da filosofia no Brasil, o que acrescenta um segundo nível de dificuldade ao resenhista de primeira leitura, pela eventual necessidade de uma terceira leitura. Não foi o caso! A legitimidade da primeira leitura foi assegurada pelo próprio autor: “[…] entendo que ninguém em filosofia está obrigado a fazer história da filosofia nem a se livrar dela para fazer a verdadeira filosofia: simplesmente, cada um de nós pode tentar ser ‘filósofo por sua conta’, procurando as mais diferentes companhias […]” (p. 28). A senha dada pelo autor autoriza tanto a diversidade de leituras filosóficas como as diferentes perspectivas de compreensão dos legados da história intelectual do Brasil, que é também a história dos intelectuais no Brasil, como parte do grande mosaico da história da cultura, das ideias e da filosofia.
O livro não é de exegese filosófica, nem de historiografia da filosofia. Se algo se pode apreender já na primeira leitura é que o exercício metafilosófico do autor, mesmo tendo percorrido e recorrido ao fio do tempo cronológico para evidenciar legados e ensaiar perspectivas, se configurou como o exercício de escolher aqueles antepassados que lhe permitissem compreender o exercício da filosofia no Brasil. Sem ter a veleidade de “capturar tudo do real empírico e da nossa história”, o interesse do autor pela história produziu “um livro de ensaios sobre as diferentes experiências do filosofar em nossas terras”. A história, portanto, foi tomada pelo autor como “meio e fonte, não como objeto ou objetivo da pesquisa” (p. 3 et seq.).
Seis ensaios filosóficos compõem o livro, “dispostos em passos argumentativos com unidade temática”, dedicando-se o primeiro ao:
delineamento do argumento metafilosófico da filosofia nacional e seus recortes temporais, em que o propósito dos ensaios é debatido e a metodologia justificada, e consagrando-se os cinco restantes a cada um dos recortes e seus temas específicos, em que o núcleo duro da argumentação é apresentado e desenvolvido (p. 10).
O segundo passo analisa “o passado colonial e seus legados: o intelectual orgânico da Igreja”, cujo modelo ou tipo, em sentido quase-weberiano, é o Pe. Antônio Vieira. A necessidade de fornecer o contexto social mais amplo, apoiado em autoridades como Serafim Leite, Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Holanda, produziu o ensaio mais longo (137 páginas) e mais documentado do volume. O terceiro passo, “Independência, Império e República Velha: o intelectual estrangeirado”, é o segundo em extensão (125 páginas), também amplamente documentado a partir dos autores de referência já citados, aos quais se acrescentam Raymundo Faoro e Celso Furtado, entre outros, e, no que se refere à filosofia e à história das ideias no Brasil, particularmente Cruz Costa. Os intelectuais estrangeirados que tipificam o período são Joaquim Nabuco, Bonifácio de Andrada, Ruy Barbosa e Euclides da Cunha e, na filosofia, Tobias Barreto.
A partir do quarto passo — “Os anos 1930-1960 e a instauração do aparato institucional da filosofia: os fundadores, a transplantação do scholar e do humanista intelectual público” — a reflexão do autor perde em extensão (94 páginas), mas ganha em acuidade. O ensaio mostra que o verdadeiro começo da filosofia autônoma no Brasil está ancorado na instauração de um aparato institucional em diferentes níveis: a criação de universidades públicas reais, não apenas nominais, como foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, mais tarde renomeada Universidade do Brasil (1937); de universidades católicas, sendo pioneira a PUC-Rio, fundada pelos jesuítas sob a liderança do Pe. Leonel Franca em 1941; de institutos de estudos e pesquisas, como o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), criado em 1954; de revistas filosóficas, como a pioneiríssima Kriterion, da UFMG, fundada em 1947 por Arthur Versiani Vellôso, seguida da Revista Brasileira de Filosofia, fundada em 1951 por Miguel Reale, no âmbito do Instituto Brasileiro de Filosofia, assim como a criação de órgãos federais de fomento como a CAPES e o CNPq em 1951, cujos efeitos se mostrarão notórios no próximo passo/ensaio.
Esse período, com sua “galeria de heróis-fundadores” (p. 398), forjou duas novas figuras intelectuais. Amparado no conhecido estudo de Paulo Arantes, o autor desenha a primeira como a do scholar/erudito, gerado pela atuação da Missão Francesa que fez da Faculdade de Filosofia da USP um “Departamento francês de ultramar”. Aproveito a ocasião para sinalizar ao leitor que, ao exemplificar o que seria o erudito virtuose especialista atual na filosofia (p. 416), há uma informação equivocada sobre Francisco Benjamin de Souza Netto, conhecido como Dom Estevão: o ano de seu nascimento é 1937 e até o momento está vivo, embora com a saúde muito debilitada. A segunda figura da intelligentsia brasileira nesse período é a do humanista intelectual público. O autor afirma que “O único filósofo candidato a filósofo brasileiro e intelectual público nos anos 1930-1960 é, no entender de muitos, Álvaro Vieira Pinto” (p. 423). Sobre a controvertida figura do “chefe do departamento de filosofia do Iseb”, que “colocou a filosofia a serviço do projeto nacional-desenvolvimentista” (p. 427), o autor observa que, já no primeiro passo/ensaio do livro em pauta, procurou “remediar a recepção de Álvaro Vieira Pinto, reconhecendo a dureza e a ingratidão de seus pares, além da relevância de suas posteriores contribuições importantes para a inteligência nacional, longe do Iseb, no campo da filosofia da tecnologia” (p. 426). No final do ensaio o autor dá o passo ao quinto passo/ensaio da obra, afirmando que “como no caso do scholar brasileiro, será preciso esperar pelos anos 1960-1970 para que o intelectual público entrasse em cena” (p. 427).
A tarefa do quinto passo/ensaio — “Os últimos 50 anos: o sistema de obras filosóficas, os scholars brasileiros e os filósofos intelectuais públicos” — foi realizada com ainda maior concisão pelo autor. Em 72 densas páginas, partindo da grande virada dos anos 1960, quando “a filosofia brasileira finalmente ganha autonomia”, e “diante do fato novo de se estar diante de uma positividade — o sistema de obras filosóficas — e a necessidade de interpretá-la com as lentes e as ferramentas da filosofia”, o autor se vê obrigado a “introduzir algumas modificações no esquema até agora desenvolvido (p. 431). A primeira delas é que o foco não será mais a criação do arcabouço institucional da filosofia, mas a implantação do sistema nacional de pós-graduação por obra da Capes nos anos 1970. Em segundo lugar, a análise comparativa não será mais com as ciências humanas e sociais, mas da filosofia consigo mesma, destacando as mudanças qualitativas e de escala. Não se falará mais de heróis-fundadores, com a única exceção de Oswaldo Porchat (p. 466 et seq.), mas de virtuoses de ofício e, finalmente, “mantido o tema da paisagem filosófica, das matrizes de pensamento e dos principais nomes”, o autor se arriscará a justificar a escolha de três nomes, a saber, Giannotti, Marilena Chaui e padre Vaz, “que lograram ocupar o espaço público ou a cena pública, ao se transformarem em verdadeiros intelectuais públicos” (p. 432).
Permito-me aqui chamar a atenção para uma ausência no elenco de nomes que ilustram as seis “matrizes de pensamento” dos últimos 50 anos, propostas pelo autor (epistemológica, metafísica, histórico-filosófica, exegética, ético-política e cultural). Na matriz exegética, cujos exemplos são José Henrique Santos sobre Hegel, Raul Landim sobre São Tomás e Descartes, Marilena Chaui sobre Espinosa, Ernildo Stein sobre Heidegger, junto com Franklin Leopoldo e seus trabalhos sobre filosofia francesa, Paulo Margutti e seus estudos sobre Wittgenstein, Roberto Machado sobre Foucault e Deleuze, Giacoia e Scarlett sobre Nietzsche e Porchat sobre o ceticismo, penso que seria fazer justiça a Luís Alberto de Boni e a Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, nomeá-los também nesta matriz em reconhecimento ao pioneirismo que exerceram no campo dos estudos de filosofia medieval no Brasil. Carlos Arthur foi, provavelmente, o primeiro brasileiro a obter um PhD em Sciences Médiévales, em 1976, pelo Instituto de Estudos Medievais da Universidade de Montreal no Canadá, e destacou-se em nossa academia não só pela exegese de textos de Tomás de Aquino, Roger Bacon e Galileu, mas também por notáveis traduções de autores medievais. De Boni, doutor em teologia pela Universidade de Münster, sob a orientação do renomado teólogo Johann Baptist Metz, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Filosofia Medieval e, junto com Carlos Arthur, é dos principais promotores dos estudos filosóficos medievais no Brasil.
Seria ocioso desvelar aqui os fatos e as razões pelos quais o autor indicou padre Vaz, Giannotti e Marilena Chaui como filósofos brasileiros que souberam “unir as perspectivas da ação e do intelecto”, pelos quais a filosofia é levada ao máximo de suas possibilidades como experiência e elaboração da cultura, e por isso mesmo poderá lograr o máximo de relevância social e mesmo política, com todos os riscos que a ação pública comporta para o trabalho intelectual – inclusive a traição da filosofia e o suicídio do intelecto (p. 432).
Com essa instigante sugestão, remeto o leitor às páginas 481-492 em que os fatos e as razões são expostos. Faço uma única observação a essas páginas: quando se desenha, com muita precisão, o perfil de Marilena Chaui como exemplo do intelectual público brasileiro, faltou uma referência ao período em que ela foi Secretária de Cultura do município de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina (1989-1992). A menção a esse dado da biografia política da filósofa serviria apenas para, como se dizia antigamente, confirmar o sobredito com mais um exemplo!
O sexto e último passo/ensaio quase deixa transparecer a exaustão do autor após o gigantesco esforço analítico dispendido até então. Em 46 páginas opera uma espécie de sondagem do futuro intitulada “Conquistas e perspectivas: os novos mandarins e o intelectual cosmopolita globalizado”. O final do percurso revela que todo o esforço do autor “consistiu em estender para a filosofia o paradigma da formação já em largo uso pelos historiadores, economistas, sociólogos e críticos literários” (p. 506). As conquistas “podem não ter sido muitas ou espetaculares” (p. 511), mas as perspectivas apontam para uma figura de intelectual cosmopolita e globalizado, tipo ideal ainda em construção na filosofia brasileira, cujos traços seriam: [1] “o ascetismo intramundano”, que tem o mundo como campo de ação; [2] “o criticismo” que tem “como aguilhão o sentimento de desconforto provocado por um duplo inconformismo: diante dos males do mundo e diante dos males de seu país”, [3] “a renúncia ao pessoal e aos interesses particulares em favor do engajamento nas causas sociais e coletivas”, [4] “a eleição ou o descortinamento […] da esfera da cultura como campo de ação e de embate do intelectual, tendo como âmbito virtualmente todo o planeta” (p. 548). Segundo o autor, o único brasileiro que cristalizou esse tipo de intelectual foi Machado de Assis. Os seis ensaios metafilosóficos se concluem com uma pergunta que é um desafio e um programa para a filosofia no Brasil: “se já o temos ou tivemos em literatura e em artes, por que não na filosofia e com uma mente privilegiada nascida nestes cantos?” (p. 549).
Tenho informações de que o livro já está sendo preparado para uma segunda edição. Por isso é desnecessário indicar pequenos deslizes de revisão, quase inevitáveis em obra de tal extensão, que certamente serão corrigidos. Para mim, a qualidade da obra e sua inestimável contribuição para a nossa bibliografia filosófica são frutos maduros de um pensador ao qual se pode atribuir a mesma ousadia que ele atribuiu aos experts e aos scholars nesta obra: a ousadia de “correr o risco do pensamento: o risco de pensar, de comparar e de falhar — coisa que ainda nos ameaça e que desde os tempos coloniais nos deixa paralisados e com a mente servilizada” (p. 36).
Marcelo Perine – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, SP, Brasil. Doutor em Filosofia. E-mail: [email protected]
[DR]
Não é só a torcida organizada: o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol? | Marcelo Fadori Soares Palhares e Gisele Maria Schwartz
Introdução
A violência no futebol tem sido um dos principais temas de pesquisas acadêmicas nas áreas das ciências humanas e sociais dos últimos vinte anos no Brasil, sobretudo no que se refere aos confrontos envolvendo torcedores organizados. 5 Alguns trabalhos e autores se tornaram referência nesse tema, por exemplo, a produção de Maurício Murad e Luiz Henrique de Toledo. Na esteira de um tema com grande potencial, Marcelo Palhares e Gisele Schwartz apresentam o livro Não é só a torcida organizada: o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol?
Nesta pesquisa, os autores apresentam novas perspectivas acerca do estudo desta relação tensa entre o torcer e a violência, a fim de destacar as motivações destes agentes para tal ocorrência 6. Para isso, Palhares e Schwartz descarregam grande esforço na coleta de informações referentes aos episódios envolvendo violência nos estádios, aplicando uma metodologia embasada em depoimentos retirados de entrevistas envolvendo membros de algumas torcidas organizadas do São Paulo Futebol Clube7 que visa detectar aspectos linguísticos regulares que tipificam a definição de “violência no futebol brasileiro”8. Com efeito, o intuito das entrevistas e das demais ferramentas apresentadas para interpretação das falas dos entrevistados (ricamente aplicada no decorrer do livro) é identificar quais embasamentos e táticas argumentativas estão presentes nas falas dos torcedores para poder, enfim, compreender o que é violência para determinado grupo. Leia Mais
Nosso amplo presente – o tempo e a cultura contemporânea | Hans Gumbrecht
Formado em Literatura, Hans Ulrich Gumbrecht vem, nos últimos anos, sendo cada vez mais estudado por pesquisadores interessados pelas linguagens e, especificamente na história, pela estética e pela história do tempo presente. Autor de inúmeros textos e obras, possui traduzidos e publicados no Brasil algumas grandes obras, entre estas Elogio da Beleza Atlética [1], Produção de Presença – o que o sentido não consegue transmitir [2] e Depois de 1945 [3]. No tocando a suas obras, a problemática da presença foi corriqueiramente debatido, sendo a obra do Elogio da Beleza Atlética o primeiro ensaio publicado no país onde o autor exprime algumas reflexões a respeito do conceito.
De acordo com o autor, esta presença, poderia ser pensada em uma dimensão especial, e não temporal. Na obra Produção de Presença – o que o sentido não consegue transmitir (2010), Gumbrecht busca conceituar presença enquanto algo que só é possível de se percebida através dos sentidos. Nas palavras do próprio – “por “presença” pretendi dizer – e ainda pretendo- que as coisas estão a uma distancia de ou em proximidade aos nossos corpos; quer nos “toquem” diretamente ou não, têm uma substância”[4] . Leia Mais
nserção social e habitação de pessoas com sofrimento mental grave – FURTADO; NAKAMURA (TES)
FURTADO, Juarez Pereira; NAKAMURA, Eunice (orgs.). Inserção social e habitação de pessoas com sofrimento mental grave. São Paulo: Editora FAP-Unifesp, 2014. 432 p. Resenha de: SOALHEIRO, Nina. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.14 n.3, Set./dez. 2016.
O livro Inserção social e habitação de pessoas com sofrimento mental grave demanda fôlego do seu leitor, o mesmo que foi necessário aos organizadores e autores para nos apresentar os resultados de um trabalho assumidamente longo e complexo. Organizado por um profissional da saúde coletiva com larga experiência no campo da saúde mental e uma antropóloga que tem seus estudos também voltados para o campo, o livro reúne pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, mas orientados por uma metodologia rigorosamente interdisciplinar. Por isso não é uma leitura fácil nem dada a simplismos; ao contrário, vai muito além dos limites conceituais já consagrados no campo da atenção psicossocial.
Desde o título, o livro deixa claro que os organizadores e autores falam de inserção social e não de ‘reinserção social’ ou ‘reabilitação psicossocial’; falam de habitação e não apenas de ‘residências terapêuticas’ ou ‘serviços residenciais terapêuticos’; falam de pessoas com sofrimento mental e não de ‘portadores de transtornos mentais’ ou ‘pacientes psiquiátricos’. E demonstram que não são dados a caminhos fáceis, já que escolhem falar de pessoas com sofrimentos graves. Isso já nos dá uma boa medida da obra, a qual apresenta uma pesquisa inovadora no campo da saúde mental e atenção psicossocial, esta tão carente de sistematizações de fôlego, seja pela complexidade de fazê-lo, seja por nos contentarmos apenas com aquilo que nos cabe fazer.
A pesquisa que deu origem ao livro é resultado de indagações teóricas e políticas da equipe, a partir dos novos desafios trazidos pelo conjunto de mudanças implementadas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, particularmente na área de suporte social a moradias e habitação de pacientes com sofrimento mental grave. Dentro desse contexto de consolidação de uma saúde mental pós asilar, o livro ressalta a diferença fundamental entre morar e habitar: morar refere-se ao espaço, conforto e proteção que constituem a residência; habitar, ao modo de apropriação da moradia, inclui a história e o estilo de ser daquele que vive nela.
O campo da pesquisa é constituído por três municípios diferentes, duas capitais estaduais e um município contíguo a uma região metropolitana, os quais foram definidos por terem uma rede de saúde mental diversificada e já consolidada. A equipe de pesquisadores foi composta a partir da característica qualitativa, interdisciplinar e participativa do estudo, reunindo pesquisadores de quatro importantes áreas de conhecimento para abordagem do tema: antropologia, arquitetura, saúde coletiva e psicanálise. Uma perspectiva interdisciplinar sem pretensões holísticas, apenas baseada num roteiro comum e no compartilhamento exaustivo da experiência com o ‘objeto’ e campo.
Dessa forma, os resultados apresentam um conjunto de análises muito ricas, organizadas tanto por categorias específicas a cada uma das áreas de conhecimento quanto por um esforço de síntese e reconstrução do objeto através dos diferentes olhares. O livro e seu conjunto de capítulos materializam aquilo que insistentemente temos afirmado sobre a natureza interdisciplinar e intersetorial da atenção psicossocial e a necessidade intrínseca ao campo de agregar múltiplos saberes e abordagens. Para isso os organizadores estruturam o trabalho em três partes que reconstituem o longo caminho percorrido pela equipe da pesquisa.
A primeira parte, intitulada “Morar, habitar, inserir: perspectivas da arquitetura, antropologia, psicanálise e saúde coletiva”, representa um esforço de sistematização e compartilhamento com o leitor dos aspectos teóricos e conceituais de cada uma das áreas de conhecimento. Sem se ater a um mero exercício epistemológico acadêmico, o texto é radicalmente focado no objeto e no compromisso social da pesquisa.
A partir dos autores arquitetos vem a compreensão da casa como lugar de proteção das intempéries e a poética da nossa eterna relação com ela, sempre em construção. Apresentam-na em suas múltiplas dimensões de fundação, abrigo e construção material de nossa presença no mundo. E, sobretudo, relatos que trazem um olhar profundamente crítico das distorções presentes nos serviços estudados, detalhes que muitas vezes não conseguimos enxergar.
Os autores antropólogos trazem uma contribuição importante para o nosso campo, na medida que desvelam a insuficiência das definições simplistas de inserção social e ressaltam o valor de uma perspectiva etnográfica ‘de dentro’, aquela que analisa o pertencimento das moradias ao conjunto da organização social e cultural que produz exclusão.
Os autores da saúde coletiva não poupam esforços para situar o leitor na historicidade das políticas públicas para a área no Brasil, incluindo também um breve painel de experiências nacionais e internacionais relevantes. Discutem políticas e projetos de suporte social a moradias e habitação, sem abrir mão da dimensão simbólica envolvida nessa construção, sempre presente no livro como um todo. O que é muito bem ilustrado com a referência ao caso de um senhor que, chegando num Serviço Residencial Terapêutico no qual finalmente consegue uma vaga, deposita sua sacola sobre a cama e surpreende com a frase: “Agora posso viajar!”. Os espaços públicos de moradia têm que comportar pertencimento e errâncias, ser porto seguro para andanças que agora incluem o voltar.
Por fim, os autores psicanalistas ressaltam a importância da articulação entre singular e universal para a construção do habitar. Apostam na natureza essencialmente simbólica desta construção, única para cada sujeito, sem projeto comum para todos. A nós restaria apenas acompanhar os modos de habitar o mundo e o campo do Outro onde os sujeitos podem encontrar sua casa.
A segunda parte do livro é intitulada “Processos de investigação”, formada por sete capítulos que, segundo os organizadores, traduziria o ‘como fizemos’. Inclui reflexões teóricas sobre os diferentes métodos e técnicas de pesquisa utilizados e, mais importante, a narrativa dos pesquisadores sobre a experiência de campo. Um ‘campo’ na verdade constituído pela equipe em interação com os diferentes territórios de vida dos sujeitos pesquisados, trazendo experiências de imersão etnográfica e biográficas. Aqui encontramos uma pesquisa essencialmente qualitativa, levando a termo aquilo que é a potência desse modo de investigação: dar consistência a mundos obscuros e invisíveis, os quais só são acessíveis com extrema aproximação de rotinas e de vidas.
Em cada um dos capítulos encontramos pesquisadores sem medo do seu próprio estranhamento de mundos caóticos e sem pudor de nos fazer participar dos seus diálogos internos, mas sem deixar de sempre retornar ao seu papel de análise e reflexão dessas experiências. Um trabalho essencialmente etnográfico, na medida em que há uma imersão no campo de estudo, sistematizando experiências de compartilhamento com os sujeitos em seu espaço de vida e utilizando técnicas voltadas para uma descrição densa e profunda do universo sócio/cultural.
Destaca-se aqui o texto “Entre corredores e labirintos: a narrativa como fio de Ariadne”, uma referência mitológica ao desafio de adentrar labirintos da vida e conseguir sair. E os labirintos aqui incluem não só os espaços protegidos dos serviços, as instituições estudadas, mas também os becos, ruelas e os lados escuros e obscuros da cidade. Dessa forma, o trabalho dos pesquisadores prossegue ancorado num desenho de pesquisa suficientemente ousado para investigar com rigor metodológico ‘a vida como ela é’, desnudando poderes, abusos e solidariedades no mundo de pessoas que aprendem a viver com um olho aberto e outro fechado.
São descrições de personagens reais que apresentam modos singulares de habitação, que falam sobre uma relação complexa entre a vida íntima e a ordem esperada aos espaços públicos, que demonstram como os modos de habitar tem a ver com as histórias e marcas de cada um. O habitar é uma construção que conecta mundo interno e universo social e cultural, produzindo infinitos modos de viver a vida. Há o Rivaldo que vive numa casa inacabada, há o Anastácio que ainda não encontrou sua casa, mas construiu formas próprias de se proteger, há a Armênia, uma hóspede itinerante da cidade…
Encontramos também uma reflexão mais voltada para a sistematização dos desafios apresentados por uma política suficientemente construída para que possa ser avaliada, mas ainda em construção, de forma a comportar uma ação reflexiva sobre posturas e práticas, e incorporar novos saberes. Nesse ponto é importante a característica do livro de incorporar tanto a experiência dos estudantes e seu olhar crítico quanto a análise crítica de pesquisadores experientes. Com coragem suficiente para enxergar e descrever as novas iatrogenias geradas no interior do modelo, os desafios de formar cuidadores facilitadores e não dificultadores dos processos de (des) institucionalização.
Finalmente, na terceira parte do livro, os autores reafirmam o caráter avaliativo da pesquisa e o compromisso de todos na construção de convergências e consensos que resultem em reflexões avaliativas que possam subsidiar ajustes de rota e decisões para o enfrentamento dos desafios próprios às políticas públicas em construção. Há um esforço de síntese do trabalho investigativo das quatro áreas envolvidas – antropologia, arquitetura, saúde coletiva e psicanálise – que resulta na discussão do que envolve habitar uma casa protegida pelo campo do terapêutico, habitar uma casa, habitar uma grande cidade.
A dimensão do processo de pesquisa traduzido em livro nos impede de incluir neste espaço uma descrição pormenorizada da análise de dados e dos resultados do trabalho. Neste momento, remetemos o leitor ao próprio livro onde ele vai encontrar um conjunto de recomendações e proposições que possam ser fio condutor em seus próprios labirintos. São reflexões que nos levam a conceber lugares de moradia como uma construção sensível e orientada para as necessidades íntimas e sociais daqueles que têm sofrimentos psíquicos graves. Parece que a nós, cuidadores e pesquisadores de todas as áreas, resta-nos a aprendizagem da (des) institucionalização, o acompanhamento de muitas vidas construídas para sobreviver à crueldade da exclusão social e a luta política por cidades que nos comportem a todos.
Nina Soalheiro – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected]
(P)
Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado – NICOLAZZI (RBH)
NICOLAZZI, Fernando. Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado. São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 484p.Resenha de: PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Tanto já se escreveu sobre Gilberto Freyre, e particularmente sobre Casa-grande & senzala, que está cada vez mais difícil se dizer alguma coisa nova e significativa sobre o autor ou sobre o livro de 1933. O risco de “chover no molhado”, como o próprio Nicolazzi diz, é bastante grande. Entre os estudiosos anteriores de Casa-grande, Nicolazzi está mais próximo de Ricardo Benzaquen, cujo trabalho reconhece como inspirador, mas oferece uma visão propriamente sua da obra de Freyre.
Um estilo de História é uma versão ligeiramente modificada de uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2008, que recebeu o prêmio Manoel Luiz Salgado Guimarães da Anpuh em 2010. Apesar de Nicolazzi não ter aproveitado esse lapso de 7 anos entre a defesa e a publicação de 2015 para fazer referência aos estudos publicados nesse intervalo, dá uma contribuição original para a montanha do que se pode chamar de “Estudos Freyreanos”, examinando Casa-grande de vários ângulos. Como o próprio autor confessa logo no início, seu livro é “um conjunto de ensaios travestido em tese universitária”, o que é muito apropriado no caso do estudo de um autor que adorava o gênero ensaístico e descrevia até mesmo sua volumosa obra de novecentas e tantas páginas, Ordem e Progresso, como um “ensaio”. O que mantém Um estilo de História mais ou menos coeso é o argumento do autor de que Freyre escolheu um estilo de representação do passado, um modo de proximidade, que diferia muito das representações anteriores empregadas por antigas histórias do Brasil; e que esse estilo pode ter mesmo sido adotado por Freyre em resposta direta a Os sertões.
Para justificar sua tese sobre representações, Nicolazzi adota o método de leitura atenta (close reading) dos textos para chegar a conclusões sobre o estilo, as estratégias literárias e os modos de persuasão tanto de Euclides da Cunha quanto de Gilberto Freyre. Seus sete ensaios-capítulos são organizados em três seções. A primeira se inicia com um relato da recepção de Casa-grande no Brasil (em outras palavras, representações de uma representação), e daí se volta para os dez prefácios do autor, nos quais ele se defendia contra más representações de sua obra, ou deturpações, e conversava, por assim dizer, com seus resenhistas. A segunda seção, que compreende mais dois ensaios, deixa Freyre de lado para se concentrar em Euclides da Cunha. A terceira seção retorna a Freyre, com três capítulos dedicados respectivamente a viajantes, memórias e ao próprio gênero do ensaio. Nicolazzi considera Freyre um viajante que privilegiava o testemunho de outros viajantes e oferecia aos seus leitores a sensação de estarem viajando ou no espaço ou no tempo. Também enfatiza a importância das memórias em Casa-grande: as do próprio autor, as de sua família e as dos indivíduos que entrevistou, o mais famoso dos quais foi o ex-escravo Luiz Mulatinho. O livro termina com um ensaio sobre o ensaio, refletindo sobre ensaios históricos e sobre a tradição brasileira do ensaísmo, a fim de buscar a singularidade da contribuição de Freyre para essa tradição.
Um estilo de História é fruto de uma leitura vasta e variada, que inclui não somente a historiografia, de Heródoto a Hayden White, mas também filosofia, literatura, psicologia, sociologia e antropologia, os campos nos quais o próprio Freyre estava muito à vontade. Nas páginas de Nicolazzi, Paul Ricoeur está ao lado de Wolf Lepenies, Roland Barthes ao lado de Clifford Geertz, Oliver Sacks de Quentin Skinner, François Hartog de Walter Benjamin, Jean Starobinski de Frank Ankersmit, Michael Baxandall de Gérard Genette, além de outros. Enfim, tantos nomes, tantas luzes a iluminar um texto.
Assim como a justaposição do livro de Euclides com o de Sarmiento, Civilização e barbárie, se tornou um tópos, o mesmo aconteceu com a comparação e o contraste entre Os sertões e Casa-grande, que novamente coloca a representação do “outro” versus a representação de “nós” em pauta. No entanto, Nicolazzi desenvolve esse contraste de modo interessante e valioso, focalizando pontos de vista. Segundo ele, o contraste essencial entre Freyre e Euclides – cujo trabalho Freyre estudou cuidadosamente e sobre o qual escreveu mais de uma vez – é que Euclides exemplifica o que Claude Lévi-Strauss chamou de “olhar distante”, observando e representando outra cultura como se estivesse pairando alto no ar; uma cultura que ele via como oposta à sua própria, ou seja, uma representando a civilização, e a outra, a barbárie. Sua estratégia literária era a do naturalista, registrando detalhes com o espírito de um cientista, uma espécie de Émile Zola do sertão. Em contraste, Freyre, como um antropólogo no campo, tentava chegar perto dos escravos e ainda mais perto dos senhores (e das senhoras) de engenho sobre os quais escreveu. Como Michelet – e diferentemente de Euclides – Freyre tentava evocar o passado, suprimir a distância e identificar-se com os mortos e com tudo o que já se foi. Ele pode até ser criticado – e o foi por Ricardo Benzaquen – por estar “correndo o risco de uma proximidade excessiva”.
Há muito a ser dito em favor desse contraste. Afinal de contas, Freyre disse em certa ocasião que “o passado nunca foi, o passado continua”. Sua “história íntima” e sua “história sensorial” tentavam exatamente tornar os leitores capazes de ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e até mesmo tocar o passado. O elemento autobiográfico em Casa-grande, enfatizado ainda mais em 1937 em seu Nordeste, é efetivamente central, e a confusão entre a vida do autor, de sua família e de sua região natal (ilustrada pelo uso frequente que Freyre faz da primeira pessoa do plural) é, na verdade, reminiscente de Michelet.
No entanto, a oposição entre distância e proximidade precisa ser qualificada, se não mesmo questionada – do mesmo modo como o próprio Freyre gostava de primeiro estabelecer, para depois solapar as categorias opostas de sobrados e mocambos, ordem e progresso, e assim por diante. Pois Freyre não era adepto de polaridades rígidas – que não davam conta dos paradoxos, contradições e complexidades da realidade humana – e se apelava para oposições binárias, sua estratégia era sempre enfraquecê-las por meio de mediações entre opostos, para o que o uso de termos recorrentes como quase-, para-, semi- se adaptava muito bem.
Assim, no que diz respeito à proximidade que Freyre pretenderia ter de seu objeto de estudo, deve-se acrescentar que ele também era capaz de ver seu próprio país com olhos estrangeiros. Seu emprego recorrente de textos escritos por viajantes como evidência não somente dá aos leitores a sensação de “estarem lá”, como Nicolazzi sugere, mas também os provê com distanciamento, já que os viajantes são frequentemente estrangeiros que podem ver mais facilmente o que nativos não veem. De qualquer modo, em algumas de suas passagens menos memoráveis, Freyre escorrega de seu estilo usualmente vívido e subjetivo e cai, por assim dizer, numa linguagem acadêmica, objetiva, escrevendo no capítulo 1, por exemplo, que “por mais que Gregory insista em negar ao clima tropical a tendência para produzir per se sobre o europeu do Norte efeitos de degeneração … grande é a massa de evidências que parecem favorecer o ponto de vista contrário”. Aqui, como em outros pontos da obra, a proximidade e a subjetividade do estudo da sociedade patriarcal dão lugar ao distanciamento e à objetividade. Pode-se, pois, descrever Casa-grande muito apropriadamente como um livro híbrido, não somente no sentido de combinar técnicas científicas e de ficção, como Nicolazzi aponta, mas também por se mover entre o fora e o dentro, entre distância e proximidade.
Como uma boa tese de doutorado, Um estilo de História é extremamente minuciosa e, em certos aspectos, ainda “cheira” a uma tese no sentido de que o autor não parece saber bem quando parar, repetindo argumentos e mesmo citações (uma delas três vezes) a fim de fortalecer seu argumento. Os leitores, ou ao menos alguns deles, podem ter às vezes a sensação de que Nicolazzi está usando uma marreta para abrir uma noz. Como muitas teses brasileiras, Um estilo de História está também sobrecarregada de reflexões sobre método e teoria, assim como apoiada em grande bagagem intelectual, desconsiderando, às vezes, o princípio conhecido como “o rifle de Chekhov”. Chekhov certa vez aconselhou os escritores a “removerem tudo que não tem relevância para a estória. Se você diz no capítulo primeiro que tem um rifle pendurado na parede, no segundo ou no terceiro esse rifle tem necessariamente de ser usado para atirar em alguma coisa. Se não for para ser disparado, então o rifle não deveria estar pendurado lá”. Do mesmo modo, se a Metahistory de Hayden White é discutida na introdução, como foi o caso, os leitores seguramente têm o direito de esperar que o livro de White seja usado mais tarde, discutindo, por exemplo, se Casa-grande & senzala foi “encenada” como uma comédia ou romance. Essas expectativas, no entanto, são frustradas.
Outra questão que importa levantar diz respeito ao uso acrítico que Nicolazzi fez, algumas vezes, dos escritos autobiográficos de Freyre, especialmente de seu “diário da juventude”. Esse texto ocupa lugar importante no livro para reforçar seu argumento sobre a legitimidade que as experiências vividas por Freyre dão ao estilo de história que escolheu escrever. Há evidências de que esse diário “da juventude”, publicado em 1975, não foi efetivamente redigido entre 1915 e 1930, tal como o Freyre maduro – tão envolvido em self-fashioning – quis fazer crer. Ele era, na verdade, exímio na arte da autoapresentação, produzindo com esmero a imagem que os leitores deveriam ter dele. Nicolazzi reconhece isso logo na primeira parte de seu livro. No entanto, várias vezes utilizará esse “diário”, ou ensaio-memória, como se ele representasse fielmente o que o autor fizera ou pensara quando ainda estava para escrever Casa-grande. É de se crer que esses deslizes se devam ao fato de o livro incluir textos escritos em momentos diversos, e que falhas ou descuidos como esses compreensivelmente escaparam na revisão.
Não obstante esses pequenos senões, Um estilo de História é livro inovador e perspicaz que elucida, inspira e instiga a curiosidade do leitor. É também valioso por tratar de ideias de proximidade e distância nos moldes de alguns estudos recentes e refinados sobre “distância histórica”, em especial os desenvolvidos por Mark Phillips e alguns de seus colegas. Particularmente interessante é a diferenciação que Phillips faz entre distância e distanciamento, o primeiro uma postura espontânea entre os historiadores, o segundo uma estratégia proposital usada por alguns deles para trazer o passado para perto do leitor, como num close-up, quando assim acham importante, ou distanciar o passado para obter outros efeitos. Enfim, a retórica da proximidade e da distância como uma ferramenta que alguns historiadores usam conscientemente, como um romancista, para causar determinados efeitos em seus leitores, é uma linha de estudos fecunda à qual o livro de Nicolazzi pode ser associado. E, nesse sentido, Um estilo de História tem o grande mérito de potencialmente acenar para um novo e promissor fio a ser seguido pelos estudiosos de historiografia e de Gilberto Freyre.
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke – Research Associate, Centre of Latin American Studies, University of Cambridge. Cambridge, UK. E-mail: [email protected].
Espaços fechados e cidades: insegurança urbana e fragmentação social / Maria Encarnação B. Sposito
O livro, “Espaços fechado e cidades: insegurança urbana e fragmentação socioespacial”, lançado no ano de 2013 é resultado de um trabalho interdisciplinar desenvolvido pelas professoras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Presidente Prudente – SP, Maria Encarnação Beltrão Sposito (Geografia) e a Eda Maria Góes (História), em parceria com outras ciências como a Sociologia e a Antropologia. A partir da perspectiva de que o “espaço não é mero coadjuvante”, mas faz parte das construções sociais, as autoras buscaram analisar a segregação socioespacial por meio do estudo dos espaços residenciais fechados, ou seja, os condomínios particulares. Sob essa baliza, Sposito e Goés procuram compreender as matizes nas fragmentações estruturais do espaço urbano e as implicações enquanto segregação social.
Antes de adentrarmos nas abordagens metodológicas da obra, é importante frisar que o livro em questão no ano de 2015 recebeu o prêmio, “Ana Clara Torres Ribeiro”, laureado pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR, o que colocou em destaque acerca das mais recentes discussões sobre as problemáticas do espaço urbano. A obra foi resultado de um trabalho intenso e de fôlego que vem sendo desenvolvido através do conjunto de analises desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais (GAs-PEERR), o qual reúne amplo leque de perspectivas do olhar sobre o objeto urbano.
As autoras analisaram três cidades médias do interior paulista, Marília, Presidente Prudente e São Carlos. A escolha foi parte da metodologia, pois, assume a ideia de sair da seara das metrópoles como objetos centrais dos estudos do urbano no Brasil. Entretanto, a pesquisa se preocupou em compreender o contexto urbano brasileiro das grandes cidades e compor associações de contrastes e pontos em comum entre as escalas urbanas. Para o desenvolvimento da pesquisa, as autoras fizeram uso de entrevistas, tanto com moradores dos espaços residenciais fechados, meticulosamente escolhidos, em cada das três cidades abordadas, bem como realizaram entrevistas com os habitantes de diferentes localidades dos referidos municípios. Desse modo, as autoras enfatizam que por meio dessa lógica, puderam compreender a visão de dentro e de fora dos espaços privados.
O livro está organizado em três partes que se distribuindo em onze capítulos. Cada parte possui um tema central que se desmembra em capítulos, onde a pesquisa se aprofunda. Nessa resenha procuramos organizar as ideias do livro a partir de cada parte que se organiza a obra, para que possamos compreender um aspecto geral do trabalho das autoras e ao mesmo tempo apresenta-lo de modo mais dinâmico.
A parte inicial do livro recebe o título de “O tema e a pesquisa” e abrange os três primeiros capítulos. No capítulo 1 as autoras procuraram de modo enfático, apresentar os referencias teóricos que embasaram as abordagens que serão contempladas ao longo do trabalho, sobretudo, apontando alguns conceitos essências que deram forma à pesquisa.
Primeiramente, as autoras compreendem o espaço urbano como um elemento ativo nas relações de sociabilidades. Assim, o espaço não se resume a um “palco”, pelo contrário, a partir dos fundamentos de Ana Fani Alessandri Carlos, as relações sociais são entendidas como relações espaciais. Outro aspecto que cerca o em torno da pesquisa foi o fator violência e cidade. De acordo com autores como Zygmund Bauman e Yves Pedrazzini, a obra mergulha nessa estreita relação compreendida entre o espaço urbano e o medo/violência.
A partir de Pedrazzini, as autoras se fundamentam no termo da “estética do medo” e/ou “urbanismo do medo”, concepções elaboradas para análise de uma política urbana social para explicar as demarcações do espaço urbano de acordo com as valorizações e desvalorizações desses a partir de uma caracterização da violência. Desse modo, contrapontos como “periferia x centralidade”, são analisados no livro, levando o leitor a rever as naturalizações de tais conceitos de clivagens e compreender as novas concepções estruturais das cidades contemporâneas.
Com base nas análises de perfil de cidades internacionais, metrópoles nacionais, bem como, as cidades médias trabalhadas no livro, as autoras puderam traçar uma constante relacionada ao crescimento de espaços residenciais fechados. A partir da metodologia de compreender a visão dos moradores desses espaços, assim como o lugar desses espaços dentro do contexto social de cada cidade abordada, foi possível traçar considerável número de semelhanças, mesmo considerando, as particularidades de cada espaço residencial fechado e os municípios de Presidente Prudente, Marília e São Carlos.
Assim, as autoras compreenderam que esses espaços residenciais foram legitimados na concepção da oferta de segurança, por meio do fomento do discurso da violência urbana e a partir desse constructo, a construção de muros, sistemas de controle de acesso dos de fora para dentro, bem como monitoramento do espaço com câmeras e vigilância permanente, formulam empreendimentos imobiliários, que vendem a ideia de segurança, ao mesmo tempo em que alimentam um mercado de habitações particulares de luxo “longe” dos problemas urbanos. Ao se fundamentarem em autores como Guénola Capron, pode-se compreender os espaços fechados como formadores e legitimadores de clivagens, aonde as fronteiras vão sendo construídas e fragmentando os espaços dos ricos e dos pobres.
Na segunda parte, o livro se desdobra para questões relacionadas às diferentes estruturas urbanas, intitulada “O que é central, o que é periférico e suas múltiplas escalas”. Nesse sentido, o leitor passa a compreender o processo de desenvolvimento da malha urbana de cada município analisado, o modo com que as cidades foram tomando forma dentro dos enquadramentos de espaços residenciais para as diferentes classes, bem como, a construção – sob as particularidades dos residenciais e seus municípios – dos condomínios particulares.
Além disso, Sposito e Góes procuram justificar a escolha de cidades médias e o leitor é convidado a problematizar as questões de escalas pouco visitadas, considerando que as cidades metropolitanas acabam por tomar considerável espaço nas análises do urbano e pouco se estuda acerca de estruturas de cidades médias ou pequenas. Sob esse aspecto é que as autoras tomam esses enclaves como “habitats urbanos”. É por meio da aproximação das realidades de Presidente Prudente, Marília e São Carlos que as autoras puderam realizar um detalhamento criterioso sobre as novas redefinições espaciais, sobretudo, no que toca a dicotomia “centro x periferia”.
Em busca da ideia de segurança e exclusividade, as construtoras implantaram seus projetos em localidades mais afastadas do que as autoras entendem como centro, ou seja, regiões com espaços urbanos mais estruturados1. Assim, percebe-se o deslocamento de famílias com poderes aquisitivos mais elevados às residenciais fechados, localizados nas fimbrias dos perímetros urbanos dos municípios. Por meio de entrevistas com moradores desses locais, foi possível compreender mais do que as construções, no que compete às composições físicas desses espaços, há um engendramento de sociabilidades particulares, onde o discurso se alinha com base na busca pela segurança.
Para Sposito e Góes, tais empreendimentos extrapolam os muros desses espaços fechados, pois, fomentam a estruturação de uma realidade urbana de segregação, atingindo a população externa, colocando assim uma ordem, dos de dentro e os de fora. Especificamente no capítulo 5 as autoras destinam um espaço para as particularidades de implantação desses espaços residenciais fechados, considerando o quadro urbano de cada município. Posteriormente, o leitor é convidado a acompanhar o desenvolvimento de problematizações acerca das reconfigurações das espacialidades urbanas, a partir de novas perspectivas sobre as “periferizações seletivas”, ou seja, esses espaços residenciais fechados promovem o surgimento de “novos habitats” resultando em novas concepções de segregação espacial.
O capítulo 6 revela o cerne da pesquisa, sob o título “Novos habitats, novas formas de separação social”. Por meio de entrevistas com corretores imobiliários, foi possível perceber que os condomínios residenciais fechados, ao se instalarem nas regiões periférico-fronteiriças da cidade, acabam por se aproximar das periferias tradicionais, ou seja, daquelas regiões desestruturadas, como favelas e bairros com condições precárias.
Entretanto, é na estruturação física que esses espaços fechados, munidos de muros altos, portões de alta segurança, entre outros fatores já citados, reforçam as fronteiras socioespaciais, determinando o lugar de cada classe e sua posição urbana e social. No mesmo capítulo são aprofundadas questões como interesses privados de geração de capital proveniente às especulações imobiliárias, as implicações de distância desses espaços fechados de redes de serviços, bem como as especificidades de cada cidade média em relação aos empreendimentos residenciais fechados. É interessante destacar que houve um forte investimento, por parte das autoras em representar os espaços das cidades estudadas com uso de mapas, tabelas e fotos, o que deixa a leitura mais compreensiva e próxima à realidade do objeto estudado.
A terceira e última parte do livro, se concentra na temática da violência e insegurança na cidade, conceitos que foram ressaltados como importantes condutores nas reorganizações espaciais no meio urbano. Sposito e Góes buscaram com base nas entrevistas um viés da violência a partir do “olhar do outro”. Nesse sentido, as autoras compreendem a violência como um conceito polissêmico. Ao se fundamentarem em Michel Misse, para estudar a violência urbana, entendem que nesse contexto a “realidade, envolve uma pluralidade de eventos, circunstâncias e fatores que têm sido, por um lado, imaginariamente unificados num único conceito e, por outro, representados como um sujeito difuso que está em todas as partes” (SPOSITO & GÓES, 2013: 164).
Outro ponto abordado pelas atoras foi à representação da violência, assim como a violência da representação. Nesse ponto, a pesquisa procura analisar a fundo o modo com que a violência passa a adquirir um aspecto simbólico forte de modo a sustentar o discurso pela busca de segurança, sobretudo, por parte dos moradores dos espaços fechados, questão fomentada pela mídia e manipulações de interesses políticos balizam esse imaginário da violência.
Sposito e Góes, ao trazerem abordagens com diferentes olhares da ciência proporcionam compreender como cada vez mais os interesses particulares passaram a modificar as paisagens urbanas, sobretudo, no que tange ao fomento da fragmentação socioespacial. Os espaços residenciais fechados ao buscarem homogeneizar padrões de convívio, dinamizam as práticas de interesses econômicos no âmbito imobiliário, mas legitimam cada vez mais as heterogeneidades para os que estão do lado de fora dos muros.
A leitura dessa obra é importante porque nela as autoras revisitaram conceitos clássicos, como centralidade e periferia, criminalidade, violência e segurança urbana, espaços residenciais fechados, elementos muitos pautados em pesquisas, bem como fenômenos de moradia – como os residenciais habitacionais fechados – que nos leva a revisitar e refletir sobre as constantes mudanças no espaço da cidade. Além, da valiosa contribuição metodológica, utilizando entrevistas, respeitando os diferentes pontos de perspectiva e mapeando as novas formulações do espaço urbano enquanto um meio ativo é vívido na construção das sociabilidades.
Daniela Reis Moraes – Mestranda junto ao programa de História e Sociedades, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Campus Assis-SP. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected].
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; GÓES, Eda Maria. Espaços fechados e cidades: insegurança urbana e fragmentação social. São Paulo: Editora da Unesp, 2013. Resenha de: MORAES, Daniela Reis. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.27, p.160-164, ago./dez., 2015. Acessar publicação original. [IF].
Comer: necessidade, desejo, obsessão – ROSSI (S-RH)
ROSSI, Paolo. Comer: necessidade, desejo, obsessão. Tradução de Ivan Esperança Rocha. São Paulo: Editora da UNESP, 2014 [2011], 192 p. Resenha de: OLIVEIRA, Carla Mary S. Miríades do comer: por uma compreensão ampla do ato de se alimentar. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [32] jan./jun. 2015.
Paolo Rossi (1923-2012) foi um dos mais destacados historiadores italianos da segunda metade do século passado e começos deste século. Tendo se dedicado ao estudo da História das Ideias na Europa dos séculos XVI e XVII, especializouse no pensamento de Francis Bacon. No Brasil teve, infelizmente, poucos mas inegavelmente marcantes trabalhos publicados além do livro sobre o político e filósofo inglês2, como O passado, a memória, o esquecimento3 e O nascimento da Ciência moderna na Europa4.
Se pensarmos no boom editorial que ocorreu em relação aos livros dedicados à gastronomia nas duas últimas décadas, não causaria espécie que um historiador como Rossi também se voltasse ao campo que abarca o ato de comer. Dentro da História Cultural, por sinal, não se trata de objeto de pesquisa inédito5, tendo despertado o interesse inclusive de pesquisadores avant la lettre como Gilberto Freyre6, muito antes de que ficasse na moda se fazer de gourmet/ gourmand ou de os historiadores brasileiros se dedicarem com mais afinco ao tema – quadro que nos últimos anos vem se modificando significativamente, aliás7.
Em Comer: necessidade, desejo, obsessão8 o que temos é justamente uma das últimas obras de um pesquisador arguto e criterioso, que mesmo partindo de uma proposta temática emersa de seu próprio círculo familiar, não se furta a exercitar com extrema perícia a crítica e o pensamento histórico acerca do objeto que se propôs a destrinchar9. Rossi se colocou a pensar o ato de comer a partir do convite para escrever o prefácio do primeiro livro de uma amiga muito próxima de sua filha, que também vira crescer, Laura Dalla Raggione, psiquiatra especialista no tratamento de distúrbios alimentares10. Dividido em dezenove curtos capítulos, o saboroso ensaio passeia por diferentes aspectos ligados ao ato de comer que, em síntese, pode ser visto como procedimento fundamental, indispensável e inteiramente necessário à manutenção da existência de todos os seres vivos.
Mas o que torna esse livro de Rossi interessante para os historiadores, já que em primeira instância ele não trata de um fato, evento ou processo histórico em particular, mas sim de uma prática que corta transversalmente todas as temporalidades e todas as sociedades, mesmo as mais “primitivas”? Talvez a própria forma escolhida por seu autor para abordar o tema. Nas últimas três décadas é inegável que assistimos à consolidação da História Cultural como campo hegemônico da produção historiográfica. Nesse processo emergiram objetos de pesquisa dos mais variados tipos, e entre eles a alimentação e suas peculiaridades, sem dúvida, alcançou uma posição de destaque e visibilidade extrema não apenas entre os profissionais de Clio, mas também entre o público não acadêmico – e no próprio mercado editorial, como já destaquei – interessado em devorar avidamente o universo pitoresco ligado ao comer e ao beber característicos de outros lugares, outros tempos e outros povos. No entanto, não são essas peculiaridades ou informações pitorescas ou mesmo exóticas o mote escolhido por Rossi para construir sua narrativa. Ele lança seu olhar sobre o comer por meio de seus aspectos mais arquetípicos, ligados não só ao ato cultural de alimentar-se, mas também à escolha religiosa ou ritual pela privação de alimento, às limitações de oferta de gêneros alimentícios em períodos de exceção, ao estabelecimento de interditos e tabus alimentares pelas mais variadas motivações, às transgressões abomináveis como o canibalismo, às maldições diabólicas imaginárias como o vampirismo e, característica grotesca da contemporaneidade, a escolha pseudoestética pela magreza anoréxica das top models ou a condenação moral dos indivíduos que trazem seus corpos acima do peso considerado “normal” ou “saudável”.
Antes de tudo, Rossi se propõe a escrever seu livro a partir da visada da História das Ideias, logo no curtíssimo primeiro capítulo, destacando o inusitado de sua escolha: “A História, ou melhor, as muitas histórias que procuro narrar aqui são repletas de coisas agradáveis, mas também de horrores, às vezes, inimagináveis” (p. 15).
Em seguida ele começa a servir ao leitor o percurso que definiu para pensar os diversos comeres que permeiam a existência humana. Como elemento fundador de qualquer ato do homem civilizado, Rossi destaca a força das ideias: para ele, elas “tornam-se formas de pensamento e geram comportamentos” (p. 17). São as humanas – é fácil pensar aqui no conceito bourdieniano de habitus, admito. Outro fator preponderante para a existência do gênero humano, sem dúvida, se trata da natureza, quaisquer que sejam as interpretações semânticas que lhe sejam dadas.
A natureza está ligada tanto ao estado natural, primeiro, primitivo das coisas, como também àquilo que está subjacente à própria vida, posto que é dela, da natureza, que advém o sustento diuturno dos seres vivos em todo o planeta: “Uma grande parte da noção comum ou corrente de natureza é ainda hoje, como era nas origens, resultado de projeções antropomórficas, entremeadas por mitos e ligadas a impulsos irracionais” (p. 21).
Na perspectiva analítica escolhida por Rossi fica claro que, para ele, a natureza se trata de algo pré-existente ao homem e, a partir do momento em que este passa a interferir nela a própria relação homem/ natureza atinge patamares cada vez mais complexos de interação, retroalimentando-se dessa própria relação e de suas consequências. Ora, neste processo o que se constrói na verdade é aquele algo disforme e de contornos indefinidos e fluidos a que chamamos de cultura.
Lembrando o antropólogo Marvin Harris, Rossi indaga:
[…] dado que todos os que pertencem à espécie humana são onívoros e dotados de um aparelho digestivo absolutamente idêntico, como é possível que em alguns lugares do mundo sejam consideradas iguarias coisas como formigas, gafanhotos ou ratos, que em outros lugares parecem ser imundícies repulsivas? (p. 23-24) Num entendimento de clara influência antropológica, ele tenta mostrar os relativismos intrínsecos a qualquer construto cultural e, obviamente, privilegia a apresentação da diversidade envolvida no ato de alimentar-se, pois para ele “Comer não envolve apenas a natureza e a cultura. Situa-se entre a natureza e a cultura. Participa de ambas” (p. 29).
Retornando ao pensamento de Lévi-Strauss, o historiador italiano destaca o quanto a alimentação traz, em suas práticas, muito do grupo que a reproduz cotidianamente:
As formas de alimentação podem dizer algo importante não apenas sobre as formas de vida, mas também sobre a estrutura de uma sociedade e sobre as regras que lhe permitem persistir e desafiar o tempo. (p. 30) Em outros termos: a alimentação, seja no que se refere àquilo que lhe serve como ingrediente, seja na forma como ela é preparada ou mesmo praticada, está permeada de elementos culturais profundamente relacionados aos aspectos identitários tanto do próprio indivíduo quanto, especialmente, do grupo ao qual ele pertence e com o qual se identifica enquanto ser social. Nesse sentido, comer deixa de ser algo natural, automático e instintivo quando o homem começa a interferir diretamente em todas as etapas envolvidas nesse processo. Ao selecionar determinadas espécies vegetais, primeiro para simples coleta na vegetação virgem, depois para cultivo; ao escolher determinado animal na caça, em detrimento de outros; ao começar a criar e domesticar certas espécies com o intuito de abatê-las mais tarde para seu próprio consumo; ao desenvolver apetrechos, ferramentas e técnicas variadas de cocção; tudo se relaciona a escolhas culturais motivadas pelos mais diversos fatores, alguns ligados às condições objetivas de existência, outros dirigidos por questões subjetivas, de fundo religioso, político ou social:
O alimento não é apenas ingerido. Antes de chegar à boca, ele é preparado e pensado detalhadamente. Adquire o que geralmente se chama de valor simbólico. O preparo do alimento marca um momento central da passagem da natureza à cultura. (p. 32) Do mesmo modo que o preparo da comida se constitui num ato de afirmação identitária e definição cultural, Rossi também salienta o quanto a privação voluntária de alimento por meio do jejum se trata de um dos mais antigos caminhos inventados para se alcançar a purificação espiritual e a transcendência:
O desejo constitui a origem do mal e o desejo da comida é um dos mais enraizados e profundos. Distanciar-se dos desejos faz parte do caminho da salvação. (p. 35) Nesse sentido, não espanta que o desejo e o consumo exagerado de alimentos, no Ocidente cristão, tenham sido associados, desde muito cedo, ao pecado, e que este pecado tenha sido nomeado – a gula – e que sobre ele tenham recaído condenações morais das mais diversas, justamente pelo fato de que não podemos viver sem alimento, mas entregar-se à lascívia gastronômica seria admitir de maneira veemente o lado animal de todo ser humano, diametralmente oposto àquele que busca a salvação divina:
A história da gula foi descrita muitas vezes como um pecado capital detestável, que, como a luxúria, está enraizado na corporeidade humana. Esse enraizamento, no caso da gula, parece indelével. Pode-se renunciar à sexualidade e levar uma vida casta, mas não se pode viver sem comer.
(p. 47) No entanto, à sociedade ocidental contemporânea, que já não exalta tanto assim o jejum ascético – embora ele continue a ser visto com bons olhos pela Igreja Romana – se impõe outra urgência: como aceitar que milhões passem fome, quando a produção atual de grãos, animais e derivados e hortifrutigranjeiros seria suficiente para garantir a segurança alimentar de uma dieta de 2000 calorias diárias a todos os seres humanos do globo terrestre? Para Rossi, as grandes fomes europeias da Idade Média ou mesmo do século XX tiveram motivações diversas, contudo expõem igualmente a vulnerabilidade da vida: a morte por inanição já dizimou exércitos como o de Napoleão na frente russa, prisioneiros de campos de concentração na Polônia ocupada pelos nazistas, mas hoje ela atinge principalmente as nações periféricas e mais pobres da África e da Ásia. E essa indiferença dos países ricos em resolver esta questão incomoda a Rossi de maneira contundente:
Destes horríveis e inaceitáveis massacres, em geral, permanece apenas uma lembrança que nos incomoda, e continuamos a viver (com uma espécie de remorso oculto, mas tolerável) […]. (p. 55) Se a fome “acompanha toda a história humana, desde a mais remota antiguidade até o presente” (p. 57), fica claro que no século XX e mesmo hoje essas situações de falta de alimentos, especialmente para as populações mais pobres, “foram muitas vezes provocadas por escolhas políticas erradas ou equivocadas” (p. 66).
Por outro lado, a recusa pela ingestão de alimentos pode também ter um caráter político, de protesto, como último recurso para se conseguir que uma reivindicação considerada justa seja atendida. A greve de fome como instrumento político já era utilizada, segundo Rossi, na antiga Índia e na Irlanda da Idade Média. Contudo, foi somente no século XX que, no Ocidente, ela se tornou uma tática comum de ação reivindicatória. Talvez a figura pública mais conhecida que a praticou diversas vezes, numa perspectiva mundial, tenha sido Mahatma Gandhi. Em síntese, fica claro que a greve de fome é sempre um ato extremo e que, muitas vezes, pode ter um desfecho fatal e não atingir seus propósitos quanto ao objetivo que a motivou.
Tem-se já como certo que um dos maiores estupores causados pelo advento do Novo Mundo no imaginário europeu do final do século XV foi a notícia de que os gentios selvagens recém contatados pelos navegadores praticavam o maior dos interditos já imaginados pelo homem, presente na mitologia grega e também na de diversos outros povos do Oriente e do continente africano: o canibalismo. No décimo capítulo de seu livro Rossi se dedica a buscar a compreensão dos arquétipos atávicos relacionados a tal prática, não sem antes destacar como a visão construída sobre o tema entre os povos europeus da Idade Moderna causava discussões profundas, de cunho não apenas religioso, mas também filosófico e ético:
[Montaigne, em seus ‘Ensaios’, de 1580,] faz referência a tribos do Brasil: para julgar os povos não europeus não é possível nem lícito adotar o ponto de vista europeu e cristão. A humanidade se expressa em uma variedade infinita de formas e ‘cada qual denomina barbárie aquilo que não faz parte de seus costumes’. (p. 77) Mais ainda, Rossi destaca o fato de que comer nacos de um defunto não era mais ou menos selvagem do que jogar concidadãos aos cães raivosos por motivos de fé, como ocorrera à época de Montaigne e que o próprio filósofo condenara, em meio às guerras religiosas que sacudiram a França sob os Valois.
As referências ao canibalismo, embora hoje pareçam inusitadas, são frequentes na cultura europeia desde há muito tempo: vão dos arquétipos psicanalíticos de Freud em Totem e Tabu, de 1912/1913; já marcavam presença no teatro de Shakespeare, como em A Tempestade, ou nos romances do irlandês Jonathan Swift no século XVIII. Mesmo de forma figurada, o ato de devorar seu semelhante, aniquilá-lo e sorver a sua essência, mantém sua força. Rossi destaca como exemplo desta força o Manifesto Antropofágico dos modernistas brasileiros, pleno de metáforas, no qual a redenção possível ao colonizado americano é aquela representada pelo ato de devorar a civilização europeia.
Mas Rossi vai além disso, ao tratar do – talvez – maior interdito que a civilização ocidental pode ter para si. Na verdade ele mostra diversos eventos, desde a Idade Média, onde os europeus, como que tomados por um frenesi catártico, praticaram o canibalismo, em praça pública ou em pocilgas infectas. Isso só para nos mostrar o quão pouco nós, ocidentais, sabemos pouco de nossa própria História sobre o tema.
Seguindo sua jornada pelo ato de alimentar-se, Rossi leva o leitor àquele mundo fantasioso dos vampiros, bruxas e feiticeiros. Tendo os bebedores de sangue como mote, ele descortina no 11º capítulo de seu livro a enorme constelação de crenças sobrenaturais que povoaram o imaginário europeu a partir da Idade Moderna e que incluíam a possibilidade de hábitos alimentares dos mais vis e ignominiáveis:
Acreditar na bruxaria, por exemplo, significava acreditar, em parte ou na totalidade, nas seguintes coisas: seres humanos que voam, que se acasalam durante a noite com o diabo, que se transformam em animais (geralmente gatos ou lobos), que causam doenças, tempestade, fome. (p. 92) Mais do que crer na bruxaria, acreditava-se que determinados indivíduos arrebatados pelas forças do mal, involuntária ou conscientemente, eram capazes de tanto praticar atos de canibalismo, como os licantropos, quanto de sobreviver alimentando-se apenas de sangue humano. A crença ferrenha de que realmente existiam vampiros povoou prodigamente os contos populares, a literatura das culturas hegemônicas e o imaginário do senso comum por toda a Europa. Basta lembrar-se da estúpida crueldade de alguns governantes que, com seus atos vis, levaram à criação de mitos e histórias dantescas influenciadas por personagens como Vlad Tepes, na Transilvânia, atual Eslováquia, que tinha o hábito de empalar vivos seus inimigos e inspirou a figura do Conde Drácula, ou da condessa Erzsébet Báthory, que viveu em antigos territórios do reino da Hungria, personagem real e de temperamento psicótico, que instada por crenças mágicas se tornou a primeira serial killer registrada nos tribunais do mundo moderno ao ser condenada por assassinar mais de 600 jovens entre 1585 e 1610, acreditando que ao beber o sangue dessas donzelas teria garantida a juventude eterna. Sua história, que ela mesma registrou num diário que serviu de prova material em seu julgamento, também inspirou, assim como Tepes, romances românticos sobre vampirismo no século XIX. Como lembra Rossi:
Desde os tempos antigos, nos mitos e rituais que envolvem o sangue está presente tanto a ideia de que existem pessoas que se alimentam de sangue humano, como a ideia de que uma oferta de sangue pode purificar uma pessoa ou uma comunidade e contribuir para a sua salvação. (p. 93) Inegavelmente, a estirpe dos bebedores de sangue sobrenaturais existe apenas no campo fictício. No entanto, se trata de um arquétipo de tanto apelo e força imagética que continua, até hoje, a fornecer personagens para os romances – atualmente pensados predominantemente para o público juvenil – e toda a indústria cultural que lhes segue, como os seriados de TV, blockbusters do cinema, histórias em quadrinhos e games eletrônicos.
Mas Rossi segue com seu ensaio nos apresentando, no capítulo seguinte e com certo desencanto, a grande obsessão que a comida se tornou para a sociedade ocidental contemporânea. Praticamente todas as áreas do conhecimento humano têm algo a dizer sobre o assunto. Fala-se sobre o que se deve ou não comer; sobre os nutrientes de cada produto alimentício; sobre possíveis contaminações químicas naquilo que se ingere; sobre animais de abate criados à base de hormônios; sobre a necessidade de se buscar hábitos e produtos alimentares saudáveis e naturais, cultivados/ criados de forma orgânica, como forma de garantir a longevidade e a qualidade de vida; sobre veganismo; sobre intolerâncias e restrições alimentares adquiridas ou impostas por questões terapêuticas… Tudo envolvendo a comida se tornou digno de nota na contemporaneidade, inundando a mídia e o cotidiano ocidental com relatórios, documentários, programas de TV, livros, revistas e, é claro, trabalhos acadêmicos:
O tema foi discutido por tuttologos [ – pessoas “especialistas” em tudo, neologismo irônico de Rossi – ], filósofos (os dois grupos tendem a se unir), jornalistas, sindicalistas, aspirantes a políticos, políticos, cronistas e publicitários, teólogos, médicos, defensores da medicina alternativa e da antiglobalização, romancistas e amadores. (p. 101) Num tom que flerta com o sarcasmo, o historiador italiano vai mostrando a pseudo-sofisticação presente na descrição de pratos, vinhos e produtos como o azeite, nas mais diversas mídias, como sites especializados, catálogos de venda ou mesmo num singelo cardápio de qualquer pequeno restaurante hipster. Incomoda a Rossi a onisciência arrogante dos chefs televisivos, a profusão de outdoors com temas alimentares e também a invasão de maîtres e connaisseurs na privacidade dos comensais, com suas entediantes explicações sobre a essência daquilo que, em última instância, nos serve apenas como combustível, mesmo que esperemos ou suponhamos algum prazer ao introduzi-lo em nosso organismo.
Concordando com a antropóloga italiana Alessandra Guigoni, Rossi vaticina que neste terceiro milênio em que vivemos a alimentação tende a tornar-se um dos grandes campos da Antropologia, justamente pelo fato de que em nosso planeta existe uma abundância de alimentos que, de modo estupefactamente paradoxal, parece constituir-se cada vez mais em uma obsessão. Como sinal dessa distorção, o experiente historiador destaca o surgimento de distúrbios alimentares como a ortorexia, uma preocupação patológica por alimentos saudáveis, em que os indivíduos passam a guiar suas vidas pela busca de uma inalcançável perfeição alimentar.
Por outro lado, Rossi também apresenta um tipo de atitude para com a comida que pode, à primeira vista, parecer positiva e salutar mas que, em seu entendimento, trata-se de algo tão propenso à distorção quanto a seu inverso: a crescente e ferrenha tendência de valorização de produtos e hábitos regionais em contraposição à globalização padronizante de sabores e paladares, resultado da lógica do capital e da busca insana por lucros também pelos grandes conglomerados alimentares, que podem ir da rede de fast food à agroindústria. Para ele, instalou-se na sociedade contemporânea um mal estar muito próximo àquele preconizado por Freud na primeira metade do século XX, embora de características diametralmente opostas:
enquanto o psicanalista vienense atribuía tal sensação à renúncia “civilizada” à satisfação dos instintos, hoje ela estaria ligada a um imperativo do gozo, calcado nas necessidades impostas pelo consumismo exacerbado estimulado pelo mercado.
Em meio a este mal estar pós-moderno, nossa sociedade se afunda em paradoxos alimentares, com uma multidão de obesos se contrapondo a um número praticamente equivalente de famintos, num mundo que há muito já produz muito mais além do que o suficiente para que o estigma da fome não existisse mais sobre a face da terra. A questão, nesse caso, extrapola os limites médicos ou nutricionais e se expande até o campo político-ideológico: que mundo desejamos deixar a nossos descendentes? Um onde exista uma insípida padronização de sabores e hábitos alimentares, fonte de altíssimos lucros para os grandes conglomerados multinacionais, movidos pelo apetite sem limites do capitalismo voraz? Ou num mundo onde sejamos conscientes de nosso consumo e privilegiemos o mercado local, os produtores familiares e a sustentabilidade? Rossi demonstra como essa questão, apesar de suscitar debates acalorados no mundo contemporâneo, ainda está muito longe de ser resolvida. Trata-se, sobretudo, de uma questão filosófica com profundos desdobramentos no mundo das coisas práticas e que, quando pende para o lado da exaltação de uma vida “natural” ou “primitiva”, organizada em moldes ancestrais, é vista por Paolo Rossi como algo ilusório, inalcançável e até risível. Talvez a idade avançada tenha feito o historiador italiano perder a esperança pelo advento de uma sociedade mais justa, e me pergunto mesmo se ele não estaria realmente correto em seu modo de ver a atual cena mundial.
Essa ideia da volta à natureza e a uma idílica ancestralidade, aliás, motiva outro importante questionamento no capítulo XV de Comer. Trata-se de nos indagarmos se realmente houve, ao longo da História, algum momento em que a comida ingerida pelas mais diversas classes sociais tenha sido realmente genuína, isto é:
que não estivesse sofrendo adulterações intencionais, motivadas pela sanha pelo lucro fácil ou pela escassez de alternativas de melhor qualidade para compor um cardápio nutritivo, saudável e saboroso. Essa falta de genuidade poderia ser causada tanto pela trapaça de um moleiro ou comerciante que alterasse a composição da farinha que vendia, acrescentando-lhe impurezas e outros grãos mais baratos para aumentar seu volume e peso, assim como pela introdução na dieta cotidiana de animais, insetos e plantas que, não houvesse a escassez causada por guerras ou intempéries, jamais teria ocorrido.
Iguarias como as trufas, por exemplo, fungos subterrâneos comestíveis que os europeus começaram a consumir há mais de 3 mil anos em momentos de penúria alimentar, devido a seu alto grau proteico e sabor soberbamente agradável, eram algo que apenas cães de caça, javalis e porcos selvagens se interessavam em degustar na mais remota Antiguidade. Mas as coisas mudaram muito e hoje apenas um quilograma da raríssima trufa branca da região de Alba, no Piemonte italiano, pode alcançar estratosféricos € 10 mil se não se tratar de uma peça única, pois essas, mais raras ainda, quando porventura são encontradas, verdadeiras gigantes de 750g ou mais, já ocorreu de serem leiloadas por mais de € 100 mil no mercado da alta gastronomia europeia.
Peculiaridades à parte, estranhezas deixadas de lado, Rossi não crê que esse interesse crescente por uma “volta aos bons tempos de outrora” tenha, realmente, algo a contribuir ou que torne a vida em si melhor. Por trás do discurso do ecologicamente correto e da sustentabilidade alimentar ele enxerga interesses tão escusos como os do agronegócio transgênico ou do fast food: ali também há multinacionais interessadas em aumentar lucros, atingindo nichos de mercado cada vez mais específicos e delimitados, não nos enganemos com as aparências ou com o discurso cheio de pompa e circunstância. De forma irônica, o experiente intelectual italiano assevera:
O mundo seria mais bonito, mais natural, mais rico e com maior biodiversidade – é este e não outro o significado de tais mensagens – se os equilíbrios não tivessem sido alterados, se a natureza ainda estivesse intacta e se o homem tivesse se mantido, como no início, apenas como uma espécie de símio, ou melhor (na sábia definição de Vico, que não era primitivista), ‘como uma besta toda espanto e ferocidade’. (p. 128) No XVI capítulo de seu livro Rossi aborda as questões ligadas ao comer em excesso e sua principal consequência, a obesidade. O texto parte de uma aproximação muito interessante com o universo da neurociência e das descobertas fisiológicas sobre o olfato e, consequentemente, o paladar. Ainda dirigindo sua crítica ácida ao universo de sommeliers e/ ou experts que entopem a atenção dos simples mortais com sua verborragia “literária” inócua sobre as qualidades de vinhos, azeites, vinagres e até mesmo água mineral11, Rossi deixa bem claro que tudo isso pouco importa para os mecanismos corpóreos e biológicos ligados à identificação do gosto e sua associação, no nível cerebral, ao prazer:
O que denominamos gosto é uma forma de sensibilidade elaborada por um sistema sensorial específico que está na origem dos sabores, tais como o doce, o salgado, o azedo e o amargo […]. As relações entre motivação, prazer dos sentidos e ingestão alimentar dão lugar a uma intrincada teia: necessidade, desejo e prazer surgem em redes neurais que se sobrepõem. (p. 134-135)
É justamente a partir desta teia intrincada citada por Rossi que surge a obesidade, individualmente. Mas o excesso de peso de grande parte da população mundial também é consequência da vida moderna, da má qualidade nutricional dos alimentos e de tantas outras vicissitudes contemporâneas. O problema é complexo e merece uma urgente e comprometida abordagem multidisciplinar, é o que fica evidente: impossível não passar a enxergar com outros olhos um naco de carne gordurosa depois de ler estas ponderações.
Daí vem o mote para o capítulo seguinte, onde o historiador italiano aborda de forma sucinta as diversas doenças relacionadas ao ato de comer. Enquanto alguns males como a gota12 eram associados àqueles que comiam bem, outros certamente afligiam aqueles que não tinham a mesma sorte e padeciam de uma debilitante carência alimentar.
Nos dois últimos capítulos de seu ensaio Rossi se debruça, de fato, sobre o comportamento ligado à alimentação que forneceu o mote primeiro para iniciarse sua escrita: a anorexia, distúrbio estudado pela psiquiatra Laura Ragione, a amiga de infância de sua filha. O círculo se fecha, mas permanece certo estupor com o fato de que jovens cultuem e troquem entre si, pela web, formas de evitar a absorção de nutrientes pelo organismo e atingir o ideal de magreza endeusado pela moda e pela grande mídia. Percebe-se que o historiador italiano não atina de completo qual o sentido de tanta insensatez. Enquanto multidões ainda fenecem pela falta de alimento mundo afora, teenagers que jamais terão a mesma privação por questões econômicas ou geopolíticas escolhem não se alimentar simplesmente por não estarem satisfeitos com o próprio corpo, por desejarem atingir um corpo ideal improvável e inalcançável, posto que é invenção pura, idealização estética, imposição midiática. Fica a indignação.
Notas
2 ROSSI, Paolo. Francis Bacon: da magia à ciência. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini.
Londrina: EDUEL; Curitiba: Editora da UFPR, 2006 [1957].
3 ROSSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da História das Ideias. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Editora da UNESP, 2007 [1991].
4 ROSSI, Paolo. O nascimento da Ciência moderna na Europa. Tradução de Antonio Agonese.
Bauru: EDUSC, 2001 [1997].
5 Observe-se, por exemplo, a profusão de obras historiográficas publicadas, não só no Brasil mas também no exterior, nos últimos anos. Ver: ADAMOLI, Vida. La bella vita: life, love and food in Southern Italy. Chichester: Summersdale Publishers, 2002; ALBALA, Ken. Food in Early Modern Europe. Stockton, EUA: Greenwood Press, 2003; BARNES, Donna R. & ROSE, Peter G. Matters of taste: food and drink in Seventeenth-Century Dutch art and life. Albany: Albany Institute of History & Art; Syracuse: Syracuse University Press, 2002; BENDINER, Kenneth. Food in painting: from the Renaissance to the present. Londres: Reaktion Books, 2004; DE JEAN, Joan. A essência do estilo: como os franceses inventaram a alta-costura, a gastronomia, os cafés chiques, o estilo, a sofisticação e o glamour. Tradução de Mônica Reis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010 [2005]; FLANDRIN, Jean-Louis & MONTANARI, Massimo (orgs.). História da alimentação. Tradução de Luciano Vieira Machado & Guilherme João de Freitas Teixeira. 6. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009 [1996]; FREEDMAN, Paul (org.). Food: the History of taste. Berkeley: University of California Press, 2007; GRIMM, Veronika E. From feasting to fasting – the evolution of a sin: attitudes to food in late Antiquity. Londres: Routledge, 1996; HELSTOSKY, Carol. Garlic & oil:politics and food in Italy. Oxford: Berg, 2004; KELLY, Ian. Carême: cozinheiro dos reis. Tradução de Marina Slade Oliveira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005 [2003]; MacDONALD, Nathan. Not bread alone: the uses of food in the Old Testament. Oxford: Oxford University Press, 2008; MARTIN, A. Lynn. Alcohol, sex, and gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Basingstoke: Palgrave, 2001; McWILIAMS, James E. A revolution in eating: how the quest for food shaped America. Nova York: Columbia University Press, 2005; MONTANARI, Massimo (org.). O mundo na cozinha: história, identidade, trocas. Tradução de Valéria Pereira da Silva. São Paulo: Editora SENAC-SP; Estação Liberdade, 2009 [2006]; __________. Comida como cultura. Tradução de Letícia Martins de Andrade. 2. ed. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2013 [2004]; PANCORBO, Luis. El banquete humano: una historia cultural del canibalismo. Madri: Siglo XXI, 2008; PARASECOLI, Fabio. Bite me: food in popular culture. Oxford: Berg, 2008; PILCHER, Jeffrey M. Food in World History. Nova York: Routledge, 2006; QUELIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. Tradução de Gian Bruno Grosso. São Paulo: Editora Senac SP, 2011; RAMOS, Anabela & CLARO, Sara. Alimentar o corpo, saciar a alma: ritmos alimentares dos monges de Tibães, século XVIII. Porto: Edições Afrontamento, 2013; SARTI, Raffaella. Casa e família: habitar, comer e vestir na Europa moderna. Tradução de Isabel Teresa Santos. Lisboa: Editorial Estampa, 2001 [1999]; SPANG, Rebecca L.A invenção do restaurante: Paris e a moderna cultura gastronômica. Tradução de Cynthia Cortes e Paulo Soares. Rio de Janeiro: Record, 2003 [2000]; STRONG, Roy. Banquete: uma história ilustrada da culinária, dos costumes e da fartura à mesa. Tradução de Sérgio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004 [2002]; TALLET, Pierre. História da cozinha faraônica: a alimentação no Antigo Egito. Tradução de Olga Cafalcchio. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2005 [2002]; THIS, Hervé & GAGNAIRE, Pierre. Cooking: the essential art. Tradução de M. B. DeBevoise. Berkeley:University of California Press, 2008; WILKINS, John M. & HILL, Shaun. Food in the Ancient World. Malden, EUA: Blackwell, 2006.
6 FREYRE, Gilberto. Açúcar: uma sociologia do doce, com receitas de bolos e doces do Nordeste do Brasil. 5. ed. revista. São Paulo: Global, 2007 [1939].
7 Exemplos do incremento do interesse de historiadores brasileiros sobre o tema não faltam. Entre as publicações mais recentes, ver: CANDIDO, Maria Regina (org.). Práticas alimentares no Mediterrâneo Antigo. Rio de Janeiro: NEA/UERJ, 2012; COUTO, Cristiana. Arte de cozinha: alimentação e dietética em Portugal e no Brasil (séculos XVII-XIX). São Paulo: Editora SENAC-SP, 2007; DÓRIA, Carlos Alberto. A formação da culinária brasileira. São Paulo: Publifolha, 2009; FERNANDES, João Azevedo. A espuma divina: sobriedade e embriaguez na Europa Antiga e Medieval. João Pessoa: Editora Universitária/ UFPB, 2010. __________. Selvagens bebedeiras: álcool, embriaguez e contatos culturais no Brasil colonial (séculos XVI-XVII). São Paulo: Alameda, 2011; HUE, Sheila Moura. Delícias do Descobrimento: a gastronomia brasileira no século XVI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009; LELLIS, Francisco & BOCCATO, André. Os banquetes do imperador. São Paulo: Editora SENAC-SP; Boccato, 2013; LODY, Raul (org.). Farinha de mandioca: o sabor brasileiro e as receitas da Bahia. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2013; MAGALHÃES, Sônia Maria de. A mesa de Mariana: produção e consumo de alimentos em Minas Gerais (1750- 1850). São Paulo: Annablume; FAPESP, 2004; PANEGASSI, Rubens Leonardo. O pão e o vinho da terra: alimentação e mediação cultural nas crônicas quinhentista sobre o Novo Mundo. São Paulo:Alameda, 2013; SILVA, Paula Pinto e. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil colonial. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2005; VARELLA, Alexandre C. A embriaguez na conquista da América: medicina, idolatria e vício no México e Peru, séculos XVI e XVII. São Paulo: Alameda, 2013.
8 Devo destacar que cheguei a este livro de Rossi por puro acaso, graças a meu interesse gastronômico, pois o encontrei perdido na seção de livros de receitas culinárias de uma grande livraria no Recife, certamente por desinformação ou descuido de um funcionário ou estagiário desavisado, o que não deixou de ser uma forma peculiar de descobrir um livro e tomar posse dele.
9 Desde já me desculpo por este e outros trocadilhos afeitos às preparações culinárias, mas confesso que me foi inteiramente irresistível usá-los nesta resenha.
10 RAGIONE, Laura Dalla. La casa delle bambine che non mangiano: identità e nuovi disturbi del comportamento alimentare. Apresentação de Massimo Cuzzolaro. Prefácio de Paolo Rossi. Roma:Il Pensiero Scientifico Editore, 2005.
11 Apenas alguns dos epítetos utilizados por estes especialistas, enumerados de forma bem sarcástica por Rossi: “[…] aéreo, côncavo, convexo, curto, extrativo, denso, feminino, denso, fugaz, espesso, impreciso, tênue, longo, fino, maciço, mastigável, macio, suave, mudo, olivoso, passado, perturbado, salgado, grave, apagado, esvaecido, tenso, louco, vibrante, volátil, envolvente…” (p. 133).
Carla Mary S. Oliveira – Historiadora. Doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Realizou estágio pósdoutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais em 2009, com o financiamento de uma bolsa Capes/ PROCAD-NF. Professora Associada do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba. Sítio eletrônico: <http://www.carlamaryoliveira.pro.br/>. E-Mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Dengue no Brasil: abordagem geográfica na escala nacional – CATÃO (Ge)
CATÃO, Rafael de Castro. Dengue no Brasil: abordagem geográfica na escala nacional. [Sn.]: Cultura Acadêmica; Editora da UNESP’, 2012. Resenha de: MAGALHÃES, Suellen Silva Araújo; MACHADO, Carla Jorge. Em busca de um elo entre geografia e saúde. Geografias, Belo Horizonte, 01 de Julho – 31 de Dezembro de 2013.
Lançado em 2012, o livro ‘Dengue no Brasil: abordagem geográfica na escala nacional’, editado pela Cultura Acadêmica/Editora UNESP, é uma publicação oportuna e bem vinda. O autor, Rafael de Castro Catão, é geógrafo graduado pela Universidade de Brasília em 2007 e mestre pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2011. Sua experiência, entre outras, é nas áreas, de geografia da saúde e cartografia, o que lhe permite habilmente entremear esses conhecimentos na produção de um panorama e de um arcabouço teórico conceitual, marcado pelo pensamento geográfico, para o estudo da Dengue no Brasil.
O livro consta de três capítulos, antecedidos pelo Prefácio e pela Introdução; e sucedidos pelas Considerações Finais e Recomendações e pelas Referências Bibliográficas. O Prefácio, escrito pelo professor Raul Borges Guimarães da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, estabelece a premência de obras como a de Catão ante a crise do modelo hegemônico da epidemiologia clínica, a reemergência de uma gama de doenças infecciosas e o aumento da pós-graduação em geografia, a qual permitiu captar demandas sociais, entre as quais àquelas por melhores condições de saúde. Assim, abre o caminho para que o leitor se sinta desejoso de conhecer como o aporte da geografia pode contribuir para elucidar a temática de uma doença transmissível.
Na Introdução o autor relata mudanças socioespaciais ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, que desencadearam um novo padrão de epidemias, quais sejam: mais frequentes e mais abrangentes.
Rafael Catão parte de Milton Santos e de sua teoria espacial para analisar mudanças socioespaciais da dengue, na tentativa – bem sucedida – de relacionar o padrão da doença, sua emergência e expansão mundial, além do surgimento e a intensificação de casos mais graves à mudança do período e a produção desse novo meio geográfico. Enfoca, ainda, o caso do Brasil, onde houve erradicação, mas posterior reinfestação e, deste modo, estabelece a questão chave do livro: se a consolidação e expansão do meio técnico-científico-informacional – um dos mais conhecidos conceitos na geografia no Brasil (MAIA, 2012) – e a ampliação dos processos de urbanização, aliados a expansão mundial da doença, forneceram as condições socioespaciais que fizeram a dengue emergir nos dias atuais como um dos principais problemas de saúde pública do país. É também na Introdução que o autor explica o impacto do sistema de técnicas aplicado à natureza e causador de mudanças à saúde utilizando, entre outros, o exemplo do uso de vacinas no auxilio da imunização. Comenta ainda sobre a expansão das fronteiras agrícolas e econômicas que permitiu e permite a expansão dos meios de transporte e das telecomunicações interligando lugares e pessoas com maior circulação da informação. O autor conclui, então, que a atual configuração no espaço geográfico da doença depende das relações interdependentes estabelecidas entre o homem (social e biológico, individual e coletivo, imune e suscetível) com os vetores (gênero Aedes), o vírus (sorotipos e genótipos) e o meio técnico-cientifíco-informacional, inovando acerca da tradicional tríade epidemiológica meio ambiente, agente, hospedeiro.
O Capítulo 1 ‘Dengue: Emergência e Reemergência’ perpassa pela etiologia da dengue em seus quatro sorotipos, pelas teorias acerca da origem geográfica dos vírus e de seus sorotipos e pelos principais vetores. Os ciclos de transmissão também são abordados dado que seu conhecimento é fundamental para que sejam tomadas medidas de saúde pública e de vigilância de saúde em escala global: o autor ressalta o ciclo urbano endêmico/epidêmico. Finalmente, o autor aborda a difusão mundial da dengue.
O Capítulo 2 ‘Difusão do dengue no Brasil’ trata, entre outros aspectos, do retorno do Aedes aegypti e da dengue ao território nacional: em 1976 o país foi reinfestado, permanecendo desta forma ainda hoje. Nesse capítulo está um belo e oportuno detalhamento cartográfico da reemergência da dengue no Brasil, o que permite ao autor estabelecer uma análise do conjunto do País, onde, após a dispersão geográfica do vetor, as interações espaciais existentes em áreas com circulação viral permitiram e mantiveram até hoje a entrada de novos sorotipos em áreas indenes e infestadas. O papel da cidade reside nesse contexto, ao concentrarem indivíduos e bens, com fluxo intenso e veloz, que difunde e mantém o vírus.
‘Uso do território e o dengue no Brasil’ é o Capítulo 3, que trata dos fatores determinantes da transmissão dos vírus da dengue e do papel do Estado na contenção de epidemias. Rafael Catão faz um relato elegante sobre as formas de abordagem desses fatores determinantes da dengue na literatura brasileira, bem como sobre as fontes de dados. O mapeamento dos determinantes em escala nacional e uma síntese da situação recente da dengue no território também são realizados. Ao final do capítulo, o autor faz uma proposta de tipologia da dengue para a primeira década do século XXI no Brasil: os locais com baixa notificação dos casos de dengue normalmente apresentam uma média de temperatura anual mais baixa, baixa densidade de povoamento, baixo índice pluviométrico, políticas públicas mais eficientes, população mais consciente e poucas rodovias de fluxo intenso que ligam várias cidades. Após o capítulo, seguem as Considerações Finais e Recomendações, nas quais o autor deixa claro que, para compreender em plenitude o fenômeno da epidemia da dengue, perguntas tais como: ‘qual o contexto do dengue em sua área de influência?’ ou ‘como foi o processo de consolidação do dengue nessa localidade?’ necessitam ser feitas e suas respostas procuradas.
Além disso, o autor faz uma comparação crítica da atuação das técnicas de cartografia de síntese e das técnicas de geoprocessamento.
Ao final do livro, fica em evidência a constatação de BARCELLOS (2000): epidemiologia e geografia têm em comum crises ocorridas pelo esgotamento de modelos teóricos ou crises advindas da superação desses modelos em razão de novas realidades. Uma das novas realidades é a reemergência de doenças transmissíveis no Brasil e no Mundo – como a dengue. A obra de Rafael de Castro Catão incorpora o espaço explicitamente na análise da dengue, tornando o elo entre a geografia e a saúde visível e utilizável a pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento.
Referências
BARCELLOS, Christovam. Elos entre geografia e epidemiologia. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.16, n.3, Setembro 2000. Disponível em: http:// www.scielo.br/scielo. php?pid=S0102- 311X2000000300004 &script=sci_arttext
CATÃO, Rafael de Castro. Dengue no Brasil – Abordagem geográfica na escala nacional. São Paulo: Cultura Acadêmica/Editora UNESP, 2012.
MAIA, Lucas. O conceito de meio técnico-científicoinformacional em Milton Santos e a não visão da luta de classes. Ateliê Geográfico Goiânia- GO v. 6, n. 4 Dez/2012 p.175-196 Disponível em: http://www.revistas. ufg.br/index.php/atelie/article/view/15642
Suellen Silva Araújo Magalhães – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.
Carla Jorge Machado – Departamento de Medicina Preventiva e Social.
[IF]
Hobbes e a liberdade Republicana – SKINNER (NE-C)
SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade Republicana. Trad. Modesto Florenzano. São Paulo: Editora da Unesp, 2010. Resenha de: SILVA, Ricardo. Skinner e a liberdade Hobbesiana. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.95, Mar., 2013.
A mais recente incursão de Skinner no pensamento político de Hobbes é algo mais do que uma elegante contribuição à reconstituição histórica da concepção de liberdade do filósofo inglês. Trata-se também de um “lance” (move) – para usar uma expressão cara ao próprio Skinner – nos embates atuais entre teóricos liberais e republicanos. Crítico da hegemonia do pensamento liberal na política contemporânea, Skinner oferece um suporte historiográfico importante às pretensões normativas do neorrepublicanismo. Sua genealogia do conceito de liberdade é o melhor exemplo desse tipo de suporte, e Hobbes e a liberdade republicana ocupa um lugar de destaque nessa genealogia. Focalizando a turbulenta década inglesa de 1640, o livro documenta os momentos em que Hobbes elabora uma alternativa de grande consistência teórica à então convencional concepção republicana de liberdade, desenvolvendo uma concepção negativa de liberdade que será mais tarde apropriada pela tradição liberal. Hobbes e a liberdade republicana é produto do encontro entre a historiografia do pensamento político e o debate analítico e normativo na teoria política contemporânea.
A LIBERDADE NEORROMANA
O ponto de partida para a compreensão da narrativa de Skinner sobre a evolução do conceito hobbesiano de liberdade é a apresentação das características básicas da concepção republicana que Hobbes teria combatido e derrotado. Skinner remonta à legislação compilada no Digesto do direito romano para revelar as origens da concepção republicana de liberdade, que acabou inspirando os ataques à Coroa no período mais agudo dos conflitos na Inglaterra de meados do século XVII. Na seção relativa ao direito das pessoas (De statu hominum), já surge a “distinção primordial no seio das associações civis”, aquela entre os que “gozam do status de liberi hominus ou ‘homens livres’ e aqueles que vivem na servidão”1.
Conforme vem defendendo Skinner, em sintonia com o filósofo Philip Pettit, a concepção republicana (ou neorromana) de liberdade é irredutível a qualquer um dos polos da dicotomia entre liberdade negativa e liberdade positiva. Ou seja, ela não se define nem pela simples ausência de oposição externa às ações individuais, nem pela pura presença da participação dos cidadãos no autogoverno da cidade2. Embora a liberdade republicana seja também um tipo de liberdade negativa, uma vez que ela decorre da ausência, e não da presença de algo, o que se encontra ausente não é a indiscriminada interferência externa nas escolhas e ações dos indivíduos, como na concepção liberal, mas sim um tipo particular de interferência, resultado da dependência e da dominação derivadas da existência do “poder arbitrário” de determinados agentes sobre outros3. Na fórmula consagrada por Pettit, a liberdade republicana é a liberdade como não dominação4.
Uma das características centrais da relação de dominação é que ela permanece em vigor mesmo quando o agente dominante abstém-se de interferir efetivamente nas escolhas e ações do agente dominado. Tome-se o caso extremo e paradigmático da relação de dominação entre senhor e escravo. O fato de um escravo viver sob o domínio de um senhor benevolente não faz dele menos escravo, ou seja, não o torna mais livre. A ausência atual de impedimentos às suas escolhas e ações é apenas um corolário de um dos estados possíveis dos desejos de seu senhor, e ele, escravo, sabe disso. A consciência desse estado de sujeição pesa inevitavelmente sobre suas atitudes, que tendem a antecipar a vontade do senhor. O ponto decisivo é que não se pode considerar livre um agente cujas escolhas e atitudes realizam-se sob a influência da ansiedade decorrente da sua consciente dependência da vontade de outrem. Segundo Skinner, este ensinamento, que se encontra no núcleo da concepção de liberdade reivindicada pelos teóricos atuais do republicanismo, era corrente na época de Hobbes:
Como James Harrington afirmaria, em 1656, na sua exposição clássica da teoria republicana, Oceana, a desgraça dos escravos é que eles não têm o controle de sua vida, estando consequentemente forçados a viver em um estado de incessante ansiedade com relação ao que lhes pode ou não acontecer5.
MÉTODO E HISTÓRIA
Ao narrar a “batalha” de Hobbes contra a teoria neorromana, Skinner faz duas asserções interdependentes, ambas inovadoras em relação aos estudos sobre a teoria hobbesiana da liberdade. A primeira é de caráter metodológico, a segunda, de caráter histórico. A inovação metodológica consiste em compreender o desenvolvimento das ideias de Hobbes sobre o conceito de liberdade como “lances” em uma disputa simultaneamente intelectual, política e constitucional. O propósito de tal metodologia é abordar “a teoria de Hobbes não simplesmente como um sistema geral de ideias, mas também como uma intervenção polêmica nos conflitos ideológicos de seu tempo”6. Skinner reafirma os princípios interpretativos do contextualismo linguístico da Escola de Cambridge. Conforme postulou originalmente há mais de quatro décadas, todo pensador político, por mais sistemático e abstrato que seja, no ato de criação de um texto, encontra-se irremediavelmente envolvido em um processo comunicativo com seus contemporâneos. Mais do que simplesmente constatar ou descrever certo estado de coisas, os textos dos escritores políticos são invariavelmente destinados a realizações práticas. Os autores cujos textos pretendemos interpretar estão sempre “fazendo coisas com palavras”7. A questão norteadora de qualquer interpretação de textos que se pretenda “genuinamente histórica” deveria assumir a seguinte forma: o que determinado autor “estava fazendo” ao escrever ou publicar seus textos8?
No caso de Hobbes, a resposta oferecida por Skinner é direta: Hobbes estava combatendo os defensores da concepção republicana de liberdade. Na verdade, o filósofo inglês “era o mais formidável inimigo da teoria republicana da liberdade”9. A crítica de Hobbes à liberdade republicana aparece já em seu primeiro esforço sistemático de teorização política, presente em Elementos da lei natural e política (1640), e uma nova tentativa acontece logo em seguida, com a publicação de Do Cidadão em 1642. No entanto, uma alternativa capaz de destronar a concepção neorromana de liberdade só seria definitivamente alcançada no Leviatã (1651).
A demonstração da ocorrência de mudanças significativas no pensamento de Hobbes sobre o conceito de liberdade nos leva à inovação histórico-substantiva de Skinner, que vai de encontro à visão quase consensual sobre a suposta imutabilidade do conceito nas sucessivas versões da teoria política hobbesiana. Para a ampla maioria dos intérpretes, nenhuma diferença marcante haveria no modo como a liberdade é apresentada nos Elementos da lei, em Do Cidadão e no Leviatã. Mesmo Philip Pettit, cuja reconstrução analítica da liberdade republicana é fortemente tributária de Skinner, acredita jamais ter ocorrido qualquer “alteração maior no pensamento de Hobbes sobre a liberdade”10. Skinner oferece uma vigorosa contraposição a tal consenso interpretativo, sugerindo que Hobbes não apenas modificou sua concepção de liberdade, mas que o fez de maneira particularmente radical. Assim, “a análise de Hobbes da liberdade no Leviatã representa não uma revisão, mas um repúdio ao que ele havia anteriormente argumentado”11.
A BATALHA DE HOBBES
Em Elementos da lei natural e política, Hobbes volta-se contra diversas correntes teóricas de algum modo comprometidas com a tese de que a liberdade dos súditos é uma espécie de função da forma de governo. Skinner refere-se a três dessas correntes de pensamento, em relação às quais Hobbes teria “manifestado consciência aguda”12. A primeira é a dos monarquistas moderados ou constitucionais, cujas manifestações iniciais remontam às primeiras décadas do século XVII. O núcleo normativo dessa corrente reside na ideia de que “não é necessariamente incompatível viver como homens livres e submetidos ao governo de reis”13. A publicação da tradução inglesa da República de Bodin forneceu argumentos úteis à corrente em questão. Bodin admitia a incompatibilidade entre liberdade e monarquia quando esta fosse do tipo “senhorial”, em que o príncipe é o “senhor dos bens e das pessoas de seus súditos”. Nesse caso, os súditos são governados como “o senhor de uma família governa seus escravos”. No entanto, se a monarquia em questão é do tipo legal (ou régia) os súditos permanecem livres, protegidos da vontade arbitrária do rei, pois “o monarca régio ou rei, instalado na soberania, sujeita a si mesmo às leis da natureza”14.
A segunda corrente do pensamento constitucional a chamar a atenção de Hobbes defendia um “Estado misto”, combinando os princípios monárquico, aristocrático e democrático. Apenas essa forma de Estado teria a virtude de conciliar a ordem política com a liberdade. Segundo Skinner, Hobbes dá inúmeras mostras de que está atento à existência dessa corrente de pensamento, mas não se detém com especial interesse em sua crítica. Uma das razões para isso é que ele estava muito mais preocupado com uma terceira corrente, representativa de um desenvolvimento ainda mais radical da ideia de que a liberdade está associada a uma forma particular de governo.
O núcleo normativo dessa terceira corrente reside na proposição de que só é possível viver como homem livre no âmbito de um “Estado livre”. Conforme esclarece Skinner, os defensores dessa perspectiva tinham em mente um Estado no qual
somente as leis imperam, e no qual todos dão seu consentimento ativo às leis que a todos obrigam. Em outras palavras, sustentava-se ser essencial viver em uma democracia ou em uma república que se autogoverna, em oposição a qualquer forma de regime monárquico ou mesmo misto15.
Nos Elementos da lei, Hobbes dirige ataques específicos a cada uma dessas correntes, mas empenha-se sobretudo em refutar o que há em comum entre elas: a ideia de que a liberdade é uma função de forma de governo. O ataque de Hobbes parte da premissa de que a liberdade está associada à condição natural dos indivíduos. Ou seja, só há liberdade no Estado de natureza, e no momento em que os indivíduos pactuam para a instituição do Soberano, eles abandonam sua liberdade natural para ingressar na condição de súditos. Hobbes chega a definir a liberdade como “o estado de quem não é súdito”16. Os indivíduos, na condição de súditos de um poder soberano, seriam tão destituídos de liberdade numa democracia como numa monarquia, não fazendo qualquer diferença se a monarquia é régia ou senhorial, como queria Bodin.
Embora a impressão dos Elementos da lei tenha ocorrido apenas em 1650, o manuscrito começou a circular já em 1640. Neste mesmo ano, intensificou-se a tensão entre o Parlamento e a Coroa resultante da tentativa de Carlos I de reabilitar o ship-money17. A criação de um imposto sem a aprovação do Parlamento fez com que muitos parlamentares se pronunciassem nos termos da teoria neorromana da liberdade. Os adversários das pretensões absolutistas do rei consideraram a iniciativa uma afronta à liberdade e um caminho certo para reduzi-los da condição de homens livres à de escravos. Por outro lado, partidários de Carlos I defendiam-no esgrimindo os recursos retóricos do absolutismo, mormente da teoria do direito divino dos reis. Roger Maynwaring, ex-capelão de Carlos I, era uma dessas vozes em favor do poder absoluto do rei, que deveria incluir o poder de criar impostos. Ele já havia sido submetido a processo de impeachment e aprisionado pelo Parlamento em 1629, mas acabou beneficiado pelo perdão do rei, que ainda o faria bispo de St. Davis em 1636. Em 1640 ele não teve a mesma sorte. As duas Câmaras voltaram-se contra o bispo, preparando um ato para a anulação do perdão real. Maynwaring preferiu não permanecer na Inglaterra para conferir o desfecho dos acontecimentos, e partiu em busca de esconderijo na Irlanda. É certo que o absolutismo de Maynwaring diferia filosoficamente daquele articulado por Hobbes, que dispensava a tradicional teoria do direito divino dos reis. Seja como for, como sugere Skinner, Hobbes percebeu que, para fins práticos, a posição defendida por Maynwaring poderia ser plenamente justificada pela teoria contida nos Elementos da lei. John Aubrey, em seu perfil de Hobbes, relata que este lhe teria confidenciado que “o bispo Maynwaring pregara sua doutrina, daí a razão, dentre outras, de ele estar aprisionado na Torre”18. Em novembro de 1640, prevendo possíveis situações de perigo a que ele próprio estaria exposto, Hobbes segue para seu exílio de onze anos em terras estrangeiras.
Assim que Hobbes instalou-se em Paris, passou imediatamente a revisar os Elementos da lei, ao mesmo tempo em que vertia a obra para o latim. O trabalho foi concluído em novembro de 1641 e publicado em abril de 1642, com o título latino De Cive (Do Cidadão). De acordo com Skinner, no que se refere ao tema da liberdade, a par de uma série de modificações menores, ao menos duas importantes inovações são introduzidas nessa obra.
A primeira decorre da nova postulação de Hobbes de que “a única coisa verdadeira no mundo é o movimento”19. A liberdade passa então a ser definida como a ausência de todo e qualquer impedimento ao movimento dos corpos. Não há dúvida de que uma compreensão adequada de tal definição requer que se esclareça o que de fato conta como impedimento ao movimento. Hobbes refere-se a duas modalidades de impedimentos capazes de subtrair-nos a liberdade: os impedimentos externos e os impedimentos arbitrários. Os impedimentos externos são aqueles causados por obstáculos surgidos de causas exteriores ao corpo em movimento. É possível afirmar, por exemplo, que as águas de um rio sofrem um impedimento absoluto para mover-se livremente além dos limites das margens do rio. Analogamente, no que se aplica à liberdade humana, diz-se, por exemplo, que uma pessoa encerrada numa prisão está privada da liberdade de mover-se além dos limites das grades da prisão. Já a noção de impedimento arbitrário indica que a causa que impede o movimento não é mais exterior ao corpo, porém interna a ele. Se os impedimentos externos criam obstáculos absolutos ao movimento dos corpos, os impedimentos arbitrários, conforme os define Hobbes, “não impedem absolutamente o movimento, mas o fazem per accidens, isto é, por nossa própria escolha”20. O fato de esse tipo de impedimento derivar de uma “escolha” indica que seu âmbito de aplicação é a liberdade humana. O impedimento arbitrário à liberdade surge quando uma pessoa se abstém de realizar determinada ação mesmo quando tem a capacidade e o desejo de agir. Neste ponto, como observa Skinner, a questão que emerge é a seguinte: que “tipo de força” pode ser considerada “capaz de nos impedir de querer executar uma ação que está em nosso poder”. Hobbes responde que a força em questão “procede de nossas paixões, e acima de tudo a paixão do medo”21.
A segunda inovação introduzida em Do Cidadão é a ideia de liberdade civil. Nada semelhante pode ser encontrado nos Elementos da lei. Na verdade, a lógica argumentativa que animava essa primeira sistematização da teoria política de Hobbes não somente ignorava, mas também vetava a concepção de qualquer forma de liberdade além da liberdade natural. Skinner argumenta que Hobbes, influenciado pelo clima político e ideológico que o levou à decisão de exilar-se, procede à revisão dos Elementos da lei de modo a apresentar sua “defesa da soberania absoluta em um estilo mais conciliador e menos inflamado”22. A admissão da possibilidade de os indivíduos preservarem alguma forma de liberdade mesmo depois da efetuação do pacto que os retira do estado de natureza requer claramente a renúncia à tese de que a liberdade “é o estado de quem não é súdito”. Contudo, se não se pode mais afirmar que qualquer forma de governo suprime a liberdade, também não se sustenta a crença de que apenas determinadas formas de governo favorecem a liberdade, ao passo que outras levam necessariamente à escravidão. Com base na ideia de liberdade como ausência de impedimento externo ao movimento, Hobbes passa a afirmar que “todos os servidores e súditos que não estão acorrentados nem encarcerados são livres”23. Ademais, independentemente da forma de governo, haverá sempre um “número quase infinito de ações que não são nem prescritas nem proibidas”, constituindo a “liberdade inofensiva” dos súditos. Por outro lado, com base em sua concepção de impedimento arbitrário ao movimento dos corpos, ele reconhece que as leis civis constituem uma limitação à liberdade, uma vez que o medo das consequências previsivelmente advindas de sua infração levaria os indivíduos ao refreamento de ações que eles têm vontade e capacidade para realizar. Em suma, medo e liberdade seriam incompatíveis.
Porém, conforme o historiador inglês, a formulação definitiva do conceito hobbesiano de liberdade só viria a acontecer no Leviatã. Hobbes tinha consciência “de que precisava enfrentar os teóricos da liberdade republicana em seu próprio terreno”24. Tal enfrentamento traduziu-se na disputa pelo sentido da expressão “homem livre”. O discurso republicano contra a monarquia absolutista (e em grande medida contra a monarquia tout court) fazia da ideia de “homen livre” sua principal arma de luta ideológica. Tradução da expressão latina liber homo, o termo freeman circulava amplamente entre os republicanos ingleses contemporâneos de Hobbes. Viver sob o domínio absoluto de um monarca seria incompatível com a manutenção do status de homem livre. É nesses termos que se expressam, por exemplo, John Milton e John Hall, dois dos mais notáveis escritores republicanos da época. Segundo Milton, se não podemos ter a expectativa de alcançar nossos objetivos “sem o dom e o favor de uma única pessoa” não somos “nem República, nem livres”, somos “vassalos de posse e domínio de um senhor absoluto”. John Hall é ainda mais categórico ao afirmar que “viver sob uma monarquia é viver como um escravo”25.
Skinner procura mostrar como a revisão do conceito de liberdade no Leviatã decorre do esforço de Hobbes para desacreditar a noção de “homem livre” dos republicanos. Consolidando desenvolvimentos anteriores de sua reflexão sobre o tema, Hobbes parte da definição do que ele considera a “liberdade em sentido próprio”, aplicável tanto a criaturas irracionais e inanimadas como a racionais. Em seu “sentido próprio”, a liberdade define-se exclusivamente pela ausência de oposição ao movimento. Esta fórmula já aparecia em Do Cidadão. Agora, porém, a ideia de oposição (ou impedimento) é restringida para referir-se apenas a barreiras externas ao movimento dos corpos. Hobbes faz desaparecer o conceito de impedimento arbitrário como uma possível causa da redução da liberdade, uma alteração que traz profundas consequências em sua argumentação. Agora medo e liberdade não são mais incompatíveis, pois resta evidente que o medo não pode ser tomado como um obstáculo externo às nossas escolhas. Ao eliminar a possibilidade de tratar constrangimentos internos como restrição à liberdade, Hobbes prepara o terreno para o assalto definitivo à noção republicana de homem livre. A ansiedade, o medo ou qualquer outro freio de ordem psicológica capaz de interferir nas escolhas e nos movimentos de um indivíduo em situação de dependência não constituem o tipo de impedimento que Hobbes considera contrário à liberdade. Neste caso, bem como quando se trata de um impedimento interno de ordem física, a exemplo do enfermo imobilizado em seu leito, não é de ausência de liberdade que se trata, mas da ausência de poder.
E o que dizer da lei civil? Em que medida ela pode ser tomada como um impedimento à liberdade? Em Do Cidadão, Hobbes já havia chamado a atenção para o fato de que sob qualquer sistema de leis há um sem-número de ações não proibidas nem prescritas pelo soberano. Ele repete esse argumento no Leviatã, com a máxima de que a liberdade reside no “silêncio da lei”. Mas agora Hobbes vai adiante, realizando uma operação decisiva para seu propósito de desvincular a liberdade da lei. Anteriormente ele havia apresentado o medo de infringir a lei como impedimento arbitrário à ação livre. Com o subsequente abandono da noção de impedimento arbitrário, o medo perde sua função de impedimento da ação e a lei deixa de significar restrição à liberdade. Hobbes oferece como prova o fato de que mesmo diante de uma lei proibitiva ou prescritiva extremamente rigorosa restará sempre aos súditos a alternativa da desobediência. Como sintetiza Hobbes, “o medo e a liberdade são compatíveis […]. E de maneira geral todos os atos praticados pelos homens no interior de repúblicas, por medo da lei, são ações que os seus autores têm a liberdade de não praticar”26. Ora, se não há qualquer conexão necessária entre a liberdade dos cidadãos e a forma jurídica do Estado, deixa de fazer sentido a questão sobre qual seria a forma de Estado mais afeita à liberdade. Deixa de fazer sentido também a resposta republicana segundo a qual somente numa república autogovernada, num “Estado livre”, a liberdade humana poderia ser assegurada. Hobbes encerra a questão afirmando que “quer a república seja monárquica, quer seja popular, a liberdade é sempre a mesma”27.
PASSADO E PRESENTE
Skinner conclui sua narrativa com a sugestão de que a fórmula definida no Leviatã resultou em uma mudança conceitual revolucionária e em poderosa arma de luta ideológica contra o republicanismo. Hobbes “venceu a batalha”28, deixando como herança uma concepção de liberdade que, na atualidade, tem sido “amplamente tratada como um artigo de fé”29.
A esta altura, um crítico familiarizado com a metodologia contextualista de Skinner poderia legitimamente perguntar: a afirmação de que a concepção de liberdade desenvolvida por Hobbes no longínquo século XVII grassa hoje como um “artigo de fé” não levaria ao tipo de “anacronismo” tão estigmatizado nos ensaios metodológicos do próprio Skinner? Há quem acredite que sim, considerando “estranho encontrar um escritor que começou pela insistência na especificidade histórica de cada período agora vindo a defender o tipo de categoria meta-histórica maniqueísta que ele tanto deplorou”30. Há também os que julgam “desconcertante que grande parte dos escritos de Quentin Skinner nos estágios mais adiantados de sua carreira seja informada por seus compromissos políticos e filosóficos fortemente assumidos”31.
No entanto, quando se observa a trajetória recente de Skinner, seu afastamento de alguns de seus postulados metodológicos originais não surpreende32. Há pelo menos uma década, Skinner já afirmava que passara a encontrar “mais coisas na perspectiva de uma tradição e, consequentemente, de uma continuidade intelectual do que costumava encontrar”, e que isso o fez ver “mais promissoramente do que costumava ver” o valor atual do engajamento crítico “com nossos antepassados e grandes pensadores, ao menos quanto a alguns conceitos-chave que continuam a estruturar nossa vida em comum”33. Mais do que qualquer outro livro de Skinner, Hobbes e a liberdade republicana reflete essa alteração na perspectiva do autor sobre a relação entre o passado e o presente da teoria política.
Notas
1 SKINNER, Q. Hobbes e a liberdade republicana. São Paulo: Ed. da Unesp, 2010, p. 10. [ Links ]
2 A distinção entre as concepções negativa e positiva de liberdade é fortemente tributária de um ensaio de Isaiah Berlin, publicado originalmente em 1958. Cf. BERLIN, Isaiah. “Dois conceitos de liberdade”. In: HARDY, Henry e HAUSHEER, Roger (orgs.). Isaiah Berlin: estudos sobre a humanidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 226-72. [ Links ]
3 SKINNER, Q. “Freedom as the absence of arbitrary power”. In: LABORDE, Cécile e MAYNOR, John (eds.). Republicanism and political theory. Londres: Blackwell, 2008. [ Links ]
4 PETTIT, Philip. Republicanism: a theory of freedom and government. Oxford: Oxford University Press, 2007. [ Links ]
5 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 12.
6 Ibidem, p. 14.
7 Conforme o título de um dos livros que mais influenciaram o método skinneriano: Austin, J. L. How to do things with words. 2.ed. Massachusetts: Harvard University Press, 1975. [ Links ]
8 Cf. SKINNER, Q. “Meaning and understanding in the history of ideas“. History and Theory, vol. 8, no 3, 1969, pp. 3-53. [ Links ]
9 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 13.
10 PETTIT, Philip. “Liberty and Leviathan“. Politics, Philosophy and Economics, vol. 4, no 1, 2005, p. 150. [ Links ]
11 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 14.
12 Ibidem, p. 70.
13 Ibidem, p. 70.
14 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 71.
15 Ibidem, p. 75.
16 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 83.
17 Tradicionalmente, os reis da Inglaterra contavam com a prerrogativa de requisitar às cidades costeiras embarcações (ou o dinheiro equivalente à construção dessas embarcações) para a defesa naval em situações em que o reino via-se na iminência de sofrer invasões inimigas. Em 1635, em meio a uma crise financeira, Carlos I, alertando para a possibilidade de invasão, passa a requerer o recolhimento do ship-money para fazer frente às dificuldades. A prática repetiu-se nos anos seguintes, mesmo na ausência de qualquer ameaça externa, o que levou a uma crescente insatisfação no Parlamento. Não tardaram a aparecer discursos protestando contra o caráter abusivo e arbitrário do tributo, o que culminou, em 1641, na decretação da sua ilegalidade.
18 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 93.
19 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 111.
20 Ibidem, p. 112.
21 Ibidem, p. 113.
22 Ibidem, p. 116.
23 Citado em SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 117.
24 Ibidem, p. 143.
25 Citados em SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 141.
26 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 180. [ Links ]
27 Ibidem, p. 184.
28 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 197.
29 Ibidem, p. 194.
30 DIENSTAG, Joshua. “Man of peace: Hobbes between politics and science”. Political Theory, vol. 37, no 5, 2009, p. 703. [ Links ]
31 COLLINS, Jeffrey. “Quentin Skinner’s Hobbes and the neo-republican project”. Modern Intellectual History, vol. 6, no 2, 2009, p. 365. [ Links ]
32 SILVA, Ricardo. “O contextualismo linguístico na história do pensamento político: Quentin Skinner e o debate metodológico contemporâneo”. Dados, vol. 53, no 2, 2010. [ Links ]
33 SKINNER, Quentin. “Quentin Skinner on encountering the past (interview)”. Finnish Yearbook of Political Thought, vol. 6, 2002, p. 55. [ Links ]
Ricardo Silva – Professor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina.
Sobre a Constituição da Europa – HABERMAS (C-FA)
HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa.Tradução de Denilson Luis Werle; Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Editora da UNESP, 2012. Resenha de: BRESSIANI, Nathalie. Habermas em português. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.20, Jun./Dez., 2012.
Os leitores de Jürgen Habermas em português contam, desde o segundo semestre de 2012, com uma tradução brasileira do mais recente livro do autor, Sobre a Constituição da Europa. A boa notícia não se restringe, contudo, ao importante fato de que, com isso, o público brasileiro passa a ter acesso a um livro de Habermas logo após sua publicação original, em alemão. A cuidadosa tradução de Sobre a Constituição da Europa, feita por Denilson Luis Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo é também a primeira de uma série e marca o início da mais nova coleção da Editora UNESP, que publicará quase que integralmente as obras de Habermas em português.
Coordenada pelos três tradutores e por Antonio Ianni Seggato, a coleção representa o início de um longo trabalho de tradução que disponibilizará, nos próximos anos, tanto textos inéditos como livros de Habermas já vertidos para o português, dando sempre prioridade a seus trabalhos mais recentes e aos que não possuem tradução, bem como àqueles cuja tradução seja de difícil acesso ou não satisfaça os padrões já alcançados pela pesquisa acadêmica no Brasil (p. IX).
Dentre os próximos títulos a serem publicados pela coleção, estão Teoria e Prática e Fé e Saber, até hoje inéditos em português, e novas traduções de Conhecimento e Interesse e Mudança Estrutural da Esfera Pública, com o novo prefácio escrito pelo autor na ocasião dos 30 anos da publicação do livro.
Reconhecendo a importância de Habermas para diversos campos do conhecimento e a consolidação de seus estudos no Brasil, a coleção da Editora UNESP certamente permitirá que a recepção de suas obras seja ainda mais ampliada, bem como contribuirá para a sedimentação – já em curso – de um vocabulário habermasiano em português, indispensável para que o trabalho do autor seja melhor compreendido em seus diversos momentos e para que suas influências e ressonâncias no debate atual sejam percebidas com maior clareza.
Tendo isso em vista, a escolha de Sobre a Constituição da Europa como primeira publicação da coleção é bastante feliz. Composto por dois ensaios e um adendo, no qual constam dois breves artigos e uma entrevista, este é um livro heterogêneo, em que Habermas discute várias questões de perspectivas distintas. Sem se limitar a uma análise especialista de viés jurídico, econômico ou político do processo de constituição da União Europeia ou de abrir mão da postura crítica fundamentada que caracteriza seu trabalho, neste livro Habermas lança mão do conhecimento sedimentado em diversas áreas para fazer um diagnóstico crítico do tempo atual.
No primeiro ensaio, intitulado “O conceito de dignidade humana e a utopia realista dos direitos humanos”, o autor se debruça sobre questões mais propriamente filosóficas, relativas à fundamentação dos direitos humanos e sua relação com a moral, ressaltando o vínculo estrutural existente entre a violação da dignidade humana e a gênese dos direitos humanos. No segundo ensaio, por sua vez, Habermas se volta a questões de diagnóstico de época e apresenta uma interessante compreensão sobre a atual crise econômica, política e democrática pela qual passa a Europa. Tema que constitui também o objeto dos dois artigos e da entrevista que compõem o adendo. Assumindo, nesses textos, um tom visivelmente mais otimista face aos potenciais democráticos da União Europeia depois da ratificação do Tratado de Lisboa, 1 Habermas ressalta a possibilidade de que os novos desenvolvimentos dessa instituição permitam a ampliação e a garantia dos direitos humanos para além do Estado-nação e façam frente às forças econômicas sistêmicas, que até então haviam ditado as prioridades e os rumos da UE.
O vínculo entre as duas partes do livro, de resto bastante distintas, parece estar exatamente na importância que o autor confere, em ambas, aos direitos humanos. Afinal, se, no primeiro ensaio, Habermas procura reconstruir a origem moral dos direitos humanos, com o objetivo de fundamentar a tendência à sua efetivação universal, na segunda, ele passa a discutir essa mesma efetivação de um outro ponto de vista, isto é, a partir do caso europeu. Retomando, nesse momento, diversos elementos de sua teoria social dualista, Habermas desenvolve um diagnóstico dos processos de unificação da Europa, por meio do qual explicita os diferentes projetos de Europa em jogo atualmente e identifica as tendências e os bloqueios existentes para sua realização.
Mesmo sem lançar mão textualmente da distinção entre sistema e mundo da vida, Habermas a retoma implicitamente ao identificar a tendência do sistema econômico globalizado em escapar das regulações estatais e ao problematizar o déficit de legitimação decorrente da dificuldade dos Estados nacionais em lidar com tal tendência.2 Segundo Habermas, tendo desencadeado a atual crise, o processo de globalização econômica em curso representa a volta de uma forma de neoliberalismo que afasta a economia da regulação democrática dos Es tados nacionais, ao mesmo tempo que aprofunda as desigualdades econômicas, tanto entre os países quanto em seu interior. Como afirma ele, “os mercados financeiros, principalmente os sistemas funcionais que perpassam as fronteiras nacionais, criam situações problemáticas na sociedade mundial que os Estados individuais – ou as coalizões de Estados – não conseguem mais dominar” (p. 5).
O objetivo de Habermas na segunda parte de Sobre a Constituição da Europa não é, contudo, apenas mostrar os resultados recentes dos desenvolvimentos de uma economia que se autonomizou, mas também o de apontar para as forças que se opõem a esse processo. Uma dessas formas de oposição, descartada por ele rapidamente, é a proposta daqueles que, céticos frente à possibilidade da consolidação de instituições democráticas transnacionais, continuam a insistir nos Estados nacionais como os principais atores políticos. Ressaltando o caráter irreversível do processo de globalização da economia mundial, Habermas recusa essa posição e defende que hoje não é mais possível se esquivar da necessidade de criar instituições democráticas cosmopolitas para lidar com o novos desafios gerados pela economia globalizada.
Tomando tal irreversibilidade como ponto de partida, o que está em causa na análise de Habermas é, na verdade, o caráter e os funda mentos das instituições transnacionais. Segundo o autor, estamos hoje diante de dois projetos distintos de Europa (cf. p. 49). O primeiro deles, problematizado por Habermas, equivale à tentativa de fazer da UE um Conselho Europeu, no qual os 17 chefes de Estado dos países membros decidiriam sobre os mais diversos assuntos e, esvaziando de importância os parlamentos nacionais, criariam um sistema de federa lismo executivo que corresponderia a “um modelo de exercício de dominação pós-democrática” (p. 2). Habermas entende que, escondendo-se atrás de um discurso supostamente não político, tal projeto prevê que as principais decisões políticas fiquem na mão de burocratas ou especialistas, fazendo com que a formação política da vontade se torne supérflua. Se, para o autor, esse projeto perdeu parte de sua força, isso não o impediu de fazer com que os cidadãos europeus tenham ainda hoje a sensação de impotência frente a um sistema político e econômico que parece ter descolado da democracia.
Em Sobre a Constituição da Europa, no entanto, Habermas não aposta na tendência de consolidação da UE como um sistema pós -democrático de dominação política, pelo contrário. De acordo com ele, “o sonho de ter ‘mecanismos’ que tornariam supérflua a formação da vontade política comum e que manteriam a democracia sob controle se estilhaçou” (p. 1). O Tratado de Lisboa, a pressão pela efetivação dos direitos humanos e pela institucionalização de uma democracia cosmopolita e o projeto de uma constituição europeia (ainda que congelado), fazem com que Habermas defenda que a UE não se encontra hoje “tão longe da configuração de uma democracia trans nacional” (p. 3). Para ele, portanto, o potencial democrático da UE não apenas não está bloqueado, como também se opõe às tendências funcionais que o ameaçam.
Os conflitos entre sistema e mundo da vida, bem como a disputa entre eles em torno do direito permitem então a Habermas desenvolver um interessante diagnóstico da situação atual da Europa de acordo com o qual, de um lado, temos a ameaça de que os sistemas econômico e político se descolem das instituições democráticas e, de outro, a tendência de institucionalização de uma democracia cosmopolita, que pode não só regular os sistemas, como também garantir a efetivação dos direitos humanos para além das fronteiras nacionais.
3 Partindo do caso europeu, Habermas diagnostica então as tendências emancipatórias que apontam na direção da consolidação de instituições democráticas transnacionais, bem como seus obstáculos, ligados à possibilidade de que essas instituições se tornem formas pós-democráticas de dominação política. A importância dada por Habermas aqui ao caso europeu não é, contudo, fortuita. Se a UE é central na análise do autor é porque ela permite a explicitação dos conflitos próprios ao atual contexto de globalização e, além disso, porque ela “pode ser concebida como um passo decisivo no caminho para uma sociedade mundial constituída politicamente” (p. 40).
Se o agravamento da crise na zona do euro em dezembro de 2011 faz com que o otimismo de Habermas nesse livro pareça hoje exagerado, seu claro posicionamento em defesa de uma democracia cosmopolita mundial permanece, contudo, atual. Dentre outros motivos, porque, com ele, Habermas parece resolver uma importante ambiguidade em seu trabalho, problematizada por diversos críticos até então, 4 para os quais, apesar de destacar a incapacidade dos Estados nacionais em regular a economia globalizada e de denunciar o déficit democrático das instituições transnacionais existentes, Habermas permaneceria tomando o Estado-nação como o único âmbito adequa do para o exercício da democracia.5 Ao defender agora a importância de uma constituição europeia e afirmar que a legitimidade de instituições transnacionais reside em sua capacidade de garantir a participação e a influência dos indivíduos – tanto enquanto cidadãos de seus países como enquanto cidadãos europeus (ou ainda como cidadãos do mundo) –, Habermas dissolve essa ambiguidade e apresenta, de modo mais claro, sua posição em prol da institucionalização de uma democracia mundial.
Dessa forma, mesmo que retome, em Sobre a Constituição da Europa, questões já abordadas em trabalhos anteriores – como o processo de unificação da Europa, a possibilidade e os obstáculos existentes à consolidação da democracia e de instituições jurídicas transnacionais e, em particular, ao estatuto e gênese dos direitos humanos –, Habermas o faz explicitando e até alterando algumas das posições que havia defendido. E, isso, não só no que diz respeito ao seu otimismo frente aos rumos da UE ou mesmo à possibilidade de uma democracia cosmopolita. Como ressalta Alessandro Pinzani em sua “Apresentação à edição brasileira”, Habermas parece também mudar sua posição no que se refere à forma de justificar os direito humanos. Para Pinzani, em Sobre a Constituição da Europa, “haveria uma aproximação entre direito e moral bem mais forte do que na obra anterior de Habermas” (p. XV), na qual este recusa o estatuto moral normalmente atribuído aos direitos humanos e defende a separação entre moral e direito.6
Defendida por Habermas pelo menos a partir de Direito e Democracia, a separação entre direito e moral é central em sua compreensão do direito moderno. De acordo com ele, em sociedades modernas, já diferenciadas, os direitos fundamentais não devem ser vistos como o resultado da positivação de algo previamente dado e anterior à deliberação, tais como direitos naturais de caráter moral. Embora sejam condições necessárias para o exercício da autonomia pública, os direitos fundamentais que os cidadãos se atribuem mutuamente seriam o resultado da prática política de autodeterminação.7 Para Pinzani, se essa é de fato a tese defendida por Habermas até então, ao vincular a gênese dos direitos humanos à noção moral de dignidade humana, ele teria mudado de posição e reestabelecido uma relação de subordinação dos direitos humanos à moral.
Antecipando essa possível leitura, Habermas chega a afirmar, em nota, que a nova justificação dada ali aos direitos humanos não tem como consequência uma modificação de sua posição no que se refere “à introdução originária do sistema de direitos” (nota 19, p. 19). Segundo ele, o vínculo estabelecido entre a violação da dignidade humana e a gênese dos direitos fundamentais não significa que estes sejam morais. Os direitos fundamentais, afirma ele, permanecem distintos dos direitos morais pois, ao contrário destes, estão voltados a uma institucionalização. Apesar dessa ressalva, a carga moral atribuída por Habermas à dignidade humana e a importância assumida por ela em sua reconstrução da gênese dos direitos humanos têm suscita do diversas discussões.
Para autores kantianos, como Rainer Forst, 8 que defendem que o direito não pode ser compreendido sem ser remetido à moral, a suposta aproximação empreendida por Habermas pode ser vista como um ganho frente a seus escritos anteriores. Para autores 9 que, ao contrário, defendem que a forma do direito moderno já implica direitos de liberdade que não precisariam, portanto, de uma fundamentação moral, o novo texto de Habermas pode ser interpretado como um retrocesso em direção à pré-modernidade. Embora divirjam frontalmente em suas posições, poucos parecem ser os leitores de Habermas que poderão se manter indiferentes perante às várias passagens do livro em que ele reforça a origem moral dos direitos humanos, nas quais afirma, por exemplo, que:
em contraposição à suposição de que foi atribuída retrospectivamente uma carga moral ao conceito de direitos humanos por meio do conceito de dignidade humana, pretendo defender a tese de que, desde o início, mesmo que ainda primeiro de modo implícito, havia um vínculo conceitual entre ambos os conceitos. (pp. 10-1)
Ou ainda, logo em seguida, que:
a dignidade humana… é a ‘fonte’ moral da qual os direitos fundamentais extraem seu conteúdo. (pp. 10-1)
O fortalecimento do vínculo entre moral e direitos fundamentais, como atestam essas passagens, parece inegável. De qualquer forma, a divergência na interpretação de seus interlocutores e a própria ressalva de Habermas explicitam que cabe ainda discutir quais são exatamente as consequências desse vínculo e se ele, de fato, implica uma relação de subordinação ou de identidade entre direitos morais e direitos humanos. As primeiras reações ao livro já indicam assim que, embora não seja problematizado pelo próprio autor, o estatuto da relação entre moral e direito nos diferentes escritos de Habermas permanece em questão e, certamente, ainda será objeto de muitos e interessantes debates.
A importância (ou não) da moral na fundamentação habermasiana dos direitos humanos é, certamente, um dos pontos mais controversos do livro. Contudo, a ênfase dada nele à dignidade humana, cujas violações constituiriam o impulso para a efetivação dos direitos humanos em todo o mundo, aponta ainda para um segundo elemento que consideramos importante ressaltar. Afinal, ao sustentar que “o apelo aos direitos humanos alimenta-se da indignação dos humilhados pela violação de sua dignidade humana” (p. 11), Habermas se volta mais diretamente à motivação dos conflitos sociais do que em trabalhos anteriores. A ênfase no sentimento de humilhação frente à violação da dignidade humana como o motor dos conflitos sociais e impulso do processo de ampliação e garantia dos direitos humanos parece corresponder a uma tentativa de Habermas de lidar com um problema colocado a ele por Axel Honneth em Crítica do Poder, a saber, o déficit motivacional de seu trabalho.10
Além disso, é o vínculo entre a violação da dignidade humana e a gênese dos direitos humanos aquilo que parece permitir a Habermas afirmar, sem recair em uma postura meramente transcendente, que estes mesmos direitos são uma utopia realista. A presença do primeiro ensaio cumpriria, nesse sentido, o papel de mostrar que a defesa da ampliação e da garantia dos direitos humanos não é meramente transcendente, mas se ancora em uma tendência inscrita na dinâmica dos próprios conflitos sociais. É exatamente isso o que parece estar em causa quando Habermas afirma, ainda no prefácio, que “as experiências de dignidade humana violada promovem uma dinâmica conflituosa de indignação que dá um impulso renovado à esperança de uma institucionalização global dos direitos humanos, ainda tão improvável”(p.5). Se a suposta aproximação entre moral e direito, abordada anterior mente, parece indicar uma aproximação de Habermas a uma posição kantiana, sua ênfase na origem conflituosa dos direitos e em sua motivação moral parece aproximá-lo também de uma posição hegeliana e, em particular, das contribuições de Axel Honneth.11 Aproximações e deslocamentos que, como as outras questões apontadas aqui, fazem do novo livro de Habermas uma das mais interessantes publicações dos últimos anos.
Fruto de um confronto atento com novos acontecimentos, críticas e autores, Sobre a Constituição da Europa mostra como o trabalho Habermas, longe de ter parado no tempo, continua apresentando um complexo e crítico diagnóstico das sociedades contemporâneas. Mesmo que parte das críticas dirigidas a Habermas apontem para limites em sua teoria, a força de sua compreensão das recentes crises na Europa e em grande parte do mundo, bem como o potencial dos processos de democratização destacados por ele fazem com que o trabalho de Habermas permaneça sendo a principal referência, mesmo para aqueles que visam desenvolver teorias sociais críticas distintas da dele.
A tradução de Sobre a Constituição da Europa e a coleção da UNESP são, nesse sentido, muito bem-vindas não só para aqueles que buscam compreender o pensamento de Habermas em toda sua complexidade, mas também para aqueles que, em confronto com ele, procuram dar continuidade à crítica social em português.
Notas
1 Em Ach, Europa, publicado após a recusa da França e da Holanda de ratificarem o “Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa”, depois deste ter sido recusado pela população em plebiscitos, Habermas se posiciona mais criticamente frente à UE e seus potenciais de democratização. Cf. HABER MAS, J. Ach, Europa.Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008.
2 No contexto atual, afirma Repa sobre o diagnóstico habermasiano, “ocorre uma nova sobreposição de imperativos sistêmicos sobre o mundo da vida sem que nem ao menos os mecanismos sistêmicos tenham uma base de legitimidade no mundo da vida”. REPA, L. O direito cosmopolita entre a moral e o direito. Texto inédito.
3 Se as críticas ao dualismo habermasiano, mesmo em sua forma mitigada, fi zeram com que muitos autores recusassem como um todo o diagnóstico de patologias sociais desenvolvido por Habermas, a compreensão apurada feita por ele da situação atual e do que está em jogo na UE parece mostrar que ele talvez tenha sido descartado apressadamente. Cf. BRESSIANI, N. Redistri buição e Reconhecimento. Nancy Fraser entre Jürgen Habermas e Axel Honneth. In: Cadernos CRH, v. 24, 2011.
4 Cf. FINE, R; SMITH, W, Jürgen Habermas’s Theory of Cosmopolitanism.In: Constellations.Vol. 10, Nº 4, 2003.
5 HABERMAS, J. Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie. In: Die postnationale Konstellation. Frankurt am Main: Suhrkamp, 1998
6 Cf. HABERMAS, J. Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.Sobre isso, cf. também: MELO, R. HULSHOF, M. KEINERT, M. Diferen ciação e complementaridade entre direito e moral. In: NOBRE, M.; TERRA, R. (Orgs.).Direito e democracia. Um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros editores, 2008, pp. 73-90. MELO, R.O uso público da razão. Pluralismo e democracia em Jürgen Habermas.São Paulo: Edições Loyola, 2011, caps. 2 e 3.
7.Sobre a relação entre direitos fundamentais e direitos políticos ou autonomia privada e autonomia pública em Habermas, cf. SILVA, F. G.Liberdades em disputa: a reconstrução da autonomia privada na teoria crítica de Jürgen Habermas. Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Filosofia da UNICAMP, 2010
8 Cf. FORST, R.Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
9 MAUS, I. Verfassung oder Vertrag. Zur Verrechtlichung globaler Politik. In: NIESEN, P.; HERBORTH, B. (Orgs.).Anarchie der kommunikativen Freiheit.Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007, p. 350 e ss
10 HONNETH, A. Kritik der Macht. Reflexionsstufe einer kritischen Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: Surkamp, 1989.Cf. também: NOBRE, M. Luta por Re conhecimento: Axel Honneth e a Teoria Crítica. In: HONNETH, A.Luta por Reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.
11 Ao afirmar que as lutas por direitos possuem uma motivação moral, a saber, o sentimento de humilhação resultante da violação da dignidade humana, Habermas se aproxima da posição defendida por Honneth em Luta por Reconhecimento. Apesar disso, ele não parece aqui assumir a distinção entre três esferas de reconhecimento, restringindo-se talvez, como Rainer Forst, a ressaltar a importância da segunda delas, regida pelo princípio do respeito igual, que Honneth atrela ao direito.
Referências
BRESSIANI, N. Redistribuição e Reconhecimento – Nancy Fraser entre Jürgen Habermas e Axel Honneth. In: Cadernos CRH, v. 24, p. 331352, 2011.
FINE, R.; SMITH, W. Jürgen Habermas’s Theory of Cosmopolitanism. In: Constellations.Vol. 10, Nº 4, 2003.
FORST, R. Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
HABERMAS, J.Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
______. Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie. In: Die postnationale Konstellation. Frankurt am Main: Suhrkamp, 1998.
______. Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008.
______.Sobre a Constituição da Europa.São Paulo: UNESP, 2012.
HONNETH, A. Kritik der Macht. Reflexionsstufe einer kritischen Gesellschaftstheorie.Frankfurt a/Main: Surkamp, 1989.
______.Luta por Reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2004.
MAUS, I. Verfassung oder Vertrag. Zur Verrechtlichung globaler Politik. In: NIESEN, P.; HERBORTH, B. (Orgs.).Anarchie der kommunikativen Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007, p. 350 e ss.
MELO, R. HULSHOF, M. KEINERT, M. Diferenciação e complemen taridade entre direito e moral. In: NOBRE, M.; TERRA, R. (Org) Direito e democracia. Um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros editores, 2008, pp. 73-90.
MELO, R. O uso público da razão. Pluralismo e democracia em Jürgen Habermas.São Paulo: Edições Loyola, 2011.
NOBRE, M. Luta por Reconhecimento: Axel Honneth e a Teoria Crítica. In: HONNETH, A. Luta por Reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.
PINZANI, A. Apresentação à edição brasileira. In: HABERMAS. J.Sobre a Constituição da Europa. São Paulo: UNESP, 2012, pp. XI-XXI.
REPA, L. O direito cosmopolita entre a moral e o direito. Texto inédito.
SILVA, F. G. Liberdades em disputa: a reconstrução da autonomia privada na teoria crítica de Jürgen Habermas.Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Filosofia da UNICAMP, 2010.
Nathalie Bressiani – Doutoranda em Filosofia pela USP.
As origens culturais da Revolução Francesa – CHARTIER (HH)
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009, 316 p. Resenha de: AZEVEDO NETO, Joachin. A Revolução Francesa revisitada. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p. 205-210, abril 2012.
Roger Chartier é um historiador francês, natural de Lyon. Além de, atualmente, ser professor do Collége de France e atuar nas Universidades de Harvard e da Pensilvânia, o autor teve, dentre outras, a obra A história cultural entre práticas e representações traduzida para o português em 1988. A referência a este livro é necessária porque o mesmo apresenta a matriz teórica que vem regendo a produção intelectual contemporânea de Roger Chartier. Também é preciso salientar que as reflexões sobre a História Cultural enquanto campo de conhecimento, que embasam esta obra, foram inovadoras para a época e abriram novas possibilidades de estudos no campo da história e nas formas de se ler e escrever textos historiográficos.
A articulação entre A história cultural entre práticas e representações e as pesquisas mais recentes desenvolvidas por Chartier, que versam sobre temas que vão desde as relações entre escritores e leitores no Antigo Regime até os desafios da escrita da História, reside na assertiva de que, para este historiador, é necessário compreender o modo pelo qual se estabelecem vínculos entre a leitura e a compreensão dos textos com as condições técnicas e sociais em que esses textos são publicados, editados e recepcionados. Por exemplo, A história ou a leitura do tempo, breve obra publicada recentemente, ilustra bem esses vínculos entre as fases de maturação do pensamento de Chartier quando o autor afirma que uma história cultural renovada deve acatar o desafio de compreender “a relação que cada comunidade mantém com a cultura escrita” (CHARTIER 2009, p. 43) a partir dos usos e significados que são atribuídos aos textos.
Essas reflexões gerais sobre as propostas de Roger Chartier são necessárias para a contextualização do autor de As origens culturais da Revolução Francesa, obra publicada no Brasil em 2009. Na introdução da obra, Chartier se indaga por que escrever um livro que já existe, fazendo referência a um estudo escrito na década de 30 do século XX, intitulado Les orígenes intellectualles de la revolution française, de Daniel Mornet. A questão é que, tanto o conhecimento acumulado em torno do tema da Revolução Francesa se transformou ao longo do século XX, bem como é possível, para os estudiosos da história, a abordagem de temas clássicos da historiografia por meio do levantamento de novas problemáticas.
No primeiro capítulo “Iluminismo e Revolução;Revolução e Iluminismo”, Chartier discute o que seriam, para Mornet, as causas da Revolução. O autor, assim, esquematiza as conclusões de Mornet que embasam, de forma geral, as concepções historiográficas tradicionais sobre a Revolução Francesa: 1) as ideias iluministas circulavam hierarquicamente das elites para a burguesia, daí para a pequena burguesia e, por fim, para o povo. 2) a difusão das ideias iluministas aconteceu do Centro de Paris para a periferia da França. 3) o Iluminismo foi uma peça-chave para o desmonte do Absolutismo. Chartier elabora sua tese invertendo os postulados de Mornet: não foi o Iluminismo que inventou a Revolução Francesa, mas os desdobramentos da Revolução que legitimaram o Iluminismo.
Nesse sentido, o significado teórico do termo origem, que aparece no título da obra de Chartier ainda continua nebuloso para o leitor. Acredito que o conceito-chave que é a todo momento evocado no estudo do historiador francês ecoa no mesmo diapasão das reflexões formuladas por Walter Benjamin em A origem do drama barroco alemão. Segundo Benjamin, a ideia de origem possui uma dimensão dialética e crítica na medida em que: […] apesar de ser uma categoria totalmente histórica, não tem nada que ver com a gênese. O termo origem não designa o vir-a-ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir-a-ser e da extinção. A origem se localiza no fluxo do vir a ser como um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado. Em cada fenômeno de origem se determina a forma com a qual uma ideia se confronta com o mundo histórico, até que ela atinja a plenitude na totalidade de sua história. A origem, portanto, não se destaca dos fatos, mas se relaciona com sua pré e pós-história (BENJAMIN 1984, p.67-68, grifo no original).
Por esse viés, a noção de origem não é utilizada como uma fonte na qual a explicação de todos os fatos possa ser encontrada. O significado atribuído por Benjamin ao termo é o de um fenômeno entranhado de várias temporalidades históricas. Assim sendo, a origem não carrega em si a gênese das coisas, mas se constitui enquanto uma formação que perturba a normalidade do curso das práticas humanas e faz ressurgir antigas questões esquecidas e silenciadas. Por esse prisma, o conceito de origem é dialético porque sua forma é a de uma imagem sempre aberta, sempre inacabada. Essa é a concepção de origem da qual partilha Chartier, embora não faça menções diretas a Benjamin em nenhum momento de As origens culturais da Revolução Francesa.
No segundo capítulo, “A esfera pública e a opinião pública”, Chartier discute como a esfera pública era constituída por um espaço no qual havia um intercâmbio de ideias políticas que estavam distantes de serem controladas pelo Estado. Assim, a esfera pública, seguindo os rastros do pensamento de Harbemas, era um espaço de sociabilidade burguesa. Neste espaço, a nobreza e, tampouco, o povo tinham presença e as diferenças entre os indivíduos que se faziam presentes eram ressaltadas por meio dos posicionamentos e argumentos críticos que estes apresentavam para o debate e não por meio de uma estratificação social que favorecia uma linhagem ou títulos de nobreza.
Simplificando, Chartier fala em esfera pública se referindo aos debates que aconteciam em salões, cafés, clubes e periódicos que eram usados como lócus para discussões, entre as camadas sociais emergentes, de crítica estética sem a intromissão das autoridades tradicionais nessas conversas.
Dentro dessa discussão, é preciso recorrer ao texto clássico “O que é o Iluminismo?” (2004), de Kant, para a elucidação de como o conceito de razão foi estreitamente interligado com a noção de Iluminismo. Kant sugeriu que a liberdade, enquanto vocação humana, só poderia ser exercida quando o indivíduo conseguisse pensar por si próprio. A razão concebida dessa forma possuía uma dimensão pública e privada. O uso privado da razão, por exemplo, por oficiais do Exército ou líderes religiosos, não anulava o uso público da razão porque este era embasado no interesse comunitário. Com base no pensamento de Kant, essas duas esferas autônomas do pensamento crítico não preocupavam o Estado absolutista, que mantinha a ordem vigente através da distribuição de cargos públicos e de status. Porém, para Kant, o uso individual da razão só atingiria sua plenitude quando os cidadãos pudessem registrar, através da escrita, suas críticas ao poder vigente.
No capítulo “O caminho de imprimir”, Chartier discorre sobre as tensões entre os interesses dos parlamentares e do público leitor, que resvalavam, por sua vez, no mercado editorial francês. Usando os testemunhos de Malesherbes, diretor do comércio livreiro e de Diderot, coautor da Enciclopédie, Chartier analisa como a opinião desses homens letrados, que defendiam a livre circulação de livros, libelos e periódicos – mesmo que não apresentassem teor crítico em relação à configuração política da época – esbarravam nas práticas de censura e policiamento que eram impostas pelo poder real.
O título “Será que os livros fazem revoluções?”, do quarto capítulo, possui uma fina entonação irônica. Fatores como o aumento de leitores – na França pré-revolucionária –, mesmo entre representantes das classes populares, e as diversas formas de negociação dos livros, como o aluguel até por hora dos exemplares, adotadas pelos livreiros, não implicava diretamente, para Chartier, em um anseio coletivo revolucionário. Nesse ponto da obra, o autor levanta uma série de críticas ao historiador norte-americano Robert Darnton, reconhecido também como pesquisador da cultura impressa no Antigo Regime.
Em Boemia literária e Revolução, Darnton é categórico ao afirmar que o filão de escritores de libelos inflamados e da baixa literatura erótica – a canalha literária, como os denominou, horrorizado, Voltaire – que abordavam, em seus escritos, temas escandalosos envolvendo a nobreza foram mais decisivos para disseminar o descontentamento político entre a plebe do que os iluministas na França pré-revolucionária. De acordo com Chartier, essa perspectiva está equivocada porque tanto a escrita da boemia literária quanto dos philosophes saciaram a fome de leitura de toda uma geração ávida por ter acesso a temas proibidos, transgressores e irreverentes. Isso significa que a leitura de livros taxados de crônicas escandalosas, e mesmo os da alta filosofia, que habitavam lado a lado os depósitos da Bastilha e as listas de pedidos dos livreiros, caracterizados pela construção de narrativas contestadoras e desrespeitosas das hierarquias estabelecidas, não incutiam, nas mentalidades dos leitores, o desejo de derrubar a ordem vigente.
No quinto capítulo, “Descristianização e secularização”, o autor busca elucidar como o fenômeno cultural da descristianização, ou seja, da falta de crédito das prédicas e dos dogmas morais e religiosos ensinados pela Igreja Católica, vinha sendo gestado entre a população francesa desde o século XVII e que, portanto, não se trata de um advento que eclodiu no final do século XVIII por meio da adesão em massa dos franceses aos ensinamentos e tratados anticlericais contidos nos escritos iluministas. Para o autor, com base nas ideias de Jean Delumeau, é preciso, inclusive, relativizar a ideia de que houve sempre uma França plenamente cristianizada.
De acordo com Chartier, embora as elites tradicionais prezassem em deixar boa parte das suas fortunas para o pagamento das indulgências, entre as camadas médias e populares essa prática não era seguida com frequência.
Com a postura radical adotada pela Igreja durante a Contrarreforma, a impopularidade dos dogmas católicos, sobretudo aqueles ligados aos ideais de uma vida ascética – ligados à defesa das relações matrimoniais apenas como finalidade para a procriação – causou uma série de práticas e mudanças no comportamento sexual dos casais que romperam com a cartilha que era pregada nas missas.
No capítulo “Um rei dessacralizado”, Chartier traça uma discussão sofisticada sobre os principais fatores que culminaram no rompimento da crença na autoridade sacramental do rei por parte dos súditos franceses. É interessante perceber como, até no período pré-revolucionário, os documentos enviados pelos franceses ao rei para serem apresentados em Assembleia Geral, permaneciam margeados por uma retórica que afirmava o caráter paternal e justo do monarca, que deveria proteger os súditos das extorsões e abusos de poder do clero e dos nobres. Como compreender, então, a proliferação de impressos que construíam a imagem de um rei ridículo, imoral e suíno e a execução pública do soberano durante os desfechos da Revolução? Chartier elenca como uma das principais causas do fenômeno da dessacralização do rei o abuso de autoridade real que era exercido por meio da força policial, em meados do século XVIII. Como exemplo, o autor cita que os oficiais de polícia, para cumprir um decreto real que determinava a remoção e prisão dos mendigos e vagabundos parisienses, acabaram prendendo crianças e pré-adolescentes filhos de mercadores, artesãos e trabalhadores. Como resposta, os súditos propagaram rumores sobre um rei que era escravo de prazeres devassos e envolvido em práticas macabras como o assassinato dos jovens capturados pela polícia.
No capítulo “Uma nova política cultural”, o autor faz uma referência ao estudo de Peter Burke sobre a cultura popular durante o alvorecer da modernidade. Na esteira do pensamento de Burke, Chartier afirma que houve um crescente interesse, alimentado pela circulação de canções, imagens e libelos contra as autoridades, por parte das camadas populares por assuntos políticos porque as atitudes administrativas, como a cobrança de impostos, por exemplo, afetava diretamente o cotidiano dessas pessoas. Essa politização da cultura popular ocorreu de forma gradativa, em termos de duração, e culminou na adesão das classes subalternas ao movimento que arruinou o absolutismo.
Outra instituição que se expandiu largamente, por toda a França, foi a sociedade maçônica. Chartier elenca como um dos principais atrativos da Maçonaria o fato de que, tal qual nas tavernas, salões ou academias, os indivíduos eram vistos como iguais entre sí e diferenciados apenas pelos posicionamentos discursivos que adotavam. Embora de forma limitada, a maçonaria e os salões tinham em comum o fato de estabelecerem um espaço aberto para a prática de uma sociabilidade “democrática”, em um contexto histórico e político longe de ser democrático. Porém, como Chartier adverte, é necessário ressaltar o caráter elitista dessas instituições. Os indivíduos deveriam ser prósperos, polidos e intelectualizados para que a Ordem também pudesse ser próspera. De modo geral, seja nas tavernas, salões ou nas lojas maçônicas, ao longo do século XVIII, essas formas de sociabilidades que emergiram se colocaram na contramão da ordem que alicerçava o Antigo Regime.
No último capítulo, “As revoluções têm origens culturais?”, Chartier traça uma comparação entre a Revolução Inglesa, que aconteceu no século XVII e a Revolução Francesa. Embora seja evidente que cada evento possua suas peculiaridades contextuais, o autor sugere que prevaleceu como eixo comum à noção, em ambos os eventos, de que o ideário puritano inglês e o jansenismo francês infundiram, por meio de prédicas religiosas, mas de forte teor político, um profundo sentimento de desconfiança entre a população no que diz respeito à moralidade das autoridades instituídas.
A conclusão que se pode tirar do estudo de Chartier sobre as origens intelectuais da Revolução Francesa é que um evento como esse, explosivo e sanguinário, que rompeu com uma tradição política absolutista construída por séculos, alicerçada pelos sustentáculos da religião e do Estado e que envolveu, de forma geral, todos os seguimentos sociais da França, teve razões complexas e inseridas em um processo de duração histórica mais longa. Desta forma, Chartier lança mais inquietações do que respostas em torno de um tema historiográfico clássico e induz o leitor à reflexão de que os objetos ligados ao campo da história podem ser sempre revisitados, arejados e redescobertos por novos olhares e problemas lançados pelos historiadores para o passado.
Referências
BENJAMIN, Walter. A origem do drama barroco alemão. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009.
______. A história ou a leitura do tempo. Tradução de Cristina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
______. A história cultural entre práticas e representações. Tradução de Maria Galhardo. Lisboa: Difel, 1990.
DARNTON, Robert. Boemia literária e Revolução: o submundo das letras no Antigo Regime. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
KANT, Immanuel. O que é o Iluminismo? In_____. A paz perpétua e outros opúsculos. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2004.
Joachin Azevedo Neto – Doutorando Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: [email protected] Rua Bosque dos Eucaliptos, 280 – Campeche 88063-440 – Florianópolis – SC Brasil.
Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil (1916-1944) – De LUCA (RBH)
De LUCA, Tania R. Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil (1916-1944). São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 357p. Resenha de: NEVES, Livia Lopes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.63, 2012.
A autora Tania Regina de Luca, que é pesquisadora reconhecida no campo intelectual nacional e internacional, graduou-se em História na Universidade de São Paulo, instituição na qual obteve o título de mestre e doutora em História Social. Sua trajetória afina-se com as discussões relativas à História do Brasil República, e sua atuação profissional envolve principalmente os seguintes temas: Historiografia, História da Imprensa, História Social da Cultura e História dos Intelectuais. A imprensa na Era Vargas tem sido seu foco de pesquisa atualmente, tema esse contemplado em parte por seu livro recém-lançado e objeto da presente resenha. Se seus estudos muitas vezes fizeram referência à Revista do Brasil, como em Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil, a autora não deixou de dar continuidade a seus trabalhos anteriores de forte teor metodológico acerca do trato com o periodismo cultural brasileiro, e o que de fato se agregou ao debate foi o estudo de outras publicações de cunho cultural, o que proporcionou uma visão ampla acerca da produção intelectual do período veiculada por esse suporte. Tal acréscimo permite também a discussão sobre as leituras e os projetos do e para o Brasil, tanto políticos como culturais, que agregaram parte dessa intelectualidade envolvida com tais empreendimentos editoriais.
Ao longo do texto a autora frisa a importância de atentarmos para o percurso metodológico que orientou sua análise, o qual, segundo ela, representa uma colaboração para a construção de uma forma específica de abordagem dos impressos. As contribuições, dessa maneira, seriam dadas por conta de alguns aportes metodológicos, como por exemplo, atentar para a dinâmica dos grupos intelectuais, para os aspectos relativos ao suporte, e também para as apresentações de ordem material e tipográfica (capa, papel, ilustração, propaganda, paginação). Todos esses elementos, de maneira geral, já haviam sido objeto de reflexão da autora, figurando entre as importantes contribuições para estudos dessa natureza no campo da história. Além dos citados, ganharam destaque em sua análise fontes que colaboraram para a apreensão das relações e atuações dos editores e mentores das publicações: as correspondências, as memórias e as produções autobiográficas.
A soma dessas frentes de pesquisa, anunciada na introdução do livro, demonstra de antemão a amplitude da proposta da autora, que estabeleceu diálogo profícuo com autores que se propuseram a discutir as sociabilidades intelectuais, o campo intelectual (brasileiro ou não) e as relações que aproximaram ou distanciaram os intelectuais e o Estado, como Sirinelli (1990), Pluet-Despatin (1992), Bomeny (2001), Miceli (2001) e Candido (2001), ou com autores que, assim como ela, ofereceram aportes para a análise de jornais e revistas, como Doyle (1976), Prado e Capelato (1980), e mesmo com os que se debruçaram sobre publicações específicas, como Boaventura (1975), Caccese (1971), Guelfi (1987), Lara (1972), Leonel (1976), Napoli (1970) e Romanelli (1981), entre outros.
Estruturado em quatro capítulos que seguem cronologicamente as fases mais expressivas de sua publicação o livro confronta a Revista do Brasil às demais revistas coetâneas. Pareceu ser essa uma boa forma de se aproximar de um panorama editorial – ainda que sobremaneira calcado na retomada das mais destacadas revistas da época, certamente as mais estudadas atualmente – que consistiu em uma grande revisão bibliográfica sobre cada uma dessas publicações e na consulta a diversas fontes periódicas orientada por um olhar mergulhado em novas preocupações. Ao somar os estudos das fontes aqui citadas, De Luca nos apresenta uma obra enriquecida e madura, que evidencia a importância de se atentar para as redes de sociabilidade intelectuais e para a fluidez do campo intelectual, bem como para o impacto de um elemento sobre o outro.
No primeiro capítulo, “A Revista do Brasil (primeira e segunda fases) e os periódicos modernistas”, a autora procurou articular as fases iniciais da revista com as publicações modernistas fundadas a partir de Klaxon, realizando a análise com dupla perspectiva: da sincronia e da diacronia, sendo a primeira responsável por dar conta do momento da publicação de cada fase da Revista do Brasil e do diálogo com as congêneres contemporâneas. A segunda perspectiva ocupou-se das diferentes fases e de suas possíveis articulações. Para tanto, a autora elaborou um gráfico (reproduzido no livro entre as páginas 69 e 70), no qual apresenta uma seleção das revistas literárias e culturais em circulação entre o lançamento da Revista do Brasil, em janeiro de 1916, e meados da década de 1940, quando do encerramento de sua quarta fase. Nesse capítulo ganham destaque: Novíssima, Estética, A Revista e Terra Roxa e outras terras.
Já no segundo capítulo, nomeado “Revistas literárias e culturais (1927-1938)”, a autora nos traz uma visão panorâmica percebendo que em termos de longevidade, até o início da década de 1930 continuaram a ser fundadas revistas de breve duração – à exceção da Revista Nova, que circulou durante mais de um ano –, Verde, Festa, Revista da Antropofagia, Movimento Brasileiro, Boletim de Ariel, Revista Acadêmica, Lanterna Verde, Dom Casmurro, Diretrizes, Cultura Política e Movimento Brasileiro recebem uma análise não muito minuciosa, conforme previamente anunciado pela autora ainda no título. Nesse capítulo foram discutidos, do mesmo modo, aspectos como o alinhamento de projetos editoriais a tendências políticas e a elementos do mundo editorial na conjuntura do pós-1930, encerrando discussões sobre as condições do exercício da atividade intelectual e a proliferação de editoras no Brasil. A autora promove, de forma bastante pertinente, o debate sobre a censura à imprensa e o alinhamento de periódicos à plataforma governista durante o Estado Novo e defende uma análise historiográfica que priorize a dinâmica de posicionamentos em detrimento de rótulos unidimensionais, o que, via de regra, anula uma série de complexidades que envolvem os empreendimentos editoriais.
“Revista do Brasil (3ª fase): inserção no mundo letrado, objetivos, características e conteúdo” é o título do terceiro capítulo, que trata da retomada da publicação da Revista do Brasil em julho de 1938, com sua diversidade de assuntos e a preocupação com problemas nacionais, ainda que se explicitasse como um projeto cultural de corte elitista.
No quarto e último capítulo, intitulado “A Revista do Brasil e a defesa do espírito”, é retratado o momento em que a publicação voltou a circular, período marcado pela ascensão das forças autoritárias na Europa e do Estado Novo no Brasil, o que gerou limitações impostas à liberdade de expressão por parte do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Ao atentar para o fato de que as práticas liberais, o individualismo e a democracia eram aspectos defendidos por vários articulistas da revista, De Luca destaca a especificidade da publicação em questão frente a algumas coetâneas, quadro que se alterou após 1942 com a adesão brasileira à política pan-americana.
O que se apresenta em Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil é um método de análise novo e frutífero, capaz de esclarecer o lugar ocupado pela publicação na história da imprensa, especialmente com base em alguns diálogos com as congêneres contemporâneas, o que demandou, segundo De Luca, que se aliassem sistemáticas consultas às coleções citadas à leitura e ao estudo de outras fontes, sobretudo as advindas do que se convencionou chamar de ‘escritas de si’.
Sentiu-se certamente a ausência de imagens relacionadas ao tema e aos periódicos recorrentemente citados, o que enriqueceria a obra e poderia angariar, talvez, um público leitor mais amplo que o acadêmico. A iniciativa de dinamizar a leitura disponibilizando no site da Editora uma série de tabelas produzidas ao longo da pesquisa, conforme consta na nota dos editores presente no livro, mostrou-se pouco eficiente tendo em vista a dificuldade em encontrá-las de fato. Mais interessante seria que essas tabelas constassem na obra e acompanhassem a linha de pensamento desenvolvida, clarificando muitos dos nós relacionados ao objeto de estudo do livro.
Destarte, a contribuição que pode ser apreendida a partir desse trabalho reside, a meu ver, na aplicação metodológica plural que propôs a agregação de aportes que tratam do estudo de periódicos como objeto e fonte, desde os primeiros estudos gerais sobre periódicos – empreendidos sob a coordenação do professor José Aderaldo Castello, que estribou sua pesquisa preferencialmente nos acervos do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) – aos obtidos a partir da renovação das práticas historiográficas, que vislumbram a importância do estudo do periodismo cultural cotejado com outras fontes, como as iconográficas, epistolares, os relatos memorialísticos e autobiográficos.
NEVES, Livia Lopes.- Mestranda do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista CNPq. [endereço] [email protected].
O dia em que adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil – SANTOS (RBH)
SANTOS, Luís Cláudio Villafañe G. O dia em que adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil. São Paulo: Ed. Unesp, 2010. 278p. Resenha de: DULCI, Tereza Maria Spyer. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.62, São Paulo, dez. 2011.
O livro de Luís Cláudio Villafañe G. Santos impressiona desde o começo, pelo título, que relaciona a festa popular do carnaval à política externa, e também pela capa, uma imagem do vitral da Catedral Nacional de Washington retratando o barão do Rio Branco. Imediatamente somos levados a perceber que o livro tem como ponto de partida José Maria Paranhos da Silva Júnior, o barão do Rio Branco, responsável pela consolidação do território brasileiro, que figura naquele conjunto de vitrais, com Bolívar e San Martín, entre os heróis da América do Sul.
O autor, diplomata de carreira, mestre e doutor em História pela Universidade de Brasília, desenvolveu neste livro, O dia em que adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil, publicado pela Editora Unesp, um excelente estudo sobre as relações entre nacionalismo, identidade e política externa. Partindo de Rio Branco, Villafañe percorre o panorama histórico do país, do século XIX até os dias atuais, para investigar como foi construída a ‘consciência nacional’, a ‘ideia de raça brasileira’, a ‘consciência do atraso nacional’ e a ‘liderança natural’ do Brasil na América Latina.
O adiamento das festividades populares de 1912 em razão da morte do barão do Rio Branco, ocorrida na véspera do carnaval, demonstra o prestígio e o poder do diplomata não só diante das autoridades, mas também perante a população. Este seria, para Villafañe, um caso único na história, no qual a figura de um diplomata torna-se referência para a construção da nação ao obter importantes vitórias nas disputas de fronteiras.
Embora não sejam contemporâneos, Bolívar, San Martín e Rio Branco teriam sido, cada um a seu modo, responsáveis pela consolidação das nacionalidades na América do Sul. O que salta aos olhos é que, no caso do Brasil, uma figura da República, e não do Império, foi protagonista desse processo de construção da nação brasileira. Mas como explicar o lugar ocupado por Rio Branco na memória e no imaginário da nação brasileira, quase um século depois do processo de independência?
Villafañe afirma que a independência brasileira se fez sem a presença dos famosos ‘libertadores’ dos demais países americanos, e que o Império teria criado um sentimento de pátria comum ainda atrelado à legitimidade dinástica, nos moldes dos Estados europeus do Antigo Regime, o que explica a pequena adesão da sociedade ao sentimento de identidade nacional. Isso teria mudado com a República, momento em que se buscou desenvolver um sentimento nacional brasileiro vinculado à ‘comunidade imaginada’, conceito de Benedict Anderson, do qual o autor se vale muitas vezes ao longo do livro.
Ao argumentar que a política externa é um dos aspectos mais característicos da ação do Estado na construção do nacionalismo, Villafañe destaca que a questão do território conformou o ‘interesse nacional’ brasileiro, já que é um dos elementos essenciais daquilo que o autor denomina “santíssima trindade do nacionalismo”, composta por “Estado, Povo e Território”.
Por sua vez, a identidade de um Estado, auxiliada pela política externa, se constrói muitas vezes a partir de sua relação com os demais Estados, daí a importância do conceito de ‘alteridade’, que leva o pesquisador a investigar, não apenas quais foram os ‘outros’ externos, mas também os ‘outros’ internos. Segundo Villafañe, na tentativa de criar uma ‘comunidade imaginada’ brasileira, o “outro pode assumir várias formas: brasileiros versus portugueses, brasileiros versus africanos, América versus Europa, império versus república, civilização versus barbárie, americanismo continental versus nacionalismos particulares”.
Sendo assim, o objetivo central das primeiras gerações de intelectuais da República foi reinserir o Brasil na América e superar o ‘atraso’ gerado pela colonização e pela monarquia portuguesa. O autor identifica, nesse contexto, duas vertentes de debate sobre a identidade brasileira, as quais engendraram as ideias do ‘atraso nacional’: uma baseada nas relações entre o meio e a raça (que valorizava a mestiçagem) e outra assentada numa visão antilusitana e antiafricana (que valorizava o americanismo).
O historiador afirma que, com o advento da República, transformou-se o lugar do Brasil no continente, especialmente a partir da incorporação das premissas do pan-americanismo, caras à política externa brasileira, principalmente durante a gestão de Rio Branco como chanceler, entre 1902 e 1912.
Segundo o autor, a diplomacia de Rio Branco é paradigmática para compreender a relação entre nacionalismo e territorialidade, pois buscava definir as fronteiras, aumentar o prestígio internacional do Brasil e afirmar a liderança ‘natural’ de nosso país na América do Sul, deixando como herança um ‘evangelho’ que descrevia o Brasil como “um país pacífico, com fronteiras definidas, satisfeito territorialmente”. Um exemplo interessante, analisado pelo historiador, foi a presença do Brasil nos trabalhos da Liga das Nações, participação que tinha como meta aumentar o prestígio internacional do país, mas que contribuiu, ao mesmo tempo, para a sustentação política do governo e para fortalecer as rivalidades entre Brasil e Argentina na disputa pela preponderância política e militar no Cone Sul.
Villafañe destaca ainda o Estado Novo como forte instrumentalizador da identidade nacional, já que nesse período ocorreu o processo de consolidação dos dois símbolos culturais da identidade brasileira atual: o carnaval e o futebol. Através do Departamento de Imprensa e Propaganda – órgão responsável por auxiliar as “festas populares com intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística” – Getúlio Vargas institucionalizou o carnaval, tornando-o oficialmente símbolo da nacionalidade brasileira, e profissionalizou o futebol, com o intuito de difundir um conjunto de valores supostamente pertencentes a um caráter nacional, “produto de uma alma brasileira”.
Também a partir da Era Vargas, o nacionalismo teria se vinculado à ideia de desenvolvimento econômico e social, o que, segundo o autor, teria “acrescentado um novo elemento ao evangelho do Barão”. O desenvolvimento patrocinado pelo Estado levaria à superação do atraso e projetaria o Brasil para o futuro, ao desenvolver uma ‘autonomia da dependência’, componente ausente da política externa, tanto do Império, quanto da República Velha.
É nesse momento que, segundo Villafañe, a retórica diplomática brasileira incorpora de fato o pertencimento à América Latina, ao se perceber membro do grupo de países menos desenvolvidos e buscar a superação do ‘atraso nacional’. Dessa fase, o historiador destaca o nacional-desenvolvimentismo, característico dos governos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; analisa a teoria da modernização, criada pela academia norte-americana no pós-Segunda Guerra Mundial (que contrapõe as sociedades ‘modernas’ às ‘tradicionais’) e explica por que os Estados Unidos se tornaram o ‘outro’, em contraste com a identidade latino-americana.
A partir da Política Externa Independente, do início da década de 1960, o Brasil abandonou a ‘aliança não escrita’ com os Estados Unidos, reforçou a identidade latino-americana e desenvolveu as afinidades com a África e com a Ásia, que viviam o processo da descolonização. O autor ressalta esse período, sem deixar de considerar o fato de a identidade continental americana ter sido utilizada pelos Estados Unidos como forma de controle, ao excluir Cuba do sistema interamericano em função de seu sistema político, ‘incompatível’ com os demais países da América.
Por fim, ao analisar a Ditadura Militar, o historiador realça a posição de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos (uma volta aos velhos padrões da política externa) e enfatiza o discurso anticomunista e nacionalista dos militares (que percebem o Brasil como ‘potência regional’). Além disso, Villafañe destaca o retorno e o fortalecimento da identidade latino-americana entre o final do século XX e o princípio do século XXI, discutindo como as nações são inventadas e reatualizadas de acordo com os diferentes contextos históricos.
O autor termina o livro em tom levemente provocativo, questionando se houve ou não um rompimento com o ‘evangelho’ de Rio Branco. O grande panorama apresentado cuidadosamente por Villafañe nos permite comparar os variados períodos da nossa história, levando-nos a entender as complexas relações de poder dos diferentes projetos identitários e da ‘comunidade imaginada’ que é o Brasil. Mesmo para aqueles que discordem das premissas e das teses do autor, esta obra lúcida e instigante aponta novos caminhos de reflexão sobre a imbricada relação entre a política externa e a longa e incessante ‘construção’ do Brasil.
DULCI, Tereza Maria Spyer.- Doutoranda, Departamento de História, FFLCH/USP; bolsista Fapesp, Av. Prof. Dr. Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil, E-mail: [email protected].
Acessar publicação original
[IF]Kierkegaard: construção do estético – ADORNO (FU)
ADORNO, T. Kierkegaard: construção do estético. São Paulo: Editora da UNESP, 2010. Resenha de: SILVA, Elias Gomes da. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.3, p.292-297, set./dez., 2011.
Este livro de Theodor W. Adorno surge no mercado editorial brasileiro como pressuposto e reconhecimento de que o autor alemão foi responsável por uma experiência intelectual cujos aportes teóricos são postos em um ambiente de fecundidade e fronteira (p. 7). Diversas obras foram publicadas sobre o pensamento de Sören Kierkegaard nas últimas décadas, inclusive muitas na América Latina. Estes textos, enquanto produções científicas, preferencialmente, são desenvolvidos a fim de estabelecer uma investigação pautada por uma postura plural, onde o que predomina em última instância é a tentativa de demonstrar a originalidade que compõe o entorno do complexo pensamento do autor. A tradução e publicação dessa obra de Adorno se comprometem com a maximização e atualização dos debates entre diversos pesquisadores no território nacional, tanto com aqueles que se propõem estudar a obra de Kierkegaard, como também com a comunidade adorniana como um todo.
Preliminarmente, a obra está estruturada e dividida em três partes principais (p. 11). Na primeira parte, o leitor se depara com a tese de habilitação de Adorno ao ensino superior na Universidade de Frankfurt am Main, detidamente elaborada entre os anos 1929 e 1930, contendo também as reestruturações estabelecidas pelo próprio Adorno e publicadas em 1933 nas quais o mesmo se propôs apresentar algumas pontuações sutilmente diferenciadas. Na segunda e terceira parte do livro, foram inseridos dois anexos, onde o autor pode demonstrar alguns apontamentos e novas formulações adquiridas ao longo de sua vida acadêmica e, sobretudo, em sua maturidade. Dentro dessa estruturação tripla, vejamos a primeira parte, cujo conjunto de textos é mais extenso.
Na primeira parte do livro, temos os seguintes capítulos: Exposição do estético, Constituição da interioridade, Explicação da interioridade, Conceito do existir, A lógica das “esferas”, Razão e sacrifício e Construção do estético.
No primeiro capítulo (Exposição do estético), Adorno tenta demonstrar a base que compõe a metodologia utilizada por Kierkegaard na exposição de seu pensamento. Em sua explicação, a autor alemão afirma ter encontrado o fio condutor que possibilita uma maior compreensão do filósofo dinamarquês. Para Adorno, ao lermos a obra de Kierkegaard, a primeira coisa de que precisamos para compreendê-la é distingui-la da poesia propriamente dita (p. 12). Os fundamentos que norteiam a filosofia de Kierkegaard não podem ser necessariamente os fundamentos poéticos (p. 12). Objetivando advogar essa ideia, Adorno afirma que, em sua obra, o próprio Kierkegaard teria renegado a ideia de ser confundido com um simples poeta (p. 12). Embora a obra do nórdico esteja carregada de elementos poéticos, os mesmos devem ser entendidos como metáforas, estratégia e alegorias, que visam a atingir uma espécie de telos superior (p. 41). Adorno nos alerta dizendo que não poderíamos desconsiderar “[…] a seriedade estratégica de Kierkegaard se pretendesse anular a dignidade da palavra pelo recurso psicológico aos pseudônimos” (p. 40). Haja vista que a exposição do estético em Kierkegaard possui relevâncias filosóficas significativas, cujas figuras estéticas devem ser pensadas apenas como metáforas, estratégicas e alegorias objetivando um telos, que não se limita a simples narrativas poéticas.
No segundo e no terceiro capítulos, Adorno fala sobre o tema da interioridade. O mesmo nos é apresentado de duas maneiras: a Constituição da interioridade e a Explicação da interioridade. No primeiro caso, predomina a tentativa do autor de demonstrar que, na obra de Kierkegaard, o conceito de interioridade está estabelecido a partir de sua concepção de antropologia teológica. Adorno afirma que, para Kierkegaard, a existência humana está sobreposta sobre a ideia de ter que decidir sobre a verdade e não verdade do simples pensar apenas pelo recurso racional da existência pensante (p. 65). Ou seja, nele a interioridade não visa necessariamente à determinação da subjetividade, e sim um postulado ontológico, tendo em vista que a mesma não aparece como teor da primeira, mas, sobretudo, como o seu palco. Pensar o conceito de interioridade em Kierkegaard é entender que as matrizes de sua constituição só podem ser de fato efetivadas onde se reconhece a alienação do sujeito e do objeto (p. 71). Dessa alienação nascem as críticas da interpretação de Adorno sobre Kierkegaard. Através de uma dialética imanente, a chamada interioridade sem objeto projeta-se para uma “ontologia transcendente” cujo ideal é: “O eu producente é o mesmo que o eu produzido” (p. 73). Em Kierkegaard, a subjetividade sem objeto é extremamente dolorosa. Trata-se de uma espécie de interioridade que chora a sua perda (p. 77). O curso desse processo é vivido e ocorre na situação ou intérieur.
Na Explicação da interioridade (terceiro capítulo), Adorno se dedica a demonstrar que, embora o conceito de interioridade em Kierkegaard se remeta a uma esfera privada e que supostamente estaria liberta do processo de coisificação, mesmo assim esta, por sua vez, pertenceria necessariamente a uma estrutura social específica, ainda que de forma polêmica (p. 113). Adorno faz uma crítica dizendo que, ao negar a questão social, o dinamarquês ficara à mercê de sua própria posição social (p. 114). Estabelecendo uma espécie de “leitura marxista” de Kierkegaard, o autor afirma que o mesmo possui características de um “pequeno burguês” (p. 115), tendo em vista que sua ética autônoma da pessoa absoluta prova em seus conteúdos sua relatividade à situação própria da classe burguesa. Assim, Adorno nos diz: “O si mesmo concreto é para Kierkegaard idêntico ao si mesmo burguês” (p. 117). Já na segunda parte do mesmo capítulo, o autor tece alguns apontamentos quanto à origem do espiritualismo de Kierkegaard. Essa tese espiritualista recebeu o nome de “corpo espiritual”, onde, de maneira metafórica, os elementos corporais aparecem sob o signo do “significado” entre a verdade e a não verdade do espírito (p. 122). Em Kierkegaard, as figuras corporais aprisionam o espírito na aparência da situação e do intérieur, fazendo com que Adorno reconheça o teor mítico como componente essencial na filosofia de Kierkegaard (p. 123). Os desdobramentos desses pressupostos podem esclarecer diversos outros temas, tais como: “a relação da interioridade sem objeto como ontologia oculta” (p. 134), “o esconjuro dialético do paradoxo da fé como interior que é incomensurável com o próprio exterior” (p. 135), “a determinação da subjetividade como indiferença em relação à história exterior cujo fundamento ocorre na melancolia” (p. 140), entre outros.
No quarto capítulo, temos a definição do conceito de existir. De todos os conceitos de Kierkegaard, o mais conhecido é o de existir (p. 157), o que em tese não significa fácil compreensão. A concepção de existir na filosofia kierkegaardiana se estabelece a partir de sua polêmica com o “cristianismo oficial”, o que para Adorno faz com que a mesma perca a sua atualidade radical, transformando-se numa espécie de “situação mental” para a qual instituição religiosa e a vida do indivíduo há tempos já saíram da dialética por meio da qual Kierkegaard as encontrou ligadas, embora ainda permanecendo como potências inimigas (p. 157). Assim, a pertinência e a atualidade radical do conceito só podem ser de fato preservadas, quando desvinculadas majoritariamente da dogmática positiva e das controvérsias com o protestantismo. A pergunta de Kierkegaard sobre a verdade parece ser mais atual e urgente, quando se remete à realidade da existência [Dasein] sem interferência da tese dogmática (p. 157). O grande legado do conceito de existir encontra-se na questão ontológica. Para Adorno, a questão pelo sentido do ser-aí [Dasein] é o que hoje mais se busca extrair da leitura de Kierkegaard. Todavia, a utilização do termo ontologia para o autor dinamarquês só pode ser entendida polemicamente, ou seja, como sinônimo de metafísica. Pois, nota-se que o “[…] ser-aí não pode ser compreendido como modo de ser, nem mesmo em sentido “aberto” [“erschlossen”] a si mesmo” (p. 158). O que interessa não é a construção de uma ontologia fundamental, mas sim o estabelecer de um movimento que deve conduzir o indivíduo a uma interioridade sem objeto, cujo comprometimento mítico destina-se à liberdade de encontrar uma verdade paradoxal (p. 164). O conceito de existência não é interpretado literalmente como ontologia; para Kierkegaard, o indivíduo não é capaz por si mesmo de reconhecer seu próprio eu. A existência precisa ser conquistada. Como se diz: “[…] ela conjura sem imagens, para apossar-se dele em pura espiritualidade” (p. 168). A conquista da existência só é possível em um ambiente mítico. A existencialidade em um ambiente mítico desemboca na doutrina kierkegaardiana do desespero (p. 185).
Adorno, no quinto capítulo, descreve e analisa a questão da lógica das “esferas”. Nesse sentido, pretende abordar aquilo que é chamado de os modos de existência. O filósofo alemão denomina os mesmos de “sistema da existência”, fazendo a seguinte ressalva: por mais cuidadoso que seja em evitar para essa teoria o título de sistema filosófico, Kierkegaard acabará por revelar seu caráter sistêmico, sobretudo ao utilizar a palavra “esquema” ao se referir à sua doutrina das esferas (p. 194), advogando essa ideia de sistema, Adorno faz uma comparação com Kant dizendo: “[…] com esse esquema, podemos nos orientar sem sermos perturbados” (p. 194). Ainda nesse mesmo capítulo, o autor analisa a questão da origem das esferas, o que para ele possuiria necessariamente caráter hierárquico. (p. 197). As três esferas da existência, a estética, a ética e a religiosa, têm como “lógica operacional” o elemento dialético, cuja mutação deve ocorrer preferencialmente através do salto (p. 211). A esfera estética é a dialética não dialética voltada para fora de si mesma, enquanto que a esfera ética é a dialética não dialética voltada para dentro de si mesma (p. 196). No que diz respeito à esfera religiosa, Adorno afirma que se trata de uma dimensão existencial cuja fundamentação dialética é determinada pelo paradoxo da dúvida, que é representada pela fé e pela ideia de vida santa, apostólica, tal como Kierkegaard polemicamente demonstra (p. 211).
Adorno termina a primeira parte do livro com os seus dois últimos capítulos, que são: Razão e sacrifício e Construção do estético. No primeiro caso, temos a tentativa adorniana de demonstrar o “autoaniquilamento do idealismo” na obra de Kierkegaard. A noção de autoaniquilamento do idealismo tem como principal expoente Hegel. Adorno afirma que se trata do método dialético, onde a totalidade é recebida a partir da dinâmica de conceitos abstratos, onde jamais se contemplam ou resultam fenômenos individuais (p. 233). É esse método que Kierkegaard pretende criticar. Porém, para Adorno, embora Kierkegaard tenha escarnecido incansavelmente de Hegel, o mesmo seria muito mais parecido com ele do que gostaria de pensar (p. 234). Por exemplo: os elementos da “resignação infinita” que compõem a filosofia de Kierkegaard; ainda que hipoteticamente tente excluir essa suposta totalidade, o mesmo acaba, sem perceber, remetendo-se a totalidade. Seria algo profundamente semelhante aos projetos de Feuerbach em seu “conceito iluminista de homem”, como também ao pensamento que Marx desenvolveu, sobretudo as categorias do valor de troca e da mercadoria, que também conservam por certo a memória de totalidade como quintessência do conjunto de ações de todos os fenômenos da sociedade capitalista (p. 234).
Na Construção do estético, o autor fala da presença persistente da melancolia, que mesmo diante de todos os outros estádios, se encontraria ainda nos últimos escritos de Kierkegaard (p. 270). Isso ocorreria, porque o dinamarquês estabilizou as bases de seu pensamento voltado para uma espécie de “sacrifício existencial” (p. 290), cuja melancolia teria a difícil tarefa de estabelecer a devida mediação. Por esse motivo, a existência humana para Kierkegaard é considerada trágica (p. 278). A interioridade sacrifical busca desejosamente a reconciliação consigo mesma e com Deus, ou seja, o projeto de reconciliação da existência só pode ocorrer mediante o uso da melancolia-mediadora (p. 278). Assim, a construção do estético em Kierkegaard está determinada pelo desejo da reconciliação. Todavia, na medida em que o projeto de reconciliação possui dimensões de caráter teológico-metafísico, a doutrina kierkegaardiana da arte ficará subordinada indiscutivelmente a esse telos. Dito isso, para Kierkegaard o estético é determinado por imagens efêmeras (p. 280), onde o sacrifício existencial não atinge conjuro subjetivo (p. 285). Na esfera estética, o pathos da subjetividade não pode se autoreconciliar. Trata-se daquela região da aparência dialética, onde a felicidade é prometida historicamente como a decomposição da existência (p. 285). Por outro lado, Adorno também reconhece a estratégia de Kierkegaard de valorizar a arte como método filosófico. A rigor: “Quanto mais arte mais interioridade” (p. 292). A comunicação kierkegaardiana tem como principal regra a construção de um pensamento subjetivo, onde o locutor tenta exigir do receptor a autonomia de poder atentar para a forma intersubjetiva da comunicação (p. 292).
Os dois anexos inseridos na última parte do livro realçam a obra. O primeiro deles, A doutrina kierkegaardiana do amor, é de 1940 (dez anos após a defesa de sua tese). Trata-se da conferência para teólogos e filósofos do círculo americano de Paul Tillich. Nela o autor teve a ocasião de posicionar-se mais precisamente na temática da religiosidade. Para Adorno, a essência da obra de Kierkegaard está direcionada ao processo vivo da fé, devendo inclusive ser compreendida a partir de sua principal tese de que a subjetividade é a verdade (p. 311). Do início ao fim, através dos estádios da existência, a filosofia de Kierkegaard é estruturada na tentativa de levar o leitor à dialética de uma verdade teológica. Não se trata do trabalho de um simples teórico, que, após ter encontrado, se propõe ensinar, sistematizando o caminho. Ou seja, de forma existencialmente trágica, Kierkegaard se propõe alcançar o crístico, sem que ele próprio, de algum modo, tenha alcançado primeiro, tendo em vista, que o mesmo não partilha do típico otimismo da filosofia idealista, de poder, a partir de si mesmo, chegar ao absoluto.
Adorno se propõe tecer algumas afirmações sobre As obras de amor, publicada em 1874. A primeira delas é que, em Kierkegaard, o amor só pode ser de fato cristão, quando é capaz de amar cada homem por amor a Deus e numa relação com Deus (p. 314). A prática do amor transforma-se na qualidade da pura interioridade. Adorno interpreta a concepção de amor em Kierkegaard como uma determinação abstrata e universal, o que torna o objeto do amor indiferente. As diferenças individuais e comportamentais dos homens são reduzidas a meras determinações. Para Adorno, o mandamento cristão do amor (na versão de Kierkegaard) não conhece nenhum objeto. Ele diz: “A substancialidade do amor carece de objeto” (p. 314). O amor deve ser uma ruptura com a natureza (p. 315) Tendo em vista a sua relação com Deus, o mesmo deve significar a ruptura dos impulsos próprios do imediato. Dito isso, a doutrina kierkegaardiana do amor possui caráter totalmente abstrato (p. 323). Assim, para o filósofo alemão Kierkegaard teria tomado de “empréstimo” características da burguesia, para desenvolver o seu conceito universal de homem, empurrando-as para o cristianismo (p. 323). Adorno também reconhece o lado demoníaco desse tipo de amor, sobretudo no exagero da transcendência que ameaça a cada instante transmudar-se em algo sombrio, da humilhação do espírito diante de Deus na nua e crua hybris, para ele provar sua própria onipotência criadora com onipotência do amor (p. 316-317), fazendo com isso nitidamente oposição à doutrina kierkegaardiana do amor, onde não é permitido questionar o sagrado, mas sim submeter-se (p. 326-327). A esperança que Kierkegaard deposita no amor não é, porém, outra coisa senão a realidade encarnada da redenção (p. 338).
Finalizando o livro, temos o anexo II: Kierkegaard outra vez. Adorno agora se concentra, sobretudo, nos abusos cometidos contra a obra de Kierkegaard, ressaltando seu lado não conformista (p. 15). Pronunciado em 1963, ano de comemoração dos 150 anos do nascimento de Kierkegaard, o texto possuiu seis tópicos. No primeiro deles, Adorno apresenta Kierkegaard como testemunha e discípulo da verdade (p. 339). Nesse sentido, o autor não teria, em hipótese alguma, a pretensão obsessiva de ser uma espécie de “mestre-fundador” de nenhuma nova escola filosófica. Ou seja, “[…] ter seguidores, fundar uma escola, eram temas de zombaria para quem se designava como indivíduo” (p. 341). Se Kierkegaard, durante toda a sua vida, combateu a objetivação da filosofia como sistema, que subtrai dela a experiência do indivíduo, conseqüentemente o mesmo teria se contraposto também a essa moderna tentativa de seus interpretes, de elevar a sua “teologia” ao status de positiva (p. 342).
Nos demais tópicos do anexo, Adorno continua a sair em defesa de Kierkegaard, principalmente contra alguns pastores e filósofos que, naquela ocasião na Alemanha, haviam se apropriado da filosofia de Kierkegaard com o pressuposto de um padroeiro ou de uma espécie de mestre-fundador (p. 343). Através dos trabalhos de tradução de Christoph Schrempf, Theodor Haecker, a obra de Kierkegaard se tornou uma espécie de estandarte do protestantismo, sobretudo nos trabalhos do teólogo Karl Barth. Por outro lado, tendo em vista as duas camadas (teológicofilosófica) que compõem a obra de Kierkegaard, em meados dos 1920 suas reflexões foram destacadas por Heidegger e Jaspers, sendo direcionadas para uma ontologia antropológica (p. 344), legando com isso a Kierkegaard os atributos de um filosófico clássico. Para Adorno, essa trajetória de “vitória” constitui-se uma espécie de inverdade, sobretudo em relação às máximas e aos conteúdos doutrinários do próprio Kierkegaard (p. 347).
Todavia, para consolidar essa tese, Adorno afirmou a necessidade de pensar a filosofia de Kierkegaard, sobretudo, a partir de sua relação com Hegel (p. 350), o que, de fato, não constitui uma relação feliz. Na verdade, para o alemão, a maior parte dos elementos que compõem a obra de Kierkegaard possuiu algum tipo de “relação-de-instância” nos trabalhos de Hegel. Os principais são: a dialética, a mediação, o salto, a interioridade (como consciência infeliz). Elementos esses que, segundo Adorno, não teriam sido interpretados corretamente pelo próprio Kierkegaard. No sistema de Hegel, a consciência infeliz está antes nesse meio-termo onde o pensar abstrato entra em contato com a singularidade da consciência como singularidade (p. 352). Desse modo, de maneira irônica, Adorno chega a dizer que Hegel teria derrotado seu inimigo mortal póstumo (Kierkegaard), ao inventá-lo profeticamente, a partir do movimento de sua própria filosofia (p. 353).
Desse fato resulta que, para Adorno, a tese fundamental de Kierkegaard – de que a verdade é a subjetividade – deve ser compreendida como algo de caráter idealista, embora reconhecendo que Kierkegaard tentou paralisar essa realidade, hipostasiando-a sob o nome de paradoxo. Também nisso ele permaneceria, ainda que às avessas, um discípulo de Hegel, visto que tinha restrições à lógica da não contradição (p. 354).
Poderíamos dizer que, nesse anexo, embora Adorno reconhecesse como grotesca a apropriação da filosofia de Kierkegaard como “espinha dorsal” de um novo sistema teológico ou filosófico, em hipótese alguma ele muda o seu discurso, mas conserva a sua principal característica, estabelecendo uma leitura de Kierkegaard polêmica e não convencional.
Elias Gomes da Silva – Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]A construção do mundo histórico nas ciências humanas – DILTHEY (FU)
DILTHEY, W. A construção do mundo histórico nas ciências humanas. São Paulo: Editora da UNESP, 2010. Resenha de: KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.3, p.287-289, set./dez., 2011.
Sem uma vasta tradição de recepção e crítica no Brasil (e proporcionalmente pouco estudado mesmo na Alemanha, seu país natal), Wilhelm Dilthey (1883-1911) é apontado como um dos mais influentes pensadores na transição do século XIX para o XX. Filho de um pastor calvinista e criado no caldo de cultura aquecido por nomes como Bopp, Humboldt, Ranke, Ritter e Savigny, Dilthey lança as bases para uma análise muito lúcida sobre as ciências positivas em sua época. Tal exame preparou o terreno para autores que, mais tarde, seriam protagonistas da crítica às ciências nas primeiras décadas do século XX (é o caso de Spengler, com seu Decadência do Ocidente).
A influência de Dilthey sobre os seus contemporâneos se explica dado sua obra, desde muito cedo, ter se dedicado a um único escopo: a fundamentação das ciências humanas, fato que lhe garantiu antecipação e maturidade. Atestamos a precocidade de tal filosofia, cientes de que sua intenção já aparece na pauta do autor desde a juventude mais tenra, quando, no ano de 1850, com apenas 17 anos, Dilthey já acenava à necessidade de um movimento que tornasse possível “a constituição definitiva da ciência histórica e, por meio dela, as ciências do espírito”. Projeto filosófico entabulado na juventude, é este mesmo que vemos desenvolvido, com várias feições e de maneira pouco sistemática, nos trabalhos das décadas de 1890-1900, até às vésperas da morte do autor.
Em seus primeiros trabalhos, Dilthey toma Kant e Hegel por interlocutores (o segundo como alvo de contestação) e, apropriando-se do método hermenêutico de Schleiermacher, desenvolve algo que poderíamos chamar de “crítica da razão histórica”. Como a denominação anuncia, Dilthey visa a estender a intuição do projeto crítico kantiano ao domínio da história, passo que dependeria da determinação do estatuto do homem na constituição das ciências históricas. Assim, Dilthey investe na fundamentação das ciências do homem, da sociedade e da história, sabendo que é o âmbito da vida (isto é, um espaço vivencial total) que garante as percepções de um mundo constituído. Num outro período mais adiantado de sua obra, apostando no projeto de uma psicologia analítico-descritiva, Dilthey pretende uma fundamentação psicológico-gnosiológica das ciências (como nomeia seu comentador Eugenio Imaz). Em ambos os casos, contudo, está presente a preocupação em mostrar que as ciências do espírito, ou as assim chamadas ciências humanas, precisam estar fundamentadas num solo humano, para que, a partir daí, seus fenômenos possam ser compreendidos segundo um mundo vivenciado, não sendo mais abstrativamente explicados pelas ciências naturais, positivas.
Trazendo elementos tanto da temática da razão histórica quanto da psicologia, o ensaio A construção do mundo histórico nas ciências humanas é um trabalho de maturidade do filósofo. Também nele, Dilthey se mostra preocupado em estabelecer uma relação saudável entre as ciências da realidade histórico-social e as da natureza de modo que a primeira receba fundamentação adequada; é isso que se constata quando, já no início do primeiro capítulo, o filósofo propõe: “Nós precisamos procurar o tipo de relação existente nas ciências humanas com o estado de fato da humanidade” (p. 22). Essa afirmativa pretende mostrar o quanto dependemos de uma apreensão do lugar do homem na própria constituição da vida histórica, esta que, por sua vez, se engendra imediatamente a partir da percepção de uma conjuntura histórica específica.
Entendendo que as vivências humanas se manifestam e articulam essa rede histórica complexa, edificando um todo de referências (sendo estas tanto materiais quanto psíquicas), Dilthey anuncia que o presente fato nos defronta “com o problema acerca de como a construção do mundo histórico no sujeito torna possível um saber sobre a realidade espiritual” (p. 167). Sem dúvida, o tema do mundo histórico encontra no homem base para ser problematizado, pois o homem é o ponto de conexão de um determinado tempo e das visões de mundo que pertencem ao mesmo. Deste modo, o homem (e as vivências constituintes do estado de fato de sua humanidade) é o ser sobre o qual se assentaria primordialmente a vida histórica da totalidade.
Além dos tópicos referentes às vivências, abordados em nossa breve síntese, Dilthey ainda introduz em seu livro (entre a primeira parte e os diversos adendos que esboçam uma segunda) a exposição dos conceitos de hermenêutica, expressão, compreensão, interpretação e visão de mundo, todos decisivos ao projeto de sua fundamentação das ciências históricas e sociais.
Produto de um conjunto de conferências apresentadas na Academia Prussiana de Ciências, a obra foi publicada em 1910, e é contemporânea a outros ensaios de temática afim, entre os quais destacamos Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica (1907-08) (recomendado como entrada para leitura do outro). Por ter ficado inacabada, apenas composta por textos provisórios e indicações para prosseguimentos futuros, a obra em apreço possui caráter fragmentário (o leitor se deparará com ideias em aberto, com frases inconclusas e com o uso recorrente da expressão “etc.”, indicando pontos que ainda dependeriam de maior desdobramento conceitual).
Enfocando aspectos editoriais da publicação, A construção do mundo histórico nas ciências humanas é bem editorada e possui a elegante encadernação em capa dura típica da Coleção Clássicos UNESP.
A tradução (que orienta os propósitos desta resenha), assinada por Marco Antônio Casanova, cumpre com excelência a tarefa de trazer a obra de Dilthey ao português, mostrando-se, inclusive, a par dos cânones mais atuais dos estudos sobre o filósofo. Um exemplo disso está na adoção do termo “ciências humanas” para traduzir a expressão alemã Geisteswissenschaften (em vez do tradicional “ciências do espírito”). Essa plausível opção encontra precedente nas traduções de língua inglesa e endosso junto a especialistas, entre eles o exegeta alemão Matthias Jung que, em seu Dilthey uma introdução, assevera:
A tradução para o conceito de “ciências do espírito”, “ciências humanas”, expressa melhor a conexão de sentido da realidade sócio-histórica do que sua correspondente alemã, na qual a noção de “espírito” facilmente pode ser mal entendida como algo independente da lida com homens reais. O projeto diltheyano das ciências humanas deve ser livremente entendido não com um fim em si mesmo, mas como pertencente à conexão ampla de sua busca pelas possibilidades científicas de acesso à experiência necessária ao mundo da vida, a relação sujeito-objeto (Jung, 1996, p.8-9).
Não bastasse esse argumento, a opção também parece editorialmente acertada, uma vez que cria maior identidade com o público de alguns dos cursos universitários brasileiros, dos denominados cursos de ciências humanas.
Dotada de dois breves, mas substanciais, aparatos críticos, uma nota do tradutor e outra dos editores, a edição brasileira faz a cortesia de fornecer dados biobibliográficos do filósofo, como, por exemplo, a posição e importância do referido trabalho no panorama da obra. Esses subsídios favorecem, em muito, o acesso do leitor brasileiro a elementos do pensamento de Wilhelm Dilthey.
Referências
JUNG, M. 1996. Dilthey zur Einführung. Junius, Hamburg, 219 p.
Roberto S. Kahlmeyer-Mertens – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
Hobbes e a liberdade republicana – SKINNER (C)
SKINNER, Q. Hobbes e a liberdade republicana. Trad. de Modesto Florenzano. São Paulo: Edunesp, 2010. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Conjectura, Caxias do Sul, v. 16, n. 3, Set/dez, 2011.
A história intelectual tem buscado forjar padrões de análise que a convertam num campo de estudo estabelecido e fixado como outros já consagrados, a exemplo da história política, da econômica, da social e da cultural. Por suas íntimas aproximações com a história filosófica e com a história das ideias, definir seguramente suas fronteiras teórico-metodológicas e seu alcance interpretativo do objeto, assim como seu corpus documental, torna-se, além de um problema tenso e contraditório, um desafio para o estudioso da temática. Se mesmo entre os lugares principais de produção, a história intelectual é ao mesmo tempo ambígua, sem necessariamente construir procedimentos de pesquisa comuns, como se observa nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália, como então se deveria proceder ao seu estudo e à sua apropriação? A obra de Skinner está entre aquelas que, desde os anos 60 (séc.XX), tem se debruçado com afinco sobre a questão. Agrupando-se ao que ficou definido como contextualismo linguístico inglês, ele se esforçou para a criação de procedimentos adequados para que a história intelectual fosse, entre outras coisas, um instrumento apropriado para o estudo do pensamento e da ação política no tempo. Estudioso da história moderna, preocupou-se com a investigação do pensamento renascentista, reformista, contrarreformista, liberal e conservador, e com a maneira como estabeleceriam relações com seu contexto. Para ele, somente ao se agrupar o contexto de produção das obras é que se torna possível visualizar os jogos linguísticos usados pelos letrados e políticos do período e reconstituir como agem e se movimentam no campo de produção das obras e da ação política, estabelecer os nexos de ação do grupo e do indivíduo, analisar os discursos e as estratégias de ação, além de permitir definir quais são as intenções dos agentes sociais em sua escrita, por já formar nela uma ação política, com desdobramentos sociais profundos, ao ser apropriada pela sociedade.
Evidentemente, a proposta analítica do autor é consistente e articulada, o que não quer dizer que seja isenta de fragilidades. O ponto, talvez, mais criticado em sua proposta é justamente a de agrupar e definir as intenções dos agentes sociais, por meio do estudo de seus escritos. Leia Mais
Collected papers of Herbert Marcuse. Philosophy, Psychoanalysis and Emancipation – MARCUSE (CEFP)
MARCUSE, Herbert. Collected papers of Herbert Marcuse. Philosophy, Psychoanalysis and Emancipation. Vo.5. [?]: Editora da Unesp, [?]. Resenha de: CARNEIRO, Silvio Ricardo Gomes. Cadernos de Ética e Filosofia Política, São Paulo, v.20, p.185-193, 2011.
Sob o signo de Atena: gênero na diplomacia e nas Forças Armadas – MATHIAS (REF)
MATHIAS, Suzeley Kalil (Org.). Sob o signo de Atena: gênero na diplomacia e nas Forças Armadas. São Paulo: UNESP; Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas, 2009. 279 p. Resenha de: MOREIRA, Rosemeri. Igualdade de gênero nos meandros das missões de paz e na carreira diplomática. Revista Estudos Feministas v.19 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
Temática ainda pouco explorada nos meios acadêmicos, a presença de mulheres militares nas missões de paz e na carreira diplomática é o ponto nodal dos dez artigos que compõem este livro organizado pela socióloga Suzeley Kalil Mathias.
Os quatro primeiros artigos fazem parte do projeto “La mujer en las Fuerzas Armadas y Policía: una aproximación de gênero y las operaciones de paz”, realizado pela Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Em comum, esses quatro artigos apresentam dados sobre a situação socioeconômica das mulheres diante das diversas realidades nacionais, a discussão histórica da inclusão de mulheres nas respectivas Forças Armadas e a análise da situação profissional das mulheres militares. Com relação ao último item, os dados traduzidos na riqueza de gráficos e tabelas enfocam os percentuais numéricos por sexo e as possibilidades femininas de acesso aos postos de comando e às armas de combate e, principalmente, discutem a presença de mulheres nas missões de paz. Pontos-chave das reflexões, as análises das autoras sobre essa presença vão ao encontro das concepções da ONU sobre a paz, defesa e segurança humana, apregoadas após a Guerra Fria. São apontadas as dificuldades, as resistências e/ou as deficiências das Forças Armadas em levar adiante o projeto de igualdade de gênero nos respectivos contextos nacionais. Comum ainda aos quatro textos é a reflexão sobre a carência, na maior parte desses países, de um debate civil e público sobre a questão que se configura ainda como um “não assunto”. Leia Mais
Filosofias da Matemática – SILVA (M)
SILVA, Jairo José da Silva. Filosofias da Matemática. Editora da UNESP, 2007. 240p. Resenha de: ARENHART, Jonas Rafael Becker; MORAES, Fernando Tadeu Franceschi. Manuscrito, Campinas, v. 33, n. 2, p. 531-550, jul.-dez. 2010.
INTRODUÇÃO
É difícil saber se a carência de livros sobre filosofia da matemática publicados em português seja fruto ou indicador da incipiência da pesqui-sa brasileira nessa área. Ao mesmo tempo, é interessante observar como, em nosso país, a pesquisa em lógica e seus fundamentos, que desfruta de grande reputação e inserção internacional já possui, há trinta anos, um livro inspirador em sua área, o hoje clássico “Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica” de Newton C. A. da Costa.
O livro Filosofias da Matemática, do professor da Universidade Estadual Paulista Jairo José da Silva encontrase, por esta razão, numa posição bastante especial dentre as publicações brasileiras: tem a responsabilidade de ser, de certo modo, um pioneiro na área, preenchendo uma lacuna editorial em um tema que, via de regra, é pouco acessível a estudantes de filosofia e matemática.
A proposta de da Silva com este trabalho é fornecer um livro “útil àquele estudante, não importa a sua origem intelectual, que queira se iniciar na filosofia da matemática, mas que talvez não tenha estudado nenhuma filosofia antes e de matemática só conheça o elementar”, e, além disso, deseja fazê-lo “sem, no entanto, alienar os já iniciados tanto num domínio quanto noutro” (da Silva 2007 p. 23). O objetivo, então, é fornecer um livro introdutório que aborde a filosofia da matemática, um campo onde problemas altamente especializados da filosofia, da lógica e da matemática estão emaranhados sem, no entanto, pressupor que o leitor tenha conhecimento prévio seja dos problemas filosóficos, seja dos tecnicismos lógicos e matemáticos envolvidos.
Analisaremos aqui em que medida tais difíceis intentos cumpriram-se destacando alguns pontos da obra em que a abordagem de da Silva aos tópicos tratados diverge de nossos próprios pontos de vista sobre o assunto, e onde consideramos que talvez, tendo em vista o público escolhido, o tema poderia ser tratado diferentemente com algum benefício para o leitor. Faremos também considerações sobre algumas sutilezas em pontos técnicos de teoria de conjuntos e lógica que, talvez pela falta de espaço e devido ao caráter elementar da obra, não foram mencionados por da Silva. Ao final, nos dedicaremos a discutir brevemente uma questão que aparece constantemente na obra e que, conforme argumentaremos, poderia ter sido explorada diferentemente em seu livro: a relação entre filosofia da matemática e a matemática.
Gostaríamos de deixar claro, antes de passarmos à análise do livro, que a despeito de algumas observações de caráter crítico aqui feitas, é inegável que a obra de da Silva é uma importante contribuição para a difusão da filosofia da matemática no Brasil, talvez o maior esforço individual feito nos últimos tempos para tornar esta área mais acessível a estudantes de filosofia, matemática e leitores curiosos em geral. A iniciativa do autor, de levar a um público muito mais amplo que o de costume os principais desenvolvimentos da filosofia da matemática é indiscutivelmente louvável, principalmente se considerarmos a dificuldade que tal proposta encerra. Esperamos que esta obra, além de informar os leitores aos quais está destinada, sirva de estímulo para novas publicações que venham a contribuir ainda mais para o crescimento desta disciplina em nosso país.
A obra divide-se em cinco capítulos, a saber: 1) Platão e Aristóteles; 2) Leibniz e Kant; 3) Frege e o Logicismo; 4) O Construtivismo; 5) O Formalismo. Conforme fica claro pela organização dada ao conteúdo do livro, e conforme estipulado pelo próprio autor, ao tratar dos problemas filosóficos suscitados pela matemática, o livro irá “privilegiar uma abordagem histórica desses problemas” (p. 29). Em sua apresentação dos tópicos, orientado por uma narrativa cronológica pautada em autores da antiguidade, do período moderno e dos séculos XIX e XX, da Silva busca primeiramente, em cada capítulo, situar a discussão filosófica no contexto da matemática praticada no período específico em questão, provendo uma pequena introdução onde são descritos os principais desenvolvimentos matemáticos nos períodos em que viveram os autores discutidos. Em quase todos os capítulos, além de desenvolver uma discussão centrada no autor ou autores que dão nome ao capítulo, esboça também alguns comentários sobre outros autores que adotaram formas semelhantes de tratar os problemas filosóficos oriundos da matemática. Assim, por exemplo, no capítulo sobre Platão e Aristóteles, obtemos algumas informações sobre outras formas de platonismo, onde Cantor, Gödel e outros são mencionados. Esta é a regra, como dissemos, para os outros capítulos também.
Ainda tratando da organização do livro, acreditamos que o mesmo poderia funcionar de modo ainda mais eficiente como um guia introdutório ao tema se um sistema de referências mais prático fosse oferecido aos leitores iniciantes. Talvez por se tratar na maioria dos casos de autores já consagrados, da Silva tenha evitado sobrecarregar o texto com tais informações, e em geral, ao mencionar argumentos e teorias de filósofos ilustres como Platão, Aristóteles, Leibniz, Kant e Frege, e de matemáticos que escreveram sobre filosofia da matemática, como Brouwer e Hilbert, nem sempre considera necessário citar a fonte ou fontes dos argumentos originais ou mesmo uma literatura secundária onde estes temas são discutidos. Ademais, em sua bibliografia não encontramos elencadas obras de Platão ou Kant, por exemplo, para citar alguns que já possuem diversas edições em português. O que ocorre é que muitas vezes, após explorar uma obra como essa, de caráter introdutório, o leitor não-especialista acaba ficando interessado em dar continuidade às leituras sobre o tema. Assim, o livro de da Silva poderia não só introduzir de modo acessível os problemas com clareza conceitual, como conduzir leitores interessados a buscar pela fonte original do argumento ou de determinada posição, bem como indicar literatura secundária. Para tanto, e na medida em que isto não prejudicasse a fluidez do texto, o livro poderia fornecer as referências de modo mais preciso e explícito. O leitor, assim, saberia onde obter mais informações e onde encontrar os argumentos originais que foram apresentados por da Silva. Este tipo de informação poderia aparecer ao final de cada capítulo, com uma seção final de leituras adicionais e bibliografia básica.
DO LIVRO
Passamos agora a examinar o desenvolvimento do texto.
Uma das razões para dedicar um capítulo a Platão e Aristóteles, segundo da Silva, reside no fato de que a matemática como ciência começou com os gregos, e Platão e Aristóteles, como filósofos paradigmáticos, ofereceram respostas a problemas de filosofia da matemática que são regularmente retomadas e rediscutidas (pp. 36, 37). Concordamos com da Silva em ambos os fatos mencionados, e uma apresentação elementar da filosofia de Platão e Aristóteles é particularmente bem vinda tendo-se em vista que talvez esta seja uma das poucas oportunidades para que estudantes de matemática, por exemplo, tomem contato com as doutrinas destes filósofos. Além disso, considerando-se que a matemática é objeto de ojeriza para a maioria dos estudantes de filosofia, é interessante mostrar a eles que na doutrina dos grandes mestres a reflexão sobre a matemática ocupa importante espaço.
Um dos pontos centrais da filosofia platônica é a noção de forma ou idéia. Estas, consideradas perfeitas e imutáveis, constituiriam os paradigmas dos quais as coisas materiais seriam cópias imperfeitas e transitórias. As formas, segundo Platão, estariam em um mundo inteligível, separado daquele dos objetos físicos, e contaria com os objetos matemáticos entre seus elementos. Esta doutrina nos permite compreender a universalidade do conhecimento matemático, pois, segundo ela, trata-se de conhecimento sobre objetos que não mudam, por encontrarem-se no mundo inteligível fora do espaço e do tempo. Assim, de um ponto de vista ontológico, a teoria platônica é, ao menos aparentemente, bem sucedida. No entanto, o grande problema para Platão era explicar como temos acesso a estas entidades, dado que estão fora do alcance dos sentidos, e em um mundo separado daquele em que vivemos. Esta dificuldade, de cunho epistemológico, é geralmente chamada de problema do acesso, e qualquer filósofo que adote alguma forma de platonismo deve buscar resolvê-la.
Apesar de da Silva expor a doutrina platônica mostrando as suas vantagens de um ponto de vista ontológico e as suas dificuldades de um ponto de vista epistemológico, algumas dificuldades podem surgir na leitura deste capítulo. Uma delas fica justamente por conta da distinção entre os termos idéia e forma que, como comentamos, é central na doutrina platônica. Por um lado, da Silva admite que esses termos são sinônimos no contexto da obra deste filósofo mas, por outro, anuncia que ele, deliberadamente, irá usá-los em sentidos distintos, explicados posteriormente no texto (p. 46). Alguns leitores poderiam ficar confusos com esta separação. Apesar de ser um dispositivo que busca permitir uma exposição mais simples da teoria em questão, o que evidentemente deve ser privilegiado em uma obra como essa, a distinção proposta por da Silva e a subseqüente exposição da doutrina platônica que nela é baseada acabam criando alguns obstáculos ao leitor não iniciado como, por exemplo, a dúvida de se a filosofia platônica autoriza ou não esta distinção e, consequentemente, se a exposição é realmente fiel ao espírito platônico.
É bastante provável que o modo como Platão resolve o problema do acesso, através de sua teoria da reminiscência, bem como outros aspectos de sua doutrina, gerem estranheza em leitores iniciantes. Como o próprio da Silva conclui, “poucos ainda aceitam seriamente o reino puro de Idéias de Platão, a sua teoria da reminiscência, e outras idiossincrasias de sua filosofia” (p. 43). No entanto, conforme enfatiza o autor (p. 43), o platonismo ainda é uma forma atraente de filosofia da matemática. É essa atração, em nossa opinião, ainda atual, que poderia ter sido colocada em primeiro plano, tirando o foco central das “idiossincrasias” do sistema de Platão. Neste sentido, a nosso ver, um modo eficiente de apresentar o platonismo em filosofia da matemática consiste em centrar a discussão nos platonismos atuais, que servem muito bem para explicar as virtudes e dificuldades de uma posição platônica em filosofia da matemática sem se comprometerem com aspectos anacrônicos da filosofia de Platão. Talvez por limitações de espaço ou por envolverem alguns tópicos de lógica e teoria de conjuntos que, na concepção de da Silva, demandariam explicações que estão fora do escopo de um livro como este, o autor tenha preferido apresentá-los apenas perifericamente, privilegiando a exposição mais histórica, que possui a virtude de prescindir dos desenvolvimentos técnicos que muitas vezes estão envolvidos nos platonismos atuais.
Aristóteles, discípulo de Platão, resolve a dificuldade de seu mestre ao retirar as formas do reino inteligível e colocá-las nas próprias coisas. Nessa abordagem, grosso modo, abstraímos as propriedades dos objetos que as possuem, já que elas não estão separadas dos objetos, mas neles mesmos, sendo estes instâncias daquelas (algumas vezes enfatiza-se esta diferença entre Platão e Aristóteles utilizado-se a terminologia latina: para o primeiro, as propriedades eram vistas como sendo ante rem, anteriores às coisas; para o segundo, eram concebidas como in rebus, nas coisas). O mesmo vale para os objetos abstratos da matemática, que devem ser abstraídos dos objetos físicos que os instanciam. Essa solução resolve também o problema de se saber como a matemática é aplicável ao mundo empírico, pois ela, de certo modo, está desde o início já presente nele. Algumas dificuldades surgem para este tipo de filosofia como, por exemplo, a presença do infinito em muitos ramos da matemática, dificuldade esta que deve ser considerada seriamente por qualquer filosofia da matemática de cunho empirista.
Como da Silva expõe, o problema central aqui é explicar adequadamente a noção de abstração. Alguns pontos obscuros no texto aristotélico acabam fazendo com que da Silva, visando a clareza e a coerência, exponha a teoria aristotélica sobre o modo como objetos reais instanciam objetos matemáticos (p. 46) de uma forma que destoa da própria letra do texto aristotélico. Por um lado temos Aristóteles afirmando textualmente, segundo da Silva, que os objetos físicos instanciam realmente formas matemáticas perfeitas, como por exemplo, um objeto físico triangular instancia a forma de um triângulo (ou seja, o objeto físico apresenta as características necessárias segundo a definição de triângulo para que algo seja um triângulo). Por outro lado, segundo a interpretação de da Silva, este modo de se entender a instanciação de conceitos matemáticos na realidade não é claramente compreensível, pois, dado que os objetos físicos apresentam imperfeições, (por exemplo, um objeto físico triangular nunca é perfeitamente triangular, nunca encontramos um objeto perfeitamente triangular na natureza) é mais razoável tomar esta instanciação como envolvendo a abstração de aspectos mais ou menos perfeitos dos objetos, para que depois apliquemos alguma idealização para tornar estas abstrações perfeitas. Aqui, apesar do alegado benefício da clareza na exposição, e de da Silva chamar a atenção do leitor para o fato de que está simplificando e adaptando a letra do texto original, entramos em problemas de exegese filosófica que acabam desviando um pouco o foco do problema, mesmo quando mantemos em mente que o objetivo da discussão não é histórico (p. 29), ou seja, mesmo quando compreendemos que este é um meio de, através de uma discussão histórica, apresentar uma exposição acerca da questão da instanciação de conceitos matemáticos na natureza.
O problema da instanciação, aliás, também é tratado no apêndice do capítulo 1, que é o esboço de elementos de uma teoria formal empirista da abstração. Aqui, da Silva apresenta algumas definições sobre como tratar objetos vistos sob algum aspecto particular, por exemplo, um objeto triangular como um triângulo. No entanto, depois de apresentar alguns desenvolvimentos, com definições e teoremas, visando ilustrar uma aplicação da teoria da Silva (pp. 60, 61) fornece um exemplo baseado apenas em noções conjuntistas e uma intuição formal, que não faz uso direto da teoria por ele proposta. Não entraremos nos detalhes da teoria de da Silva, mas para ilustrar o ponto em questão utilizaremos seu próprio exemplo de aplicação da teoria, que visa fornecer uma justificação empirista para a afirmação aritmética 2+2 = 4. Consideremos uma coleção com 4 objetos. Segundo da Silva, podemos decompor, em pensamento, esta coleção em duas coleções complementares com 2 elementos cada uma. Estas operações, segundo o autor, não dependem da natureza dos elementos destas coleções, apenas da quantidade de elementos. Assim, dada qualquer coleção de objetos, ela terá quatro elementos se, e somente se, existirem duas coleções disjuntas, cada uma com dois elementos, cuja união é igual à coleção original. Neste exemplo, apenas termos conjuntistas foram utilizados, mas para muitos leitores pode não ficar claro como relacionar os termos envolvendo teoria de conjuntos com o esboço da teoria da abstração de da Silva. Talvez querendo evitar entrar em detalhes técnicos o autor tenha se limitado ao esboço apresentado sem introduzir nele as noções conjuntistas que utiliza, ou ainda, para simplificar, preferiu enunciar seu exemplo utilizando linguagem da teoria de conjuntos que é mais familiar aos leitores em geral, deixando implícito que o mesmo raciocínio pode ser feito, com um pouco mais de trabalho, na teoria empirista da abstração. Além disso, não nos é dito qual das várias teorias de conjuntos está sendo utilizada, talvez porque esteja implícito, como usualmente é o caso, que a menos que menção em contrário seja feita, a teoria de conjuntos utilizada é ZFC, mas neste caso, alguns comentários poderiam ser feitos sobre a possibilidade de sua aceitação por parte de filósofos empiristas.
No segundo capítulo, o autor busca contrapor as filosofias da matemática de Leibniz e Kant, pois acredita que “o pensamento de Kant (…) pode ser mais bem apreciado em contraste com o de Leibniz” (p. 75). Aparentemente, o principal motivo para se introduzir a discussão da filosofia da matemática de Leibniz consiste em familiarizar o leitor com a distinção entre verdades de razão e verdades de fato, preparando-o para a discussão das distinções kantianas entre juízos analíticos e sintéticos, a priori e a posteriori. Como são conceitos centrais para Kant, tanto para aquela parte de sua filosofia voltada para a matemática quanto para aquela que não se preocupa primariamente com a matemática, os esforços para tornar estas distinções claras ocupam grande parte do capítulo reservado a Leibniz e Kant.
A matemática sempre foi considerada um modelo de conhecimento puro, de modo que a justificação de seus enunciados verdadeiros não dependeria dos sentidos. Este aspecto do conhecimento matemático, embaraçoso para os empiristas, mas bem-vindo a racionalistas como Leibniz, encontra sua expressão na tese leibniziana de que todo o conhecimento matemático consiste em verdades da razão, enunciados nos quais, grosso modo, o termo sujeito está “contido” no predicado. Devemos lembrar que a forma básica dos enunciados na época, tanto para Leibniz quanto para Kant era a de um sujeito ao qual um predicado é atribuído, ou seja, da forma S é P. Assim, segundo Leibniz, não apenas os enunciados da aritmética, mas até mesmo os postulados da geometria euclidiana, em sua época a única conhecida, poderiam, com algum esforço, ser reduzidos a enunciados desta forma, sendo necessário apenas o uso da razão para a sua justificação, sem o envolvimento dos sentidos.
Kant retoma a distinção leibniziana e a amplia. Juízos podem ser analíticos ou sintéticos, a priori ou a posteriori, e estas duas classificações permitem três combinações, ficando excluídos por definição juízos analíticos a posteriori. A tese kantiana, contra Leibniz, é a de que a matemática, apesar de ser conhecimento puro, obtido sem auxílio dos sentidos, não é analítica, ou seja, sua verdade não se justifica pelo fato de que o termo sujeito está contido no termo predicado, mas é antes sintética a priori. Com isto, segundo as definições usuais, o termo sujeito de um predicado em enunciados matemáticos não está contido no termo predicado, mas sua verdade pode ser verificada sem auxílio da experiência. Isto explicaria, por exemplo, a razão de os juízos matemáticos serem ampliativos de nosso conhecimento, e não meramente explicativos, como é o caso de juízos analíticos. JONAS R. B. ARENHART & FERNANDO T. F. MORAES Manuscrito – Rev. Int. Fil., Campinas, v. 33, n. 2, p. 531-550, jul.-dez. 2010. 540
Nesse capítulo cumpre observar, mais uma vez, uma escolha terminológica que, mesmo tendo sido feita com o objetivo de esclarecer, pode resultar confusa para o leitor iniciante. Em certo momento (p. 96), da Silva propõe a substituição da noção de “representação” (palavra consagrada do vocabulário kantiano) por “significado” (que o autor alega pertencer ao vocabulário ora em voga). O problema é que, apesar de o conceito de significado poder parecer mais simples para um leitor não familiarizado com a literatura filosófica, após alguma reflexão pode não ficar claro qual foi o ganho real obtido com a mudança, pois como o próprio da Silva reconhece, esse conceito (de significado) é “infelizmente não menos problemático [que o de representação]” (p. 96).
Como conseqüência de sua filosofia, Kant não admitia a existência de números imaginários, amplamente utilizados em sua época. Desse descompasso entre a filosofia da matemática kantiana e a prática matemática corrente em sua época, da Silva observa que “a filosofia da matemática de Kant (…) foi contaminada pelo seu projeto filosófico mais amplo” (p. 107, grifo nosso). Acreditamos que seria interessante neste ponto esclarecer para o leitor, principalmente àqueles que não possuem formação em filosofia, que a filosofia da matemática de Kant não era uma empresa independente do seu projeto filosófico geral, de modo que este possa ter interferido naquela; de fato, a filosofia da matemática kantiana, pelo menos como a entendemos, é apenas uma parte de seu mais amplo sistema filosófico, seguindo, naturalmente, as diretrizes básicas dele. Possivelmente, visando simplificar a exposição, este tipo de observação não foi feita, pois implicaria entrar em detalhes sobre a arquitetura do sistema kantiano e o modo como sua filosofia da matemática nela se encaixa, o que demandaria muito espaço e desvios para tratar de temas que não são o ponto central do livro.
No terceiro capítulo, da Silva aborda com detalhes a proposta daquele que ficou conhecido como movimento logicista, enfatizando um de seus mais eminentes proponentes: Frege. O projeto fregeano consistia em reduzir a aritmética à lógica, e com isto mostrar, a favor de Leibniz e contra Kant, que ela era analítica (ainda que Frege concordasse com a tese kantiana de a geometria ser um conhecimento sintético a priori). Para tanto, Frege, como é sabido, reformulou totalmente a lógica e a colocou nos moldes como a conhecemos hoje. Com isto, consequentemente, a noção de analiticidade sofreu algumas alterações, e saber em que sentido as teses de Frege e Kant realmente diferem é um tema de debate atual. Em 1902, Frege se deparou com um grande obstáculo no desenvolvimento de seu programa: a derivação de uma contradição a partir de um de seus axiomas, descoberta no ano anterior por Bertrand Russell. Este fato levou Frege, de certo modo, a praticamente abandonar o programa logicista, ao passo que Russell passou a dedicar seus esforços na busca de modificações na lógica que pudessem impedir esta derivação. Ele então amplia o programa logicista para toda a matemática, e não só para a aritmética, como era o caso de Frege. Suas principais propostas foram a teoria ramificada de tipos e o princípio do círculo vicioso. Talvez receoso de que o público escolhido para seu livro pudesse intimidar-se com o simbolismo, da Silva evita entrar em discussões sobre a formulação e objetivos da teoria de tipos desenvolvida por Russell, atendo-se apenas ao princípio do círculo vicioso. Caso a versão de Russell do logicismo fosse mais trabalhada no texto, uma explanação sobre esta teoria poderia ser interessante, pois tornaria mais claro para o leitor iniciante os vícios da proposta de Russell como, por exemplo, a necessidade de se introduzir um axioma do infinito, fato que é apenas mencionado por da Silva, e o axioma da reducibilidade, que é mencionado sem ser nomeado (p.136), e que causaram grande oposição quando de sua proposta. Além disso, esta abordagem tornaria mais claro para o leitor porque o sistema de Russell é mais artificial (p. 135) que o de Frege, e evidenciaria o papel central que a lógica ocupa no programa logicista, tanto na versão de Frege quanto na de Russell. No entanto, como dissemos, da Silva, talvez tendo em vista a simplicidade expositiva e a compreensão do leitor, e buscando não envolvê-lo em tópicos muito técnicos, restringe a discussão da versão russelliana do logicismo.
Outro ponto em que a falta de espaço e talvez a sofisticação técnica impediram que fosse devidamente tratado em um livro como este é a conexão entre a filosofia de Frege e seus descendentes contemporâneos, os neologicistas. Há atualmente um renovado interesse na tese logicista, que reside em uma tomada de consciência de que o famoso Princípio de Hume, quando adicionado à lógica de segunda ordem, é suficiente para se derivar a aritmética de segunda ordem. Com isto, foi possível ter noção do grande feito de Frege de fornecer uma análise lógica da aritmética, além de ter lançado a base para quase toda a discussão em filosofia da matemática no período que se seguiu a ele. O paradoxo de Russell foi obtido a partir da chamada Lei Básica V, que foi adotada por Frege unicamente com o objetivo de derivar o Princípio de Hume, e verificou-se que esta era de fato sua única função. Assim, se deixarmos de lado esta lei e assumirmos diretamente o Princípio de Hume, podemos manter o projeto fregeano aparentemente sem o risco de derivarmos outros paradoxos. Uma das controvérsias, atualmente, reside em se saber se o Princípio de Hume pode ser considerado uma lei lógica, ou, caso não possa, o que é mais provável, se ele pode ao menos ser considerado como um enunciado analítico. Este tipo de discussão constitui-se em tópico demasiado técnico, e talvez por esta razão da Silva não a tenha desenvolvido com mais vagar, apresentado-a de modo bastante breve.
Ainda tratando do neologicismo, da Silva fornece argumentos quineanos para minar as duas teses desta posição: que a lógica de segunda ordem é realmente lógica (o que é necessário para que a aritmética a ela reduzida seja analítica) e que a noção de analiticidade pode ser compreendida rigorosamente. Isto, evidentemente, pode ser visto como um modo de em um pequeno espaço fornecer informações tanto sobre o neologicismo quanto sobre Quine. O problema nesta exposição, em nossa opinião, é que a brevidade com que as teses de Quine são mencionadas podem acabar passando a impressão de que seus argumentos são aceitos de modo unânime, que eles podem ter encerrado a discussão, quando na verdade foram e ainda são bastante problematizados na literatura. Talvez por uma restrição do espaço do livro, os argumentos de Quine com relação à filosofia da matemática não puderam ser expostos em uma seção dedicada unicamente a ele, mas, do modo como estão expostas suas teses, em contraposição ao logicismo, podem levar alguns leitores a ter uma impressão equivocada do debate.
No capítulo sobre o construtivismo os autores abordados são basicamente três: L. Brouwer, H. Poincaré e H. Weyl. O autor alerta seus leitores para o fato de que ainda que todos eles possam ser agregados sob a alcunha construtivista, cada um deles desenvolveu sua própria versão, as quais da Silva procura explanar em suas linhas gerais. Entre elas está o intuicionismo brouweriano, sem dúvida uma das mais radicais filosofias da matemática do século passado, que imputa como única fonte para os objetos da matemática a intuição de um matemático ideal. Longe de ser clara, a natureza dessa intuição e os métodos intuicionistas são motivo de debates e desacordos até hoje. O autor, conhecendo as sutilezas e dificuldades da discussão, evita enredar-se em tais problemas, preferindo estabelecer tais conceitos apenas em termos intuitivos, como ao dizer que para Brouwer “a matemática deveria ser fundada nesta intuição básica: um instante temporal sucedendo outro” (p. 148) ou que uma demonstração intuicionista deve ser entendida como “uma não especificada vivência de verificação do sujeito criador” (p. 153). O caráter problemático destas noções poderia ter sido evidenciado, pois estão no centro das discussões sobre o intuicionismo, deixando claro ao leitor que o assunto é espinhoso.
Ao fim desse capítulo, da Silva faz uma interessante digressão em que aborda de maneira mais detida a questão da existência dos objetos matemáticos enfocando principalmente as soluções apresentadas pelos autores construtivistas. Para Brouwer, por exemplo, a existência de objetos matemáticos deve ser garantida por uma construção matemática, de modo efetivo. Esta concepção, em choque com a prática matemática atual, impõe interessantes restrições à lógica que, no contexto intuicionista, não pode mais ser a clássica. Ainda considerando a noção de existência na vertente construtivista, merece destaque a ênfase sobre a abordagem lingüística da existência matemática defendida, entre outros, por Poincaré.
O último capítulo, o quinto, trata do formalismo. Grande parte dos esforços de da Silva são voltados para a explicação dos objetivos do chamado “programa de Hilbert”, o qual buscou salvaguardar a matemática clássica dos ataques intuicionistas valendo-se, para tanto, da formalização e demonstração por métodos chamados “finitários” da consistência das teorias matemáticas, métodos estes que seriam, aos olhos de Hilbert, epistemologicamente aceitáveis aos críticos construtivistas. Deste modo, a atenção de da Silva está naturalmente voltada para explicar o problema da consistência de teorias matemáticas formalizadas. Nas pp. 187, 188, o autor nos diz que “[a formalização de teorias] tinha um preço. A eliminação da intuição dos procedimentos dedutivos abria a possibilidade para a constituição de sistemas que demonstravam muito mais do que se queria, a saber, os sistemas inconsistentes em que tudo pode ser demonstrado.” Segundo da Silva, uma teoria formal pode nos fornecer demonstrações mais acuradas, mas uma teoria não formal, ou, nos termos de da Silva, “contentual”, por sua vez, não levanta a questão sobre sua consistência, pois, segundo ele, uma teoria contentual, como, por exemplo, a aritmética dos inteiros não-negativos “é evidentemente uma teoria consistente, simplesmente por ser a teoria de um domínio dado de objetos, os números naturais” (p. 197). O que pode dificultar a compreensão dos leitores é que, primeiramente, a partir da exposição de da Silva não é claro como se pode determinar em que condições e em que sentido uma teoria contentual, mantida ao nível informal, pode ou não ser inconsistente. Uma teoria como a teoria de conjuntos proposta por Cantor não é facilmente reconhecida como consistente ou inconsistente, pois não está devidamente axiomatizada. Este ponto poderia ter sido mais enfatizado pelo autor quando na p. 202 reconhece que a teoria de Cantor pode conter inconsistências mesmo sendo uma teoria que trate de um domínio dado de objetos, os conjuntos. No entanto, alguns intérpretes argumentam que o conceito de conjunto de Cantor era demasiado sutil, e é apressado afirmar que sua teoria é contraditória (ver Ferreirós 1999). Talvez evitando entrar em complicações que não poderiam ser convenientemente tratadas no nível de profundidade ao qual se propõe o livro, o autor tenha se limitado às considerações mencionadas. Em segundo lugar, no contexto do programa de Hilbert este tipo de questão parece inverter a ordem dos problemas: Hilbert não partia de teorias formais cuja consistência era problemática, mas sim de teorias matemáticas que deveriam ser formalizadas para assim serem submetidas às técnicas propostas por ele para demonstração de sua consistência. Assim, aparentemente, Hilbert não parecia duvidar de que a consistência de teorias não formais pudesse ser demonstrada por suas versões formais, e tal consistência não deveria ser pressuposta pelo simples fato de serem teorias sobre algum domínio dado, ou pelo fato de não serem teorias formalizadas. Novamente, acreditamos que isto não tenha sido enfatizado visando à conveniência expositiva, já que se trata de tema árido para o leitor não familiarizado com lógica e fundamentos da matemática.
Além de apresentar os autores mais conhecidos na história da filosofia da matemática, outra presença importante no livro é a de Edmund Husserl. A despeito de ser um autor muito estudado por suas contribuições para a fenomenologia, sua filosofia da matemática é pouco conhecida e divulgada nos meios acadêmicos brasileiros. O livro de da Silva tem o mérito de tornar mais acessível ao público geral a parte da filosofia de Husserl que trata da matemática. As contribuições de Husserl são bastante amplas, e torna-se difícil enquadrá-lo em apenas um dos vários rótulos que usualmente se aplicam nesses contextos. Assim, segundo a exposição de da Silva, a filosofia da matemática de Husserl apresenta facetas logicistas, formalistas e estruturalistas; como não é o caso de um trabalho dedicado apenas a explorar a filosofia da matemática de Husserl, não há um capítulo exclusivo para este autor.
Conforme já mencionado várias vezes, buscando tornar o texto acessível ao seu público alvo sem entrar em tecnicismos, da Silva muitas vezes simplifica a discussão deixando de lado sutilezas que, para serem convenientemente exploradas, requereriam um aprofundamento em tópicos de teor mais matemático. Acreditamos que esta seja a razão para explicar muitas das omissões que discutimos anteriormente, e também das escolhas de da Silva. De um ponto de vista matemático é complicado expor a teoria de tipos de Russell, por exemplo, e entrar em detalhes sobre lógica e teoria de conjuntos envolvidos nas discussões atuais, quando se tem um espaço restrito como o deste livro e se tem em mira um público amplo e com formação variada. Além disso, o aparato de cunho matemático, no contexto dessas discussões, não constitui um fim em si mesmo, apesar de que sem ele torna-se um grande desafio transmitir de modo adequado os desenvolvimentos do intuicionismo, do programa de Hilbert e do neologicismo. No entanto, da Silva em alguns pontos não deixa de introduzir em suas discussões temas mais técnicos e, quando o faz, em nossa opinião, tendo em vista seu público, poderia ser mais explícito em alguns detalhes que auxiliariam seus leitores em pesquisas futuras, caso venham a se debruçar sobre estes assuntos.
TÓPICOS TÉCNICOS
Começamos considerando alguns pontos em que definições conjuntistas foram introduzidas. Na p. 84, o autor menciona a definição de Dedekind de conjuntos infinitos como a definição de conjuntos infinitos, mas existem outras que não são equivalentes a esta sem o axioma da escolha. Estes fatos poderiam ser mencionados para o leitor, talvez esclarecendo que a definição de Dedekind é a mais usual, mas que outras podem ser utilizadas. Na página 114, da Silva afirma que as noções de cardinal e ordinal não são independentes e que no caso finito essas noções coincidem. É possível, no entanto, definir números cardinais sem fazer uso de ordinais, e em tal definição o número cardinal de um conjunto finito não é, em geral, um número natural (ver a definição de kard de um conjunto em “Foundations of Set Theory” de Fraenkel, Bar-Hillel e Levy 1984, pp. 97, 98). Novamente, a definição utilizada por da Silva é a mais usual, e talvez a mais indicada para ser utilizada em um texto de nível elementar, mas é sempre importante informar ao leitor, principalmente o iniciante, de que não se trata da única opção.
Outra discussão interessante do ponto de vista técnico e filosófico aparece nas pp. 141-142. Buscando tornar mais clara a noção de definição por abstração utilizada por Frege, da Silva faz uma breve exposição geral do procedimento utilizado para obtermos o conjunto quociente de um conjunto por uma relação de equivalência definida sobre seus elementos. Ele observa que apesar de que atualmente identificamos novos objetos matemáticos definidos como classes de equivalência, isto nem sempre foi assim. Para citar um exemplo, nos diz que Dedekind, ao introduzir os números reais através de cortes de números racionais, não identificava os reais com os respectivos cortes, o que segundo da Silva é um erro, dada nossa atual compreensão da teoria das definições por abstração. Acreditamos que dois problemas foram misturados aqui, e que o leitor iniciante, principalmente aquele sem conhecimento de matemática, pode ter dificuldades de compreensão. Por um lado, os cortes de Dedekind não são definidos pelo procedimento de abstração, não são introduzidos como particulares classes de equivalência, pois neste caso não haveria classes de equivalência suficientes para representar todos os reais. Os cortes são subconjuntos de números racionais satisfazendo certas condições. Por outro lado, alguns leitores podem achar que da Silva não está justificado em censurar Dedekind por não identificar os cortes com os números reais. Se os números reais são cortes, o que representam os objetos que obtemos através dos outros procedimentos usualmente utilizados para representar os números reais, como seqüências de Cauchy ou o método dos intervalos encaixantes? Além disso, parece que um conhecimento intuitivo dos reais era pressuposto para guiar a construção da teoria dos cortes de Dedekind e até mesmo para avaliar seu sucesso.
Outro ponto no qual da Silva faz incursões mais profundas em assuntos eminentemente matemáticos diz respeito aos teoremas da incompletude de Gödel. Em pp. 204-206, da Silva busca esboçar a demonstração daquele que é mais conhecido como o segundo teorema da incompletude de Gödel. Acreditamos que a demonstração, como está feita, seja de difícil compreensão para leitores iniciantes. É interessante lembrar que mesmo em textos voltados exclusivamente à discussão de lógica raramente a demonstração deste teorema é realizada com todo o rigor, por ser demasiado complexa. Ademais, talvez para evitar entrar em tecnicismos, da Silva não menciona que existem outras fórmulas da linguagem da aritmética de Peano que expressam sua consistência e que são demonstráveis nesta aritmética. Ou seja, Gödel mostrou que a aritmética não demonstra uma particular fórmula que expressa sua consistência, mas isto não impede que outras fórmulas expressando a consistência do sistema sejam demonstráveis, como por exemplo, mostrou Feferman em (1960).
FILOSOFIA E MATEMÁTICA
Por mais que as indagações filosóficas acerca da matemática remontem aos gregos antigos, e outros tantos filósofos do passado tenham tentado enquadrar o conhecimento matemático em seus sistemas, da Silva aponta que a filosofia da matemática como disciplina surge apenas em fins do século XIX (p. 26). Portanto, é principalmente a partir desse momento que surgem inescapáveis e importantes questões – e da Silva não deixa de assinalá-las –, como: qual é o papel de uma filosofia da matemática? Segundo da Silva, “não compete ao filósofo impor restrições à prática matemática, mas, antes, tomá-la como teste de teorias filosóficas sobre a matemática” (p. 157). O que seria uma boa filosofia da matemática? A resposta do autor é que “teorias do conhecimento, do significado ou ontologias que não consigam de alguma forma dar conta de todo o conhecimento matemático, de suas asserções e seus objetos, não são boas teorias, simplesmente” (pp. 157, 158). O problema desse tipo de resposta definitiva é que ela pressupõe que estejam claramente respondidas uma série de questões importantes, como: O que é a matemática de que uma filosofia deve dar conta? – é simplesmente o que os matemáticos fazem? E isto envolve tudo o que eles fazem enquanto trabalham, ou apenas alguma parte menos controversa de sua produção? Muitas vezes, os próprios matemáticos não estão de acordo sobre o que conta como um produto legítimo de suas pesquisas; podemos citar vários exemplos disso, como a controvérsia entre Kronecker e Cantor, a dificuldade de Zermelo em obter reconhecimento para sua demonstração do teorema da boa ordem, o tortuoso caminho para a aceitação do axioma da escolha e o problema bastante atual de se saber se resultados cujas provas foram obtidas por computadores e são muito longas para serem verificadas por seres humanos devem contar como demonstrados. Neste aspecto, parece que a filosofia pode não só limitar-se a descrever o conhecimento matemático, mas a discussão no momento de determinar o próprio escopo deste conhecimento e a direção que o progresso desse conhecimento toma poderá muitas vezes ter caráter eminentemente filosófico.
Além disso, a própria resposta pode ser razoavelmente problematizada. O que é “dar conta de todo conhecimento matemático, de suas asserções, de seus objetos.”? (pp. 157, 158) Supondo que esteja claro o que significa “dar conta do conhecimento matemático”, podemos levar em conta que não existe apenas uma matemática atualmente, mas várias, como as matemáticas não-cantorianas (por exemplo, a de Solovay), a matemática construtiva de Bishop, as matemáticas paraconsistentes, e por que não, a matemática de Brouwer e de sua escola que, numa visão pluralista da matemática, não se configura como uma amputação da matemática clássica, mas, antes, como uma matemática diferente da clássica. Assim, a “boa” filosofia da matemática (ou deveríamos dizer das matemáticas?) deve tratar de todas elas, ou só de uma ou algumas? Sendo assim, de quais? A filosofia da matemática intuicionista proposta por Brouwer não dá conta da matemática intuicionista conforme ela é desenvolvida por sua escola? Certamente ela entra em conflito com a matemática dita clássica (este é um termo vago, mas vamos assumi-lo para efeitos de argumentação), mas a filosofia de cunho platônico, que pelo menos do ponto de vista ontológico é mais adequada para esta última, por sua vez, não se acerta com a matemática construtivista proposta por Brouwer.
Aparentemente, todos os grandes projetos filosóficos do passado entraram, em menor ou maior grau, em choque com a matemática vigente; isso, em alguma medida, os desqualifica? Segundo a proposta de da Silva, sim. Acreditamos, na verdade, que essa questão é das mais importantes, e que apesar de não haver espaço para a discussão dos detalhes em um livro como este, é o tipo de problema que pode formar o pano de fundo de todo um livro. Em nossa visão, a proposta pluralista é a mais razoável tanto para tratar adequadamente o problema em foco quanto para uma obra voltada para leitores iniciantes. A tolerância expressa em tal abordagem encoraja os leitores sem os indispor contra qualquer filosofia em particular. Neste ponto, apesar de acreditarmos que esta abordagem seja a mais proveitosa, não podemos ou sequer devemos exigir que um livro de filosofia seja isento de comprometimentos por parte de seus autores; aliás, é interessante para o leitor saber que o debate continua e que ele pode e deve tomar posição na disputa. É justamente isto que move a filosofia.
Referências
FERREIRÓS, J. Labyrinth of Thought: a history of set theory and its role in modern mathematics. Birkhauser, 1999.
FRAENKEL, A. A., BAR-HILLEL, Y., LEVI, A. Foundations of Set Theory. North-Holland, 1984.
FEFERMAN, S. “Arithmetization of metamathematics in a general set-ting”. Fundamenta Mathematicae, 49, pp. 35-92, 1960.
Jonas Rafael Becker Arenhart. E-mail: [email protected]
Fernando Tadeu Franceschi Moraes. E-mail: [email protected]
Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Trindade. 88040-900 FLORIANÓPOLIS, SC
BRASIL.
Conhecimento e imaginário social – BLOOR (TES)
BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social. Tradução de Marcelo do Amaral Penna–Forte. São Paulo: Editora Unesp, 2009, 300 p. Resenha de: SPIESS, Maiko Rafael. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.8, n.2, Rio de Janeiro, jul./out. 2010.
Em diversas áreas do conhecimento, existem obras clássicas que são amplamente reconhecidas e discutidas, e cuja importância e influência persistem após muitos anos de sua publicação original. O livro Conhecimento e imaginário social, de David Bloor, lançado originalmente em 1976, é certamente uma destas obras. Desde seu lançamento, este livro – curiosamente, muitas vezes mais comentado do que propriamente lido – é considerado como uma das principais portas de entrada para a então nascente sociologia do conhecimento científico, que, sob a influência de pensadores como Mannhein, Kuhn e Wittgenstein, possibilitou a análise da produção científica através de uma perspectiva distinta da tradição mertoniana. De fato, a partir do marco simbólico representado pela obra A estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn (1962), o foco de análise sociológica sobre a atividade científica foi sendo gradativamente alterado: ao invés da investigação sobre os mecanismos de interação e as normas internas dos cientistas, a sociologia passou a investigar também o próprio ‘conteúdo’ da ciência. Em outras palavras, a atividade científica passou a ser analisada como o resultado de determinadas práticas sociais específicas, mas não privilegiadas ou intrinsecamente distintas das demais atividades humanas e, portanto, um objeto passível de análise sociológica (Knorr-Cetina & Mulkay, 1983). Neste sentido, Conhecimento e imaginário social contribuiu fundamentalmente para o processo de consolidação desta abordagem ao conhecimento científico.
De fato, na ocasião do lançamento da segunda edição em inglês do livro, em 1991, a possibilidade de análise social a respeito da ciência já havia se institucionalizado, resultando na emergência de um prolífico campo multidisciplinar, conhecido internacionalmente como Science and technology studies.1 Neste contexto, os leitores de Conhecimento e imaginário social eram sociólogos, filósofos, historiadores, antropólogos e até mesmo cientistas de áreas exatas e aplicadas, que compunham este campo de estudos e reconheciam a obra de Bloor como uma das principais inspirações para sua área de atuação. Sobretudo, convém salientar que os quatro princípios estabelecidos para o ‘programa forte da sociologia do conhecimento’ (causalidade, imparcialidade, simetria e reflexividade), compartilhados pelos colaboradores de Bloor na ‘Escola de Edimburgo’, e delineados no primeiro capítulo do livro, influenciaram, direta ou indiretamente, diversos autores seminais deste campo, tais como Harry M. Collins e até mesmo Bruno Latour. Assim, dado o contexto de seu surgimento e sua influência posterior, torna-se impossível negar o alcance e importância desta obra.
Por conta de seu conteúdo e ineditismo, a edição lançada recentemente pela Editora Unesp, com tradução de Marcelo do Amaral Penna-Forte, serve tanto ao leitor brasileiro das áreas de filosofia e epistemologia, quanto ao leitor familiarizado com os Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. Trata-se de uma obra instigante (mas também um tanto árdua para leitores menos familiarizados com certos debates filosóficos), que se dedica principalmente à construção da legitimidade da análise sociológica do ‘conteúdo’ do conhecimento científico, justamente através da descrição daquilo que o autor chama de ‘programa forte’, e de sua aplicação aos casos mais extremos possíveis: a ‘lógica’ e o ‘conhecimento matemático’, ambas disciplinas consideradas exemplos de objetividade e neutralidade.
O livro está dividido em três grandes partes. A primeira parte, composta pelos quatro capítulos iniciais, refere-se ao programa forte da sociologia do conhecimento científico, seus preceitos, fundamentos e sua relação com a filosofia da ciência e também com as demais disciplinas científicas. Nestes primeiros capítulos, o autor procura demonstrar que, para além da superação das acusações de ‘idealismo’ e ‘subjetivismo’, o sucesso da sociologia do conhecimento científico está relacionado, de fato, com a adoção de uma postura científica tradicional, incorporando “os mesmos valores assegurados em outras disciplinas” (p. 21).
Aparentemente, Bloor estava consciente das possíveis consequências desta postura de ‘estudo científico da ciência’: ele reconhece que a ideia de uma sociologia da ciência pode parecer uma heresia, ou um ataque à ciência moderna, e sugere que a postura tradicional dos cientistas, de ausência total de questionamentos sobre a ciência, assemelha-se à manutenção da sacralidade do conhecimento religioso, conforme estudado por Durkheim. A aura quase impenetrável destas formas de conhecimento deve ser mantida por seus praticantes, sob pena de a investigação sistemática de seu funcionamento acabar com seu caráter privilegiado. Em especial, para o autor, esta postura de preservação da ciência é justamente a causa do ocultamento da influência dos demais fatores sociais sobre a produção científica.
Apesar dos possíveis ataques e críticas de cientistas e filósofos, Bloor insiste que
A poderosa imagem de Durkheim pode ser empregada com a suposição de que, quando pensamos sobre a natureza do conhecimento, o que estamos fazendo é, indiretamente, refletir sobre os princípios segundo os quais a sociedade é organizada. (p. 85)
Desta maneira, é possível concluir que se todo conhecimento diz algo a respeito da sociedade onde ele foi criado, então o conhecimento religioso e o conhecimento científico, ou as crenças ‘corretas’ e ‘erradas’ podem ser consideradas de modo ‘simétrico’, pois possuem valor explicativo semelhante:
O mundo pode ser povoado por espíritos invisíveis em uma cultura e por partículas atômicas sólidas e indivisíveis (mas igualmente invisíveis) em outra (p. 70).
Em outras palavras, este tratamento simétrico exposto acima e a busca pela ‘causalidade’ do conhecimento científico permitem construir uma perspectiva em que a disciplina sociológica e os fatores sociais não sejam aplicados apenas para explicar os erros e distorções no conhecimento científico, mas principalmente para compreender a determinação do contexto social sobre as descobertas e enunciados científicos, o papel da natureza e da experiência empírica no processo de construção consensual da ‘verdade’, e até mesmo as condições para a existência do próprio conhecimento sociológico.
Uma vez expostas estas premissas do programa forte, a segunda parte da obra apresenta uma análise do conhecimento matemático, procurando identificar diversos aspectos da influência social em seu conteúdo. O quinto capítulo inicia-se apresentando a ideia da autoridade moral imposta pelo caráter autoevidente e persuasivo dos enunciados e sequências lógicas da matemática. A partir disso, procura desconstruir esta autoridade, discutindo a ‘natureza’ das construções matemáticas, opondo e reordenando as ideias de pensadores como Mill e Frege, de modo a agrupar argumentos que possibilitem identificar os diversos elementos de causalidade do conhecimento matemático (p. 160).
No capítulo seguinte, Bloor expande esta perspectiva, discutindo a ideia de que pode existir “variação na matemática assim como há variação na organização social” (p. 163), utilizando-se de exemplos de ‘matemática alternativa’, tais como o estilo cognitivo diferenciado da matemática grega antiga (p. 167) ou as condições sociais que permitiram o surgimento da noção dos números irracionais (p. 184). Com isso, afirma que existe a possibilidade de variações no pensamento matemático, que podem ser explicadas através de causas sociais, ao mesmo tempo em que nega a existência de uma realidade matemática definitiva, exterior aos indivíduos. Este raciocínio se aprofunda no capítulo sete, dedicado ao processo de ‘negociação’ da lógica matemática, especialmente em relação aos contra-exemplos e processos de construção de provas de determinados teoremas. Por exemplo, ao utilizar-se da análise de Lakatos sobre o teorema dos poliedros de Euler (p. 219), Bloor demonstra o caráter negociado das definições matemáticas:
A invenção de novas ideias de prova ou de novos modelos de inferência pode alterar radicalmente o significado de um resultado lógico informal ou matemático informal. (…) Essa abertura à invenção e negociação, com todas suas possibilidades de reordenar a atividade matemática anterior, significa que qualquer formalização pode ser subvertida. Ou seja: quaisquer regras podem ser reinterpretadas e desenvolvidas de novos modos (p. 228).
O capítulo oito apresenta sinteticamente as conclusões decorrentes das reflexões teóricas e dos exemplos empíricos apresentados: inicialmente, Bloor insiste no caráter socialmente determinado do conhecimento, da lógica e da noção de objetividade. O conhecimento é concebido, afinal, como conjectural e relativo, tão subordinado ao contexto social de sua produção, quanto à realidade material que ele analisa. Além disso, o autor reafirma a necessidade de associar as ciências sociais, tanto quanto possível, ao método das ciências tradicionais; afinal, a ciência é a “nossa forma de conhecimento” (p. 240), e somente assim a sociologia do conhecimento poderia encontrar seu devido lugar entre as demais ciências.
Finalmente, na terceira parte do livro (apresentada na forma de posfácio), Bloor analisa algumas das críticas à primeira edição da obra, notadamente em relação às acusações recorrentes sobre a ingenuidade, idealismo, imparcialidade do programa forte. Sem grande surpresa, Bloor indica que muitas das críticas são baseadas em entendimentos incorretos a respeito das teses do livro, decorrentes principalmente da resistência generalizada ao processo de dessacralização da ciência, possivelmente decorrente das aplicações do programa forte. De modo significativo, o autor volta-se para a própria obra para defendê-la, tornando o posfácio uma parte interessante e historicamente relevante, mas realmente dispensável para a compreensão geral das teses do livro.
Em relação à edição brasileira, o projeto gráfico é agradável e a tradução é fiel ao tom original da escrita de Bloor. Todavia, é necessário ressaltar a existência de alguns poucos erros de tradução e digitação como, por exemplo, na página 131 onde se lê “Questão mais controversa é se a sociologia pode atingir o âmago do conhecimento sociológico [sic, grifo nosso]”, quando na realidade o original refere-se ao conhecimento matemático. 1
Em linhas gerais, para o leitor brasileiro contemporâneo, Conhecimento e imaginário social é uma obra importante para a compreensão da emergência e consolidação de uma área especializada das ciências humanas, os Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. Mais especificamente, para o leitor pouco familiarizado com este campo, ou para aqueles que abordam a questão através da filosofia ou da matemática, trata-se de um livro desafiador, que faz jus às ciências exatas, ao mesmo tempo em que expõe algumas de suas particularidades e inconsistências internas, que normalmente são obscurecidas pelas reconstruções históricas de seus próprios praticantes.
Notas
1 No Brasil, este campo ficou conhecido como “Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia” (ESCT).
2 “A more controversial question is whether sociology can touch the very heart of mathematical knowledge” (Bloor, 1991, p. 84).
Referências
BLOOR, David. Knowledge and Social Imagery. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. [ Links ]
KNORR-CETINA, K; MULKAY, M. Introduction: Emerging Principles in Social Studies of Science. In: KNORR-CETINA, K; MULKAY, M (Ed.). Science Observed. Perspectives on the Social Study of Technology. Sage Publications: London/Beverly Hills/New Delhi, 1983. [ Links ]
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989. [ Links ]
ROOSTH, Sophia; SILBEY, Susan. Science and Technology Studies: From Controversies to Post-Humanist Social Theory. In: TURNER, Bryan S. The New Blackwell Companion to Social Theory. London: Blackwell Publishing Ltd, 2009. [ Links ]
Maiko Rafael Spiess – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), São Paulo, Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Textos autobiográficos e outros escritos – ROUSSEAU (CEFP)
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Textos autobiográficos e outros escritos. Tradução de Fúlvia M. L. Moretto. São Paulo: Editora da Unesp, 2009. Resenha de: CARVALHO NETO, Filino. . Cadernos de Ética e Filosofia Política, São Paulo, v.16, n.1, p.228-232, 2010.
Acesso permitido somente pelo link original
Camponeses brasileiros | Clifford Welch
Camponeses brasileiros é uma junção de textos clássicos que abordam a questão da natureza do campesinato nacional. A obra é um dos volumes que compõem a coleção História Social do Campesinato no Brasil, organizada, desde 2004, pelos pesquisadores Horácio Martins de Carvalho, Delma Pessanha Neves, Márcia Maria Menendes Motta, Carlos Walter Porto-Gonçalves e pela Via Campesina do Brasil.
Diante das várias formas de contestação e resistência camponesa que afloraram no século XX e de trabalhos que têm demonstrado a participação ativa dos pobres do campo nas revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, pode-se conferir ao campesinato também um “papel” de protagonista na história da humanidade. Mesmo assim, foram muitos os esforços que visaram apagá-lo da história, ora pela execução de políticas para expropriá-lo de seus territórios, ora pela formulação de teorias para excluí-lo da história (WELCH et al.). Leia Mais
Cinco memórias sobre a instrução pública – CONDORCET (ES)
CONDORCET, Marques de. Cinco memórias sobre a instrução pública. São Paulo: Editora da Unesp, 2008. Resenha de: PIOZZI, Patrizia. Ensino laico e democracia na época das Luzes: as “memórias” de Condorcet para a instrução pública. Educação & Sociedade, Campinas, v.30 no.108 Out. 2009.
Lançado pela Editora da UNESP, com belo texto de apresentação da tradutora, a filósofa Maria das Graças de Souza, chegou às livrarias, em meados de 2008, Cinco memórias sobre a instrução pública, de Condorcet, um clássico do pensamento das Luzes, disponibilizando ao leitor brasileiro um dos projetos pioneiros para a implantação de sistemas nacionais de educação. Referência obrigatória no debate travado pelos iluministas e pelos revolucionários franceses sobre o papel do conhecimento na construção de uma convivência humana mais justa e feliz, “as memórias” circularam pela primeira vez, em Paris, em 1791, em quatro números do jornal Biblioteca do Homem Público, em meio às lutas e confrontos que dilaceravam as várias tendências atuantes na Assembléia Nacional Constituinte. Alguns anos mais tarde, poucos meses antes de sua misteriosa morte na prisão, no período jacobino, ao examinar os caminhos e descaminhos que marcam a história dos “progressos dos espíritos humanos” (Condorcet, 1993), o filósofo pressentia o advento próximo da época de ouro da humanidade, em que a razão e a justiça irradiariam de luz todos os cantos da terra. Os sinais dos novos tempos evidenciavam-se nas descobertas e novas concepções florescidas no âmbito das ciências naturais e da investigação filosófica ao longo dos séculos XVII e XVIII, cujo impacto contribuía sobremaneira para as transformações econômicas e políticas em curso no mundo ocidental.
Dando origem a uma auspiciosa simbiose, as perspectivas de maior prosperidade para todos, abertas pela mecanização do trabalho e pela universalização do comércio, se aliavam ao grande avanço das ideias de igualdade e liberdade, seja no debate intelectual, seja no movimento histórico concreto, inaugurando a “era das revoluções”. Neste contexto amplo, a longa luta das Luzes em prol da liberdade política e da justiça social vivia uma conjuntura extraordinariamente propícia na França revolucionária, onde, pela primeira vez na história da humanidade, a revolta das massas populares contra a miséria e a opressão se fundia ao ideário emancipatório dos “philosophes”. No entanto, o exame atento dos fatos recentes e do passado mais longínquo indicava ao filósofo que nem o progresso das ciências e artes, nem o estabelecimento da democracia política impediriam o surgimento de novas formas de domínio e desigualdade, se os povos não fossem esclarecidos em torno das leis e regras que governam o “cosmos” das coisas e dos homens, aprendendo a aplicá-las, corrigi-las, inová-las de forma inteligente e criativa. Apenas uma pedagogia empenhada em “ilustrar” todos os seres humanos, independentemente de seu país e religião, poderia assegurar a vitória universal e o exercício efetivo dos direitos políticos e sociais conquistados pelas revoluções e fixados nas leis.
Prioridade máxima no programa de reforma social e política das Luzes, a batalha pela popularização do conhecimento, desdobrando-se entre a intervenção direta no campo da cultura e a elaboração de projetos para a renovação educacional, produzia um amplo leque, e embate, de propostas entre os que se posicionavam a favor de uma instrução universal, porém não única, reservando aos filhos do povo um percurso escolar mais curto, fácil e de caráter “instrumental”, e aqueles que advogavam a legitimidade, e necessidade, de um ensino igual para todos. Na esteira dos projetos mais arrojados e libertários dos enciclopedistas, as “memórias” de Condorcet expõem seu ideal de uma instrução pública radicalmente laica, unificada, aberta a todos, explicitando os princípios e fundamentos filosóficos que iriam nortear, um ano mais tarde, o plano de reforma das instituições educacionais francesas, por ele redigido e apresentado à Convenção em nome da comissão encarregada de sua elaboração (Condorcet, 2000).
A publicação desta obra no Brasil é de grande relevância, não só por se tratar de um marco clássico na história do pensamento pedagógico moderno, mas, também, por sua candente atualidade em nosso país, em uma conjuntura em que as questões da qualidade, conteúdo e natureza laica do ensino público ocupam grande espaço nos debates da área, empenhados em definir os alcances e limites efetivos do direito universal à educação garantido na letra da lei.
Em contraste com toda forma dual de instrução, em que os trabalhadores pobres, privados do tempo necessário ao cultivo da mente, ficam aprisionados a um ensino operativo, mero treinamento para executar tarefas, enquanto os caminhos das ciências e artes são destinados àqueles agraciados pela riqueza ou por um talento extraordinário, seu projeto situa-se na perspectiva da formação intelectual, orientada pelo pressuposto de que todos os homens são seres dotados de sensibilidade e aptidão para formar raciocínios complexos e ideias morais. A progressão escolar, cujo sentido e objetivos gerais são apresentados na Primeira Memória, consta de três níveis. A educação comum, correspondente à nossa escola básica, objeto da Segunda e Terceira Memórias, destinase a transmitir as verdades já descobertas para sua aplicação inteligente e criativa na vida social e política; o Quarto Memorial, dedicado à educação profissional, correlato de nosso ensino superior e técnico, trata dos conteúdos específicos, extraídos do universo científico e artístico, adequados a uma “prática ilustrada” das profissões; enfim, o Quinto Memorial discorre sobre o estudo “acadêmico”, aprofundado, nas várias áreas do conhecimento, preparando os alunos para empreender a viagem por sendas inexploradas, na perspectiva de novas descobertas.
Muito além da garantia formal do acesso e permanência sem custos, o caráter democrático da progressão escolar aí imaginada consiste no fato de que, independentemente da diferente complexidade dos métodos e conteúdos, o ensino dirige-se, em todos os seus níveis, a estimular as dimensões analítica, crítica e inventiva da mente humana. Adotando por diretriz a certeza do vínculo essencial entre teoria e prática e tendo em sua base um letramento que privilegia a análise rigorosa de fatos e “verdades”, conduzida por uma argumentação clara, simples e enxuta, a pedagogia proposta pretende propiciar a “autonomia”, entendida como capacidade de julgar e corrigir as leis, regras e fatos que tecem as relações dos homens com a natureza e entre si. Para a consecução desses objetivos, centra-se, desde a fase mais elementar, no ensino das ciências físicas e morais, consideradas mais úteis e adequadas à intervenção prática no mundo. No entanto, não subestima, em momento algum, a importância da fruição artística e literária para o refinamento do gosto e o alimento dos espíritos: o teatro popular figura no texto ao lado das conferências dominicais para adultos, festas cívicas e outras modalidades culturais, instrumentos essenciais para combater o embotamento da sensibilidade e do intelecto resultante das atividades manuais e mecânicas, predominantes na vida dos trabalhadores pobres.
O empenho permanente em potenciar os atributos racionais e sensitivos comuns a todos os membros da cidade humana desvenda ao leitor o amplo sentido emancipatório do ensino radicalmente laico aí proposto: não se trata apenas de proibir o ensino religioso, nas instituições educacionais financiadas pelo Estado, por seu caráter excludente, potencial viveiro de intolerância e fanatismo, mas de fortalecer as mais altas faculdades humanas, dirigindo-as ao questionamento de todas as certezas estabelecidas, inclusive as científicas e filosóficas, zelando para que não se tornem doutrinas, novos objetos de culto. A adesão cega e imediata a mitos, preceitos e “conceitos”, responsável por estagnar o incessante movimento expansivo dos corações e mentes dos homens, encontra seu terreno mais fértil na ignorância e obtusidade permanentemente repostas pela exclusão do universo da cultura e do conhecimento a que são condenados os que vivem prisioneiros do “reino da necessidade”. Nesta ótica, a defesa do ensino laico está essencialmente vinculada à garantia da independência intelectual dos professores, seja da religião dominante, seja da doutrina política dos governantes. A liberdade de ensino, não apenas nas salas de aula, mas, também, nas escolhas do corpo docente, na forma de sua remuneração, na seleção dos livros didáticos, é imprescindível para garantir aos alunos a conquista da “faculdade” de julgar e agir autonomamente.
Um fio condutor une aqueles que, no nível básico, aprendem a aplicar as verdades já descobertas nos trabalhos e negócios cotidianos e no exercício da cidadania, aos que chegam a se apropriar dos conteúdos específicos necessários à atuação mais esclarecida nas profissões e, enfim, àqueles que iniciam a viagem ao mundo desconhecido das descobertas futuras: todos aprendem a analisar, criticar e inventar, contribuindo, de forma diferente, ao avanço das ciências e das artes e ao crescimento do bem estar coletivo.
A relevância e atualidade deste texto para a área da educação consistem em explicitar uma proposta de instrução pública que, na estrutura, nos conteúdos e métodos, tende a superar os limites da meritocracia liberal, projetando-se como uma crítica radical, e utópica, da sociedade competitiva e mercantil então nascente. Sem omitir a importância da implementação de políticas públicas de estímulo ao esforço e aos talentos, exigindo do Estado a sustentação dos estudos para os pobres promissores, o eixo do projeto encontra-se muito mais na mobilização da cultura e do conhecimento, com a finalidade de contrarrestar os efeitos degradantes da divisão entre trabalho manual e intelectual, pela qual se cria um abismo intransponível entre os homens presos às engrenagens do mecanismo produtivo e os que flutuam livremente nos “espaços celestes” da investigação científica e filosófica e das belas artes. Na construção de uma escola que atingiria todas as regiões do país, acolhendo homens e mulheres, ricos e pobres, crianças e adultos que se dispusessem a procurá-la, a recusa de todo tipo de treinamento se une à luta pela divulgação de um conhecimento laico e “esclarecedor”, atribuindo à instrução pública o papel de combater a redução da riqueza, multiplicidade e potência das faculdades humanas a instrumentos automáticos de perpétua reprodução do mesmo, subordinados aos desígnios dos poderosos.
Nos dias de hoje, a hipertrofia do espírito mercantil e competitivo, aliada ao recrudescimento da intolerância étnica e religiosa, predominante no panorama mundial nas últimas décadas, começa a ser solapada por novas ideias e lutas emancipatórias, encontrando expressão, inclusive em instâncias governamentais e parlamentares, na intensificação do debate em torno de políticas públicas voltadas a ampliar os direitos sociais e as liberdades civis. No campo da educação, evidencia-se, recentemente, no Brasil, o crescimento de movimentos intelectuais e políticos, resistindo aos ataques ao ensino humanista, independente e laico, vindos de fora ou do próprio interior das instituições estatais.
A leitura desta obra magnífica, que traz ao leitor um exemplo lúcido e vibrante dos sonhos reformadores florescidos no palco da mais importante luta revolucionária da modernidade, pode indicar caminhos e alimentar esperanças para aqueles que, na perspectiva de uma escola pública democrática, estão em busca de alternativas às mesquinhas orientações produtivistas e individualistas dominantes, responsáveis por reproduzir, sob nova roupagem, a heteronomia do pensar e do sentir, sempre imbricada às formas mais obscurantistas e perversas de insensibilidade social.
Referências
CONDORCET, Marquês de. Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. [ Links ]
CONDORCET, Marquês de. Rapport sur l’instruction publique. In: BACZKO, B. (Org.). Une éducation pour la democratie. Genebra: Librairie Droz, 2000. p. 181-258. (Trad. port. Instrução pública e organização do ensino. Porto: Livraria Educação Nacional, 1943). [ Links ]
Patrizia Piozzi – Doutora em Filosofia e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: [email protected]
Cinematógrafo: um olhar sobre a história | Jorge Nóvoa, Soleni Biscouto Fressato e Kristian Feigelson
Faz quinze anos desde a publicação de um texto fundamental para os estudos da relação cinema-história no Brasil, “Apologia da relação cinema-história”, escrito pelo professor Jorge Nóvoa, e publicado no primeiro número da Revista de História Contemporânea O Olho da História. O texto é, como o próprio título sugere, uma defesa da importância do cinema para a História e para os historiadores, por sua condição de documento histórico, por seu valor enquanto fonte de conhecimento histórico e como agente da história. Diante do preconceito, do ceticismo e até do despreparo de muitos profissionais do métier, o texto configurou-se como um instrumento de combate em torno da idéia de que os filmes podem e devem ser tratados como documentos para a investigação historiográfica, prenhes de significados, sentidos e informações sobre diversos processos sócio-humanos. Quem optou por arriscar-se nesse tipo de estudo, sempre teve em Apologia um apoio mais do que necessário para justificar o interesse por compreender os impactos da sétima arte sobre a elaboração de conhecimentos, comportamentos e afetos na contemporaneidade. Leia Mais
Em busca de El Cid | Richard Fletcher
Resenhista
Ruy de Oliveira Andrade Filho – Professor da Universidade Estadual Paulista, Campus de Assis.
Referências desta Resenha
FLETCHER, Richard. Em busca de El Cid. Trad. Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres. São Paulo: Editora da Unesp, 2002. Resenha de: ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. História Revista. Goiânia, v.9, n.1, p. 151-156, jan./jun.2004. Acesso apenas pelo link original [DR]
A ciência: Deus ou diabo? | Guitta Pessis-Pasternack
O novo livro de Pessis-Pasternak, jornalista que tem por interesse a divulgação científica, segue os moldes de sua obra anterior, Do caos à inteligência artificial (São Paulo, Unesp, 1993): uma reunião de entrevistas realizadas com renomados cientistas, principalmente de origem francesa, tratando de temas que vão desde as origens do Universo até a inteligência artificial, dos recentes avanços na biologia até os também hodiernos modelos analíticos na física e na química, passando pelas mais novas descobertas das neurociências.
Quem leu o outro livro, irá notar que Pessis-Pasternak organiza este novo livro agora lançado de modo diferente. Em lugar de dividir as entrevistas em dois blocos, como fez no outro volume, de modo a agrupar os tópicos tratados, a entrevistadora preferiu simplesmente encadear uma entrevista após a outra, sem adotar, pelo menos aparentemente, qualquer critério organizativo. Isso dificulta um pouco a leitura e a fruição do livro, uma vez que o leitor é obrigado a ‘saltar’ da biologia para a inteligência artificial, ou da astrofísica para a epistemologia, sem aviso prévio, a não ser por uma breve introdução fornecida pela autora. Mesmo assim, convenhamos, não é fácil ‘ligar’ e ‘desligar’ a todo instante um assunto ou outro e, de repente, voltar ao anterior. O que torna esse aspecto menos problemático é que aqui — ao contrário de Do caos à inteligência artificial — Pessis-Pasternak se preocupou em adicionar rodapés que inter-relacionam os diversos depoimentos quando um mesmo assunto é abordado por dois ou mais dos entrevistados. Leia Mais
Entre a história e a liberdade: (Luce Fabbri e o anarquismo contemporâneo) – RAGO (RBH)
RAGO, Margareth. Entre a história e a liberdade: (Luce Fabbri e o anarquismo contemporâneo). São Paulo: UNESP, 2001. 368 p. Resenha de: LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n.46, 2003.
Margareth Rago teve uma oportunidade raríssima: conversar com Luce Fabbri na casa dela, em Montevidéu. Enquanto a autora italiana (1908-2000) se empenhava em terminar de escrever a biografia de seu pai, Luigi Fabbri (1877-1935), relata à brasileira etapas de sua vida e o desenvolvimento de suas idéias.
Apesar da diferença de aproximadamente 40 anos, a historiadora brasileira e a italiana tinham, como professoras universitárias, um universo de discurso comum. Partilhavam inúmeras idéias e aspirações, não só políticas como educacionais. Encontraram as condições ideais para uma troca produtiva de idéias, raramente atingida em entrevistas comuns.
Assim como a biografia de Luigi Fabbri estava inserida na história do anarquismo europeu, a de Luce insere-se na do anarquismo europeu e sul-americano. Houve, portanto, não apenas a oportunidade de comparar experiências, como também a possibilidade de discutir o processo de trabalho que estavam realizando. As duas recuperavam, através de vida intelectual, uma história de que eram representantes e que tem sido desmerecida, deformada e ocultada pela história dos poderosos.
Para Luce, os instrumentos de trabalho e as fontes provinham de amigos de infância, textos escritos, documentos recolhidos através da vida organizados por critério diversos dos da história oficial. Para Margareth Rago, com um gravador e um computador, bolsas de estudo e visitas sucessivas à casa, à biblioteca e ao arquivo de uma anfitriã erudita, tão interessada no seu, como no trabalho da jovem anarquista.
As duas estavam conscientes de estar revelando aos contemporâneos o sentido da libertação social do anarquismo, que vem sendo desprezado como utopia pré-capitalista e soterrado sob o título de utopias românticas. Esta corrente de elos históricos vem desde Malatesta (1853-1922), que no maior Congresso Anarquista, em Amsterdã, em 1907, já teria apresentado o então jovem Luigi como seu “filho.” Esta, amigo de Malatesta até a morte, encarregou-se de sua biografia. O anti-autoritarismo fundamental do anarquismo, a sua busca de uma liberdade solidária e fraternal como um meio de vida e a rejeição os poderes macros e micros da vida social vêm sendo revelados em inúmeras de suas faces por esses biógrafos sucessivos. E agora, através das línguas italiana, castelhana e portuguesa, pelas duas militantes contemporâneas.
A casa em que Luce nasceu tinha um ambiente de compreensão e liberdade sem imposições externas — nem de opiniões, nem de atitudes, nem de religiões. Eram todos antiautoritários e solidários. Nem sequer o anarquismo lhes foi imposto. O pai explicou aos filhos os seus pensamentos a respeito, pediu-lhes que refletissem sobre isso e decidissem quando se sentissem capazes de fazê-lo. Luce estudou Letras na Universidade de Bolonha e seu irmão tornou-se marceneiro, sem qualquer ingerência em suas vocações, nem apelos aos seus gêneros. O pensamento de cada um era respeitado, o que é comprovado pela contestação que Luce, ainda muito jovem, fez ao pensamento de Malatesta, já figura proclamada do pensamento anarquista.
Nessa casa de uma harmonia invejável, Luce teve contato desde muito cedo com os amigos de seu pai, um professor primário e depois secundário, criador de uma Biblioteca popular para os operários, por volta de 1917. Esses contatos constituíram um outro perfil de educação, além da educação formal pequeno-burguesa, e revelou a sua vocação teórica em trabalhos de literatura, história e crítica política que publicava nos jornais criados pelos amigos de seu pai.
O respeito a essa vocação fez com que sua mãe, e depois no Uruguai, seu marido — um operário italiano imigrado e autodidata — a eximissem das “obrigações femininas” da vida privada (com comida e crianças) para que pudesse desenvolver sua vocação. Neste sentido, não passou pelos problemas de gênero que sufocaram inúmeras feministas, proibidas de estudar, proibidas de pensar e de trabalhar fora, consideradas como elementos de Segunda classe. A questão feminina não se apresentava como prioritária em suas reflexões. Considerava que resolvido o problema social, o sexual estava automaticamente decidido. Mais tarde, retomou a questão verificando a possibilidade das mulheres, habituadas a administrar situações não-lucrativas, como cuidar de crianças, de velhos e doentes, serem mais capazes de administrar as associações solidárias.
Sofreu desde a infância as injustiças e os temores provocados pela perseguição política infringida ao seu pai pela polícia fascista. Viver vigiada pela polícia foi uma experiência de toda a vida. Seu pai perdeu o cargo de professor, conquistado em concurso, por não Ter jurado fidelidade ao fascismo italiano, o que ela veio a repetir por ocasião de seu doutoramento na Universidade de Bolonha, com uma tese sobre o geógrafo anarquista Eliseé Reclus.
Perderam assim o direito a ter passaporte, e para sobreviver foram obrigados a sair clandestinamente da Itália, através do auxílio de núcleos anarquista capazes de se articularem sob a truculenta polícia fascista.
Nas mais difíceis condições e deixando para trás o irmão, a família Fabbri emigrou para Montevidéu, onde uma grande população de italianos imigrados os acolheu e auxiliou.
Luigi Fabbri sofreu muito com o afastamento do filho e da terra em que sempre vivera e da qual se afastara obrigado. Luce ainda moça, conhecendo a língua e com um entusiasmo militante, teve condições de aproveitar as características sociais do país a que tinha chegado, com suas associações e ateneus, além de um clima bem mais ameno que o de Bolonha. Ademais, veio a encontrar aí, em sua própria casa, o marido. Trabalhou inicialmente como professora de História, e mais tarde, na Universidade, pôde voltar-se para sua paixão pela literatura italiana, que nunca a abandonara.
Em Montevidéu, formara-se a Comunidad del Sur e uma editora, a Nordan-Comunidad, que funcionavam de acordo com os princípios anarquistas, de autogestão, incorporando a tecnologia contemporânea. A liberdade individual era cultivada como meio de criatividade e desenvolvida por formas educacionais alternativas, através de jornais, panfletos e trabalhos que levavam em conta pensamentos e sentimentos dos componentes da comunidade.
Uma questão mal estudada e que preocupou Luce Fabbri foi o autodidatismo dos trabalhadores. A necessidade de absorver o conhecimento com que ela conviveu desde muito cedo e a sede de instrução que sentiu entre homens e mulheres, sem oportunidade de contar com educação formal, que freqüentavam a Biblioteca Popular, depois de um dia de dez horas de trabalho estafante, estimularam os seus esforços didáticos e suas reflexões dirigidas para a auto-educação. “Caracteres e importância del autodidactismo obrero”, que publicou em Brecha, jornal de Montevidéu, em 1998, foi apenas uma de suas abordagens desse aspecto da educação.
Intercalando as entrevistas com cenas do convívio diário, Margareth Rago nos apresenta uma obra restauradora da confiança no ser humano e em sua capacidade de viver o presente. Embora disfarce as dificuldades da tarefa interlingüística a que se propôs com um entusiasmo contagiante, é possível constatar o esforço exigido para organizar uma bio-bibliografia de tais proporções e de tal conteúdo.
Mostra claramente como a idéia de anarquismo não deve ser pensada como ponto fixo ao qual se deve chegar, mas como um caminho a seguir, como Luce escreveu em 1952, em La Strada. Esse caminho que Luce continuou a percorrer pela vida afora, sempre preocupada em inventar um presente que permitisse a descoberta e a criação de novas alternativas. O conhecimento do passado e das tradições nos é necessário como solo onde é possível enraizar-se e fortalecer-se, para politizar constantemente as palavras e reconhecer o seu poder e a magia da produção poética por sua capacidade criadora. Ao trabalhar sobre a reforma do secundário, insistiu no ensino da língua castelhana em todos os graus, como o grande instrumento de comunicação e congraçamento.
Escrito como tese para obtenção do título de livre-docência, ele deve ser lido mais como um ato de militância e de esperança no momento presente.
Miriam Lifchitz Moreira Leite – Universidade de São Paulo.
[IF]Anarquismo, Estado e pastoral do imigrante. Das disputas ideológicas pelo imigrante aos limites da ordem: o caso Idalina – SOUZA (RBH)
SOUZA, Wlaumir Donizeti de. Anarquismo, Estado e pastoral do imigrante. Das disputas ideológicas pelo imigrante aos limites da ordem: o caso Idalina. Sn. Editora da Unesp, 2000. 243p. Resenha de: ALMEIDA, Vasni de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.44, 2002.
Um bom estudo em ciências humanas, um estudo histórico em particular, ganha relevância ao primar por dois aspectos: a preocupação com as mudanças que marcam uma sociedade numa determinada trajetória histórica e a atenção redobrada com as alterações verificadas nas instituições inseridas e ativas nesse processo de transformação1. Um tratamento cuidadoso para com as redes de interdependências entre diferentes grupos no estabelecimento de uma nova ordem social e cultural e para com os rearranjos internos que acompanham cada um dos grupos envolvidos aponta para a eficácia de um estudo acadêmico transformado em publicação. Esse é o caso do livro de Wlaumir Donizeti de Souza, voltado para a imigração italiana para o Brasil, ocorrida entre a segunda metade do século XIX e os primeiros decênios do século XX. Transição da monarquia para o sistema republicano de governo, a imigração como fator de mudança cultural e social e os elementos sociais em conflito (Estado, catolicismo e anarquismo) formam o esteio da obra.
Procurando se desvincular das armadilhas que tendem a estreitar “o leito do rio”, o autor verificou e destacou a intrincada teia de interesses desse significativo período de mudanças políticas e culturais pelo qual passou o País. Seu olhar esteve atento para as ações da Igreja Católica em relação às forças sociais externas a ela e em relação aos “catolicismos” coexistentes na sua esfera interna. Da mesma forma, sua atenção se voltou para os movimentos anarquistas em suas relações com o poder social do catolicismo, notadamente no que tange ao trato com o imigrante. Completando as forças que se locomoviam ao redor do trabalhador imigrante, estava o agricultor contratador de mão-de-obra. Esses são os elementos básicos que compõem a trama tecida pelo autor.
Para Donizeti de Souza, a população imigrante italiana, contratada para trabalhar no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, foi instrumentalizada pelo catolicismo ultramontano, com a Igreja Católica buscando influenciar a política imigratória num período em que se aproximava o rompimento formal e tardio entre essa religião e o Estado brasileiro. Na tentativa de estabelecer os critérios para a arregimentação de trabalhadores, o catolicismo romanizado estimulou a elaboração de pastorais voltadas para o enquadramento do imigrante, tendo em vista o seu projeto religioso e político. Aos scalabrinianos, instituição missionária fundada em 1887, por dom Giovanni Baptista Scalabrini, religioso com larga experiência no trato com os postulantes `a imigração nas suas cidades de origem, coube essa tarefa. Para sustentar sua análise, o autor se apega ao conceito de imigrante ideal, ou seja, um trabalhador lapidado para atender a interesses econômicos políticos dos grupos que pensavam no sentido de nação, que então se desenhava lentamente, tanto na visão de fazendeiros quanto na de políticos de linhagem conservadora. O imigrante ideal seria aquele comprometido com os laços culturais e religiosos propostos na perspectiva romana de sociedade e indivíduo, imagem idealizada também pela oligarquia que o contratava. Para os fazendeiros, o estrangeiro contratado deveria ser “dócil, ordeiro, familiar e trabalhador”, uma mão-de-obra com as marcas da “resignação”. Na visão do poder religioso ultramontano, caberia ao catolicismo a moldagem do imigrante que satisfizesse os requisitos dos contratantes. O autor aponta com acuidade a conexidade entre o ideal de trabalhador desenvolvido pelo catolicismo romano e o tipo de trabalhador procurado pelo coronel para ser empregado na lavoura. Os dois ansiavam por trabalhadores obedientes. Quais as pretensões de um catolicismo que se via ameaçado por intrincada e complexa rede de inimigos, dentre os quais podemos encontrar os anarquistas, os maçons, os políticos liberais e os protestantes? Donizeti de Souza responde sem mais delongas: ser fonte inspiradora da cidadania brasileira e fonte única de unidade nacional. Enquanto o chefe local buscava aumentar o lucro (com a devida ordem) na unidade agrícola, o catolicismo buscava forjar, sob seus auspícios, a unidade cultural e religiosa do País. O que um fazendeiro esperava de um padre era que este ressaltasse “as obrigações morais do empregado para com o patrão, seu dever de obediência, de humildade, de docilidade e resignação, aceitando sua situação como desígnio divino, uma vez que a ordem social era por ele estabelecida”.
Da sua parte, o ultramontanismo pretendia, além das prerrogativas políticas e econômicas, enquadrar religiosamente o colono do interior do País, pouco afinado com as doutrinas da Igreja, procurando “instar um tempo sem magia”. Sendo assim, os scalabrinianos foram os designados para acompanhar o homem católico, desde a partida até sua instalação definitiva na sociedade hospedeira, isso dada a experiência acumulada por esses religiosos na missão junto ao imigrante. Na visão dos scalabrinianos, a religião seria um fator de patriotismo e de princípios civilizadores para os imigrantes em terras brasileiras. No entanto, como acontece em todos os processos de incursões missionárias, o agente não fica incólume na sociedade envolvente, não tardando muito para que esses religiosos percebecessem os fatores complicadores de sua missão. Havia inúmeras dificuldades em implantar o projeto de pastoral de imigrante: falta de padres, custo das viagens de religiosos, descontinuidade na formação de trabalhadores contratados. Padres ávidos por lucros, ostentadores, boêmios, apresentavam-se também como percalços na organização de uma pastoral alicerçada no ultramontanismo.
Os scalabrinianos, assim, tencionavam atuar junto ao imigrante italiano com maior independência possível do clero local, dada a influência que esse exercia junto às populações interioranas e por serem poucos afeitos às exigências de um catolicismo disciplinador. A religiosidade praticada em regiões distantes dos grandes centros, com a complacência dos padres, poderia colocar em risco o projeto educacional que pretendiam implantar. As divergências entre os scalabrinianos e padres das paróquias logo emergiram e são reveladoras dos embates internos no seio de um catolicismo que atuava numa sociedade que passava por profundas transformações, tanto na esfera política quanto na cultural. Em determinado momento da missão dos scalabrinianos no Brasil, mais precisamente no período em que o padre Cansoni esteve no País, a ordem foi aconselhada a assumir paróquias, onde o sustento seria mais viável. Isso porque a inquietude entre o clero nacional e o ultramontano estava se tornando visível, com os primeiros cada vez mais resistentes à presença da ordem em sua área de atuação, já que esta tinha a liberdade de acompanhar os imigrantes em qualquer paróquia, mesmo sem estar comprometida com ela.
Uma proposta de Domenico Vicentine, substituto de Scalabrini na condução da ordem, restringia a missão dos carlistas à formação de quadros para o serviço junto aos imigrantes, cabendo aos bispos das dioceses a administração da política pastoral ao imigrante. Na verdade, o clero nacional pretendia enquadrar os scalabrinianos nas estruturas das paróquias, impedindo assim que a missão junto aos imigrantes invadisse a jurisdição das dioceses, o que contrariava a intenção da ordem, que era a de agir sem necessariamente estar vinculado às estruturas eclesiais vigentes. Percebendo as dificuldades em atuar na jurisdição das paróquias, os scalabrinianos fundaram um orfanato cujo objetivo seria o de amparar crianças órfãs que vagavam pelas ruas (esquálidas, tristes, fracas e miseráveis), preparando-as para o trabalho e para serem “bons cidadãos” e “cidadãs”. Utilizando como recurso de convencimento o fato de o orfanato ser um espaço de formação de crianças desvalidas, moldando-as para o trabalho, os scalabrinianos obtiveram dos fazendeiros o apoio necessário para a implantação do projeto, conseqüentemente, da estruturação da ordem no País. Lembra o autor que os orfanatos constituíam-se através de uma mentalidade tridentina, fato que mais uma vez denota a tentativa de romanização do imigrante por meio da ação educacional.Ao saírem em missão para angariar fundos para o orfanato, os padres scalabrinianos batizavam, ouviam confissões, faziam casamentos, enfim, atrelavam a proposta educacional à estruturação da ordem, funcionando o orfanato como um ponto estabilizador das missões.
O autor destaca que os scalabrinianos foram acossados, no final do processo imigratório, em três frentes: na primeira, pela oligarquia, já que o imigrante não mais se apresentava como um investimento seguro; na segunda, pelos párocos locais, temerosos de perder a arrecadação junto aos poucos imigrantes que ainda entravam no país; na terceira, sofria a concorrência dos anarquistas e dos maçons. Nessas frentes de combate, a que mais merecia atenção por parte do clero romano era a política desencadeada pelos anarquistas juntos aos imigrantes.
A celeuma entre a ordem scalabriniana e grupos anarquistas, na atuação junto aos imigrantes, mereceu por parte do autor um capítulo à parte. De posse de um documento desses religiosos sobre o desaparecimento de uma das internas do orfanato, Donizeti de Souza rastreou em publicações anarquistas o mesmo assunto. Nas leituras dos periódicos, percebeu com perspicácia a disputa que se travava entre o movimento político anarquista e o movimento religioso católico ultramontano pelo controle do imigrante. Tencionando alcançar o monopólio do acompanhamento ao imigrante em diversas regiões do País, as duas partes procuravam atingir a imagem do outro perante a opinião pública e perante o Estado. Não foi intenção do autor apontar o desenlace da trama envolvendo a menina Idalina, personagem central da discórdia, o que certamente o faria enveredar para um texto novelesco, tão em moda na historiografia atual. Antes, sua atenção esteve voltada para a distinção dos elementos em conflito, fazendo de sua obra uma possibilidade de compreensão dos interesses de instituições nas formulações ideológicas de um período que ainda carece de novos estudos.
Resta apontar os complicadores das considerações de Donizeti de Souza, que são de duas ordens: a primeira diz respeito à afirmação de que a intenção dos scalabrinianos era a de constituir, nas pequenas cidades em ascensão, dada a presença do imigrante italiano, “pequenas itálias”; o segundo complicador desse texto bem articulado reside na afirmação do autor de que no projeto dos religiosos estava embutido um projeto “neocolonial”. Não estariam essas responsabilidades aquém das forças de uma ordem religiosa que não se configurava entre as mais influentes dentre o escopo missionário católico, tanto no Império quanto na Primeira República?
Para além desse pequeno deslize (se é possível considerar como tal uma afirmação que não compromete o texto), essa obra é um alerta para quem reduz aos liberais, à maçonaria e ao protestantismo a capacitação de indivíduos voltados para uma sociedade ordeira e laboriosa, quesitos básicos para a consolidação da República. Em se tratando de moralização de condutas, as intenções de protestantes, católicos e maçons não eram tão díspares quanto podem parecer numa análise estreita. Os ultramontanos buscavam com disposição instilar o rigor disciplinar entre os trabalhadores imigrantes tendo em vista a composição de uma nova ordem social, um tanto quanto ameaçada pelos ideais políticos anarquistas, dos quais os italianos não estavam distantes.
Notas
1 Temos em mente, quando sinalizamos para a rede de interdependências em processos de mudanças (ou de desenvolvimento), as concepções teóricas de Norbert Elias sobre transformações sociais no processo civilizador. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, vol. 1.
Vasni de Almeida – Doutorando em História-UNESP/Assis.
[IF]Uma estranha ditadura – FORRESTER (RBH)
FORRESTER, Viviane. Uma estranha ditadura. São Paulo: Editora da Unesp, 2001. 187p. Resenha de: CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.43, 2002.
Desemprego nos EUA é o maior em 4 anos: 113 mil é o número de postos de trabalho cortados pela economia americana em agosto1. Manchetes como esta continuam a nos assustar. Elas provocam uma sensação de instabilidade, porque questionam aquilo que acreditamos ainda ser vital para a sobrevivência ¾ o emprego. As matérias publicadas na imprensa cotidianamente tentam fazer uma análise da crise econômica que tem afetado o mundo nessas últimas décadas, mostrando os seus reflexos sociais (mesmo porque eles não podem ser negados, dada a sua objetividade) e os caminhos possíveis para a sua superação: a capacidade das empresas de apresentarem produtividade e competitividade no mercado. A lógica deste caminho acena para a possibilidade de uma retomada do crescimento econômico pelas empresas, o que geraria frutos positivos para o conjunto da população, com a diminuição do desemprego e com a melhoria das condições de vida. Questionar esta lógica é o eixo central da análise feita por Viviane Forrester em Uma estranha ditadura, livro escrito em 1999, lançado na França no ano seguinte e publicado no Brasil em 2001, pela editora da UNESP.
Neste livro, a autora retoma reflexões feitas em O horror econômico 2, sobre o momento atual do capitalismo, caracterizado pelo liberalismo absoluto, pela globalização e pela desregulamentação. O modelo que se instala, sob o signo da automação ou das tecnologias revolucionárias, não tem vínculo com o mundo do trabalho, embora esta categoria, sob a roupagem do emprego, continue a ser sustentáculo da sociedade. O trabalho, ou o emprego, transforma-se em mito, em algo constantemente buscado, embora em extinção; e o desemprego ¾ sua negação ¾ continua sendo objeto de promessas de solução, principalmente nos projetos de desenvolvimento e nas plataformas políticas.
Ao trabalhar com temas atuais, como globalização, ultraliberalismo, competitividade, produtividade, Viviane Forrester levanta questões que estão no cerne das reflexões não só de historiadores, economistas, cientistas políticos, mas também nas discussões cotidianas das pessoas que vivem a pressão da mídia, que as conclama para o sacrifício individual na busca de soluções para as economias nacionais, e a sedução das propostas governamentais que, em nome da competitividade nos mercados internacionais, acenam com a flexibilidade dos empregos e dos direitos sociais. Aliás, esta palavra vem adquirindo uma conotação mágica ao ser usada para caracterizar uma pseudomodernidade do capitalismo.
Em Uma estranha ditadura, o conceito de ultraliberalismo é privilegiado. Esse conceito é tratado pelos dirigentes da economia como globalização. Esta identificação tem um sentido político importante, na medida em que o termo globalização, que possui conteúdo histórico, transmite a idéia de um processo irrefutável, que aconteceria de qualquer forma e que, portanto, seria inquestionável. Mas é o próprio estatuto da História, que se constrói na transformação, que nos possibilita resistir a essa idéia:
(…) na verdade, vivemos em um de seus momentos mais efervescentes, que não vêm acompanhados por crises sociais, mas pela mutação de uma civilização até aqui fundada no emprego, o qual está em contradição com a economia especulativa atualmente dominante3.
Vinculando o desemprego às políticas ultraliberais dos últimos decênios, a autora questiona a chamada economia de mercado que se movimenta em um universo virtual, na qual os assalariados e os consumidores não têm importância.
O título do livro ¾ no original Un étrange dictature ¾ é uma referência à nova ordem do capitalismo, identificada com a globalização, um sistema despótico que acredita poder se dar ao luxo, graças à sua força, de suportar a moldura democrática. Essa estranha ditadura, que mais se assemelha a uma ideologia totalitária, assenta-se em uma contradição básica, que se manifesta na diferença entre o discurso que consagra a economia de mercado como modelo único de sociedade e as políticas concretas adotadas pelas empresas, onde se associam lucro e especulação e a acumulação se liga às flutuações virtuais da especulação, de suas apostas alucinantes.
Duas reflexões básicas se destacam neste livro. A primeira diz respeito ao surgimento dos working poors, referência aos que vivem abaixo do nível de pobreza mesmo trabalhando e que, por isso, não aparecem nas estatísticas sobre desemprego. Assistimos hoje à substituição do welfare ( o conceito de bem- estar social) pelo workfare (trabalho forçado), uma tarifa do trabalho só possível depois que os trabalhadores são desprovidos de todos os recursos, gerando a submissão, que os leva a aceitar quaisquer condições de trabalho e de vida. O workfare consiste, sob pretexto de inserção, em forçar as pessoas a aceitar qualquer trabalho. Esse processo expõe a relação, ainda muito forte, que existe entre dignidade e emprego, e seu efeito imediato, visível na divisão entre assalariados e desempregados, o que possibilita a dominação.
Outra reflexão que nos faz repensar em nossos conceitos sobre as relações sociais hoje é a sobre educação dos jovens. Por que formar jovens para profissões julgadas parasitárias e muito dispendiosas? No que empregá-los? O sistema educacional em todos os países está falido. As profissões que não têm vínculo com o mercado especulativo são consideradas supérfluas. Em nome do controle dos gastos públicos, postos de trabalho essenciais, como de professores, enfermeiras, médicos, vigias de museus, entre outros, são suprimidos, anunciando um futuro sombrio para as próximas gerações. Não estaríamos vivendo agora uma nova exploração desenfreada, que a história já registrou para o século XIX, apenas com uma nova roupagem?
Embora o texto apresentado por Forrester tenha o caráter de ensaio, naquilo a que a autora se propôs, ou seja, refletir sobre os caminhos que trilhamos hoje para superá-los, ele cumpre o seu papel. Poderíamos, talvez, cobrar uma análise teórica mais profunda, assentada em uma pesquisa documental mais consistente. Isto significaria desconhecer a trajetória da autora, romancista, crítica literária do jornal Le Monde, atividades que possibilitaram, por outro lado, a comunicabilidade que ela transmite pela escrita. A pergunta inicial proposta no texto, a respeito do ultraliberalismo, já cria um clima de envolvimento do leitor: De onde vem o fato de suas atividades prosseguirem com a mesma arrogância, de seu poder tão caduco continuar a se consolidar e de seu caráter hegemônico ampliar-se cada vez mais?4 Ao analisar esta questão, a autora chama a atenção para a propaganda que, ao indicar falsas premissas, encobre os verdadeiros problemas.
Vivemos hoje no mundo da comunicação acelerada. Recebemos cotidianamente uma avalanche de informações. Ao ler o jornal, ao assistir o noticiário na televisão, somos bombardeados com uma série de dados e eles nos exigem um posicionamento crítico diante dos acontecimentos. Como sujeitos dessa história presente, recebemos uma chuva de notícias, cujos pingos vão nos atingindo de forma isolada, com o objetivo de nos transmitir uma postura positiva a respeito dos despropósitos do mundo atual que, espera-se, possamos assimilar. Ser sujeito desta história é complicado: nossa capacidade de discernimento e análise vê-se prejudicada não só por sermos sujeitos na cena contemporânea, mas também pela velocidade e multiplicidade das informações que nos são repassadas a todo momento, onde se mesclam as imagens do avanço tecnológico e da saúde das empresas com as da pobreza e da violência urbana.
Ao tratar esta realidade, Uma estranha ditadura ultrapassa o objetivo de análise das relações econômicas e sociais contemporâneas e assume o caráter de denúncia. Denúncia das estratégias de convencimento que visam ocultar a realidade das propagandas, que buscam o consentimento para as políticas destruidoras feitas em nome da globalização, esse apanágio para todos os males.
Acompanhando todas as reflexões feitas pela autora, uma pergunta vital não poderia deixar de ser feita: ¾ existe futuro? Ou melhor, existe a possibilidade de um outro futuro? Para enfrentar a ditadura da economia de mercado é necessário desmantelar a impostura, construir formas de resistência, e a opinião pública pode ter um papel fundamental, forçando seus representantes políticos a mudar de direção. Hobsbawm5, em artigo onde analisa a falência da democracia, observa como a opinião pública tem se tornado poderosa, graças aos meios de comunicação de massa, e como ela tem influído nas instâncias decisórias superiores. O poder desta opinião pública é a outra marca deste mundo globalizado, onde os governos têm que conviver com a vontade dos cidadãos, que não avaliam projetos, mas resultados.
Mais recentemente, afirma o autor, as manifestações em Seattle e Praga demonstram a eficácia da ação direta bem dirigida, conduzida por grupos pequenos, mas cientes de como agir diante das câmaras, mesmo quando agem contra organismos erguidos para serem imunes aos processos políticos democráticos, tais como o FMI e o Banco Mundial.
Se a pressão da opinião pública é o caminho, é necessário definir em que sociedade queremos viver. Transformar a sociedade atual é resolver a questão da repartição, jogando por terra as prioridades da economia ultraliberal, centradas no lucro, colocando as pessoas no centro dessas prioridades. Esta é uma operação realizável, como afirma Viviane Forrester, porque afinal o ultraliberalismo nada tem de irreversível.
Notas
1 “Desemprego nos EUA é o maior em 4 anos.” Folha de S. Paulo, 8 set. 2001, p.B1.
2 FORRESTER, Viviane. O horror econômico. São Paulo: UNESP, 1997.
3 FORRESTER, Viviane.Uma estranha ditadura. São Paulo: UNESP, 2001, p.15.
4 Idem, p. 5.
5 HOBSBAWM, Eric. “A falência da democracia”. In Folha de S. Paulo. Caderno Mais!, 9 set. 2001, pp. 4-7.
Heloisa Helena Pacheco Cardoso – Universidade Federal de Uberlândia/ Projeto PROCAD.
[IF]A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia – BURKE (VH)
BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. REIS, José Carlos. Annales: a renovação da história. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1996. Resenha de: LOPES, Marcos Antonio. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 209-212, nov., 1998.
Dois livros tematicamente aparentados, e que quase se confundem pelo conteúdo de seus títulos. E as semelhanças não se esgotam nisso. A concepção geral das duas obras converge numa distribuição quase idêntica das matérias em análise. O período abordado e praticamente o mesmo. Os autores tencionam traçar um quadro amplo do desenvolvimento da chamada Escola dos Annales, desde os tempos de seus heréticos pais fundadores – pela explosão inovadora de suas idéias em meio a um ambiente intelectual conservador — Lucien Febvre e Marc Bloch, até o final da década de 80.
Na verdade, esta é a intenção maior de Burke e de Reis, que acabam por estender o que seria o projeto de uma história circunscrita dos Annales. Escrever uma história dos Annales partindo somente de seus fundadores seria fazer uma “história de pernas curtas”, como diria o próprio Lucien Febvre. Ao tentarem compreender o conteúdo “revolucionário” da história proposta por Febvre e Bloch, alargam o foco da pesquisa, descendo ao leito complexo do pensamento filosófico, da sociologia e da história, da forma corno eram concebidas estas disciplinas no século 19, o que Peter Burke chama – para esta última área – de “o Antigo Regime da historiografia”. Nesse percurso, Burke e Reis estabelecem as “genealogias”, febvriana e blochiana, identificando as raízes mais profundas das filiações teóricas e metodológicas dos fundadores, para explicar de que forma foram absorvidas e de que modo atuaram as influências recebidas em meio aos primeiros “debates e combates” travados na luta pela elaboração de uma história renovada.
Outra convergência dos textos: analisam as obras mais importantes, os maiores “monumentos” erguidos pelos Annales, como Os Reis Taumaturgos de Bloch, o problema da descrença (…) de Febvre, 0 Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo (…) de Braudel, Camponeses do Languedoc de Le Roy Ladurie, entre outros. Ambos percorrem as “três gerações” dos Annales, sendo que Reis pretende avançar este quadro, levando a pensar numa “Quarta geração” surgida do tournant critique de 1988.
Entretanto, apesar de algumas semelhanças de superfície, trata-se de textos acentuadamente distantes um do outro. Com efeito, as obras de Burke e Reis são ótimos exemplos de como pesquisadores que se debruçam sobre um mesmo objeto podem obter resultados desiguais, podem chegar a respostas convergentes ou divergentes, sem que necessariamente uma delas esteja incorreta ou deva ser refutada. Abandonadas as exageradas pretensões cientificistas na história, o que conta para um bom resultado da pesquisa é o seu “questionário”, ou seja, o programa do pesquisador, o grau de complexidade de suas perguntas, o amadurecirnento intelectual de seu projeto, como, a propósito, enfatiza Reis. Não que os dois trabalhos destoem quanto a qualidade e rigor, antes pelo contrário.
A diferença está em outra parte, isto é, no calibre da discussão, no fôlego e na disposição em discutir amplamente as matérias. Se os autores seguem um roteiro semelhante, corno foi ressaltado, existem sensíveis disparidades na estratégia de seu desenvolvimento. Não há dúvida de que o livro de Burke é mais leve, de leitura mais fácil, muito mais dinâmico e povoado de personagens que fizeram e ainda fazem a história da historiografia de nosso tempo. Por outro lado, o livro do professor Reis e mais te6rico, mais “sisudo”, e bem mais compacto. Acerca desse aspecto, vale ressaltar que aquilo que Burke discute em dois ou três parágrafos, de maneira quase alusiva, Reis desenvolve em diversas páginas. Para ficar em alguns poucos exemplos, basta comparar o tratamento que recebem as influências fecundas de Max Weber, Ernile Durkheirn, Frangois Simiand e Henri Berr. Em média, sete ou oito páginas de análise profunda de cada um!
Desse modo, seria o caso de indagar: em dois livros que têm propósito comum de informar sobre urna mesma questão, de onde vem o descompasso? A resposta para isso talvez possa ser encontrada no “espirito” de cada obra, na intenção de cada autor, naquilo que se refere ao público-alvo que eles tinham em mente corno destinatário de seus textos.
Ora, o livro de Peter Burke é quase urna obra de circunstancia, no sentido de se voltar claramente para o grande mercado editorial – no que, aliás, teve bastante êxito numa área em que, apesar da presença de alguns títulos consagrados, ainda há um considerável vazio de textos dessa natureza. Poder-se-ia objetar que o livro em questão foi publicado por urna editora universitária, preocupada em destinar obras de grande valor acadêmico para um público restrito. Contudo, a Editora da Unesp há anos já está inserida no circuito comercial das grandes editoras nacionais, desempenhando, diga-se de passagem, um papel brilhante.
Já o livro de Reis e extrato de tese, escrita para atender a uma rigorosa banca examinadora europeia, visto que seu trabalho foi defendido na Universidade Católica de Louvain, sem querer dizer com isto que as bancas nacionais sejam pouco rigorosas. E sobre este aspecto, o autor não se preocupou nem um pouco em “aliviar” o seu texto das necessárias mas sempre pouco agradáveis arestas acadêmicas, em destitui-lo de suas feições de tese, em esvazia-lo de pelo menos uma parte de sua densidade doutoral, premeditando atingir um público mais amplo, muito provavelmente desamparado de suficientes dados para digerir informações transmitidas num nível tão elevado. Limitou-se em nos conceder urna versão em português, incorporando as indigestas citações e refer8ncias bibliográficas no corpo do texto. Mas, pensando melhor, esta pode ser uma opção legitima do autor, que não faz concessões a certas “profanações”, igualmente legitimas, do grande mercado editorial. Se não conhecesse a história da obra, seus percalços e peripécias, teria sérias dúvidas de que editoras comerciais aceitassem publica-la, no formato corno se encontra pela Editora Universitária da UFOP.
Nesse ponto, a obra de Burke é mais feliz. Seu texto, sem a menor pretensão de desmerecer o livro, é material paradidático – com direito até a Glossário para aqueles que passaram por Francois Dosse, H. Coutau-Bergarie, Guy Bordé e Hervé Martin, sem esquecer o livro-dicionário organizado por Jacques Le Goff, Roger Chartier e Jacque Revel. Apesar de seu desenvolvimento quase telegráfico, ou melhor, o seu tratamento bastante ligeiro dos temas enfocados, o autor atinge seu principal objetivo: dar a conhecer o “regime” historiográfico que havia antes dos Annales, o impacto e a influência da obra de Febvre e de Bloch, a recepção internacional dos Annales, até fins dos anos 80, passando pelas “gerações” intermediarias em trajetórias breves mas muito bem tecidas, com destaque para a atuação e o lugar de Fernand Braudel.
E o que nos oferece o livro de Reis? o mesmo que a obra de Burke. Mas com analises mais extensas, o que não deixa de ser um importante diferencial. Um bom exemplo disso e o quadro que o autor traça sobre a “contaminação” da história pelas ciências sociais, e com vantagens sobre Burke, pois não se limita a estabelecer influencias e filiações te6ricas: explicita metódica e pormenorizadamente cada sistema teórico, para, ato continuo, identificar os seus pontos de enraizamento junto a história. Aí está com certeza, o seu maior mérito. Além de uma erudita exposição do desenvolvimento da historiografia francesa, o livro de Reis constitui-se ainda numa competente e bem informada aula de metodologia da história, posto que orienta sobre as especificidades da pesquisa histórica, suas dificuldades e riscos.
Apesar da identidade temática, de uma certa coincidência no desenvolvimento do texto, ‘bem como pela presença dos mesmos personagens e algumas referências bibliográficas cruzadas, as duas obras têm poucos traços em comum. Trata-se de pesquisas que chegam a resultados bem diferentes, porque desde seu ponto de partida perseguiram fins muito diversos. Acentua-se a disparidade principalmente porque são textos de níveis teóricos claramente distintos, o que para o leitor interessado nessa matéria e muito favorável: terá acesso a duas visões, a duas formas personalizadas de tratamento de um só problema. Mas, fora de qualquer dúvida, ao transformarem uma área importante da historiografia contemporânea em objeto de análise, tarefa sumamente espinhosa, cada trabalho desempenha com valor a sua meta: colaborar para a ampliação do conhecimento de um terna mais que relevante. Em síntese, dois livros inteligentes sobre uma questão a um só tempo complexa e fascinante.
Marcos Antonio Lopes – Departamento de História/ UNIOESTE-Pr.
[DR]
Poder e saúde: as epidemias e a formação dos serviços de saúde em São Paulo | Rodolpho Telarolli Júnior
Nas duas últimas décadas no Brasil, foram produzidos vários estudos históricos e sociológicos sobre o tema da saúde pública na Primeira República. Esses trabalhos tiveram fundamental importância no desenvolvimento da história da saúde e da ciência no país. Algumas dessas obras constituem leituras obrigatórias para este período de nossa história: os modelos econômicos e políticos, os movimentos pela reforma da saúde e seus líderes, as ideologias da ordem ou de mudança, os diferentes níveis de centralização ou descentralização do poder político, o processo político decisório que produziu instituições de saúde pública no Brasil. Por abordar alguns desses tópicos, Poder e saúde constitui, sem dúvida, uma contribuição importante à literatura republicana.
Rodolpho Telarolli Junior apresenta um estudo sobre a história da saúde pública na Primeira República, em especial, sobre o processo de criação de políticas públicas na área de saúde e a formação das práticas sanitárias no estado de São Paulo, no contexto mais amplo da organização política, econômica e social. Leia Mais
Expedição Langsdorff: acervo e fontes histórica | Boris Komissarov
O livro de Boris Komissarov se propõe a fazer uma apresentação, em língua portuguesa, das fontes disponíveis na Rússia sobre a Expedição Langsdorff, que percorreu o Brasil de 1822 a 1829 a serviço do império russo. Trata-se, essencialmente, do vasto material produzido pela expedição ao longo dos quase 17 mil quilômetros palmilhados pelo chefe do grupo, o barão Georg Heinrich von Langsdorff, então ministro plenipotenciário da Rússia no Brasil, e demais participantes: Nester Rubtsov (cartógrafo), Hercule Florence, Adrien Taunay e Moritz Rugendas (desenhistas), Ludwig Riedel (botânico) e Edouard Ménétriès (zoólogo e antropólogo).
De início, cabe elogiar a iniciativa do autor, da Associação Internacional de Estudos Langsdorff e da Editora da Unesp, ao tornarem disponíveis dados preciosos e por largo tempo desconhecidos dos pesquisadores brasileiros em função mesmo da história do acervo. Infelizmente, esse tipo de instrumento de pesquisa ainda é pouco freqüente entre nós. Leia Mais
As invenções da História. Ensaios sobre a representação do passado – BANN (RBH)
BANN, Stephen. As invenções da História. Ensaios sobre a representação do passado. Tradução de Flávia Villas-Boas. São Paulo: Editora da Unesp, 1994. 292p. Resenha de: SCHAPOCHNIK, Nelson. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.16, n.31/32, p.367-369, 1996.
Nelson Shapochnik – Universidade Estadual Paulista – Franca.
Acesso ao texto integral apenas pelo link original
[IF]


