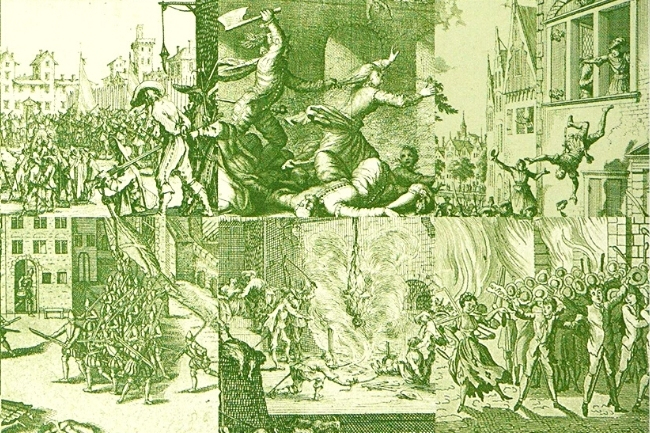Posts com a Tag ‘Resistência’
Existência e Resistências: História, Cultura e Sensibilidades/Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade/2023
A insurreição é da ordem da cólera e da alegria,
não da angústia ou do tédio.
Peter Pál Pelbart Leia Mais
La liberazione di Roma. Alleati e Resistenza | Gabriele Ranzato
Nel 1997, all’ingresso del ponte dell’industria, che collega i quartieri Ostiense e Marconi, il comune di Roma fece erigere una lapide in bronzo con l’iscrizione: «In ricordo delle dieci donne uccise dai nazifascisti il 7 aprile 1944». Questa lapide commemora il cosiddetto eccidio del ponte dell’industria, che è stato menzionato per la prima volta in un saggio di Cesare De Simone nel 1994 1. Secondo la sua ricostruzione SS e militari della Guardia Nazionale Repubblicana fucilarono sul ponte dieci donne che avevano assaltato un forno vicino. Lo storico Gabriele Ranzato nel suo recente libro La liberazione di Roma ha però messo in dubbio la veridicità dell’episodio2. Mentre la lapide c’è ancora oggi, i curatori dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, in seguito alla pubblicazione del volume di Ranzato, hanno inserito l’eccidio nella sezione «Episodi dubbi o controversi» 3. Leia Mais
A experiência zapatista. Rebeldia, resistência e autonomia | Jérôme Baschet
Jérôme Baschet | Imagem: Le Comptoir
ENTRE A PALAVRA-PENSAMENTO E A PALAVRA-AÇÃO ZAPATISTA: A BUSCA PELA AUTONOMIA
O levante zapatista tem sido uma forte experiência de luta indígena contra o esquecimento, o subjugo e a opressão colonial e capitalista, e a favor da autonomia, da memória e libertação coletiva entre os povos. A partir desta perspectiva, tem-se a proposta de construir um futuro e mundo em que todos caibam e seus próprios modos de vida em seus territórios. A insurgência zapatista, que ocupa o território mexicano desde 1994, tem como foco principal a construção de uma luta planetária a partir de um Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), hoje um movimento político de resistência e de luta comum pela causa indígena em uma organização comunitária e, por sua vez, o esforço de estabelecer redes planetárias de emancipação à dominação do capitalismo neoliberal, com uma renovada perspectiva do marxismo.
A experiência zapatista: rebeldia, resistência e autonomia, escrito pelo historiador Jérôme Baschet (2021), é também fruto de uma coletânea de obras sobre a insurgência do movimento zapatista, lançada pela N-1 Edições, cuja proposta do conjunto de obras é apresentar a experiência e a luta histórica zapatista e seu pensamento político e coletivo, a fenda que cria condições de possibilidades para um mundo justo e igualitário, uma fenda que está em permanente processo para abrir o “muro da história”, manter viva a memória e os modos de ser e estar no mundo a partir de diferentes modos de vida e temporalidades, na contramão daquelas impostas pelo capitalismo neoliberal. Por isso, como alerta Galeano (2021), “é preciso continuar sem descanso. Não apenas para aumentar a fenda, mas, sobretudo, para que ela não se feche” (Galeano, 2021, p. 31). Leia Mais
Como travar o fascismo. História, Ideologia, Resistência | Paul Mason
Paul Mason | Foto Antonio Zazueta Olmos
O músico e politólogo Paul Mason, além de professor convidado na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, atuou como jornalista em diversos meios de comunicação, do The Guardian ao Channel 4. Com diversos livros publicados, quase todos best-sellers no mercado editorial europeu e estadunidense, ficou amplamente conhecido pelos livros Pós-Capitalismo: Guia para o Futuro (2016) e Um Futuro Livre e Radioso (2019). Sua vida pública está envolta em controvérsias, dentre elas a defesa à política do aborto, no Reino Unido, e a declaração de que as políticas reprodutivas não deveriam ser ditadas pelo Vaticano. Mason foi também acusado de antissemitismo por ser membro de um grupo numa rede social que compartilhava postagens contra a comunidade judaica. Em sua defesa, alegou que embora fosse membro do grupo nas redes não endossava suas publicações. Seu novo livro – Como travar o Fascismo: História, Ideologia, Resistência, escrito no período de restrições impostas pela pandemia da Covid-19, foi originalmente publicado no final de 2021 e teve sua versão para português de Portugal lançada em abril de 2022.

Reformar y resistir. La Real Hacienda en Santafé/ 1739-180 | José Joaquín Pinto Bernal
La obra de Gabriel Ardant sobre los impuestos ha influido mucho en el desarrollo de la historia fiscal desde hace décadas, y el reciente libro de Pinto no escapa a su prestigio académico. Elaborada siguiendo los lineamientos básicos del autor francés, la lograda investigación del historiador José Joaquín Pinto sobre la fiscalidad en el distrito de la Caja Real de Santa Fe durante el virreinato (1739-1808), es un parteaguas en la historiografía fiscal neogranadina, porque viene a sacudir la manera de plantear problemas y de formular preguntas a cuerpos documentales ya transitados por otros autores, al tiempo que cuestiona tesis socorridas sobre el reformismo borbónico o el “crecimiento económico” del siglo XVIII neogranadino, porque, sostiene Pinto, se basan en tratamientos inadecuados de las fuentes.
La historiografía de los impuestos en el Nuevo Reino de Granada ha concentrado su atención en la organización institucional del erario (Clímaco Calderón y Ots Capdequí), el comportamiento cuantitativo del recaudo y el gasto (Óscar Rodríguez, Hermes Tovar y Adolfo Meisel), y los efectos sociales y políticos de los mandatos impositivos (Gilma Mora, Juan Friede y Mario Aguilera), por citar algunos autores de una tradición secular. El esfuerzo investigativo de Pinto consiguió integrar cada una de estas facetas del fisco en su libro, que son tratadas en capítulos independientes, con lo que el historiador logró brindar una interpretación más compleja y elaborada de la fiscalidad neogranadina dieciochesca y, sin proponérselo, trazar un programa de investigación que sin duda será replicado durante los años siguientes, tanto por sus estudiantes como por sus colegas. El modelo ardantiano de Pinto tiene tres momentos: la política fiscal (imposición, gasto, administración y control), sus resultados cuantificables (ingresos y egresos) y los no cuantificables (transformaciones en la sociedad y el Estado jurisdiccional). Leia Mais
Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano | Tomás A. Mantecón Movellán, Marina Torres Arce e Susana Truchuelo García
Detalhe de capa de Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano
1Hace ya unas décadas la renovación de la historia del conflicto urbano fue contemporánea a la de la integración de personas y grupos, a la del desarrollo de mecanismos disciplinarios o la de la reacción de las sociedades y de quienes integraban las instituciones contra las fuerzas políticas dominantes. La perspectiva desde la que se podían enfocar en el final del siglo XX estos procesos era diversa y también lo fueron sus raíces historiográficas e intelectuales (más allá de la cita, más o menos rutinaria y cansina, a Foucault o Bourdieu), pero lo cierto es que sí había un intento de ligar dichas dinámicas a una comprensión global de un mundo social y político moderno que se empezaba a percibir como menos mecánico de lo que se había pensado. Un celebrado texto de 2006 de Xavier Gil Pujol1 mostraba cómo precisamente el estudio de la indisciplina había abandonado el recurso de ser la panacea para identificar movimientos sociales y se había convertido en un eficaz instrumento para evaluar dinámicas sociopolíticas muy complejas en la que los actores se adaptaban y negociaban su posición recurriendo en parte, pero sólo en parte, a una violencia explícita que en general se combinaba con otras formas de una negociación que no tenía que conllevar un consenso estable, ni fundarse en una simetría entre las partes; pero que, no por esos límites, dejaba de aunar voluntades y de generar o regenerar las bases sociales sobre las que se asentaba la dominación. Así pues, si el conflicto era muchas cosas, tiene múltiples representaciones y era apropiado por vías diversas, era bueno ubicarlo en la etiología misma de la práctica social y política, pero hacerlo de forma no unitaria, sino plural, lo que llamaba a la necesidad de diversificar las aproximaciones y comprender mejor sus ámbitos, sus implicaciones culturales y a sus protagonistas. Y este libro responde a todo ello. Leia Mais
Antifascismo/guerra e Resistenze in Maremma | Stefano Campagna, Adolfo Turbanti
Con questo volume l’Istituto storico grossetano per la Resistenza e l’Età contemporanea (ISGREC)1, a quasi trent’anni dalla sua fondazione, realizza un «obiettivo che era insito nella sua stessa natura»2, proponendo alla cittadinanza e agli specialisti del settore un lavoro storiografico sulla Resistenza in provincia di Grosseto. Come anticipato dal titolo, i dieci mesi di occupazione tedesca rappresentano solo una parte nell’economia del volume, che affronta i nodi storiografici legati alla guerra ed alla Resistenza alla luce di una lettura di lungo periodo, attenta alle tradizioni politiche della provincia ed alla sussistenza di fragili reti antifasciste durante il regime. Tale impostazione si sposa con una scelta metodologica in linea con l’evoluzione dell’interpretazione storica sulla Resistenza. Leia Mais
Weapons of the Weak: everyday forms of Peasant Resistance || Domination and the Arts of Resistance: hidden transcritos | James C. Scott
Infelizmente, a obra de James C. Scott ainda é pouco conhecida entre os historiadores brasileiros. Seus trabalhos nem sequer foram traduzidos, o que demonstra o parco interesse editorial. No entanto, as temáticas levantadas em seus estudos convergem intimamente com os interesses de pesquisa desenvolvidos no Brasil, especialmente nos programas de pós-graduação em História.
Pesquisas sobre resistência dos trabalhadores de variadas origens e condições, assim como sobre movimentos sociais, consistem em uma importante vertente atual dos interesses teóricos e políticos dos historiadores. Pode-se afirmar que esta tendência afirma-se particularmente entre os historiadores acadêmicos, que, em suas teses e dissertações, buscam reatar o fio perdido das lutas sociais obscurecidas pela propaganda neoliberal pós-Guerra Fria. De fato, os programas de pós-graduação e muitos cursos de graduação em História aglutinam cada vez mais seus focos de interesse temático dentro de uma linha teórica/metodológica que se convencionou chamar de História Social. Muito embora a advertência de que a história é inteiramente social por definição não tenha sido esquecida, há uma certa ênfase nessa especificação “social” que reafirma o lugar da política no interior dos estudos históricos, ao mesmo tempo em que amplia este conceito de modo a permitir análises que extrapolam a tradicional referência ao Estado como relação primordial ou central que configurava os estudos de História Política. Leia Mais
Dictadura y resistencia. La prensa clandestina y del exilio frente a la propaganda del Estado en la dictadura uruguaya (1973-1984) | Gerardo Albistur, Analía Passarini, Álvaro Sosa e Maximiliano BAsile
Este libro, producto de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República ejecutado entre 2017 y 2019 y titulado 1973-1984. La propaganda oficial del Estado y el discurso clandestino. Análisis de una oposición en dictadura para el debate actual sobre la democracia uruguaya, observa las formas que adoptan los fenómenos comunicacionales en contextos no democráticos, concretamente la propaganda oficial y la prensa de oposición que funcionó dentro y fuera de fronteras el marco de la última dictadura civil-militar.
No se define como un trabajo «político y comunicacional» ni tampoco como historiográfico, sino que pretende observar, por un lado, «el ejercicio del poder ideológico de manera absoluta» (la propaganda) y «la resistencia que oponen los discursos prohibidos» (la prensa clandestina). El planteo básico del libro es que, en democracia, pese a no funcionar idealmente, existen libertades que permiten el debate público, mientras que bajo gobiernos dictatoriales ese debate se anula, lo cual trastoca las formas de comunicación. En el caso uruguayo, la propaganda oficial, la prohibición de la circulación de discursos antagónicos, la vigilancia de las manifestaciones artísticas y culturales provocaron la aparición de una serie de publicaciones clandestinas, netamente políticas, que relevaron a los medios clausurados. Leia Mais
The Hundred Year´s War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance | Rashid Khalidi
A potente introdução de Rashid Khalidi neste livro, intitulado The Hundred Year´s War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance, em tradução livre, A Guerra de Cem Anos na Palestina: Uma História de Conquista Colonial e Resistência, demonstra elementos relevantes para a compreensão histórica da Palestina, ao mesmo tempo em que fundamenta questões historiográficas para o estudo da temática. Rashid Ismail Khalidi, palestino nascido em Nova Iorque em 1948, consolida-se como um dos maiores especialistas da área, atualmente ocupante da cadeira de Edward Said, professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, na área de Estudos Árabes. Autor de diversos livros e artigos que tratam da construção nacional palestina, Khalidi inova ao propor, como enfatiza, uma produção de pesquisa acadêmica junto às reflexões em primeira pessoa, ao incorporar lembranças de eventos que presenciou, bem como registros materiais, como fotografias e documentos, pertencentes a ele e a sua família. Ao abandonar a impessoalidade da escrita acadêmica, o historiador palestino aproxima o/a leitora/a à compreensão de momentos decisivos da história palestina contemporânea, traçando a importância testemunhal de sua família em diversas situações – como, por exemplo, a troca de correspondências entre seu tio Yusuf Diya al-Din Pasha alKhalidi e Theodore Herzl, fundador do Sionismo. Ao delinear essas relações, no entanto, o autor ressalta que a sua história não é única, mas compartilhada por milhares de palestinos/as.
Do ponto de vista historiográfico, o livro traz novas dimensões ao propor, para cada um dos seis capítulos, o que denomina de pontos de inflexão (turning points), ou eventos, analisando os elementos que considera centrais para a conformação desta temporalidade de acontecimentos nos últimos cem anos da história da Palestina. Seguindo a sua proposta, Khalidi inicia a periodização a partir da Declaração de Balfour, de 1917, situando que este documento marca a delineação, de fato, do futuro Estado de Israel, com apoio da Inglaterra. Nesse sentido, no primeiro capítulo, intitulado The First Declaration of War, 1917-1939, ou A Primeira Declaração de Guerra, 1917-1939, o autor ressalta que na Declaração não há qualquer menção aos termos ‘árabes’ e ‘palestinos’ para se referir à comunidade existente, ainda que esta, naquele momento, fosse de aproximadamente 94% da população total do território (p. 24). Em suma, a Declaração solidificou um discurso que reconhecia apenas a comunidade judaica, concluindo que o não reconhecimento da população nativa esteve na base da política e da ‘questão’ da Palestina, além de concebê-la como amorfa e a-histórica. Leia Mais
Rastros de Resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Ale Santos
Alê Santos é um escritor e roteirista que, apesar de ter dado passos importantes em sua carreira, teve notoriedade por meio das redes sociais. Tal fato, certamente, não é demérito algum, mas a constatação de um movimento, bastante comum nos últimos anos: a ascensão proporcionada pela internet. Por meio de uma thread2, sobre o genocídio promovido pelo Rei Leopoldo no Congo, enquanto o país era ainda uma colônia belga, o autor ganhou enorme visibilidade chegando a um milhão de visualizações somente com esse tópico, cifra essa que foi superada várias vezes na medida em que ia melhorando a pesquisa e as informações compartilhadas. Leia Mais
Lições de resistência: artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro | Ligia Fonseca Ferreira
Desde o século XIX, Luiz Gama insiste em nos provocar com Lições de resistência. Gama foi escravizado, conquistou a alforria, foi reconhecido como intelectual conceituado já no seu tempo, enquanto se tornava um dos principais personagens do movimento abolicionista. As suas ideias e o seu empenho como jornalista e rábula na defesa da liberdade dos escravizados o transformaram numa referência incontornável da luta pela igualdade racial ainda nos dias de hoje. Em tempos de aprofundamento das desigualdades, Luiz Gama, negro, abolicionista e republicano continua a ser um farol para quem aspira por justiça e, por isso, mantém-se entre os autores brasileiros mais lidos, seja como literato ou como ativista engajado no campo do direito. Leia Mais
La resistencia de las mujeres en gobiernos autoritarios: Argentina y Brasil/1955-1968 | Paula Lenguita
No hace tanto que las ciencias sociales comenzaron a otorgarles voz a los trabajadores que resistieron a las dictaduras militares en Latinoamérica. Menos aún, que la mirada transaccional de género permitió correr el velo a esa historia en masculino para comenzar, trabajosamente, a recuperar del silencio las voces de las mujeres que fueron parte ineludible de aquellas resistencias. “La resistencia de las mujeres en gobiernos autoritarios” es, en este sentido, un coro de mujeres que ahora son parte de esta otra historia de las resistencias a los gobiernos autoritarios en Argentina y Brasil. Porque esta es una historia “en paralelo”, fragmentaria y atrapante: “una historia poco conocida, en plural y en femenino, que condice pocas veces con otras más ampliamente desplegadas, pero que sin dudas es necesario reivindicar para no continuar acallando la voz de las mujeres que se opusieron a las dictaduras latinoamericanas.” (Lenguita, 2020). Este libro tiene un antecedente en otra obra colectiva editada por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (Lenguita, 2018) y es el resultado de la Reunión Científica: “Seminario Internacional Tradiciones Obreras Latinoamericanas”, producto del patrocinio del Subsidio para la Organización de Eventos en Ciencia y Tecnología del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas de Argentina (2019-2020). En sus páginas se recuperan biografías, voces y trayectorias de mujeres que ocuparon roles y posiciones de relevancia para comprender en todo su espesor las resistencias a las dictaduras en Argentina y Brasil. Este objetivo ordena la temporalidad de la obra: “no será la ruptura del orden democrático sino los períodos establecidos por la experiencia opositora de las mujeres los que ordenan la estructura argumental del libro”. Este abordaje comprometido y con una temporalidad propia permite un análisis enriquecido de la represión sexista en contextos de gobiernos autoritarios donde la dimensión represiva adquiere una saña, profundidad y crueldad específica hacia las mujeres. Pero, además, estos testimonios emergen del trabajo sobre un doble silenciamiento: el impuesto por el régimen dictatorial y el impuesto por el orden patriarcal. El saldo, doloroso y necesario, es una historia de la represión sexista que tiene como protagonistas tanto a los regímenes autoritarios como a los propios compañeros de militancia. El libro se divide en cuatro secciones que agrupan los siete capítulos que lo componen. La sección “Obreras metalúrgicas ante el golpismo” contiene los dos primeros capítulos. El primero, “Trabajadoras metalúrgicas en la resistencia peronista. Una mirada a partir de una fábrica: Philips Argentina, 1955-1958” de Darío Dawyd aborda las relaciones de género en la resistencia peronista desde el mundo fabril, realizando un primer recorrido desde el caso de la Fabrica Philips Argentina con el objetivo de incluir a mujeres de una fábrica metalúrgica y la cuestión de género en los relatos de la resistencia peronista desde espacios fabriles. Aborda la problemática de la equiparación del salario entre hombres y mujeres; la participación de mujeres en acciones violentas; la calificación de las obreras y la división de género en la fábrica. A través del análisis de estas dimensiones en el lugar de trabajo se describe de qué forma las mujeres participaron, cuando la represión arreciaba y los riesgos también, poniendo el cuerpo en ese tiempo de rebeldías. El segundo capítulo, “Operárias e comunistas: memórias da militância política e da resistência contra a ditadura militar” de Carolina Dellamore analiza el desempeño de un grupo de trabajadoras del sector metalúrgico en la Ciudad Industrial de Contagem / MG, entre el golpe cívico-militar de 1964 y la huelgas metalúrgicas de 1968, un acontecimiento importante que aún hoy moviliza memorias locales. A través de entrevistas de historia oral a dos trabajadoras metalúrgicas, Efigênia Maria de Oliveira y Conceição Immaculada de Oliveira (integrantes del Partido Comunista Brasileño y de la Corriente Revolucionaria que se desprende de aquél en 1967) examina el movimiento obrero en el contexto de la dictadura militar desde el análisis de los significados que dan a esta experiencia las trabajadoras. La segunda sección “Misoginia de la violencia represiva”, la inaugura el tercer capítulo “Las mujeres de la resistencia peronista bajo la mirada represiva (1955-1966)” de Anabella Gorza. Con el objetivo de reconstruir una historia de las mujeres en la resistencia peronista en las décadas de 1950 y 1960 centra la mirada en un tipo de fuente específica: los documentos que fueron producidos por los aparatos represivos: los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y las sentencias del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA), dictadas en el marco del plan CONINTES. Las fuentes de la represión evidencian diferentes formas de apropiación y ejercicio de la política por parte de las mujeres, así como ciertas transgresiones a los roles de género prescriptos a mediados del siglo XX. Concluye que la represión convierte las acciones documentadas en los archivos en “actos de rebeldía” en cuanto su presencia evidencia un desafío el orden anhelado por las fuerzas de vigilancia. Leia Mais
Resistencia y negociación. Milicias guaraníes, jesuitas y cambios socioeconómicos en la frontera del imperio global hispánico: ss. XVII-XVIII | Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer
Las misiones jesuíticas del Paraguay constituyen un tópico privilegiado del estudio de la historia colonial americana. Desde los inicios mismos de su conformación en el siglo XVII, tanto defensores como detractores de la Compañía de Jesús han escrito y difundido alrededor del globo todo tipo de relatos sobre ellas. La historiografía de los siglos XIX y XX volvió una y otra vez sobre esas historias – que se convirtieron en fuentes esenciales para la investigación sobre dichas misiones – impulsadas por preguntas estimulantes desde las más diversas miradas, pero siempre como un caso emblemático de la interacción entre colonizados y colonizadores. En esta oportunidad, Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer estudia el accionar de las milicias guaraníes en relación con la Compañía de Jesús y las autoridades de la Monarquía hispánica entre los siglos XVII y XVIII.
El autor de Resistencia y Negociación. Milicias guaraníes, jesuitas y cambios socioeconómicos en la frontera del imperio global hispánico, ss. XVII-XVIII cursó sus estudios de grado en Historia en la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina) y de posgrado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Este libro es producto de su tesis doctoral dirigida por Bartolomé Yun Casalilla, quien en el prólogo destaca las preguntas generales que guiaron la investigación sobre las formas de gobierno de los imperios ibéricos y cómo, a partir de allí, Svriz pudo analizar un caso local como parte de un proceso mayor con alcance global. Leia Mais
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (HU)
ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 376 p. Resenha de: CODARIN, Higor. “Resistencialismo” e resistência: as tensões entre história e memória. História Unisinos 24(2):334-337, Maio/Agosto 2020.
A trajetória intelectual da historiadora Denise Rollemberg, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), é indissociável das temáticas, das tensões e dos dilemas envolvendo o passado recente, em específico relacionado às experiências autoritárias ao redor do globo, ao longo do século XX. Em um primeiro momento, sua produção acadêmica edificou-se através de análises consistentes a respeito dos caminhos e descaminhos das esquerdas brasileiras diante da ditadura civil-militar, seja a partir da construção analítica a respeito da perspectiva de revolução difundida por essas esquerdas, ou pela vigorosa análise a respeito do exílio experimentado por esses militantes ao longo da ditadura.2 Contudo, a partir de então, a historiadora, influenciada por parte da historiografia francesa empenhada em renovar as análises a respeito da resistência à ocupação nazista e/ou em relação à construção social do regime instaurado em Vichy, das quais falaremos adiante, passa a centrar seus esforços em outros aspectos dos regimes autoritários, buscando iluminar sua compreensão através de duas linhas centrais: por um lado, de que modo esses regimes foram construídos socialmente e se mantiveram por longos anos? Por outro, e de modo mais importante para o objetivo desta resenha, como se relacionam memória e história na construção do conhecimento a respeito dessas experiências? Mais especificamente: de que modo a construção da memória coletiva sobre esses regimes buscou criar oposições binárias entre Estado e Sociedade, sedimentando a perspectiva de sociedades oprimidas, manipuladas e, sobretudo, resistentes a esses regimes? Confirmação dessa nova vereda analítica são as obras organizadas em conjunto com a também historiadora da UFF Samantha Quadrat – A construção social dos regimes autoritários (2010); História e memória das ditaduras do século XX (2015) – e Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália (2016).
Neste que é seu mais recente livro, Rollemberg busca, como objetivo central, analisar o movimento de constante construção e desconstrução dos discursos memoriais a respeito das experiências de resistência francesa e italiana às ocupações nazistas que ocorreram durante a II Guerra Mundial. Dividido em cinco capítulos, Resistência parte de um consistente balanço historiográfico indicativo dos esforços e das dificuldades em conceituar o termo “resistência” (capítulo 1), para, em seguida, passar ao exercício analítico de sua ampla gama de fontes: os museus e memoriais franceses (capítulo 2), as cartas de despedida dos resistentes e reféns fuzilados (capítulo 3), que constroem a primeira parte do livro, dedicada à França, e, por fim, os museus e memoriais italianos (capítulo 4), com especial destaque à construção da memória e historiografia a respeito da trajetória da família Cervi, e do fuzilamento dos sete irmãos – os Sette Fratelli – integrantes da Resistência3 italiana (capítulo 5).
De modo inicial, é importante ressaltar, Rollemberg indica que as populações dos países ocupados “experimentaram comportamentos que variaram de país para país, ao longo do tempo, num amplo campo de possibilidades desde a colaboração mais aguerrida com os vencedores até a resistência mais combativa” (Rollemberg, 2016, p. 17). Nessa perspectiva, a autora, como cerne da argumentação que permeia todo o livro, busca desconstruir não apenas a visão maniqueísta entre Estado e Sociedade, conforme citamos anteriormente, mas também a visão que opõe, drasticamente, resistentes e colaboradores, como se resistir ou colaborar fossem as únicas possibilidades de atuação dentro desses contextos históricos. Para isso, inspira-se, essencialmente, no historiador Pierre Laborie, mais especificamente em seus conceitos de zona cinzenta e pensar-duplo, que realçam o amplo espaço de atuação entre os dois polos, marcado por contradições e ambivalências.4 Enveredando pela discussão conceitual, a autora busca explicitar que as experiências variadas de país para país deram origem, também, a conceituações diferentes. Assim, distingue as discussões historiográficas realizadas na França, Itália e Alemanha.
Sobre a França, campo com que Rollemberg tem maior familiaridade, a discussão é robusta. Demonstra, como prelúdio, que logo após o fim da ocupação, 1944, o termo resistência iniciou um processo de naturalização no seio da sociedade francesa, por intermédio da memória oficial que ia sendo desenvolvida pelo governo surgido do processo de libertação, comandado por Charles de Gaulle.
Criava-se, então, o mito da resistência, ou “resistencialismo”, no neologismo de Henry Rousso (2012). Ou seja, o mito de que a sociedade francesa havia, em sua totalidade, resistido aos alemães e ao governo instaurado em Vichy, sob o comando de Philippe Petain. Por muitos anos, o termo ficou sob o domínio dessa memória, estando fora dos objetivos e anseios dos historiadores. Realizando uma genealogia do conceito, a historiadora demonstra que a historiografia francesa se voltou à “resistência” apenas em 1962, com a tese de Henri Michel, que abre os debates acadêmicos a respeito do termo, ainda sob forte influência do processo de mitificação. Contudo, é com o livro de Robert Paxton, Vichy France (1972), que há uma guinada no debate. A revolução paxtoniana, como ficou conhecido o impacto da tese de Paxton, abriu novas temáticas e interpretações, pois deu início a uma corrente historiográfica indicativa de que o Estado de Vichy era produto da própria sociedade francesa e não uma marionete da Alemanha de Hitler. Iniciava-se, portanto, o processo historiográfico de problematização do mito da resistência.
Passeando com propriedade pelas contribuições de François Bédarida, Pierre Azéma, Pierre Laborie, Jacques Sémelin, François Marcot, Henry Rousso e Denis Peschanski, a historiadora apresenta, de forma nítida, reflexões a respeito da criação do mito de resistência como “necessidade social” (Rollemberg, 2016, p. 33) e, sobretudo, tentativas de conceituar o termo. Em uma diversidade de propostas de conceituação que, conforme diz a própria autora, engolfam-se, por vezes, em “excessivas filigranas e retórica” (Rollemberg, 2016, p. 37), vemos emergir a problemática fundamental do debate: resistência é apenas expressão coletiva, consciente, organizada e clandestina contra um invasor estrangeiro, como propõem alguns autores, ou também podem ser considerados resistentes as expressões individuais, cotidianas e anônimas, seja contra o regime alemão instaurado na zona ocupada ou contra o regime de Vichy? Cria-se, assim, um dilema, bem sintetizado por Jacques Sémelin: “ou bem se mergulha nas profundezas do social, mas sua especificidade [da resistência] tende a se diluir; ou bem se define exclusivamente através de suas [da resistência] estruturas e ações e ele se reduz à sua dimensão organizada” (Rollemberg, 2016, p. 32). Apesar de parecer intransponível, a historiadora apresenta um caminho possível para sua resolução, demonstrando a importância das propostas teóricas de Laborie para sua análise: A zona cinzenta, o pensar duplo, o homem duplo, segundo a perspectiva de Pierre Laborie que considera comportamentos ambivalentes nuançados entre resistir e colaborar, por outro lado, talvez seja a solução para o impasse levantado por Sémelin (Rollemberg, 2016, p. 148).
Seja como for, adotando-se ou não as posições de Laborie para resolver o impasse sintetizado por Sémelin, o exercício reflexivo que o desencadeou, segundo Rollemberg, demonstra, per se, a importância e a necessidade de reflexão a respeito do conceito de resistência, pois concei tuá-la “é mais lidar com as possibilidades e os limites das próprias definições, aproveitando as tensões e riquezas que são intrínsecas ao dilema observado por Sémelin, do que buscar resolvê-lo” (Rollemberg, 2016, p. 37).
Para o caso italiano, a discussão é menos densa. Segundo a autora, isso se deve ao fato de que para a historiografia italiana importa menos definir “o que foi e o que não foi resistir”, centrando os esforços, em contrapartida, no “papel de seus atores, principalmente das lideranças ou de militantes destacados” (Rollemberg, 2016, p. 47). Apesar da não importância da conceituação, a historiadora alerta que as contribuições historiográficas têm buscado desconstruir, também, o mito da resistência.
Por fim, finalizando o primeiro capítulo, está a reflexão a respeito do conceito de resistência proposto pela historiografia alemã. Rollemberg oferece destaque à definição proposta por Martin Broszat. Esta, ao contrário de utilizar o termo resistência (Widerstand), prefere utilizar Resistenz, cuja tradução é imunidade, termo devedor da biologia, que diz respeito a “reações espontâneas e naturais dos organismos vivos a micro-organismos como vírus e bactérias” (Rollemberg, 2016, p. 52). Assim, com essa nova definição, procurou-se jogar luz sobre a “resistência a partir de baixo”, como bem sintetizou Klaus-Jürgen Müller a respeito da definição proposta por Broszat.
Nos capítulos seguintes, sejam relacionados ao contexto francês ou italiano, notamos, com clareza, dois aspectos predominantes: por um lado, o esforço analítico da autora, buscando demonstrar e desenvolver as relações tensas e mutáveis entre história e memória, por intermédio, essencialmente, dos museus e memoriais como corpus documentais de análise. Por outro, o realce e a recorrência, ao longo de todo o texto, na importância de compreender as ações dos sujeitos que fizeram parte desse processo histórico a partir de suas ambivalências e contradições, buscando problematizar as visões romantizadas e heroicizadas construídas sobre esses indivíduos. Assim, a historiadora reforça a necessidade de compreendê-los sem operar distinções binárias e estéreis. Nas palavras da própria Rollemberg a respeito da criação de museus e homenagens aos resistentes:
A homenagem precisa incorporar a complexidade, as contradições, as ambivalências da realidade. A produção do conhecimento, resultado da incorporação das múltiplas dimensões dos acontecimentos e dos homens e mulheres neles envolvidos, submetidas à interpretação crítica, é a melhor homenagem que se possa fazer. A sacralização da memória afasta o herói de todos nós, condena-o ao desconhecimento, mesmo que inúmeros museus e memoriais sejam erguidos em seu nome (Rollemberg, 2016, p. 97).
Portanto, perseguindo essa trilha, Rollemberg empreende uma análise ampla acerca de 15 museus/memoriais ao redor da França, 130 cartas de resistentes ou reféns5 prestes a serem fuzilados e, por fim, analisa oito museus/memoriais italianos. É digno de nota demonstrar a metodologia empregada pela historiadora na construção dos museus/memoriais como corpus documentais para discussão das questões propostas na obra. Seguindo a senda proposta por Jacques Le Goff, a respeito do conceito documento/monumento6, a historiadora compreende a criação e, consequentemente, os próprios museus/memoriais através dessa dinâmica. Assim, a disposição dos museus/memoriais, os locais onde foram construídos, seus acervos, suas narrativas, dinâmicas e relações com o poder público são importantes ao olhar analítico da autora.
Todos os aspectos, constituintes da criação e perpetuação dos museus/memoriais, são vistos como esforços “das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si própria” (Rollemberg, 2016, p. 90). Outrossim, constatando que os museus/memoriais são criados com uma dupla-função, informativa e comemorativa, a historiadora compreende- os como espaços privilegiados de manifestação das tensões entre história e memória, analisando, assim, de que modo esses espaços incorporam ou recusam os avanços e novos temas propostos pela historiografia (Rollemberg, 2016, p. 90).
Sobre a França, vale ressaltar que a autora deslinda de que modo foi construído o “resistencialismo”. Apresenta a importância da memória nesse processo, a memória como construção social, como maneira de “lidar com a história, reconstruindo-a” (p. 84), formulada no período pós-ocupação, “comportando a lembrança, o esquecimento, o silêncio” (Rollemberg, 2016, p. 84), como aponta Beatriz Sarlo (2007), a memória como captura do passado pelo presente; o mito da resistência, o mito que explica a ausência, ao menos na grande maioria dos museus, de informações a respeito da colaboração dos franceses com os nazistas e com o regime de Vichy; o “resistencialismo” tornando ausente das narrativas dos museus “a zona cinzenta, o pensar duplo, a ambivalência” (Rollemberg, 2016, p. 142).
Com relação à Itália, deve-se atentar para a valiosa trilha percorrida pela historiadora ao confrontar a história e a memória do caso dos Sette Fratelli. Realizando uma genealogia da criação do mito, que remonta a dois textos de Italo Calvino publicados em 1953 (Rollemberg, 2016, p. 335), Rollemberg expõe as relações de legitimação dos mais diversos setores da sociedade italiana com a criação e manutenção de uma narrativa romantizada acerca dos sete irmãos fuzilados em 1943. Aponta não apenas para a necessidade do Partido Comunista Italiano (PCI) em vincular- se à história dos irmãos, mas, também, a necessidade do próprio governo italiano, simbolizado na recepção de Alcide Cervi, pai dos sete irmãos, pelo primeiro presidente eleito pós-ocupação, Luigi Enaudi, em 1954, no Palácio Quirinale, em Roma, além de diversas medalhas de honra que Alcide recebeu como representante dos filhos (Rollemberg, 2016, p. 318). A história dos irmãos resistentes e, consequentemente, da superação do sofrimento de um pai que teve a família devastada como símbolos da história italiana recriada pela memória, a Itália resistente, a exemplo dos sete irmãos, livre do nazifascismo, que buscava superar o sofrimento, como Aldo Cervi buscava superar a perda dos filhos.
Resistência, portanto, cumpre os objetivos a que se propõe, descortinando as relações problemáticas e, ao mesmo tempo, férteis entre história e memória em meio à construção da memória coletiva na França e na Itália a respeito das ocupações nazistas ao longo da II Guerra Mundial. Mais do que isso, o livro da historiadora é um interessante ponto de vista metodológico para os interessados em compreender as complicadas questões vinculadas à História do Tempo Presente.7 Se vivemos, como aponta o historiador François Hartog (2017), um regime de historicidade presentista, em que a Memória busca destronar a História de seu lugar privilegiado como intérprete hegemônica do passado, Resistência é uma contribuição fundamental à historiografia brasileira para aqueles que buscam fugir às armadilhas da Memória, que opera, na maioria das vezes, por intermédio de uma cultura binária de demonização ou sacralização de indivíduos e/ ou períodos históricos. Rollemberg, portanto, em seu novo caminho analítico, do qual Resistência é a reflexão mais profunda até o presente momento, apresenta os desafios dos historiadores que trilham as temáticas envolvendo experiências sociais traumáticas do passado recente. Ao buscar recolocar os personagens em seus respectivos contextos históricos, questionando as construções memoriais e realçando a importância de lançarmos luz às zonas cinzentas, contradições e ambivalências dos sujeitos históricos, a autora deixa-nos – aos historiadores – um sinal de alerta: o dever do historiador é compreender o passado, não o mitificar.
Referências
HARTOG, F. 2017. Crer em História. Belo Horizonte, Autêntica, 252 p.
LABORIE, P. 2010. 1940-1944: Os franceses do pensar-duplo. In: S.
QUADRAT; D. ROLLEMBERG (org.), A construção social dos regimes autoritários: vol. I, Europa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 31-44.
LE GOFF, J. 2013. História e Memória. 7ª ed. Campinas, Editora da Unicamp, 504 p.
PAXTON, R. 1973. La France de Vichy. Paris, Seuil, 475 p.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2010. A construção social dos regimes autoritários. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 3 vols.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2015. História e memória das ditaduras do século XX. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2 vols.
ROLLEMBERG, D. 2000. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro, Record, 375 p.
ROLLEMBERG, D. 2016. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo, Alameda Editorial, 376 p.
ROUSSO, H. 2012. Le Régime de Vichy. 2ª ed. Paris, PUF, 128 p.
ROUSSO, H. 2016. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro, Editora FGV, 341 p.
SARLO. B. 2007. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo, Companhia das Letras / Belo Horizonte, Editora da UFMG, 129 p.
2 Referimo-nos aqui, respectivamente, à sua dissertação de mestrado (A ideia de revolução: da luta armada ao fim do exílio (1961-1979)) e à tese de doutorado (Exílio. Entre raízes e radares), esta última publicada pela Editora Record (1999).
3 O termo Resistência, com letra maiúscula, consolidou-se na historiografia como modo de referir-se a posições e ações ligadas a organizações, partidos e movimentos (p. 175).
4 Para maior aprofundamento a respeito dos conceitos, cf. Laborie (2010).
5 “Reféns” denominam-se os indivíduos presos, seja na França ocupada ou na França de Vichy, em represália às ações da Resistência.
6 Para maiores detalhes, cf. Le Goff (2013).
Higor Codarin – Universidade Federal Fluminense. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n. 24210-201 Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Número do processo: E-26/201.860/2019. E-mail: [email protected].
História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República) | Dayane Nascimento Sobreira e Júlio Ernesto Souza Oliveira e Rafael Sancho Carvalho Silva
Obra organizada por Dayane Nascimento Sobreira, Júlio Ernesto Souza Oliveira e Rafael Sancho Carvalho Silva, o livro História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República) apresenta as recentes discussões realizadas na I Jornada de História Agrária: Conflitos e Resistências na Construção da Nação, evento que ocorreu na Universidade Federal da Bahia (UFBA) entre os dias 10 e 11 de 2019. O colóquio foi organizado pela equipe do GT História Agrária da Bahia (HISTAGRO).
Analisando processos históricos de luta pela terra, partindo da ruralidade como eixo de análise, o livro se propõe a discutir a História do Brasil através de dimensões de violência e resistência que são constitutivas dos conflitos agrários, observando tais conflitos em suas múltiplas especificidades nos períodos imperial e republicano brasileiro. Dividida em quatro partes, a obra aborda a História Agrária como um campo plural em suas possibilidades de estudo e pesquisa. Os textos discutem a História Agrária a partir de relações fundiárias, étnico-raciais, de gênero e de trabalho, com reflexões teórico-metodológicas que contribuem para o campo da História Agrária e Rural da Bahia. Leia Mais
Beyond Freedom: Disrupting the History of Emancipation – BLIGHT; DOWNS (TH-JM)
BLIGHT, David W.; DOWNS, Jim. eds. Beyond Freedom: Disrupting the History of Emancipation. Athens, GA: The University of Georgia Press, 2017. 190p. Resenha de: GIFFORD, Ron. Teaching History – A Journal of Methods, v.45, n.2, p.57-60, 2020.
Students of Emancipation need no better reason to pick up Beyond Freedom than it emerged from a 2011 conference held at the Gilder-Lehrman Center for the Study of Slavery, Resistance, and Abolition, of which David Blight is now the director, and has chapters by a veritable who’s who in Emancipation Studies. It is also a thoughtful reminder that historians are continually grappling with what freedom was in the nineteenth century, who defined it, and whether it was enough to make a difference in African Americans’ lives.
The title might seem misleading to many readers, as the book is entirely about emancipation; however, the subtitle clarifies that historians are trying to disrupt the “freedom paradigm,” which focused on freedom in zero sum fashion, by emphasizing the painful process of emancipation, and in the process abandoning the traditional periodization and adopting different lenses to analyze the citizen’s relationship to the state. In sum, the authors remind us, emancipation was messy, it was never preordained to end in perfect freedom, and Black voices, freed and enslaved, still offer the best avenue to revise our understanding of emancipation, its promises, and its limits.
The collection is organized in three parts, though one could argue there should only be two: those pieces written in a traditional academic format and those written as ruminations on how historians have failed to adequately interrogate the sources, at best, or have ignored or misused the terror and suffering Black people faced in the nineteenth century. Parts one and two, “From Slavery to Freedom” and “The Politics of Freedom,” take the more traditional approach and emphasize a process of emancipation that was not restricted to the period following the Civil War and was anything but progressive. According to Richard Newman, Black emancipation and responses to it during Reconstruction took place in the wake of earlier emancipations, in and beyond the United States. As a result, Black and White Americans alike were familiar with the “grammar” of emancipation and understood this was not a story with a preordained conclusion. As a result, we need to apply different lenses that challenge the when, where, and how emancipation happened. More importantly, we need to recognize Black people—enslaved and free, male or female, adult or child—as “fully realized political people” (27). If we do so, a more complex and less celebratory portrait of emancipation emerges. Part three, “Meditations on the Meaning of Freedom,” deviates from the traditional format, possibly to avoid the lack of “human touch” that may characterize for laymen the problems with academia, but is a welcome glimpse into historians reflecting upon their craft and taking seriously Susan O’Donovan’s claim, “if [B]lack lives matter today, then so should the whole of the [B]lack past”(29). As a result, readers will find greater attention paid to the circumstances and actions of African Americans, specifically women and children, and the political nature of their torture, suffering, and grief.
In general, Beyond Freedom, will be a valuable tool for faculty and graduate students interested in a refresher concerning the state of the conversation concerning emancipation. The books the contributors have produced in the last decade constitute an essential reading list for scholars of the period. At the undergraduate level, this volume would be a good edition to a seminar, in which students fashion independent theses within the context of a larger conversation, employ primary sources in some fashion, and question the epistemological problems associated with a vague concept like freedom. Jim Downs’s focus on “the Ontology of the Freedmen’s Bureau Records” is an apt reminder that sometimes the “records [and historians] assign a particular narrative logic to a process that lacks order and efficiency,” and, as a result, “What freedom meant to freed people has only been partially told” (175). Even in that context, however, the volume will require a skilled teacher, already familiar with the existing historiography, to make sense of it for students. If there is any criticism, it might be the omission of any focus on emancipation beyond the United States, except in the preface by Foner.
As historians come to grips with the suffering, abuse, and terror Blacks faced, emancipation, as Thavolia Glymph notes, has the potential to “break your heart” (132), but this collection may also give students the hope that by abandoning the traditional periodization or models we so often rely upon and pa
Ron Gifford – Illinois State University.
[IF]La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948 – De LUNA (BC)
DE LUNA, Giovanni. La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948. Milano: Feltrinelli, 2019. 304p. Resenha de: GUANCI, Vicenso. Il Bollettino di Clio, n.11/12, p.191-196, giu./nov., 2019.
«Per risvegliarci come nazione, dobbiamo vergognarci dello stato presente. Rinnovellar tutto, autocriticarci. Ammemorare le nostre glorie passate è stimolo alla virtù, ma mentire e fingere le presenti, è conforto all’ignavia e argomento di rimanersi contenti in questa vilissima condizione».
Con questa citazione di Giacomo Leopardi, Giovanni De Luna concludeva nel 20131 il racconto di un’Italia che dall’iniziale trasformismo liberale all’attuale subalternità alle regole del mercato non sembra essere riuscita a darsi quella religione civile che l’autore già allora individuava nel “dare forza” alla nostra Costituzione.
Quattro anni dopo pubblica questo libro, riedito in edizione economica quest’anno, nel quale racconta come si fece la Costituzione. Come e perché dal 1945 al 1948 fu possibile costruire una sorta di “sacra scrittura” per una “religione civile”. La consolidata storiografia sull’argomento viene rivista alla luce dei diari di coloro che “vissero con passione e impegno gli anni di formazione della nostra Repubblica” – a cui infatti viene dedicato il libro – conservati presso l’Istituto storico della Resistenza “Giorgio Agosti” e soprattutto all’archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Ne scaturisce una narrazione appassionante e una dettagliata analisi del momento storico in cui vennero poste le basi della nostra moderna democrazia.
Furono due anni: dal 2 giugno 1946 al 18 aprile 1948. Un biennio cruciale. Che si comprende a fondo solo se si studiano bene le premesse: gli avvenimenti dei tredici mesi e sette giorni precedenti, dal 25 aprile 1945 al 2 giugno 1946.
Il libro è organizzato in tre parti. La prima ci mette di fronte ad un paese con strutture demografiche e produttive molto simili a quelle degli inizi del Novecento, con un Mezzogiorno ancorato al tempo quasi immobile della civiltà contadina e con un tasso di analfabetismo del 25-30%, e un Settentrione con il 60% del reddito nazionale e analfabetismo pressoché scomparso. E’ un’Italia disunita quella che esce dalla guerra. Per ricordarla De Luna rimanda alle immagini di Paisà di Rossellini, ché meglio non si potrebbero raccontare i drammi e gli entusiasmi nelle terre della penisola risalita dalla Sicilia alle regioni settentrionali; in più sottolinea la condizione delle donne che “rappresentarono allora l’icona simbolicamente più efficace dei guasti che l’arrivo degli eserciti alleati poteva causare” (pag. 39) e che, tra il 1943 e il 1945, si sommarono alle stragi naziste. Le due Italie in quegli anni si riconoscevano nella contrapposizione tra fascismo e antifascismo. Il 25 aprile 1945 vinse la Resistenza, che “si propose come la negazione di quei caratteri di passività e rassegnazione che sembravano pesare come una sorta di tara genetica sulla nostra identità collettiva” (pag. 57); vinse l’Italia viva e nuova, l’Italia dei prefetti del Cln, l’Italia del governo Parri. Iniziò il dibattito, o meglio, una vera e propria lotta politica, tra la “continuità” dello Stato a cui era favorevole il ministro Benedetto Croce (la “parentesi” fascista) e la “discontinuità” dallo Stato liberale e fascista per una nuova democrazia per la quale si batteva il Partito d’Azione. Si scelse la prima opzione. Parri fu sostituito da De Gasperi che, assieme a socialisti e comunisti, guidò il paese verso le nuove elezioni del 2 giugno 1946 a suffragio davvero universale (per la prima volta votavano le donne!) per la Costituente e il referendum tra la monarchia e la Repubblica. Furono giorni difficili. Le pagine di De Luna rendono bene il momento: “Che il rischio di una nuova guerra civile ci fosse davvero ce lo dice la cronaca delle giornate convulse seguite al referendum.” (pag. 106)
I partiti di massa nati dalla lotta partigiana, il governo, il Vaticano, soprattutto la Casa Reale, tutti si muovevano su un filo di rasoio. Il 12 giugno dopo un ultimo colloquio con Pio XII, dopo aver messo al sicuro i gioielli e il patrimonio di famiglia, Umberto II partì per l’esilio portoghese. Il 18 giugno la Cassazione ratificò il risultato delle elezioni, il 25 giugno l’Assemblea Costituente tenne la sua prima seduta. “La Resistenza aveva vinto, e con essa la democrazia. Una vittoria che chiudeva una pagina esaltante della nostra storia. […] Il 28 giugno, Enrico De Nicola fu eletto capo provvisorio dello Stato con 396 voti su 501: ‘Camminava come un impiegato che va all’ufficio, un signore qualunque che rientri a casa un po’ preoccupato’ annotava Alba de Céspedes. I 40 voti dei repubblicani andarono a Cipriano Facchinetti, i 30 dell’Uomo Qualunque a Ottavia Penna di Caltagirone, nata baronessa di Buscemi, una donna, a simboleggiare un’altra delle rotture sancite dal 2 giugno 1946.” (pag.118)
La seconda parte racconta e spiega come in due anni, un mese e dodici giorni nacque la repubblica dei partiti e fu scritta la Costituzione, Carta fondamentale della nostra democrazia.
Le elezioni dell’Assemblea Costituente sancirono la nascita dei partiti politici. E dei partiti di massa: la Democrazia Cristiana con il 35,1%, il Partito Socialista con il 20,6%, il Partito Comunista con il 18,9%; agli altri restarono le briciole. Eredi delle bande politicizzate della Resistenza, i “partiti dei fucili” – come li chiamano taluni storici – erano diventati “partiti delle tessere”; i partigiani erano diventati elettori e i capi dirigenti e militanti di partito. De Luna si rifà esplicitamente al pensiero di Norberto Bobbio con una sua citazione sul nesso vitale tra partiti e democrazia: «L’allargamento del suffragio ha reso inevitabile la formazione di grandi e bene organizzate associazioni politiche. E queste associazioni si sono consolidate applicando al loro interno le regole della democrazia […] così che il partito oggi non è soltanto l’organo motore dello stato democratico ma è anche per la sua stessa costituzione il principale coefficiente di una educazione politica democratica, perché stimola energie assopite, dirige volontà disordinate, porta sul piano di un’attività politica concreta e fattiva interessi sviati e incerti.» (pag. 142). Quanto importante e decisiva si dimostrò la loro funzione non solo di pedagogia politica ma anche e soprattutto di direzione e guida delle masse si vide nei momenti di crisi della neonata democrazia italiana. Per esempio, la firma del Trattato di pace nel febbraio 1947, che oltre alle perdite delle colonie e di territori al confine francese, dovette affrontare le questioni del confine italo-jugoslavo con Trieste e l’Istria, in piena “guerra fredda”, con il ricordo dell’occupazione italiana fascista della Slovenia, i morti delle foibe, i profughi istriani. E ancora, le rivolte partigiane contro la politica di “rappacificazione” portata avanti da Togliatti e De Gasperi, di cui quello più famoso è l’episodio di Santa Libera – una frazione di Santo Stefano Belbo nelle Langhe – dove nella notte del 20 agosto 1946 una sessantina di partigiani occuparono la zona e ci volle l’intervento di un dirigente del PCI e di Pietro Nenni – vicepresidente del Consiglio – per farli sloggiare. Soprattutto, la campagna elettorale per le elezioni del primo Parlamento della Repubblica del 18 aprile 1948 che fu davvero contrassegnata da forti contrasti e grande partecipazione di massa. I prestiti americani e il piano Marshall fecero ripartire l’economia e la politica economica deflattiva di Luigi Einaudi se favoriva industriali e ceto medio impiegatizio ma portò disoccupazione e licenziamenti tra gli operai. Tutto questo ovviamente aumentò molto le tensioni nel paese. La lunga guerra mondiale, e in più la guerra civile fascisti-antifascisti, da cui si era appena usciti, aveva comunque creato un’abitudine alla violenza, all’uso della violenza, quasi fosse un normale strumento di pressione e repressione. Le manifestazioni di protesta, gli scioperi, spesso finivano in scontri, anche cruenti, tra la Celere – reparto di polizia specializzato creato da Scelba, ministro degli Interni – e i manifestanti. Il primo maggio 1947, nelle campagne di Portella della Ginestra, in Sicilia, banditi assoldati dai latifondisti, spararono sulla folla di contadini che festeggiava il “Primo Maggio” nelle terre occupate. Il 31 maggio De Gasperi formò il suo IV governo, questa volta senza comunisti e socialisti. Era partita la crociata anticomunista, appoggiata dal Vaticano che mise in campo tutta la forza della Chiesa Romana. Le sinistre si presentarono unite sotto le insegne del Fronte popolare, convinti di vincere e instaurare il socialismo. Il 18 aprile la DC ottenne il 48,7% dei voti, il Fronte (PCI+PSIUP) il 31%. Per De Gasperi fu un trionfo, per socialisti e comunisti una delusione tremenda.
Tre mesi dopo uno studente fascista esaltato sparò a Togliatti mentre usciva da Montecitorio. Il paese si sentì e si trovò di nuovo sull’orlo della guerra civile. Dopo aver affrontato e superato una campagna elettorale difficile, appassionata e movimentata, dovette affrontare una prova ancora più aspra. Poche ore dopo l’attentato, con Togliatti in sala operatoria, le fabbriche del triangolo industriale si fermarono per scioperi spontanei, le piazze furono occupate da manifestanti, poliziotti e militari consegnati nelle caserme pronti a tutto. Il 16 luglio lo scontro si trasferì in Parlamento con i deputati comunisti che attaccarono il ministro Scelba. In quei tre giorni tuttavia non accadde nulla di irreparabile. Ci furono, è vero, 92.000 persone fermate dalla polizia, di cui 70.000 rinviate a giudizio; 11 morti tra i manifestanti e 6 tra le forze dell’ordine. Complessivamente negli anni dal 1948 al 1954 sono stati contati negli scontri tra polizia e manifestanti 75 morti e 3126 feriti, ai quali vanni aggiunti 28 persone uccise nelle campagne dai latifondisti. Nello stesso periodo risulta che in 38 province furono arrestati 1697 partigiani dei quali 884 condannati a complessivi 5806 anni di carcere. “Un bilancio pesante, il prezzo pagato nel difficile processo d’impianto della democrazia in Italia”, commenta De Luna (pag. 216).
Nella terza parte l’autore tira le fila del suo lavoro di ricerca tra cronaca, letteratura e storiografia individuando “le Italie che finiscono e… quelle che cominciano”.
Le giornate dell’attentato a Togliatti costituirono per il movimento operaio “l’occasione di congedarsi definitivamente da quel tipo di lotta e dalla paralizzante alternativa integrazione-insurrezione; con i caroselli della Celere di Scelba si chiudeva una fase lunghissima della storia delle classi subalterne, aperta mezzo secolo prima dalle cannonate di Bava Beccaris a Milano; quella forse più epica, ma anche, senz’altro, la più cruenta e difficile. In quei tre giorni si bruciarono modelli politici e tradizioni culturali ai quali il mutare delle condizioni economiche avrebbe di lì a poco sottratto ogni parvenza di credibilità” (pag. 281)
Il miracolo economico negli anni Cinquanta avrebbe mutato la stessa antropologia degli italiani, non solo le dinamiche politico-economiche. Sarebbero cambiati usi e costumi, consumi e culture; elettrodomestici e televisione, scooter e automobili, avrebbero modificato le percezioni del tempo e dello spazio.
E i partiti? I partiti furono costretti al rinnovamento. Pur non avendo essi determinato la grande trasformazione del paese cercarono di farvi fronte. Con fatica, vi riuscirono. “La fiammata antipartitica che aveva animato le schiere di quelli che avevano votato per la monarchia nel referendum del 2 giugno 1946 […] si era spenta e gli elettori qualunquisti, a partire dal 1948, avevano indirizzato i loro voti verso la Democrazia Cristiana […]. E la Costituzione era diventata compiutamente e decisamente la Costituzione dei partiti.” (pag. 286)
La Costituzione sarebbe rimasta la consegna più importante e duratura che i partiti di massa hanno lasciato agli italiani. Nella Costituente si scrisse e operò solennemente un patto di cittadinanza condiviso fondato sul “grande compromesso” dell’intreccio tra le tre culture che fanno il nostro paese: “la tradizione democratico-liberale, che lasciò la sua impronta nel riconoscimento del valore assoluto dei diritti dell’uomo; l’accentuazione dei principi di giustizia sociale, che avevano animato larga parte del movimento operaio; lo slancio solidaristico e comunitario che da sempre aveva segnato le battaglie politiche dei cattolici.” (pag. 289)
Giovanni De Luna conclude il suo libro così. Ricordando che con la Costituzione i partiti della Resistenza hanno vinto. E, se è vero che vinse la “continuità” dello Stato con i suoi apparati più o meno fascisti, o almeno nostalgici di quel tempo, è vero che la Resistenza seppe forgiare una classe politica rivelatasi pienamente all’altezza dei suoi compiti.
“La Resistenza fu qualcosa di più grande dei Cln e dei partiti che la guidarono, perché la Resistenza fu soprattutto la ‘moltitudine delle vite concrete dei resistenti’, di quanti interpretarono l’8 settembre 1943 come la fine di una stagione di carestia morale e di avvelenamento delle coscienze, vivendola come il momento in cui non ci si doveva vergognare di se stessi e si potevano riscattare venti anni di passività e di ignavia. E fu quella scelta che contribuì a fare del 25 aprile 1945 una data fondamentale della nostra religione civile.” (pag.291)
Vicenzo Guanci
[IF]Do hábito à resistência: freiras em tempos de ditadura militar no Brasil | Caroline Jaques Cubas
Caroline Jaques Cubas é Doutora em História, pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com estágio sanduíche na Université de Rennes II, e Mestre em História, também pela UFSC. É Especialista em História Social do Ensino Fundamental e Médio, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e graduada em História, pela Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI.
A autora é Docente Adjunta no Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde também leciona no Programa de Pós-graduação em História e no Mestrado Profissional em Ensino de História. É pesquisadora nos grupos: “Memória e Identidade” e “ Ensino, Memória e Cultura”, nesta mesma instituição. Leia Mais
Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África – PAIVA (AN)
PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017. Resenha de: MACHADO, Carolina Bezerra. A escrita da História da África: Política e Resistência Anos 90, Por to Alegre, v. 26 – e2019501 – 2019.
Em meio a constantes desafios político-ideológicos, os estudos africanos vêm se firmando como um campo de pesquisa no cenário brasileiro, o que contribui diretamente para o desenvolvimento da escrita da História da África no país. Esse movimento favorece também o rompimento dos estereótipos ainda pertinentes que geram desconhecimento, preconceitos e deturpações acerca da historicidade africana, por anos renegada ou mesmo ocidentalizada. A mudança de perspectiva está amparada em uma historiografia que busca valorizar o africano enquanto sujeito da sua história, colocando-o em primeiro plano para refletirmos sobre os eventos no continente africano, o que não significa renegar a sua relação com o outro, mas desejar compreender os processos históricos a partir do olhar de dentro. Ressalta-se ainda que essa perspectiva traz à tona a riqueza da diversidade presente no continente, que sob o olhar colonial sempre foi visto como homogêneo. Nesse sentido, o livro Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história da África de Felipe Paiva traz um debate fundamental para repensarmos a escrita historiográfica da África. Resultado de sua pesquisa de mestrado, defendida na Universidade Federal Fluminense e agora publicada pela Eduff, o livro concentra-se em um caloroso debate sobre a ideia de resistência na obra História Geral da África da Unesco. Tomado como principal fonte ao longo da sua pesquisa, o conjunto de oito volumes publicados em diferentes momentos entre a década de 1960 e 1990, de acordo com o autor, apresenta uma “polifonia conceitual”, não só pelas diferentes vozes que compõem os volumes, mas, sobretudo, pela diferença teórica que os acompanham ao abordar o termo resistência.
De acordo com Paiva, essa abordagem deveria vir acompanhada de um debate conceitual em que resistência deveria aparecer como um conceito móvel, considerando o ambiente de tensões, conflitos e disputas políticas que envolvem a história do continente. Ou seja, como conceito deve ser visto dentro de um processo passível de permanências e rupturas e retomado dentro da sua historicidade. Logo, ao escolher como referência a obra publicada no Brasil pela Unesco, deve-se considerar o contexto político-social em que cada volume foi produzido, principalmente ao darmo- -nos conta que foi um período de intensas mudanças no cenário africano a partir da independência dos países, rompendo com o jugo colonial.
Todavia, o livro também não deixa de apontar para trabalhos anteriores de intelectuais que compõem a coletânea, o objetivo é introduzir o leitor ao intenso debate historiográfico em que a HGA foi produzida. As escolhas teóricas que a acompanham já vinham sendo desenvolvidas e fundamentadas em torno de uma perspectiva que elegia o africano como o sujeito da sua história. Além disso, chama a atenção também o tratamento do autor para os autores da obra, vistos não apenas como referências historiográficas, mas como personagens históricos e testemunhas de uma época (PAIVA, 2017, p. 19). Essa posição reconhece o quanto esses intelectuais foram testemunhas de mudanças, atuando no processo de formação de suas nações e, por isso, atores diretos na legitimação de um movimento historiográfico que era também, se não, sobretudo, político-ideológico.
A escolha da obra não é fortuita, a sua produção fora marcada por um campo de luta política, que pretendia retomar a perspectiva africana como análise central. Para isso, a escolha dos autores da coletânea foi claramente um ato político, à medida que dois terços eram intelectuais africanos (LIMA, 2012, p. 281). Como afirma o historiador Joseph Ki-Zerbo, um dos grandes nomes e organizadores da obra, a História Geral da África vinha na contramão de uma perspectiva que negava a historicidade do continente. Desse modo, a obra não deve ser encarada apenas dentro do campo historiográfico, mas também a partir do campo político, em que o ato de resistir pode ser encarado como a força motriz da coleção. Por isso, acertadamente, Felipe Paiva retoma o termo resistência, presente entre os volumes, mas não claramente definido no conjunto da obra. A polifonia apareceria de imediato a partir dos diferentes usos da palavra, que, para o pesquisador, apenas ganha valor conceitual dentro de um espaço colonial e que, por outro lado, desaparece quando os conflitos são entre africanos. Até o VI volume teríamos um uso apenas vocabular da palavra, sem ser claramente definida, assim sendo apenas a partir do volume VII, quando os autores se voltam para o conceito, visto que a presença colonial passa a ser analisada em sua especificidade.
Como realçamos, a sutileza em abordar determinado conceito ao longo da HGA chama-nos a atenção para os usos políticos da obra. O debate promovido contribui para refletirmos sobre a escrita da história da África em diálogo com uma perspectiva teórica que repensa as relações coloniais a partir dos agentes internos. É nesse limiar que as contradições e complexidades ausentes em uma análise do continente, até então presa a uma perspectiva eurocentrista, passam a ser evidentes. Dito isto, o título escolhido para o livro propõe apontar para as insubmissões africanas, a partir de suas diferentes vozes ancoradas no conceito polissêmico de resistência. Todavia, notamos que Paiva aponta para a contradição existente na HGA. Pois, embora os autores retratem os movimentos de resistência a partir de um processo homogêneo, construído em oposição ao colonialismo, a sensibilidade em analisar os artigos que compõem a coleção apontam para as diferenças existentes entre os intelectuais à medida que os interesses individuais, regionais, políticos, culturais, religiosos e, até mesmo, de gênero, vão aparecendo na escrita. Nesse sentido, o uso da palavra resistência deve ser problematizado, por mais que no conjunto da obra seja possível identificarmos que a palavra tenha sido forjada contra o colonizador.
Dividido entre o prefácio de Marcelo Bittencourt, seu orientador ao longo da pesquisa, que destaca o valor da obra a partir da sua contribuição teórica; uma apresentação, que aponta para os objetivos que pretende, as hipóteses que levanta, assim como o porquê de algumas de suas escolhas teórico-metodológicas e mais três capítulos com subdivisões, o livro de Felipe Paiva vem preencher uma lacuna importante para a escrita da história do continente africano, que dentro da realidade acadêmica brasileira também se traduz em resistência.
O primeiro capítulo volta-se, sobretudo, para um debate teórico e historiográfico o qual se destaca um intelectual: Joseph Ki-Zerbo. A análise pormenorizada de suas pesquisas anteriores, estas que dialogam com a escrita da obra referencial, permite acompanhar alguns dos objetivos desenvolvidos na HGA, comprometida historiograficamente com um contexto histórico de valorização do continente africano e de afirmação dos movimentos nacionalistas e independentistas que ganhavam força naqueles anos. Nesse ínterim, podemos notar o quanto a escrita de Ki-Zerbo se encontra sensível à perspectiva pan-africanista, traduzida para o “grau de família” que Paiva chama a atenção. A ideia de “família africana”, ou mesmo da África enquanto pátria, é observada a partir dos “intercâmbios positivos que ligariam os povos africanos nos planos biológico, tecnológico, cultural, religioso e sociopolítico” (PAIVA, 2017, p. 25). Tal abordagem, de acordo com o autor, merece cuidado, pois por vezes pode negar as contradições existentes entre os intelectuais que contribuíram para a obra, conforme fora apontado acima.
Por isso, ao retomar a ideia de resistência na obra durante o período que antecedeu a presença colonial, esse é visto por Felipe Paiva apenas em sentido vocabular, sem uma definição concreta. O sentido conceitual só aparece em oposição a um outro, estrangeiro, nunca em referência aos combates internos, produzindo uma falsa ideia de harmonia entre os africanos, que a análise do conjunto da própria obra é capaz de negar, como nos mostra seu livro. Desse modo, o primeiro capítulo volta-se para os interesses teóricos e políticos da obra, enfatizando uma leitura que vê a escrita historiográfica do continente dentro de uma perspectiva de tomada de consciência do africano, em um claro processo chamado de “(re)africanização da África”. Somos, nesse sentido, a partir da leitura de Felipe Paiva, direcionados aos cuidados que devemos ter ao nos aprofundarmos sobre os debates acalorados que cercam os interesses que levaram à escrita da obra.
Quanto ao segundo capítulo, a abordagem volta-se, especificamente, para o volume VII da HGA, em que para o autor o conceito de resistência passa a ser propriamente construído e apresentado junto a preocupações epistemológicas antes ausentes. Ao abordar esse momento da coletânea, Paiva ressalta a construção de uma África como personagem, que sofre um trauma e, de maneira coesa, se constrói em roupagem de resistência contra o colonizador. É a partir dessa narrativa que resistência enquanto conceito se desenvolve e dirige-se exclusivamente em oposição ao colonialismo. Temos aí a construção de uma ideia de África pautada a partir da experiência colonial, que embora retomasse a história dos africanos a partir de um novo enfoque, ainda guardava uma visão harmônica do continente. A presença europeia seria vista como um choque que rompeu com o passado africano.
Devemos destacar, ainda nesse capítulo, as interpretações sobre o conceito de resistência pertinentes para o historiador. Para ele, podemos apontar para duas abordagens entre os autores da HGA: a tradicionalista e a marxista. A primeira refere-se a um passado pré-colonial permeado 4 de 5 por uma suposta coesão entre o passado, anterior ao colonialismo e retratado como grandioso e estático, e o presente, interessante a partir de uma concepção nacionalista, em que as lutas anticoloniais do século XIX estariam plenamente em diálogo com os movimentos independentistas que irromperam em meados do século XX. Assim, esses movimentos eram vistos dentro de uma tradição de valorização de uma África resistente e una, que por vezes se utilizou da concepção racial para formatar suas ideias. Há, em diálogo com essa perspectiva, grande ênfase nas autoridades tradicionais retratadas como defensoras de um modelo de vida ligado à tradição africana, posta em oposição à modernidade, interpretada como uma imposição colonial.
Por outro lado, mas com o mesmo objetivo de destacar a tradição de resistência dos africanos, a abordagem marxista é assim denominada a partir do “uso de noções e categorias advindas da historiografia marxista ou que lhe são próximas” (PAIVA, 2017, p. 94). Ou seja, não necessariamente esses autores se colocam como marxistas mas retratam o conceito de resistência, sobretudo, em reação ao capitalismo. Por isso, a ênfase na luta de classes, formada na esteira das relações de produção advindas com o colonialismo e impostas aos africanos.
Esses dois aportes teóricos, de acordo com Felipe Paiva, servem para repensarmos sobre um tema fundamental na ideia de resistência na África: a sua temporalidade. Ou seja, como podemos captar quando inicia o processo de resistência em África? Pois, por mais que ocorra uma continuidade entre as variadas formas de oposição africana no período colonial e as lutas independentistas, temos que considerar que elas não são um movimento homogêneo que se estruturou necessariamente para desembocar nas independências, afirmando um caráter progressivo (PAIVA, 2017, p. 114). Cabe, então, apontar para as complexidades que cercam essa relação, visto que a defesa central da pesquisa reside em considerar resistência enquanto processo, passível de permanências e rupturas.
O debate sob esse ponto de vista inicia no final do capítulo 2, a partir de uma série de análises dos autores que compõem a HGA, e levam ao capítulo 3. Voltado, sobretudo, para o VIII volume da coleção, o capítulo problematiza a ideia contida nesse volume de que a libertação nacional seria herdeira de uma tradição de resistência presente na África. Para um aprofundamento da questão, Paiva lança mão de estudos anteriores do organizador do volume, o queniano Ali Mazrui, ressaltando as diferenças construídas pelo intelectual entre protesto, interpretado como fenômeno do Estado-nação, e resistência, vista como conceito herdeiro direto desse movimento. Desenvolve-se um grande debate teórico que tem por objetivo problematizar o modo como resistência é encarada dentro de um ambiente de valorização nacionalista com grande influência do pan-africanismo.
A partir dos debates travados e construídos com argumentações que extrapolam os objetivos iniciais do livro, pois nos levam para questões como nacionalismo, pan-africanismo, colonialismo, entre outros temas pertinentes à África, ressaltada dentro de sua complexidade, a leitura de Indômita Babel é uma importante oportunidade para conhecermos um pouco mais a História da África, sobretudo, a partir da sua escrita historiográfica, cercada de tensões e desafios. O diálogo com a História Geral da África, referência primordial para os estudos africanos, enriquece e solidifica a discussão proposta por Felipe Paiva, que continua a tecer em sua trajetória acadêmica um debate político-ideológico a partir dos intelectuais africanos Kwame Nkrumah e Gamal Abdel Nasser, tema da sua pesquisa de doutorado, que vem sendo desenvolvida desde 2015 no programa de história da Universidade Federal Fluminense.
Referências
LIMA, Mônica. A África tem uma história. Afro-Ásia, Salvador, n. 46, p. 279-288, 2012. PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017.
Carolina Bezerra Machado – Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: [email protected].
Political ecology – food regimes and food sovereignty: crisis – resistance and resilience | Mark Tilzey
In 1998, Giovanni Arrighi wrote an article with a curious subtitle: “Rethinking the non-debates of the 1970’s”. [3] He was referring to the “non-debates” between Immanuel Wallerstein, Robert Brenner, Fernand Braudel and Theda Skocpol, that remained undeveloped. These “non-debates” of the 70’s, especially the one between Wallerstein (with his world-system perspective) and Brenner (with his “Political Marxism” stance), now reemerge in Tilzey’s book, with Tilzey in the role of the “political Marxist” challenging the conceptions of Jason W. Moore and the proposals of his “world-ecology”, as well as Philip McMichael and Harriett Friedman’s conceptions of “food regime” (both developments of Wallerstein’s “world-system” perspective). [4] This is not simply a repetition, to be sure: the return to thematic and methodological questions derives from the rise and intensification of problems and questions in the present, specifically, how to treat ecology/nature and crisis in our historical and theoretical concepts of capitalism in the Anthropocene/Capitalocene era, characterized by repeated economic crashes. These new questions and problems motivate Tilzey’s timely effort. Nevertheless, many “non-debates” remain undebated, including Arrighi’s intervention in them.
The first chapters of Tilzey’s book condense his ontological and methodological premises. Tilzey tries to build an ontology on which his propositions on political ecology and food regimes would be based. In chapter 2, he criticizes Jason W. Moore’s “world-ecology”, claiming that his notion of “double internality” of society and nature is a “flat ontology”. Tilzey opposed a four-level stratification of ontological relations to this: a non-hybrid, extra-human reality, nature (level 1); a hybrid, socio-natural level of trans-historical use-values (level 2); an “allocative” hybrid level, related to class-mediated distribution and historically-specific technologies (level 3); a non-hybrid “authoritative” level, the underlying political dimension in class dynamics in which to seek “structural causality” (level 4) (p. 28). Tilzey claims that the ontology he proposes is better equipped to deal with class relations and the “authoritative dimension” than Moore’s is. This ontology sets the tone of the rest of the book. Despite his critique of Moore’s general approach, Tilzey recognizes his contributions related to the capital’s dependency on “cheap natures” and commodity frontiers.
It is worth it then to make some critical observations on this foundational first chapter. Tilzey’s assertion that Moore proposes a “flat ontology” is problematic. For starters, Moore denies it explicitly.[5] Moore also asserts the differentiation of humans in that “humans relate to nature as a whole from within, not from the outside. Undoubtedly, humans are an especially powerful environment-making species. But this hardly exempts human activity from the rest of nature”.[6] Finally, Moore distances himself from a “flat ontology” by qualifying Nature and Society as “real abstractions”, the “real historical power of ontologic and epistemic dualisms” that are in contradiction with the co-production of humans and nature.[7] Tilzey’s argument on the “flat ontology” of Moore could have been more convincing if he had addressed and criticized these elements of Moore’s work, but they are left untouched, and so his critique appears to be one-sided. Moore uses “value as method”, in which capital, class and nature conflate in a peculiar, historically-specific way, operating in the formation of classes and concomitant organization of historical natures. Sharply separating or hierarchizing them would be a “violent abstraction”, according to this perspective.[8]
Additionally, Tilzey’s conception of dialectics is not very clear. Both Lucio Colletti and Levins and Lewontin are known to support his position (p. 19-29), references that are at opposite ends regarding the methodological and historical statute of dialectics. For Levins and Lewontin, dialectics is trans-historical and imputed to nature itself (like in Engels’ “dialectics of nature”), while for Colletti it is historically-specific to capitalist modernity, including relations with nature but not extended to nature itself and neither to history as such.9 The assertion that Tilzey’s ontology entails “principles that are not specific to capitalism but to all social systems” (p. 24) clearly indicates the adherence to a trans-historical conception of dialectics, though it is not clear whether it is extended to nature as such or not.
In the next chapter, Tilzey uses his proposed ontology to discuss the origins of agrarian capitalism, “combined and uneven development” and the first agricultural revolution in Britain. Regarding the origins of agrarian capitalism, Tilzey defends a Brennerian position of a British origin of capitalism with specific “social-property relations” (with fully commodified land and labor), contrasting with the world-system perspective which proposes a West European (and American) origin based on for-profit production of commodities under different labor regimes in a world market, the “commodification of everything”.[10] The presentation of world-systemic perspectives on the origins of capitalism is oversimplified as the “Braudel-Wallerstein-Arrighi school”, when actually there are significant differences between these three authors’ view on the transition from feudalism to capitalism (p. 48-9). A discussion of these differences would have been important, especially because Arrighi claims to have incorporated Brenner’s critique of Wallerstein in his version of the theory of transition.[11] Though Tilzey rejects the world-systemic conception of core-periphery relations, he recognizes the crucial importance of cotton plantations in the American South for the Industrial Revolution (or, more generally, the interaction between English capitalism and the “external arena”). To conciliate both positions, he uses a theory of “combined and uneven development” based on Trotsky and more specifically on Anievas and Niasanciglu. It should be noted that what Anievas and Niasanciglu propose as “combined and uneven development” is a trans-historical ontology that is projected back to the time of hunter-gatherers.[12]
The combination of the reference to Levins and Lewontin when referring to dialectics and Anievas and Niasanciglu in relation to uneven and combined development indicate that there seems to be a tension in Tilzey’s theoretical framework: on the one hand, an attempt to specify capitalism in such a way that only England would initially comply; on the other, the use of analytical methods that lack historical specificity to deal with “nature” and the “external”, non-capitalist world. Contrasting with this trans-historical methodological choices, for example, Moishe Postone and Lucio Colletti would argue that dialectics and the dialectical method are historically-specific to capitalist modernity; and in the world-system perspective, core-periphery relations are historically-specific to a capitalist world-economy (which is not necessarily coincident with the whole globe, but comprises the states that are integrated in a single, large-scale market) that arose in the sixteenth century and will become extinct in the future. This world-economy would constitute an integrated market comprised of several states, with a scale and level of integration that characterize it as qualitatively very different from any exchange that might have occurred between groups of hunter-gatherers [13].
One passage reveals this difficulty in using a combination of historically-specific and trans-historical categories: “through the institution of slave plantation in the colonies, capitalists were able to reduce significantly the costs of constant capital in the form of raw materials” (p. 71, emphasis mine). The reader should note that while “constant capital” is a historically-specific category, “raw materials” is trans-historic; the historically-specific category would be “circulating capital”. There is no difficulty here for the world-system perspective, especially if considering Dale Tomich’s concept of “second slavery”. [14] But for the “social-property relations” approach, characterizing slave-produced cotton as “circulating capital” might be inconsistent, as that would mean that slave production was already subsumed under the law of value and the dynamics of the organic composition of capital. But if it was not produced as circulating capital from the beginning (which is difficult to accept, as the relation between Mississippi Valley plantations and English factories was systematic, instead of contingent) then we remain with the difficult question of defining where, between the plantation in the American South and the factory in Britain, this trans-historical “raw material” was converted into a historically-specific “circulating capital”, thus mediating the organic composition of capital and counteracting the profit rate’s falling tendency (a mediation that Tilzey correctly admits as being key for the Industrial Revolution). The problem does not seem to be solved by attributing this “raw material” to level 3 in Tilzey’s ontology, as “class” is still a historically indeterminate category (contrary to value).
The rest of the book is an “application” of the ontological premises presented in the first two chapters. Chapters 4 to 6 are dedicated to the discussion of food regimes. Tilzey characterizes them as the first or British liberal regime (1840-1870), the second or imperial regime (1870-1930), the third or “political productivist” regime (1930-1980) and the neoliberal regime. Tilzey proposed the first regime as a complement to the others that were previously proposed by Friedmann and McMichael. Here, in accordance with his proposed ontology, the emphasis is on class politics, class fractions and how they shape what he calls the “capital-State nexus”. For Tilzey, the “Polanyian” approach of Friedmann and McMichael regarding the State (the “double movement”) obliterates the “state as comprising the condensation of the balance of class forces in society” (p. 113). One of the best moments of the book is the explanation of the different interests of American corn, cotton and wheat famers and how this class-fractional struggle shaped state policies and food regimes (ch. 5).
In Part 2 (chapters 7 and 8), Tilzey discusses “crisis and resistance”. Tilzey’s previously defined ontology implies that crises are always “political” or legitimacy crises; an objective crisis of capitalism is out of question a priori (as well as the possible transition to a less democratic social order). In this respect, he distances himself from other authors for whom alienation plays a central role in crisis theory and that do consider the possibility of some kind of “regressive” transition, such as Moishe Postone or Robert Kurz, and is at least in this regard (crisis necessarily as crisis of legitimacy) in agreement with a non-Marxist scholar like Wolfgang Streeck.[15] In his exposition in chapter 7, Tilzey identifies as contradictions of neoliberalism the general falling rate of profit due to the rising organic composition of capital and the rising cost of raw materials. It should be noted that he characterizes the falling rate of profit with the “power of capital over labor” (p. 200), in line with the posited priority of the “authoritative” level of his ontology. But here, perhaps this ontology produces another one-sided result. The falling rate of profit is the result of mechanization not only in a struggle of capitalists against workers but also in a struggle among capitalists (competition for efficiency); besides, the tendency itself is an objectified outcome that is not “authoritatively” planned. This is part of a dialectic of subjectivity and objectivity peculiar to capitalism that seems to be obliterated by Tilzey’s ontology. In relation to the food regime in particular, Tilzey develops the idea that food and financial crises are different manifestations of the neoliberal social disarticulation, which combines a crisis of under-consumption (level 4 of the ontology) with increasing costs of raw materials (levels 3 and 4).
Again following his ontologies of class and combined and uneven development, Tilzey analyzes peasant “resistance” movements as assuming three different forms: what he calls “sub-hegemonic” (reformist), “alter-hegemonic” (progressive) and “counter-hegemonic” (radical). The sub-hegemonic movement is represented by the “Pink Tide” in South America and its focus on the combination of extractivism and social policies, with peasants appealing to indigenous identities. Alter-hegemonic movements are represented by small commercial farmers, mostly in core countries, that demand regulation and protection against the market. Peasant movements, mostly those in the “global South” and among subaltern classes whose demands include the socialization of means of production (land), are counter hegemonic. It can be seen that the existence of, or potential for, reactionary movements is overlooked, as the ontology does not seem to be equipped with the necessary analytical tools.[16]
Part 3 (chapters 9-13) is dedicated to country case studies, which includes Bolivia, Ecuador, Nepal and China, in which the author tries to trace the commonalities and differences between them (Brazil is not included). Some of the best moments of the book appear here, such as when Tilzey explains the difference between recent peasant movements in Bolivia and Ecuador, on the one hand, and their weakness in Chile and Peru, on the other, based on their different class structures and histories. The last chapter is political-normative, advocating a “food sovereignty” based on peasant communal production using a “resilient” food production system grounded on agroecological methods.
It is clear throughout the book that Tilzey makes great effort to be consistent with his proposed ontology of “Political Marxism”. Nevertheless, the one-sidedness of this ontology (despite the inclusion of “ecology” in lower hierarchical levels), which one could characterize as an extreme form of politicism (or a “violent abstraction”), might produce one-sided analyses, like a critique of Moore that ignores his use of “real abstractions” and a theory of crises that overlooks objectified tendencies (or is inconsistent by taking them into account). Additionally, the trans-historical elements of the ontology used to conciliate the supposed exceptionality of Britain and the intense relations with the “external arena” might generate problems of consistency and historical specification. But the approach can also produce useful sociological and class dynamics analyses and insights. The reader’s evaluation of this ontology will ultimately shape his or her broad evaluation of the book. Hopefully Tilzey’s book will be only the first of many to address the many “non-debates” that are still untouched, some of them barely scratched in this review and that include vitally important questions such as the concept of capitalism, its historical origins and its future demise.
Notas
3. ARRIGHI, Giovanni. Capitalism and the modern world-system: rethinking the non-debates of the 1970s. Review, 21, n. 1, 113-29, 1998.
4. WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press, 2011 [1974]; BRENNER, Robert. The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithean Marxism. New Left Review, I, 104, p. 25-92, July-August 1977; MOORE, Jason W. Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital. New York: Verso, 2015; FRIEDMANN, Harriet; MCMICHAEL, Philip. Agriculture and the state system. Sociologia Ruralis, XXIX, no. 2, p. 93-117, 1989.
5. MOORE, Jason W. op. cit, p. 39.
6. Ibid., p. 46. Emphasis mine.
7. Ibid., p. 47.
8. Ibid., ch. 2. SAYER, Dereck. The violence of abstraction: the analytical foundations of historical materialism. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
9. LEVINS, Richard; LEWONTIN, Richard. The dialectical biologist. Harvard: Harvard UP, 1985. COLLETTI, Lucio. Marxism and Hegel. Trans. R. Garner. New York: Verso, 1973.
10. WALLERSTEIN, Immanuel. Historical capitalism. New York: Verso, 2011.
11. Inspired by Braudel, Arrighi proposes an interstitial transition based on Italian city-states, which would include competition for mobile capital, thus addressing Brenner’s critique that competition was not a part of Wallerstein’s model. See ARRIGHI, op. cit.
12. ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015, p. 46-7.
13. COLLETTI, op. cit. POSTONE, Moishe and REINICKE, Helmut. On Nicholaus’ “Introduction” to the Grundrisse. Telos, 22, 130-148. WALLERSTEIN, Immanuel. Op. cit.
14. On “second slavery”, see TOMICH, Dale W. Through the prism of slavery: labor, capital and world-economy. Lanham: Roman & Littlefield, 2004.
15. POSTONE, Moishe. The current crisis and the anachronism of value: a Marxian reading. Continental Thought and Theory, 1, no. 4, p. 38-54, 2017. KURZ, Robert. The crisis of exchange value: science as productivity, productive labor and capitalist reproduction. In Marxism and the critique of value, ed. N. Larsen et al, p. 17-76. Chicago: MCM’, 2014 {1986}; STREECK, Wolfgang. How will capitalism end? New Left Review 87, p. 35-64, May-June, 2014.
16. Critical Theory could be helpful, but it seems to be far from Tilzey’s theoretical commitments
Referências
TILZEY, Mark. Political ecology, food regimes, and food sovereignty: crisis, resistance, and resilience. Cham: Palgrave MacMillan, 2018. 394 pp.
ARRIGHI, Giovanni. Capitalism and the modern world-system: rethinking the non-debates of the 1970’s. Review, 21, n. 1, 113-29, 1998.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press, 2011{1974}; BRENNER, Robert. The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithean Marxism. New Left Review, I, 104, p. 25-92, July-August 1977; MOORE, Jason W. Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital. New York: Verso, 2015; FRIEDMANN, Harriet; MCMICHAEL, Philip. Agriculture and the state system. Sociologia Ruralis, XXIX, no. 2, p. 93-117, 1989.SAYER, Dereck. The violence of abstraction: the analytical foundations of historical materialism. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
LEVINS, Richard; LEWONTIN, Richard. The dialectical biologist. Harvard: Harvard UP, 1985. COLLETTI, Lucio. Marxism and Hegel. Trans. R. Garner. New York: Verso, 1973.
WALLERSTEIN, Immanuel. Historical capitalism. New York: Verso, 2011.
ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015, p. 46-7.
COLLETTI, op. cit. POSTONE, Moisheand REINICKE, Helmut. On Nicholaus’ “Introduction” to the Grundrisse. Telos, 22, 130-148. WALLERSTEIN, Immanuel. Op. cit.
TOMICH, Dale W. Through the prism of slavery: labor, capital and world-economy. Lanham: Roman & Littlefield, 2004.
POSTONE, Moishe. The current crisis and the anachronism of value: a Marxian reading. Continental Thought and Theory, 1, no. 4, p. 38-54, 2017. KURZ, Robert. The crisis of exchange value: science as productivity, productive labor and capitalist reproduction. In Marxism and the critique of value, ed. N. Larsen et al, p. 17-76. Chicago: MCM’, 2014 [1986]; STREECK, Wolfgang. How will capitalism end? New Left Review 87, p. 35-64, May-June, 2014.
Daniel Cunha – Binghamton University. Binghamton – New York – United States of America. PhD candidate in Sociology under the supervision of Jason Moore, in Sociology, Binghamton University. Email: [email protected]
TILZEY, Mark. Political ecology, food regimes, and food sovereignty: crisis, resistance, and resilience. Cham: Palgrave MacMillan, 2018. Resenha de: CUNHA, Daniel. Nature, Food, Crisis: New Problems, Old Debates. Almanack, Guarulhos, n.20, p. 282-286, set./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália | Denise Rollemberg Cruz
É bastante perceptível o fascínio que a experiência nazifascista e a Segunda Guerra Mundial exercem no público – especializado ou não – de história no Brasil. Se os motivos para tal não cabem em uma resenha, vale ao menos mencionar que o amplo alcance tem seus bônus e ônus. Apesar de ser um contexto com ampla e consolidada bibliografia, em muitos espaços parecem persistir análises há muito relativizados pela historiografia acadêmica. Existe um claro embate narrativo que dificulta muito o estabelecimento desses discursos fora das universidades. E mesmo dentro delas.
É no sentido de contribuir para o rompimento dessa barreira que a obra Resistência: memória da ocupação nazista na França e Itália, fruto de pesquisa pós-doutoral de Denise Rollemberg da Cruz, se propõe a atuar. A autora, professora de História Contemporânea do Instituto de História e do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem a carreira bastante associada aos estudos sobre a ditadura militar brasileira, mas há algum tempo dedica-se também ao contexto europeu, em particular sobre os regimes autoritários da primeira metade do século XX. Existe um diálogo teórico basilar entre os eventos históricos que muito parece ter auxiliado a autora em suas reflexões: tratam-se de experiências traumáticas, que expõem indivíduos a situações-limite e colocam em questionamento projetos políticos que veiculam ideias de harmonia social. Mais do que isso, a historiografia está constantemente empenhada em “mexer no vespeiro” desses eventos, tão embrenhados no debate das relações entre memória e história nos dias atuais. Se a Europa é palco privilegiado do livro, ficam evidentes também as marcas da trajetória pregressa da autora nas linhas que o compõem.
A aposta de Rollemberg está, então, em promover uma discussão conceitual e uma abordagem metodológica que dê conta de exibir, nos casos francês e italiano, uma mostra material dessa tensão mnemônica relativa à ocupação nazista, sobretudo a partir dos discursos museológicos produzidos pelos estados em questão, esmerados em cristalizar determinadas abordagens sobre os eventos históricos que dão nome às instituições. Desde a apresentação, ela já nos apresenta um importante diagnóstico: foi a partir da glorificação da Resistência que começaram a surgir museus e memoriais da mesma (p.12). Importa destacar que a obra não versa apenas sobre o museu: um capítulo é dedicado a escrita epistolar, e o último, ainda que reflita sobre um museu, tem como eixo os usos da memória sobre um evento ocorrido na Itália. Trata-se, portanto, das relações entre história e memória.
O livro é dividido em cinco capítulos. O Capítulo 1 dedica-se ao debate teórico relativo à conceituação de “Resistência”2. Nele, fica evidente a complexidade do problema. Em cada uma das realidades analisadas – França, Itália e Alemanha – há um debate particular, e a mesma dificuldade em encontrar uma definição hegemônica. A fluidez polissêmica é o tom da questão, sempre mediada por interesses políticos e disputas discursivas. Se cada caso é um, parece à autora que as décadas de 1970 e 1980 foram comumente decisivas no sentido de serem o marco das transformações sociais que terminaram por acarretar no pensar sobre as Resistências. Distância temporal, acesso aos arquivos, interesses de geração, enfim, inúmeras circunstâncias propiciaram essa evidente mudança que, ao fim e ao cabo, irá acirrar as tensões memorialísticas sobre os eventos.
Na competente discussão historiográfica trazida pela historiadora, fica evidente uma espécie de fórmula para o desenrolar da reflexão conceitual em cada país: quanto mais autoritário o regime, mais elástico o conceito parece se tornar – e assim abraçar uma variedade ainda maior de comportamentos. Assim, para os franceses resistir é agir diante de um inimigo externo. Com os italianos, o debate se aprofunda, uma vez que uma questão se impõe: a resistência teria se dado em relação a Mussolini (então, desde a década de 1920) ou no contexto da capitulação da Itália, da ocupação alemã e da República de Saló (1943)? E no caso alemão, em que o país não foi invadido? Haveria espaço para resistir? O que seria resistir naquele contexto?
Há ainda outros imperativos que dialogam diretamente com cada realidade nacional. Por exemplo, aquilo que envolve a coletividade ou individualidade da agência. No caso francês, a ação é primariamente coletiva (ainda que algumas atitudes individuais sejam consideradas também atos de resistência), enquanto na Alemanha a individualidade se impõe. O mesmo contraste se observa em relação à legalidade: enquanto na França a ilegalidade é condição mandatória para o ato de resistir, na Alemanha os resistentes são encontrados dentro dos signos das leis de então (funcionários de Estado, generais e outros militares, por exemplo que, em suas atividades, conseguiram de alguma forma apoiar o combate ao nazismo). Aqui a escolha da autora em comparar as distintas experiências se mostra um grande acerto, pois fica evidente essa ocasionalidade que conforma o conceito. No Estado invadido pode haver essa associação com a coletividade porque essa – a princípio – é contrária à barbárie nazista3, enquanto no outro a resistência tem que ser individual porque a coletividade é o inimigo. Na primeira agir ilegalmente é enfrentar o autoritarismo; na segunda, é necessário buscar a partir da legalidade a prátia resistente.
À essa pequena amostra da complexidade do debate somamos as cores locais de cada caso analisado. O que cada autor (e fontes, nos capítulos seguintes) considera ser resistência. Isso também varia, e muito, ao longo do tempo e de acordo com as subjetividades e escolhas políticas. Rollemberg destaca a importância de trabalhos como os de Henri Michel na década de 1960 e de Robert Paxton na seguinte (p. 23-25) para promover o repensar sobre o papel da França e dos franceses na Segunda Guerra Mundial. Ao fim e ao cabo, a variante que torna a conceitualização de “resistência” tão difícil é justamente a vida humana, tão prenhe de inconsistências e desvios que marcam uma trajetória individual. Nas discussões analisadas pela historiadora, é crucial considerar o que Primo Levi chamou de “zona cinzenta”, que escancara a insuficiência da oposição “resistente” versus “colaborador”, como se somente existisse a possibilidade de ser um ou outro. O termo, como disse Levi em Os Afogados e os Sobreviventes (2004), refere-se a uma zona de contornos mal definidos, da qual bem e mal, culpa e inocência fundem-se nos comportamentos do campo, impedindo qualquer tentativa de racionalizar a experiência concentracionária. Extrapolar o uso do termo da experiência dos campos para as vivências em territórios ocupados ou governados pelos fascismos é, para essa historiografia, ser capaz de observar a multiplicidade de comportamentos e a imensa dificuldade em atingir o consenso. Rollemberg, nesse sentido, comenta que mais importante do que encontrar essa definição harmônica é observar justamente as tensões e limites do uso da palavra (p.67).
Importa, por fim, destacar nesse capítulo que a autora comenta também sobre outros conceitos que rodeiam o de resistência, como os de oposição, resiliência, dissensão, entre outros. Os tais múltiplos comportamentos que destacam a vida na zona cinzenta, repetimos, são difíceis de serem aceitos dentro das rédeas de uma definição.
Sem que esse debate se feche, ele ganha novos e intrincados contornos, quando confrontados diante da temporalidade e dos usos políticos do passado. Isso fica gritante ao final do capítulo, quando a historiadora nos atenta para uma importante tensão entre memória e história: há um evidente descolamento narrativo no que envolve a questão étnica e racial e a luta contra a extrema-direita nesse momento analisado. O aspecto racial dos fascismos não importava muito para a ação resistente4. Por outro lado, ele é crucial para o esforço de memória. Não foi o gatilho das resistências, mas é a tônica da lembrança sobre elas.
É com esse olhar que Rollemberg analisa os Museus e memoriais da Resistência no restante do livro. A parte 1, composta pelos capítulos 2 e 3, dedica-se ao caso francês. No capítulo 2, a autora enfoca um rico conjunto de cerca de 60 museus ao longo de todo o território nacional. Ao observar tão ampla gama de lugares de memória (e aqui devemos a Pierre Nora o aparato teórico para a discussão), a historiadora chega a algumas conclusões interessantes. Existem, é claro, especificidades para cada instituição, relativas a questões de acervo, iluminação, uso de som, recursos audiovisuais, a grandiloquência do local, a cenografia, entre outros aspectos. No entanto, também parece claro a ela um certo apego a determinados modelos. Charles de Gaulle e Jean Moulin, lideranças da Resistência (externa e interna) Francesa, são figuras onipresentes, que têm destacadas as suas ações heroicas durante o conflito, enquanto são deixados de lado aspectos que poderiam ser contraditórios (mesmo no Museu Jean Moulin, em Paris)5.
Em termos narrativos, visualiza a repetição daqueles lugares comuns que apostam na cronologia mais simples para tratar da ascensão da extrema direita no período entreguerras até o estopim do conflito mundial e a experiência concentracionária. Há um certo apagamento das regionalidades de cada museu em nome dessa narrativa única e da função pedagógica que lhes cabem (p.125). A autora observa que existem poucos relatos de sobreviventes de campos de trabalho nos museus, e de nenhum relativo aos colaboradores. Ora, isso seria escancarar as inconsistências, a zona cinzenta, e a participação ativa do estado francês no genocídio (p.122). Um desserviço ao esforço de pacificação do passado proposto pelos museus.
Aqui apresenta-se o argumento mais forte desse capítulo, que é justamente a percepção de que há uma sobreposição da memória em relação à história nas narrativas museológicas. Diz a autora:
Sendo os museus históricos – informativos ou comemorativos – lugares de memória, são por natureza do campo da memória, não da história. Em outras palavras, nasceram reféns da memória. A crítica, já existente em muitos museus da Resistência, encontra aí seus limites. Ela se realiza plenamente quando faz dos museus objeto da história. (p.97)
Justifica-se, assim, a relevância do estudo materializado no livro da autora. O museu possui a dupla função comemorativa e informativa. Precisa produzir conhecimento e provocar emoção. Em nome disso, escolhas são feitas, e silenciamentos promovidos sem muito pudor. A vocação maior do museu é a celebração, e não a crítica. Daí a escolha dos temas da perseguição e da deportação, mesmo que não tenham por muitas vezes sido a motivação primeira dos movimentos da Resistência celebrados no espaço museológico. Daí a renovação historiográfica que acompanha os estudos sobre o período desde a década de 1970 ser incorporada timidamente naqueles espaços de memória. Daí a potência de um discurso que valoriza um coletivo imaginado: nós resistentes enfrentamos ele (indivíduo) colaborador.
O terceiro capítulo dedica-se à análise da escrita epistolar numa situação extrema: indivíduos que, resistentes ou reféns, receberam o aviso de que seriam fuzilados. Diante da certeza da morte, dentro de poucas horas, vinha a última missão de resumir uma trajetória e enviar a última mensagem aos entes queridos em algumas linhas. O número de indivíduos que passou por essa experiência não foi desprezível: cerca de 4.020 pessoas (p.172).
Denise Rollemberg esmiúça a morfologia de um conjunto de centenas dessas cartas e observa que, da situação-limite nasce uma escrita-limite (p.182). Os autores, provenientes dos mais distintos grupos sociais, regiões e convicções políticas e religiosas recorrem, muitas vezes, a temáticas e argumentos semelhantes quando estão a se despedir da vida. Em geral, parece que prevalece a ideia do “bem morrer”: uma postura de tranquilidade em relação ao final de suas trajetórias. Claro que a autora leva em consideração que as cartas possuem o objetivo de tranquilizar parentes e companheiros, e por isso imprimir um tom de serenidade pode ser importante para aquelas pessoas. Além disso, não se pode desprezar que essas cartas passaram pela censura (seja alemã, seja francesa) antes de chegar aos destinatários. Outras que contivessem informações consideradas problemáticas jamais conheceriam o seu destino.
Outros apontamentos são dignos de menção. Reforçando a ideia presente no primeiro capítulo sobre a clivagem entre história e memória, ela observa que, no íntimo, o judaísmo não é a força motriz desses indivíduos. São raras as menções à rotina judaica, ainda que o elo com valores cristãos seja bastante presente (p.189). Isso, aliás, é um argumento interessante da autora, que observa a prevalência dos valores da família, religião e tradição nas cartas. Ora, a tríade é bastante próxima do lema da França de Vichy: trabalho, família, pátria (p.199). A ela, parece então que os valores dos condenados são bastante conservadores, ao ponto de se confundirem com aqueles dos colaboracionistas.
Se algo parece revolucionário à autora, é na questão dos condenados com suas esposas. Mesmo diante da pressão de uma sociedade católica e conservadora, quase sempre sugeriam que suas mulheres buscassem a felicidade em novos relacionamentos. Isso, talvez, esteja de acordo com aquilo que subjaz a esse tipo de escrita: as cartas de despedida são, no limite, cartas para si. São expressões da imagem que aquelas pessoas queriam deixar para a posteridade, como gostariam que fossem lembrados. É, de alguma forma, a curadoria de uma memória individual.
A Parte II do livro analisa o caso italiano. No capítulo 4, Rollemberg estuda dezesseis museus e suas construções memorialísticas. Convencionou-se no discurso museológico que a resistência no país teria início em 8 de setembro de 1943, quando do armistício italiano. Esses museus escrevem uma história da Itália até abril de 1945, quando termina a ocupação estrangeira do país. A escolha narrativa, então, fica clara: trata-se do combate contra a Alemanha, e não ao fascismo de Mussolini, que demandaria um recuo temporal maior. Dessa forma, também elencam indivíduos do partido fascista como heróis da Resistência nos museus e memoriais.
Ao mesmo tempo, há um sutil deslocamento temporal do antifascismo na Itália, como se ele fosse dominante desde a década de 1930, e não somente após a crise do regime de Mussolini depois de 1940. O esforço de silenciar o passado fascista é bem claro. É por isso, também, que os museus italianos, diferente dos franceses, apostam mais nas histórias locais em suas representações. É mais um artifício para afastar-se do coletivo, uma vez que o governo italiano era fascista ao início do conflito.
O caso mais curioso destacado pela autora nesse capítulo é o da Piazzale Loreto, em Milão, onde ocorreu a famosa efeméride na qual os corpos de Mussolini, sua amante Clara Petacci e outros fascistas foram pendurados num posto de gasolina e ficaram expostos para a população local. Da cena, restam pouco mais que vestígios. O posto não está lá, o matagal cobre o memorial existente no local… O passado embaraçoso foi sendo recalcado, e tentou-se imprimir, a partir da Resistência, a visão oposta, a do júbilo pela morte gloriosa, diretamente associada ao martírio cristão.
O capítulo final discorre sobre uma das grandes histórias da resistência italiana, a dos Sette Fratelli. Na região da Emilia-Romagna, em 28 de dezembro de 1943, sete irmãos, trabalhadores rurais, foram fuzilados. Faziam parte de uma família que, ali, fazia oposição ferrenha ao regime fascista (o irmão mais velho era do Partido Comunista) e, quando da Ocupação, auxiliava em ações clandestinas para proteger outros membros da oposição ao regime. Centenas de estrangeiros passaram pela fazenda da família e encontraram abrigo e proteção. Não poderia haver narrativa mais conveniente a um esforço de memória sobre a Resistência.
A autora destaca a potência dessa história familiar aos esforços de memória, e mapeia as variações narrativas sofridas pela mesma. O cortejo dos corpos, acompanhado por uma multidão, ganhou status de celebração da liberdade somente quatro anos depois de ocorrido. E foi em 1953, quando Ítalo Calvino escreveu dois textos sobre o acontecido – o que por si só já é uma amostra do alcance da história – ela parece se estabelecer no imaginário social, inspirando outras obras literárias, pinturas e o cinema, através de documentários e um filme. A casa da família, naturalmente, tornou-se um museu. Aqui, não parece haver espaço para a historiografia. Calvino comete um equívoco (intencional ou não), situando a formação do grupo resistente após o armistício e não no contexto anterior, quando de fato ocorreu, e é essa narrativa que se cristaliza. Uma vez mais, como diz Rollemberg, “a memória inventa o passado” (p.345).
Resistência parece cumprir uma dupla função no debate acadêmico brasileiro. Por um lado, é mais um expoente da hoje consolidada discussão acerca das relações entre história e memória, presente em parte relevante de teses e dissertações produzidas nos últimos anos. Traz à cena uma bibliografia mais ampla sobre um debate que nos tem sido tão caro. Ao mesmo tempo, esse panorama conceitual e metodológico propicia novas visões sobre os fascismos e sobre a guerra, que devem ser levadas em conta em novas publicações sobre o tema.
Notas
2. A história dos conceitos, como sabemos, ganhou bastante corpo sobretudo a partir dos estudos de Reinhart Koselleck. Lembremos com o autor (mesmo que não tenha sido citado por Rollemberg) da ideia de que um conceito é também um ato – uma vez que colabora com uma prática ou ação no tempo histórico, e não apenas o nomeia. Isso fica muito claro com o conceito de Resistência.
3. É muito importante destacar que aqui pensamos dentro da perspectiva das narrativas construídas sobre os eventos e que foram centrais nas discussões conceituais sobre a “Resistência”. Dizemos isso por conta da experiência colaboracionista francesa, encarnada na França de Vichy, que a autora também destaca e analisa em seu livro.
4. O antissemitismo, por exemplo, não fazia parte dos discursos e práticas políticas de Mussolini na Itália. Na França, a maioria dos movimentos que compôs a M.U.R. (Movimentos Unidos da Resistência) não tinha a luta racial como pauta.
5. Na própria apresentação do livro a autora destaca a homossexualidade de Jean Moulin, que não aparece em nenhuma narrativa museológica, já que o grande mártir da Resistência não poderia, dentro de uma perspectiva conservadora de sociedade, estar associado a esse aspecto de sua intimidade. Lembremos também da problemática presidência de De Gaulle no contexto pós-guerra, entre 1959 e 1969.
Jougi Guimarães Yamashita – Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor do Ensino Fundamental da Escola Municipal Albert Einstein-RJ. E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3686-4500
CRUZ, Denise Rollemberg. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Ed. Alameda, 2016. Resenha de: YAMASHITA, Jougi Guimarães. As resistências à história nas narrativas museológicas francesas e italianas. Caminhos da História. Montes Claros, v. 23, n.1, p.118-124, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
O Movimento Estudantil na resistência à Ditadura Militar (1969-1979) – MÜLLER (RBH)
MÜLLER, Angélica. O Movimento Estudantil na resistência à Ditadura Militar (1969-1979). Rio de Janeiro: Garamond; Faperj, 2016. 224p. Resenha de: VALLE, Maria Ribeiro do. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.76, set./dez. 2017.
O livro O Movimento Estudantil na resistência à Ditadura Militar (1969-1979), de autoria de Angélica Müller, dialoga com os estudiosos que afirmam não ter havido continuidade da organização do movimento estudantil depois de decretar-se o Ato Institucional no 5 (AI-5), em dezembro de 1968. Sua tese principal é a de que, apesar da mudança de tática na luta dos estudantes, ela foi fruto de uma autocrítica das lutas do período anterior e responsável por gestar uma nova cultura política que passou a privilegiar as liberdades democráticas.
O percurso da reconstituição da União Nacional dos Estudantes (UNE), foco da análise, instigou a autora a costurar a colcha de retalhos das ações estudantis após o Congresso de Ibiúna, em outubro de 1968, quando a organização passa a agir na clandestinidade absoluta, até a sua extinção. Com a Lei n. 477, considerada o AI-5 da educação, o Conselho da UNE, já em 1970, optava pela organização de frentes de vanguarda por turmas e faculdades. Suas principais ações foram o Plebiscito do ensino pago em 1972, as lutas pela revogação dos Decretos-Leis números 477 e 464, e a crítica ao Projeto Rondon e à criação da disciplina de Moral e Cívica. Elas são consideradas por Müller como microrresistências pacíficas que contribuíram para gerar uma nova cultura no seio das oposições.
Mereceu destaque a luta estudantil contra a Política Educacional do governo que propunha a criação da disciplina Estudos sociais. Esta passaria a aglutinar as disciplinas de História, Geografia e Ciências Sociais, passando a desempenhar um papel de sustentação ideológica da política da ditadura.
Aqui eu gostaria de abrir um breve parêntese, chamando atenção para a proposta educacional do atual governo do presidente ilegítimo Michel Temer: típica de regimes autoritários, defende também a supressão das disciplinas críticas como a História e as Ciências Sociais.
O livro enfatiza também o vínculo entre o Movimento Estudantil (doravante ME) e os outros movimentos sociais de resistência à ditadura, tendo como fio condutor a Educação. Citam-se como emblemáticas a criação de grupos de teatro, a arte engajada, a publicação de jornais e a música de protesto, pelo fato de evidenciavam o conteúdo autoritário do regime. Aqui explicita-se o trabalho artesanal na confecção de uma colcha de retalhos, tecida pela historiadora com base no garimpo de formas de lutas diferentes e dispersas nos vários estados e cidades, travadas pela Igreja, pelos deputados e artistas. Os jornais estudantis tiveram importância ímpar tanto no engajamento político do ME, quanto na divulgação de suas ações e táticas. Apesar dos períodos mais duros do regime, os relatos da imprensa alternativa e clandestina ancoraram a crítica de Müller à historiografia que aponta os anos 1970 como marcados pela inexistência do movimento.
Também são elencadas as medidas tomadas pela ditadura na década anterior e que continuavam em vigor nos anos 1970, incidindo diretamente no ME: vigilância, repressão e censura por meio do Serviço Nacional de Informações (SNI), criado logo após o golpe de 64, e da Divisão de Segurança e Informações (DSI), criada em julho de 1967. A vigilância e a punição no Ensino Superior eram efetuadas pela instalação de inquéritos e regulamentadas pela criação das ASIs (nomeação de uma pessoa pelo MEC para fazer o elo entre a universidade e o governo) e da DSI (responsável pelas ações de normatização, vigilância e punição do ensino superior), garantindo os processos de expulsão de professores e estudantes que foram catalogados como um conjunto de subversivos, considerados um perigo para a nação.
No embate entre repressão e resistência, Müller enfatiza que o ME foi pioneiro na retomada do espaço público com a luta pelas liberdades democráticas. Sua pesquisa revela que, já nos primeiros anos do governo Geisel, a luta do ME vem à tona com as greves das universidades que ocorreram entre 1974 e 1975, respaldando a reorganização das correntes e das entidades representativas estudantis nas diferentes cidades e estados, quais sejam os DCEs, as UEEs e, finalmente, a reconstrução da UNE.
As greves, formas tradicionais de lutas estudantis, permitiram maior visibilidade às suas reivindicações e contribuíram para que o ME assumisse papel articulador nos diferentes movimentos sociais de resistência à ditadura. A greve da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, que se estendeu por mais de um semestre letivo, desencadeou a discussão dos problemas da realidade e preparou o terreno para a criação do DCE-Livre da USP em 1976. Esses episódios coincidiram com o assassinato de Vladimir Herzog pelo DOI-Codi e foram um marco importante para a defesa das liberdades democráticas pelo ME e pelos demais movimentos de contestação do regime militar.
A análise aprofundada da reorganização das novas e diferentes tendências do ME – bem como de suas diversas concepções de democracia – feita por Müller respalda, de forma consistente, sua tese de que a retomada do movimento estudantil na segunda metade da década não foi o despertar de uma inércia, nem o preenchimento de um vazio, apontado por boa parte dos historiadores. Ao contrário, depois de 10 anos de resistência restrita ao ambiente universitário, as greves e a volta às ruas sacramentaram a rearticulação da UNE e reforçaram o pioneirismo dos estudantes. Estas palavras de ordem começaram a ser abraçadas também por outros movimentos de oposição: pelas Liberdades Democráticas; Abaixo a carestia; pelo fim das torturas, prisões e perseguições políticas; pela anistia ampla e irrestrita. Foi emblemática da conjunção de diversas lutas a frase “Soltem os Nossos Presos operários e estudantes” presente nas passeatas.
É importante ressaltar que a pesquisa de Müller não se restringiu ao eixo Rio-São Paulo, o que lhe permitiu mostrar como efetiva a criação nacional de uma entidade estudantil. Além da Uerj, da Unesp e da PUC-RIO e da PUC-SP, a UFMG, a UFPE, UFBA e a UFRGS também iniciaram suas greves contra os cortes de verbas da universidade, pelo ensino público e gratuito e pelo boicote ao pagamento das anuidades.
Peço licença novamente para abrir outro parêntese: acredito que estamos vivenciando um retrocesso político, pois esses direitos são mais uma vez retaliados, numa amplitude inusitada, pelo governo do ilegítimo presidente Michel Temer.
Para Angélica Müller,
o ressurgimento das movimentações de massa ocorreu em novos moldes e em situação bem diversa da que caracterizou aquelas de 1968: não havia grandes líderes, não houve enfrentamentos nem uso de armas, e a plataforma de luta era bem ampla, ou seja, não restrita às reivindicações do ME. O que se exigia era o fim da ditadura militar. (p.134)
Há, a meu ver, uma fragilidade na análise de Müller, que dá muita ênfase às diferenças entre as bandeiras e formas de luta na década de 1970 e as do período anterior, e lança pouca luz sobre as semelhanças existentes. Se retomarmos as formas de luta do ME em 1968, notaremos uma grande cisão entre duas vertentes centrais: a que defendia as lutas específicas dos estudantes e a que defendia a luta política contra a ditadura, o capitalismo e o socialismo real. Apesar de, ao longo do ano, a segunda posição ter ganhado o maior espaço, em razão da conjuntura política, não podemos reduzir às suas as bandeiras estudantis. A luta pelo ensino público e gratuito, por exemplo, esteve presente o ano todo.
Ao contrário de Müller, acredito que a defesa dos princípios democráticos não é uma especificidade da década de 1970. Nesse sentido seria importante trazer à tona as ações, táticas e propostas estudantis desde o início da ditadura, em 1964, quando o ME já era um dos principais alvos do regime. A opção pelo caráter pacífico foi vitoriosa nas passeatas de 1966, enquanto a utilização da violência foi levada às ruas em 1968. Mas isso não significava existir uma hegemonia entre as diferentes entidades do ME. Acredito que o contraponto proposto pela historiadora entre a década de 1970 e 1968 ficaria, assim, mais bem delimitado.
O livro de Angélica Müller adquire importância histórica e social ao trazer à cena o movimento do ME na década de 1970, uma vez que nos devolve várias páginas da luta estudantil arrancadas pela ditadura militar. Vale muito a pena conhecê-las e, em grande medida, elas estão na ordem de nosso dia.
Maria Ribeiro do Valle – Departamento de Sociologia, Faculdade de Ciências e Letras (FCL) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Araraquara, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]
Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura – VALENTE (RBH)
VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 518p. Resenha de: ASCENSO, João Gabriel. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura é um trabalho verdadeiramente monumental, publicado em edição impecável pela Companhia das Letras como segundo livro da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Ao longo de 398 páginas de texto e mais de cem de notas, referências e imagens, Rubens Valente monta uma série de painéis que reconstroem paisagens, cenários, trajetórias individuais e eventos que marcaram a atuação de diversas personalidades envolvidas na chamada “questão indígena”, entre os anos 1960 e o início da década de 1980. A pesquisa, que contou com um ano de entrevistas e 14 mil quilômetros atravessados entre dez estados do país, incluindo dez aldeias, é tributária da própria trajetória de Valente, que, desde os anos 1990, realizou diversas reportagens em terras indígenas e, a partir de 2010, escreve para a sucursal de Brasília do jornal Folha de S. Paulo.
Os fuzis e as flechas é, portanto, um texto jornalístico. Seu tom biográfico é fruto do uso de um amplo leque de fontes orais cruzadas com material escrito, como entrevistas de época, relatórios e comunicações oficiais sobre casos ou indivíduos específicos. Trata-se de documentos muitas vezes sigilosos e que apenas puderam vir à tona depois do fim da ditadura – relativos, por exemplo, ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI), à Fundação Nacional do Índio (Funai), ao Ministério do Interior e à Assessoria de Segurança e Informação (ASI) instalada na Funai como braço do Serviço Nacional de Informação (SNI). A própria relação desses documentos, ao fim do livro, constitui referência de riquíssimo material para pesquisadores que resolvam dedicar-se ao estudo desse período.
Entretanto, o livro não tem um problema, uma questão central a ser perseguida dentro do amplo eixo temático “indígenas durante a ditadura militar”. Não há uma linha de investigação definida nessas quase quatrocentas páginas – o que resultaria em uma hipótese a ser comprovada. As ações do Estado, dos indígenas, ou dos indigenistas indicados carecem de contornos mais nítidos e contextuais. Deve-se destacar, de qualquer forma, que, ainda que isso gere um estranhamento imediato por parte dos historiadores, a construção desses contornos não é objetivo do livro, como obra jornalística que é. De todo modo, uma convicção, elaborada empiricamente com base no amplo material analisado, atravessa toda a obra: o genocídio indígena não foi fruto de mero descaso, irresponsabilidade ou falta de preparo, ele foi consentido pelo Estado.
A apresentação biográfica de alguns personagens destacados puxa um fio que leva a outros personagens, contextos e depoimentos. Ocorre que a passagem de um tema específico para o outro não tem uma direção certa: há um eixo mais ou menos cronológico a partir do qual assuntos e eventos se aglutinam, sem que sua escolha seja clara ao leitor. Para que possamos nos movimentar por um conjunto tão pouco coeso de informações, entretanto, contamos com um excelente índice remissivo, que nos socorre muitas vezes. O livro se inicia quando somos apresentados à figura do sertanista do SPI Antonio Cotrim, a partir de quem se desenha o primeiro quadro de uma tônica que se fará presente ao longo de todo o livro: o massacre de índios (neste caso, os Kararaô, do Pará) como resultado do despreparo das chamadas “frentes de atração”, que acabavam levando doenças para as terras nativas.
Daí, passamos pelo tema das remoções forçadas (como a dos Xavante do Mato Grosso) e pelas denúncias de violações de direitos humanos de grupos indígenas contidas no chamado Relatório Figueiredo. Passamos, ainda, pela atuação dúbia das missões religiosas junto aos indígenas: há evidência de uma mentalidade integracionista que desprezava as culturas nativas, ao mesmo tempo que os próprios missionários aparecem, algumas vezes, como defensores da integridade física desses povos. A ação de missionários religiosos num sentido oposto ao da assimilação também é discutida, particularmente a partir da formação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que, dentro da perspectiva da Teologia da Libertação, articulou as chamadas “assembleias indígenas”, mobilizando diferentes lideranças de todo o país e viabilizando a resistência desses grupos à ditadura.
A mentalidade integracionista do Estado e sua truculência são ainda apresentados pela criação da famigerada Guarda Rural Indígena (Grin) e pelo plano do ministro do Interior Maurício Rangel Reis de “emancipar” os índios, retirando-lhes o direito à terra. Além disso, discute-se o projeto de grandes obras de integração nacional, como a Transamazônica e diversas outras rodovias, que tiveram consequências fatais sobre os Parakanã, Asurini e Waimiri-Atroari, por exemplo, bem como a evidência do favorecimento, por parte do Estado, de grupos de mineradores, fazendeiros e empreiteiras com interesses em terras indígenas.
Em meio a isso tudo, um grande acerto de Valente é mostrar que a conivência de instituições como o SPI e a Funai com a ofensiva da ditadura não significou a concordância dos sertanistas e funcionários, que muitas vezes reagiram de maneira veemente, articulados a antropólogos e membros da sociedade civil e, sobretudo a partir dos anos 1970, com o apoio de boa parte da opinião pública internacional. Além disso, figuras que se tornariam icônicas no indigenismo brasileiro, como os irmãos Villas-Bôas, Francisco Meireles e seu filho José Apoena Meireles, e mesmo Darcy Ribeiro, são representados com a complexidade de figuras humanas. Ainda que nem sempre o autor consiga escapar de certa heroicização, aspectos controversos desses homens são destacados, como o relacionamento claramente abusivo de alguns dos Villas-Bôas com mulheres indígenas, a opinião dos Meireles de que o indígena fatalmente seria integrado à sociedade nacional, ou a recusa de Darcy Ribeiro em reconhecer a existência do povo Ofayé, dando argumentos aos fazendeiros que pretendiam tomar as terras desse grupo. Tanto por parte dos Villas-Bôas quanto dos Meireles, a crítica interna à Funai se alternava com uma defesa da instituição, em momentos nos quais graves denúncias pareciam caminhar para escândalos – levando-os até mesmo a posicionamentos contrários ao Cimi.
Na segunda metade do livro, tomam vulto algumas lideranças indígenas que se tornariam referência da luta dos anos 1970 e 1980. A trajetória do guarani Marçal de Souza (cuja foto serve de capa ao livro) ganha muito destaque: seu engajamento político, seguido de deportação interna, sua fala de denúncia junto ao papa João Paulo II e, finalmente, seu assassinato na aldeia Campestre. Outra liderança, o xavante Juruna, também recebe grande atenção: primeiro (e, até hoje, único) deputado federal indígena, com seu gravador em punho, sua trajetória no livro é retratada em todas as suas contradições, que evidenciam a dificuldade de articulação de um indígena em um modo de fazer política que não lhe é, a princípio, próprio. Além disso, instituições como a União das Nações Indígenas (Unid, posteriormente UNI) e o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), origem do atual Instituto Socioambiental (ISA), são descritas como resultado do processo de mobilização pela causa indígena – ainda que a afirmação de que a UNI “deu errado” seja bastante questionável.
Contudo, outras importantes lideranças, como o cacique Raoni e seu sobrinho Megaron Txucarramãe, Marcos Terena, o kayapó Paulinho Paiakan e o yanomami Davi Kopenawa são mencionados muito brevemente, sem que possamos entender o que levou à escolha de certas lideranças em detrimento de outras. No epílogo do livro, discute-se a rearticulação da Funai após a ditadura, a permanência da visão integracionista da cúpula militar e, chegando aos anos 2010, até mesmo as atuais propostas de emenda à Constituição de 1988, que recuam direitos conquistados. Mas essa Constituição não é analisada, embora seja o primeiro documento do Estado brasileiro a garantir ao indígena o direito de permanecer em sua terra e com a sua cultura, sem a necessidade de uma assimilação, e a articulação em torno da Assembleia Constituinte não é sequer mencionada. Surpreende negativamente a total ausência da figura de Ailton Krenak, que se notabilizou por sua potente fala na Constituinte, e o segundo plano a que são relegados a CPI do Índio, de 1968, e o Estatuto do Índio, de 1973. Mais uma vez, o que fica patente é a falta de clareza quanto às opções do autor a respeito de quais temas priorizar.
Toda obra tem lacunas, e uma com o porte e a ambição de Os fuzis e as flechas não poderia ser exceção. Se essas lacunas saltam aos olhos dos historiadores, de forma alguma desmerecem o esforço tremendo de Valente em reunir um corpo documental volumosíssimo e apresentá-lo em um texto muito bem escrito. Ao fim, em meio aos retrocessos de nossa década em relação aos direitos indígenas, o autor encontra espaço para a esperança, destacando os altos índices de natalidade dos povos indígenas e a resistência de suas culturas. Tanto em aldeias quanto nas cidades, muitos indígenas afirmaram que “preferem viver entre os seus, a despeito do preconceito, da marginalização e da incompreensão geral”, o que nos leva a perceber “um tipo de vitória, entre tantas derrotas”.
João Gabriel Ascenso – Doutorando em História Social da Cultura, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]
Elas dizem não! Mulheres camponesas e a resistência aos cultivos transgênicos no Brasil e Argentina – LIMA (SS)
LIMA, Márcia Maria Tait. Elas dizem não! Mulheres camponesas e a resistência aos cultivos transgênicos no Brasil e Argentina. Campinas: Editora Librum, 2015. E-book. Resenha de: SANCHEZ, Beatriz Rodrigues. As mulheres camponesas e as epistemologias feministas. Scientiæ Studia, São Paulo, v.15, n. 1, p. 187-95, 2017.
O livro Elas dizem não! Mulheres camponesas e resistências aos cultivos transgênicos no Brasil e Argentina é resultado da tese de doutorado de Márcia Tait Lima, defendida na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2014. Essa pesquisa pode ser vista como uma continuação das investigações anteriores da autora sobre as relações entre tecnociência e sociedade, tal como em sua dissertação de mestrado, publicada em 2011 com o título Tecnociência e cientistas: cientificismo e controvérsias na política de biossegurança brasileira. Naquele momento, já era possível verificar a existência de uma postura crítica e engajada da autora em relação a concepções mais tradicionais de ciência, aspecto que se tornou central no livro que será analisado a seguir.
Em seu livro mais recente, Márcia Tait Lima traz contribuições fundamentais não somente para a teoria política feminista, mas para todas as áreas do conhecimento que dialogam com o pensamento feminista. Ao apresentar as epistemologias feministas e do sul, a autora aponta para os limites da perspectiva científica racionalista e argumenta em prol de outras formas de olhar para o mundo. Essa oposição entre feminismo e positivismo é expressa em termos empíricos a partir da distinção entre os modos de produção das camponesas, que têm na metáfora da semente a sua base, e o agronegócio, que tem a mercantilização da vida como eixo central.
O livro recupera e homenageia a trajetória de luta das mulheres camponesas do Brasil e da Argentina que historicamente têm combatido o agronegócio e a mercantilização da vida. Márcia Tait faz com que seja possível ouvirmos as vozes dessas mulheres tantas vezes silenciadas não somente pela academia, mas também pela “história oficial” do feminismo, entendida aqui como a narrativa consagrada das feministas “veteranas”, “históricas” ou “fundadoras”, como elas próprias se autodenominam (cf. Alvarez, 2014). Considerando isso, desenvolver toda a riqueza do trabalho de Márcia Tait em algumas poucas páginas é uma tarefa árdua. Entretanto, será feito um esforço de sistematização das principais questões abordadas pela autora. Em primeiro lugar, cada capítulo do livro e os seus principais temas serão apresentados. Em seguida, as contribuições do trabalho para a teoria política feminista serão discutidas. Por fi m, algumas sugestões relacionadas à possibilidade de interlocução com determinadas perspectivas teóricas serão desenvolvidas.
No primeiro capítulo, a autora apresenta seu problema de pesquisa e a perspectiva teórica que será utilizada para analisá-lo. A abordagem situada e a parcialidade como pressupostos epistemológicos são os caminhos escolhidos para a realização da análise. A interdisciplinaridade é uma das características principais do trabalho, que trafega por áreas como os estudos sociais da ciência e da tecnologia, a sociologia e algumas vertentes do pensamento feminista. As epistemologias engajadas ou socialmente comprometidas e, mais especificamente, as epistemologias feministas e do sul fornecem os recursos teórico-conceituais necessários para a análise que virá a seguir.
No segundo capítulo, a metodologia utilizada nas pesquisas de campo realizadas na Argentina e no Brasil é apresentada. As mulheres que atuavam nos movimentos camponeses ou participavam de coletivos voltados à produção agrícola foram entrevistadas pela autora que também utilizou o método da observação participante. A escolha metodológica reflete a coerência da autora com relação aos pressupostos das epistemologias feministas, uma vez que a separação entre a pesquisadora e o “objeto” de estudo nem sempre é evidente. Toda pesquisa, inclusive aquelas que são exclusivamente empíricas, possuem pressupostos ontológicos e epistemológicos e cabe ao autor explicitá-los. Nesse caso, é justamente essa parcialidade da autora explicitada desde o início que confere maior riqueza e profundidade ao trabalho.
No capítulo três, o modelo de desenvolvimento agrícola industrial e seus impactos sobre a agricultura familiar são caracterizados. O crescimento dos oligopólios agrícolas, das áreas ocupadas por cultivos transgênicos e a privatização dos sistemas agroalimentares são apresentados criticamente pela autora. Em oposição a esse modo de produção, a autora demonstra como as lutas camponesas historicamente têm apontado para outras formas de cultivo como, por exemplo, a agroecologia. No entanto, em um contexto em que o agronegócio é o modo de produção hegemônico, essas formas de resistência encontram diversas barreiras para que possam continuar existindo.
No quarto capítulo, a discussão teórico-conceitual sobre os movimentos sociais e as diversas formas de ação coletiva são apresentadas. A partir de interpretações tanto sociológicas quanto da ciência política, a autora centra a análise na vertente da teoria dos novos movimentos sociais, que surgiu no início da década de 1970, deixando de fora da análise teorias contemporâneas sobre os movimentos sociais. A invisibilidade do trabalho das mulheres e a divisão sexual do trabalho na produção familiar camponesas são apresentadas como elementos constitutivos da identidade da mulher do campo, que é composta por diversos marcadores sociais de diferença.
No capítulo cinco, são estabelecidas algumas distinções entre os movimentos de mulheres e os movimentos feministas. Para isso, uma breve trajetória das mobilizações camponesas é traçada a partir da defesa da necessidade de formação de movimentos exclusivos de mulheres. De acordo com a autora, o feminismo camponês é distinto de outros tipos de feminismo, pois ele entende que elementos como a maternidade e a religião podem trazer benefícios para o cultivo da terra. Tendo esse fato em mente, a autora critica posições colonizadoras e tendentes à universalização de alguns feminismos que consideram as mulheres brancas das zonas urbanas como parâmetro para todas as outras mulheres.
No sexto capítulo, a resistência das mulheres camponesas é inserida em um contexto mais amplo de crítica à agricultura industrial. Do ponto de vista de Marcia Tait, a preservação das sementes crioulas em detrimento das sementes transgênicas é uma forma de crítica radical ao reducionismo biológico,1 ao antropocentrismo, ao androcentrismo e à mercantilização da vida. Dessa forma, as sementes são elevadas ao status de metáfora sobre os diversos modos de produção, já que cada uma delas representa posições políticas distintas. Em defesa da cultura camponesa, a autora apresenta argumentos convincentes contra o modelo do agronegócio.
No sétimo capítulo, uma ética baseada em uma ontologia feminista constituída a partir do ecofeminismo e das epistemologias das mulheres camponesas está no centro de uma abordagem não reducionista da vida e do meio ambiente. Após ter apresentado as epistemologias feministas no primeiro capítulo, a autora defende a possibilidade de definição de uma epistemologia feminista e camponesa que traz uma nova visão de mundo. Da perspectiva da autora, a ética contida nessa epistemologia é a alternativa necessária para o enfrentamento das crises ambiental, social e alimentar contemporâneas.
No último capítulo, a autora afirma que as ações protagonizadas por mulheres camponesas são capazes de ampliar as formas de resistência ao poder do agronegócio. Os estudos de caso do Brasil e da Argentina apresentam alternativas à matriz de pensamento hegemônica nas ciências, que é patriarcal, androcêntrica e antropocêntrica. Os oligopólios empresariais que lucram com a mercantilização dos alimentos são desafiados pelas mulheres do campo. O protagonismo das mulheres camponesas é uma das principais causas da mudança no paradigma de produção rural: suas vivências fazem com que a forma como cuidam da terra seja diferente tanto das formas “masculinas” do campo quanto das formas do agronegócio.
Partindo para uma apreciação crítica do livro, à primeira vista pode parecer que a maneira “feminina” de cuidar da terra contribui para a naturalização do papel das mulheres no campo, como se o fato biológico de ser mulher, por si só, fosse a explicação para essa visão diferenciada. No entanto, uma leitura aprofundada do trabalho revela que o modo feminino de cuidar da terra representa o contrário disso. Os movimentos de mulheres camponesas negam o essencialismo, mas de uma forma muito particular. Isso porque não rompem totalmente com algumas aproximações entre a natureza e alguns comportamentos reconhecidos como femininos. Alguns grupos, por exemplo, ressaltam o significado da maternidade para a mulher e defendem uma maior capacidade de empatia e solidariedade das mulheres em relação aos outros seres, sejam eles humanos ou não humanos. Mas isso não quer dizer que as mulheres camponesas reforcem estereótipos de gênero calcados na desigualdade entre homens e mulheres. O que elas fazem, na verdade, é, a partir de suas vivências, recuperar um modo de produção que se opõe ao agronegócio, já que envolve dimensões que não são racionais. As camponesas apresentam uma nova forma de olhar para o mundo, ou seja, uma nova epistemologia que desafia concepções positivistas de ciência, uma vez que incluem aspectos do âmbito privado na maneira de lidar com a produção de sementes. Ao trazer para o espaço público aspectos que antes eram considerados restritos ao espaço doméstico, as camponesas questionam a tradicional divisão entre público e privado, característica de visões positivistas da ciência que historicamente têm produzido diversas formas de exclusão de grupos marginalizados.
Teóricas feministas têm enfatizado a importância da desnaturalização das categorias sociais identitárias. Donna Haraway, por exemplo, afirma que,
com o reconhecimento, tão arduamente conquistado, da sua constituição histórica e social, o gênero, a raça e a classe não podem constituir a base para a crença na unidade “essencial”. Não existe nada no fato de ser “fêmea” que vincule naturalmente as mulheres. Não existe sequer o estado de “ser” fêmea, uma categoria em si mesma altamente complexa, construída em contestados discursos científico-sexuais e outras práticas sociais (Haraway, 1991 [1985], p. 232).
Dessa forma, não é a natureza feminina que fornece um olhar diferenciado para as mulheres camponesas, mas a sua localização na estrutura social. Por ocuparem uma posição específica, essas mulheres compartilham perspectivas sociais que se opõem àquelas pregadas pelo racionalismo científico. A teórica feminista que pela primeira vez formulou com maior profundidade o conceito de perspectiva social foi Iris Marion Young. Ela afirma que o posicionamento social e as relações sociais condicionam as “oportunidades e expectativas para a vida” (Young, 2000, p. 97) dos indivíduos. Isso quer dizer que entre aquelas que compartilham uma mesma perspectiva social, nesse caso entre as mulheres camponesas, emerge uma visão de mundo semelhante.
Nesse sentido, a ideia de conhecimentos situados é a chave fundamental para entendermos a dimensão epistemológica do trabalho manual das camponesas. De acordo com as epistemologias feministas, o olhar é sempre contextualizado, o que contraria os falsos universalismos da ciência positiva. Além disso, a parcialidade do próprio sujeito que conhece, e não a separação entre sujeito e objeto, é a característica fundamental do processo de produção do conhecimento. Isso quer dizer que a objetividade, desse ponto de vista, reside na própria contextualização do conhecimento. Nas palavras de Haraway,
a objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo, podemos tornar-nos responsáveis pelo que aprendemos a ver (Haraway, 1995, p. 21).
Outra contribuição fundamental que o livro de Márcia Tait traz para as ciências de modo geral e para o pensamento feminista especificamente é a conexão entre teoria e prática. O pensamento feminista, como demonstra a autora, é caracterizado por uma dualidade fundamental. É constituído, ao mesmo tempo, pela teoria e pela prática política. Militância e reflexão aliam-se em uma discussão teórica-acadêmica articulada à ação dos movimentos sociais. Assim, mais uma vez, a separação positivista entre sujeito e objeto é posta em xeque.
A divisão sexual do trabalho é outro conceito chave do livro que traz novos elementos para a teoria política feminista. Para entendermos as experiências compartilhadas pelas mulheres camponesas, é preciso recorrer ao fato de que historicamente as mulheres têm sido destinadas ao âmbito privado e os homens ao espaço público. Mesmo com todas as transformações ocorridas nas últimas décadas, as mulheres continuam a dedicar mais tempo às tarefas domésticas e, por outro lado, a ter rendimentos médios menores do que os homens pelo trabalho desempenhado fora de casa (cf. Biroli, 2015). O trabalho familiar é realizado pelas mulheres de forma gratuita, mesmo sendo uma parte essencial do funcionamento da estrutura produtiva do capitalismo. No caso das mulheres camponesas, o trabalho realizado por elas está relacionado também à produção para subsistência e ao cultivo de hortas, pomares e criação de pequenos animais (cf. Jalil, 2009). Como o objetivo primordial dessas atividades não é o comércio, elas não aparecem como trabalho, mas como uma mera “ajuda”, mesmo sendo condição fundamental para a existência da agricultura familiar. A divisão sexual do trabalho no campo possui, portanto, características específicas que precisam ser levadas
Outra contribuição fundamental do livro de Marcia Tait é a discussão que ela apresenta sobre a construção das identidades sociais. É interessante notar que as mulheres camponesas compartilham alguns marcadores sociais da diferença, entre eles gênero, classe e localidade. Na constituição de uma identidade coletiva “mulher camponesa”, essas diversas formas de opressão atuam conjuntamente. Para melhor compreender como esses marcadores operam na produção de exclusões, o conceito de interseccionalidade fornece um quadro analítico extremamente útil. Apesar de afirmar, no capítulo 4, que dialogar com as diferentes dimensões que constituem a identidade coletiva “mulher camponesa” é mais importante para pensar as possibilidades de transformação e emancipação social, do que chegar a definições sobre essa identidade, Marcia Tait não aponta como promover esse diálogo. Isso poderia ter sido feito a partir da perspectiva do feminismo interseccional.
A noção de interseccionalidade é fundamental porque, assim como as epistemologias feministas, desafia concepções tradicionais ou positivistas de ciência que defendem a neutralidade, a objetividade, a racionalidade e a universalidade do conhecimento. A ideia de um ponto de vista próprio à experiência dos indivíduos, fruto da conjunção das relações de poder de gênero, de classe e de raça é poderosa. Ela revela que a visão de mundo dos responsáveis por grande parte da produção de conhecimento ocidental tem origem em um espaço determinado: aquele ocupado por homens, brancos, ocidentais, membros das classes dominantes.
A definição de interseccionalidade postulada por Crenshaw (1994) lançou as bases para a teorização da noção de que diversas formas de opressão operam sobre o mesmo indivíduo. A interseccionalidade, de acordo com ela, é uma proposta para “levar em conta as múltiplas fontes de identidade”, embora não tenha a pretensão de “propor uma nova teoria globalizante da identidade” (Crenshaw, 1994, p. 54). O ponto central nesse conceito é o entendimento de que as formas de opressão não atingem os sujeitos isoladamente, mas de forma inter-relacionada. A “subordinação interseccional estrutural” representa “uma gama complexa de circunstâncias em que as políticas se intersectam com as estruturas básicas de desigualdade” (Crenshaw, 2002, p. 179).
As teóricas do feminismo negro entendem que nenhum marcador social da diferença sobrepõe-se a outros e que todos eles estão interligados. Hooks (1981) apresenta sua contribuição acerca da problemática da estabilidade homogeneizante da categoria “mulher” e a necessidade de atentar-se igualmente às formas combinadas de diferenciações e desigualdades como raça e classe social, entrecortando as experiências de mulheres. A partir da crítica às exclusões produzidas pela afirmação da existência de um sujeito coletivo e indiferenciado expresso na ideia “nós, mulheres”, elas produziram reflexões que hoje são incontornáveis tanto para as lutas quanto para as teorias feministas. O movimento do final dos anos 1970 conhecido como “black feminism” voltou sua crítica de maneira radical contra o feminismo branco, de classe média e heteronormativo. Para essas autoras, a complexidade das hierarquias que não se esgotam no gênero expõe limites e contradições do feminismo como projeto transformador. De acordo com Hooks (1984), para a maior parte das mulheres, a possibilidade de superar as condições atuais de exploração, dominação e opressão não está em igualar-se aos homens, mas em transformar as estruturas políticas e sociais.
Collins (2015) também traz contribuições importantes ao debate ao defender que o amplo conjunto de estudos sobre interseccionalidade seja analisado como mais do que uma proposta metodológica. Esses estudos deveriam ser vistos como um projeto de conhecimento que se organiza como um guarda-chuva teórico em que estão presentes três preocupações centrais: (1) a interseccionalidade como campo de estudos, com foco nos conteúdos e temas que caracterizam esse campo; (2) a interseccionalidade como estratégia analítica, com maior atenção aos “enquadramentos interseccionais” e a sua capacidade de produzir novas formas de conhecimento sobre o mundo social; (3) a interseccionalidade como uma forma de práxis social, com ênfase nas conexões entre conhecimento e justiça social.
Dessa forma, o horizonte de transformação projetado pelas teóricas feministas negras é ampliado, pois elas propõem que haja mudanças epistemológicas nas formas tradicionais de produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, transformação das estruturas de dominação racial, patriarcal e de classe. Um ponto de convergência entre as teóricas políticas negras é a proposta de não hierarquização entre as diversas formas de opressão, o que tem implicações teóricas e políticas significativas. Nesse sentido, as formulações teóricas sobre o conceito de interseccionalidade aqui apresentadas oferecem dispositivos analíticos úteis para analisar a exclusão das mulheres camponesas, uma vez que elas, assim como as mulheres negras, questionam o feminismo branco de classe média a partir da especificidade de suas vivências.
Marcia Tait opta por dialogar com as teorias dos novos movimentos sociais que tiveram origem na década de 1970. Entretanto, teorias feministas dos movimentos sociais mais contemporâneas poderiam fornecer distinções analíticas capazes de incluir o movimento de mulheres camponesas em um contexto mais amplo de pluralização do “campo feminista” (Alvarez, 2014, p. 4). Atualmente, novas formas de mobilização feminista têm surgido como, por exemplo, as jovens que protagonizaram as ocupações das escolas públicas e as blogueiras feministas que enxergam na internet um dos espaços possíveis de militância. Essas novas formas de atuação convivem com movimentos feministas mais tradicionais, ou seja, diversas gerações do movimento passam a coexistir. Isso faz com que repertórios de ação de natureza distinta convivam no mesmo espaço, nem sempre de maneira pacífica. A noção de “campo feminista” formulada por Sonia Alvarez (2014) surge para dar conta dessa pluralidade.
Um fator gerador de conflitos recentes dentro do campo feminista está relacionado à constituição de identidades sociais. Influenciadas pelo pensamento de Butler (2010), parte das feministas contemporâneas criticam a defesa de identidades fixas e defendem que a mobilização política deve ocorrer em torno de pautas específicas e não de categorias identitárias. Por outro lado, outras correntes mais próximas ao pensamento marxista e ao feminismo negro afirmam que a luta feminista deve levar em conta as condições estruturais de exclusão que se relacionam não somente ao gênero, mas também às discriminações raciais e de classe. Outra questão recente que é fonte de embates entre feministas diz respeito ao lugar das mulheres transexuais dentro do movimento. Feministas autodenominadas radicais entendem que o fato de ter órgãos sexuais femininos é determinante para a participação no movimento e, por isso, recebem críticas que as caracterizam como essencialistas. Outras feministas acreditam que o que determina o “ser mulher” não é a biologia, mas sim a sociabilização dos indivíduos e sua identidade de gênero, legitimando a participação de mulheres trans no movimento.
Como é possível perceber, o campo feminista contemporâneo é permeado de conflitos e disputas e, portanto, não pode ser representado de forma homogênea, o que traz desafios para as pesquisas que pretendem analisar os movimentos feministas contemporâneos. Como foi possível perceber a partir desta breve análise, o livro Elas dizem não! Mulheres camponesas e a resistência aos cultivos transgênicos traz contribuições fundamentais para as teóricas e militantes feministas preocupadas em entender o protagonismo das mulheres no campo. É também uma obra importante para as epistemologias feministas, uma vez que apresenta uma nova forma específica de olhar para o mundo e de produzir conhecimento, originada das vivências das mulheres camponesas. O grito, Elas dizem não!, faz jus à trajetória dos movimentos de mulheres camponesas que historicamente têm resistido aos transgênicos e ao agronegócio e apresentado uma alternativa produtiva como forma de emancipação social.
Notas
1 De acordo com o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), as sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades. Disponível em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/voc%C3%AA-sabe-qual-import%C3%A2ncia-das-sementes-crioulas>. Acesso em: 14 jan. 2016.
Referências
ALVAREZ, S. Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista. Cadernos Pagu, 43, p. 13-56, 2014.
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução R. Aguiar. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
BIROLI, F. Divisão sexual do trabalho e democracia. Trabalho apresentado no 39o Encontro Anual da Anpocs, 2015.
COLLINS, P. Intersectionality’s defi nitional dilemas. Annual Review of Sociology, 41, p. 1-20, 2015.
CRENSHAW, K. Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence against women of color. In: Fineman, M. & Mykitiuk, R. (Ed.). The public nature of private violence. New York: Routledge, 1994. p. 93-118.
_____. Documento para o Encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, Rio de Janeiro, 10, 1, p. 171-87, 2002.
FINEMAN, M. & Mykitiuk, R. (Ed.). The public nature of private violence. New York: Routledge, 1994.
HARAWAY, D. A cyborg manifesto: science, technology and social feminism in the late twentieth century. In: Haraway, D. (Ed.). Symians, cyborgs and women: the reinvention of nature. New York: Routledge, 1991 [1985]. p. 149-82.
_____. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, 5, p. 7-42, 1995.
HOOKS, B. Ain’t I a woman? Black women and feminism. Cambridge: South End, 1981.
_____. Feminist theory: from margin to center. Boston: South End Press, 1984.
JALIL, L. Mulheres e soberania alimentar: a luta para a transformação do meio rural brasileiro. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
LIMA, M. M. T. Tecnociência e cientistas: cientificismo e controvérsias na política de biossegurança brasileira. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2011.
_____. Elas dizem não! Mulheres camponesas e a resistência aos cultivos transgênicos. Campinas, SP: Librum, 2015. E-book. Disponível em: <http://www.librum.com.br/elasdizemnao/info/> Acesso em: 10 jan. 2017.
YOUNG, I. Inclusion and democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Beatriz Rodrigues Sanchez – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
A dominação e a arte da resistência: discursos ocultos | James Scott
Com o recente lançamento de A dominação e a arte da resistência pela livraria Letra Livre de Portugal (especializada em escritos libertários) podemos enfim dispor em língua portuguesa de uma das principais obras de James C. Scott. Até então os interessados nas ideias deste autor no Brasil tivemos de nos contentar com as traduções de uns poucos artigos publicados em periódicos acadêmicos.3
Há cinco décadas James C. Scott, professor de Ciência Política e Antropologia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, vem produzindo uma extensa obra que abrange diferentes campos de estudos, como economia política, relações agrárias, hegemonia e formas de resistência, política camponesa e, mais recentemente, anarquismo. Entre os seus livros mais importantes estão: The moral economy of the peasant (1979), Weapons of the weak (1985), Seeing like a state (1998) e The art of not being governed (2009). Leia Mais
La ciudad horizontal. Urbanismo y resistencia en un barrio de casas baratas de Barcelona | Stefano Portelli
¿Qué es Bon Pastor? Pregúntale al polvo…
Portelli, 2015, p. 11
La ciudad horizontal… deconstruye la conformación de un espacio barrial periférico atravesado por las prácticas sociales cotidianas y combativas de los sectores populares. La resistencia de los vecinos de Bon Pastor a la demolición de sus hogares en 2007, se concatena con una larga historia de luchas sociales por la defensa de su lugar en la ciudad.
Las Casas Baratas eran un conjunto de cuatro complejos de viviendas sociales unifamiliares, ubicados en la periferia industrial de Barcelona. A partir de los años noventa, los planes de transformación urbana del denominado “modelo Barcelona” consideraron pertinente “poner en valor” una serie de espacios públicos en desuso y antiguas áreas industriales. En esta reconfiguración urbana, Bon Pastor, un barrio pobre y deprimido de una ciudad en transformación, se consideró un espacio propicio para la inversión del capital privado destinada a compradores e inquilinos de clase media. Así, su ubicación estratégica en la nueva trama urbana produjo su valorización inmobiliaria, en paralelo, a la elaboración de un proyecto de viviendas en altura que lo suplantaría. En el caso de las Casas Baratas, o de otros barrios pobres, la gentrificación (SMITH, 2013) o recualificación urbana posibilita una baja inversión inicial y altas ganancias, una vez concluido el proceso. Es decir, en el capitalismo la urbanización se emplea para resolver los problemas de excedente de capital (HARVEY, 2008). El mercado incorpora grandes excedentes de capital, mientras, los activos inmobiliarios suben su precio. Además, se potencia el mercado interno de servicios y bienes de consumo.
Por esto, el ayuntamiento acordó con capitales privados el traslado de la población a nuevos edificios donde cada familia recibiría un departamento en propiedad. La tentadora propuesta generó una división de opiniones entre los vecinos del barrio. Mientras, los más jóvenes veían en ella el acceso a la casa propia, los más viejos no se encontraban dispuestos a abandonar su “casa” de toda la vida. Estas disidencias movilizaron a una parte de los residentes que se organizaron para enfrentar los desalojos. A pesar de las manifestaciones de resistencia barrial, a partir del 2007, el municipio comenzó con la primera etapa de demolición.
Stefano Portelli, junto al grupo multidisciplinar del Instituto de Antropología de Cataluña, se contactó con los locatarios de Bon Pastor con las primeras noticias de la remodelación barrial en 2004. Su experiencia como observador, paulatinamente se transformó en una experiencia militante, o en sus propias palabras: “a medio camino entre la investigación y el activismo político” (PORTELLI, 2015:12). En efecto, su apoyo a las acciones de los vecinos en 2007, provocó el replanteo del rumbo político que la investigación había adquirido. Como consecuencia de ello, en lugar de desdeñar esta arista se articuló una estrategia metodológica que la incorporara. Así, la etnografía se postula en este trabajo como una herramienta para enfrentar la planificación urbanística contemporánea, y así evidenciar, la cara oculta de estos procesos globales en consecuencias humanas. En otras palabras, La ciudad horizontal compone un relato etnográfico revanchista (SMITH,1996) que complejiza el lugar del investigador revalorizando su condición de sujeto social. Es decir, su agencia y sus intervenciones se asumen como parte del proceso de investigación.
Al recorrer las calles de Bon Pastor, Portelli se preguntaba acerca de la “horizontalidad relacional” que produjo el diseño arquitectónico de las Casas Baratas (viviendas unifamiliares, dispuestas en hileras, formando manzanas). La vivienda como dispositivo arquitectónico aislado ocluye los vínculos con el espacio que configuran dichas prácticas sociales. Como en otros barrios periféricos, las relaciones vecinales configuraron un espacio comunitario donde se desdibuja la distinción entre lo público y lo privado. La puerta, las ventanas y las veredas, abandonan su condición de murallas para convertirse en puentes. El hábitat periférico contempla al barrio como parte del dispositivo habitacional. En el emplazamiento de Bon Pastor, las viviendas a pie de calle colaboraron con una apropiación colectiva de los espacios comunes. Por esto a través de la etnografía, el autor (re)construye desde adentro la historia de la vida cotidiana del barrio y sus habitantes. Minuciosamente, se reseñan las biografías de los vecinos para desandar la “legitimidad territorial” que ellos obtuvieron a través de sus vidas allí.
La memoria de los locatarios es, en parte, la memoria del barrio, y en su yuxtaposición se compone el relato de legitimación territorial. El complejo de Casas Baratas de Bon Pastor se construyó en 1929 durante la Exposición Universal de Barcelona. Después de la primera guerra mundial, se aceleró la inmigración sureña a esta ciudad como resultado de su desarrollo industrial. En 1911 se sancionó la primera ley de las Casas Baratas. Aunque recién en 1924, durante el gobierno de Primo de Rivera, se promulgaron los decretos que obligaban a los ayuntamientos a edificar complejos públicos-privados de vivienda social. En vísperas de la Exposición, este proyecto fundió la solución a dos problemas: la revalorización inmobiliaria del centro y el traslado de los trabajadores a los márgenes urbanos. Carente de asistencia estatal y atravesada por las trayectorias de luchas obreras barcelonesas del último siglo, Bon Pastor configuró una identidad barrial fuerte y combativa.
De la misma manera que el relato de los vecinos compone una estrategia de legitimación territorial, las experiencias combativas son resignificadas para justificar las diversas acciones de resistencia al desalojo. Entre ellas, las persecuciones franquistas a los obreros anarquistas fueron sólo el comienzo. Luego de la guerra, la lucha contra el hambre y la reconstrucción de las zonas afectadas por la contienda impulsó la primera organización de vecinos de Bon Pastor. Asimismo, el régimen autoritario y la presencia de la iglesia en barrio obligaron a los vecinos a unirse para defenderse de ciertos abusos. Nuevamente, la expansión de la droga, en los años ochenta, unió a los vecinos para combatir su erradicación del barrio porque este flagelo afectaba a los más jóvenes de la comunidad. Y ahora, era la resistencia al desalojo, lo que los volvía a unir.
Entre sus experiencias militantes y sus historias de vida se percibe una trama relacional que sobrepasaba lo espacial y se reflejaba en el plano familiar. Para Portelli, esta era la historia de una gran familia. La ubicación de las casas de los entrevistados demuestra que la “horizontalidad relacional” se reforzaba con vínculos familiares. Varias generaciones de una misma familia habitaban en las Casas Baratas. Por esto, el referéndum del año 2004 a favor de las reformas barriales simbolizó una ruptura al interior de la comunidad, y a vez, de las tramas parentales. Por primera vez, vecinos y familias dividieron sus opiniones y no actuaron en bloque.
La ciudad horizontal (re)valoriza la categoría antropológica de comunidad. En ciencias sociales, los espacios periféricos son asociados con resabios de la comunidad de antiguo régimen. La dinámica propia de las relaciones barriales nos devuelven una imagen de estadio primigenio de vida social (CRAVINO, 2009). Así, la comunidad se valoriza teóricamente como una categoría positiva que sigue en vigencia para estudiar las relaciones sociales contemporáneas. Portelli, recurre a ella en un doble sentido. Por un lado, la noción de comunidad le permite indagar en la historia del barrio y los vínculos entre los vecinos. Los relatos personales arman y desarman la vida de ese espacio. Y en este diálogo, un conjunto de familias de un espacio periférico se erige en una comunidad aislada desde arriba y desde afuera que refuerza sus lazos con la experiencia residencial en este lugar. Al parecer, el aislamiento espacial consolida la noción de comunidad que él propone. Por otro lado, la misma comunidad, los cimientos sólidos de su historia, conformaron un movimiento social que enfrenta con acciones concretas la resistencia en el barrio para el afuera. Aunque por momentos ambigua, la definición de comunidad del autor es el punto de quiebre de su explicación. Esta ductilidad de la categoría antropología le permitió tensionarla en un doble movimiento. De un lado, la resistencia del grupo que no acuerda con la destrucción de sus hogares, que a la vez, se fragmenta con los vecinos que aceptaron la demolición, y tensionan lo colectivo desde otra postura. Así, la comunidad se refuerza y se escinde en un mismo movimiento.
El análisis de la conformación del espacio barrial en las Casas Baratas permite un diálogo con otros casos de precariedad habitacional en espacios periféricos. Los asentamientos irregulares latinoamericanos podrían ser un ejemplo de ello [2]. En estos espacios relegados, donde la ausencia estatal es profunda, los vínculos entre vecinos son esenciales para afrontar múltiples situaciones de la vida cotidiana. Al igual que en las Casas Baratas, las experiencias compartidas producen un correlato espacial. Aunque, los asentamientos irregulares, generalmente, surgen con una situación de ocupación ilegal del espacio urbano. Esta informalidad urbana no evita su organización para reclamar por su lugar en la ciudad. Así, como en Bon Pastor, se multiplican las estrategias de resistencia para conservar sus viviendas. El sostenimiento de esas estrategias, muchas veces, refleja lo profundo de los vínculos que se habían originado en el espacio barrial.
Nota
2 Según los países: “Villa Miseria” en Argentina, “Favela” en Brasil, “Callampas” en Chile, “Barriadas o Pueblos Jóvenes” en Perú, “Cartenguiles” en Uruguay, etc. Ver, CRAVINO, María Cristina (Comp.) Repensando la ciudad informal en América Latina, Los Polvorines: Universidad Nacional General Sarmiento, 2012.
Referências
CRAVINO, María Cristina. Vivir en la villa: relatos, trayectorias y estrategias habitacionales. Los Polvorines: Univ. Nacional de General Sarmiento, 2009.
HARVEY, David. La libertad en la ciudad”. Antípoda (7), 2008, pp.15-29.
SMITH, Neil. ¿Es la gentrificación una palabrota? La nueva frontera urbana, Madrid, Traficante de Sueños, 2013.pp.73-98.
Anahí Guadalupe Pagnoni1 – La autora es Licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Reviste como profesora auxiliar en la Cátedra de Espacio & Sociedad de la misma institución y como investigadora en el Centro de Estudios Culturales Urbanos (CECUR) de la Universidad Nacional de Rosario. E-mail: [email protected]
PORTELLI, Stefano. La ciudad horizontal. Urbanismo y resistencia en un barrio de casas baratas de Barcelona. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2015. Resenha de: PAGNONI, Anahí Guadalupe. Urbana. Campinas, v.7, n.2, p. 132-135, jul./dez. 2015. Acessar publicação original [DR]
Repressão e Resistência. Censura e Livros na Ditadura Militar / Sandra Reimão
Desde a década de 1980, em que ocorreu a abertura política no Brasil, não se assistia a tão grande empenho em desvelar fatos relacionados ao período da ditadura militar brasileira, empenho que se verifica tanto em atos políticos deliberados (como a criação de uma Comissão da Verdade ou o acesso a documentos considerados sigilosos) quanto em estudos, acadêmicos ou não, voltados à compreensão e elucidação daquele conturbado período de nossa história recente.
Em Repressão e Resistência. Censura e Livros na Ditadura Militar, Sandra Reimão lembra que uma das primeiras ações dos regimes autoritários é, justamente, a censura da liberdade de expressão, por meio da repressão à imprensa, aos livros, aos meios de comunicação etc. Nesse sentido, a autora se propõe estudar a censura de livros de ficção brasileira durante do regime autoritário de 1964 a 1985, em especial aqueles cujos processos (atualmente no Arquivo Nacional de Brasília) ficaram sob a responsabilidade do Departamento de Censura e Diversões Públicas (DCDP), órgão vinculado ao Serviço de Censura e Diversões Públicas e ao Ministério da Justiça. Em relação ao conceito de censura, define a autora: “concebemos a censura como parte de um aparelho de coerção e repressão que, muito mais do que afetar a circulação de alguns bens culturais, restringia a produção e a circulação da cultura, implicando uma profunda mudança no exercício da cidadania e da cultura em geral” (p. 14).
A autora lembra que, antes do golpe de 1964, consolidou-se no Brasil uma “reflexão social de ideário esquerdista” (p. 19), presente em parte da produção artística e intelectual, manifestações que, num primeiro momento, foram relativamente preservadas pelos militares, permitindo, por exemplo, a publicação da revista Pif-Paf (1964, por Millôr Fernandes), dos livros O ato e o fato (1964, de Carlos Heitor Cony), Quarup (1964, por Antônio Callado), Senhor Embaixador (1968, por Érico Veríssimo) etc., embora alguns outros livros tenham sido apreendidos já naquele momento, sobretudo os que tratavam do próprio golpe militar, como Primeiro de abril (de Mário Lago), O golpe de abril (de Edmundo Muniz), História Militar do Brasil (de Nelson Werneck Sodré) e outros. Ações mais intensas e direcionadas foram, igualmente, perpetradas pelo poder constituído, ainda nessa primeira fase do golpe, como a perseguição ao editor Ênio Silveira, o expurgo de bibliotecas pelo Ministro da Educação Flávio Lacerda, a perseguição das obras de Nelson Rodrigues pelo Ministro da Justiça Carlos Medeiros Silva, uma série de atentados a editoras e livrarias (Editora Tempo Brasileiro, Editora Civilização Brasileira, Livraria Forense) etc.
Com a edição do Ato Institucional n. 5 (AI-5) pelo Presidente Costa e Silva, em dezembro de 1968, a censura se adensa, espalhando-se por todo o país e atingindo todos os meios de comunicação, mas, ao mesmo tempo, dando ensejo ao aparecimento de uma imprensa alternativa e, às vezes, clandestina (O Pasquim, Opinião).
Apesar da diferença de números entre pesquisadores do assunto (Zuenir Ventura fala em 200 livros; Deonísio da Silva fala em 430 livros), a censura à produção editorial no período da ditatura foi intensa, atingindo inclusive a publicação de peças de teatro (Guilherme Figueiredo, Oduvaldo Vianna Filho, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos etc.), filmes (Macunaíma, São Bernardo, Toda nudez será castigada etc.), livros teóricos (Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, Guilhon Albuquerque, Rose Marie Muraro etc.) ou considerados pornográficos (Cassandra Rios, Adelaide Carraro, Márcia Fagundes Varella, Brigitte Bijou etc.).
Objeto de estudo da autora, os livros de ficção censurados, que constam nos arquivos do DCDP, são Quatro contos de pavor e alguns poemas desesperados (Álvaro Alves de Faria), Dez histórias imorais (Aguinaldo Silva), Meu companheiro querido (Alex Polari), Zero (Ignácio de Loyola Brandão), Em câmara lenta (Renato Tapajós), Aracelli, meu amor (José Louzeiro), Feliz ano novo (Rubem Fonseca), Diários de André (Brasigóis Felício) e os contos “Mister Curitiba” (Dalton Trevisan) e “O cobrador” (Rubem Fonseca), obras bastante diferentes, mas cujo tema comum a quase todas é a violência física e psicológica.
Tratando, em especial, do livro Feliz ano novo (1975, de Rubem Fonseca) e Zero (1976, de Ignácio de Loyola Brandão) – publicados num período (década de 1970) em que, segundo a autora, “a literatura tornou-se um centro de atenções” (p. 62) da ditadura militar -, Sandra Reimão afirma tratar-se de obras que têm no tema da violência um de seus assuntos principais. Sobre o livro de Aguinaldo Silva (Dez histórias imorais), afirma ter sido censurado quase dez anos após sua publicação, muito provavelmente em razão de sua militância contra o regime autoritário (trabalhou nos jornais Opinião e Movimento, ambos periódicos de resistência à ditadura) e em favor dos direitos dos homossexuais (foi, ao lado de outros escritores e intelectuais, fundador do jornal O Lampião, órgão da imprensa pioneiro nesse tema). Em relação ao livro Em câmara lenta (1977), de Renato Tapajós, a autora afirma ter sido um “caso único de autor preso durante a ditadura militar por causa do conteúdo de um livro” (p. 89), sendo, além disso, “o primeiro livro de memórias de ex-militantes políticos da década de 1960” (p. 91), a que se seguiram Os carbonários (Alfredo Sirkis) e O que é isso companheiro? (Fernando Gabeira). A autora trata, finalmente, dos dois contos censurados de, respectivamente, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca (ambos publicados na revista erótica Status, em 1978), tendo sido, ambos, no ano seguinte à censura, publicados em livro, sem contudo sofrerem censura desta vez.
Como conclusão, a autora chega a três constatações gerais: primeiro, a de que toda coação é temporária e limitada; segundo, a de que o ato censório é uma violência à própria cidadania, ultrapassando os limites da circulação de bens culturais; terceiro, a de que há quase sempre um grande número de ações de resistência à censura aos livros, da parte de editores, escritores, leitores etc.
O livro traz ainda alguns anexos: leis e pareceres, lista de livros censurados etc., o que, no conjunto, faz dele uma referência para os estudos sobre o tema e uma leitura necessária aos pesquisadores da censura cultural no Brasil do século passado.
Maurício Silva –Doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e professor da Universidade Nove de Julho (SP).
REIMÃO, Sandra. Repressão e Resistência. Censura e Livros na Ditadura Militar. São Paulo, Editora da USP/FAPESP, 2011. Resenha de: SILVA, Maurício. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.24, p.195-197, jan./jul., 2014. Acessar publicação original. [IF].
Frontera y guerra civil española: dominación,resistencia y usos de la memoria – SIMÕES (LH)
SIMÕES, Dulce. Frontera y guerra civil española: dominación,resistencia y usos de la memoria. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 2013, 400 pp. Resenha de: ROVISCO, Eduarda. Ler História, n. 67, p.196-199, 2014.
1 Resultante de uma tese de doutoramento em antropologia orientada por Paula Godinho e José María Valcuende del Río, este livro focado em Barrancos enquanto vértice do ângulo transfronteiriço formado com Oliva de la Frontera e Encinasola constitui uma minuciosa etnografia retrospetiva sobre os acontecimentos relativos à concentração e repatriamento de refugiados espanhóis em Barrancos em 1936, entretecida com uma análise sobre dominação e resistência nos campos raianos do sul durante as primeiras décadas das ditaduras ibéricas.
2 Dividido em seis capítulos, este é um livro que – tomando de empréstimo a expressão proferida por Afonso Cruz a propósito do primeiro romance de Ana Margarida de Carvalho – segue a rota do parafuso de pisão de Heráclito, enquanto síntese da reta e da curva, furando a direito e prendendo o leitor num movimento giratório ao longo de quatro capítulos em direção ao seu núcleo: o acontecimento descrito no capítulo quinto.
3 Nos primeiros dois capítulos dedicados à guerra civil espanhola e à fronteira, o leitor é introduzido no diálogo entre a história e a antropologia, nos movimentos sociais pela memória, e nos contextos sociais e históricos da fronteira e das povoações que compõem este triângulo. Nos dois capítulos seguintes, Dulce Simões procede a um segundo nível de contextualização do acontecimento colocando as peças sobre o lado português deste tabuleiro: ricos, pobres e representantes do Estado na fronteira de Barrancos. Os conceitos de hegemonia de Gramsci e de resistência de James C. Scott emergem aqui como eficaz matriz teórica que sustenta a análise.
4 Na abertura do terceiro capítulo, o leitor torna-se refém da brilhante narrativa de Dulce Simões ao ser colocado na praça central de Barrancos, entre os sócios da Sociedade União Barranquense (Sociedade dos Ricos) e da Sociedade Recreativa e Artística Barranquense (Sociedade dos Pobres), sentados frente a frente. A partir desta imagem da estratificação social, a autora inicia uma descrição contrastada do “sumptuoso” campo onde Juan de Bourbon ia caçar a convite da oligarquia agrária barranquenha, com a miséria dos trabalhadores rurais (assistida pelas sopas deslavadas da União de Caridade das Senhoras de Barrancos) e as suas práticas de resistência quotidiana que evitavam o conflito aberto.
5 No capítulo seguinte são explanados tópicos relativos ao papel do conflito espanhol como detonador do modelo fascizante do Estado Novo, ao apoio prestado por Portugal às forças nacionalistas e às estratégias cénicas do posicionamento de Salazar na arena internacional que auxiliam a compreensão do caracter singular do repatriamento para Tarragona dos refugiados republicanos acoitados em Barrancos. Este segundo nível de contextualização é encerrado com uma caracterização das forças de prevenção e vigilância contra a “ameaça roja” na fronteira de Barrancos. Esta vigilância foi intensificada após o golpe militar, passando a integrar o exército, a Guarda Fiscal, a GNR e a PVDE, sendo tecnicamente dirigida pelo Tenente António Augusto Seixas, então comandante da Secção da Guarda Fiscal de Safara.
6 O terror do plano de extermínio posto em prática pelas forças nacionalistas – colocando milhares de pessoas em fuga, muitas das quais para Portugal – descerra a descrição dos dois fluxos de refugiados para Barrancos. O primeiro fluxo, proveniente de Encinasola, ocorreu na segunda semana de Agosto de 1936 e integrou várias famílias apoiantes do golpe militar. Este movimento foi iniciado devido ao receio de que a coluna composta por mineiros de Riotinto e milicianos de Rosal de la Frontera (que havia já participado no assalto ao quartel da Guardia Civil de Aroche) se dirigisse para Encinasola. O segundo fluxo, procedente de Oliva da la Frontera (onde se concentravam milhares de refugiados das províncias de Badajoz e Huelva), derivou da tomada de Oliva pelos nacionalistas a 21 de Setembro de 1936, sendo composto maioritariamente por republicanos. Possuindo sinais político-ideológicos contrários, estes dois fluxos despoletaram formas de acolhimento diferenciadas. Enquanto os refugiados de Encinasola foram acolhidos pelas autoridades locais barranquenhas e alojados em casas da vila, os refugiados republicanos de Oliva viram-se confinados às margens da fronteira (nas herdades da Coitadinha e das Russianas) numa espécie de “quarentena social” contra o contágio ideológico, enfrentando a escassez de alimentos, a ausência de abrigos e “a incerteza sobre o seu destino” (p. 276).
7 Centrando-se nos refugiados pertencentes ao segundo fluxo, a autora relata a vida nos campos, o conjunto de ações das forças de vigilância, as manobras de resistência do Tenente Seixas assentes na manipulação de ordens recebidas e na ocultação do grupo reunido nas Russianas (que lhe valeu a condenação a dois meses de inatividade e à reforma compulsiva, sendo reintegrado em 1938, após ter recorrido da sentença), bem como as operações logísticas de repatriação para Tarragona dos 1.020 refugiados em Barrancos, muitos dos quais viriam a integrar as frentes de combate ou a partir para o exílio.
8 O sexto e último capítulo comporta uma análise do pós-guerra focada no terror enquanto “elemento estruturante do franquismo” (p. 314) e no contrabando como “principal atividade económica durante o pós-guerra” (p. 348), explicitada através da história de vida de Fermín Velázquez, um dos refugiados de Oliva acolhidos na Coitadinha. Durante a primeira década do pós-guerra, a vida deste carabineiro que havia jurado ser fiel à república desenrolou-se entre a sucessão de prisões e a clandestinidade em Portugal, comprovando que nestes anos a “mera existência se converteu numa experiência ameaçadora” (p. 338). Voltando a Oliva de la Frontera em 1948, Fermín Velázquez, como tantos outros republicanos, passa a dedicar-se ao contrabando aqui entendido como “arma dos fracos” e parte integrante da memória da guerra na fronteira.
9 Desta investigação de Dulce Simões havíamos já colhido importantes resultados, de que são exemplo a obra Barrancos na encruzilhada da Guerra Civil de Espanha. Memórias e Testemunhos (publicada em 2007 em Portugal e em 2008 em Espanha) ou o documentário “Los refugiados de Barrancos” produzido pela Asociacíon Cultural Mórrimer (em que participou como consultora) e que foram vitais na divulgação destes acontecimentos. Estes resultados, difundidos no decurso da investigação em ações enquadradas pela Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, contribuíram para a atribuição da Medalha da Extremadura ao povo de Barrancos em 2009 como reconhecimento pela sua solidariedade no acolhimento de refugiados, bem como para a edificação de um memorial em Oliva de la Frontera em 2010. Neste sentido, deve também ser referido que estes reflexos da investigação merecem a atenção da antropóloga que se desdobra num duplo movimento analítico assente no exame do acontecimento e do seu reflexo, sobretudo no que concerne às recentes formulações de Barrancos como “comunidade solidária”.
10 Marcante contribuição para a história da guerra civil de Espanha na raia luso-espanhola e para o estudo das fronteiras ibéricas, este livro inserido nas “lutas pela memória” constitui também uma inspiradora arma para as “lutas pelo futuro” que hoje se travam na Península Ibérica.
Eduarda Rovisco – ISCTE-IUL, Centro em Rede de Investigação em Antropologia.
Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives – DILLEHAY (C-RAC)
DILLEHAY, Tom D. Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives. Nueva York: Cambridge University Press, 2007. 484P. Resenha de: Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.42 n.2, p.539-540, dic. 2010.
Este libro ofrece una nueva mirada sobre la organización sociopolítica y religiosa de los Araucanos en la región central sur de Chile entre 1550 y 1850, a través del análisis arqueológico de paisajes sagrados, fuentes etnohistóricas y las narrativas rituales de chamanes (machi) contemporáneos. Dillehay aborda los amplios contextos regionales, intelectuales y materiales del monumentalismo araucano desde diferentes ángulos, incluyendo la economía política, la historia cultural, el materialismo cultural, la ideología, la teoría de la práctica, el simbolismo y el significado. Los montículos de tierra ceremoniales (kuel) son monumentos estéticos, líneas temporales, monumentos conmemorativos, identidades e ideologías arquitectónicas. Ilustran cómo se desarrollaron los paisajes sociales como parte de una nueva organización política, muestran cómo los líderes políticos tradicionales y los chamanes sacerdotales habitaban espacios sagrados y cómo les conferían valor a estos espacios para articular sistemas ideológicos dentro de la sociedad en general. El mapa araucano de rutas y lugares sagrados conecta los kuel con el mundo espiritual, cosmológico y natural así como con la historia de estos lugares en un recorrido topográfico sagrado. La articulación del poder ritual, social y del conocimiento era, por lo tanto, esencial para la construcción y expansión de la organización política regional araucana. Esta organización resistió eficazmente el avance extranjero durante tres siglos -primero de los españoles y luego de los chilenos-, hasta su derrota definitiva en 1884. Dillehay demuestra cómo los Araucanos manipulaban los conceptos de espacio, tiempo, memoria y pertenencia para oponerse a los intrusos y expandir su poder geopo-lítico en una organización política unificada, a medida que cambiaban las relaciones interétnicas a lo largo de la frontera española.
Dillehay cuestiona las percepciones anteriores de los Araucanos como grupos patrilineales descentralizados de cazadores y recolectores enfrentados unos con otros. Muestra que los valles de Purén y Lumaco utilizaron modelos andinos de autoridad estatal y su propio esquema cosmológico para desarrollar una organización política agrícola regional compuesta por patrilinajes dinásticos confederados con un alto grado de complejidad social y poder político. Esta confederación de organizaciones geopolíticas cada vez más amplias se constituyó en primera instancia en el nivel local de multipatrilinaje (ayllarehue) y, finalmente, en el nivel interregional (butanmapu). Dillehay sostiene que la organización política era jerárquica, aunque al servicio de un sistema religioso y sociopolítico heterárquico horizontal en el que los líderes compartían posiciones de poder y autoridad. Dillehay cuestiona la idea de que el control político esté ligado a la acumulación de riqueza material y poder ritual. Los Araucanos apreciaban y rivalizaban en gran medida por el prestigio y el respeto y el control del pueblo, pero existían muy pocas diferencias materiales entre los distintos líderes araucanos hasta fines del siglo XVIII. El período de uso del kuel dependía de la capacidad de liderazgo y de la sucesión de linajes dinásticos. Hoy en día las alianzas entre los kuel establecidas a través del matrimonio y su distribución en los valles de Purén y Lumaco emulan la organización espacial y de parentesco de los linajes que habitan el valle.
Los montículos interactivos de aspecto humano construidos por los Araucanos entre 1500 y 1850 requerían rituales para apaciguar, ofrendas de chicha y sangre de oveja, y obediencia a la ideología panaraucana a cambio de bienestar, protección, fertilidad agrícola y predicciones futuras. Los montículos, volcanes y montañas son equivalentes conceptuales y están asociados con las necesidades araucanas de defensa, territorio, refugio, contención e identidad relacional con volcanes y espíritus ancestrales. Los kuel son parientes vivos que unen a los Araucanos de diferentes regiones y promueven la soberanía étnica. Los kuel eran enterratorios de chamanes y jefes, monumentos conmemorativos de ancestros y genealogía, señales de estatus para líderes de linaje y lugares de ceremonias, festividades y poder político. Los sacerdotes chamanes (machi) realizaban rituales colectivos en los kuel para obtener consuelo, curación y bienestar. Los líderes políticos y militares (Ulmén, longko y toqui) utilizaban los kuel para sus discursos políticos. Estas performancias públicas reorganizaban los conceptos araucanos de culto a los ancestros, religión e ideología comunitarios en un marco más amplio y complejo para brindar apoyo a la organización política, y servían para reclutar mano de obra y soldados.
Si bien con Dillehay hemos documentado anteriormente y en forma independiente la práctica de los chamanes sacerdotales araucanos en los valles centrales del sur de Chile en el siglo XVII y en contextos contemporáneos, este libro es el primero en vincular las prácticas rituales sacerdotales de las machi con los montículos sagrados. El libro detalla cómo las machi contemporáneas se comunican con los montículos a través de ñauchi (alfabetización de montículos) y ofician de mediadores entre el montículo, la comunidad y otras deidades y espíritus. Los montículos son espíritus parientes que interactúan con machi contemporáneos, lugares de conocimiento donde las comunidades recuerdan su historia y expresiones materiales de la cosmología araucana. Los Araucanos contemporáneos de los valles de Purén y Lumaco continúan utilizando montículos para mantener relaciones entre pratilinajes y entre los vivos y muertos, el pasado, el presente y el futuro. Queda por ver el rol que los montículos y sus marcos sociopolíticos desempeñan en los movimientos contemporáneos de resistencia panaraucana.
Monuments, Empires and Resistance es un texto importante para arqueólogos y antropólogos interesados en los procesos demográficos, ideológicos y sociopolíticos asociados con el monumentalismo.
Ana Mariella Bacigalupo – State University of New York En Buffalo, USA. E-mail: [email protected]
[IF]
Berlim: um diário de idéias – DURÃO (AF)
DURÃO, F. Rio-Durham (NC). Berlim: um diário de idéias. Campinas: Publicações IEL/ UNICAMP (Coleção Work in progress), 2009. Resenha de: JÚNIOR, Douglas Garcia Alves. Experiências do pensamento diante da face das coisas. Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, out., 2009.
Fábio Durão apresenta um empreendimento incomum em nossos dias: um “diário de idéias”, composto de 85 fragmentos. Projeto ousado já na forma, que remete a Nietzsche e Adorno, filósofos que fizeram da forma de exposição em aforismos um elemento central de suas obras. Ousado, além disso, na amplitude e dificuldade dos temas tratados, que vão da dialética aos Estudos Culturais, da diferença entre as formas brasileira e norte-americana de sociabilidade ao capitalismo, da hermenêutica literária ao silêncio na música, da questão do lugar histórico das idéias à utopia do conhecimento. Reconhece-se, tanto na forma, como nos temas, o diálogo com Adorno, o que o torna ainda mais ousado: pretende- ria o autor reescrever as Minima Moralia em chave contemporânea e brasileira? No que se segue, reúno algumas indicações a respeito do teor das experiências de pensamento que Durão propõe. Trata-se de um breve comentário de quatro núcleos temáticos do livro de Durão, os quais, a meu ver, representam melhor o teor do seu trabalho como um todo. São eles: a reificação na prática acadêmica contemporânea; as dificuldades na lida hermenêutica com a alteridade da arte; as relações humanas como esfera de resistência à dominação capitalista; a utopia de uma teoria alegre. A reificação da academia Durão fala do contexto americano, alemão e brasileiro, mas é neste primeiro que ele mais se detém, tomando a sério o anúncio de Max Weber: “permitam-me que os conduza aos Estados Unidos da América, pois que lá se pode observar certo número de realidades em sua feição original e mais contundente” 1. O núcleo das suas anotações a respeito, retiradas de sua experiência pessoal naquele país, refere-se, em primeiro lugar, ao produtivismo e à competitividade, de feições abertamente capitalistas, que se observam em tudo o que é relaciona- do à universidade. Por outro lado, e intimamente relacionado a este primeiro aspecto, ele nota a contradição entre uma busca obstinada pela heterogeneidade, multiplicidade e pelo novo, por parte da crítica literária, da “Teoria” e dos Estudos Culturais, e o encerramento desses discursos em uma concepção anistórica e abstrata do “outro”, que termina por perdê-lo.
As várias faces do primeiro aspecto, Durão as encontra na prática americana das citações 2, na designação de “star” aplicada aos professores que detém um “grande nome” capaz de atrair muitas matrículas 3, n a especialização de cada departamento de universidade em um determinado tipo de “mercadorias culturais” 4, na polivalência de intelectuais que acompanham as demandas cambiantes de um trabalho flexibilizado 5, na transformação da prática intelectual em uma “máquina hermenêutica”, a recobrir de sentido (e perder) o movimento contraditório da realidade social capitalista 6. Quanto ao segundo aspecto apontado, a compulsão abstrata pelo “outro”, Durão a entende a partir de sua posição histórica e social, e da divisão social do trabalho. Cito: Muito se fala nos Estados Unidos do outro. Em inúmeras publicações, congressos, cursos etc encontra-se esse desejo pela diferença, por aquilo que não se repete, que anuncia o novo. A busca pelo diferente pode assumir as mais diversas formas: o entusiasmo pelos novos media, o deslumbre pelas possibilidades de sexualidades alternativas, a fixação pelo indefinível do corpo, a promessa de riqueza na mistura de culturas de imigrantes num mundo globalizado, a disseminação infinita do sentido no infinito da linguagem… Todas essas versões de alteridade têm seu contrário na realidade repetitiva da rotina do trabalho, na homogeneização dos hábitos por todo o globo, na Mcdonaldização do mundo. 7 Essa denúncia seria unilateral se não viesse acompanhada de um reconhecimento do que há de crítico nessa busca do “outro”. A “nebulosa da Teoria” porta consigo um teor de verdade: a indicação de que a aspiração ao novo não pode ser realizada nos quadros de um todo social que reprime a irrupção do heterogêneo sob a máscara da hiper-produção de sentido e do consumo de bens culturais. Escreve Durão: “entregar-se completamente à teoria da diferença, de fato, leva à auto-satisfação da classe média, mas ignorá-la por completo, reprimi-la, só faz com que ela volte, como uma vingança, para assombrar o discurso revolucionário dono da verdade” 8.
Durão sugere que a recuperação do momento de verdade da hermenêutica americana do “outro” passa por uma operação reflexiva, pelo dever de pensar as formas de produção de sentido sob o capitalismo contemporâneo, ao mesmo tempo em que se põe a pensar os problemas de uma leitura respeitosa e, ao mesmo tempo, desafiante, viva, das obras de arte. Torna-se impositivo resistir ao fluxo homogeneizador dos discursos da diferença, e abrir um “tempo lógico” para a teoria em sentido forte, isto é, para a contemplação da conexão inteligível imanente que se apreende das próprias coisas. Talvez a problemática da hermenêutica da obra de arte sob o capitalismo seja o locus privilegiado para pensar estas questões.
A (difícil) alteridade da arte
A incômoda experiência de fazer parte da massa de turistas diante da Mona Lisa, no Louvre, é senha para Durão pensar a questão da posição do receptor diante da obra de arte, do que esta tem de único e irredutível. Trata-se, naquele caso, de uma experiência em que está ausente o silêncio, em que não há tempo para que se desdobre um outro tipo de experiência, negativa (face ao excesso de sentido proposto): a de abrir-se à obra para que ela “perguntasse algo àquele que [a] via” 9. A renúncia à intenção subjetiva, assim, torna-se mediação incontornável para o contato com a alteridade. A leitura do mundo, das coisas, exige uma disciplina do sujeito. Não sua dissolução completa, em prol de um “objetivismo” ingênuo, mas participação no movimento constitutivo da obra. Ela exige, na verdade um trabalho do sujeito, no sentido de reconstituir as mediações históricas impressas na estrutura e no tecido da obra, e, além disso, de uma atenção ao que escapa a esse movimento, à sua não-identidade material irredutível. Durão torna clara a sua posição a esse respeito, ao comentar a prática acadêmica do close reading: Para a lírica, busca-se ambigüidades e padrões imagísticos recorrentes, assim como recursos sonoros organicamente li- gados ao sentido; para a prosa, investiga-se a profundeza e a verossimilhança psicológica dos personagens, a estruturação e o desenvolvimento do enredo. Subjacente a essa forma de ensino da literatura reside uma bela idéia de imediatidade e comunicabilidade da experiência humana (daí a identificação com personagens desempenhar um papel tão importante) seu aspecto negativo, no entanto, apresenta-se no apagamento da diferença, da estranheza que artefatos do passado geram quando parecem se fechar para nossas perguntas a eles 10. Como romper a reificação dos instrumentos hermenêuticos, dos métodos de análise estética? Como restituir ao objeto o que é do objeto, a sua alteridade mais secreta? Durão amplia o foco dessas questões a partir da consideração do oposto da obra de arte, do “lixo” da indústria cultural. Este, surpreendentemente, adquire um estatuto revelador para o crítico cultural interessado na não-identidade da arte. Por dois motivos. Em primeiro lugar, segundo Durão, é possível mostrar que o “puro ruim não existe”, que mesmo o mais reificado produto da indústria cultual contém, latente, um momento de utopia, anuncia uma promessa de satis- fação e liberdade 11 (ainda que não as sustente de modo radical). Além disso, mais fundamentalmente, trata-se de ter consciência de que, se o “lixo” da indústria cultural impõe uma cunha hermenêutica a seus receptores, impedindo-os de desenvolver uma leitura diferenciada do mundo, em franca contraposição, trata-se, para a crítica, de apontar estes entraves, para restituir o potencial obstruído de leitura do mundo 12. Enfim, é possível pensar a prática crítica e a leitura forte da obra de arte como um tipo de amizade, de uma relação em que atividade e passividade se complementam, para articular um campo de forças em que as tensões possam se exprimir, ao mesmo tempo em que a dominação e a violência, desse modo, possam ser substituídas pela coexistência vivificadora e autônoma. Talvez seja por isso que Durão enxergue nas relações interpessoais um potencial utópico não-desprezível.
A fragilidade e a resistência das relações humanas
Um dos mais interessantes fragmentos de Durão é o de número 41, sobre o universo social da praia de Copacabana. Enquanto a opção mais fácil para o intelectual crítico brasileiro seria a de apontar para o engodo da intimidade entre os socialmente desiguais, na esteira da crítica (justificada, diga-se) de Sérgio Buarque de Holanda à “cordialidade” brasileira, ele toma um outro rumo. Sem negar a injustiça impressa na realidade, ele chama a atenção para o teor de verdade da sociabilidade afetiva e próxima do carioca. O “esforço de se ligar a um outro” e o “ser amigável como ponte” portam algo de verdadeiro, na medida em que manifestam, de algum modo, um confronto com a realidade social que faz dos indivíduos “mônadas sociais irreconciliáveis”. O criminoso, que também circula por lá, lembra Durão, é aquele que nega essa proximidade, que expõe sua insuficiência 13.
Esse limite da proximidade carioca é posto em questão, nova- mente, por outra via, a do comentário da relação amorosa. Se o vocábulo “relação” chama para si a atenção para o aspecto desregulamenta- do e espontâneo do amor, é preciso apontar, lembra Durão, para aquilo que a “relação” exclui: a abertura para o mundo além das subjetividades envolvidas 14. O conteúdo utópico das relações interpessoais tem seu funda- mento na simples conversa, relação em que os interlocutores não se engajam primariamente em um objetivo instrumental, a qual Durão confere dignidade, ao comentar o texto de Jakobson, “Lingüística e Poética”. Ele ressalta o elemento de contato da linguagem, a “função fática”, e afirma que a conversa “define um tipo de troca onde o tópico ou o tema é flutuante, onde aquilo que me liga ao meu interlocutor é, simples e unicamente, o prazer de tê-lo à minha frente” 15. A dignidade do individual, do ôntico, em sua finitude e alteridade, é estabelecida, assim, na faculdade da linguagem, capaz de estabelecer e manter pontes com o outro, concreto e único. Não se deve esquecer, além disso, o elemento de prazer envolvido no exercício dessa faculdade. Esse elemento de prazer tem a ver com a experiência do reconhecimento da semelhança do “outro” – indivíduo, obra de arte, animal, coisa – com o sujeito. Essa dimensão mimética da experiência, desse modo, se faz notar como elemento fundamental tanto da ética quanto da estética. Durão, nesse sentido, em ressonância com Lévinas, chama a atenção para o elemento utópico da experiência da face, do rosto. Cito: Nossa capacidade de identificar caras, um ímpeto não-intencional e não-consciente, é talvez a prova maior da possibilidade concreta da utopia. O rosto faz humano (…) Desde Auschwitz, seu inimigo maior é o número. A felicidade reside no contrário, no aprendizado da leitura da face. O que é o amor senão a multiplicação dos rostos do ser amado? Quem ama está sempre vendo novas faces no outro, faces que no fundo quebram as amarras do indivíduo: de quem contempla, que se perde no rosto amado, e de quem é contemplado, cada vez com uma outra cara 16. Essa “possibilidade concreta da utopia” é o que cabe desdobrar como conceito a uma teoria atenta tanto ao particular individual e material quanto ao universal, à dinâmica social que lhe dá a lei e o insere numa ordem. A experiência do pensamento como alegria utópica
A referência a uma “teoria da alegria” 17, que me autorizo a interpretar como uma teoria alegre, faz eco aos dois autores que mencionei no início, Nietzsche e Adorno. Se, para o primeiro, a noção de uma “gaia ciência” 18 recebia o sentido de uma crítica da construção de mundos inteligíveis e da separação filosófica tradicional entre corpo e espírito (que desvalorizava o primeiro para melhor assegurar a dominação do último), em Adorno, a teoria, sobretudo a teoria moral, é tida como uma “triste ciência” 19, na medida em que “não há vida correta na falsa” 20, e que tanto pensamento quanto ação se vêm enredados na perpetuação da dominação social da natureza externa e interna. No entanto, para o autor da dialética negativa, resta ao pensamento a tarefa de determinar as condições de efetivação de uma “humanidade como utopia” 21.
Em Adorno, a “vida correta”, a arte autêntica e o pensamento forte se medem pela sua negatividade com relação ao estado de coisas existente, de super-exploração do trabalho e degradação da natureza, no capitalismo tardio. Durão recolhe a lição de Adorno, e sua escolha pelo fragmento é sinal disso: a “teoria da alegria” que persegue deve surgir do contato com os objetos, com a configuração de cultura e da sociabilidade no atual estádio histórico. O fragmento permite certa “lógica de sedimentação”, pois “os fragmentos devem dar boas vindas à insistência daquilo que, apesar de si próprios, se faz repetir” 22. O fragmento, recusando a lógica do sistema dedutivo, de premissa e conclusão, dá lugar à experiência do confronto do pensamento com o pensado, permitindo desenhar a figura de uma “utopia do saber”, afim à noção adorniana de “constelação”, que Durão descreve da seguinte maneira: Um bom conceito se deixa isolar apenas relutantemente, sob a pena de se oferecer como vítima. Aquilo que quer ter de único, de singular, aconteceria da sedimentação de seus contextos de ocorrência, que necessariamente deixam restos, parte de seu sentido para a qual permanecemos na maioria das vezes cegos 23.
Esse elemento fugidio do conceito, Durão o aborda por meio do que se poderia chamar de primazia da idéia em relação ao sujeito, à qual alude diversas vezes, ao dizer que “as idéias nos pensam” 24, que “as idéias nos possuem 25 ”, que, ao “caçador de idéias” intelectual, vale lembrar que “uma idéia não gostaria de ser caçada; ao invés, disso, preferia ser paparicada, cortejada, até mesmo às vezes esquecida para ser depois revisitada” 26. Mais adiante, ele aponta para a fragilidade do pensamento, ao se dar conta de que “é necessário acolhermos os pensamentos, pegá-los no colo e sermos doces com eles, ao invés de tentarmos ser mais fortes que eles” 27. Todas essas formulações sugerem a noção de uma necessidade de uma contínua auto-reflexão do pensamento a respeito de seus próprios pressupostos – mais uma afinidade com Nietzsche e Adorno, que denunciaram o caráter arbitrário e violento do sistema, mais afeito ao aumento da dominação sobre as coisas do que a uma relação verdadeira com sua não-identidade. Esse acolhimento da diferença do pensado em relação ao pensamento, Durão várias vezes o relaciona à idéia da necessidade de um corte no fluxo discursivo geral, num momento de silêncio da teoria. Uma fórmula resume essa concepção: “em silêncio, dar tempo para as coisas falarem” 28. Não se trata, porém, da busca do místico, que motivou um Wittgenstein, por exemplo. Trata-se de um difícil trabalho do sujeito, de encontrar e valorizar na experiência os “brancos” do discurso e da sobrecarga de sentido. Momentos tais como os sonhos diurnos, as conversas e os devaneios 29 – cujo potencial utópico foi valorizado por Ernst Bloch. Nesses blocos de experiência em que “para além de qualquer intenção individual ou consciência subjetiva” se expressa o anseio pelo inteiramente outro, o sujeito deve tentar encontrar a pulsão que ancore o pensamento, para além de todo sentido socialmente instaurado de felicidade, justiça e liberdade. Espero ter podido indicar, ao cabo, que há uma unidade que atravessa todos esses núcleos temáticos, e que tem a ver com algo extremamente difícil que o autor logra realizar, a meu ver: a articulação de uma tipologia contemporânea das dificuldades de se aceder a uma relação dialética (vale dizer, reflexiva e, ao mesmo tempo, interna, colada aos fenômenos) com o universo hiper-regulamentado da vida contemporânea, nos seus aspectos culturais, cognitivos e sociais. Ao fazer isso, penso que ele contribui para desfazer o equívoco, por um lado, de ver na teoria crítica da sociedade um mero exercício de pessimismo cultural, e, por outro, o engano daquelas “coleiras mentais” que, mais afeitas à administração da produção acadêmica do que à coisa mesma, ao exercício do pensamento, insistem em diferenciar entre autores e temas “sérios” daqueles pretensamente “não-filosóficos”. A estes, e a todos nós, o livro de Fábio Durão faz pensar e dá alento.
Notas
1 WEBER, Max. A ciência como vocação. In: Ciência e política: duas vocações. Trad. de Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1973, p. 43.
2 DURÃO, Fábio. Rio-Durham (NC)-Berlim: um diário de idéias. Campinas: Publicações IEL/UNICAMP (Coleção Work in progress), 2009, p. 16.
3 Idem, p. 32.
4 Idem, p; 34.
5 Idem, p. 46s.
6 Idem, p. 58s.
7 Durão, op. cit., p. 58.
8 Idem, p. 70.
9 Durão, op. cit., p. 27.
10 Idem, p. 45.
11 Durão, op. cit, p. 65.
12 Idem, p. 56.
13 Idem, p. 39s.
14 Durão, op. cit., p. 31s.
15 Idem, p. 69.
16 Idem, p. 34.
17 Durão, op. cit, p. 76.
18 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Trad. de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. Cf. especialmente o aforismo 1, p. 52s, sobre a valorização do ôntico, e o aforismo 324, p. 215, que fala da vida como experiência de alegria e conhecimento.
19 ADORNO, Theodor W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. Trad. de Luiz Bicca e revisão de Guido de Almeida. São Paulo: Ática, 1992, p. 7.
20 Idem, p. 33.
21 Idem, p.67.
22 Durão, op. cit., p. 33.
23 Idem, p. 42.
24 Idem, p. 44, 74.
25 Idem, p. 76.
26 Idem, p. 47.
27 Idem, p. 54.
28 Idem, p. 65
29 Idem, p. 62
Douglas Garcia Alves Júnior-Professor do Departamento de Filosofia da UFOP.
Arqueologia de La Represión y la Reistencia en América Latina 1960 – 1980 – FUNARI (CL)
FUNARI, Pedro Paulo A.; ZARANKIN, Andrés. (Org). Arqueologia de La Represión y la Reistencia en América Latina 1960 – 1980. Córdoba: Encuentro Grupo Editor, 2006. Resenha de: MILHEIRA, Rafael Guedes. Cadernos do LEPAARQ – Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio, Pelotas, v.2, n.4, ago./dez., 2005.
O livro Arqueologia de la Represión y la Resistencia en América Latina 1960 – 1980, editado pelos arqueólogos Pedro Paulo Funari e Andrés Zarankin, retoma uma discussão importante para a história contemporânea da América, pois trata de um momento histórico que não deve nunca ser esquecido, mas contrariamente a isso, sempre recordado e refletido.
O título do livro sintetiza com precisão o seu conteúdo, visto que a repressão e resistência são faces opostas de uma mesma moeda; são forças que se equivalem num sistema dialético e conflitivo, mas que, na visão dos autores, não podem ser simplesmente pensadas como um mero exercício retórico, pois são forças que ainda competem na atualidade e são responsáveis pela estruturação de parte das relações sociais vigentes. Nesse sentido, as forças políticas e os conflitos sociais, além de objeto de estudos da arqueologia, que visa à análise das práticas sociais a partir da materialidade, devem ser temas de reflexão dos pesquisadores com base na explicitação de suas posturas políticas.
Os nove capítulos do livro retratam experiências arqueológicas e históricas, relacionadas aos períodos ditatoriais e repressores, desenvolvidas em vários países da América Latina, a saber: Bolívia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, México e Colômbia. Nota-se uma preocupação constante dos autores em relatar, mesmo que brevemente, o contexto histórico-político dos países quando da instauração dos regimes repressores, bem como apresentando a estruturação das resistências políticas.
O primeiro capítulo, escrito por Roberto Rodriguez Suárez, relata a experiência arqueológica relacionada à busca dos restos corporais do General Che Guevara e companheiros na Bolívia. O autor enfatiza os caminhos metodológicos, envolvendo técnicas apuradas de campo para identificar a localidade das covas comuns dos guerrilheiros.
O texto de Rodrigo Navarrete e Ana Maria López é um estudo sobre os grafismos do Cuartel San Carlos – Venezuela. As paredes, tetos e chão do quartel serviram de mural para as representações gráficas do cárcere de presos políticos daquele país e permitem compreender o imaginário a partir de uma perspectiva material do regime político-repressor do estado.
Patrícia Fournier e Jorge Martinez Herrera refletem sobre o massacre da “Plaza de las Tres Culturas”, ocorrido no ano de 1968 no México, quando centenas de civis em passeata foram assassinados a queima roupa pelo governo dez dias antes da abertura das olimpíadas. Muitas vítimas desse massacre ainda estão desaparecidas, sendo necessários projetos que envolvam arqueologia, antropologia forense, história e direitos humanos para averiguar com maior precisão o genocídio cometido.
Carl Henrik Langeback trata de um estudo voltado para os aspectos epistemológicos e políticos da disciplina arqueológica na Colômbia. A reflexão teórica emerge da comparação entre o conhecimento arqueológico produzido pelos arqueólogos, tido no texto como classificatório e desprovido de significado de memória e, por outro lado, pelos intelectuais de esquerda, que sem base no registro arqueológico produziram conhecimento sobre o passado indígena pré-hispânico baseados na teorias marxistas.
Pedro Paulo Funari e Nanci Vieira de Oliveira refletem sobre a emergência da arqueologia do conflito no Brasil, enfatizando que a história das sociedades é a história das relações conflitivas. Os autores, dessa forma, contextualizam a arqueologia brasileira e pensam sobre as bases epistemológicas dessa arqueologia, que não se debruça em estudar o passado recente e repleto de indicadores de conflitos sociais relativo à repressão do período ditatorial militar.
Luis Fondebrider realiza um breve balanço sobre os 21 anos de desenvolvimento da antropologia forense na Argentina, através da participação da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF). O autor enfatiza a necessidade de fortalecer institucionalmente a participação dos arqueólogos na sociedade contemporânea. Destacam-se no texto as imagens fotográficas de escavações de covas comuns de presos políticos assassinados nos regimes repressores da Argentina, Etiópia e Congo.
A relação entre tortura, verdade, repressão e arqueologia na Argentina é o tema tratado por Alejandro F. Haber. As práticas de tortura, desenvolvidas pelos aparelhos repressores, servem não somente como repressão do corpo e da mente, mas também como um meio de estabelecer a auto-narração da verdade, imposta à força e sem diálogo, não levando em consideração a memória social das vítimas.
Como disciplina que constrói narrações sobre o passado, a arqueologia da repressão se diferencia daquela estritamente acadêmica em função da utilização da memória social, sobretudo dos parentes e amigos dos desaparecidos políticos, para desenvolver interpretações subjetivas sobre o passado. A não utilização dessa mesma prática de inclusão da memória social na explanação sobre o passado indígena foi responsável pela constituição de um conhecimento desprovido de memória e significado sócio-político José Lopéz Mazz relata experiências de atividades de arqueologia forense desenvolvidas no Uruguai com o objetivo de entender os aspectos materiais do aparelho repressor, bem como compreender as relações sociais estabelecidas no cárcere e a estruturação material da resistência.
A arqueologia da arquitetura dos Centros Clandestinos de Detenção da Argentina é o objeto de estudo de Andrés Zarankin e Cláudio Niro. Os CCD’s foram tratados como estruturas físicas do aparelho repressor que comportam, no seu registro material, aspectos da memória do período ditatorial da Argentina. O espaço arquitetônico dos CCD’s denota a planificação da estrutura de repressão e permite que a relação torturador-torturado adquira sua forma mais explícita. Além dos aspectos objetivos de análise da estrutura arquitetônica dos CDD’s, existe uma preocupação constante dos autores em estabelecer uma conexão entre as práticas arqueológicas objetivas e a memória subjetiva das vítimas, referente às experiências sofridas no cárcere. O relato do cárcere de Cláudio Niro, enquanto vítima da ditadura elucida a possibilidade metodológica de construção de narrativas do passado com base na articulação entre arqueologia e memória em contraposição à história oficial.
Nesse sentido, as palavras mais usadas nos textos: política, direitos humanos, arqueologia da repressão, esquerda política, repressão, direita política, aparato de controle, manipulação do poder, resistência, governo, ditadura militar, conflitos sociais, memória, democracia, passado, narração, marxismo, etc., refletem o conteúdo e a postura política dos autores, não somente com relação à ditadura, mas também com relação à concepção teórica narrativa sobre o passado.
A arqueologia é refletida desde suas bases epistemológicas e é chamada a ser comprometida com a dinâmica social, ou seja, conclama-se que a arqueologia tenha uma função social de conscientização e sirva como ferramenta para interpretar o passado e compor uma memória alternativa à história oficial. “El investigador puede así, de manera explícita, asumir una posición activa en el proceso de interpretación de un pasado que ya no es el verdadero, sino apenas una interpretación” (Zarankin e Niro, 2006, p. 165).
De forma crítica, os autores com base em influência marxista, criticam e refletem sobre as bases epistemológicas da disciplina desde sua formação até a atualidade e nos questionam o seguinte: qual o papel da arqueologia e do arqueólogo frente à dinâmica social? Que postura deve tomar o profissional de arqueologia, na medida em que esse lida com aspectos da memória social coletiva? E, por fim, que tipo de conhecimento sobre o passado a demanda social requer?
Rafael Guedes Milheira – Mestrando em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE- USP), Brasil. Pesquisador do Laboratório de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas (LEPAARQ – UFPel), Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
La Pacificación de la Provincia del Río del hacha. (1770-1776) – SOURDIS (M-RDHAC)
SOURDIS, Adelaida. La Pacificación de la Provincia del Río del hacha. (1770-1776). Bogotá: El Áncora Editores, 2004. 564p. Resenha de: SIEGLER, Ada de la Hoz. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.2, jan./jun., 2005.
Ada De La Hoz Siegler – Candidata a Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales y membro del Grupo de Investigación en Historia y Arqueología del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil | Marilena Chauí
Marilena Chauí escreveu este livro em 1985, inicialmente para um público estrangeiro, só publicando em nosso país no ano seguinte. Focaliza a Cultura Popular no Brasil, procurando definí-la e compreender sua dinâmica.
Em um primeiro momento, Chauí aborda as dificuldades de definição da expressão Cultura Popular, discutindo o conceito de “cultura”, procurando precisar o conceito de “popular”, sobretudo em suas formas predominantes no Brasil, originadas nos pontos de vista “romântico” e “ilustrado”. Contrapondo-se à identificação entre “Cultura de Massa” e “Cultura Popular” – encontrada tanto entre os “liberais” norte-americanos das décadas de 50 e 60, quanto entre os frankfurtianos -, Marilena propõe distinguí-las, relacionando Cultura de Massa à classe dominante (que a elabora e impõe) e Cultura Popular à classe dominada. Analisa o comportamento da segunda diante da primeira, em termos de estratégias de aceitação e recusa; assim, enfatiza “a dimensão cultural popular como prática local e temporalmente determinada, como atividade dispersa no interior da cultura dominante, como mescla de conformismo e resistência”. (p.43) Leia Mais
Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos | Eduardo França Paiva
Resenhista
Tarcísio Rodrigues Botelho – Professor Assistente do Departamento de História da UFG. Doutorando em História Social pela USP.
Referências desta Resenha
PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: Faculdades Integradas Newton Paiva, 1995. Resenha de: BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. História Revista. Goiânia, v.1, n.2, p.135-138, jul./dez.1996. Acesso apenas pelo link original [DR]