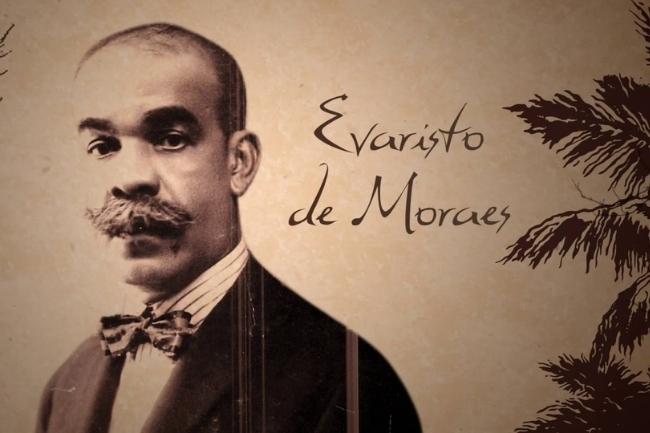Posts com a Tag ‘Escravidão’
Os brancos da lei: liberalismo/escravidão e mentalidade patriarcal no Império do Brasil | Jurandir Malerba
Não tem sido muito comum se fazer uma resenha de um livro em segunda edição. Os novos tempos acabam por nos impingir a última novidade. Contudo, assumimos esta ousadia por esse livro tratar originalmente de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF) de excepcional qualidade, de um historiador que se tornou referência nos estudos da história do Brasil. Tal é o caso do livro de Jurandir Malerba, cuja primeira edição remonta a 1994, publicado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), oriundo da sua dissertação de mestrado defendida no PPGH-UFF, em 1992 – Sob o verniz das ideias: liberalismo, escravidão e valores patriarcais no Código Criminal do Império do Brasil – sob orientação do saudoso professor Hamilton de Matos Monteiro Leia Mais
Uma história feita por mãos negras | Beatriz Nascimento, organizado por Alex Ratts
Beatriz Nascimento | Imagem: AdUFRJ
Nascida em Aracaju (SE), Maria Beatriz Nascimento (1942-1995)[1] produziu reflexões diversas e dispersas em artigos, entrevistas, roteiros cinematográficos sobre a história do negro no Brasil, ganhando visibilidade no debate historiográfico no país, nos últimos anos, por conta da publicação de seus textos em livros (Ratts, 2006; 2021), reveladores da atualidade de suas ideias sobre as relações raciais e de gênero. Graduada em História, em 1971, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela contribuiu, decisivamente, para a rearticulação do movimento negro no Rio de Janeiro, seja “participando das reuniões no Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA), situado na Universidade Cândido Mendes (UCAM)”, seja criando coletivos como o Grupo de Estudos André Rebouças (GTAR), na Universidade Federal Fluminense (UFF). Ela cursou especialização em História do Brasil, na Universidade Federal Fluminense, ingressando no Mestrado Acadêmico, sem concluí-lo (Pinn; Reis, 2021, p. 3). Em 1995, o curso de Mestrado na Escola de Comunicação, na UFRJ, sob a orientação de Muniz Sodré, foi interrompido, abruptamente, por sua morte prematura. Grande parte dessa experiência de vida e trajetória acadêmica está no livro Uma história feita por mãos negras, organizado por Alex Ratts, e lançado em 2021.

Una historia de la emancipación negra. Esclavitud y abolición en la Argentina | Magdalena Candioti
Magdalena CAndioti | Imagem: Litus
¿Cómo contar la historia de la abolición de la esclavitud en nuestro país? ¿A partir de los debates jurídicos en torno a la esclavitud y su ilegitimidad? ¿Escudriñando las experiencias de personas esclavizadas en sus sitios de trabajo, en el frente de batalla o en instancias de justicia para ensanchar sus márgenes de acción? El libro de Magdalena Candioti aborda el desafío de explorar de conjunto esas dimensiones de análisis para reconstruir un proceso complejo y no lineal. Y al hacerlo, busca contrarrestar omisiones históricas que aun informan los sentidos comunes sobre la experiencia negra en nuestro país. En torno a su problema de estudio, Candioti recorta una periodización que pone de manifiesto los hitos jurídicos y las estrategias cotidianas que allanaron el camino de la legislación y la volvieron herramienta útil. Pero también extiende la indagación hasta la segunda mitad del siglo XIX, más allá de las declaraciones formales de abolición. Así, muestra en qué medida la creación de nuestro país y sus instituciones se cimentó sobre exclusiones explícitas de base racial.
En los siete capítulos que componen el libro, la historiadora estudia el modo en el que los significados sobre igualdad y libertad alumbrados en tiempos revolucionarios impactaron entre la población esclava del territorio (capítulo 1); explora las interpretaciones y apropiaciones de la Ley de Vientre Libre y su incidencia en la vida de libertos y libertas (capítulos 2 y 3); indaga en los a veces enrevesados acuerdos sobre manumisión entre amos y personas esclavizadas y en la emancipación obtenida a través de la participación militar (capítulos 4 y 5) y revela aspectos de la construcción de nociones de ciudadanía y nación informadas por sesgos racistas, así como debates jurídicos y académicos en torno a la abolición de la esclavitud (capítulos 6 y 7). Leia Mais
Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745) | Renato da Silva Dias
D. João VI, Rei de Portugal | Detalhe de capa de Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745)
A obra em questão vem a lume dezesseis anos após a sua apresentação como tese de doutoramento em História, defendida pelo autor em 2004, na UFMG, sob orientação da professora Carla Anastasia. Nesse intervalo muita coisa se escreveu a respeito da história mineira no século XVIII.2 O trabalho de Renato da Silva Dias, Professor de História na Universidade Estadual de Montes Claros, não se preocupou em antecipar modismos e talvez por isso, recolocado no contexto atual, tenha preservado sua originalidade. Tributário da riquíssima historiografia que, nas décadas de 1980 e 1990, reescreveu a história de Minas Gerais no período colonial, Para a Glória de Deus e do Rei? explorou, em grande parte, as peculiaridades que tornaram a experiência mineradora um evento histórico singular no âmbito da América Portuguesa.
O tema investigado foi o das dimensões políticas do catolicismo luso penosamente imposto aos súditos de Minas. Em especial, Dias preocupou-se em avaliar de que forma a religião católica foi apropriada e reelaborada por africanos detentores de enormes diversidades étnicas, culturais, religiosas e políticas. Aprisionados na terra natal, traficados para a América Portuguesa e revendidos a senhores situados nos arraiais mineradores e em seus respectivos campos e currais, esses trabalhadores sofreram as consequências do escravismo colonial. Estilhaçados seus antigos vínculos e pertencimentos sociais, eles foram obrigados a adotar uma Leia Mais
A Campanha Abolicionista (1879-1888) | Evaristo de Moraes
Antônio Evaristo de Moraes | Imagem: Blog do Pedro Eloi
A abolição da escravidão, no Brasil, é uma questão de extrema relevância não só para os estudantes da História, mas para a sociedade como um todo. Este, foi o maior movimento negro e popular da história do país. Por isso, “A Campanha abolicionista (1879-1888), escrito há quase cem anos, por Antônio Evaristo de Moraes é leitura obrigatória porque o seu objetivo principal é apresentar, aos seus leitores contemporâneos e aos futuros leitores, os vários aspectos da campanha abolicionista, de maneira técnica, ou seja, como Moraes mesmo mencionou, não é um livro apenas para os “campeões da abolição”, “nem aos sustentadores da necessidade temporária da Escravidão” (p. 22). Assim, olhar do historiador Evaristo de Moraes é técnico e busca interpretar a história da abolição da escravidão no Brasil de tal forma.
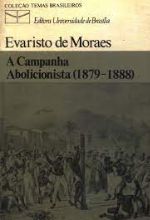
O Massacre dos Libertos. Sobre Raça e República no Brasil (1888-1889) | Matheus Gato
Matheus Gato I Imagem: CBN Campinas
O Massacre dos Liberto. Sobre Raça e República no Brasil (1888-1889) de Matheus Gato traz para a “sala de estar historiográfica” um acontecimento relegado pela calendário oficial, ocorrido em São Luís do Maranhão, durante o processo de instauração da República Brasileira, chamado “Massacre de 17 de Novembro”. 1
O boato que o golpe militar iria restaurar a escravidão mobilizou a grande população negra da cidade para protestar contra a Proclamação da República, em frente a sede do jornal republicano O Globo. A mobilização foi reprimida pela tropa postada na frente do edifício para garantir a “lei e ordem”, que abre fogo contra a multidão de negros ocasionando mortes e muitos feridos. Leia Mais
Una historia de la emancipación negra. Esclavitud y abolición en la Argentina | M. Candioti
Una historia de la emancipación negra reconstruye el proceso de deslegitimación, desestructuración y abolición de la esclavitud en el Río de la Plata. Puntualmente, indaga en lo que su autora denomina como el “tiempo de los libertos”, es decir, los años que transcurren entre 1813, cuando se dictó la ley de vientre libre, y 1853, cuando la Constitución dictó la abolición definitiva (1860 en el caso particular de Buenos Aires). Frente al silencio de la historiografía argentina –sintomático de una nación fundada bajo el presupuesto del predominio blanco y europeo de su población y cultura–, el libro busca responder cómo terminó la esclavitud en el Río de la Plata, qué hicieron las personas esclavizadas para emanciparse y cómo era la libertad imaginada tanto por las élites como por los mismos esclavizados. Leia Mais
Fantina: cenas da escravidão | Francisco Coelho Duarte Badaró
Não é comum, no campo da História, que obras literárias sejam resenhadas em revistas acadêmicas. A reedição recente de Fantina: cenas da escravidão, romance lançado originalmente em 1881 por Duarte Badaró, merece figurar como uma exceção, tanto pela sua evidente relação com um dos campos mais desenvolvidos da historiografia brasileira quanto pelo significativo aparato crítico que o acompanha. Publicada pela Chão Editora, especializada na edição de fontes primárias de grande interesse, a obra em questão vem acompanhada de um alentado posfácio de autoria de Sidney Chalhoub – cuja produção historiográfica ajudou a iluminar, ao longo das últimas décadas, a experiência da escravidão brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Juntos, o romance e o posfácio compõem uma obra que se apresenta, ao mesmo tempo, como um testemunho atento sobre uma das dimensões mais trágicas da ideologia de domínio que sustentou no Brasil o regime escravocrata – a naturalização da violência senhorial contra as mulheres escravizadas – e como um minucioso exercício metodológico sobre a relação entre a produção literária do período e a história social. Leia Mais
Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo
Em fevereiro de 2020, perto da capital dos Estados Unidos da América, visitando a plantation Mount Vernon – que pertenceu a George Washington -, a historiadora Ana Lucia Araujo encontrou à venda um ímã de geladeira que reproduzia uma dentadura do ex-presidente feita com dentes de escravizados. Fez disso um elemento da análise sobre como a plantation apresenta seu passado escravista; contrapôs o prosaico objeto ao fato de a propriedade realçar a face de “senhor benevolente” de George Washington ao mostrar como ele deixou manifesta no testamento a vontade de libertar seus escravos. O esdrúxulo da dentadura num íma de geladeira – que consiste em grave ofensa aos cativos e seus descendentes – e a libertação dos escravos em testamento poderiam render muita reflexão sobre as práticas escravistas; aqui, no entanto, são amostra das minúcias da análise de Ana Lucia Araujo no livro Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past, publicado meses depois de esta professora da Howard University ter se espantado com aquele artefato à venda.
É crescente a velocidade com que se sucedem episódios de conflito e de memorialização em torno da escravidão e do tráfico de africanos, mas Ana Lucia Araujo é ágil. A atualidade dos acontecimentos mobilizados no livro admira o leitor. A lojinha em Mount Vernon foi visitada em fevereiro de 2020, mas a autora examina muitos outros fatos recentes, como a discussão da troca de nome de um mercado construído no século XVIII em Boston (p.91-93) e as iniciativas oficiais de memorialização da escravidão na França (p.66). Leia Mais
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward Baptist
Edward E. Baptist | Foto: nytimes.com

O autor Edward Baptist é professor da Universidade de Cornell e historiador dos Estados Unidos, tendo o século XIX como recorte cronológico. Estuda a vida de homens e mulheres escravizados no Sul, região que é cenário de uma maciça expansão da escravatura, devido à lucratividade do algodão (o que terminou por precipitar a Guerra Civil em 1861). O público a que o livro se destina é aquele que deseja conhecer melhor a força da escravidão, por um lado, e, por outro, também a força dos escravizados. Também mata a sede de quem quer entender o contemporâneo apego dos estadunidenses ao lado perdedor da guerra, o sulista, que quis se separar do país para fundar um outro, a fim de manter a escravidão. Os efeitos duradouros desse apego podem ser simbolizados hoje, mais do que nunca, nas imagens da tentativa de golpe de Estado em 6 de janeiro de 2021, a qual, embora um fiasco, conseguiu desfraldar a bandeira confederada dentro do Capitólio. Leia Mais
História & Outras Eróticas | Martha S. SAntos e Marcos Antonio Menezes
O que pode um corpo sem juízo? Quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa? Não somos definidos pela natureza assim que nascemos Mas pela cultura que criamos e somos criados
Sexualidade e gênero são campos abertos
De nossas personalidades e preenchemos
Conforme absorvemos elementos do mundo ao redor
Nos tornamos mulheres – ou homens,
Não nascemos nada
Talvez nem humanos nascemos
Sob a cultura, a ação do tempo, do espaço, história
Geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo
Homens, mulheres, transgêneros, cisgêneros, heterossexuais
Homossexuais, bissexuais, e o que mais quisermos
Pudermos ou nos dispusermos a ser
O que pode o seu corpo?
Jup do Bairro.
História & Outras Eróticas, organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio Menezes e Robson Pereira da Silva, é fruto de um esforço científico coletivo que extrapola a materialidade dos textos que compõe a obra. O troca-troca cultural entre arte e agenda política (MEIHY, 2020, p. 13) que nos chega, tem origem na realização do VI Congresso Internacional de História da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Desta feita, os louros pela excelência são creditados aos/às autores/as e estendem-se aos discentes e docentes do Curso de Licenciatura em História da referida universidade, bem como, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo investimento na produção científica brasileira. Leia Mais
A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica | Mariana Muaze e Ricardo H Salles (R)
Mariana Muaze e Ricardo Salles | Foto: Divulgação

Denominada A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica, a coletânea é resultado dos trabalhos de pesquisas e discussões do grupo interinstitucional “O Império do Brasil e a segunda escravidão”, formado por pesquisadores da Unirio, Mast, UFF, USP, Unifesp, UFJF e UFSC e pelos integrantes do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial (Lab-Mundi/USP).
Se o propósito era pensar a porosidade do conceito de segunda escravidão, ele se configura na breve apresentação de Dale Tomich, que nos indica que “segunda escravidão é um conceito aberto que tem o objetivo de repensar a relação entre capitalismo e escravidão e as causas desta última no Oitocentos” (Tomich, 2020, p. 13). Pretendendo sublinhar que a abordagem da segunda escravidão trata “as relações escravistas históricas reais [que] são constituídas […] pela forma das relações senhor-escravo […] por processos de produção materiais específicos (açúcar, café, algodão) […] por sua posição relativa na divisão internacional do trabalho e no mercado mundial […]” (p. 14), realça que a origem do conceito é fruto da “insatisfação com histórias lineares da escravidão que a veem como incompatível com o capitalismo industrial e as ideias liberais de propriedade e liberdade” (p. 13).
É nesse quadro de “escravidão em interação com a construção dos Estados nacionais e com a expansão internacional do mercado escravista” (Muaze, Salles, 2020, p. 19) que se deve colocar o livro organizado por Mariana Muaze e Ricardo Salles. O que primeiro chama a atenção é que a coletânea tem como pilar central “o problema histórico de como a escravidão moldou o capitalismo brasileiro no século XIX e na atualidade” (p. 20). De fato, esse eixo central, colocando problemas, proporciona análises, revisões e novidades que enriquecem o conhecimento que se tem da escravidão.
A obra é dividida em quatro partes. Na primeira, aborda-se a constituição da “Segunda escravidão e o capitalismo histórico em perspectiva atlântica”. Seu mérito reside na estimulante e bem arejada exposição de Leonardo Marques sobre o percurso historiográfico das ideias que compõem o espectro analítico do conceito de segunda escravidão e sobre os desafios de integrar o mundo político e cultural nas narrativas de emergência e destruição da segunda escravidão. Além de contar com o “ensaio de historiografia” de Ricardo Salles, no qual direciona especial atenção para o debate sobre as relações entre capitalismo e escravidão, partindo da consideração de que nos Estados Unidos “o problema dessas relações se apresentou de forma mais aguda” (Salles, 2020, p. 27). Já no último capítulo da primeira seção, Rafael Marquese tece comentários críticos.
A segunda parte, “Segunda escravidão e diversidade econômica e regional”, reúne quatro trabalhos. No primeiro, Luiz Fernando Saraiva e Rita Almico, com o intuito de investigarem a associação entre escravidão e a modernização da economia brasileira no século XIX, identificam as relações entre as economias mercantis escravistas regionais e a segunda escravidão. Em seguida, Walter Pereira direciona especial atenção para o dinamismo econômico do município de Campos dos Goytacases, ao longo da segunda metade do século XIX. As reflexões críticas desses artigos condensam os comentários de Renato Leite Marcondes e Gabriel Aladrén.
Já a terceira parte confere centralidade à relação entre segunda escravidão e o período Colonial Tardio. Valendo-se dos artigos de Carlos Gabriel Guimarães e Carlos Leonardo Kelmer Martins e comentários de Rodrigo Goyena Soares, essa seção combina reflexões epistemológicas e resultados preliminares de pesquisa.
A última seção do livro apresenta discussões metodológicas. O debate gira em torno das possíveis articulações entre o micro e o macro. Em outras palavras, do entrelaçar das propostas advindas da segunda escravidão e da micro-história. Três historiadores, Mariana Muaze, Thiago Campos Pessoa e Waldomiro Silva Junior, se dedicam a esse esforço. No último capítulo, a historiadora Mônica Ribeiro de Oliveira elabora os comentários críticos sobre as proposições metodológicas.
Ricardo Salles, no primeiro capítulo, faz uma longa travessia historiográfica desde Graham, Genovese, Fogel e Engerman aos recentes estudos de Sven Beckert e Seth Rockman. Retoma tradições de pensamento sobre escravidão e capitalismo: os esforços comparativos entre o “Velho Sul” e o Brasil; o problema das mentalidades ditas “mais racionais” diante dos comportamentos patriarcais de status e poder; a lucratividade, racionalidade e caráter capitalista da escravidão propostas pela New Economic History; os riscos dos excessos de empirismo ou de abstração teórico-metodológica no ofício do historiador; o capitalismo da escravidão de Rockman e Beckert; a centralidade da economia sulista norte-americana no desenvolvimento capitalista; a escravidão nos Estados Unidos face ao pacto político da estrutura de poder federativa; e, no caso brasileiro, o Império do Brasil e sua estrutura de poder unitária, assentada na difusão da escravidão por todo território, alicerçada na hegemonia política e social da fração da classe senhorial da bacia do Paraíba do Sul. E, por fim, a validade instrumental do conceito de segunda escravidão como uma estrutura histórica específica.
Salles aponta que o conceito de segunda escravidão “hibernou” entre 1988 e até fins da década de 1990. Em 1999, de maneira “pioneira e isoladamente” Christhopher Schmidt-Nowara valeu-se do conceito para analisar a escravidão cubana e porto-riquenha no Novo Império Colonial Espanhol do século XIX. Em 2004, o conceito desembarcou no Brasil. Rafael Marquese o empregou em Feitores do corpo, missionários da mente.
No plano da historiografia brasileira, subjacente a essa escolha conceitual, Salles indica que a apropriação do conceito de segunda escravidão relaciona-se diretamente ao “abandono do conceito de capitalismo” pelas correntes historiográficas do “sentido arcaico da escravidão brasileira e a historiografia com ênfase na agência escrava” (Salles, 2020, p. 36). O novo aporte não apenas conduz a análise para o dimensionamento do processo de longa duração e os quadros globais do capitalismo histórico como também para “a discussão da relação entre escravidão e desenvolvimento do capitalismo dependente, periférico e excludente no país” (p. 36).
No capítulo seguinte, cujo objetivo é aprofundar o debate historiográfico sobre escravidão e capitalismo, Leonardo Marques aponta limites e potencialidades do conceito de segunda escravidão. Valendo-se de amplo espectro historiográfico, perpassa o marxismo, a noção de sistema-mundo, Global History e a New History of Capitalism. A exposição reconhece como mérito da segunda escravidão, além de recolocar em cena o tema escravidão e capitalismo, o questionamento que ela oferece contra “o nacionalismo metodológico que ainda informa uma parcela importante da produção historiográfica mundial […]”. (Marques, 2020, p. 55). Para Marques, a contribuição historiográfica essencial é a visão integrada dos mútuos condicionamentos das três principais sociedades escravistas das Américas (Cuba, Brasil e Estados Unidos), pois permite reconstituir o lugar dessas sociedades no capitalismo global do século XIX. Tomando por base essa perspectiva, indica que, diante desse enquadramento analítico, ultrapassa-se o conceito de segunda escravidão, pois, nesse caso, “o procedimento sugerido por Tomich é mais importante do que o próprio conceito […]” (Marques, 2020, p. 68).
Como resultado dos dois capítulos iniciais, Rafael de Bivar Marquese propõe reflexões historiográficas sobre a escravidão histórica e o capitalismo histórico. Nesse debate, ganham contornos as divergências entre as interpretações de Ricardo Salles e Leonardo Marques. O dissenso centra-se na tensão entre o lugar dos Estados nacionais na especificidade das trajetórias dos espaços escravistas das Américas e a perspectiva de que o capitalismo como sistema transpõe fronteiras políticas e combina múltiplas formas de trabalho compulsório. Marquese sublinha, de um lado, a importância da profunda descontinuidade das trajetórias dos espaços escravistas na virada do século XVIII para o XIX, a “segunda escravidão” e, de outro, a integração da economia-mundo, novos espaços escravistas e as relações de produção, distribuição e consumo. Essa afirmativa desloca o olhar para as totalidades como interdependências mútuas, tais como as relações entre mercado mundial, divisão internacional do trabalho e o fenômeno do “ciclo britânico de acumulação”.
É nesse quadro do pensamento econômico que a coletânea avança para a segunda parte “Segunda escravidão e diversidade econômica e regional”. Os capítulos representam não apenas esforços analíticos que visam examinar de maneira integrada economias mercantis escravistas regionais, inovações tecnológicas, indústrias e segunda escravidão mas também nos revelam uma agenda de pesquisa, como nota Renato Marcondes. O texto “Raízes escravas da indústria brasileira” procura mapear a persistência da escravidão, diversidade regional e modernização da economia brasileira nos séculos XIX e XX. Com enfoque regional, o capítulo seguinte, de autoria de Walter Pereira, analisa a dinâmica econômica e da escravidão na bacia do rio Paraíba do Sul, suas atividades agrícolas e bancárias, inovações tecnológicas, ferrovias, embarcações a vapor e bondes.
Ao longo da terceira parte, no primeiro artigo de Carlos Gabriel Guimarães, o que se verifica é uma grande riqueza de análise que, apesar da advertência do autor que “as pesquisas nos arquivos ainda estejam no início”, revela a especificidade da inserção dos negociantes ingleses Joseph e Ralph Gulston e suas conexões globais financeiras e comerciais, em especial, com a comunidade mercantil lisboeta, carioca e africana.
Numa outra proposta, intitulada “O anacronismo de um atavismo? A propósito da segunda escravidão sob a égide mercantilista”, o historiador Carlos Kelmer Martins enfatiza, do ponto de vista teórico e metodológico, as interseções e diálogos entre as premissas do conceito de segunda escravidão, do mercantilismo e da complexidade política, social, cultural e econômica do sistema mundial setecentista. Rodrigo Soares, responsável pelos comentários críticos, considera que o mérito de Kelmer Martins “está na percepção da desigualdade entre as sociedades ou no seio de cada uma, como decorrência de uma forma combinada integrada” (Soares, 2020, p. 226).
Na quarta e última parte, intitulada “Segunda escravidão, micro-história e agência”, o que está em jogo no par macro e micro é um redimensionamento dos objetos e questões. Em todos os capítulos a abordagem é convergente. Reafirma-se o ofício do historiador como possibilidade de articulação da dimensão macroestrutural aos elementos da micro-história, assim como se procura sofisticar as pesquisas a partir do conceito de segunda escravidão. Mariana Muaze aponta caminhos para superar a incompatibilidade fundante entre a micro-história e a segunda escravidão. Em outra chave, Thiago Pessoa conjuga análise empírica, decorrente dos resultados de pesquisa no Arquivo Nacional, a abordagem metodológica da micro-história e as contribuições do conceito de segunda escravidão. Nesse movimento, valoriza as contribuições da redução de escala e as potencialidades da perspectiva global a fim de examinar a classe senhorial do Império do Brasil, as redes de negócios e sociabilidade, o complexo cafeeiro, o tráfico e a escravidão.
Por essas razões, Waldomiro Lourenço da Silva Júnior afirma que a segunda escravidão, como conceito analítico que abrange zonas de plantação mais dinâmicas e capitalizadas da economia global, em especial, no Brasil, o complexo cafeeiro, não estaria invalidada por não contemplar a escravidão urbana e portuária, a produção com pequenas escravarias voltadas para o abastecimento em Minas Gerais ou a indústria baleeira catarinense. Para o autor, a validade da noção de segunda escravidão configura uma “questão elementar de epistemologia” em que “a validade cognitiva de uma categoria de análise não se limita necessariamente às constatações empíricas que respaldaram a sua formulação” (Silva Júnior, 2020, p. 282). Portanto, as evidências da escravidão em economias como Minas Gerais, Santa Catarina ou de regiões portuárias ou urbanas seriam decorrência direta da dinâmica da segunda escravidão: “as outras formatações da escravidão só persistiram a longo prazo no Brasil porque existiu uma base material nuclear suficientemente sólida (a base da segunda escravidão), que garantiu, no campo político, as condições para sua perpetuação” (p. 282).
Como bem lembra Monica Ribeiro de Oliveira, apesar das contribuições de Muaze, Silva Júnior e Pessoa, os desafios postos pela articulação da micro-história à perspectiva macro permanecem em aberto.
De modo geral, o conceito de segunda escravidão, subjacente a todos os trabalhos do livro, nem sempre alcança o objetivo de dotar a obra de relativa unidade e também da porosidade conceitual desejada por Dale Tomich na apresentação. No entanto, certamente, alguns trabalhos ganharão espaço na historiografia, mais pelo valor do debate apresentado do que pelas conclusões.
É importante compreender que a obra reflete, ao mesmo tempo, o esvanecimento da história econômica, hegemônica por décadas na academia brasileira e em seus cursos de graduação e pós-graduação em história, e também sintetiza uma retomada.
Apesar dos novos horizontes metodológicos, a formulação do conceito de segunda escravidão (1988) é oriunda, em parte, no caso da interpretação sobre a economia brasileira, das ideias encontradas em Formação econômica do Brasil (1959) de Celso Furtado, um dos autores citados por Tomich no capítulo fundador do conceito de segunda escravidão. É no mínimo curioso que nenhum dos capítulos de A segunda escravidão e o império do Brasil em perspectiva histórica mencione o livro de Celso Furtado em suas referências bibliográficas, nem o possível impacto da interpretação de Furtado na gestação conceitual de segunda escravidão, ou associe o fato de que concepções furtadianas ganharam nova roupagem historiográfica.
Referências
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil [1959]. 15a ed. São Paulo: Editora Nacional, 1977.
MARQUES, Leonardo. Unidades de análise, jogos de escalas e a historiografia da escravidão no capitalismo. In: MUAZE, Mariana ; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, p. 53-74.
MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
SALLES, Ricardo H . A segunda escravidão e o debate sobre a relação entre capitalismo e escravidão: ensaio de historiografia. In: MUAZE, Mariana ; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, p. 27-52.
SILVA J JÚNIOR, Waldomiro Lourenço da. A segunda escravidão: o retorno de Quetzalcoatl? In: MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria, 2020, p. 279-285.
SOARES, Rodrigo Goyena. Comentário: benefícios e limites da segunda escravidão como método para uma razão dialética. In: MUAZE, Mariana ; SALLES, Ricardo H . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica São Leopoldo: Casa Leiria , 2020, p. 223-238.
TOMICH, Dale. The “second slavery”. In: TOMICH, Dale. Through the prism of slavery Lanham: Rowman & Littlefield, 2004, p. 56-71.
Télio Cravo – Pós-doutorando em História pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). São Paulo(SP), Brasil. [email protected].
MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo H. . (org.). A segunda escravidão e o Império do Brasil em perspectiva histórica.São Leopoldo: Casa Leiria, 2020. 298p. Resenha de: CRAVO, Télio. Desembarque da segunda escravidão na historiografia brasileira. Tempo. Niterói, v.27, n.1, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF]
Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo
Na última década, a abordagem da historiadora Ana Lucia Araujo sobre a escravidão atlântica e seu legado de memória no mundo contemporâneo consolidou-se como uma das mais originais e abrangentes. Slavery in the Age of Memory, seu mais recente livro, vem na esteira dessa trajetória, original em sua ênfase no problema das representações do passado escravista ao longo do tempo e especialmente abrangente na perspectiva transnacional e comparativa. Como todo bom livro, pode ser lido sem qualquer informação prévia, mas conhecer a trajetória e a produção anterior da autora permite ao leitor um diálogo mais rico e denso com os novos aportes trazidos por esta obra. Leia Mais
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist
A metade que nunca foi contada é o segundo livro do historiador norte-americano Edward E. Baptist. Professor na Universidade de Cornell (Ithaca, NY), Baptist apresenta em seu novo trabalho, originalmente publicado como The Half Has Never Been Told, em 2014, os resultados de um longo percurso de pesquisa sobre a construção da fronteira escravista no sudoeste norte-americano no século XIX, expandindo um tema que já era o centro do seu primeiro livro monográfico, Creating a New South (2002). Leia Mais
Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal à morte de Zumbi dos Palmares | Laurentino Gomes
Laurentino Gomes, autor de 1808, 1822 e 1889, lançou em 2019 seu novo trabalho: Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal à morte de Zumbi dos Palmares, volume 1. Trata-se do primeiro volume de uma trilogia, fruto de uma pesquisa de seis anos que passou por três continentes (África, América e Europa). Seu objetivo é narrar a história da escravidão pelo viés de longa duração, apresentando diferentes perspectivas historiográficas, a pluralidade de sujeitos históricos e polêmicas. A narrativa de Gomes é marcada pela comunhão de revisão bibliográfica temática com escrita jornalística, conectando apontamentos fundamentais do tempo historiográfico à fluidez narrativa. O foco territorial passa pelas histórias do continente africano (enfatizando Angola), Brasil e Portugal. Seu ponto de partida é o primeiro leilão de escravos em Portugal, em 1444, e finaliza com a mudança de ênfase do trabalho escravo no Brasil no século XVIII, o qual passou do cenário da lida com cana-de-açúcar para a mineração de ouro. Leia Mais
A elite do atraso | Jessé Souza
Como tem sido escrita a História brasileira? Qual é o paradigma hegemônico que preside os nossos intelectuais na construção de nosso passado? Quais são as raízes do nosso atraso social? Quais seriam as interações entre os intelectuais e os membros da elite política e econômica? São em torno destes questionamentos que se debruça Jessé Souza em seu livro A elite do atraso: Da escravidão a Bolsonaro.
Jessé José Freire de Souza é um jurista, sociólogo, escritor, professor universitário e pesquisador brasileiro da área de Teoria Social. Nascido em Natal, em 1960, desde a década de 1980, quando concluiu sua formação em Direito pela Universidade de Brasília, tem se dedicado a estudar a construção do pensamento intelectual brasileiro. Possui Mestrado em Sociologia pela UnB (1986), Doutorado na mesma área pela Universidade de Heidelberg (1991), Pós-Doutorado em Filosofia e Psicanálise pela New School for Social Research (1994/95) e Livre Docência pela Universidade de Flensburg (2006). Assumiu em 2015 a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tendo sido exonerado no ano seguinte após o golpe de Estado. Leia Mais
¡Nunca más esclavos! Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las Américas | Aline Helg
Basado principalmente en bibliografía especializada producida en inglés, francés y español durante los últimos treinta años, este libro de la historiadora Aline Helg estudia la capacidad de acción política de quienes sufrieron la esclavitud en las Américas. Para ello, analiza los esfuerzos de los esclavos para alcanzar la libertad. La obra explora el periodo previo a la consolidación de las doctrinas y políticas abolicionistas del siglo XIX, llevando a los lectores por un recorrido de más de tres siglos entre 1492 y 1838. Si bien las sociedades esclavistas mejor conocidas (Cuba, Brasil, el Sur de Estados Unidos y Haití) cumplen papel protagónico, Helg entra también en detalle sobre las menos estudiadas (incluye a Colombia, Guadalupe, Barbados y Demerara). Se trata, por lo tanto, de una síntesis histórica comparada sobre hombres y mujeres cautivos que “por la fuerza, el sacrificio, la astucia, la paciencia o el azar, consiguieron obtener su libertad” (p. 10). Leia Mais
Arroz, tráfico e escravidão: repensando a importância da contribuição africana no mundo Atlântico | Judith Carney
Os grandes historiadores franceses Lucien Febvre e Marc Bloch, em diversos momentos, na primeira metade do século XX, já tinham postulado a importância da interdisciplinaridade e diálogos entre as diversas ciências com a História. Já é deveras conhecida a recomendação de Febvre de que para ser historiador era preciso ser geógrafo, sociólogo e assim por diante. Bloch, por sua vez, não discordaria, pelo contrário. A geógrafa Judith Carney, vindo ao encontro da História, da Sociologia, da Agronomia, da Linguística, da Arqueologia, da Biologia e da Botânica, fazendo de certa forma o caminho inverso ao proposto pelos já citados fundadores da Escola dos Annales, publicou um excelente e instigante livro, resultado de um trabalho minucioso e competente de pesquisas documentais e bibliográficas: Black Rice. The African Origins of Rice Cultivation in the Americas (Massachussets: Havard University Press, 2001).
Black Rice, posteriormente, foi traduzido para o português por José Filipe Fonseca, com a colaboração de Gaston Fonseca, Ernesto Fonseca e Nivaldina Fonseca, sendo publicado em Bissau, na Guiné Bissau, pelo Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas/IBAP, com patrocínio do banco da África Ocidental/BAO. Publicado em 2018, assim suponho, com prefácio à edição portuguesa datado de novembro/dezembro de 2017, escrito pelo historiador Leopoldo Amado, manteve em português o título traduzido do inglês: Arroz Negro. As origens africanas do cultivo do arroz nas Américas. Neste momento cabe dizer que, sendo o livro escrito com afetividade, não menos apaixonada e comprometida com a história do protagonismo africano, apesar do tráfico e da escravidão, foi a edição guineense. Gosto de livros com marcas de afetividade, sem a aridez impessoal de alguns trabalhos acadêmicos ainda que competentes. Leia Mais
Crescendo em silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX | Roberto Borges Martins
Exposing Slavery. Photography/Human Bondage/and the Birth of Modern Visual Politics in America | Matthew Fox-Amato
O livro de Matthew Fox-Amato resulta da tese de doutorado defendida no Departamento de História da Universidade do Sul da Califórnia. Composto de introdução, quatro capítulos e um epílogo, possui 92 imagens e parte de duas questões iniciais, colocadas pelo autor: como a descoberta, e subsequente uso, da fotografia “influenciou a cultura e a política da escravidão na América?”. E como, por seu turno, “a escravidão influenciou o desenvolvimento da fotografia – esteticamente e como prática cultural?” (p. 2). Leia Mais
Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil – MIKI (FH)
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 314p. Resenha de: SANTOS, Murilo Souza dos. “Fugir para a escravidão”: Geografia insurgente e cidadania na fronteira do Brasil pós-colonial. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.493-497, jan./jun., 2020.
Há um esforço recente, e cada vez mais imperioso entre os pesquisadores, de questionar a maneira pela qual história e antropologia estudaram as populações indígenas e afrodescendentes na América Latina. Fruto de uma política colonial que tratava índios e negros separadamente, outrossim perpetuada nos regimes de governos subsequentes, a tradicional análise dessas populações restou seccionada e, frequentemente, dicotômica (WADE, 2018). Por objetivar explorar as temáticas de raça, nação e, sobretudo, cidadania por meio das interconexões entre as histórias de negros e indígenas, Frontiers of Citizenship: a black and Indigenous history of Postcolonial Brazil, de Yuko Miki, é um livro que se insere nesse esforço novo e promissor. Entre os diversos prêmios e honrarias que recebeu até o momento, estão o Wesley-Logan Prize em História da Diáspora Africana, concedida pela American Historical Association, e o Warren Dean Memorial Prize como o melhor livro sobre História do Brasil publicado em inglês, dado pela Conference on Latin American History (CLAH), que lhe concedeu, ainda, menção honrosa no Howard F. Cline Prize, dedicado à Etno-História da América Latina.
A pesquisa que resultou nesse livro é também motivada por um segundo incômodo da autora: a compreensão de que a historiografia brasileira não teria dado a devida atenção às fronteiras, espaço no qual, segundo ela, a relação entre raça, nação e cidadania havia sido de fato testada e definida diariamente (MIKI, 2018, p. 8). Com isso em mente, Yuko Miki elege como espaço de observação o que ela escolheu chamar de fronteira atlântica: uma região que, embora jamais tenha aparecido nas fontes sob tal denominação, corresponderia ao contorno da Mata Atlântica original do sul da Bahia e Espírito Santo. Outrora proibida pela Coroa portuguesa, essa região se tornou objeto de uma colonização agressiva com o avançar do século XIX.
Os seis capítulos que compõem Frontiers of Citizenship estão estruturados em torno de um embate de visões. De um lado, as elites brancas, que pretendiam homogeneizar o povo brasileiro a fim de que fosse encaixado em uma definição pré-definida de cidadania; do outro, negros e índios, que disputavam a definição de cidadania, para que o povo, na sua heterogeneidade, nela pudesse ser incluída. Dessa maneira, enquanto o primeiro capítulo analisa os debates parlamentares acerca da definição notavelmente inclusiva de cidadania inscrita na Constituição de 1824 para contrastar com a exclusão implícita que ela pressupunha, o segundo foca nos índios e negros da fronteira atlântica para examinar como eles reagiam diante das exclusões geradas na prática. Essa intercalação está presente em todo o livro.
O segundo capítulo faz, ainda, uma análise estimulante acerca da percepção que muitos negros e indígenas tinham da monarquia como fonte de justiça e proteção, ao ponto de inúmeras revoltas terem sido desencadeadas pela forte ressonância dos boatos de emancipação. Todavia, a menos que se considere o crescendo de violência que caracteriza a expansão do Estado no período como consequência das formas de resistência adotadas por negros e índios, Yuko Miki fica longe de cumprir com o principal objetivo assumido para esse capítulo, qual seja o de “demonstrar como a expansão do Estado foi moldada pelas mesmas pessoas que procurou excluir” (MIKI, 2018, p. 25, tradução nossa).
Os capítulos terceiro e quarto se complementam no objetivo de mostrar que a adoção da mestiçagem como meio de criar um povo brasileiro homogêneo implicava tanto na crescente inclusão desigual dos negros escravizados quanto na efetiva extinção dos índios. Assim, o terceiro capítulo argumenta que as elites urbanas combinaram o indigenismo romântico e a nova ciência antropológica com a expressão das leis para criar uma situação legal, na qual “para se tornar cidadãos, os índios precisavam ser civilizados e, uma vez civilizados, não eram mais índios” (MIKI, 2018, p. 133, tradução nossa). O quarto, por sua vez, demonstra as consequências práticas desse projeto de mestiçagem por meio da comparação de dois casos de violência oriundos da fronteira atlântica: de um lado, a erosão do poder dos proprietários de escravos sobre eles; do outro, a transformação dos índios no Brasil pós-colonial em corpos matáveis.
O ponto principal do livro está nos capítulos quinto e sexto, cujo sentido é mostrar que a perspectiva de liberdade negra e autonomia indígena se tornaram inseparáveis da luta pela terra. No quinto capítulo, Yuko Miki observa que, nos anos finais da escravidão, muitos quilombolas criaram assentamentos tão próximos da região na qual estavam legalmente escravizados que se podia ouvir seus batuques à noite. A partir dessa constatação, e inspirando-se na ideia de geografia rival, elaborada por Edward Said e usada pelos geógrafos para descrever a resistência à ocupação colonial, Miki formula o conceito de geografia insurgente para designar a prática política que ela entende como “fugir para a escravidão” (fleeing into slavery, no original). Seria por meio da geografia insurgente, do fugir para a escravidão e não para longe dela, que as pessoas escravizadas deixaram de resistir à sociedade escravista para, finalmente, desafiá-la por dentro; vivendo como pessoas livres em seu meio e, desse modo, expressando “os termos pelos quais queriam viver na sociedade brasileira” (MIKI, 2018, p. 214, tradução nossa).
Por seu turno, no sexto capítulo, a autora observa que, apesar das divergências de opiniões quanto ao futuro dos indígenas e libertos, tanto missionários quanto abolicionistas e escravocratas compartilhavam a visão de que eles deveriam ser disciplinados para uma cidadania limitada e fundamentalmente servil. A iminência da abolição revigorou o interesse das elites pela possibilidade de transformação dos indígenas em “cidadãos úteis” por meio da disciplina do trabalho conjuntamente à negação do acesso à terra (os mesmos termos que posteriormente seriam reproduzidos nas discussões sobre os libertos). Tal confluência de pontos de vista teria ajudado a conjugar, do outro lado, as perspectivas de negros e indígenas. Para a autora, a forma como eles interpretaram liberdade e cidadania não apenas repreendeu radicalmente essas ideias racializadas, naquele contexto, como teve repercussões duradouras no período republicano.
Como se pode ver, o conceito de geografia insurgente é central para a tese defendida em Frontiers of Citizenship. Sua pressuposição é a de que a convivência na comunidade do quilombo teria transformado a consciência de liberdade numa prática política coletiva pela qual as pessoas escravizadas reimaginaram suas vidas como pessoas livres dentro da própria geografia em que estavam destinados a permanecer escravizado (MIKI, 2018, p. 174). Interessa mostrar, finalmente, que os escravizados não apenas lutavam para proteger o que lhes eram pessoalmente importantes, mas, muito além, eles afirmavam uma visão específica da política de cidadania e anti-escravidão (MIKI, 2018, p. 26). De que maneira? Yuko Miki sabe que a multiplicidade de motivos que levavam os escravizados a fugir em pouco se confunde com semelhante ideologia. A engenhosidade do conceito de geografia insurgente está justamente na capacidade de transformar uma motivação factível, “a luta pela geografia”, em um significante para a cidadania (MIKI, 2018, p. 251), ainda que para tal inferência não haja indícios capazes de sustentá-la. Já no epílogo, a autora nos lembra que, com a Constituição de 1988, o direito à terra se tornou, legalmente, um meio para reivindicar uma cidadania plena. O problema que se coloca, em suma, é que se, por um lado, tal conquista é verdadeira, por outro, soa forçoso dizer que tal associação foi forjada conscientemente pelos afro-brasileiros no período de escravidão e pré-emancipação (MIKI, 2018, p. 257). Dessa maneira, o que seria a mais importante contribuição do livro fica reduzida a uma ilação ou, mais apropriadamente, à amostra de um equívoco metodológico denominado por Frederick Cooper como ultrapassar legados, isto é, “afirmar que algo no tempo A causou algo no tempo C sem considerar o tempo B, que fica no meio” (COOPER, 2005, p. 17).
Frontiers of Citizenship é um trabalho vigoroso, que consegue demonstrar com sucesso a impossibilidade de compreender temas como raça, nação e cidadania sem envolver tanto as histórias da diáspora africana quanto a das Américas indígenas. Por outro lado, e essa é a principal crítica, não analisa alguns conceitos que são cruciais para a sua própria fundamentação mas, pelo contrário, aplica-os nas fontes sem historicizá-los. Cooper, já mencionado, mostrou, em Citizenship, Inequality and Difference (2018), que apenas recentemente o conceito de cidadania foi constituído como inerentemente igualitário, mas por Yuko Miki aplicar esse conceito sem a devida contextualização, a existência de uma cidadania desigual, tal como defendida pelas elites na conjuntura analisada, soa como mera injustiça. Similarmente, raça e nação lhe parecem ser concepções tão unívocas que sequer precisam ser definidas e, dessa forma, a impressão resultante é de que os sujeitos analisados agem em relação às mesmas identidades coletivas que pressupomos hoje.
Em The Problem of Slavery as History: a Global Approach, Joseph C. Miller impôs o desafio intelectual de pensar a escravidão para além da politização contemporânea. Para ele, estamos tão preocupados em condenar a escravidão, que inibimos o entendimento acadêmico dessa prática como sujeito de investigação intelectual (MILLER, 2012, p. 2). Pelo demonstrado, a abordagem dos conceitos em Frontiers of Citizenship o situa como exemplar dessa conduta que precisa ser evitada. Ainda assim, esse é um trabalho que merece atenção, não apenas pela importância do tema, mas sobretudo pela forma original com a qual Yuko Miki, frequentemente, associa os discursos sobre cidadania, escravidão e extinção com a política deles resultante.
Referências
COOPER, Frederick. Citizenship, Inequality and Difference. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2018.
COOPER, Frederick. Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.
MILLER, Joseph C. The Problem of Slavery as History: a global approach. New Haven and London: Yale University Press, 2012.
WADE, Peter. Interações, relações e comparações afro-indígenas. In: ANDREWS, George Reid; FUENTE, Alejandro de la (orgs.). Estudos afro-latino-americanos: uma introdução. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2018.
Murilo Souza Santos – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH-UNICAMP), na linha de História Social da Cultura. Bolsista de mestrado CAPES. E-mail: [email protected].
[IF]Bahia: escravidão/pós-abolição e comunidades quilombolas – estudos interdisciplinares | Maria Fátima Novaes Pires, Napoliana Pereira Santana, Paulo Henrique Duque Santos
Organizar uma coletânea com vários/ as autores/as não é tarefa fácil no meio acadêmico. Exigirá, no mínimo, lidar com os diferentes tempos de produção dos textos, leitura dos originais, às vezes sugerir cortes, acréscimos, revisões para enquadrá-los nos padrões acadêmicos e no limite de páginas estabelecido. Juntas as partes para compor o todo, é a vez da burocracia editorial. Passada a fase de produção é a hora de lançar a obra. Organizadores/as e autores/as esperam boa recepção das suas contribuições, especialmente entre os pares, ávidos por encontrar no novo livro informações valiosas para suas pesquisas e novas interpretações sobre temas já discutidos. Leia Mais
Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos (R)
Publicado pela editora Companhia das Letras, em 2018, o Dicionário da Escravidão e Liberdade conseguiu a façanha de reunir uma grande quantidade de especialistas para discutir um dos temas mais caros ao pensamento brasileiro: a escravidão. Embora o tema seja discutido em congressos e seminários, estes eventos nem sempre contam com esse quantitativo de especialistas. A reunião em torno do dicionário resultou em 50 textos críticos, escritos por 45 pesquisadores ligados a diversas instituições de ensino e pesquisa, que puderam conceituar a partir do assunto principal: a escravidão.
Os textos compõem um mosaico heterogêneo que apresenta o estado da arte produzido sobre a escravidão. O interessante é que o leitor pode apenas consultar os verbetes, como dicionário que é, ou poderá também relacionar os verbetes entre si, construindo pontes entre um assunto e outro, complementando-os. São possíveis algumas ligações. Logo de início, temos o verbete sobre o continente africano, que pode ser lido em conjunto com os verbetes sobre o tráfico e o transporte dos escravizados, temas que foram contemplados na escrita de Roquinaldo Ferreira, Luiz Felipe de Alencastro, Carlos Eduardo Moreira e Jaime Rodrigues. A caracterização dos africanos, contrariando a ideia de homogeneidade, teve atenção de Robert Slenes, Beatriz Mamigonian, Luiz Nicolau Parés, Eduard Alpers e Luciano Brito.
Lugares e espaços foram pensados por Marcus Carvalho, Flávio dos Santos Gomes e Carlos Eugênio Líbano Soares. A família escrava, o mundo materno, estão entre as temáticas discutidas por Isabel Cristina Reis, Lorena Féres da Silva, Maria Helena Pereira e Mariza Ariza. As leis que permearam a escravidão foram discutidas por Keila Grinberg, Hebe Mattos e Joseli Maria Nunes Mendonça. As teorias raciais, o associativismo negro e a imprensa negra foram o foco das informações de Petrônio Domingues e Lilia Moritz. Revoltas e movimentos foram verbetes escritos por João José Reis, Wlamyra Albuquerque e Angela Alonso, Jonas Moreira e Paulo Roberto. Amazônia e a escravização indígena, foram pensados por Flavio Gomes e Stuart Schwartz.
O trabalho escravo/livre e o pós-abolição foram verbetes escritos por Robson Luiz Machado, Walter Fraga, Marcelo Mac Macord e Robério Souza. Os aspectos da religiosidade foram destacados por Nicolau Parés e Lucilene Reginaldo. O processo educacional, as nuances culturais e a relação História e Literatura, foram escritas por Sidney Chaloub, Marta Abreu e Maria Cristina Cortez Wissenbach. Há ainda os ritos fúnebres que aqui foram escritos por Cláudia Rodrigues. São possibilidades que a leitura vai sugerindo. É um dicionário, não nos preocupemos com as teorias ou metodologias dos autores, essas se revelam nos verbetes.
Não é o primeiro dicionário a enfocar a escravidão. Em 2004, Clovis Moura, consagrado pesquisador e importante referência desse tema, publicou o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, com 800 verbetes. Foi, na verdade, a última contribuição do historiador e sociólogo que dedicou boa parte de sua vida a discutir a saga heroica do escravo em inúmeros trabalhos. Em 2018, catorze anos depois, o público passa a contar com um novo instrumento para estudos nesta mesma temática. A escravidão e os seus desdobramentos mantêm a vitalidade das discussões como caminho fundamental para entender as diferenças sociais que atingem milhões de afrodescendentes no país.
O período da escravidão no país fez com que esse tema passasse a se desenrolar em toda História do Brasil. Em qualquer assunto que possamos pensar o Brasil, em algum momento, a temática irá perpassar atravessando como uma flecha. O período Colonial e Império viram de perto esses desdobramentos, e na República as consequências continuam sendo brutais para milhões de brasileiros. “Esse sistema que pressupunha a posse de um homem por outro só podia construir um mundo de rotina que se misturava com muita violência e explosão social. ” (Pg. 28).
Há diferenças circunstanciais entre os dois dicionários, e essas diferenças marcam a trajetória dos estudos da escravidão no Brasil. Clovis Moura construiu sua vasta obra fora dos quadros acadêmicos, embora sempre estivesse em constante diálogo com a academia, e como já vimos, sua bibliografia está presente na estante dos pesquisadores do tema. É bem provável que o autor tenha sido o último grande baluarte de uma safra de intelectuais que construíram seus conceitos sem necessariamente estarem ligados a uma Universidade.
O Dicionário da Escravidão e Liberdade já traz no título um indicativo de que mudanças profundas entre uma publicação e outra ocorreram. A partir dos anos 1970, o Brasil irá contar com um crescimento dos programas de pós-graduação, ganhando mais intensidade nos anos finais da década, que ainda estava sob uma brutal Ditadura Militar.
A presença destes programas propondo novas pesquisas, revisando outras e colocando em xeque saberes há muito cristalizados, teve como base a mudança metodológica, que propunha uma História problema a partir de novas abordagens e novos objetos, consistindo de análises apuradas em rica documentação depositadas em diversos arquivos. O trabalho sistemático de inúmeros pesquisadores que em muitos casos enfrentaram as diversas dificuldades, como falta de incentivo às pesquisas, arquivos desorganizados, documentos comprometidos e a insistente incapacidade de uma sociedade dar o devido valor ao profissional da História, forjaram uma gama de trabalhos que passaram a ser fundamentais para discutir, entre outros problemas, a desigualdade social com a grande diferença para os afrodescendentes.
O resultado dessa reviravolta vem logo nos anos 1980, com a chamada Nova História da Escravidão, em que passa a ser valorizada a ação protagonista do negro escravizado que a todo instante passa a ser também responsável pela construção de sua liberdade, atento às dinâmicas da sociedade que estava inserido, contrariando a imagem do escravo heroico e coisificado. Essa nova historiografia é, portanto, a linha que une os autores dos textos coordenados por Lília M. Schwarcz e Flávio Gomes.
São vários os desdobramentos que a escravidão apresenta para o estudioso e, neste sentido, nada mais importante que esse instrumento de estudo, porque embora seja uma obra recentemente lançada, ela já se configura como fundamental tanto para o público leigo, como os acadêmicos de história e de outras ciências. Os textos críticos do livro abordam os momentos iniciais no continente africano; a travessia atlântica; o convívio social na América Portuguesa; a religião e seus rituais; a cultura; as formas de trabalho; a formação dos laços parentais e o nascer, viver e morrer de homens e mulheres que vieram do lado de lá da África mãe, uma verdadeira viagem a tempos e espaços de um Brasil que teima em não se enxergar. Um dos pontos mais interessantes desta obra é enxergar como homens e mulheres escravizados contribuíram de forma decisiva com saberes que influenciaram na formação do cotidiano brasileiro nos mais diversos aspetos.
Revoltas e resistências estão presentes para sepultar de vez os argumentos da historiografia tradicional que viam o negro como passivo durante toda escravidão. Neste sentido, para além da fórmula popularizada pelos livros didáticos que consagraram o ciclo do açúcar, o Dicionário propõe conceituar a escravidão em outras regiões, como o Rio Grande do Sul, Goiás e Amazonas; ampliando o entendimento da relação entre indígenas, imigrantes europeus e escravos, enfatizando que, “os manuais didáticos insistiram numa escravidão africana que começava com o açúcar, passava pelo ouro e terminava no café. Talvez por isso as áreas de plantation de algodão, arroz e fumo, foram pouco estudadas no Brasil. ” (p.25-26)
Ricamente ilustrado, o conjunto das imagens foi organizado em dois cadernos distintos e Lília Moritz, observa que “é importante, pois, que o leitor atente não apenas para os títulos deixados originalmente por seus autores e que aparecem como legenda técnica juntos das gravuras, telas e fotografias, mas também para os comentários que elaboramos, buscando “ler as imagens”” (Pg. 44). O que é bastante positivo pois didaticamente funciona bastante no auxílio aos professores, por exemplo.
São ao todo 154 imagens divididas em dois cadernos: o primeiro caderno está logo depois da página 192, e o segundo inicia na página 352. Colocados logo após o início do texto crítico, fica desconfortante, porque nos leva de certa forma a suspender a leitura e a divagar nas imagens. É possível que fique melhor ao final do verbete, cremos assim que contribuiria para a fluidez da leitura. A opção de organizar em cadernos ficou interessante, imagens distribuídas ao longo dos textos críticos criaria a sensação de livro didático ou dicionário ilustrado, o que nos parece não foi intenção dos autores aqui.
O Dicionário da Escravidão e Liberdade terá um papel fundamental para acadêmicos em todos os níveis e cursos. Durante a graduação por exemplo, período em que paira uma dúvida sobre o que pesquisar, entre outras informações encontrará o graduando, conceitos sobre família escrava, formas de resistência ou as doenças que acometiam os negros escravizados, além de tantos outros temas. Também será um referencial, um ponto de partida para novas investigações.
Cito como exemplo instigador para novas pesquisas, o texto Associativismo Negro (Pág. 113) e Frente Negra (pg. 237). Nos dois, o autor discorre sobre como os negros no Pós-Abolição intensificaram frentes intelectuais sendo protagonistas em diversos momentos da sociedade republicana, seja em São Paulo ou Santa Catarina. Instiga no momento em que nos perguntamos, o que sabemos desses movimentos nas outras cidades? Quais foram os protagonistas? Como os jornais de Pernambuco, ou Alagoas, por exemplo, noticiaram estas frentes negras?
Quando a Lei Áurea completou cem anos, o quantitativo de publicações chamou atenção, fato que não mais se repetiu. No entanto, agora já podemos contar com editoras que se dedicam à causa negra no país, e paralelo a isto, há diversos núcleos de Pós-Graduações que desenvolvem as mais diferentes pesquisas e estudos. Desta relação surge por exemplo, este Dicionário elegantemente com prefácio de Alberto da Costa e Silva e capa desenhada por Jaime Lauriano, nos convida ao prazer da leitura.
Referências
Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos/Organização: Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (Orgs.) – 1ªed. São Paulo: Companhia das Letras. 2018.
MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. São Paulo: Edusp, 2004.
SECRETO, María Verónica. Novas perspectivas na história da escravidão. Tempo, Niterói, v. 22, n. 41, p. 442-450, dezembro de 2016. Acesso em 23 de julho de 2020. https://doi.org/10.20509/tem1980-542x2016v224104
Vladimir Jose Dantas – Mestre em Geografia/Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0510-248X.
Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (Orgs.). São Paulo: Companhia das Letras. 2018. Resenha de: DANTAS, Vladimir Jose. Lendo o Dicionário da Escravidão e da Liberdade. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.38, n.1, p.554-559, jan./jun. 2020. Acessar publicação original [DR]
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist
Não há dúvidas de que a escravidão moderna tornou-se um tema clássico dos debates historiográficos, sobre o qual foram produzidos um sem-número de obras, e que atualmente segue como tema de dissenso de livros, teses e pesquisas. O que é incomum em A metade que nunca foi contada, do norte-americano Edward Baptist, são os debates que este livro gerou para além da esfera acadêmica. Lançado em 2014 nos Estados Unidos, um ano depois da estreia do filme 12 Anos de Escravidão, a obra recebeu uma resenha negativa no jornal The Economist, por não ser uma “história objetiva”, ou científica o suficiente, pois caracterizava senhores de escravos sulistas do século XIX – e outros brancos que lucraram com a escravidão nesse período – como “vilões”, e os negros como “vítimas”. A resenha gerou tamanha polêmica que fez o jornal publicar uma nota de desculpas em uma tentativa de retratação. No entanto, esse foi apenas o epicentro de uma série de debates subsequentes que levaram Baptist e sua obra ao centro das atenções nas discussões sobre o escravismo estadunidense. Não por acaso: o formato escolhido por Baptist para a construção de seu argumento gerou debates historiográficos, os quais comentarei mais adiante, e também atingiu noções consolidadas da memória nacional dos Estados Unidos, assim como da memória sobre a expansão do capitalismo industrial.
Utilizando como fio condutor relatos biográficos de pessoas escravizadas, e cruzando estes relatos com uma variedade de fontes e dados (como cadernos de contabilidade, jornais, debates parlamentares e dados quantitativos mais amplos), Baptist constrói uma narrativa sobre o fenômeno do acirramento da escravidão produtora de algodão no sul nos Estados Unidos após sua independência. Esse acirramento caracteriza um novo tipo de escravidão, uma segunda escravidão [2], moldada para a extração exitosa de excedentes cada vez maiores desse trabalho, que por sua vez, argumenta Baptist, tiveram um papel central na expansão territorial do país, em seu desenvolvimento e no fortalecimento de investimentos e lucros. Em um escopo mais amplo, a nova forma de escravidão algodoeira foi também um pilar fundamental para o surgimento do complexo industrial têxtil da Inglaterra.
A escolha por enfatizar relatos biográficos expõe uma face dura da produção exponencial de algodão oitocentista: as técnicas de tortura, o desmembramento de relações familiares em migrações forçadas e a transfiguração de pessoas negras em mercadorias foram métodos integrantes do desenvolvimento econômico e do progresso da nação das liberdades individuais. Tais relatos se assemelham à narrativa do filme 12 Anos de Escravidão, baseado nas memórias de Solomon Northup, homem livre que foi sequestrado para trabalhar como escravo na Luisiana, cuja história também é citada na obra de Baptist. O livro adentra linhas teóricas e temas clássicos da história econômica, como trabalho e capitalismo, com recursos da história oral e debates sobre temas socialmente vivos [3], como relações raciais e de gênero. Torna-se evidente também a habilidade do autor em trabalhar com a esfera das relações políticas intrincadas, as disputas e pactos entre grupos políticos do norte e do sul dos Estados Unidos. É provável que a opção do autor por esse formato científico-narrativo, junto ao conteúdo chocante dos relatos de escravizados, tenham suscitado a acusação de falta de objetividade por parte da resenha do The Economist. Ou talvez, a crítica tenha partido da ideia de que eventos tão significativos na trajetória do capitalismo, como o desenvolvimento dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, só se concretizaram por meio da acumulação gerada pela crueldade do trabalho escravo. Essa ideia, no entanto, não pode ser vista como alheia ao âmbito científico, constituindo um tema de extensos debates acadêmicos.
Existe um argumento central em A metade que nunca foi contada: a relação simbiótica entre a exploração dos corpos negros – e as formas de tortura desenvolvidas para tal – e a ascensão do capitalismo estadunidense de fins do século XVIII até a Guerra Civil, na segunda metade dos oitocentos. Tal argumento implica em dois pontos a serem analisados à luz da produção científica sobre o tema. O primeiro, no nível nacional, diz respeito ao papel do escravismo sulista na expansão do território e no desenvolvimento econômico do país como um todo. O segundo ponto é a relevância deste escravismo para a expansão industrial inglesa, seguido da pergunta: esta escravidão é capitalista? Tais questões colocam o livro de Baptist no âmbito da chamada Nova História do Capitalismo (NHC), que propõe a revisão dos padrões da história do capitalismo a partir das relações políticas e das experiências dos grupos subalternizados. Outros trabalhos semelhantes da NHC, lançados na mesma época, são Empire of cotton de Sven Beckert (2014) e River of dark dreams de Walter Johnson (2013). [4] Estes três livros foram, por vezes, criticados conjuntamente, por partirem de premissas semelhantes e por terem construído o campo em torno da tríade algodão-escravidão-capitalismo. A maior parte das críticas ao campo atinge um ponto em comum: influenciados pelo trabalho de Eric Williams, bem como pelas reinterpretações de Kenneth Pomeranz e Joseph Inikori, os trabalhos da NHC, especialmente A metade que nunca foi contada, teriam ignorado os argumentos da Nova História Econômica baseados em estudos cliométricos e dados empíricos. [5]
As críticas de Alan Olmstead e Paul Rhode aos aspectos empíricos do livro são das mais extensas. [6] Baptist cita a afirmação de Olmstead e Rhode sobre a quadruplicação da produtividade das fazendas de algodão entre 1800 e 1860, porém invalida a importância da inovação biológica das novas sementes nesse aumento, argumento central dos autores. A calibragem da violência por meio de um sistema de cotas crescentes, que punia escravos por não manterem seu ritmo de colheita, seria o principal motivo da produtividade crescente. O papel da violência foi questionado não apenas por Olmstead e Rhode, mas também por James Oakes, que afirma que Baptist generaliza um cotidiano de torturas que não corresponde à realidade, mas nem por isso as relações do escravismo foram menos cruéis.[7]
Baptist teria também negligenciado que a tese da centralidade do algodão já estava presente no trabalho de Douglass North, e que a Nova História Econômica (NHE) já teria apresentado argumentos contrários: a baixa relevância das exportações de algodão para o PIB, a menor lucratividade em relação ao milho, entre outros.[8] No geral, os números de que Baptist lança mão para sedimentar suas afirmações sobre a centralidade do algodão no desenvolvimento dos Estados Unidos são superdimensionados ou de origem incerta. Ainda que as críticas da cliometria não levem em consideração a complexidade política ou as relações sistêmicas do capitalismo, um engajamento maior com a produção historiográfica deste campo fortaleceria os argumentos do livro.
Um outro ponto de análise em A metade que nunca foi contada é o caráter capitalista da escravidão, especificamente da segunda escravidão do sul estadunidense. Em uma leitura mais tradicional de modos de produção, Eric Hilt questiona a existência de uma relação de dependência do norte em relação ao sul, e Oakes aponta para uma ambiguidade entre a escravidão e o trabalho livre, entre o atraso e a modernidade.[9] Tal ambiguidade dentro das mesmas fronteiras, afirma Oakes, teria sido o próprio estopim da Guerra Civil. Já para John Clegg, a escravidão da qual Baptist fala é capitalista, mas em razão das motivações e mentalidade dos senhores (razões endógenas), e não pela vitalidade de sua produção para a industrialização.[10]
Na realidade, Baptist não se preocupa em definir o capitalismo, mas em mostrar o quanto a escravidão foi necessária para o seu desenvolvimento. Ainda que primordialmente sua leitura seja delimitada por um Estado-nação, é importante levar em consideração a relação subjacente do escravismo algodoeiro com a Revolução Industrial. Gavin Wright aponta que, no período pré-Guerra Civil, as exportações do algodão sulista foram de grande importância para alimentar a indústria têxtil britânica, mas após a abolição tal demanda foi atendida por exportações da Índia, Egito e Brasil e, posteriormente, pela produção do trabalho livre estadunidense. Wright afirma que a relevância da escravidão foi caindo no quadro do capitalismo global, aproximando-se da segunda tese de Williams.[11] Isto significa que a perspectiva de causalidade entre escravidão e Revolução Industrial é frágil. Nas palavras de Dale Tomich: “Essa ‘segunda escravidão’ se desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução”[12]. Aqui surge outra questão: se a escravidão foi relevante, mas findou não por ambiguidades internas, e sim porque perdeu espaço no quadro mais amplo do capital, como ocorreu essa virada?
Algo que tanto Baptist quanto seus críticos podem considerar para responder esta e outras questões é a literatura da segunda escravidão brasileira, além dos trabalhos que se centram na presença imperial britânica na Índia e no comércio oriental. Oakes questiona se as plantations de algodão seriam o melhor lugar para analisar o capitalismo; mas se apenas analisarmos o capitalismo oitocentista em condições “ideais”, nitidamente lucrativas, explicitamente modernizantes e criadoras de tecnologia, não há espaço para entendermos as desigualdades produzidas pelo sistema em nível global. Para Baptist, a segunda escravidão nos Estados Unidos é um fenômeno observado no âmbito nacional e referente à demanda inglesa. Mas se considerarmos os estudos da Segunda Escravidão de Rafael Marquese e Tâmis Parron, o fenômeno da escravidão oitocentista não pode ser compreendido apenas nos Estados Unidos: sua integração com os escravismos cubano e brasileiro formam uma unidade, uma nova divisão do trabalho. Consequentemente, a íntima relação entre o escravismo norte-americano e o escravismo cafeeiro brasileiro moldou preços, gerou impactos recíprocos e formou alianças e conflitos que auxiliam a compreensão da abolição nos Estados Unidos.[13] Tanto a questão do caráter capitalista da escravidão quanto a conjuntura do escravismo sulista ganham novas nuances a partir destes debates.
Em relação à empreitada britânica no Oriente, John Darwin afirma que o desenvolvimento do Império Britânico origina-se na diversidade de relações estabelecidas em diferentes regiões de influência e domínio. Em um quadro de pressões geopolíticas em que a Inglaterra não era hegemônica, a busca pela inserção no comércio com a Índia, China, a antiga Anatólia e o Cáucaso permitiram que o Império Britânico se consolidasse como o entreposto “do comércio do Novo Mundo com o Velho – assim como para o comércio transoceânico entre Europa e Ásia até a abertura do Canal de Suez em 1869” [14]. Assim, a expressividade do fornecimento de matéria-prima estadunidense para as indústrias inglesas deve ser colocada em perspectiva para pensarmos o êxito da Revolução Industrial, já que a presença do Império no Oriente reconfigura o papel dos Estados Unidos para os ingleses.
A importância da escravidão algodoeira do século XIX para a formação dos Estados Unidos e sua integração aos interesses do capitalismo industrial em expansão são pontos importantes trazidos por Baptist e, ainda que sejam necessários ajustes e considerações mais consistentes, sua tese não pode ser descartada tão facilmente. A força de seus argumentos não está apenas nas narrativas e no alcance de sua obra para além dos limites do público acadêmico. Sua exposição traz à tona as contradições de estudiosos liberais, que acreditavam que o fim da escravidão norte-americana era inevitável frente ao progresso, e expõe a falta de diálogo entre as esferas econômica e política em estudos historiográficos prévios. A ampliação dos horizontes de sua obra para além do nacionalismo metodológico será um passo importante para revelar outras partes da história que ainda não foram contadas.
Notas
2. O autor faz menção ao conceito de Segunda Escravidão, de Dale Tomich, sem se aprofundar no mérito de suas premissas teóricas. No entanto, a influência do trabalho de Tomich se faz presente no livro. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
3. O termo faz alusão ao conceito de “questões socialmente vivas”, relativo a temas relevantes socialmente, assim como no campo de estudo historiográfico. LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
4. BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014; JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
5. Referência a tese sobre a centralidade do escravismo para a industrialização britânica em WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; e suas atualizações em POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000; e INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
6. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
7. OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
8. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul, op. cit.
9. OAKES, James, op. cit.; HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
10. CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
11. WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
12. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, p. 87.
13. MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117; e MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60; PARRON, Tâmis. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
14. DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 37.
Referências
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014.
CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60.
MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117.
OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
PARRON, Tâmis Peixoto. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.
TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
Fernanda Novaes – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil.
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019. Resenha de: NOVAES, Fernanda. O capitalismo no quadro escravista dos EUA e a modernidade industrial. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 500-508, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira 1760-1876 | Ilana Peliciari Rocha
De que maneira o Estado brasileiro atuou como senhor de escravos? A questão é colocada pelo livro “Escravos da Nação”, da historiadora Ilana Peliciari Rocha. O estudo é oriundo de sua tese de doutorado, defendida em 2012. A autora, que tem experiência em história demográfica, já desenvolveu pesquisas sobre a população escrava do município de Franca (SP) no século XIX e a respeito do fluxo imigratório para São Paulo no período republicano. Atualmente, Rocha é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e tem publicado artigos que abordam a trajetória de escravos e escravas da nação na história brasileira.
No livro em questão, Rocha investiga uma peculiaridade: a condição pública atribuída a alguns escravos no Brasil. Já de início a autora explica que os “escravos da nação” se tornaram uma categoria específica no Brasil após a expulsão e o confisco dos bens da Companhia de Jesus pela Coroa portuguesa, o que se deu em 1760. De acordo com ela, a partir desse evento é possível traçar, por meio da análise de documentação coeva (como cartas e ofícios, relatórios dos ministérios do Império, legislação e recortes de jornal), as formas de tratamento direcionadas aos “escravos públicos” espalhados em fazendas e outros estabelecimentos localizados em distintas regiões do Brasil. A administração desses cativos coube, no século XIX, às instituições vinculadas ao Estado imperial e perdurou até, precisamente, o ano de 1876, quando expirou o prazo que, segundo a legislação, era necessário para que tais cativos entrassem em posse de suas liberdades.
Segundo a avaliação de Rocha, os estudos historiográficos sobre a presença de escravos da nação nas fazendas e fábricas do Brasil mostraram, de maneira isolada para cada estabelecimento e localidade, que a administração desses cativos teria acompanhado o modelo da escravidão privada ou tradicional. A autora buscou acrescentar a esses trabalhos um olhar mais atento para o caráter público de tais escravos, com destaque para aqueles mantidos na Fazenda de Santa Cruz, na província do Rio de Janeiro, e na Fábrica de Ferro São João de Ipanema, na província de São Paulo. Sua proposta principal é compreender em que medida a administração desses escravos permite apreender o significado de “coisa pública” no Brasil entre o final do século XVIII e o último quartel do século XIX. Para isso, a pesquisadora leva em conta o conceito de “patrimonialismo” e dialoga com as obras de Raimundo Faoro, Fernando Uricoechea e José Murilo de Carvalho.
A estrutura do livro, inteligentemente pensada, colabora para o entendimento do estudo. A obra é composta por três partes bem articuladas, nas quais são abordados, respectivamente, os percursos dos escravos após a expulsão dos jesuítas, as concepções compartilhadas a cada época sobre tais cativos e os aspectos das experiências cotidianas desses escravos nos estabelecimentos do Estado. Ao longo dos capítulos, Ilana Peliciari Rocha compara o tratamento destinado a esses cativos com outras experiências ocorridas entre senhores e escravos, no âmbito do que chamou de “escravidão privada ou tradicional”, de modo que seja possível empreender o “significado de ser público para o escravo e também para o Estado” (p. 20). Os argumentos estão bem fundamentados tanto nas narrativas produzidas pelos contemporâneos quanto na projeção de dados quantitativos que auxiliam o leitor a visualizar os perfis dos escravos nacionais e as características da escravidão pública.
Na primeira parte do livro, em que é identificado o início de um cativeiro “público” no Brasil, Rocha discorre sobre os caminhos dos escravos após o confisco dos bens dos jesuítas, em 1760. Segundo ela, os escravos adquiridos pela Coroa portuguesa, então chamados “escravos do Real Fisco”, tornaram-se “patrimônio público” sem que houvesse legislação uniforme para o seu tratamento. Seja pela dificuldade de estabelecer um regimento homogêneo para estabelecimentos distintos, seja pela eficácia do controle administrativo desenvolvido pelos religiosos inacianos, a manutenção das propriedades e dos cativos confiscados deu continuidade – ao longo de todo o período colonial – ao modelo adotado pelos jesuítas.
Em seguida, a segunda parte apresenta as concepções e, sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelos membros do governo imperial no trato dos escravos da nação. Aqui, a análise concentra-se em meados do século XIX – período em que a documentação oficial permitiu perceber, com maior recorrência, a presença de cativos “públicos”. A autora mostra que houve a tentativa inicial de vender tais escravos a particulares, mas que o governo imperial acabou adaptando-se à condição de proprietário. Havia um sistema de trocas entre as fazendas e fábricas para suprir as necessidades de mão de obra, além de regulamentos para o controle e a manutenção da rotina produtiva nesses estabelecimentos públicos.
Quanto a esta segunda parte do livro, cabe destacar o capítulo que aborda a “visão oficial” sobre os escravos nacionais. Nele, Rocha busca dimensionar o impacto da escravidão pública nos debates políticos de meados do século XIX brasileiro e perpassa alguns temas caros ao período, como abolicionismo, patrimonialismo e liberalismo. De acordo com seu entendimento, a administração dos cativos “públicos” pelo Estado imperial teve um papel relevante na época, pois intensificou as discussões em torno da manutenção da escravidão “privada” na década de 1860. Segundo ela, “[…] como sancionadora da escravidão, a presença deles [dos escravos da nação] não gerava incômodos, mas no momento em que o Estado passou a ter uma nova atitude e as questões emancipacionistas ganharam vulto, isso influenciou as políticas públicas para com eles” (p. 171).
Entretanto, Ilana Peliciari Rocha também expõe os limites dos posicionamentos que questionaram a escravidão e o uso de escravos pelo governo imperial nesse período. Ao analisar os discursos do Parlamento do Império e um embate entre o periódico Opinião Liberal e a Mordomia-mor – repartição responsável pelos escravos da Fazenda de Santa Cruz -, ela identifica que a defesa da liberdade dos escravos da nação sofreu reveses devido à preocupação de que o assunto se estendesse à abolição do sistema escravista. Na compreensão da autora, tais discussões mostram que houve uma contradição entre o discurso liberal e as práticas do governo imperial, bem como o uso dos escravos nacionais no âmbito privado – o patrimonialismo. Juntos, tais aspectos teriam dificultado a aprovação de medidas favoráveis à alforria dos escravos da nação e, ao mesmo tempo, postergado o fim da escravidão particular no Brasil.
Especificamente sobre o “patrimonialismo”, Rocha acompanha a perspectiva de José Murilo de Carvalho e entende que a escravidão pública esteve relacionada à “administração patrimonial” empreendida pela burocracia nascente do século XIX brasileiro. Ela avalia, por meio da historiografia e das fontes, a complexidade que envolveu o uso de cativos pelo Estado: de um lado, o uso de escravos da nação para fins privados era admitido porque foi recorrente e não foi “efetivamente combatido” (p. 188); de outro lado, em alguns locais, como a Real Fábrica de Pólvora da Estrela, tal prática foi repreendida. A dificuldade do tratamento de tal patrimônio público esteve associada, ainda segundo sua leitura, à proximidade dos estabelecimentos com a sede do governo imperial e do Imperador, o qual teria influenciado uma postura “paternalista” em relação aos cativos. Para a autora, é possível afirmar que o Estado imperial, quando atuava como proprietário de escravos, foi patrimonialista, pois prevaleceu a confusão entre as esferas pública e privada na administração dos escravos da nação.
Vale observar que a “visão oficial”, tal como disposta por Rocha neste capítulo, dá centralidade aos embates entre liberais e conservadores no Brasil do Oitocentos. De certa forma, as atividades administrativas das instâncias do Estado e das instituições que mantiveram os escravos da nação, apresentadas ao longo de todo o estudo, ficaram em segundo plano nessa análise. Assim, é preciso sublinhar que não apenas as discussões no Parlamento e na imprensa, mas as diferentes medidas direcionadas aos escravos – presente nos regimentos, ofícios e relatórios – compõem a “visão” que o Império brasileiro pôde revelar sobre a escravidão pública e os escravos nacionais na época.
A última parte do livro de Ilana Peliciari Rocha é dedicada às ocupações e às experiências dos cativos mantidos na Fazenda de Santa Cruz, que foi usada como residência de passeio do imperador, e daqueles que se encontravam na Fábrica de Ferro de Ipanema. A autora conta que nesses estabelecimentos houve grande diversidade quanto às funções desempenhadas pelos escravos e que as oficinas manufatureiras permitiram que alguns deles se especializassem. Motivadas mais pelas demandas casuais dos administradores do que pela orientação de um regimento geral, a profissionalização e a diversificação das atividades nem sempre eram vantajosas para os cativos, os quais muitas vezes foram deslocados dos estabelecimentos em que viviam com suas famílias para trabalhar em outros locais, inclusive em propriedades particulares.
Nesta terceira parte, Rocha elenca ainda tópicos conhecidos na historiografia da escravidão, como a resistência escrava e a obtenção de alforrias, e aponta que os escravos da nação também recorreram às fugas ou aos pedidos de liberdade, mas de maneira distinta dos cativos “privados”. Enquanto as dificuldades de supervisionar a rotina de trabalho nos estabelecimentos favoreceram as fugas, a condição pública contribuiu, em muitos casos, para obtenção de alforrias. Aliás, apesar das ponderações feitas na segunda parte do livro, a autora conclui que a discussão parlamentar sobre a liberdade dos escravos da nação, iniciada na década de 1860, teve grande impacto na vigência da escravidão privada no Brasil. Segundo sua perspectiva, o debate que culminou na Lei do Elemento Servil, de 1871, teria impulsionado o discurso abolicionista e, até mesmo, “antecipado” a abolição aprovada em 1888.
Em suma, pode-se dizer com a investigação de Rocha que “ser público” para o Estado imperial brasileiro teve como característica o problema de “ser possuidor” de escravos para manter o funcionamento de seus estabelecimentos e de ter que lidar com um patrimônio disputado na sociedade oitocentista. Para os escravos da nação, “ser público” era estar sob o controle de um senhor disperso, algumas vezes favorável à liberdade, mas de qualquer forma presente em sua rotina e seus percursos. Os aspectos abordados indicam que este estudo contribui para ampliar as indagações, os debates historiográficos e a compreensão, entre os leitores interessados de hoje, sobre uma faceta pouco conhecida da história da escravidão e do Estado senhor de escravos no Brasil.
Referências
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: O Público e o Privado na Escravidão Brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018.
ROCHA, Ilana Peliciari. O escravo da nação Florencio Calabar: da Fábrica de Pólvora da Estrela para a Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Nucleus (Ituverava), v. 15, n. 2, p. 7-2-13, 2018. Disponível em: <Disponível em: http://nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/3011 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. ‘Escravas da nação’ no Brasil Imperial. História, histórias, Brasília-DF, v. 4, n. 8, p. 44-61, 2016. Disponível em: <Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10944 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. Imigração Internacional em São Paulo: retorno e reemigração, 1890-1920. Novas Edições Acadêmicas, 2013.
ROCHA, Ilana Peliciari. Demografia escrava em Franca: 1824-1829. Franca: UNESP-FHDSS, 2004
Larissa Biato Azevedo – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Câmpus de Franca. Mestre em História e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Câmpus de Franca. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018. Resenha de: AZEVEDO, Larissa Biato. O estado imperial: um senhor de escravos “pouco definido”. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 612-618, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Territórios ao Sul: escravidão, escritas e fronteiras coloniais e pós-coloniais na América | María Verónica Secreto e Flávio dos Santos Gomes
O livro Territórios ao Sul organizado por Verónica Secreto e Flávio Gomes foi criado com o propósito de conectar histórias e historiografias de africanos e afrodescendentes no Atlântico sul diante da falta de diálogo sobre a influência mútua entre os processos históricos afro-latinos americanos. Os autores discorrem acerca dos silêncios comuns sobre América negra e o quanto são necessárias colaborações intelectuais para romper com os afastamentos entre os processos históricos negros nas Américas. Além do já consagrado Gilberto Freyre que desde a década de 1930 marcou o campo de estudos com seus esforços na tentativa de comparar histórias, também podemos incluir os organizadores dessa obra enquanto autores que se dedicam a relacionar os territórios negros na América Latina.
Desde 1998 Verónica Secreto vêm pensando no mundo rural brasileiro e argentino, sob a perspectiva comparada, o que deu origem ao livro Fronteiras em movimento: História comparada – Argentina e Brasil no século XIX (SECRETO, 2012), em sua obra a autora não deixa de incluir a população negra que é abordada em um capítulo denominado “Páginas de miséria e suor” sobre a mão-de-obra usada nos campos do Oeste Paulista e de Buenos Aires. Já Flávio Gomes, em trajetória enquanto intelectual negro é um estudioso de diversas faces da história dos africanos e afrodescendentes, seja sobre mentalidades ou as diversas formas de lutas políticas e sociais para a resistência ao sistema escravista e a obtenção de igualdade e cidadania. As histórias comparadas e conectadas se incluíram nas metodologias adotadas pelo autor em suas pesquisas desde o ano de 2003, se dedicando principalmente a afro-latino-América. Dentre suas diversas publicações, gostaria de destacar seu artigo sobre a formação de mocambos como uma forma de resistência escrava no Brasil e na Guiana Francesa (GOMES, 2003). Leia Mais
Formas de liberdade: gratidão/condicionalidade e incertezas no mundo escravista nas Américas | Jonis Freire, María Verónica Secreto
O livro aqui resenhado reúne textos de especialistas de diferentes países a respeito da experiência da escravidão e da liberdade na América Latina e Caribe. Com alguma variação de abordagem, estilo e perspectiva, os trabalhos transitam entre a história social e a micro-história, explorando uma rica documentação de natureza administrativa, eclesiástica, legislativa, judiciária e notarial. O livro é composto por nove capítulos que se estendem espacialmente pelo Caribe francês, por diferentes regiões da América hispânica, de norte a sul do continente, e pelo Brasil, concentrando-se de modo preponderante nos séculos XVIII e XIX. Alguns são escritos em espanhol, outros em português. Leia Mais
A elite do atraso: da escravidão à lava jato | Jessé Souza
Jessé de Souza constrói seu livro: A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato, da Editora Leya, como resposta crítica ao clássico de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, publicado em 1936. Não obstante, analisa vários outros autores, como Roberto DaMatta, Gilberto Freyre, dentre outros, para formar sua convicção e justificar sua teoria. Leia Mais
A Sociedade dos Amigos dos Negros: a Revolução Francesa e a Escravidão (1788-1802) | Laurent de Saez
A obra “A Sociedade dos Amigos dos Negros”, escrita pelo historiador Laurent de Saes, traz o debate sobre a escravidão nas relações entre a França do período revolucionário e as colônias francesas da América, sobretudo, de Saint Domingue. Dentro dessa limitação espaço-tempo, o autor apresenta a primeira sociedade antiescravista francesa, designada como a Sociedade dos Amigos dos Negros, como um grupo criado e liderado, incialmente, por Jacques-Pierre Brissot de Warville, Étienne Claviére e Mirabeau e, posteriormente, com a adesão de outros ativistas, na França, em 1788, que realizava uma campanha em favor do abolicionismo e uma transformação gradual do sistema colonial, sob os auspícios da nova ordem, jurídica e ideológica, do período pós Revolução Francesa.
O livro traz um panorama da escravidão e suas contradições internas, dentro da relação metrópole-colônias, mostrando o impacto da Revolução Francesa e de seus ideais sobre a questão do abolicionismo e da relação entre metrópole-colônia. A defesa da liberdade, igualdade e fraternidade, princípios revolucionários liberais, foram incapazes de levar a abolição às colônias, ao contrário, por conta disso, fomentaram lutas de classe e revoltas violentas de escravos, ansiosos por independência e a emancipação. Para tanto, o estudo é estruturado em 03 (três) partes, compreendendo o período de 1788 a 1802, lapso temporal a partir da fundação da Sociedade dos Amigos dos Negros, passando pelo abolicionismo, pelas revoltas coloniais, até o restabelecimento da escravidão.
A primeira parte, intitulada “A revolução francesa diante da escravidão negra”, aborda as bases do pensamento da Sociedade dos Amigos dos Negros que defendia a tese, em seu programa inicial, da abolição do tráfico negreiro, a abolição gradual da escravidão, melhora das formas de tratamento dados aos escravos e um novo projeto colonial. Destaca-se o entendimento à época que a emancipação gradual da mão-de-obra escrava e inserção dos negros no sistema de trabalho assalariado seriam benéficos, tanto aos próprios escravos, em face da liberdade a ser obtida e melhores condições de vida, quanto aos próprios comerciantes coloniais e plantadores que obteriam uma maior produtividade e qualidade superior do trabalho. Os ideais da Revolução Francesa foram a base jurídica para argumentação abolicionista, contudo, a extensão de seus efeitos às colônias e os colonos e comerciantes franceses mostram-se barreiras de difícil transposição, visto que o sistema colonial do comércio e das plantations ainda eram consideradas as bases da economia.
A segunda parte do livro descreve como ocorreu a abolição da escravatura nas colônias francesas e seus principais fatores, favorecidas, principalmente, pela insurreição escrava nas colônias. A ascensão do abolicionismo radial, nascido a partir do levante em Saint Domingue, se inspirava no movimento da metrópole pela liberdade e igualdade, num mesmo momento que havia uma retomada da guerra entre França e Grã-Bretanha (1793), inclusive com a invasão inglesa das ilhas do caribe. Dentro desse contexto, a França foi pressionada a abolição da escravidão, sob o risco de perda das colônias.
A terceira e última parte nada mais traz do que a reação política ao movimento abolicionista, restabelecendo, paulatinamente, ao status quo. A ascensão do regime Consular, guiado por Napoleão Bonaparte, pautado pelos interesses da burguesia mercantil, trouxe uma política restauracionista e expansionista das relações coloniais, por conseguinte, o movimento abolicionista não conseguiu superar a forte atuação dos interesses do Estado nacional, na defesa dos seus interesses políticos e comerciais, culminado, inclusive, criando uma ordem constitucional segregada, em face a extinção do princípio da assimilação (1799).
Dentro desse arquétipo, pode-se notar que a obra foi desenvolvida a partir da concepção do materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, uma vez que o autor traz, à fundamentação para sua tese, diversos documentos, manuscritos e impressos, a fim de consolidar e embasar o seu modo de pensar. Sendo assim, o texto se desenrola dentro de um processo progressivo e histórico, em que os conflitos de classe e as contradições internas se mostram latentes e no entro do debate. Trazemos, à questão que muito bem alicerça a adoção dessa opção metodológica, o paradoxo que era a tentativa de abolição da escravatura, sem, contudo, defender o fim modo de produção colonial como base da economia1. Ao contrário, a França, no período revolucionário ainda era pouco industrializada e extremamente dependente do modelo colonial. Inobstante isso, as contradições de classes também se faziam presentes, visto que, embora silenciada no período consular, a elite abolicionista e os movimentos populares e antiescravistas não deixaram de fomentar o embate interno contra a elite aristocrática e da burguesia mercantil, tanto que desaguaram nas Revoluções de 1830 e 1848 [2].
Nota-se que o autor apresenta causas múltiplas para esses acontecimentos, desde as contradições inerentes entre classes sociais, construídas dentro de um modelo das relações da escravidão e do pacto colonial, até as revoltas violentas dos escravos, o surgimento de um movimento, de cunho popular e abolicionista, na metrópole e as guerras revolucionárias. Portanto, devemos destacar as contradições mostram-se um tema fulcral ao debate, uma vez que a liberdade, um dos pilares da Constituição francesa, não atingiu as colônias, nos mesmos termos. A Constituição francesa declarou a abolição da escravatura, extensível às colônias [3], contudo, não foi aplicado, no ímpeto de impor ordem e controle colonial pela metrópole até que houve a reformulação do sistema, adotando uma dualidade constitucional [4]. Os grilhões do modo colonial impediam a liberdade do trabalho nas plantations, sob o argumento que impunha risco de fuga e escassez da mão de obra. Para equacionar o problema, adotou-se um regime híbrido que unia o trabalho compulsório e assalariado [5], mas não foi suficiente, tendo que chegar ao ápice a restauração da escravidão. Conforme podemos observar nos casos suscitados, à guisa de exemplos, os conflitos de classes e o modo de produção são características intrínsecas a obra e que impactam diretamente sobre a escravidão.
As discussões postas no estudo partem de uma extensa bibliografia francesa que rompia o silêncio da Revolução Haitiana, no período de descolonização no pós II Guerra Mundial. Cabe destacar que o debate historiográfico que emerge a obra do autor Laurent de Saes está situado na questão da continuidade ou não da escravidão do período revolucionário. Trazendo as ideias de Seymor Drescher [6], que defende que há uma temporalidade única e linear, ainda que separados em dois ciclos distintos, da escravidão no século XIX, tal qual o autor descreve na obra em questão. Portanto, nos dois grandes períodos abolicionistas seriam considerados como uma unidade histórica, dentro de “um mesmo processo histórico de aproximadamente cem anos” [7].
A outra interpretação sobre a escravidão, trazemos o autor Dale Tomich [8] para contrapor a visão acima exposta. Esse autor defende que há uma descontinuidade espaço-tempo entre o escravismo colonial e a escravidão do século XIX. Foi no período revolucionário, compreendido entre 1790 a 1820 que foram criadas as diversas condições para inaugurar a segunda escravidão, integrada ao desenvolvimento do capitalismo industrial e do mercado [9], uma vez que os espaços colônias ainda não estariam integrados plenamente na econômica capitalista mundial. Portanto, as revoluções europeias do longo século XIX significaram uma aceleração, tanto do tempo quanto do espaço, que permitiram modelar a escravidão, a partir da massificação de novos padrões de consumo e da mecanização do processo industrial, impostos pela Revolução Industrial.
Merece o devido comentário acerca de outro debate historiográfico em que as análises estruturais, mais amplas, foram deixadas de lado ao longo do tempo. Os estudos sobre a escravidão passaram o seu foco de investigações para casos mais circunstanciais, sob a visão dos subalternos. Embora não tenha sido totalmente abandonada a visão mais angular, foi somente na primeira década do século XXI que apareceram estudos mais alargados, seja através das diversificação dos países, das heterogeneidades culturais e eventuais conexões com o sistema-mundo, ainda que para estudar de forma comparativa as colônias unidas por um sistema de exploração colonial, mas separadas por um oceano [10].
A partir dessa percepção historiográfica, utilizando para tanto o pensamento de Eric Wiliams [11], que estabelece a conexão da escravidão com o colonialismo e com a Revolução Industrial. A partir desse enlace, o referido autor defende a tese que o escravismo caribenho como fomentador do acumulo de capital inglês e como este ultimo contribuiu para a extinção do escravismo, a partir da Revolução Industrial. Nota-se, portanto, que o papel da Inglaterra para o escravismo foi de suma importância, principalmente no mundo atlântico.
Partindo da premissa acima da importância do papel da Inglaterra na história da escravidão e do olhar mais abrangente da história da escravidão, devemos trazer a crítica à obra, o porquê o autor não trouxe o tema ao debate, uma vez que ele cita, por exemplo, que a sociedade dos Amigos dos Negros foi apresentada como uma filial da sociedade abolicionista inglesa [12], cita, também, o papel da Inglaterra nas Guerras Revolucionárias [13] e a ocupação britânica de ilhas caribenhas Guadalupe e Martinica) [14], sem, contudo, citar os efeitos da Revolução Industrial na França e as Colônias. Se pensarmos o objetivo da obra como o estudo sobre a escravidão nas relações entre a França do período revolucionário e as colônias da América, sobretudo, de Saint Domingue, ficaria difícil de não estabelecer elos mais aprofundados com a Inglaterra, quando o assunto fosse a escravidão.
Portanto, a obra “A Sociedade dos Amigos dos Negros” muito bem atinge o seu objetivo, permitindo analisar a escravidão dentro de uma relação dialética, mais abrangente e algumas das vezes contraditória, entre a França e as Colônias, sobretudo, Saint Domingue. O período, a partir da Revolução Francesa até o período consular, restou caracterizado pela atuação moderada da organização abolicionista, por meio de uma abolição do tráfico de escravos e da abolição de forma moderada, a permitir a absorção da mão de obra negra no mercado livre de trabalho, sem, contudo, romper com o sistema colonial. Todavia, ao deixar de analisar o papel da Inglaterra, dentro da percepção mais abrangente do autor, peca, visto que ele mesmo ressalta a participação inglesa na escravidão e nas relações, ainda que conflituosa, com a França e suas colônias.
Notas
1. SAES, Laurent de. A Sociedade dos Amigos dos Negros: a revolução francesa e a escravidão (1788-1802). Curitiba: Prismas, 2016, p.681.
2. Ibidem, p.684/688.
3. Ibidem, p.461.
4. Ibidem, p.542.
5. Ibidem, p.513.
6. DRESCHER, Seymour. Abolition: A History of Slavery and Antislavery. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
7. YOUSSEF, Alain El. Nem só de flores, votos e balas: abolicionismo, economia global e tempo histórico no Império do Brasil. Almanack no.13, Guarulhos May/Aug. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S2236-46332016000200205 , acessado 04-12-17.
8. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011.
9. SALLES, Ricardo. A segunda escravidão. Revista Tempo (Niterói, online). Vol. 19, n. 35. p. 249-254, jul-dez., 2013.
10. SECRETO, María Veronica. Novas perspectivas na história da escravidão. Revista Tempo (Niterói, online). Vol. 22 n. 41. p.442-450, set-dez., 2016.
11. WILLIAMS, Eric. Capitalismo e Escravidão. Rio de Janeiro: Americana, 1975.
12. SAES, op. cit., p.85 e 87.
13. Ibidem, p.649,655.
14. Ibidem, p.502.
Marcus Castro Nunes Maia – Aluno de graduação – História (UFF). E-mail: [email protected]
SAEZ, Laurent de. A Sociedade dos Amigos dos Negros: a Revolução Francesa e a Escravidão (1788-1802). Curitiba: Prismas, 2016. Resenha de: MAIA, Marcus Castro Nunes. A escravidão no Império Francês no período Revolucionário. Cantareira. Niterói, n.29, p. 282- 285, jul./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850) | Alain El Youssef
Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850) é resultado da dissertação de mestrado de Alain El Youssef, defendida em 2010, no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo. Na obra, o autor analisa como a temática do tráfico negreiro foi abordada nos periódicos do Rio de Janeiro desde o ano de 1822, marco da proclamação da independência do Brasil, até a década de 1850, quando houve a aprovação da Lei Eusébio de Queirós e o tráfico no Império brasileiro foi legalmente abolido. Ao eleger o tráfico negreiro e a escravidão nos periódicos como seu objeto de estudo, Youssef se contrapõe a autores da historiografia brasileira que postularam a ausência de debates relativos a esses temas na imprensa do Rio de Janeiro até a década de 1870 [1]. A obra é, portanto, historiograficamente, uma afirmação desta presença.
Além de constatar essa existência, o autor procura demonstrar como diferentes grupos políticos se utilizaram da imprensa, desde o Primeiro Reinado, como estratégia e instrumento para a formação de uma “opinião pública” sobre questões, entre outras matérias, relativas ao fim do tráfico negreiro para o Império do Brasil. Segundo Youssef, essa estratégia tinha como intuito “preparar o terreno” para a discussão pública de determinados temas que estavam ou entrariam em voga no parlamento imperial. Por outro lado, o autor busca evidenciar como esses mesmos grupos políticos recorriam ao argumento da “opinião pública” para legitimar suas pautas.
Neste sentido, são importantes para a construção do argumento de Youssef as categorias de espaço público e opinião pública, adotadas a partir das perspectivas de François-Xavier Guerra [2] e Marco Morel [3]. Aqui, a imprensa é vista como um espaço público na medida em que se constituía como um lugar no qual ocorriam interações de diversas naturezas entre agentes históricos. Por sua vez, a opinião pública é “tratada como um conceito que os coevos dos séculos XVIII e XIX utilizavam para legitimar suas práticas políticas, principalmente aquelas que visavam influir a administração pública” (p. 30).
Embora a imprensa não seja apresentada na obra enquanto uma espécie de partido propriamente dito, menos ainda nos termos empregados no século XXI, Youssef procura chamar a atenção dos leitores para a importância que os periódicos, muito dos quais explicitamente partidários, tiveram na propagação dos ideais de moderados, exaltados e restauradores, luzias e saquaremas, liberais e conservadores, na complexa conjuntura política imperial. No que se refere ao tráfico negreiro em específico, o autor procura demonstrar como a imprensa teve um papel de suma importância na consolidação da política do contrabando negreiro no Brasil, empreendida pelos conservadores.
Segundo o autor, com o avanço do regresso, os conservadores passaram a fazer uma intensa campanha de defesa da reabertura do comércio negreiro em periódicos, tanto apresentando as vantagens econômicas da continuidade do negócio como publicizando as propostas de reabertura do tráfico transatlântico apresentadas ao parlamento brasileiro. Assim, para Youssef, a imprensa funcionou como uma espécie de elo de comunicação entre os políticos e proprietários de escravos interessados na continuidade do comércio negreiro, dando uma poderosa contribuição ao fortalecimento do contrabando e, consequentemente, ao aumento das cifras relacionadas a essa atividade.
Sobre a política do contrabando negreiro, é explícito o diálogo de Alain El Youssef com a leitura feita sobre o fim do tráfico por Tâmis Parron em suas produções recentes. Em certa medida, o livro de Youssef é complementar à dissertação de mestrado de Parron, reformulada em livro com o título A política da escravidão no Império do Brasil (1826-1865) [4] em 2011. Ambos buscam analisar o fim do contrabando negreiro através da história política, a partir das perspectivas de segunda escravidão de Dale Tomich [5], e de economia-mundo/sistema-mundo, de Immanuel Wallerstein [6], e procuram entender como os debates e interesses político-econômicos em torno da (des)continuidade do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil estavam inseridos dentro de um contexto maior de transformações socioeconômicas mundiais no período. Partindo de tantos pontos em comum, é principalmente nas fontes que Youssef e Parron tomam caminhos diferentes. Enquanto os discursos parlamentares são os principais documentos históricos empregados na análise da narrativa de Parron, Youssef constrói sua narrativa a partir dos periódicos cariocas – o que confere complementaridade às duas obras.
Por pensar seu objeto a partir de uma perspectiva ampliada, Youssef procura entender a imprensa (assim como o tráfico negreiro) dentro das transformações ocorridas no mercado e na sociedade mundial no período. Dessa maneira, o autor busca demonstrar como a expansão do capitalismo, a queda de monarquias absolutistas, as revoluções de independência no Novo Mundo e a reconfiguração das áreas fornecedoras de importantes commodities para o mercado mundial, entre outros fatores, também contribuíram para a difusão de novas (ou modernas) formas de sociabilidades, que passam a conviver com as do Antigo Regime. No caso da imprensa, essas transformações teriam oportunizado a proliferação de impressos, a abolição/diminuição da censura, o surgimento de espaços de leitura e sociabilização das ideias presentes nestes impressos, e, como consequência, possibilitado a emissão de julgamentos por parte do público aos acontecimentos a ele contemporâneos.
Em termos de leitura histórica, outra produção historiográfica cuja influência sobre o livro de Youssef é notável é O Tempo Saquarema, de Ilmar Mattos [7]. Obra de referência sobre a história do Brasil Império, publicada pela primeira vez em fins da década de 1980, O Tempo Saquarema aborda elementos centrais contidos no livro de Youssef, como a relação entre expansão cafeeira, formação de projeto político imperial centralizador, continuidade do tráfico negreiro e o papel político-econômico britânico neste contexto. No entanto, Youssef distancia-se de Mattos em dois aspectos centrais do seu trabalho, a imprensa e a pressão inglesa. Enquanto Mattos, na perspectiva gramsciana, entende como secundário o papel da imprensa e das organizações civis consideradas privadas na construção da coalização entre proprietários do centro-sul e o grupo conservador na política imperial, Youssef apresenta a imprensa como tendo um papel central neste processo. Segundo o autor, a imprensa foi uma das principais responsáveis para que essa aliança, assim como a política do contrabando negreiro, tenha alcançado êxito.
Sobre o papel britânico nesse contexto, enquanto para Mattos os interesses internos da classe dirigente são vistos como predominantes, embora a pressão externa não seja ignorada, Youssef atribui protagonismo à pressão externa sobre as decisões relativas ao tráfico negreiro adotadas pelo governo imperial. Para o autor, a intensificação da pressão britânica pelo fim do comércio negreiro para o Brasil em meados da década de 1840 – e, inclusive, a iminência de um conflito armado entre as duas nações – por exemplo, não deixou alternativas aos Saquaremas senão a defesa do fim do contrabando. O grupo retornaria aos periódicos para preparar o terreno, desta vez para a abolição do tráfico.
A respeito disso, observa-se que Youssef também se distancia de recentes produções historiográficas brasileiras sobre o fim do tráfico negreiro que, embora não desprezem a importância que a pressão britânica teve sobre os rumos tomados por esta atividade, têm repensado como outros fatores influenciaram o fim do comércio proibido de escravos [8]. O autor procura demonstrar que fatores como o haitianismo, para citar um dos aspectos apontados recentemente pela historiografia, que também é mencionado pelo autor, não teve grande peso sobre o fim do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil. Youssef avalia que o haitianismo foi utilizado na imprensa do Rio de Janeiro muito mais como argumento retórico do que como um temor real.
Na obra de Alain El Youssef, a imprensa é, ao mesmo tempo, fonte e objeto histórico, informações que o autor deixa explícitas já no princípio da obra. Sobre isso, nota-se que, ao adotar a imprensa também como objeto, o autor consegue ir além do texto publicado. Investigando, por exemplo, as vinculações partidárias dos editores dos periódicos que consultou, é capaz de acessar alguns dos interesses existentes por trás das notícias veiculadas. Assim, o autor não deixa de chamar atenção para o modo como parte da historiografia brasileira tem utilizado a imprensa. Ao analisar os periódicos pontualmente, muitas vezes sem levar em consideração as vinculações das publicações, a historiografia acaba por reproduzir um discurso enviesado. Neste sentido, chama a atenção para a necessidade de se observar o enviesamento existente nas publicações.
Ao fazer a leitura deste livro no ano de 2018, período indubitavelmente conturbado da política brasileira, não poderia deixar de mencionar a atualidade da obra. Através do livro de Youssef verificamos como o argumento político da “opinião pública” e a construção politicamente enviesada da “opinião pública” pela imprensa têm sido empregados ao longo do tempo para conformar os rumos da história do Brasil.
Notas
1. Cf. KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SOUZA, Christiane Laidler de. Mentalidade escravista e abolicionismo entre os letrados da Corte (1808-1850). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994.
2. GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 1992.
3. MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
4. PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
5. Cf. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
6. Cf. WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Nova York: Academic Press, 1974. vol. 1. Idem. The capitalist world-economy. Nova York: Cambridge University Press, 1979. Idem. The modern world-system: mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. Nova York: Academic Press, 1980. vol. 2.
7. MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL, 1987.
8. Dentre as produções que repensaram o papel da pressão britânica destacamos os estudos de Sidney Chalhoub, Flávio Gomes, João José Reis, Jaime Rodrigues e Robert Slenes. Cf.: CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX, ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, ed. rev. e ampl., 1ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da Unicamp, Cecult, 2000. SLENES, Robert. “Malungu, Ngoma vem!”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, n. 12, 1992.
Referências
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX, ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 1992.
KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL, 1987.
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, ed. rev. e ampl., 1ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da Unicamp, Cecult, 2000.
SOUZA, Christiane Laidler de. Mentalidade escravista e abolicionismo entre os letrados da Corte (1808-1850). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994.
SLENES, Robert. “Malungo, Ngoma vem”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, n. 12, 1992.
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Nova York: Academic Press, 1974. vol. 1.
WALLERSTEIN, Immanuel. The capitalist world-economy. Nova York: Cambridge University Press, 1979.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system: mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. Nova York: Academic Press, 1980. vol. 2.
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeiros; Fapesp, 2016.
Silvana Andrade dos Santos – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Doutoranda, PPGH-UFF, bolsista do CNPq. E-mail: [email protected]
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850). São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2016. Resenha de: SANTOS, Silvana Andrade dos. Imprensa como partido: “opinião pública” e tráfico negreiro em periódicos cariocas. Almanack, Guarulhos, n.19, p. 331-337, maio/ago., 2018. Acessar publicação original [DR]
Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal 1850-1888 | Mrco Aurélio dos Santos
Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal, 1850-1888, do historiador Marco Aurélio dos Santos, é mais uma das recentes contribuições para a historiografia brasileira que estuda a escravidão. Originário da tese de doutorado do autor, defendida no ano de 2014 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, o trabalho revisita temas clássicos do debate acerca do passado escravista brasileiro. Autonomia escrava, roças cultivadas pelos cativos, formação de comunidades solidárias que uniam escravizados na luta contra as agruras do cativeiro e, em sentido mais geral, a oposição entre possibilidades e constrangimentos estruturais para a agência escrava são alguns dos aspectos retomados pelo historiador e que perpassam o texto.
O município de Bananal já foi bastante estudado, visto que se constituiu em um dos principais produtores de café do Brasil das primeiras décadas do século XIX.[1] No decênio de 1850 a localidade passou a ser a maior produtora de café da província de São Paulo, tendo alcançado o ápice de sua produção na década seguinte. A participação dos escravizados na composição total da população da localidade foi a maior entre os principais municípios do Vale do Paraíba Paulista, alcançando percentual de 53% (p. 35-37). Dessa forma, a chegada da rubiácea na região alterou profundamente a demografia da localidade. As relações sociais e políticas, pautadas pelas assimetrias características do escravismo, também sofreram mudanças drásticas em curto espaço de tempo. Isso sem mencionar toda a carga cultural trazida pelas levas de africanos introduzidos abruptamente na região via tráfico internacional ou interno de escravos.
O recorte cronológico privilegiado pelo autor é outro ponto bastante recorrente na historiografia da escravidão, na medida em que suas balizas marcam dois momentos centrais do passado escravista brasileiro. O livro aborda o intervalo temporal compreendido entre o final do tráfico internacional de escravos (1850) e o colapso da escravidão no Brasil (1888).
Se os pontos acima destacados, recortes geográfico e cronológico, não são propriamente inovadores, Marco Aurélio dos Santos agrega ao debate sobre escravidão e resistência cativa o estudo do elemento espaço. Mais precisamente, o autor estuda a espacialidade das fazendas cafeeiras escravistas. Por espacialidade entende a soma da cultura material (espaço material), das relações sociais (espaço social) e das interpretações e apropriações dos espaços (espaço cognitivo). (p. 26-28).
Subsidiado pela concepção acima, o argumento central que o autor sustenta é que, a um só tempo, o espaço agrário das zonas de produção cafeeira constituiu-se tanto em instrumento de dominação senhorial como em estratégia para resistência escrava. No primeiro sentido os senhores escravistas pensaram e utilizaram a espacialidade como mecanismo de imposição e de facilitação da ordem. No segundo viés os espaços foram ressignificados pelos cativos, que fizeram usos alternativos diferentes daqueles para os quais foram projetados. É fundamental para o entendimento do argumento a concepção, explicitada desde a introdução do trabalho e frequentemente retomada pelo autor, de que os espaços não são estáticos nem neutros. Muito pelo contrário, ganham sentido e significado por meio dos usos que os seres humanos fazem deles. Dessa forma, a espacialidade é entendida como somatória dos diversos espaços e como campo de ação. No caso em questão das fazendas de produção cafeeira de Bananal, puderam servir tanto para dominar quanto para resistir, a depender das intencionalidades dos indivíduos que atuaram e que interagiram com os espaços (p.21-28).
Marco Aurélio dos Santos construiu seu objeto de pesquisa proposto – a utilização plural dos espaços agrários de Bananal – primordialmente por via de uma série de processos criminais que envolveram cativos, independentemente da forma como apareceram: réus, vítimas, informantes ou testemunhas. Foram utilizados 146 processos distribuídos de forma desigual pelas décadas contempladas, com prejuízo para o decênio 1850, com apenas 4 processos.[2] Embora tenha trabalhado com documentação criminal, os crimes propriamente ditos não foram o aspecto central objeto da atenção do autor. A leitura e análise das fontes focou a interação dos personagens com a espacialidade: “A criminalidade de escravos e homens livres terá interesse apenas circunstancial. Partindo do par de conceitos controle/resistência, realizou-se uma leitura das fontes documentais que priorizou a análise da ação dos sujeitos no espaço” (p. 24).
Geografia da Escravidão está organizado em 3 capítulos, muito bem demarcados e antecedidos por uma consistente introdução na qual o autor apresenta e discute seus pressupostos teóricos, suas fontes e metodologia, com as ressalvas feitas acima, seus objetivos e argumentos centrais e específicos. Finaliza a introdução um breve histórico da localidade de Bananal no período selecionado, justificando os recortes temporais e espaciais da pesquisa.
No primeiro capítulo Marco Aurélio dos Santos se dedica ao estudo da espacialidade pelo viés dos proprietários escravistas, a geografia senhorial. Toda a constituição da arquitetura das fazendas cafeiculturas fora pensada com o intuito de favorecer o controle, a ordem, a otimização da produção, a fiscalização e a redução da mobilidade dos cativos. O livro traz no capítulo imagens e fotografias que contribuem para a argumentação do autor. Via de regra, as fazendas eram projetadas em quadriláteros funcionais que objetivavam o controle sobre o interior do quadrado. Todos os edifícios (senzalas, casas de vivenda e espaços de armazenamento e beneficiamento da produção) ficavam dispostos em quadra. Os demais espaços que as fazendas continham também seguiam o mesmo propósito de controle e disciplina: a enfermaria sempre trancada e de acesso restrito, o portão da fazenda que delimitava o espaço de mobilidade dos escravizados, o sino que disciplinava o tempo, as roupas que caracterizavam a condição cativa, os investimentos dos senhores sobre o corpo dos escravos (ferros no pescoço, por exemplo) contribuíram para a composição da geografia senhorial. O autor argumenta ainda que nos espaços públicos fora das fazendas, a movimentação e o tempo dos escravos eram disciplinados pelos Códigos de Posturas Municipais. A mecânica do funcionamento de todo este aparato foi percebida nos processos criminais utilizados.
No segundo capítulo, Marco Aurélio dos Santos destaca a noção de vizinhança como espaço social paulatinamente construído e como ação social articulada em espaço mais amplo, para além das fazendas. Importante também a abordagem ampliada sobre as redes de relacionamentos constituídas pelos escravizados. Durante muito tempo vistas pela historiografia como sinônimo de solidariedade, Marco Aurélio dos Santos amplia o olhar sobre as redes de relacionamentos entre os escravos. A solidariedade poderia ser apenas uma das possibilidades. No entanto, não raramente, as redes congregavam elementos contraditórios e foram também potencialmente conflituosas. O autor cita eventos que ilustram as possibilidades de mobilidade dos escravos, algumas consentidas pelos senhores, outras não. Constituíam assim redes de relacionamentos com escravizados de outros plantéis, passavam por caminhos que cruzavam outras fazendas e se relacionavam com homens livres, alforriados, comerciantes e demais personagens do mundo agrário e urbano da localidade de Bananal no período analisado.
No último capítulo de Geografia da Escravidão, Marco Aurélio dos Santos lança mão de forma mais abundante da documentação para estudar a “geografia dos escravos”, composta de usos alternativos dos espaços de plantação e do tempo. São vários os casos relatados de escravos que se apropriaram de uma espacialidade aparentemente hostil para encontrar alternativas para suavizar, resistir e até mesmo questionar a condição servil. Bastante elucidativo é o caso do escravo Constantino, cativo de Braz Barboza da Silva. Constantino foi libertado pelo Fundo de Emancipação em 1883. Porém, o senhor omitiu-lhe a informação. O detalhe interessante é que Constantino tinha mobilidade consentida para fora dos limites da fazenda para realizar tarefas demandas por seu senhor. Em uma dessas andanças ficou sabendo da própria ao entrar em contato com um indivíduo livre. O caso exemplifica uma das formas de lidar com a espacialidade projetada para controle e disciplina. Nas palavras do autor “Malgrado o funcionamento rotineiro da mecânica do poder senhorial, foi possível perceber que os escravos construíram uma geografia própria a partir dos conhecimentos de suas movimentações autorizadas para além do espaço de plantação” (p.30). O capítulo ainda aborda as fugas do cativeiro, definindo-as como o momento mais emblemático dos usos alternativos dos espaços de plantação. Não obstante a eficácia da geografia senhorial por todos os seus aparatos disciplinares, o capítulo demonstra claramente que os recursos para controlar e disciplinar os cativos não foram suficientes para conter movimentações e usos alternativos pelos próprios cativos.
Talvez caibam duas ponderações sobre a forma como Marco Aurélio dos Santos apresenta as fontes selecionadas. A primeira, de ordem metodológica e a segunda, de estética. A documentação utilizada não é alvo de uma apreciação crítica, visto que o autor não discute seus limites e possibilidades. Algumas reflexões seriam pertinentes. Por exemplo: quais os contextos de produção da documentação? Os escravos falam por si mesmo ou têm representantes? Quem eles seriam e quais suas intencionalidades? Em que medida tomar a utilização da espacialidade por meio dos processos criminais é representativo do cenário que o autor buscou retratar? Trazer para o texto essas e outras questões, que muito provavelmente acometeram o autor em algum momento da pesquisa, não invalidariam de forma nenhuma os resultados do trabalho. Somente lançariam luz sobre os limites e as possibilidades que o historiador encontra na relação com o passado e com seu objeto de pesquisa, além de esclarecer os métodos empregados.
Outra ponderação importante diz respeito à organização do trabalho. A forma como Marco Aurélio dos Santos optou por estruturar a narrativa deixa os capítulos compartimentados, talvez excessivamente esquemáticos. As partes acabaram por ser tornar demasiadamente estanques. O primeiro capítulo trata da espacialidade do ponto de vista senhorial, ao passo que o terceiro o faz da perspectiva dos cativos. Caso o autor tivesse feito uma opção mais dialógica, o texto se tornaria mais fluído, dinâmico e, principalmente, mais condizente com a realidade dialética que se propôs abordar, visto que os embates entre a geografia senhorial e a geografia escrava se davam de forma imbricada e emaranhada, não em tempos e formas separadas. Por mais que tenha sido uma opção didática perfeitamente compreensível, a organização do livro torna os capítulos 1 e 3 completamente independentes um do outro.
Um último ponto que causa estranheza no texto de Marco Aurélio dos Santos é a ausência de uma discussão que tem sido bastante recorrente e profícua entre os pesquisadores da escravidão que tomam por base o trabalho de Dale Tomich.[3] Este autor considera que a escravidão e o tráfico atlântico do século XIX não foram meras continuidades dos séculos anteriores. Nos Oitocentos assumiram características diversas, constituindo na verdade uma Segunda Escravidão. O trabalho cativo teria se reconfigurado de modo ainda mais potente, em alinhamento com a nova fase de desenvolvimento da economia mundial, sob égide da hegemonia britânica. Algumas das características apontadas por Tomich nessa nova fase das relações escravistas guardam íntima relação com o objeto de pesquisa proposto em Geografia da Escravidão. Entre outros elementos, a dinâmica peculiar do século XIX foi trazida pela expansão de zonas produtoras de artigos tropicais que tinham elevada e crescente demanda nos países centrais da Europa e nos EUA: o café (com grande participação da produção brasileira), o algodão e o açúcar. Ao negligenciar estranhamente esta discussão, visto que o autor dialoga frequentemente com historiadores que levam em conta as formulações de Tomich [4], o livro deixa de incorporar e conectar seu objeto de pesquisa com dinâmicas mais amplas da política e das relações internacionais, exercício recente e profícuo entre os pesquisadores da escravidão.
No entanto, transcorridas as páginas de Geografia da Escravidão, fica a certeza de que o autor cumpriu muito bem a árdua tarefa de trazer novos e originais elementos para um dos mais ricos debates da historiografia brasileira.
Notas
1. Marco Aurélio dos Santos dialoga com vários trabalhos sobre a localidade. A título de exemplo da produção historiográfica que privilegiou o recorte espacial de Bananal, somente no âmbito da história demográfica dois importantes trabalhos que abordaram a localidade em diferentes momentos do desenvolvimento da lavoura cafeeira foram: MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava no Brasil (1801-1829). São Paulo: Fapesp, Annablume, 1999. MORENO, Breno Aparecido Servidone. Demografia e trabalho escravo nas propriedades rurais cafeeiras de Bananal, 1830-1860. Dissertação (Mestrado em História Social) FFLCH/USP, São Paulo, 2013.
2. Conforme mencionado, a série de processos criminais constitui a fonte principal da pesquisa. De forma episódica foram utilizados pelo autor outras fontes: 27 inventários post-mortem, Códigos de Postura da Câmara Municipal de Bananal (1865 e 1886), livro do Fundo para Emancipação de escravos, ofícios diversos, Livro de Casamento de escravos, periódicos, relatos de viajante etc.
3. Embora o autor cite entre suas referências bibliográficas um dos trabalhos de Tomich na versão em língua inglesa e mencione o conceito na página 19 da introdução, a discussão sobre a Segunda Escravidão está ausente do texto, bem como a referência a versão em português do livro do autor. TOMICH, Dale W. Pelo Prisma da Escravidão: Trabalho, Capital e Economia Mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
4. Por exemplo: BERBEL, M., MARQUESE, R. B. e PARRON, T. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. MARQUESE, R. B.; SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
Referências
BERBEL, M., MARQUESE, R. B. e PARRON, T. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. MARQUESE, R; B., SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
MORENO, Breno Aparecido Servidone. Demografia e trabalho escravo nas propriedades rurais cafeeiras de Bananal,1830-1860. Dissertação (Mestrado em História Social) – FFLCH/USP, São Paulo, 2013.
MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava no Brasil (1801-1829). São Paulo: Fapesp, Annablume, 1999.
TOMICH, Dale W. Pelo Prisma da Escravidão: Trabalho, Capital e Economia Mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
Fernando Antonio Alves da Costa – Doutor em História Econômica pelo PPGHE da FFLCH-USP. E-mail: [email protected]
SANTOS, Marco Aurélio dos. Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal, 1850-1888. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. Resenha de: COSTA, Fernando Antonio Alves da. A Resistência escrava revisitada: a espacialidade como elemento central. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 517-524, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola – séculos XVII-XIX – DEMETRIO et al (RIHGB)
DEMETRIO, Denise Vieira; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos; GUEDES, Roberto (orgs.). Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola – séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. Resenha de: TAVARES, Luiz Fabiano de Freitas. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 178 (474) p.343-349, maio/ago. 2017.
Segundo um de nossos mestres maiores, Sérgio Buarque de Holanda, uma das funções sociais do historiador consistiria em exorcizar os fantasmas do passado. Entre os espectros do nosso Brasil podemos contar a experiência histórica da escravidão, que ainda nos assombra, passados já cento e trinta anos da abolição. Objeto ainda de discussões sobre o presente e de polêmicos projetos para o futuro do país, o tema convida sempre o historiador a retomar e renovar a reflexão sobre esse fenômeno social que gostaríamos talvez de esquecer. Assim sendo, são sempre bem -vindos estudos como Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos, organizado por Denise Vieira Demetrio, Ítalo Domingos Santirocchi e Roberto Guedes.
Vale destacar, antes de tudo, a qualidade de composição da obra enquanto conjunto, uma vez que os capítulos se articulam com notável harmonia, complementando-se mutuamente de modo muito consistente – virtude importantíssima para qualquer obra coletiva. Não vemos no livro uma colcha de retalhos apressadamente costurada, mas um conjunto orgânico, dando-se a perceber como fruto de um diálogo amplo e continuado entre seus autores, ligados aos projetos Governos, resgates de cativos e escravidões (Brasil e Angola, séculos XVII e XVIII) e Testamentos e hierarquias em sociedades escravistas ibero-americanas (séculos XVI -XVIII), ambos coordenados pelo professor Roberto Guedes desde 2011.
O próprio título já é bastante feliz: a contraposição entre “escravizar gente” e “governar escravos” explicita as incontornáveis tensões e contradições vivenciadas em sociedades baseadas no trabalho escravo, exploradas de modo muito rico em suas múltiplas facetas ao longo dos capítulos do livro. Recorrendo à diversificada gama de fontes primárias, os autores perseguem com grande consistência empírica os rastros documentais tanto da gente escravizada quanto da gente que governava escravos – por sinal, gente que, às vezes, tanto foi escravizada quanto governou escravos, em diferentes momentos da vida, no que poderia parecer um paradoxo para nós do século XXI. Evitando compromissos fáceis com modismos acadêmicos ou causas sociais e políticas do presente, os autores analisam suas fontes sem ceder a interpretações de ordem teleológica acerca de problemas que ainda hoje nos acompanham, nem ao uso anacrônico do conceito de racismo, que, como salienta Guedes, em certas abordagens historiográficas recentes “se tornou tão largo que explica tudo, ou nada”2.
Recorrendo a testamentos, registros de batismo, recenseamentos, correspondências administrativas, periódicos e relatos de viagem, entre outros gêneros de documento, os autores nos apresentam um curioso elenco de personagens célebres ou nem tanto do mundo escravista dos dois lados do Atlântico, como Maria Correia de Sá, forra e senhora de escravos, Braz Leme, apresador de índios e pai de muitos mestiços, D. Paschoal, jaga de Cassange e (suposto) vassalo da coroa lusitana, D. Antônio Viçoso, “bispo ultramontano e antiescravista” ou ainda László Magyar, aventureiro húngaro nos sertões e costas angolanos, entre muitos outros.
Os capítulos alternam diversas escalas de análise, alguns centrados em trajetórias individuais, outros voltados à análise serial em escala regional, por vezes combinando métodos quantitativos e qualitativos de análise. A exemplo de outros grandes trabalhos em história atlântica, os estudos exploram de modo rico as dimensões partilhadas e imbricadas de experiências americanas e africanas. Sob esse aspecto, há que ressaltar a atenção concedida às práticas de escravidão vigentes em África, lançando nova luz sobre alguns aspectos da vivência da escravidão na América, apontando interseções e divergências entre as duas margens daquele “rio chamado Atlântico”. Também do ponto de vista cronológico há grande variedade de abordagens, enfatizando tanto processos de curta quanto de longa duração, de modo a desvelar as complexas e variadas temporalidades da escravidão atlântica entre os séculos XVII e XIX. O desdobramento dos capítulos permite refletir sobre continuidades e descontinuidades ao longo de todo esse período, apresentando a escravidão não como um bloco monolítico, mas como uma série de momentos distintos, um conjunto de experiências singulares, interligadas, mas não homogêneas, cada uma delas refletindo e refratando as dinâmicas mais amplas de uma América portuguesa, uma África não tão lusitana e um mundo atlântico em perpétuo movimento. Bom exemplo disso são as complicadas relações entre o jaga de Cassange e a coroa lusitana exploradas por Flávia Maria de Carvalho, que, embora vertidas no familiar idioma da vassalagem, revelam dimensões muito mais complexas, nem de parceria, nem de rivalidade, nem de dominação, nem de submissão – ou melhor, são um pouco de cada, à medida que se mostram diplomáticas, tanto quanto dialéticas: desdobram-se na duração, a partir dos encontros e desencontros de tensos cúmplices do trato negreiro3.
Uma característica digna de destaque é o apuro terminológico da obra, cujos autores se mostram atentos aos riscos de usar variados termos de modo anacrônico, reducionista ou reificado, salientando muitas vezes que essas noções não eram usadas de maneira linear ou uniforme em todos os contextos abordados, lembrando a polissemia de diversas palavras importantes no léxico da escravidão. Nesse sentido, são interessantes as anotações de Éva Sebestyén sobre as categorias de escravos que o idioma ovimbundu distinguia, como háfuka (escravo de penhor), em oposição ao pika ou dongo (escravo de compra), cujos respectivos estatutos jurídicos e perspectivas de vida no sobado de Bié eram bastante diferenciados, ou ainda sobre as distintas formas de fuga reconhecidas, como vatira, tombika ou kilombo. Seguem caminho semelhante as observações de Silvana Godoy acerca dos ambíguos significados de termos como alforria ou liberdade nos testamentos da São Paulo seiscentista. Da mesma forma, Guedes propõe interessantíssima discussão acerca do uso das “qualidades de cor” como negro, preto, mulato, pardo ou branco – qualificações que, muitas vezes, podiam ser aplicadas ao mesmo indivíduo em momentos, e principalmente, em circunstâncias distintas4.
Algumas problemáticas atravessam diversos capítulos da obra. Uma delas é a questão da heterogeneidade da classe senhorial; longe de constituir um grupo homogêneo e coeso, sua composição aponta para um caráter extremamente diversificado. Entre os senhores de escravos se encontravam desde os grandes pecuaristas e senhores de engenho aos pequenos agricultores e mesmo boa quantidade de egressos do cativeiro, alguns até nascidos em terras africanas; senhores que contavam seus escravos nos dedos de uma mão, e aqueles que os contavam às centenas. Ao que tudo indica, é provável que esses senhores com perfis tão variados mantivessem relações igualmente diversificadas com seus cativos. O estudo de Ana Paula Souza Rodrigues Machado investiga testamentos em busca de pistas sobre como diferentes senhores no recôncavo da Guanabara conduziam suas respectivas escravarias, enquanto o capítulo de Márcio de Souza Soares traça amplo panorama das peculiaridades da demografia da escravidão na região de Campos dos Goytacazes entre 1698 e 1830; Nielson Rosa Bezerra e Moisés Peixoto, por sua vez, estudam as trajetórias de duas senhoras egressas do cativeiro. Por fim, como ressalta Demetrio, a coisa podia se complicar ainda mais quando o senhor de escravos era também funcionário a serviço da Coroa5.
Outra rica problemática explorada pela obra é a questão da alforria em seus múltiplos aspectos. As situações de alforria estudadas pelos autores são interessantes não apenas enquanto testemunhos dessa prática, mas pela luz mais ampla que jogam sobre o próprio cotidiano da escravidão.
Em seu conjunto, os estudos enfatizam que em episódios específicos as modalidades jurídicas sob as quais a prática podia se dar contavam tanto quanto – ou até menos que – as motivações para sua realização, bem como os diferentíssimos significados com que os envolvidos em cada caso podiam investi-la. As detalhadíssimas instruções testamentárias deixadas por alguns senhores, alforriando certos escravos e deixando outros no cativeiro, legando aos libertos mais ou menos bens, exigindo ou impondo condições diferenciadas para cada remissão sugerem quanto de singularidade as relações entre um senhor e cada um de seus cativos podia comportar. O livro nos apresenta a alforria como fenômeno complexo, envolvendo dimensões de barganha e disciplina, cálculo econômico e gratidão, afeição e piedade cristã, entre outras possibilidades.
Desse modo, os autores exploram a alforria para além da prosa jurídica, abordando-a como um costume cujas implicações repercutiam em todas as esferas da sociedade escravista; longe de ser mero problema de razão econômica, atravessava os domínios da sexualidade e da religiosidade, do cotidiano doméstico e da governança pública, do nascimento e da morte.
Em seus variados registros documentais, os episódios de alforria permitem entrever a multiplicidade de vínculos entre senhores e escravos, livres, libertos e cativos, superando as simples relações dicotômicas entre opressores e oprimidos.
No desenrolar de seus capítulos, a obra também explora, com significativo rendimento analítico, as imbricações entre a escravidão e a religiosidade cristã; não poderia ser de outro modo numa sociedade profundamente católica e amplamente escravista. O cativeiro era, obviamente, objeto de controvérsias teológicas, mas essas interseções são igualmente visíveis enquanto problema moral, nas alforrias concedidas por amor de Deus ou por descargo da consciência, como discute Godoy. Também se refletia nas dimensões litúrgicas da vida, como o batismo, que tanto produzia parentesco espiritual como conformava o cotidiano de escravos, libertos e livres nas relações de compadrio, como Maria Lemke analisa cotejando registros de batismo. Também era tema de política eclesiástica, conforme exploram Ítalo Domingos Santirocchi e Manoel de Jesus Barros Martins em seu excelente capítulo sobre D. Antônio Viçoso, que propõe questionamentos importantes acerca das relações históricas entre a Igreja Católica e a escravidão no Brasil, convidando a repensar os significados do ultramontanismo no Império, bem como o conteúdo específico do conservadorismo professado pelo clero ultramontano, para além de estereótipos historiográficos consagrados6.
Por fim, vale mencionar os últimos capítulos do livro, centrados principalmente nas dinâmicas escravistas em solo africano, enfatizando principalmente as dimensões diplomáticas das relações estabelecidas entre autoridades lusitanas e poderes políticos africanos, como o estudo de Ariane Carvalho, devotado às dinâmicas guerreiras entretidas em terras angolanas, ou ainda o capítulo onde Ingrid Silva de Oliveira Leite explora
as sutis nuances dos escritos de Elias Alexandre da Silva Correa, militar português que servira em África no século XVIII7.
Evidentemente nenhum livro conseguiria exorcizar os fantasmas da escravidão em nossa formação nacional, mas Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos certamente traz valiosas contribuições para se pensar sobre o assunto a partir de um trabalho empírico denso e metodologicamente robusto, escorado em interlocuções historiográficas consistentes e questionamentos teóricos instigantes, a um só tempo olhando para o passado e dialogando com questões atuais de modo delicado, prudente e desapaixonado, com as melhores ferramentas que a crítica acadêmica pode oferecer.
1 – Luiz Fabiano de Freitas Tavares – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional. Autor dos livros Entre Genebra e a Guanabara – A discussão política huguenote sobre a França Antártica (Topbooks, 2011), Da Guanabara ao Sena – Relatos e cartas sobre a França Antártica nas Guerras de Religião (EdUFF, 2011) e A ilha e o tempo – Séculos e vidas de São Luís do Maranhão (Instituto Geia, 2012).
2 – Cf. GUEDES, Roberto. “Senhoras pretas forras, seus escravos negros, seus forros mulatos e parentes sem qualidades de cor: uma história de racismo ou de escravidão?”. In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Ítalo Domingos e GUEDES, Roberto (org.). Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola – séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017, pp. 31-33, 43-45.
3 – Cf. CARVALHO, Flávia Maria de. Uma saga no sertão africano: o jaga de Cassange e a diplomacia comercial portuguesa no final do século XVIII. In: DEMETRIO, Denise Vieira. SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 227-252.
4 – Cf. SEBESTYÉN, Éva. Escravização, escravidão e fugas na vida e obra do viajante explorador húngaro László Magyar (Angola, meados do século XIX); GODOY, Silvana. Alforrias de forros indígenas: pelo amor de Deus e por descargo da consciência (São Paulo, século XVII). In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 173-196, 291-312.
5 – Cf. MACHADO, Ana Paula Souza Rodrigues. Testemunhos da mente: elites e seus escravos em testamentos (Fundo da Baía do Rio de Janeiro, 1790-1830); SOARES, Márcio de Souza. Angolas e crioulos na planície açucareira dos Campos de Goytacazes (1698-1830); BEZERRA, Nielson Bezerra e PEIXOTO, Moisés. Gracia Maria da Conceição Magalhães e Rosa Maria da Silva: os testamentos como documentos autobiográficos de africanos na diáspora; DEMETRIO, Denise Vieira. Artur de Sá e Meneses: governador e senhor de escravos. Rio de Janeiro, século XVII. In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 51-108, 125-172.
6 – LEMKE, Maria. Nem só de tratos ilícitos se forma uma família no sertão dos Guayazes. Os Gomes de Oliveira diante da pia batismal, c. 1740-1840; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos e MARTINS, Manoel de Jesus Barros. “Quanto ao serviço dos escravos, eu os dispenso”: D. Antônio Ferreira Viçoso, bispo ultramontano e escravista (século XIX). In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. org.), op. cit., pp. 109-124, 197-224.
7 – CARVALHO, Ariane. “E carrega de cativos os vencedores”: guerra e escravização no reino de Angola (1749-1772); LEITE, Ingrid Silva de Oliveira. Tráfico e escravidão em Elias Alexandre da Silva Corrêa (Angola, século XVIII). In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 253-290.
Fé, Guerra e Escravidão: Uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898) | Patrícia Santos
Em sua obra, Patricia Teixeira Santos abre caminhos para uma abordagem comparativa da história do Sudão ao analisar as relações entre cristãos e muçulmanos na região que compreende as atuais regiões do Sudão e do Sudão do Sul, focando nos alcances que os contatos entre diferentes grupos – que serão discutidos mais adiante – possibilitaram ou dificultaram. Para tanto, utiliza como fontes cartas e relatos de missionários católicos durante o período em que foram prisioneiros do governo da Mahdiyya. Santos contribui, com seu trabalho sobre fins do século XIX, para as perspectivas de análise das atuais discrepâncias e conflitos da região, objeto de interesse deste trabalho.
Santos escolhe o período da Mahdiyya (compreendido entre 1881 e 1898) como recorte temporal, porque o vê como um complexo cruzamento de universos histórico-culturais e como um momento de articulação de diferentes realidades políticas. Como sugere o título de sua obra, os caminhos pelos quais a discussão do governo do mahdi perpassa, são: fé, guerra e escravidão, aspectos estes considerados importantes para analisar a história do Sudão e a relevância desses três temas para suas questões políticas atuais. A autora coloca o mahdismo no caso sudanês como um movimento messiânico social e político, centrado na construção de uma ordem política e social baseada no poder carismático do seu líder (o mahdi). É importante observar o período deste Estado mahdista como significativo devido à sua continuidade na constituição do Estado nacional sudanês, pela permanência de formas de governabilidade, de redefinição de identidades e de redistribuição de poder e prestígio.
A região que hoje pertence ao Sudão e ao Sudão do Sul possui inúmeras “camadas” em sua história, tornando-se de uma enorme complexidade. Portanto, entendemos que para melhor compreendê-la hoje, é preciso compreender também as diversas formas que assumiu e assume. Assim, dos processos de migração árabe para a região, que tiveram maior intensidade durante o século XIV, percebemos o início de uma intensa interação entre as culturas e religiões muçulmanas e as sociedades cristãs sudanesas (Ibrahim, 2010, pp. 77-98), que viriam a refletir imensamente nas questões políticas futuras. Já nas primeiras décadas do século XIX, guerras locais e instabilidade política deram abertura para a incursão de Muhammad Ali, então vice-rei do Egito, que objetivava anexar o Sudão aos seus territórios. Patricia Teixeira Santos sugere, em seu primeiro capítulo, que Muhammad Ali teria se aproximado – em diferentes aspectos, como religião, economia e formas de poder – da França e de outras potências europeias, na tentativa de atingir uma autonomia inédita do Egito em relação aos impérios europeus. (2013: 34). Para Eve Powell (apud Santos, 2013: 36), esse momento de dominação egípcia tentou rearranjar o Sudão e dar à região uma nova cara, vendo o Sudão como uma colônia dentro de um projeto mais amplo de ações imperiais tentadas pelo Egito, que seriam suprimidas mais adiante. Com isso, o Sudão sofreu o primeiro período daquilo que se aproxima de uma forma de dominação colonial, com a imposição de um governo “turco-egípcio forte e de autoridade soberana e incontestada, pelo direito de conquista”, chamado de Turkiyya, compreendido entre 1821 e o início da década de 1880 (Mamdani, 2009).
Segundo Ibrahim, a intervenção turca modificou a sociedade sudanesa tradicional, suscitando descontentamento, mas por si só não conseguiu reverter ou reorganizar suas estruturas. Para este autor, seria somente com o mahdi que os sudaneses poderiam se rebelar em massa, dando lugar a um Sudão independente, que logo enfrentaria o imperialismo britânico. Ainda segundo Ibrahim, no sul, ataques de captura de escravos, pilhagens e rapinas prosseguiram de qualquer forma, tornando o que era uma estrutura de domínio socioeconômico em “uma estrutura de domínio racial que deu lugar a uma ideologia de resistência racial entre os africanos do Sudão Meridional” (2010: 433-444).
A partir do exposto por Ibrahim, é possível voltar ao texto de Santos a fim de estabelecer algumas conexões e distanciamentos a respeito do período inicial da Mahdiyya no Sudão. A autora lembra a distinção através da categoria de raça durante o domínio dos povos sudaneses pelos egípcios (estes se referiam àqueles como abd, que significa escravo/negro, ou núbio), iniciando um processo de diferenciação que segregava, produzindo um discurso de superioridade em relação ao “outro” construído (2013: 39). As distinções raciais, segundo a autora, eram feitas com base na cor da pele, no comportamento sexual e nas atitudes religiosas. Esse processo de submissão, marcado pela diferenciação racial, criou também a submissão em relação ao trabalho, onde as populações não muçulmanas eram coagidas ao trabalho na lavoura de exportação, gerando nas populações e lideranças locais um forte sentimento de descontentamento e revolta, como apontou também Ibrahim.
É nesse contexto que se estabelece, em 1881, o mahdi no Sudão. Santos lembra a busca de alianças do mahdi com os povos não muçulmanos em torno de um inimigo comum, que seria o domínio otomano-egípcio. No mesmo sentido de Ibrahim, Santos afirma que a estruturação do movimento mahdista, capitaneado por Muhammad Ahmad, criou um espaço de interação entre os povos sudaneses, fazendo convergir diferentes conflitos que, acompanhado da fragilidade do domínio otomano-egípcio, resultou em ações integradoras entre as diferentes populações. Desta forma, percebe-se que os grupos étnicos [2] são fundamentais para os processos destacados. Os relatos dos missionários, assim como os dados etnográficos de Evans-Pritchard citados por Santos, que viam os “nativos” ora como “belicosos e não confiáveis”, ora como “atrevidos e guerreiros” (Santos: 77), apontam para a ideia que a autora lança no início do texto, a de que a empresa colonial não tinha certeza dos rumos para os quais seguia, assim como para a noção de que o domínio colonial não era inexorável [3]. Santos aponta para a importância dessas populações locais nos processos de resistência e de luta, como por exemplo o papel dos nuer nas reações contra as razias otomano-egípcias, a proximidade maior dos povos dinkas com os missionários católicos, as redes de solidariedade que se estabelecia entre esses últimos contra outros povos, entre outras (Santos: 82-99).
Santos relembra os estudos de D. H. Johnson para afirmar a necessidade de se redimensionar o papel dos líderes religiosos sudaneses, a fim de analisar como conseguiram possibilitar a inserção e sobrevivência dos grupos nas três principais experiências políticas, religiosas e econômicas de controle sobre as populações, quais sejam: o domínio otomano, a Mahdiyya e o condomínio anglo-egípcio (2013: 84). É interessante pensar esses diálogos como uma forma de fugir à ideia generalizante de fundamentalismo, dando espaço às especificidades da região [4]. Santos afirma que as identidades étnicas e as relações de poder e de ocupação da terra ganharam diversas significações diante dos processos de interação, acomodação, sujeição e dos enquadramentos que foram realizados para a sobrevivência em contextos de grande interferência política como os aqui elencados. Assim, a escravidão pode ser vista como um elemento de convergência entre esses povos, a exemplo disso, a união dos dinka e shilluk contra os baggara, traficantes de escravos nômades (Santos, 2013: 87-88).
Ainda nesse sentido, o que se observa hoje ao se estudar as estruturas políticas sudanesas pode ter como uma das primeiras manifestações, de acordo com a autora, as zeribas [5] , que estabeleceram ou reforçaram fronteiras entre diferentes povos do sul do Sudão, concorrendo amplamente com as missões cristãs, que buscavam agrupar os grupos étnicos, principalmente os dinka, em torno do projeto civilizatório católico, que acabou por se desfazer devido à maior adesão desses povos à Madiyya, pelo forte caráter de pregação que o mahdi conseguiu estabelecer entre os povos não muçulmanos (Santos, 2013: 88) [6].
As divergências entre grupos religiosos, analisadas por grande parte da historiografia acerca da história do Sudão, também são analisadas por Patrícia Teixeira Santos. Parte dos grupos nuer e nuba recusavam o islamismo, uma vez que os baggara eram muçulmanos. De tal maneira, inicia-se o processo de consolidação de uma oposição, reforçada pelo missionarismo em sua prática cotidiana e em seus relatos, que é a de “povos negros” versus “povos islamizados”, levada adiante pelo domínio colonial anglo-egípcio (período entre 1898 e a independência do Sudão, ocorrida no início de 1956) e estendida até os dias de hoje [7]. De acordo com Mamdani, os processos de violência no Sudão atual, a exemplo do genocídio desenrolado durante os conflitos, têm como ponto de origem esse legado colonial de divisão em “tribos”. Outro motivo apontado pela autora, no decorrer do último capítulo, para o reforço dessa oposição pautada em conceitos de raça é o fato de que, durante o condomínio anglo-egípcio, oficiais de origem otomana, egípcia e do norte do Sudão ganharam postos comerciais e de “repressão ao tráfico” na província de Cordofan, ao mesmo tempo em que apoiavam o comércio escravista, gerando um aparato que potencializava o comércio de escravos. Além disso, lembra a campanha de combate à escravidão realizada por militares e agentes consulares europeus, que culpabilizava a figura do traficante “árabe muçulmano” como responsável por todas as questões relacionadas ao tráfico e à dominação dos povos africanos, ignorando a aparição, nas fontes, de personagens europeus – representantes oficiais ou não-oficiais da administração colonial – ligados ao tráfico.
Patrícia Teixeira Santos reforça, em sua conclusão, que dentro do contexto de transformações pelo qual passou o Sudão no período da Mahdiyya, sufis e cristãos europeus católicos conseguiram encontrar seu lugar em meio às disputas e interseções entre religião e economia no sul do Sudão. Essas interações se criavam de forma bastante porosa, permitindo movimentações e buscas de diferentes possibilidades, principalmente na negociação com o domínio otomano-egípcio (2013: 297). De qualquer maneira, a autora considera importante analisar o período do mahdi como um momento que conseguiu congregar e estabelecer uma série de relações entre diferentes grupos, como traficantes, povos nômades, ordens sufis e grandes comerciantes do Sudão, levando à constituição de um Estado que produziu ele mesmo essas diferentes categorias de sujeitos, que influenciavam na dinâmica da sociedade sudanesa. Isso possibilitou a integração de diversos elementos da experiência religiosa na política, ou seja, na criação de um estado islâmico, que levou à produção de “novas concepções a respeito de fronteiras, do sagrado e da assimilação e reelaboração de experiências políticas e culturais europeias”. Essas questões apontam, de acordo com Santos, para a singularidade do mahdi e à longevidade desse Estado (2013: 299). Cabe ressaltar, a fim de conclusão, a importância que as discussões provocadas pelo estudo de Patrícia Teixeira Santos podem adquirir para além das análises dos conflitos sudaneses e sul sudaneses, podendo ser utilizado para novos trabalhos quem pensem vieses mais globais, que engendram discussões envolvendo tradição e modernidade, ou o fundamentalismo atual, por exemplo. Estes temas aparecem, vez ou outra, com maior intensidade, principalmente quando retratados a partir de perspectivas engessadas, construídas fora do eixo sul-mundo, tornando necessárias novas análises, para as quais Patrícia Santos nos serve de exemplo.
Notas
2. Santos se refere às populações de origem dinka, nuer, shilluk, niam niam, nuba e bari (2013: 77), cuja discussão não cabe na proposta deste trabalho. Para aprofundar os estudos sobre grupos étnicos, suas definições e a forma como se explicam suas fronteiras, ver Barth. BARTH, F. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000, pp. 25-67.
3. Para uma leitura sobre as intenções coloniais e suas políticas criadas nas colônias, ver COOPER, F. Repertorios imperiales y mitos del colonialismo moderno. In: Imperios: una nueva visión de la Historia universal. Barcelona, Crítica, 2011, pp. 391-446.
4. Mahmood Mamdani também se insere nessa discussão ao afirmar o erro das divisões coloniais, que categorizavam as populações sudanesas em grupos baseados na questão religiosa e de terra.
5. As zeribas eram fortificações utilizadas inicialmente para o estoque do marfim sudanês que seria levado para o Egito. Porém, com o aumento do tráfico de escravos, passaram a servir de local de pouso para os escravos, e com o rendimento desse negócio, os traficantes passaram a submeter as populações próximas aos impostos e ao trabalho nas zeribas (Santos, 2013: 87-88).
6. A autora destaca a relativa emergência das zeribas, as disputas regionais por mercado e poder e a deserção de soldados das tropas otomano-egípcias como fundamentais para uma maior adesão ao mahdi, que conseguiu criar uma nova forma de organização social, a fim de suplantar os laços entre otomanos, egípcios e outros povos do Sudão.
7. Com o acesso às fontes missionárias, no final do século XIX, destaca-se o uso de “categorias como “bárbaro”, “ansar”, “negro”, “árabe”, “branco”, criando novas e singulares enunciações que marcaram o processo genealógico do racismo que as práticas normatizadoras da administração anglo-egípcia incorporaram e reforçaram a fim de construir uma ordem, através da gestão de uma hierarquia de distinções raciais baseadas em pressupostos biológicos, religiosos e “civilizacionais” (Santos, 2013: 303). A Igreja, cumprindo seu papel como mediadora desses processos, cria, dentro do espaço da educação, a possibilidade de hierarquizar as diferentes populações do Sudão nas categorias supracitadas – às populações negras “não árabes” foram delegados os trabalhos manuais e agrícolas, e aos muçulmanos e cristãos do norte a integração na administração colonial, inserindo essa forma de controle na lógica do domínio colonial (Santos, 2013: passim). A partir disso, pode-se pensar como essas categorias, estáticas e em grande parte pautadas em definições racistas, são utilizadas até hoje, para definir e “entender” as diferentes formas de relações políticas e sociais no Sudão e no Sudão do Sul. Na obra citada anteriormente, Mamdani (2009: 06) cita o processo que chama de “racialização” realizado pela empresa colonial no Sudão, ao qual se pode responsabilizar o quadro da violência atual, que colocava a oposição entre “árabes de pele clara violentando negros africanos”, resultando na criação de oposições entre o que o autor chama de “identidades tribais”.
Referência
BARTH, F. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.
COOPER, F. Repertorios imperiales y mitos del colonialismo moderno. In: Imperios: una nueva visión de la Historia universal. Barcelona, Crítica, 2011.
IBRAHIM, H. Iniciativas e resistência africanas no nordeste da África. In: BOAHEN, A (org.). História Geral da África, vol. VII. São Paulo: Editora Ática, 2010.
MAMDANI, M. Saviours and Survivors: Darfur, Politics and the War on Terror. Cidade do Cabo: HSRC Press, 2009.
Suellen Carolyne Precinotto – Atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da UFPR. Graduanda na UFPR quando a resenha foi aceita.
SANTOS, Patrícia. Fé, Guerra e Escravidão: Uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898). São Paulo: Fap-Unifesp, 2013. Resenha de: PRECINOTTO, Suellen Carolyne. Cadernos de Clio. Curitiba, v.8, n.1, p.115-123, 2017. Acessar publicação original [DR]
Escravidão, Abolição e Pós-Abolição | Revista Historiar | 2017
“Art. 3.º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural ou agroindustrial, sob a dependência e subordinação deste e mediante salário ou remuneração de qualquer espécie”.
Projeto de Lei N. 6442/2016 de autoria do deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT)
Aproximando-se do marco de 130 anos da abolição da escravatura no Brasil, a se realizar em 2018, o tema que nunca deixou de figurar entre as principais problemáticas do universo acadêmico, volta à baila do modo mais cruel possível, o da permanência que se veste de trajes de retrocesso não só social, mas também político e institucional. A proposta de lei que busca reordenar as relações de trabalho no espaço rural, prevendo a possibilidade de remuneração em forma não salarial, abrindo espaço para converter fornecimento de alimentos e moradia enquanto contrapartida ao trabalho, assustadoramente remonta ao inglório tempo da escravatura no Brasil, o que nos leva à observação do quanto nosso pacto social ainda precisa ser fortalecido para que se atinja padrões mínimos de civilidade. Leia Mais
A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889) | Sandra Rita Molina
Ao longo das últimas três décadas, historiadores trataram o tema da escravidão com perspectivas que rediscutiram a atuação dos cativos dentro do regime escravista brasileiro, lançando luz sobre os diversos episódios em que a agência escrava se revelou crucial para entender o cotidiano, as formas de resistência e as vitórias (ou derrotas) desses personagens nos processos históricos do período colonial ou do Império do Brasil. Além do próprio ineditismo de tal abordagem, essa nova visão historiográfica desconstruiu a visão de que os escravos eram personagens sem vontade e totalmente submissos às vontades senhoriais.
Dentro dessa abordagem, autores como Maria Helena Machado, Sidney Chalhoub, Silvia Hunold Lara, Robert Slenes, Jaime Rodrigues, Beatriz Mamigonian, Keila Grinberg e Ricardo Salles, entre outros, descrevem como personagens subalternos atuavam em suas realidades, demonstrando um grande conhecimento de sua condição, abrindo a possibilidade de confrontá-la e, em muitos casos, reconstruí-la conforme suas vontades. Estamos falando de marinheiros, cativos urbanos, escravos de ganho, forros e famílias que ao longo de suas vidas construíram sua própria história. É dentro desse grupo de autores que Sandra Rita Molina se insere com uma obra baseada em extensa pesquisa.
Ao contrário dos outros autores citados, Sandra Rita Molina nos apresenta um mundo diferente e, até aqui, pouquíssimo analisado pela historiografia brasileira, que é a realidade dos escravos das ordens regulares, mais especificamente, dos escravos pertencentes aos Carmelitas Calçados. Esse novo mundo é explorado através das “relações desenvolvidas entre os frades e seus escravos em meio a um contexto de repressão legislativa empreendida pelo Estado Imperial” (p. 22). Dessa forma, a autora apresenta ao longo de seu trabalho uma tentativa de aproximação dos debates historiográficos sobre o abolicionismo e o debate em torno das relações entre Estado e Igreja, examinando qual é o lugar do clero regular dentro da esfera política e quais foram as alianças realizadas nesse processo.
Como não poderia deixar de ser, além do forte diálogo com a historiografia em torno da condição escrava e do abolicionismo, Molina apresenta grande contribuição para o debate em torno da questão da Igreja no Brasil ao contradizer a visão de que a Igreja era um espaço homogêneo e sem rupturas, uma instituição pura e injustiçada pelos desmandos do poder temporal. Molina também apresenta uma leitura alternativa às interpretações historiográficas do CEHILA (Centro de Estudos da História da Igreja na América Latina) e até mesmo com de pesquisas acadêmicas recentes. Ao contrário da maioria dos estudos disponíveis, a autora reconstitui o mundo das ordens regulares focando não apenas na perseguição da igreja pelo Estado e a consequente submissão eclesiástica aos decretos imperiais, mas sim nas relações, barganhas e atitudes cotidianas dos frades da Ordem com as diversas instâncias do Império, da própria Igreja e com a comunidade leiga.
Molina apresenta seu argumento em quatro capítulos bem estruturados e que impressionam pelo minucioso trabalho de pesquisa. O primeiro capítulo (“O mundo entre os muros do convento”) nos apresenta um importante panorama da vida dentro do claustro e da vivência com a sociedade que orbitava em torno desses prédios. O panorama permite que o leitor apreenda as estratégias religiosas para construir resistência às pressões externas, manter privilégios e governar a ordem como um todo. A relação das ordens regulares com o Estado Imperial sobressai no capítulo. Molina faz todo um percurso expositivo para que o leitor entenda a situação dessas ordens no século 19, apontando as diversas medidas que a Coroa tomou para a supressão das instituições religiosas, com um interesse especial para as que detinham grandes patrimônios, como o caso dos próprios Carmelitas Calçados e dos Beneditinos. Apesar da perseguição, são notórias as estratégias das ordens para fugir à investida, utilizando algumas vezes a própria estrutura e o discurso do Estado Imperial a seu favor (p. 88).
O capítulo 2 (“Uma Gomorra na Corte. Como o Estado imperial deveria agir com o clero regular?”) apresenta o outro lado da história, a perspectiva do Império no processo de supressão das ordens. Ao longo desse capítulo, o leitor se depara constantemente com as diversas revisões da legislação e das decisões políticas do Estado para conseguir seu objetivo máximo, que é a tomada do patrimônio das ordens regulares. As estratégias são as mais variadas. Incluem denúncias de desmoralização do clero, visto que para o Governo Imperial “a decadência e a ineficiência testemunharam que as Ordens traíram um pacto tradicional entre o Estado e estas Corporações, que previa atuação de benevolência e educação religiosa da população” (p. 120); e até medidas de controle dos bens dessas instituições, através de listagens, censos e regras para a celebração de contratos sobre esses bens. O capítulo também permite que o leitor tenha visão ampla sobre os bens eclesiásticos. Além dos imóveis conventuais e dos imóveis dentro dos centros urbanos, os maiores bens carmelitas eram as fazendas e os escravos sob sua tutela. Para protegê-los, garantindo que o Império não os incorporassem, os religiosos empregavam estratagemas como a realização de contratos de arrendamento das propriedades rurais e dos respectivos escravos.
O capítulo 3 (“Honestas estratégias: o Carmo reorganizando seu patrimônio em função da sua sobrevivência”) nos faz mergulhar ainda mais nas ações dos religiosos para conseguir a manutenção dos bens da ordem, seus privilégios e, consequentemente, a sobrevivência de um modo de viver. Nesse capítulo, aparece um elemento crucial na resistência dos religiosos às investidas do Estado imperial: a comunidade leiga. Desde o período colonial, as ordens religiosas gozaram de grande prestígio frente à comunidade leiga, não sendo incomum o fato de Câmaras Municipais solicitarem a instalação de conventos de franciscanos, carmelitas ou beneditinos em suas respectivas cidades. O cenário não muda ao longo do 19. Mesmo perante todos os problemas relacionados às medidas restritivas do Império e, em alguns setores, as constantes críticas à moralidade do clero regular, a cumplicidade entre leigos e clérigos é ferramenta poderosa para os frades. As relações, porém, eram de via dupla. No jogo de apoio recíproco, proprietários leigos acabavam recebendo o benefício de celebrar contratos com as ordens e usufruir das propriedades ou dos cativos da Santa.
O capítulo 4 (“Frades feitores e os escravos da Santa”) centra a sua discussão na relação dos frades com os cativos. Os momentos de convivência pacífica entre uns e outros eram frutos de várias concessões aos cativos por meio de práticas cotidianas que chegavam a ignorar os ordenamentos do Capítulo Provincial (p. 265). Um exemplo notável do espaço de autonomia concedido aos escravos é o caso de fazendas como a de Capão Alto em Castro no Paraná. Referências apontam que “essa fazenda ficou mais de setenta anos sob a administração direta e livre dos escravos” (p. 272/273). Obviamente, a autonomia se dava após “longos períodos de construção de cumplicidade em um mesmo espaço” (p. 266).
A autonomia dos cativos podia ser afetada com arrendamentos, cada vez mais comuns, devido a contexto de repressão à Ordem somada à carência de braços na lavoura depois do fim do tráfico negreiro transatlântico. Nesse contexto, a autora traz outra importante contribuição para a historiografia acerca da escravidão, especificamente ao pensarmos nas estratégias empreendidas pelos cativos para conseguirem fazer valer seus interesses. Alguns autores, como Lucilene Reginaldo e Antônia Aparecida Quintão, que tratam sobre a religiosidade negra e abordam em suas obras a questão da relação com os santos patronos das irmandades religiosas, apontam que eram comuns os irmãos dessas associações criarem uma aproximação ao nível de parentesco com o patrono. No caso dos escravos da Santa, essa lógica reaparece, mas transformada devido aos interesses dos cativos. Dentro de suas experiências, “incorporaram a ideia de que os frades eram apenas uma espécie de feitores e de qualquer decisão afetando seu cotidiano, deveria partir diretamente de sua senhora, que, no caso, era uma Santa” (p. 277), conseguindo dessa forma um forte argumento frente à opinião pública para conseguir seus objetivos. Do outro lado desse jogo, os frades detinham interesse em manter uma relação amistosa com seus cativos, pois essa era uma forma consistente de fruir seus privilégios tanto dentro como fora dos conventos. “Este processo colocou em muitos momentos escravos e senhores do mesmo lado, procurando impedir o fim do mundo que conheciam”, observa Molina nas considerações finais de seu trabalho.
A morte da tradição traz elementos complexos que contribuem para as diversas correntes da historiografia brasileira sobre a escravidão e igreja no Império do Brasil. O livro não apenas se soma à narrativa da história social que entende os escravos como personagens cujas lutas são peça-chave no quebra-cabeça que é o escravismo no Brasil. Explorando tópicos como autonomia escrava, estratégias clericais para manutenção de privilégios e ramificações das relações sociais de ambos os grupos, A morte da tradição ilumina o mundo clerical de uma maneira que as macro-análises da relação Estado-Igreja não conseguem capturar.
Rafael José Barbi – Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Guarulhos – SP, Brasil. E-mail: [email protected]
MOLINA, Sandra Rita. A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí/SP: Paco Editorial, 2016. Resenha de: BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 366-370, jan./abr., 2017.
Acessar publicação original [DR]
O solo da liberdade: as trajetórias da preta Faustina e do pardo Anacleto pela fronteira rio-grandense em tempos do processo abolicionista uruguaio (1842-1862) – CARATI (HU)
CARATTI, J.M.. O solo da liberdade: as trajetórias da preta Faustina e do pardo Anacleto pela fronteira rio-grandense em tempos do processo abolicionista uruguaio (1842-1862). São Leopoldo: Oikos/Editora Unisinos, 2013. 454 p. Resenha de: VOGT, Debora Regina. Os limites da fronteira na posse dos cativos após o fim da escravidão no Uruguai. História Unisinos n.20 n.3 – setembro/dezembro de 2016.
A história do cotidiano, das disputas internas que muitas vezes não estão claras nos documentos, durante muito tempo passou alheia à historiografia. Interessava-nos a história global, das estruturas do sistema e do movimento maior que a tudo envolvia. O fenômeno da micro-história demonstra a mudança de visão sobre o passado. Nesse sentido, não é mais somente a grande estrutura que nos interessa, mas os indivíduos que fazem parte do jogo e que sentido eles deram para os contextos em que viveram. O Menocchio2, de Carlos Ginzburg, tornou-se inspiração para muitos personagens que desvendam uma faceta historiográfica que há algum tempo era desconhecida.
No entanto, é preciso salientar que o acesso a esses “homens e mulheres comuns” em geral não ocorre por suas falas autorais. Nós os encontramos nos documentos da justiça, no julgamento da Inquisição – caso de Menocchio – ou em outras fontes em que suas falas aparecem como testemunhos. Isso não invalida essa narrativa, mas demonstra a busca por esses sujeitos, que, por não representarem a elite letrada, muitas vezes estiveram distantes da historiografia.
Essas histórias são excepcionais ao mesmo tempo em que são normais, ou seja, ao mesmo tempo em que têm seus dramas particulares, também são coletivas, já que compartilham experiências com inúmeros indivíduos contemporâneos. No caso da pesquisa em questão, os indivíduos compartilharam a vida fronteiriça, sofrendo os impactos das relações do império com o Prata, especialmente o Uruguai.
Tais fenômenos estiveram presentes também na historiografia sobre a escravidão, e o livro de Jônatas Caratti se insere nessa linha. Assim, autores como Azevedo (2006), Grinberg (2006) e Pena (2006) são exemplos na visão do escravo como personagem, que tem desejos, voz e luta também por sua liberdade. Esses trabalhos analisam, por exemplo, a atuação de advogados abolicionistas nos pleitos através das ações de liberdade, de manutenção da liberdade e da reescravização.
Nesse contexto, são analisadas as disputas, acomodações e transformações da vida escrava e suas diversas formas de luta pela liberdade. Da mesma forma como Menocchio, os personagens em geral nos falam indiretamente através das fontes – a fala dos escravos é terceirizada –, mas nem por isso são perdidas, já que são capazes de demonstrar as lutas cotidianas e as possibilidades de liberdade no mundo atlântico.
Além dos mencionados, Paulo Moreira (2003, 2007), João José Reis (Reis e Silva, 1989), Márcio Soares (2009) e Hebe Matos (1995) são outros historiadores que problematizam o papel do escravo, as disputas envolvidas nas leis abolicionistas e as noções de propriedade e direito.
Entre a visão de concessão e conquista escrava é de se destacar o papel da alforria como veículo de disputas entre os senhores “homens de bem” e os escravos. Essa luta pela liberdade, representada pela busca da alforria, é a inspiração do livro e resume o objetivo do livro, sendo o país fronteiriço “o solo da liberdade”. Os dois personagens do livro escrito por Jônatas Caratti, embora crianças ainda são representativos dessa conjuntura que, dentro do sistema preestabelecido, busca os espaços possíveis de negociação, conciliação e até luta jurídica.
Desta forma, Jônatas Marques Caratti, em sua dissertação de mestrado, transformada em livro – O solo da liberdade – percorre o caminho da micro-história, procurando apresentar as relações, disputas e esperanças de liberdade na sociedade escravista brasileira. Seu ponto de partida são as leis abolicionistas uruguaias e seu impacto na região de fronteira no Rio Grande do Sul. No território de fronteira, senhores e escravos negociam e tomam parte do jogo de relações e acordos em busca de seus objetivos.
O historiador elege dois personagens, representativos em suas fontes, e, através deles, procura mostrar o contexto social e a luta pela liberdade dos negros escravizados. Faustina e Anacleto são duas crianças que desde cedo conhecem a escravidão e, embora talvez não soubessem, são também reflexos dessa sociedade que, escravocrata, convive de forma muito próxima com o vizinho Uruguai, que havia colocado fim à escravidão, transformando a região pós-fronteira no “solo da liberdade”. É importante destacar que as trajetórias tornaram-se excepcionais pela quantidade de fontes documentais encontradas, o que permitiu que se produzisse uma narrativa verossímil e plausível para os sujeitos; já quanto a outros, não revelados pela documentação, jamais teremos conhecimento de sua existência. De acordo com Jônatas, os dois processos lhe chamaram inicialmente atenção pela quantidade de anexos e por tratarem de questões mais amplas que somente o tráfico de escravos na fronteira, demonstrando a vida social que se estabelecia dentro dessa dinâmica.
É importante destacar que a reflexão sobre crianças escravas é, de certo modo, ainda recente na historiografia. A própria ausência de fontes e o descaso com que eram tratadas, muitas vezes, fazem com que a pesquisa e análise de suas condições sejam ainda incipientes. Além disso, a mortalidade infantil era alta, fazendo com que muitos não chegassem à vida adulta3. Desta forma, a própria possibilidade de refletir sobre a situação de duas crianças escravas torna o trabalho instigante e aberto a novas reflexões.
O livro une pesquisa séria de um historiador que escreve com rigor e ética com a vida pessoal de alguém que também vive na fronteira, já que, hoje, Jônatas é professor na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
No final do livro há um diário de bordo, escrito de forma pessoal, com o relato de suas caminhadas pela região sul do estado e os encontros com sua pesquisa, as esperanças e os desafios de um historiador. Por meio de uma narrativa cativante, Jônatas permite ao leitor caminhar com ele, perceber suas escolhas, as limitações apresentadas pelas próprias fontes e as descobertas no caminho rico e intrigante que é a pesquisa histórica.
Os personagens escolhidos pelo pesquisador são exemplos de situações que ocorriam de forma expressiva no período analisado. A escravização de sujeitos que podiam ser considerados livres foi comum nesse período. Sendo assim, a importância de Anacleto e Faustina não se restringe à situação em que viveram, mas mostra o contexto social da época e propicia perceber as lutas pela liberdade e as formas como os acordos e arranjos ocorriam.
Esse horizonte, de certa forma ainda novo na historiografia, dá vida e complexidade a sujeitos que em nossos documentos se restringiam a números de escravizados. No texto de Jônatas, eles estabelecem relações, sonham com a liberdade, juntam dinheiro para consegui-la, fazem acordos, são complexos e demonstram as formas como os indivíduos reagiram a situações em que eram colocados.
Uns dos principais documentos analisados por Jônatas, assim como outros historiadores, são os judiciais, são eles que mais fornecem informações ao pesquisador. Ali é possível perceber a visão não só dos personagens principais, mas quem presenciou o ocorrido e também os réus, que apresentavam sua própria defesa. Ou seja, demonstram a complexidade das relações dentro da sociedade escravista e quais os caminhos encontrados pelos que faziam parte desse contexto. Cada argumento é analisado pelo pesquisador, demonstrando a riqueza de detalhes da narrativa e aproximando-nos da visão desses sujeitos do passado. Documentos como esses, por sua vez, abundam nos arquivos, como afirma Paulo Roberto Moreira – orientador e autor da apresentação do livro – faltava, contudo, alguém que com atenção de debruçasse sobre essa documentação com questionamentos plausíveis e tecesse a narrativa historiográfica.
O livro, por sua temática e também pela metodologia do pesquisador, caminha em várias frentes, que vão do micro ao macro, abrindo várias formas de reflexão e interpretação. No texto, transparece tanto o contexto nacional como a realidade regional, com suas particularidades, transpassada pela fronteira. Além disso, aspectos políticos, econômicos e sociais são explorados, demonstrando a dinâmica das relações, no aspecto particular e global. Seus personagens foram escolhidos entre dezenas de outros, e, por meio deles, observamos a sociedade do oitocentos: foram eles as lentes escolhidas pelo autor em sua narrativa.
Faustina nasceu livre em Cerro Largo, no ano de 1843, filha da preta, descrita como “gorda e velha” da Costa da África, Joaquina Maria, que era de Jaguarão. Sua mãe havia fugido através da fronteira para o Uruguai e lá viveu como livre até o encontro com os que raptaram sua filha. No outro país, Joaquina Maria encontrou um companheiro, Joaquim Antônio, sendo Faustina fruto dessa união. A menina foi arrancada de seus pais em uma noite de 1852 por um homem chamado Manoel Noronha, que se descreveu nos depoimentos como “capitão do mato”, lavrador, Capitão da Guarda Nacional e agarrador de negros fugidos. Quando preso, ele apresentou ao júri uma lista com 266 cativos fugitivos que pretendia perseguir e devolver aos respectivos senhores, em troca de recompensa.
Anacleto, por sua vez, nasceu em Encruzilhada do Sul como propriedade de Antônio de Souza Escouto, até que este o enviou para trabalhar em sua fazenda em Tupambahé, Uruguai, por volta de 1858. É importante lembrar, no entanto, que por lá a abolição já havia ocorrido, ou seja, do outro lado Anacleto era um homem livre. O menino teria ido ao Uruguai com 7 anos, idade considerada como fim da infância e início da vida de trabalho, já que se vivessem até essa idade, as crianças escravas demonstravam sobreviver ao elevado índice de mortalidade infantil. No Uruguai, Anacleto foi carregado por dois homens e trazido de volta ao Brasil; em 1860, foi vendido como escravo.
A história de Jônatas tem enredo, personagens e acontecimentos. Seu relato nos envolve e nos aproxima dos personagens, fazendo-nos torcer pelo sucesso de suas empreitadas e a conquista da liberdade. Isso não significa que a narrativa seja simplificadora; pelo contrário, ela é complexa e demonstra o rigor da pesquisa com documentação produzida pelo autor.
Faustina e Anacleto foram levados como cativos a Jaguarão, local estratégico na fronteira do Império e ali foram vendidos como escravos. O capitão do mato Noronha legalizou a posse de Faustina, comprando-a da senhora de sua mãe. Noronha revendeu-a em Pelotas com lucro considerável, o qual posteriormente a vendeu ao Capitão José da Silva Pinheiro. O historiador demonstra, por meio de suas fontes, que a crença de que a sociedade era composta por grandes senhores de escravos em muitos casos não se sustenta. Assim, boa parte dos compradores tinham poucos escravos que eram, por vezes, dados como heranças a herdeiros, fazendo parte do patrimônio da família. No entanto, mesmo numa sociedade tão desigual para esses sujeitos, conseguimos perceber as possibilidades de ação e a luta constante pelo sonho da liberdade.
Anacleto transformou-se em Gregório e foi vendido a Francisca Gomes Porciúncula, que o adquiriu na ausência do marido, o português Manoel da Costa. “Dona Chiquinha” e “seu Maneca” foram cúmplices desse sequestro, comprando Anacleto mesmo sabendo que ele era roubado. “Seu Maneca” era funileiro e viajava pelos centros urbanos provinciais alugando seus serviços; assim, quando foi a Rio Grande, repassou Gregório ao negociante de escravos José Maria Maciel, que o vendeu para o charqueador Miguel Mathias Velho. Uma mistura de sorte com coincidência fez Anacleto visto por um tropeiro o reconheceu como filho de Marcela e escravo furtado de Escouto.
Após essas desventuras encontramos as autoridades públicas, o uso da lei, a procura pelos criminosos, suas justificativas e a forma como a sociedade escravocrata se organizava. Os que são chamados a depor apresentam suas escrituras de compra e venda e, na ausência delas, passa-se a suspeitar de crime de compra ou venda ilegal de cativos. Através do método comparativo usado por Jônatas, percebemos e reconhecemos as proximidades e diferenças entre os personagens escolhidos pelo pesquisador.
A trajetória de Faustina ocorreu no contexto do Tratado de Extradição de Criminosos e Devolução de Escravos, assinado em 1851 entre o Império Brasileiro e a República Oriental; por isso, contou com o apoio dos chefes políticos e de autoridades uruguaias. Como ela nasceu em Cerro Largo, o Estado a defendeu como um caso de soberania e resistência ao imperialismo brasileiro.
Seus sequestradores, no entanto, foram absolvidos, marca de uma sociedade que ainda não questionava a escravidão. Contudo, ela voltou para seus pais, diferentemente do que ocorreu com Anacleto. Os dois processos são semelhantes e demonstravam, segundo o professor, a possibilidade de uma análise de comparação. A própria sentença que os réus receberam era a mesma, baseada no art. 179 do Código Criminal de 1830: “reduzir pessoa livre à escravidão”. Os réus responderam pelo mesmo crime e as vítimas eram crianças entre 10 e 12 anos. Esses são dois movimentos que aproximam o leitor da sociedade escravocrata sul rio-grandense em suas relações com o Uruguai. No entanto, há diferenças entre os dois casos, e isso, de acordo com Jônatas (Caratti, 2013, p. 57), o instigou a estabelecer a narrativa de forma comparada. Relacionar as experiências foi um caminho frutífero e promissor para a história social não só para a região da fronteira, mas também para a compreensão do Brasil nesse momento.
Anacleto nasceu no Brasil, de ventre escravo, e trabalhou no Uruguai como cativo, mesmo após a abolição da escravidão nesse país. Nesse caso, o promotor do caso, Sebastião Rodrigues Barcell, usou a ideia de “solo livre”, ou seja, vivendo em Estado onde havia sido abolida a escravidão, Anacleto seria considerado livre. Contudo, não sabemos exatamente por que – e aqui está o ponto em que a própria documentação limita o pesquisador – ele aparece no inventário de seu senhor Escouto, em 1865, então com 15 anos de idade. Possivelmente parecesse radical aplicar a lei, já que havia dezenas de fazendeiros que estariam nessa situação, além do potencial subversivo dentro da escravaria local.
Tendo como base os dados que encontrou nos arquivos, o autor recria contextos, compõe cenários e imagina cenários plausíveis diante do que suas fontes demonstram sobre seus personagens. Todos eles, é importante salientar, produzidos com base em intensa pesquisa na documentação, cruzamento de fontes e de leituras realizadas pelo historiador. Não à toa, Jônatas compara seu texto a uma peça de teatro e nos agradecimentos refere-se a si mesmo como diretor: “[…] Qualquer tropeço do diretor, e o fracasso ou sucesso de sua peça, é de sua inteira responsabilidade […]” (Caratti, 2013, p. 12). Sua narrativa e análise é um múltiplo labirinto que se abre e se transforma, demonstrando as multifacetadas vivências dos indivíduos que fazem parte de sua peça.
São várias as metodologias utilizadas por Jônatas em seu texto, já que ele trabalha com fontes diversas.
Assim, encontramos reflexões sobre as alforrias, sobre o mundo do trabalho escravo – com dados de compra e venda e leitura de pesquisadores da área –, escolha dos padrinhos, tráfico de escravos e comércio de cativos.
A narrativa do professor é instigante por colocar um elemento que, muitas vezes, está ausente na historiografia: a imprevisibilidade. Ao mesmo tempo que Anacleto e Faustina tinham seus próprios objetivos, suas vidas se entrecruzam com a visão de outros, que relacionavam-se entre si e por vezes determinaram seu futuro. O indivíduo e a sociedade, representada pela vontade de vários, são também reflexões possíveis da trama apresentada pelo professor. Segundo o próprio historiador, sua metodologia, inspirada na micro-história, trata de questões “inesperadas” e também as analisa de forma “experimental”; além disso, seu objetivo é explorar as fontes e os dados encontrados, mesmo quando poucos (Caratti, 2013, p. 55).
Se a narrativa por vezes esfria os conflitos que eram inerentes ao momento em que foram narrados, podemos afirmar que na narrativa de Jônatas por vezes afloram paixões, já que ele nos aproxima, como poucos, dos personagens por ele tratados. Assim, quando Joaquina Maria foi levada para depor, estava em “estado de alienação” e “chamava por sua filha”. Faustina estava no rancho de seus pais, escondida em um barril, quando dois homens a levaram. Mesmo que a mãe afirmasse que juntava dinheiro para a compra de sua liberdade, os homens, num cálculo frio, raciocinaram que a menina daria mais lucro e suportaria mais a viagem que a mãe e resolveram levar a garota. O que sentia essa mãe? Como isso a alterou emocionalmente ao ponto de não conseguir depor? A aflição dessa mulher demonstra não só a rede de relações entre senhores e escravos, as tentativas de fuga, mas também a sensação de completa instabilidade vivida pelos cativos nesse contexto.
De um lado, os donos de escravos, que viam como fundamental a utilização de mão de obra escrava em suas estâncias no lado uruguaio. De outro, o medo de que os escravos usassem a lei a seu favor e garantissem sua própria liberdade. A descrição das trajetórias de Anacleto e Faustina procura elucidar essas questões, que são o eixo principal da pesquisa do historiador.
Essa reflexão sobre os personagens, seus anseios e desejos faz com que o trabalho de Jônatas se insira na historiografia recente sobre escravidão, que não os trata como “coisas” ou como engrenagens de uma estrutura. Eles têm nomes, desejos, sonhos e lutam pela liberdade diante das possibilidades apresentadas.
Anacleto e Faustina não foram vítimas de um crime comum, mas estiveram envolvidos em conflitos sobre posse de escravos, fronteira e limites do Estado. Passaram por Melo, Jaguarão, Pelotas, Encruzilhada, Tupambahé e Rio Grande. Assim, o limite da pesquisa de Jônatas não é local, mas temporal, procurando perceber as diversas interfaces que permeiam a vida dos protagonistas de suas tramas. No decorrer do livro, o autor nos leva a cada um desses lugares, com dados levantados dos arquivos e bibliografia especializada, apresentando um quadro social amplo da sociedade sul-rio-grandense. A mobilidade é uma constante em sua obra: “[…] Tropeiros tocando o gado pela fronteira, escravos fugindo estrategicamente em embarcações, juízes e delegados retirados e colocados em vilas, como se fossem peças de um jogo de xadrez: tudo indica que essa gente não vivia na monotonia” (Caratti, 2013, p. 64).
Tal como em uma peça teatral, acompanhamos os personagens na narrativa de Jônatas, envolvemo-nos com suas trajetórias e percebemos suas vidas como mostras de um tecido social. O historiador, desta forma, nos abre outras cortinas: da complexidade do social e da dinâmica das relações que se dão entre o micro e macro. Um livro instigante, que poderia ser filme e que mostra que é possível unir boa narrativa com rigor acadêmico.
Referências
AZEVEDO, E. 2006. Para além dos tribunais: advogados e escravos no movimento abolicionista em São Paulo. In: S.H. LARA; J.M.N. MENDONÇA (org.), Direitos e justiça no Brasil: ensaios de história social. Campinas, Editora Unicamp, Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, p. 93-157.
GINZBURG, C. 1987. O queijo e os vermes. São Paulo, Companhia das Letras, 256 p.
GOÉS, J.R.; FLORENTINO, M. 2002. Crianças escravas, crianças dos escravos. In: M. DEL PRIORE (org.), História das crianças no Brasil. São Paulo, Contexto, p. 177-191.
GRINBERG, K. 2006. Reescravidão, direitos e justiça no Brasil do século XIX. In: S.H. LARA; J.M.N. MENDONÇA (org.), Direitos e justiça no Brasil: ensaios de história social. Campinas, Editora Unicamp, Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, p. 4-13.
MATTOS, H. 1995. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista: Brasil, século XIX. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 384 p.
MOREIRA, P.R.S. 2003. Os cativos e os homens de bem: experiências negras no espaço urbano: Porto Alegre 1858-1888. Porto Alegre, EST, 358 p.
MOREIRA, P.R.S. 2007. Introdução. In: P.R.S. MOREIRA; T. TASSONI, Que com seu trabalho nos sustenta: as cartas de alforria de Porto Alegre (1748-1888). Porto Alegre, EST, p. 7-15.
PENA, E.S. 2006. Burlar a lei e revolta escrava no tráfico interno no Brasil meridional, século XIX. In: S.H. LARA; J.M.N. MENDONÇA (org.), Direito e justiça no Brasil: ensaios de história social.
Campinas, Editora Unicamp, Centro de Pesquisa de História Cultural, p. 161-197.
REIS, J.J.; SILVA, E. 1989. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo, Companhia das Letras, 152 p.
SOARES, M. 2009. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c. 1750-c. 1830. Rio de Janeiro, Apicuri, 265 p.
Notas
2 Domenico Scandella ficou conhecido como Menocchio graças a Carlo Ginzburg, que procurou compreender o mundo do moleiro através dos arquivos da Inquisição. Seus ensinamentos renderam-lhe a qualificação de herege, sendo morto e torturado na fogueira (Ginzburg, 1987).
3 “Poucas crianças chegavam a ser adultos, sobretudo quando do incremento dos desembarques de africanos nos portos cariocas […] no intervalo entre o falecimento dos proprietários e a conclusão da partilha entre os herdeiros, os escravos com menos de dez anos de idade correspondiam a um terço dos cativos falecidos, dentre estes dois terços morriam antes de completar um ano de idade, 80% até os cinco anos” (Góes e Floretino, 2002, p. 180).
Debora Regina Vogt – Doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Analista técnico educacional da rede SESI/SP. Av Paulista, 1313, 01311-923, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881) – MATA (RBH)
MATA, Iacy Maia. Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 303p. Resenha de: CHIRA, Adriana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O complicado relacionamento entre as pessoas de cor e os movimentos nacionalistas latino-americanos esteve no centro de um vasto conjunto de pesquisas historiográficas. Algumas das questões que os estudiosos enfrentaram foram estas: o que levou as pessoas de cor a participar nesses movimentos? Como os modelaram? E por que endossaram ideologias nacionalistas que celebravam a harmonia racial e que as elites brancas viriam a usar como meio para silenciar as reivindicações baseadas na raça? As pessoas de cor foram sendo cooptadas pelas elites brancas, ou conseguiram dar forma ao teor geral dos movimentos e das ideologias nacionalistas? Historiadores cubanos envolveram-se nessas discussões, muito embora Cuba tenha discrepado cronologicamente em comparação com outras colônias espanholas nas Américas, alcançando sua independência apenas em 1898. O paradoxo que faz de Cuba um tema particularmente interessante de pesquisa é por que o maior produtor de açúcar para o mercado global poderia abrigar um ideal nacionalista de fraternidade racial, no momento em que o racismo científico tornava-se o lastro ideológico para os segundos impérios europeus na Ásia e na África, e para as chamadas leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Realizando rica pesquisa em arquivos cubanos e espanhóis e tecendo uma bela narrativa que coloca na frente e no centro as vozes e as ações das próprias pessoas de cor, Iacy Maia Mata oferece, em sua monografia, novas abordagens sobre essas questões.
Estudos anteriores sobre fraternidade racial em Cuba centraram o foco sobretudo na experiência militar durante a prolongada Guerra de Independência contra a Espanha (1868-1898). Estudiosos e intelectuais já desde José Martí argumentaram que o esprit de corps militar que se desenvolveu entre os rebeldes pró-independência através das linhas de segregação oficiais serviu como catalisador de ideologias radicais de inclusão nacional e racial. Mata, porém, sustenta que há indícios nos arquivos de uma cultura política popular em Santiago que parece ter preexistido à campanha militar de 1868. Introduzindo um novo recorte cronológico para a emergência de ideologias de igualdade racial em Cuba, Iacy Mata não está apenas oferecendo o relato mais completo. Ela também está sugerindo que a população de cor de Santiago havia considerado a igualdade antes mesmo de as elites liberais de pequenos proprietários na província vizinha de Puerto Príncipe terem iniciado a guerra de independência.
O objetivo de Iacy Mata é traçar as origens da cultura política popular de Santiago e explicar como, entre meados dos anos 1860 e o início da década de 1880, a população de cor local superou as divisões de status e criou laços e solidariedades que alcançaram sua expressão completa na ideia de uma raza de color unificada. A autora argumenta que essa visão particular de uma comunidade política centrada na raça estava alinhada com a causa nacionalista de uma Cuba livre. Como ela coloca adequada e incisivamente, as pessoas de cor de Santiago passaram, no começo da década de 1860, da condição de la clase de color, um rótulo oficial nelas fixado pelas autoridades coloniais espanholas, para a de la raza de color, termo que intelectuais e líderes políticos e militares de cor começaram a usar para se autoidentificar no início da década de 1880.
Ao longo da maior parte de sua existência colonial, Santiago de Cuba, província situada na extremidade leste da ilha, foi uma zona de fronteira colonial, ator marginal na política imperial e local de pouco investimento da agricultura de plantation em larga escala. Os refugiados da Revolução Haitiana que migraram para essa região por volta de 1803 ali introduziram plantações de café, muitas das quais faliram no começo da década de 1840. Até o final dos anos 1850, as principais fontes de renda locais eram a criação de gado, a plantação de café e tabaco e a mineração de cobre (que as autoridades concederam a uma companhia inglesa). Como resultado da localização de Santiago nas margens do domínio açucareiro, a pequena propriedade permaneceu ali muito mais comum do que na parte centro-oeste de Cuba. Além do mais, Santiago também se destacou entre as demais províncias cubanas pelo peso demográfico relativamente maior da população de cor. No começo dos anos 1860, muitos deles eram pequenos proprietários e alguns possuíam um pequeno número de escravos. Era essa população que começou a se mobilizar politicamente no início daquela década, argumenta a autora, em resposta aos acontecimentos econômicos locais e aos movimentos internacionais antiescravagistas.
Nos primeiros anos da década de 1860, o açúcar começou a deitar raízes mais profundas em Santiago e a produção de café voltou a se expandir ali. Como consequência, as plantações começaram a invadir áreas onde os pequenos proprietários ou arrendatários cultivavam tabaco, deixando a população de cor insatisfeita. Ademais, em meados da década, teriam chegado a Santiago notícias e rumores sobre a emancipação dos escravos no sul dos Estados Unidos. A população local também teria consciência, havia bastante tempo, dos protestos britânicos contra a escravidão e o comércio de escravos para o Império Espanhol (em razão da proximidade da Jamaica), bem como da reputação do Haiti como república construída a partir de uma bem-sucedida revolução de escravos. Fazendo uma leitura cuidadosa de registros criminais e judiciais, Iacy Mata recupera como essas notícias impactaram a vida cotidiana entre os escravos e a população de cor livre e o que fizeram com elas. Quer fosse a exibição sutil e irônica de uma bandeira haitiana, trazendo inscrita a palavra Esperança, quer fosse o uso de um vocabulário pró-republicano, antiescravidão e antidiscriminação, sustenta a autora, as conversas de natureza política se espalharam pela cidade e pelas áreas rurais antes de 1868.
As conversas políticas locais culminaram em uma série de conspirações que transpirou entre 1864 e 1868 na província de Santiago e em áreas adjacentes. Iacy Mata interpreta a evidência dessas conspirações cuidadosamente, identificando os objetivos e as alianças dos participantes que emergiam entre escravos, população de cor livre e brancos. Os desiderata incluíam uma república independente, o fim da escravidão e a igualdade de direitos no que diz respeito ao status de raça. Nos dois capítulos finais, a autora coloca em discussão que essas metas políticas receberiam maior articulação durante a Guerra de Independência, quando as pessoas de cor tentariam radicalizar a agenda principal da liderança branca liberal para incluir a igualdade política e a abolição imediata.
A monografia baseia-se em extensa pesquisa nos arquivos imperiais espanhóis (Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Geral das Índias), bem como em fontes dos Arquivos Nacionais Cubanos e do Arquivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Esses diferentes repositórios forneceram a Iacy Mata fontes que lhe permitiram deslocar-se entre diferentes percepções dos mesmos eventos ou processos: elite/subalterno, centro imperial (Madri)/elite política centrada no açúcar (Havana)/zona de fronteira cubana (Santiago). Adicionalmente, o trabalho de Iacy Mata mostra como o estudo de uma área de fronteira do Caribe pode ser importante para se entender o radicalismo político na região. Por muito tempo, os historiadores permaneceram focando as áreas produtoras de açúcar como os principais espaços onde a mudança social se deu. Embora seu trabalho tenha nos munido de ferramentas e abordagens analíticas indispensáveis, Iacy Mata sugere que é importante olhar para além dessas áreas se quisermos compreender a cultura política local.
A monografia também abre importantes caminhos para novas pesquisas. A unidade discursiva do termo raza de color esconde as complexas políticas e as fraturas existentes entre as pessoas de cor em Santiago que sobreviveram nos anos 1880 e moldariam a política clientelista nos primórdios da Cuba republicana. Seria fundamental considerar que as origens e os desdobramentos posteriores dessas fraturas estariam em Santiago. Em segundo lugar, o estudo de Iacy Mata alude à presença de aliados brancos liberais em Santiago, que, ocasionalmente, ajudaram os combatentes pela liberdade ou participaram de conspirações antiescravidão. A historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga explorou a história do liberalismo na parte ocidental da ilha, revelando um vibrante campo de ideias liberais que se mostravam, às vezes, contraditórias ou contraditórias em si mesmas. Puerto Príncipe e Bayamo foram terrenos particularmente férteis para o pensamento liberal, mas Santiago não esteve alheia a ele antes da Guerra de Independência (ver, por exemplo, o governo de Manuel Lorenzo nos anos 1830). Algumas dessas ideologias liberais podem também ter escoado através de redes que alcançaram ex-colônias latino-americanas depois da década de 1820 e a República Dominicana durante a Guerra da Restauração nos anos 1860. Estudar os ideais políticos da população de cor de Santiago em relação a essas outras correntes políticas, tanto internas quanto externas à ilha, parece ser um terreno especialmente importante para futuras pesquisas.
O trabalho de Iacy Mata é uma bela ilustração de como as ferramentas da história social e política podem capturar a dinâmica dos movimentos políticos populares. Assim sendo, eu o recomendo vivamente para os estudiosos interessados em sociedades escravistas e pós-escravistas e nos papéis que as pessoas de cor desempenharam no interior delas.
Adriana Chira – Ph.D., University of Michigan. Assistant Professor of Atlantic World History, Emory College of Arts and Sciences (USA). Emory College of Arts and Sciences. Atlanta, GA, USA. E-mail: [email protected].
[IF]Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro – COWLING (RBH)
COWLING, Camillia. Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013. 344p. Resenha de: SANTOS, Ynaê Lopes dos. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes poderiam ter sido heroínas dos folhetins e romances que enchiam de angústia e compaixão a alma dos leitores do final do século XIX. Negras, cativas ou ex-escravas, essas mulheres foram em busca do aparato legal disponível em Havana e no Rio de Janeiro, respectivamente, e fizeram de sua condição e do afeto materno as principais armas na longa luta pela liberdade de seus filhos na década de 1880. Todavia, a saga dessas mulheres não era fruto da vertente novelesca do século XIX e tampouco foi fartamente estampada nos jornais da época. Para conhecer e nos contar essas histórias, Camillia Cowling fez uma intensa pesquisa em arquivos do Brasil, de Cuba, Espanha e Grã-Bretanha, tecendo com o cuidado que o tema demanda a trajetória de mulheres negras – libertas e escravas – que entre o fim da década de 1860 e a abolição da escravidão em Cuba (1886) e no Brasil (1888) utilizaram o aparato legal disponível nas duas maiores cidades escravistas das Américas para lutar pela liberdade de seus filhos e filhas.
A fim de dar corpo a uma história que muitas vezes é apresentada como estatística, a autora examinou uma série de documentos legais produzidos a partir da década de 1860 para compreender os caminhos traçados por algumas mulheres em busca da liberdade. Em pleno diálogo com as importantes bibliografias sobre gênero e escravidão produzidas nos últimos anos, Camillia Cowling nos brinda com um livro sobre mulheres negras, maternidade, escravidão e liberdade, demonstrando como as histórias de Ramona, Josepha e outras tantas libertas e escravas, longe de serem anedotas do sistema escravista, podem ser tomadas como portas de entrada para a compreensão mais fina da dinâmica da escravidão no Novo Mundo nas duas últimas localidades em que essa instituição perdurou.
A complexidade do tema abordado e o ineditismo das articulações entre história da escravidão nas Américas, abolicionismo, dinâmica urbana, agência de mulheres negras, maternidade e processos jurídicos se expressam na forma como a autora organizou sua obra.
Na primeira parte de seu livro, Camillia Cowling trabalhou com a relação entre escravidão e espaço urbano naquelas que foram as maiores cidades escravistas das Américas, Havana e Rio de Janeiro. Analisando as dinâmicas de funcionamento da escravidão urbana, a autora sublinhou que as cidades não devem ser tomadas como mero pano de fundo dos estudos sobre escravismo nas Américas, e assim construiu uma narrativa que corrobora boa parte do que a historiografia aponta: a força que a escravidão exerceu sobre o funcionamento dessas urbes. Tal força poderia agir tanto nas especificidades geradas em torno das atividades executadas pelos escravos urbanos – sobretudo no que tange à maior autonomia dos escravos de ganho -, como nos sentidos e usos que essas cidades passaram a ter para a população escrava e liberta, a qual muitas vezes fez do emaranhado espaço citadino esconderijos e refúgios de liberdade. O engajamento jurídico das mulheres escravas e libertas frente às políticas graduais de abolição de cada uma dessas cidades é, pois, apresentado como mais uma característica da complexa dinâmica que permeou a escravidão urbana no Rio de Janeiro e em Havana.
A escolha pelas duas cidades não foi aleatória, muito menos pautada apenas por índices demográficos. Ainda que a autora tenha anunciado trabalhar com base na metodologia da micro-história, a abordagem comparativa que estrutura sua análise se pauta no diálogo com perspectivas mais sistêmicas da escravidão das Américas, principalmente com as balizas que norteiam a tese da segunda escravidão (Tomich, 2011). Como vem sendo defendido por uma crescente vertente historiográfica, a paridade entre Havana e Rio de Janeiro – pressuposto fundamental da análise de Camillia Cowling – seria resultado de uma série de escolhas semelhantes feitas pelas elites de Cuba e do Brasil em prol da manutenção da escravidão desde o último quartel do século XVIII até meados do século XIX, mesmo em face do crescente movimento abolicionista. Tal política pró-escravista (que também foi levada a cabo pelos Estados Unidos) teria permitido que a escravidão moderna se adequasse à expansão capitalista, criando assim um chão comum na dinâmica da escravidão nessas duas localidades, inclusive no que concerne às possibilidades legais que os escravos acionaram para lutar pela liberdade – possibilidades essas que se ampliaram após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Não por acaso, as capitais de Cuba e do Brasil transformaram-se em espaços privilegiados para que mulheres negras, apropriando-se do próprio conceito de maternidade e ressignificando-o, utilizassem as leis abolicionistas reformistas, nomeadamente a Lei Moret de Cuba (1870) e a Lei do Ventre Livre do Brasil (1871), para resgatar seus filhos do cativeiro.
Os caminhos percorridos pelas mulheres escravas e libertas e as muitas maneiras por meio das quais elas conceberam a liberdade (de seus filhos e delas próprias) passam a ser examinados pormenorizadamente a partir da segunda parte do livro. A pretensa universalidade do direito sagrado da maternidade foi uma das ferramentas utilizadas nos discursos abolicionistas do Brasil e de Cuba, os quais apelavam para um sentimento de igualdade entre as mães, independentemente de sua cor ou condição jurídica. Como destaca a autora, a evocação do sentimento de emoção transformou-se numa estratégia importante do movimento abolicionista que, a um só tempo, pregava a sacralidade da maternidade e ajudava a forjar um novo código de conduta da elite masculina, que começava a enxergar a mulher escrava de outra forma.
Camillia Cowling demonstra que a sacralidade universal da maternidade foi apreendida de diferentes formas nas sociedades escravistas. Se por um lado, a partir da década de 1870, tal assertiva ganhou força quando a liberdade do ventre ganhou status de lei, por outro lado a pretensa igualdade que a maternidade parecia garantir para as mulheres muitas vezes parecia restringir-se ao campo jurídico, mais especificamente, à luta gradual pela liberdade. Revelando uma vez mais a complexidade dos temas abordados, Camillia Cowling destaca que esses mesmos abolicionistas muitas vezes descriam na feminilidade das mulheres negras (brutalizadas pela escravidão), colocando-se contrários às relações inter-raciais, embora defendessem a manutenção das famílias negras.
Todavia, nesse contexto, o ponto alto do livro reside justamente no exame das estratégias empregadas pelas mulheres negras para lutar, juridicamente, pela liberdade não só de seu ventre, mas de seus filhos. A compreensão que essas mulheres tinham das leis graduais de abolição; o entendimento também compartilhado por elas de que as cidades do Rio de Janeiro e de Havana não eram apenas espaços privilegiados para suas lutas, mas também uma parte importante para a definição do que a liberdade poderia significar; e as redes de solidariedade tecidas por essas mulheres, que muitas vezes extrapolavam os limites urbanos, são algumas das questões trabalhadas pela autora.
Os desdobramentos dessas questões são muitos, a maioria dos quais analisada por Camillia Cowling na última parte de seu livro. As concepções que as mulheres negras desenvolveram sobre liberdade e feminilidade com base na maternidade merecem especial atenção, pois elas permitem, em última instância, redimensionar os conceitos de escravidão e, sobretudo, de liberdade nos anos finais de vigência da instituição escravista das Américas e nos primeiros anos do Pós-abolição. Se é verdade que, assim como aconteceu como Josepha Gonçalves e Ramona Oliva, a luta jurídica pela liberdade de seus filhos não teve o desfecho desejado e eles continuaram na condição de cativeiro, os caminhos e lutas trilhados por elas não só criaram outras formas de resistência à escravidão – que por vezes, tiveram outros desfechos -, como ajudaram a pautar práticas de liberdade e de atuação política que ganhariam novos contornos na luta pela cidadania plena alguns anos depois.
O tratamento dado pela autora sobre a luta de mulheres/mães pela liberdade de seus filhos e a forma por meio da qual ela enquadra tais questões naquilo que se convém chamar de “contexto mais amplo” faz que Conceiving Freedom possa ser tomado como uma importante contribuição nos estudos da escravidão urbana, não só por sua perspectiva comparada, mas também por trabalhar num território de fronteira da historiografia clássica, demonstrando que os limites entre o mundo escravista e o mundo da cidadania não podem ser balizados apenas pela declaração formal da abolição da escravidão. A luta começou antes dessas datas oficiais e continuou nos anos seguintes, sobre isso não restam dúvidas. Todavia, o protagonismo desse movimento não se restringiu às ações dos homens que lutaram pela abolição. Ao invés de fechar uma temática, o trabalho de Cowling indica novos caminhos num campo que poderá trazer contribuições promissoras para os estudos da escravidão e da liberdade nas Américas.
Por fim, vale ressaltar que num momento político como o atual, em que tanto se fala, se discute e se experimenta o empoderamento de mulheres negras, o livro de Camillia Cowling é igualmente bem-vindo. Não só por iluminar trajetórias que foram silenciadas ou tratadas como simples anedotas (demonstrando que a luta não é de hoje), mas igualmente por permitir repensar os moldes e os modelos por meio dos quais as histórias e as memórias da escravidão e da luta pela liberdade são construídas.
Referências
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011. [ Links ]
Ynaê Lopes dos Santos – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunta de História da Escola Superior de Ciências Sociais CPDOC-FGV. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
A escravidão no Brasil | Jaime Pinsky
Diversos são os trabalhos que abordam a escravidão imposta aos africanos no Brasil. Tal temática tem sido objeto de estudo tanto dos historiadores como também dos profissionais vinculados a outras áreas como, por exemplo, Sociólogos, Antropólogos e estudiosos de disciplinas afins que, por sua vez, se debruçaram e estão debruçando-se sobre o referido assunto. Com o intuito de trazer uma nova contribuição para o estudo relacionado à escravidão africana no país tropical foi lançada, em 2011, pela editora contexto, a 21ª edição da obra, “A Escravidão no Brasil”, de Jaime Pinsky.
Doutor e livre-docente pela USP e professor titular da UNICAMP, Pinsky revisou a obra em análise e, após sucessivas edições e os mais de cinquenta mil exemplares vendidos, relançou-a incluindo os recentes resultados inerentes às pesquisas feitas sobre o assunto. Além do prefácio à nova edição, o livro é composto por quatro capítulos os quais recebem as seguintes denominações: Ser escravo; O escravo indígena; O escravo negro e Vida de escravo. Sendo que, ao final da obra, o autor oferece algumas sugestões de leituras inerentes ao tema. Leia Mais
Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista | Jonis Freire
A escravidão na América portuguesa e no Brasil Imperial é um dos temas mais instigantes da historiografia brasileira, em virtude de seu impacto na formação da sociedade contemporânea. Por volta dos anos 1980, a história social da escravidão trouxe considerável renovação para a historiografia sobre a escravidão brasileira. Ao empregar novas abordagens teórico-metodológicas e fontes documentais até então pouco exploradas, os estudiosos passaram a investigar de forma profícua as facetas da escravidão brasileira em suas diversas temporalidades e regiões. Além disso, a população cativa passou a ser encarada como sujeita de sua própria história. Escravidão e família escrava, resultado da tese de doutorado de Jonis Freire, defendida em 2009 na Unicamp, insere-se nessa tradição historiográfica.
A obra centra-se na atual cidade de Juiz de Fora, que, “no decorrer do século XIX, possuiu a maior população escrava da província, com uma economia baseada, principalmente, na plantation cafeeira” (p. 28). Os eixos temáticos tratam sobretudo da demografia e família cativas e dos padrões de manumissão das escravarias pertencentes a três grandes cafeicultores, Antônio Dias Tostes, Comendador Francisco de Paula Lima e Capitão Manoel Ignácio Barbosa Lage, no período que abrange as décadas de 1830 a 1880.
Dividido em quatro capítulos, o livro trata, no primeiro deles, da formação da Zona da Mata Mineira e, especialmente, de Juiz de Fora. Analisa, ainda, por meio dos inventários post mortem, a composição da riqueza dos chefes daquelas três famílias bem como o perfil demográfico de seus cativos. Jonis Freire mostra que tais senhores – grandes proprietários de terras, escravos e cafezais – eram típicos representantes da elite cafeeira, destacando-se na economia e na política local.
Os casais Dias Tostes, Paula Lima e Barbosa Lage acumularam fortuna sobretudo a partir da cafeicultura e de empréstimos de dinheiro a juros. Jonis Freire aponta que “todas as três famílias estudadas, em algum momento, fizeram uso das ligações matrimoniais com outras famílias da elite para aumentar não só o seu prestígio social, mas, acima de tudo, os seus cabedais econômicos, {..} bem como seu status político” (p. 62). A maior parte dos patrimônios estava alocada em cativos, imóveis rurais e urbanos e em dívidas ativas.
O perfil demográfico da mão de obra desses cafeicultores sofreu mudanças ao longo do Oitocentos, devido, principalmente, ao fim do tráfico atlântico de africanos em 1850. A posse de Antônio Dias Tostes, composta por 147 indivíduos – a maior escravaria, segundo a lista nominativa de 1831 -, era basicamente constituída por homens (70,8%), africanos (85,7%) e indivíduos jovens/adultos (71,4%), com idade entre 15 e 40 anos. Já em 1837, segundo a partilha de bens de sua esposa, Dona Anna Maria do Sacramento, a posse sofreu ligeiras oscilações: a despeito da expansão da escravaria (185 ao todo), as proporções de homens e jovens/adultos mantiveram-se praticamente inalteradas, ao passo que os africanos reduziram sua participação relativa a 76,6%. Embora o autor não explique, pode-se conjecturar que o término temporário do tráfico atlântico (1831-1835) teria causado essa redução.[1]
A posse do Comendador Francisco de Paula Lima, segundo o seu inventário (1866), composta de 204 cativos, tinha um perfil semelhante à de Tostes: os homens correspondiam a pouco menos de 70% e os jovens/adultos representavam dois terços da escravaria; em 1877, de acordo com o inventário de sua viúva, D. Francisca Benedicta de Miranda Lima, dos 130 escravos, 57% deles eram homens e 45,6% jovens/adultos. Por fim, a posse do Capitão Manoel Ignácio Barbosa Lage, no ano de seu falecimento (1868), tinha 118 cativos: 64,4% deles eram homens, 50% eram jovens/adultos e 20% haviam nascido na África.
De modo geral, os dados atinentes às posses desses casais devem ser inseridos em um quadro de análise mais amplo. Pode-se, assim, entrever dois períodos distintos. No primeiro, que corresponde à primeira metade do século XIX e no qual se enquadra a propriedade do casal Dias Tostes, a escravaria tende a ser composta sobretudo por homens, jovens/adultos e africanos. Nesse período, a oferta elástica de escravos africanos permitia aos senhores adquirir mão de obra relativamente barata, via tráfico atlântico, para manter e/ou ampliar suas posses. Após o término do tráfico, em 1850, inicia-se o segundo período, no qual as propriedades dos casais Paula Lima e Barbosa Lage estão incluídas: a partir desse momento, tem-se uma sociedade escravista madura, cuja população cativa tende ao equilíbrio sexual, à simetria entre crioulos e africanos, e verifica-se, ademais, o progressivo envelhecimento da mão de obra. Há ainda tendência à reprodução via crescimento vegetativo da escravaria.[2]
O segundo capítulo aborda as formas de reprodução da escravaria utilizadas pelas famílias da elite juiz-forana. O objetivo de Freire é determinar o seu impacto sobre a manutenção e/ou ampliação das posses cativas. Para tanto, procura cruzar quatro tipos de fontes: 1) Livros de Registro de Batismo; 2) Despacho de Escravos e Passaportes da Intendência de Polícia da Corte; 3) Inventários; 4) Livros de Notas e Escrituras Públicas.
Com base no exame minucioso das fontes, o autor assinala que os casais Dias Tostes e Paula Lima valeram-se, sobretudo, do tráfico atlântico e do tráfico interno para manter e/ou expandir suas escravarias. Os Barbosa Lage, por sua vez, teriam recorrido, primordialmente, à reprodução natural de seus cativos. Nesse sentido, “conclui-se que as duas opções para o aumento do número de cativos – reprodução natural e tráfico de escravos – parecem não ter sido excludentes na referida localidade, mas complementares” (p. 159). Embora a conclusão se alinhe às ilações de uma parte da historiografia, ele não pôde determinar o impacto efetivo de cada uma das formas de reprodução da escravaria naquelas propriedades rurais.
Sobre a análise dos registros de batismo e dos inventários, podem ser feitas duas considerações. Em primeiro lugar, Freire não pondera que o número relativamente pequeno de escravos levados ao batismo pelos casais Dias Tostes e Paula Lima pode indicar somente que eles teriam sido menos cuidadosos, em relação aos Barbosa Lage, em registrar em cartório os filhos de seus cativos. O que não significa afirmar que apenas os Barbosa Lage tenham sido favorecidos com a reprodução natural de seus escravos. Ademais, nem todos os inventários dos três casais foram investigados, o que não permitiu que se acompanhasse a evolução demográfica das escravarias no tempo. Do casal Dias Tostes, o autor examinou apenas a partilha de bens de D. Anna Maria (1837), além do domicílio do casal na lista nominativa (1831); o inventário de Antônio Dias Tostes não foi localizado. Do casal Paula Lima, ambos os inventários puderam ser consultados. E, do casal Barbosa Lage, somente o inventário do Capitão Barbosa Lage (1868) pôde ser examinado; Freire não informa por qual razão não se analisou o inventário de sua esposa, D. Florisbella Francisca de Assis Barbosa Lage (1882). Vale notar que o objetivo do autor poderia vir a lume caso pudesse investigar os inventários dos herdeiros dos três casais, bem como a matrícula de escravos.
Jonis Freire dedica-se, ainda, à análise das relações familiares dos escravos. A investigação divide-se em duas partes: na primeira, estuda os laços familiares e o perfil desses cativos a partir da lista nominativa; num segundo momento, passa a tecer os enlaces matrimoniais das escravarias pertencentes às três famílias da elite juiz-forana.
No Distrito de Santo Antônio de Juiz de Fora, em 1831, cerca de 30% dos cativos adultos eram casados e/ou viúvos. O perfil dessa escravaria coaduna-se com o que a historiografia vem afirmando nas últimas décadas: a maioria dos indivíduos casados e/ou viúvos era oriunda da África e constituída sobretudo por mulheres jovens/adultas. Além disso, as médias (20 a 50 escravos) e as grandes (51 ou + escravos) posses permitiam aos escravos maiores possiblidades de encontrar um parceiro: “quanto maior o número de cativos num determinado fogo, maior o percentual de homens e mulheres casados” (p. 177).
Valendo-se do método de “ligação nominativa de fontes”, técnica historiográfica que consiste em utilizar o nome de um sujeito como fio condutor na análise do processo social baseada em séries documentais distintas, Freire investiga os vínculos familiares das escravarias dos três casais. Na propriedade dos Dias Tostes, os dados levantados indicam pequenas oscilações nas taxas de matrimônio. Em 1831, “o número de escravos descritos como casados era de 20 (…). A maioria dos casados, homens ou mulheres, era africana, respectivamente 15 e 14; seguidos por 5 crioulos e 6 crioulas” (p. 183). Os números indicam, de forma clara, que, na verdade, a quantidade de escravos casados era de 40 (27,2% do total). Nota-se aí um ligeiro deslize do autor. Já em 1837, o percentual correlato reduziu-se a 25,7%. No caso dos Paula Lima (1866) e Barbosa Lage (1868) as proporções de casados eram maiores: na primeira, o índice igualou-se a 37,2% e, na segunda, a 30,5%.
Um dos gráficos elaborados pelo autor apresenta os vínculos familiares das escravarias dos três cafeicultores. Segundo o gráfico, 13,6% (na verdade, 27,2%, conforme apontei acima) dos escravos pertencentes aos Dias Tostes apresentavam algum tipo de vínculo familiar, em 1831. Na partilha de bens de D. Anna Maria (1837), o índice correlato igualou-se a 26,7%. Por seu turno, no inventário do Comendador Paula Lima (1866), a proporção atingiu a marca de 43,9% e, por fim, na propriedade do Capitão Barbosa Lage (1868), a percentagem era de 64,9%. A partir desses dados, o autor diz o seguinte:
“(…) podemos notar que ele {Gráfico 3} demonstra uma curva ascendente entre os anos de 1831 e 1868. Ao que parece, à medida que os anos se passaram, as possibilidades da existência de algum tipo de laço familiar aumentaram. Porém, talvez o que esse gráfico esteja refletindo seja as estratégias distintas dos ditos proprietários” (p. 190).
O autor levanta duas hipóteses para explicar a “curva ascendente” do percentual de vínculos familiares dos cativos no decurso do Oitocentos. Quanto à primeira, Freire parece estar correto, haja vista o que a historiografia sobre a família escrava vem demonstrando nos últimos decênios. A segunda, entretanto, carece de dados empíricos. Tal hipótese poderia ser elucidada caso o autor tivesse acompanhado a evolução demográfica das escravarias dos três casais no tempo. A análise dos vínculos familiares dos cativos arrolados nos inventários das viúvas de Paula Lima e Barbosa Lage, provavelmente, daria respaldo a sua hipótese.
Outro ponto abordado pelo autor se refere à estabilidade dos vínculos familiares. Freire analisou apenas a partilha de bens de D. Anna Maria (esposa de Dias Tostes), e os inventários do Comendador Paula Lima e do Capitão Barbosa Lage. Concluiu, assim, que todas as famílias existentes nas propriedades dos casais Dias Tostes e Barbosa Lage mantiveram-se unidas após a partilha; ao passo que, das famílias pertencentes ao casal Paula Lima, 69% delas permaneceram juntas. No entanto, o autor não atentou para o fato de que a partilha de bens, realizada nos inventários, não é a melhor forma de detectar se as famílias foram (ou não) preservadas. José F. Motta & Agnaldo Valentin demonstraram que
“(…) os eventuais esfacelamentos sofridos pelas famílias escravas, em alguns casos, poderiam assumir uma natureza meramente “ideal”, ou pouco mais que isso, havendo em seguida à partilha reajustamentos quase imediatos entre os herdeiros, no que tange à alocação dos cativos”.[3]
Para cotejar se a divisão em partilha foi mantida, seria necessário analisar, na ausência de uma fonte mais apropriada, os inventários dos herdeiros dessas famílias e/ou a matrícula de escravos. Desta forma, não se pode concluir, a partir dos casos elencados, se havia (ou não) estabilidade dos laços familiares após a morte dos senhores, embora a historiografia venha evidenciando que boa parte das famílias cativas permaneciam unidas, mesmo antes da Lei de 1869, que proibiu a separação entre casais cativos e entre pais e filhos menores.
A grande contribuição apresentada por Freire se refere especialmente ao exame das práticas de alforria das famílias da elite de Juiz de Fora. Pode-se entrever a novidade em virtude do método utilizado, que consistiu em levantar as alforrias a partir do cruzamento de inúmeras fontes (inventários, testamentos, alforrias em cartório e na pia batismal e prestação de contas testamentárias). O autor assinala que todos os membros das famílias Paula Lima, Dias Tostes e Barbosa Lage alforriaram, respectivamente, 44, 39 e 16 cativos. Cerca da metade das manumissões das duas primeiras famílias foram “concedidas” em testamentos. Os Barbosa Lage alforriaram seus escravos, com mais frequência, em inventários.
Nesse sentido, Freire conclui que:
“(…) apesar de toda a importância da manumissão cartorial, o registro não foi condição sine qua non para a liberdade. Outros documentos tiveram o mesmo peso legal (…). Além da legalidade de tais “ritos jurídicos”, o conhecimento público daquelas manumissões, em inventários, testamentos e na pia batismal, bastava para a confirmação do status de libertos que pensavam na mobilidade geográfica” (p. 312).
O autor evidencia, ademais, que, a despeito do pequeno número de casos investigados (19 proprietários ao todo), as taxas de alforria nas pequenas posses eram mais elevadas, do que nas médias e grandes. Duas hipóteses são colocadas em evidência para explicar esse fenômeno: 1) o relacionamento entre senhores e escravos era mais “próximo” nas pequenas posses, permitindo aos senhores manumitir mais escravos; 2) os pequenos proprietários eram mais vulneráveis que os grandes e, por isso, acabavam cedendo mais na “negociação” com seus escravos, abrindo brechas para que os cativos conquistassem a alforria.
Escravidão e família escrava é uma referência importante para os pesquisadores interessados em aprofundar o conhecimento sobre o escravismo no Brasil. O livro, que apresenta farto levantamento bibliográfico atinente às temáticas abordadas, permite ao leitor situar-se nos debates pelos quais a obra perpassa. Embora Jonis Freire não tenha contemplado de forma satisfatória algumas questões, a exemplo das formas predominantes de reprodução da escravaria, deve-se destacar que os pesquisadores tem à disposição um ótimo trabalho e, dessa forma, poderão esmiuçar os assuntos que não puderam ser examinados a fundo nessa obra.
Notas
1. VOYAGES DATABASE. The Trans-Atlantic Slaves Trade Database, 2009. Disponível em: http://www.slavevoyages.org . Acesso em: 12 jun. 2015.
2. SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
3. MOTTA, José F.; VALENTIN, Agnaldo. A estabilidade das famílias em um plantel de escravos de Apiaí. Afro-Ásia (UFBA), Salvador, v. 27, p. 161-192, 2002. p. 186-187.
Breno Moreno – Universidade de São Paulo (USP).
FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista. São Paulo: Alameda, 2014. Resenha de: MORENO, Breno. Família escrava e alforrias nas fazendas de café da elite de Juiz de Fora. Almanack, Guarulhos, n.11, p. 860-864, set./dez., 2015.
Dinâmica Imperial no antigo Regime Português: escravidão, governos, fronteiras, poderes e legados: séculos XVII-XIX | Roberto Guedes
Nesta obra, Roberto Guedes organiza textos acerca do Antigo Regime Português, em especial, de suas práticas políticas, econômicas, religiosas e culturais, entre outras, ligadas à escravidão na América portuguesa e em outras colônias do Império Português. A coletânea se depara com o contexto “pluricontinental” da administração imperial portuguesa e propõe uma visão de interdependência da colônia face à metrópole.
O livro “Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português” desdobra-se em cinco partes que enfatizam: escravidão, governos, fronteiras, poderes e legados. Esses cinco conceitos nos instigam a pesquisar a América portuguesa, convidando-nos a um caminho de descobertas da história do não dito e dos pequenos feitos nesse universo da Colônia. Leia Mais
Da escravidão ao trabalho livre/ 1550-1900 | Luiz Aranha Corrêa do Lago
Defendida em 1978 na Universidade de Harvard, a tese The Transition from Slave to Free Labor in Agriculture in the Southern and Coffee Regions of Brazil: a Global and Theoretical Approach and Regional Case Studies, de Luiz Aranha Corrêa do Lago, teve, apesar de menções favoráveis em obras como as de David Eltis (Economic Growth and the Ending of the Atlantic Slave Trade. Oxford e Nova York: Oxford University Press, 1987) e Robert Fogel (Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery. Nova York: W.W. Norton, 1989), pouca reverberação nos estudos referentes à escravidão brasileira e seu processo de transição para o trabalho livre, circunscrevendo-se a uma restrita gama de trabalhos, como o de Eustáquio e Elisa Reis (As elites agrárias e a abolição da escravidão no Brasil. Dados (Revista de ciências sociais), 31, 3, 1988, pp. 309-341). A publicação de Da escravidão ao trabalho livre. Brasil, 1550-1900, versão revista e traduzida da tese de doutorado do autor, promete ampliar o campo de atuação das propostas historiográficas de Lago e traz relevantes abordagens sobre o período de transição do regime escravocrata para o trabalho livre no Brasil.
Luiz Aranha do Lago apresenta sua obra como uma análise de fundo econômico sobre o desenvolvimento da escravidão no Brasil e seu ulterior processo de transição para o trabalho livre. Ao longo do livro, o autor elege alguns momentos específicos da história do Brasil – tanto referentes ao período colonial como ao independente – que reverberaram na esfera econômica e alteraram relações de oferta e demanda, sobretudo de mão de obra e terra, levando a uma paulatina transformação do regime de trabalho.
A investigação se inicia pelos motivos que fizeram com que a escravidão fosse o regime de trabalho predominante na América Portuguesa durante os mais de três séculos de dominação colonial. Apoiado na “Hipótese de Domar”Lago defende que a ampla oferta de terras disponíveis na colônia, aliada à política portuguesa de doação de sesmarias a “proprietários inativos”, criou necessariamente uma economia produtiva pautada no trabalho escravo, já que, segundo Domar, “dos três elementos de uma estrutura agrária em estudo – terra livre, camponeses livres e proprietários de terra inativos (ou seja, que não trabalham na terra diretamente) -, dois elementos, mas nunca os três, podem existir simultaneamente” (p.29). Assim, nas regiões em que essa política colonial prosperou e a agricultura vicejou, a escravidão tornou-se o regime de trabalho dominante pela associação de uma alta relação terra-trabalho à existência de proprietários de grandes extensões de terra.
Lago faz ainda uma distinção em relação à disponibilidade econômica e à disponibilidade efetiva de terras. Ainda que haja uma ampla oferta natural de terras – exatamente o caso da América Portuguesa nos séculos da colonização -, proprietários que dominam praticamente a totalidade das terras cultiváveis, mesmo que não desenvolvam a agricultura em toda sua extensão e tenham poder para impedir que homens livres utilizem suas propriedades, fazem com que a relação terra-trabalho real seja menor em comparação com a relação natural. Assim, o recurso à escravidão não se deveu apenas ao fator terra, mas à própria escassez de mão de obra da colônia, que precisou importar trabalhadores de maneira forçada, na medida em que uma imigração de trabalhadores livres sem posse foi inibida pela escassez legal de terras.
A descoberta do ouro e a implantação de um sistema análogo ao das sesmarias – doação dedatas – fizeram com que o trabalho escravo permanecesse predominante nas áreas dinâmicas da economia colonial, de modo que este regime de trabalho se espraiava paulatinamente para as áreas mais ao sul da colônia, fomentando aumento demográfico, tanto via tráfico de escravos como pela imigração espontânea de portugueses. Mesmo com o retraimento da extração aurífera e de diamantes em fins do século XVIII, a economia mineira estimulou um crescimento urbano no centro-sul do Brasil, além de ter permitido que um sistema de escoamento da produção fosse montado entre Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro. Estas últimas características se aliaram a outro momento-chave que Lago atribui ao desenvolvimento da escravidão no Brasil: o início da produção cafeeira pelo sudeste, que “se expandiu sobretudo na província do Rio de Janeiro, ao longo do Vale do Paraíba, mas também em São Paulo e em Minas Gerais, afetando fundamentalmente a evolução econômica do país” (p.64-65).
Um dos méritos de Lago em sua obra é ter atinado para a brusca expansão da escravidão brasileira motivada pelo desenvolvimento das fazendas de café. Estima-se que dos 1,3 milhão de escravos entrados no Brasil ao longo da primeira metade do século XIX, cerca de 2/3, ou 900 mil cativos, seguiram para as regiões cafeeiras. Desse modo, o autor passa a delinear as alterações demográficas e de padrão de trabalho entre as regiões estudadas, enfocando mais detidamente a Cafeeira e a Sul, não sem apontar a diminuição relativa da população escrava no Nordeste, tanto pela perda de competitividade no mercado mundial, motivada pelo deslanche da produção açucareira cubana, quanto pela crescente exportação de escravos para as regiões cafeeiras.
Ao estudar o desenvolvimento da escravidão e do trabalho livre no Centro-Sul do país, tema que constitui efetivamente o núcleo da obra, Lago pretende medir o impacto das ações dos agentes econômicos que dizem respeito à oferta de terras e mão de obra. Iniciando a análise pela região cafeeira – dividida em quatro capítulos, cada um deles referente a uma província – o autor destaca o fim do tráfico de escravos em 1850 como ponto de forte influência sobre o futuro da instituição e sobre as possibilidades abertas a um novo regime de trabalho.
A situação econômica vivida por cada uma das regiões estudadas no momento de fechamento do tráfico condicionou, segundo Lago, o posterior desenvolvimento da questão da mão de obra. Enquanto as fazendas de café do Vale do Paraíba fluminense e do Norte de São Paulo encontravam-se bem abastecidas de escravos e em pico de produtividade em meados do século, o centro-oeste paulista e a região da Zona da Mata de Minas Gerais demandavam ainda braços para a lavoura. No sul do país, a escravidão se concentrava cada vez mais nas charqueadas rio-grandenses, tornando-se diminuta em Santa Catarina, com a decadência das armações de baleia, e residual na colheita do mate, no Paraná.
Nesse quadro de rearranjo da oferta de mão de obra, os fazendeiros do Vale do Paraíba fluminense e paulista tiveram, em um primeiro momento, uma valorização de seus capitais, na medida em que o fechamento do tráfico elevou sobremaneira o preço dos escravos. Posteriormente, porém, o esgotamento das terras, aliado ao envelhecimento dos cafeeiros já plantados, impediu que essa região buscasse soluções de longo prazo para a iminente falta de braços, que com a Lei de Ventre Livre de 1871 tornou-se preocupação geral entre os fazendeiros. O Sul do Brasil, pelo contrário, viu a escravidão perder importância relativa. A imigração subsidiada pelo Governo criou diversas colônias autônomas, não subordinadas à produção voltada ao mercado externo, de maneira que o aumento demográfico da população livre associado à exportação de escravos para as províncias cafeeiras – no caso de Paraná e Santa Catarina – e às baixas taxas de importação de escravos para o Rio Grande praticamente minaram as possibilidades de continuidade da escravidão na região Sul, criando uma sociedade baseada no trabalhado assalariado e na pequena propriedade de produção de subsistência e para o mercado interno.
No que pese a ampla pesquisa documental empreendida pelo autor para as áreas acima descritas, corroborada pela confecção de inúmeras tabelas relativas às pautas de exportação e demografia de cada uma delas, as conclusões não destoam substancialmente das expostas em trabalhos já clássicos sobre o tema, como o de Emília Viotti da Costa (Da Senzala à Colônia. [1ª ed.: 1966]. São Paulo: Editora UNESP, 2010). O exaustivo trabalho de levantamento econômico de Lago confirma, por exemplo, a decadência produtiva valeparaibana ao expor a queda nas exportações de café pelo porto do Rio de Janeiro na década de 1880. Em relação ao Sul do país, a tabela composta por dados demográficos de toda a região comprova a quase irrelevância da população escrava às vésperas da Abolição, componente de menos de 2% da população total nas três províncias. Nesses casos, o estudo de Lago agrega mais subsídios à análise dos fenômenos, mas não traz novidades fundamentais ao tema.
Caso distinto é o da análise do autor sobre a situação do centro-oeste de São Paulo e de áreas de Minas Gerais entre o fim do tráfico de escravos e 1900, passando pela Abolição em 1888. A expansão das fazendas de café em meados do século XIX trouxe o problema da escassez de oferta de mão de obra escrava para o centro das unidades cafeeiras da região. Ainda que contassem com escravos nas fazendas, o alto preço dos cativos advindos tráfico interno e a impossibilidade – legal após 1871 – de crescimento vegetativo da população escrava fez com que as primeiras experiências com trabalhadores livres se concentrassem nessa região. Investimentos particulares, em um primeiro momento, e dos governos provincial e central, em seguida, financiaram a vinda de milhares de imigrantes para o trabalho nas lavouras, de modo que a colonização na área cafeeira não pode ser comparada com a empreendida no sul do país.
O que o autor apresenta como novidade, no entanto, é a “mudança fundamental na organização do trabalho no setor cafeeiro de São Paulo (com a já mencionada exceção do norte)” (p.188). Lago considera que a “função de produção” da fazenda no período escravista esteve ligada a dois insumos básicos: “área total de terra cultivada com café e a turma de escravos chefiada por um administrador e por feitores”. Nesse caso, o escravo era tomado como a unidade de trabalho, de maneira que os cálculos sobre a produção da fazenda consideravam esse trabalhador como a unidade básica de mão de obra, ainda que este fosse passível, no campo, de posicionamento em turmas.
A alocação de imigrantes para o trabalho nos cafezais alterou essa lógica, criando renovadas “funções de produção”, “nas quais o insumo terra era o número total de pés de café sob os cuidados da família de colonos, e a família era a nova unidade do insumo trabalho“. Essa alteração não trouxe consequências apenas formais, mas alterou, de acordo com Lago, os padrões de supervisão do trabalho e alocação de tempo dos trabalhadores. Na medida em que cada fração da propriedade confiada à família de imigrantes era considerada um insumo terra, a unidade da fazenda foi quebrada, dando lugar a uma estrutura que mais se parecia com pequenas propriedades que cultivavam o mesmo produto do que com um empreendimento agrícola unificado. Sobre a mão de obra, Lago afirma que “cada família de colono era remunerada ‘coletivamente’ pelo trato dos pés de café e pela colheita, conforme o número de pés de café sob seus cuidados”
A originalidade da observação sobre a reorganização do trabalho na lavoura de café não é, no entanto, acompanhada por uma análise mais detida das consequências – tanto em relação ao volume de produção quanto à vida dos colonos – que essa mudança acarretou. Quais foram as vantagens, do ponto de vista do fazendeiro, desse novo arranjo de insumos? Se não havia vantagens visíveis, por que este foi o modelo mais aceito e difundido entre os cafeicultores no período compreendido entre a crise final da escravidão e o segundo quartel do século XX? Como explicar a afirmação de Lago de que a produção por trabalhador sob o colonato era maior que a observada para o período da escravidão, sendo que o próprio autor afirma haver maior liberdade dos imigrantes na alocação de seu tempo? As questões elencadas estão longe de ser tangenciais, pois vão ao cerne das reais consequências trazidas pela mudança do regime de trabalho na região mais dinâmica da economia brasileira em fins do século XIX, um dos principais focos do livro.
No posfácio de Da escravidão ao trabalho livre, Luiz Aranha Corrêa do Lago apresenta um longo conjunto de trabalhos publicados sobre a escravidão e sua transição para o trabalho livre entre 1978 – ano de publicação de seu doutorado – e 2014, quando lançou a edição revista e traduzida da obra. Os comentários do autor sobre cada um dos livros e artigos mais relevantes para a área mostram seu amplo domínio sobre a literatura recente e servem como um excelente guia aos interessados em acompanhar o desenvolvimento das reflexões sobre a escravidão no Brasil. Ao optar por não incorporar estas amplas contribuições ao longo do texto, Lago perdeu a oportunidade de debater suas teses com a recente historiografia, rever pontos problemáticos e fortalecer seus argumentos centrais.
Em suma, a publicação de Da escravidão ao trabalho livre amplia o alcance das formulações de seu autor, contribui com valiosas informações quantitativas referentes à produção agrícola e à demografia do período estudado, apresenta uma boa observação sobre a organização do trabalho sob o colonato – quando comparado ao regime escravista -, além de trazer um útil levantamento relativo à produção historiográfica recente sobre a escravidão e o trabalho livre no Brasil. Apesar das inegáveis qualidades, a obra não avança sobre os efeitos trazidos pelo novo regime de trabalho, deixando ainda de dialogar com os trabalhos mais recentes produzidos sobre o tema, de modo que a contribuição que Lago pretendia oferecer à historiografia referente à transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil ficou aquém das potencialidades do livro.
Felipe Landim Ribeiro Mendes – Graduando no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São PauloSP / Brasil) e bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. Da escravidão ao trabalho livre, 1550-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: MENDES, Felipe Landim Ribeiro. Uma história econômica da transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 199-202, jan./abr., 2015.
Another Black Like Me: the construction of identities and solidarity in the African diaspora / Nielson R. Bezerra
Another Black Like me, editado por Elaine Rocha e Nielson Bezerra, discute a questão racial, na América Latina e no Caribe, a partir da perspectiva dos negros, sejam estes escravizados ou descendentes de pessoas que passaram pelo cativeiro. Para tanto, os autores ressaltam que é de negros, e não de afrodescendentes, que estão tratando. E o fazem como forma de pontuar e trazer para o debate as complexidades e subjetividades às quais a percepção da negritude esteve submetida, desde o início da diáspora africana até os tempos atuais. Procurando contemplar uma ampla gama de recortes temporais e conceituais, o livro abrange temáticas diversas, que vão, desde o gênero até a resistência, passando por questões ligadas à territorialidade, mobilidade espacial, abolicionismo e identidade.
Esse livro é fruto do esforço de seus dois editores em unir perspectivas e abordagens, das mais diversas, acerca da diáspora africana na América Latina. Oferecendo uma abordagem sólida para tais questões, essa obra consegue agregar artigos que dialogam e fazem sentido quando unidos. Os pesquisadores ora reunidos, apesar de oriundos de diferentes instituições e formações, convergem em uma direção que dá sentido à obra, que é o que toda coletânea precisa (e deveria) ter.
Como é de se esperar em um trabalho feito a muitas mãos, as fontes utilizadas são das mais diversas. Destaco o uso de relatos de viajantes que, nessa obra, servem a diferentes análises. Ygor Rocha Cavalcante os utiliza para identificar os locais de esconderijo dos escravos fugidos bem como para visualizar o cotidiano das localidades por ele analisadas; já Luciana da Cruz Brito acessa tais relatos como forma de analisar a percepção internacional sobre a mítica democracia racial brasileira. Além de tais fontes, o livro ainda apresenta trabalhos que contam com o uso da literatura, história oral, fontes processuais, registros cartoriais, entre outras.
Another Black Llike me nos leva, então, do Brasil à Porto Rico, passando pelo Caribe Britânico e, de volta à África, até Gana. Apesar do livro não possuir nenhuma divisão em partes ou seções, ao lê-lo, consigo identificar dois eixos norteadores do trabalho. Estes correspondem, também, a uma divisão temporal, que pode ser marcada pelo progressivo fim do escravismo nos países da América Latina. Dois momentos, por assim dizer, que se organizaram de diferentes maneiras, nas diferentes sociedades ora abordadas, mas que guardam convergências e similaridades e permitem aproximação em uma única obra.
Dessa forma, esse livro apresenta um primeiro eixo, que corresponde a uma América Latina pós-escravista, que precisa lidar – tanto política, como social e economicamente – com suas questões raciais, suas desigualdades e pertencimentos. E um segundo eixo, que trata dos séculos XVIII e XIX, correspondente ao período escravista da América Latina. Lidando com resistências, construções de identidades e com o abolicionismo, esse segundo eixo trata, principalmente, do Brasil e dos desdobramentos das questões afro-brasileiras.
Analisando o livro nessa chave de leitura, o primeiro eixo que identifico, neste trabalho, compreende os quatro primeiros artigos, de autoria de Elaine Rocha, Ronald Harpelle, Victor C. Simpson e Rhonda Collier. Rocha debate a identificação dos afrodescendentes na América Latina, seja ela imposta ou escolhida. A autora discute questões ligadas à identificação racial, e às formas como essa identificação foi (e tem sido) utilizada, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Harpelle lida com os grupos de descendentes de africanos na América Central que, na metade do século XX, não sabiam quais eram suas origens, que também não eram conhecidas pelas autoridades britânicas que, no século anterior, controlaram a imigração para muitas das ilhas Caribenhas, de onde a maior parte dos imigrantes saíram para a América Central continental. Simpson delineia a taxonomia racial em Porto Rico e no Caribe Anglófono, buscando, na experiência histórica da diáspora africana e do domínio colonial europeu, as raízes que, depois de séculos de interação, dominação e exclusão, deram origem às designações de cor naquelas localidades. Assim como em grande parte da América Latina, tais denominações não se resumem apenas a negro e branco, possuindo uma enorme gama de outras gradações entre essas duas. Tais divisões não se resumem apenas a tons de pele, sendo influenciadas por questões sociais e econômicas. Collier examina as condições de vida de mulheres cubanas, de ascendência africana, no século XX, enfatizando as dificuldades pelas quais passam, devido à cor de sua pele, e as consequências que os estereótipos por elas enfrentados trazem para suas vidas, como a pobreza e a prostituição. Muitas dessas mulheres são o único sustento de suas famílias, o que as empurra ainda mais fundo para essas condições.
Neste primeiro momento do trabalho, destaco o artigo de Rhonda Collier. Analisando as duras condições sociais às quais uma grande maioria de mulheres cubanas foi submetida, no final do século XX, com a queda da União Soviética e as dificuldades econômicas enfrentadas por Cuba, Collier aponta que a única saída que muitas encontravam, para sobreviver e prover a sobrevivência de suas famílias, era a prostituição. Isso gerou um estereótipo relacionado às mulheres cubanas de ascendência africana, que persiste até os dias de hoje.
A autora explora obras de poetisas cubanas, em fins do século XX, que denunciavam as condições às quais tais mulheres eram expostas, bem como o fato de que a revolução socialista, em Cuba, teria feito com que a pobreza levasse, cada vez mais, mulheres para a prostituição. Em oposição à prostituta, que se havia tornado peça de mercado, no turismo cubano, a figura que deveria emergir em seu lugar seria, então, a da mãe, valorizando o país, enquanto pátria que nutre seus filhos e filhas. A África seria, nessa visão, a mãe, na qual Cuba deveria se espelhar. Collier demonstra, nesse artigo, como a identidade da mulher cubana foi palco de disputas, por representatividade e reconhecimento, bem como por participação social e econômica.
O segundo eixo do livro, por sua vez, está articulado em torno das questões ligadas à escravidão, sem perder de vista o foco nas identidades e representações dos negros nas sociedades. Esse segundo momento do trabalho conta com cinco artigos, escritos por Flávio dos Santos Gomes, Ygor Rocha Cavalcante, Nielson Rosa Bezerra, Luciana da Cruz Brito e Marco Aurelio Schaumloeffel. Gomes analisa as experiências de fugas, nas fronteiras do Brasil colonial e da Guiana Francesa, nos séculos XVIII e XIX, atentando para as trocas culturais atlânticas, as experiências coletivas e as formas de resistência delas advindas. O autor enfatiza que as fronteiras coloniais não estabeleciam limites para tais trocas, demonstrando que as ideias circulavam entre os escravos, possibilitando, além das fugas, a migração ou a formação de mocambos, comunidades de escravos fugidos. Cavalcante também trabalha com a questão espacial, ao examinar a resistência escrava na fronteira amazônica do século XIX. Numa região marcada pelo povoamento indígena – nas regiões afastadas das cidades, pela interação entre indígenas e mestiços livres ou vivendo em diversas formas de dependência, e também pelo cultivo e preparo da borracha, atividade que exigia mobilidade – o trabalho escravo se organizava de maneiras diferentes daquelas encontradas no Sul e Sudeste, e até mesmo das regiões açucareiras do Nordeste. Dessa forma, a ação dos escravos e suas experiências acumuladas também se organizam de maneira própria. Bezerra analisa a trajetória de Mohammed Gardo Baquaqua, africano apreendido na África Ocidental e vendido como escravo, no século XIX, que, após uma verdadeira odisseia atlântica, com passagem pelo Brasil, Estados Unidos, Haiti e Canadá, conseguiu a liberdade, estabeleceu-se nos Estados Unidos e lá escreveu suas memórias, em forma de relato autobiográfico. Bezerra examina, então, a mobilidade espacial e a sociabilidade de Baquaqua, bem como seu relato, a fim de demonstrar como as pessoas escravizadas lidavam com os limites impostos pela escravidão. Brito analisa as perspectivas dos abolicionistas, dos Estados Unidos do século XIX, no tocante às relações raciais no Brasil. A autora aponta como o mito da democracia racial afetou a visão que se tinha sobre os direitos e o tratamento dado aos ex-escravos no Brasil, mostrando como tal mito espalhou-se e ganhou força mundo a fora, sendo utilizado como argumento, em querelas referentes aos direitos das pessoas de ascendência africana. Schaumloeffel encerra o livro, analisando a diáspora afro-brasileira, na África, com o caso dos Tabom em Gana. Esse grupo era formado por brasileiros descendentes de africanos que decidiram, espontaneamente, imigrar para a África, bem como por outros que, após se revoltarem, foram banidos para a África Ocidental. O autor toca nas questões relativas à formação de identidade desse grupo, bem como sua organização familiar política.
O artigo de Nielson Bezerra merece destaque, por demonstrar um exercício metodológico bastante interessante, ao preencher as lacunas da vida de Baquaqua com uma perspectiva historiográfica, a fim de entender o contexto brasileiro vivido por aquele africano. É importante notar, que o foco de Bezerra é o período que Baquaqua passou no Brasil, vivendo nas províncias de Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande. Assim, esse artigo não apenas descreve a vida de Baquaqua e o que pode ser encontrado em seu relato autobiográfico, como também analisa as relações escravistas, naquelas províncias, e seu impacto na vida dos africanos escravizados.
O uso de biografias de africanos, como fonte, é algo bastante recorrente na historiografia sobre a escravidão na América do Norte. Para o caso brasileiro, entretanto, o relato de Baquaqua é, até o momento, o único encontrado. Nesse sentido, o artigo de Bezerra pode servir, também, de reflexão, para pensarmos em outras formas de analisar trajetórias de africanos e africanas no Brasil: na ausência de relatos autobiográficos, a historiografia brasileira vem reconstruindo essas histórias, a partir de diversos tipos de fontes, como registros cartoriais, policiais e eclesiásticos. Convergir essa metodologia, com a análise feita por Bezerra, pode ser um exercício metodológico interessante.
Another Black Like Me pode ser lido, então, como um bom exercício de história social. Com sólido embasamento nas fontes, todos os nove artigos apresentam perspectivas que possibilitam compreender as pessoas escravizadas e suas descendentes como sujeitos ativos, ainda que limitados, por suas condições sociais, políticas, econômicas e históricas. Além disso, é um livro que lida com a identidade dos africanos e seus descendentes, entendidos no contexto da diáspora, no interior das formações e transformações de suas identidades, entendidas no contexto da longa história do negro na América Latina.
Daniela Carvalho Cavalheiro – Doutoranda em História Social da Cultura/UNICAMP. Campinas/São Paulo/Brasil. E-mail: [email protected].
BEZERRA, Nielson Rosa; ROCHA, Elaine (Org.). Another Black Like Me: the construction of identities and solidarity in the African diaspora. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 230 p. Resenha de: CAVALHEIRO, Daniela Carvalho. Identidades em questão: escravidão, liberdade e pertencimento no mundo atlântico. Outros Tempos, São Luís, v.12, n.19, p.268-272, 2015. Acessar publicação original. [IF].
As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América | Keila Grinberg
O livro “As Fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, compilado pela professora e historiadora Keila Grinberg é resultado de um seminário organizado pela mesma autora, e que foi realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em junho de 2011. Pode-se dizer que o seminário foi fruto do que diversos historiadores têm produzido nos últimos anos sobre o tema da escravidão e da liberdade nas fronteiras platinas. A nova historiografia da escravidão – como assim tem sido chamada – permitiu que novos assuntos entrassem em pauta, ampliando as facetas da organização da sociedade escravista e complexificando as relações entre senhores e escravos.
Em todos os textos que compõem este livro é possível perceber os novos debates realizados no seio da ciência histórica e que consequentemente afetaram também a temática da escravidão e da liberdade no sul da América. Novas narrativas, novos personagens, novas fontes. Parece que o célebre livro Nouvelle Histoire, organizado por Jacques Le Goff e Pierre Nora ainda dão eco em nosso tempo. O leitor verá também que cada artigo traz importantes contribuições de pesquisas desenvolvidas por especialistas na área. Não há dúvida que Keila Grinberg conseguiu unir em seu seminário os principais historiadores da atualidade que se debruçam sobre os temas da fronteira, escravidão e liberdade.
O texto introdutório de Keila Grinberg não busca ser somente um apanhado do que o leitor encontrará no livro, mas apresenta algumas questões que a autora considera pertinentes para entender a história da escravidão e liberdade no sul da América. A primeira delas é que o livro apresenta histórias de “pessoas escravizadas”. Ou seja, um olhar microscópico, em que as experiências dos indivíduos são ricas para se entender o intricado processo de formação dos estados nacionais. Lembramos aqui da própria tese da professora Keila, que buscou investigar a trajetória do mulato Antônio Rebouças e usou sua história como porta de entrada para entender questões de direito, justiça e cidadania no século XIX (O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002).
Sobre essa questão é importante recordar dos trabalhos de Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes (São Paulo: Companhia das Letras, 1989), e o de Giovanni Levi, A Herança Imaterial (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000). Ambos utilizavam a trajetória de um indivíduo para analisar os costumes de toda uma sociedade. Ginzburg usou o moleiro Menóquio para mostrar como um indivíduo excêntrico, que sabia ler e escrever num tempo onde isso era raro, tencionou com os dogmas da Igreja Católica. E Levi utilizou o pároco Chiesa para evidenciar a importância do nome e da influência de seu pai na vila de Piemonte. Estes trabalhos foram os grande ícones da Micro-História italiana e inspiraram toda uma geração de historiadores. Jacques Revel, já na década de 1990, trazia o conceito de jogos de escalas, em que a estrutura social e os indivíduos não eram antagônicos, mas eram visões diferentes que podiam ser somadas e complementadas. O leitor verá nesta resenha histórias de escravos e libertos enquanto sujeitos históricos, conscientes de sua vida e de seus limites.
Keila Grinberg também destaca o conceito de fronteira que os autores do livro utilizam. Não como uma barreira, um limite político que separam nações, mas como uma construção histórica. Afinal, a fronteira é também o que os atores fazem dela. É pertinente lembrar também do conceito de fronteira manejada, aplicada por uma das autoras deste livro, Mariana Thompson Flores, em sua tese recentemente publicada (Crimes de fronteira. A criminalidade na fronteira meridional do Brasil, 1845-1889. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014). Mariana faz uma excelente revisão historiográfica sobre este conceito, mostrando que os historiadores mais tradicionais buscavam uma fronteira que o ajudassem a justificar a condição brasileira original. Ou seja, transformar o Rio Grande do Sul integrado mais ao Brasil do que às colônias platinas. A partir da década de 1990 a fronteira passa a ser vista menos como um limite e mais com um espaço de trocas e embates. Esta visão, mais conciliatória, foi defendida por historiadores brasileiros (Helga Piccolo, César Guazzelli, Helen Osório, Enrique Padrós), mas também por estudiosos uruguaios e argentinos. Posteriormente, historiadores como Mariana Thompson Flores e Luís Augusto Farinatti, muito envolvidos em fontes primárias, perceberam que a fronteira era mais dinâmica do que as polarizações defendidas anteriormente. A fronteira manejada, ou seja, construída, era uma mutação que se alterava em virtude da ação humana e também dos conflitos políticos e sociais existentes no local. Este último conceito será bem percebido nos textos aqui resenhados.
Um dos temas mais frequentes que o leitor verá neste livro são as chamadas fugas para o além-fronteira, conceito cunhado pelo historiador Silmei Petiz. Keila mostrará que a fuga era coisa antiga, que desde a Colônia de Sacramento, em 1762, havia decretos que davam a liberdade aos escravos que fugissem. O mesmo acontecerá ao longo do século XIX, nas colônias espanholas de Jamaica, Cuba e Santo Domingo. Ou seja, as fugas traziam tensões e problemas diplomáticos, pois havia, em toda América, nações abolicionistas e escravistas que faziam fronteiras entre si. É o caso, por exemplo, de Brasil e Uruguai.
Hevelly Ferreira Acruche será a única historiadora a tratar do século XVIII e, mais especificamente, do caso de Buenos Aires, Argentina. Seu artigo apresenta duas histórias e três personagens: o primeiro, Joaquim Acosta, desertor de Rio Pardo, que fugiu em 1772 e obteve do vice-rei de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, a possibilidade de estabelecer-se em terras hispânicas como pessoa livre; e os pardos Jerônimo e Francisco, que vieram do Brasil para serem vendidos como escravos em Buenos Aires, porém, mesmo afirmando serem de condição livre foram devolvidos ao comerciante Domingos Peres, por não apresentarem provas suficientes de suas liberdades. Acruche aponta para uma questão importante: as histórias de Joaquim e de Jerônimo e Francisco tiveram resultados distintos, o que evidencia que as questões de escravidão e liberdade que chegavam a Buenos Aires eram complexas e precisam ser analisadas particularmente, dentro de contextos específicos.
O texto seguinte é da historiadora uruguaia Natalia Stalla, que apresenta dados interessantes sobre o peso demográfico da população africana no litoral e na fronteira do Uruguai. Seu artigo, a partir de uma análise mais quantitativa, analisou a população dos departamentos de Colônia e Soriano, regiões litorâneas, buscando comparar com dados anteriores sobre escravidão na fronteira com o Brasil. Em ambos os departamentos, a população masculina era mais numerosa do que a feminina, e tratava-se de uma escravaria jovem, contando com cativos em idade produtiva. No entanto, os números de escravos foram baixos. Em Colônia, 8% e Soriano, 7% dos habitantes. Principalmente, comparando com os dados de Cerro Largo (25%), Tacuarembó (29%), Rocha, (26%). A contribuição de Stalla está em evidenciar a população negra no Uruguai a partir de dados quantitativos, que permitem comparar com as populações afrodescendentes do Brasil e da Argentina.
O artigo de Rachel Caé trata da produção de discursos abolicionistas no Uruguai no ano de 1842, estudando principalmente como a imprensa percebeu o tema da liberdade e da cidadania dos negros, escravos e libertos. O jornal El Nacional defendia a abolição total da escravidão, já o El Constitucional rechaçava tal decisão. A imprensa em Montevidéu estava dividida. Não havia consenso. A contribuição de Caé está em mostrar que as questões de abolição no Uruguai não estavam, somente, atreladas a guerra, mas sim a um conjunto de discursos de liberdade que foram suscitados e eram anteriores ao conflito.
Em seguida temos o ensaio de Carla Menegat, que aborda a presença de proprietários brasileiros estabelecidos no Uruguai entre os anos de 1845 e 1864. A partir de um interessante conjunto de listas, Carla busca mostrar a importância da presença brasileira em solo uruguaio e utiliza a família Brum da Silveira para evidenciar as suas estratégias no que tange os negócios e sua cidadania. Seu trabalho também aponta para como os uruguaios trataram o processo de abolição da escravatura em virtude da presença brasileira em seu solo. Segundo Menegat, com o passar dos anos surgem campanhas de “orientalização” em busca de uma homogeneização da língua e do abandono do uso do português. Em outras palavras, se queria tornar o Uruguai mais unido e com uma identidade nacional própria.
O tema das fugas cativas volta em cena com o texto de Daniela Vallandro de Carvalho. Especificamente, Daniela trabalha com as fugas em tempos de guerra, usando como mote a Guerra dos Farrapos e a Guerra Grande. A autora utiliza também algumas trajetórias para dar vida e sentido para os planos dos escravos. Para Carvalho, a guerra era um excelente momento para que os escravos obtivessem a liberdade: ou por servirem em fileiras de guerra, ou para serem leais e conseguirem mais prestígio com seus senhores. Uma de suas importantes contribuições está em demonstrar que os cativos usavam o Exército para sua maior mobilidade e posterior liberdade.
O artigo de Marcelo Santos Matheus foca em um município fronteiriço específico, o de Alegrete. Sua questão-problema levantada foi como a fronteira influenciou diferentes agentes históricos, tanto os cativos como seus senhores. Alguns casos mostraram como os escravos utilizavam estratégias para chegarem à liberdade e ao mesmo tempo como os senhores manejavam a fronteira ao seu favor. Um dos destaques de seu texto está em mostrar como os escravos usavam a Justiça para conseguirem sua alforria, usando para isso uma interpretação das leis de abolicionistas uruguaias que servisse aos seus interesses. Foi o caso dos cativos que pediam alforria por terem trabalhado no Uruguai após a lei abolicionista de 1842.
Seguindo pelo pagos de Alegrete, o texto de Mariana Thompson Flores nos brinda novamente com o tema das fugas, mas deixa claro de que mesmo que tal assunto tenha sido abordado com frequência, ainda existem aspectos que merecem ser melhor explorados. É o caso do papel dos sedutores que ajudavam e convenciam os escravos a fugirem. Nos processos criminais analisados, Mariana encontrou cinco casos onde os escravos fugiam por conta própria e catorze situações onde houve a participação do sedutor, que os persuadia a uma vida melhor do outro lado da fronteira. A Justiça bem que tentou incriminar os sedutores de escravos e, em muitos casos, conseguiu. Porém, Mariana apresenta diversos casos empíricos que mostram como escravos e sedutores (homens livres ou libertos) aproveitaram deste contexto fronteiriço e se beneficiaram disso.
Continuando com o tema das fugas de escravos para o além-fronteira, Thiago Araujo apresenta o assunto em outra perspectiva, focando nas dificuldades do percurso e na difícil tarefa dos escravos romperem com o mundo da escravidão. Seu objetivo foi mostrar quais eram os mecanismos de controle e vigilância que os senhores acionavam num universo de escravidão na pecuária. A partir do caso de fuga de José, Leopoldino e Adão, Araújo mostra como os senhores de escravos precisavam pensar em políticas de domínio para evitar a fuga de seus cativos. Araújo evidencia que em alguns casos nem a família escrava impedia que os cativos fugissem.
Se Thiago Araújo investigou a fuga de escravos para o Uruguai, o texto de Rafael Peter de Lima aborda outra faceta da escravidão em regiões de fronteira: os sequestros e raptos de negros uruguaios que eram vendidos como escravos no Império do Brasil. Rafael mostra como era difícil definir a condição de afrodescendentes em áreas de fronteira. E mais do que isso. Os problemas diplomáticos e internacionais que surgiam devido a questão do fim ou da permanência da escravidão. Lima também apresenta dados muito interessantes como, por exemplo, o sexo e a idade das vítimas dos sequestros. As mulheres em idade produtiva eram as mais raptadas neste cenário. Por fim, Rafael também nos brinda com dados que apontam que os cônsules uruguaios tiveram sucesso na defesa dos negros orientais na Justiça. Em pouquíssimos casos eles permaneciam na escravidão.
E para finalizar temos o artigo da historiadora uruguaia Karla Chagas que, dos textos apresentados aqui, é o que mais se diferencia em termos de tema e delimitação temporal. Karla avança os marcos da escravidão e apresenta uma entrevista realizada a uma afrodescendente, Cecília, nascida em Rivera em 1904. Seu ensaio pretendeu analisar as linhas de ruptura e de continuidade que houve nas condições de vida da população afro-uruguaia na virada do século XIX para XX. Destacam-se as diferentes estratégias que Cecília utilizou para melhorar suas condições de vida como a fuga de uma casa onde a maltratavam.
O conjunto de textos ora apresentados mostra o avanço das pesquisas sobre a escravidão no espaço platino nos últimos anos. Infelizmente historiadores argentinos não escreveram textos para este livro. Mas muito se tem pesquisado sobre a influência e o impacto da fronteira na vida de senhores e escravos. Também a importância que as leis abolicionistas uruguaias de 1842 e 1846 tiveram para a (des)organização do sistema escravista brasileiro, principalmente, no Rio Grande do Sul. Este livro é o resultado deste cenário. Mostra, entre outras coisas, como as especificidades regionais precisam ser levadas em conta, mas sem perder de vista que os sujeitos históricos possuíam planos próprios que, por vezes, desafiavam o contexto que os mesmos estavam inseridos. Quem for ler o livro “As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, organizado pela professora e historiadora Keila Grinberg verá histórias individuais amalgamadas em um contexto mais amplo de disputa e consolidação dos Estados Nacionais. A riqueza está na coletividade e no diálogo que gerou este livro.
Jônatas Marques Caratti – Doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – Porto Alegre/Brasil). E-mail: [email protected]
GRINBERG, Keila (org.). As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. CARATTI, Jônatas Marques. Escravidão e Liberdade nas fronteiras platinas. Almanack, Guarulhos, n.8, p. 166-169, jul./dez., 2014.
Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado | Ricardo Salles
Publicado pela primeira vez em 1996 e reeditado em 2013, o livro Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado, do historiador Ricardo Salles, apresenta uma consistente reflexão intelectual, de matriz marxista, sobre o Estado imperial no século XIX. Encarando a história como práxis, o autor privilegia os conceitos gramscianos de bloco histórico e hegemonia para produzir uma história total capaz de ressaltar as articulações entre as esferas política, econômica e cultural. O resultado é um belo livro que reflete sobre a construção da nação brasileira no século XIX a partir de 3 fatores principais: o recrudescimento da escravidão, a formação de uma cultura nacional de caráter oficialista, e as inter-relações entre capitalismo, liberalismo e escravidão.
A partir da experiência vivenciada com a aprovação do plebiscito sobre o sistema de governo a ser empregado no Brasil (monarquia ou república) no início dos anos 1990, Ricardo Salles constata a existência de uma “nostalgia imperial” na consciência coletiva dos brasileiros. Tal sentimento, difuso entre as camadas populares e acentuado nas elites intelectuais, se basearia na percepção de que “houve um tempo [o Império] em que o Brasil era mais respeitável, mais honesto, mais poderoso”(p. 18). Como este sentimento foi construído no imaginário social brasileiro? Quais circunstâncias históricas atuaram neste processo? Por que com mais de cem anos de existência a república não foi capaz de reverter esta imagem?
Estas perguntas guiam o autor ao longo dos cinco capítulos que compõem o livro. Como fios condutores, são uma escolha inteligente para tratar das múltiplas partes – cultura e imaginário social; política e formação da classe senhorial; liberalismo, escravidão e capitalismo – que compõem o todo, o edifício imperial, sem abrir mão de sua complexidade. O resultado é uma narrativa de grande erudição, que discute com as historiografias sobre a formação do estado nacional, escravidão, capitalismo, ao mesmo tempo em que é capaz de transitar entre os universos micro e macro para apresentar uma interpretação geral do Império.
A chave explicativa apresentada por Ricardo Salles para o sentimento nostálgico em relação ao Império é, ela própria, um fenômeno complexo. Na visão do historiador, a limitação das oligarquias tradicionais em consolidarem a obra republicana, até pelo menos os anos 1930, não explica a força da monarquia na “esfera mítica da história nacional”. Ao contrário, a imagem positiva do Império se deveu a três aspectos fundamentais. Primeiro, após o 15 de novembro, políticos, intelectuais e historiadores ligados à monarquia – a exemplo de Capistrano de Abreu, visconde do Rio Branco, Pedro Calmon, Oliveira Vianna e outros – combateram a república com um discurso que reforçava seu caráter excludente e exaltava os progressos do Império, como estratégia de crítica ao novo regime. Segundo, o próprio estado imperial foi bastante eficiente ao produzir uma dada imagem de si mesmo que dialogasse com o passado, o presente e o futuro da nação. Desta forma, a “nostalgia imperial” não se resumiria à obra destes historiadores, políticos e ensaístas. Ela seria fruto do investimento do estado em setores estratégicos a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Belas Artes e artistas ligados ao movimento romântico. Terceiro, o ideal de civilização imperial que, durante a vigência da monarquia, tinha a escravidão como base, não foi desarticulado com a República. A crítica moral à escravidão, efetivada internamente pelo movimento abolicionista e externamente por diversos setores internacionais, não trouxe a superação das mazelas da escravidão. Mesmo tendo impedido a reprodução do regime escravocrata no Brasil, a abolição não conseguiu remover a noções de diferença e hierarquia da base de nosso edifício social. Como resultado, em pouco tempo, foi possível aos grandes proprietários rurais recomporem suas forças garantindo mão de obra barata e primazia na ocupação dos poderes locais. Assim, a espoliação da cidadania e a exclusão econômico-social se mantiveram no tempo e nos anos de 1990 permaneciam na base do sentimento de “nostalgia imperial”.
No que compete às discussões sobre a construção do estado, o projeto político e a cultura imperial, o livro de Ricardo Salles retoma a interpretação de Ilmar Mattos em “Tempo Saquarema” (1987) e concebe os processos de construção e consolidação do Estado imperial como elementos interligados e concomitantes à constituição de uma hegemonia de classe: a dos senhores de escravos. Segundo ele, este grupo era formado por grandes proprietários de escravos e terras, principalmente da região sul-fluminense, cujos interesses se viram representados pela política conservadora a partir dos anos de 1840. Neste contexto, coube à chamada classe dirigente expandir os ideais de “manutenção da ordem” escravocrata e “expansão da civilização” (baseada em ideais europeizantes) de modo a transformá-los em valores e práticas inerentes ao próprio Estado Imperial.
Este projeto vitorioso foi conduzido e produzido por intelectuais vinculados tanto à fração dirigente da classe dos senhores, os grandes proprietários fluminenses, quanto ao próprio aparelho estatal. Contudo, na análise apresentada, o autor ressalta os diversos interesses políticos, econômicos e sociais em jogo. Afinal, para que a sociedade escravista imperial se efetivasse foi necessário “o deslocamento crescente do nível de realização dos interesses da classe dominante escravista do plano imediato da produção e manutenção direta das relações de produção” (p. 39) para o âmbito do estado. A política implementada pelos políticos conservadores a partir do Regresso conseguiu realizar uma acomodação entre as diferentes forças políticas e sociais em torno dos projetos de preservação da escravidão e de fortalecimento do aparato estatal (p. 52). Atuando como importante amálgama dos interesses das classes dirigentes, a escravidão se desenvolveu de forma original e plena no Brasil oitocentista, além de favorecer a expansão do capitalismo no mundo. Todavia, para além dos aspectos políticos e econômicos, o projeto escravista imperial foi capaz de criar um conjunto de valores próprios, uma base cultural, um modo de vida em particular a que Ricardo Salles denominou de “civilização imperial”.
Pensadas por este prisma, as noções de civilização imperial e cultura nacional se interpenetram. No que compete à cultura nacional em formação, dois aspectos são ressaltados pelo autor: a valorização de elementos ligados à herança colonial (tais como língua, cultura, influências africana e indígena) e a produção de singularidades através da cultura letrada com destaque para o romantismo e o indianismo (p. 65). Como resultado, verificou-se uma produção cultural obstinada em desenhar “a cor local”, “o que nos era próprio”, resultando num discurso que valorizava as heranças rural, africana, indígena e portuguesa (p. 91), respaldadas num forte caráter oficialista. Todavia, neste processo, também foi importante manter um diálogo com a modernidade, horizonte de civilização e progresso, que tinha Europa como o modelo a ser seguido. Portanto, no plano discursivo, o Império se pretendia “uma civilização europeia transplantada para a América”. A cultura imperial que daí emergiu foi fruto desta expectativa somada à prática cotidiana da escravidão.
Embora a interpretação gramsciana da dinâmica política e social do Império aproxime as análises de Ricardo Salles e Ilmar Mattos, é importante apontar que o peso dado pelo primeiro às relações escravistas e ao papel dos escravos como agentes fundamentais no entendimento da sociedade oitocentista (a exemplo de seu papel nos diversos abolicionismos, nos movimentos nativistas, e em suas próprias rebeliões) os diferencia. Além da forma de exploração, símbolo de poder e status social, para Ricardo Salles a escravidão negra é constituidora das formas de agir, sentir e pensar da sociedade imperial. Sua manutenção era o ponto de interseção entre os membros da classe senhorial, cujos interesses serviram de base para a consolidação de uma hegemonia de classe forjada no próprio processo de construção das instituições políticas e do estado imperial, mas também a força material do Império.
Mais do que um aspecto interno, “a escravidão estava na raiz do mundo moderno” (p. 95) e colocava o Brasil na rede de relações comerciais vigentes. Na posição de países exportadores, Brasil e sul dos Estados Unidos desenvolveram organizações políticas complexas para garantirem a manutenção do regime escravista em seus territórios. Os produtos primários ali gerados (café, açúcar, algodão e outras commodities) a baixos preços representavam grandes negócios, envolviam imensas somas de capital e investimentos em tecnologias com o intuito de aumentarem a produção e manterem as áreas de produção integradas ao sistema capitalista. Tais aspectos permitiram o florescimento de civilizações em que o liberalismo e os valores a ele ligados (indivíduo, cidadania, direitos políticos e direito de propriedade) puderam se desenvolver de modo específico, na maior parte das vezes, atendendo aos propósitos da classe dominante.
A escravidão era, portanto, a matriz fundadora e estabilizadora da sociedade imperial. Quando, a partir dos anos de 1870, a mesma passou a sofrer forte crítica no cenário internacional e sua contestação se expandiu no âmbito interno através da fuga de escravos e do movimento abolicionista, instaurou-se uma crise de hegemonia. Ricardo Salles explica este processo como decorrente de dois fatores principais. Em primeiro lugar, o fim do tráfico no Brasil possibilitou a composição de uma “escravidão madura” em torno da década de 1860. Ou seja, o número de escravos crioulos era maior do que de africanos, proporcionando uma maior integração dos mesmos ao extrato cultural vigente. Em segundo lugar, a elevação do preço dos escravos ocorrida após 1850 causou uma concentração desta mão de obra fazendo com que, a defesa da escravidão deixasse de ser um interesse da maioria dos brasileiros para se tornar um privilégio de alguns poucos grandes proprietários fluminenses. Neste ambiente, o Império se mostrou incapaz de atender às necessidades de uma sociedade em modernização econômica, expansão demográfica e com um leque ampliado de demandas sociais. Em pouco tempo, a crise de hegemonia encontraria a crise política. O fim do regime monárquico estava próximo.
O livro em tela é por tudo o que foi dito, uma instigante leitura onde narrativa, teoria e práxis ocupam espaços privilegiados na construção de um modelo explicativo para a formação e consolidação da nação no Brasil. Trata-se de uma obra obrigatória para os estudiosos do Oitocentos e para todos aqueles que se interessam pelas questões referentes à construção do estado. Mas, não somente isso. “Nostalgia Imperial” também instiga a pensar sobre como a exclusão é constitutiva de nossa sociedade atual. Aponta como a matriz escravista produziu afastamentos históricos entre povo e cidadania, entre povo e estado/nação, até hoje presentes. Para os interessados, fica o convite à reflexão.
Mariana de Aguiar Ferreira Muaze – Professora adjunta III no Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio – Rio de Janeiro/Brasil). E-mail: [email protected]
SALLES, Ricardo. Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de Janeiro: Editora Ponteio, 2013. Resenha de: MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. As partes e o todo: uma leitura de “Nostalgia Imperial”. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 165-168, jan./jun., 2014.
é, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898) | Patrício Teixeira Santos
A obra Fé, Guerra e Escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898), recém editada pela Editora FAP-UNIFESP, trata de um tema atual, instigante e ainda pouco explorado pela academia brasileira, seja pela dificuldade do acesso às fontes, seja pelo tardio interesse pelos estudos periféricos, como podem ser considerados os estudos africanos e asiáticos.
Este é um duplo desafio que a autora aceita magistralmente: vai em busca das fontes e traz a público e para a academia a premência da dedicação aos estudos ainda pouco abordados, o que significa também dizer da necessidade de criar um campo conceitual e teórico específico, que não seja uma mera transposição dos estudos realizados na Europa ou nos EUA, para tratar do continente africano.
O tema é instigante e atualíssimo, se considerarmos todas as veiculações da mídia acerca dos acontecimentos da chamada Primavera Árabe e seus desdobramentos e explicações que passam pela simplicidade de rótulos: fanatismo, intolerância, ignorância, fundamentalismo ou, simplesmente, islamismo. Há ainda um aspecto contundente desta história recente: a criação, em 2011, do 195° país do mundo: o Sudão do Sul, de maioria cristã, desmembrado do Sudão, de maioria muçulmana.
Notadamente, o ponto de partida da obra são as relações entre cristãos e muçulmanos no Sudão no período compreendido entre 1881 e 1898, correspondendo à experiência da instauração de um Estado Islâmico em decorrência do movimento mahdista, liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi.
Partindo de sua pesquisa de doutorado, a autora revisitou sua obra com a realização de pesquisa de pós-doutoramento que a levou a recolher documentos, pesquisar em diferentes acervos e bibliotecas e ainda refletir com colegas de universidades internacionais para chegar ao formato final de sua pesquisa, que ora se publica em formato de livro.
A originalidade está não só na escolha do tema como na seleção das fontes e suas interpretações, abrindo caminho para a construção e consolidação do campo de estudos de História da África no Brasil, indo além das questões, não menos importantes, dos temas diaspóricos ou relacionados à história do Brasil.
As fontes são ricas e variadas: relatos e cartas de missionários, depoimentos e discursos das fontes missionárias, manuscritos, periódicos e outras publicações missionárias, fonte oral, além da documentação produzida por militares e comerciantes europeus, documentação produzida pelos muçulmanos no Sudão e importantes obras bibliográficas de referência e de cunho geral.
Tais documentos permitem tratar das formas de pensar, do juízo de valores, das percepções e das formas de convivência com o outro, ou dito de outra forma, de como ver o outro. É tratar ainda das representações recíprocas de cristãos e muçulmanos, não apenas a partir da história destas relações, mas como esta história foi construída, elaborada e apropriada. E, logicamente, há uma discussão historiografia sobre as formas de escrita desta história.
Ainda que o tema central seja o surgimento da Mahdiyya e do Estado Mahdista liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi, há uma pluralidade de temas interrelacionados, interligados, intricados e que, pelas mãos da autora, dialogam, no melhor exemplo do que se espera da disciplina histórica. Trata-se da História do Sudão no século XIX, mas também da história do Império Turco-Otomano e de sua crise ensejada pela disputa com a Áustria e a França (esta vista como a protetora dos cristãos do Oriente); da história do colonialismo europeu dos séculos XIX e XX, marcado pelas disputas francesa e inglesa, mas também do “subimperialismo” egípcio na tentativa de dominação do território sudanês; da história da Igreja e de seu papel na corroboração do projeto imperialista europeu, seja nas tentativas de evangelização da África, seja na forma de encontrar seu novo papel no momento da formação e consolidação dos laicos Estados nacionais; da disputa pela expansão da fé pelas missões católicas em concorrência com os cristãos orientais (coptas e ortodoxos) e com os protestantes ingleses; da expansão islâmica pela vertente do sufismo e do mahdismo; das interpretações da história sobre a história do Sudão, do sufismo e do mahdismo, num contexto de fé, guerra e escravidão.
O objetivo da obra é analisar as visões construídas sobre o mahdi e o Estado Islâmico criado no Sudão, a partir das interações dos missionários com essa experiência histórica. A partir daí, discute-se o papel da religião na formação da nação sudanesa, como reação ao poderio colonial anglo-egípcio, cujo caminho escolhido será o do messianismo e do poder estatal. É neste contexto que se insere o papel do catolicismo e das ações missionárias como “mediador espiritual do laico projeto colonial britânico e do novo estado religioso”. Trata-se então de compreender os valores civilizacionais cristãos na implementação do Estado sudanês.
A obra está estruturada em quatro capítulos, cada um deles subdivididos na exploração de temas que, num crescendo, vão descortinando a complexidade e pluralidade desta história: imperialismo e subimperialismo; sufismo, misticismo, mahdismo e messianismo; cristianismo, ação missionária e colonização; a trajetória do mahdi e o processo de criação do Estado Islâmico, assim como de seu significado histórico e religioso e as interpretações historiográficas sobre esse significado. Entre os temas abordados e analisados, alguns aspectos instigantes podem orientar a leitura, que ora apresentadas não estão por ordem de importância nem seguem à risca a construção feita pela autora.
O primeiro aspecto trata do papel das missões católicas europeias no Sudão, não voltadas apenas às ações proselitistas, mas como necessidade e garantia da própria sobrevivência institucional da Igreja fora da Europa, em decorrência da separação da Igreja e do Estado e dos processos de laicização. Dessa forma, África e Ásia serão campos de disputa para a expansão da fé católica, sendo necessária a conquista de almas, para isso concorrendo não só com os muçulmanos, mas com outras formas cismáticas de cristianismo (o oriental, como os ortodoxos e os coptas, e o protestante), como também para a perpetuação institucional e ideológica da Igreja Católica. Nesse sentido, o discurso do branco-europeu-civilizador foi incorporado também pela Igreja num processo interativo entre missão-colonização, cujo papel se traduziu na ação civilizatória católica entre povos não-brancos e pela propagação do “fim da maldição de Cam” com a redenção de todos os povos, africanos inclusive, pelo sangue de Cristo.
Para a efetivação desse projeto era necessário desqualificar o outro, construindo uma visão do muçulmano na lógica do estereótipo do oriental: indolentes, maliciosos, perversos, imersos na preguiça oriental, invejosos, competitivos, violadores das liberdades, do direito e do progresso, traficantes, brigões, ladrões, fracos, supersticiosos, entre outras adjetivações que corroboram a construção da imagem do outro na Europa branca-civilizada. A ridicularização, a violência, a fraqueza e a ignorância também eram modos de desqualificar o outro. Era necessário ainda desqualificar o islã, o profeta e seus crentes: “Maomé não era outra coisa senão um profeta do diabo, o seu livro um acúmulo de erros, e os amuletos uma vã superstição” (p. 153). Sobre as mulheres também pesava a degradação pela barbárie, pela sedução da magia e do encantamento, pela superstição e pela religião, como na seguinte passagem: “Perguntei se porventura aquela mulher era louca, e me respondeu que era muçulmana” (p. 153).
Assim, o campo de ação missionária deveria ser justamente onde esses males pudessem ser combatidos por meio da conversão à fé católica, unindo projeto evangelizador com projeto civilizador no Sudão: os resgatados da escravidão, as mulheres e as crianças. A conversão missionária se daria pela salvação dos escravizados, longe do jugo de seus senhores; das mulheres, libertas da escravidão, do concubinato, da prostituição; das crianças abandonadas como resultado do “abuso e da não consciência do homem branco”. Estes seres degradados poderiam ser regenerados pela ação missionária, por meio do controle do corpo e da sexualidade como formadores de virtudes, seja pelo casamento católico, seja pela inserção na vida monástica e, sobretudo, seriam agentes propagadores da fé e moral católica como forma de expressar sua gratidão, docilidade e submissão.
Nesse sentido, a ação do mahdi e sua construção de um Estado Nacional Sudanês baseado na fé islâmica só poderia ser compreendida como desvario, farsa, delírio, messianismo de um líder inconformado com “a presença europeia, avesso às inovações modernas e às contribuições científicas e religiosas do Ocidente” (p. 164)
Ainda que possa parecer paradoxal, do ponto de vista religioso há uma convergência entre os objetivos da missões católicas e do Estado mahdista no tocante à obra civilizatória sobre as “populações negras africanas” e “não árabes” empreendida pelo mahdi, que iam ao encontro da moralidade cristã no que se refere à disciplinarização dos corpos, controle da sexualidade, amor ao trabalho, combate ao adultério e ao roubo, com uma eficiência pedagógica e disciplinadora, baseadas na punição e nos castigos físicos.
Da mesma forma, o Estado mahdista se utilizou do mesmo expediente da conversão dos missionários católicos por meio da combinação da sedução e da coerção, do amplo conhecimento da fé católica, de aventar a possibilidade de participação no Estado, mas também por meio da força física, da conversão forçada, da imposição dos casamentos, da disciplinarização dos corpos, entremeando sensações e experiências de repulsa e admiração. A inserção na moralidade islâmica dos povos subjugados e dos missionários católicos por meio da conversão forçada ou não ajuda a compreender como se deu o processo de construção de linhagens fundadoras do Estado mahdista, como aponta a autora.
O êxito da mahdiyya foi decorrente uma conjunção de fatores ligados à mística sufi, da inserção e incorporação de povos não árabes em seus domínios, da apropriação de expedientes e vocabulários das práticas missionárias cristãs, da manutenção do tráfico de escravos, bem como da apropriação de estruturas militares e administrativas otomanas-egípcias e inglesas, num processo de incorporação de diversos elementos previamente existentes na criação do novo Estado singular e que conseguiu sobreviver até 1898, mesmo depois da morte do mahdi.
Nesse sentido, e ironicamente, é possível concluir que nas relações dos missionários católicos com o Estado mahdista o que a autora observa é que “a experiência mahdista, sobretudo a dos primeiros religiosos, abalou certezas sobre o que se conhecia no campo intelectual europeu a respeito da ‘limitações do oriental” (p. 178), sua ignorância e ingenuidade, e numa perspectiva historiográfica mais recente de avaliar o Estado Mahdista como “a primeira experiência sudanesa de Estado independente” (p. 175).
Samira Adel Osman – Professora no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: [email protected]
SANTOS, Patrício Teixeira. Fé, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898). São Paulo: FAP/UNIFESP, 2013. Resenha de: OSMAN, Samira Adel. Cristãos e Muçulmanos no Sudão: a experiência da Mahdiyya muito além da intolerância e do fanatismo religioso. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 169-172, jan./jun., 2014.
Escravidão e Pós-emancipação | Revista Latino-Americana de História | 2013
Poucos anos atrás, invariavelmente começávamos uma palestra ou aula sobre os temas deste dossiê, (re)afirmando os poucos trabalhos existentes, principalmente baseados em pesquisas empíricas sólidas. A palavra invisibilidade era reiteradamente usada para mostrar o descompasso existente entre a histórica presença da população afro-descendente e a pouca relevância da análise deste segmento populacional nos ambientes acadêmicos, principalmente regionais.
Hoje em dia a situação já é bem outra, principalmente quando ao primeiro tema elencado. Graças à emergência dos programas de pós-graduação em história nos últimos anos, temos uma razoável produção sobre o nosso passado escravista, apesar das inúmeras lacunas ainda existentes. Leia Mais
Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial | Dale W. Tomich
O século XIX foi palco do surgimento de uma combinação entre regimes de trabalho distintos dando impulso ao capitalismo industrial em sua fase de acentuação da divisão internacional do trabalho entre diferentes áreas administrativas nas Américas, no Caribe, na África e na Europa. Essa frase ainda pode causar certa estranheza tanto para os estudiosos das interações sociais relativas à mão de obra livre e assalariada, adotada nos meios de produção industriais, quanto para os que se debruçam nas análises das mais variadas formas em que o trabalho do escravo africano e de seus descendentes diretos assumiu nas Américas e no Caribe. Entretanto, esse não é um problema para Dale Tomich, mas sim o seu ponto de partida, a sua questão a ser explicada. Antes de tudo, vale dizer, ele não negou a possibilidade da existência daquela estranha, para alguns pesquisadores, combinação, como se fosse uma evitação de formas de relações patrão-empregado ou senhor-escravo e os seus papéis nos meios de produção e de escoamento das mercadorias. Para Tomich, não há como se compreender a produção capitalista de maneira independente do entendimento dos mecanismos em que são realizadas as trocas de mercadorias, isto é, perscrutando as diversas maneiras de produção de mais-valia, preço, compra e venda como chaves de leitura conceituais da construção de mercados por pessoas de carne e osso. Leia Mais
Esclavos de la ciudad letrada: esclavitud, escritura y colonialismo en Lima (1650-1700) | José Ramón Jouve Martín
A produção historiográfica acerca da escravidão e da presença africana na América tem se mostrado prolífica desde as duas últimas décadas do século passado. José R. Jouve Martín elegeu como tema principal dessa obra a análise da apropriação e uso da cultura letrada por africanos e seus descendentes trazidos à porção espanhola do Novo Mundo, a partir do século XVI. O autor aborda precisamente a população negra de Lima, no Peru, durante a segunda metade do século XVII, quando esta cidade apresentava-se, segundo os censos realizados entre a segunda metade do século XVI e a primeira metade do seguinte, como um território cujos habitantes eram predominantemente afrodescendentes.
Martín se confessa entre aqueles que, inspirados por Frederick P. Bowser,1 buscam analisar e elucidar a questão da escravidão na perspectiva da História Cultural, focando sua análise na forma como negros, mulatos e zambaios recorreram ao uso da escrita para interagir com a elite dominante. Apoiado em estudos encetados desde a metade do século XX que lhe permitiram, de acordo com suas palavras, ampliar seu conhecimento acerca da escravidão e do papel desempenhado pelas pessoas de origem africana na configuração do mundo atlântico, notadamente no Virreinato del Peru, o autor analisa o cotidiano desses homens e mulheres praticamente ignorados nas histórias oficiais do e sobre o período assinalado, evidenciando a complexidade dos processos de sua inserção nas sociedades hispânico-americanas. Leia Mais
O Alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (c.1822-c.1853) | João José Reis e Flávio dos Santos Gomes
Nas últimas páginas de Alufá Rufino os autores ressalvam, talvez tardiamente, sobre as impressões que os leitores possam ter a respeito de uma inversão na imagem da escravidão atlântica, na verdade não uma inversão, mas outra versão, em que o binômio bom/mau se torna difuso. Tradicionalmente, a idéia de maldade para o catolicismo, o pecado (o mau) como oposição às coisas de Deus, como pensava São Tomás de Aquino, poderia ser aplicada para opor a religiosidade de Rufino, um Alufá – um mestre de sabedoria para uma corrente do islamismo – a sociedade branca oitocentista brasileira, mas não é o que acontece nas entrelinhas de sua história.
A religiosidade de Rufino não é vista neste livro como um fardo para o africano Rufino, ao contrário, tornar-se Alufá faz parte de uma série de escolhas que fizeram ímpar sua trajetória. Outros ex-escravos, vindos também da África e com uma vida dissonante da grande maioria, amealharam dinheiro, algumas vezes originário do tráfico negreiro, ou gozaram de certa relação privilegiada na comunidade, geralmente da relação com os cultos adivinhatórios, como mostrou João José dos Reis, um dos autores aqui, em seu livro sobre Domingos Sodré.
É preciso lembrar que os leitores referidos não são necessariamente historiadores ou aqueles que já leram as obras mais recentes que tratam da complexa rede que estruturou a escravidão, textos que discutem o fato de que não só na África houve comércio de escravos por negros. No Brasil, alguns libertos conseguiram adentrar, em pequeno volume, neste negócio.
Como o livro parece ter sido escrito para um público leitor maior do que o alvo de obras acadêmicas, as explicações sobre as nuanças mostradas sobre a vida de Rufino podem ter uma intencionalidade, talvez uma escrita que queira ser mais próxima de uma narrativa romanceada, com um personagem multifacetado que vai se modificando ao passar das páginas. Claro que Rufino não se transforma num personagem caricato aos moldes dos folhetins, suas experiências em diversas partes do Brasil e depois em navegações atlânticas o conduzem a uma série de oportunidades, como possivelmente ter aprendido o preparo de ungüentos com seu senhor, um boticário; ter se tornado um pequeno comerciante transatlântico e talvez de escravos; e ainda ter estudado em escolas islâmicas, aprendendo inclusive a ler e escrever árabe, o que provavelmente possibilitou sua condição de “mestre” em Pernambuco.
Estas oportunidades que levam Rufino a uma condição singular na história do tráfico negreiro do século XIX, também possibilita que os autores do livro o utilizem como um guia para diversos assuntos, como a empresa marítima do tráfico ilegal, a diversidade étnica e religiosa dos escravos e a sociedade branca brasileira, esta última através das páginas de jornal que noticiaram o caso da prisão de Rufino.
Algumas questões chamam a atenção neste livro, primeiro à alforria de Rufino, que além de inusual em sua forma, um documento que mais se aproxima de um alvará, o que podia ser uma forma também diferente dos padrões para um acordo com seu senhor, nos mostra sua desenvoltura na sociedade escravista, já que parece ter conseguido arrecadar o valor que se pagaria por um escravo no Rio Grande do Sul e assim comprar sua alforria. Segundo, a maneira que ele transitava no universo mercantil atlântico, com certas regalias, como a de levar caixas de goiabada numa embarcação, possivelmente de tráfico, para serem comercializadas na costa africana. E depois, continuar pleiteando os direitos a reparação de sua carga apreendida no Ermelinda, detida por acusação de tráfico de escravos.
Também é curiosa a certa tolerância de uma sociedade dominante cristã a religião do Islã praticada pelos africanos, sendo eles ladinos, mais experientes nas relações com os brancos, ou boçais, que deveria trazer suas convicções religiosas mais firmes, pelo menos com as práticas mais frescas na memória.
A curiosidade sobre a alforria de Rufino é que ele pode ter negociado sua liberdade através de um acordo muito particular, o que talvez justifique um documento que normalmente não serviria para este fim. Sendo Peçanha, senhor de Rufino, uma autoridade jurídica, atuando nesta peça como juiz e senhor, o documento tem até um peso maior, dando plenos direitos à liberdade, sem citar o valor de contrato. Isto mostra que havia um dinamismo na relação senhor-escravo2 que permitia certos acordos, os autores levantam a possibilidade que Rufino tenha pagado ao senhor 600 mil-réis, mas este dado não está incluído no documento por ser este um ato jurídico, como já dito, de uma atuação dupla, de autoridade e interessado ao mesmo tempo. Acredito que esta negociação pode ainda ter outros ingredientes que não foi possível demonstrar na pesquisa.
Se então Rufino pagou a importância declarada por ele, mostra que sua ladinização fora frutífera, talvez, como mostram os autores, ele já tivesse amealhado alguma importância ainda nas ruas da Bahia. A atividade comercial, feita por escravos de ganho, tornou-se tão disseminadas em algumas cidades brasileiras que gerou pressões de comerciantes sobre as autoridades. Em Salvador uma medida tentou regularizar a atividade comercial de rua, em 1835 a câmara da cidade editou lei que obrigava a fazer uma matrícula com nome, nome do senhor (caso fosse escravo), tipo de venda, tendo que ser atualizada mensalmente (Reis, p18, 1993).3
Sobre a capacidade de Rufino de utilizar as brechas existentes na sociedade escravagista brasileira é interessante também sua história atlântica, depois de ter vindo agrilhoado nos porões insalubres dos tumbeiros, alguns anos depois, já liberto, comandava a cozinha de embarcações que provavelmente alternavam sua carga entre mercadorias e escravos. A cozinha, como os autores destacam incisivamente, seria muito importante para o negócio ultramarino de cargas vivas, principalmente porque estar em alto-mar não permitia que as pessoas tivessem boas chances de permanecer vivas ante alguma doença violenta, as condições de transporte eram as piores possíveis. Uma provável condição de conhecedor das práticas de um boticário aumentaria o cartaz de Rufino, controlar a qualidade mínima dos alimentos e ainda ter algum tipo de conhecimento para aliviar um mal que pudesse ser tratado ali deveria fazer dele um profissional desejado pelas companhias atlânticas.
Decerto esta importância facilitou com que Rufino tivesse a oportunidade dele mesmo fazer um comércio atlântico, se ele conseguiu mesmo os 600 mil-réis que disse ter pagado por sua alforria, o preço médio de um escravo, não seria estranho pensar que ele tivesse certo traquejo para a negociação. O que também chama a atenção é que, de volta ao Brasil, seus contatos com os donos do Ermelinda não cessaram, provavelmente pelo interesse mútuo, se Rufino queria ser ressarcido por suas goiabadas estragadas, também seu nome constava como papel importante no processo de apreensão da embarcação.
Na última viagem de Rufino à África, ele continuou se aperfeiçoando nos estudos, desta vez o tempo que passou na escola de Fourah Bay parece ter sido suficiente para lhe preparar para ser um mestre islâmico, um Alufá, quando voltara para o Brasil. Apesar dos documentos que foram utilizados na pesquisa do livro se tratar de uma prisão e sua repercussão na imprensa, parece que em certa medida a religião de Maomé era mais tolerada que os cultos dos orixás. O que era estranho em vários sentidos, pois também praticavam adivinhações e uso de objetos rituais simbólicos em suas práticas.
Rufino, por exemplo, sobrevivia de curar males, prever o futuro e até mesmo retirar feitiço. E se a imprensa chamava quem praticavam tais atos de velhacos e oportunistas, é de se estranhar que Rufino tenha sido tratado diversas vezes por mestre ou por homem de sabedoria. Talvez a sua capacidade de escrever e ler árabe o colocasse numa posição diferente dos demais cultos, ou mesmo a sua clientela fosse a responsável por esta diferenciação. Ou seja, alguns brancos também acreditavam na capacidade espiritual do Alufá, não se sabendo quantos ou se os mesmo eram influentes.
Rufino dá margem para pensarmos que a relação entre negros e a sociedade branca brasileira, pelo menos nos subterrâneos, era permeável e que possibilitava até mesmo uma inversão de lugares, o Alufá era o mestre que propiciava conhecimento a quem o procurava, como podemos imaginar pelo relato de Rufino não eram somente os negros.
O livro termina deixando claro que Rufino foi um personagem da história brasileira, ou de uma história atlântica, que soube utilizar as fissuras da sociedade para sobreviver à violência da escravidão. Alguém que reconstruiu seu espaço, se colocando num outro lugar da embarcação negreira, os autores mostram que ele literalmente mudou de lado em relação à caldeira.
Esta reconstrução do espaço, dentro de possibilidades, é claro, se deu não só na relação econômica, mas em sua atividade social, reafirmando sua crença islâmica, ser Alufá o colocou numa posição de destaque numa pequena comunidade de escravos e libertos malês, e em certa medida, também o destacava na sociedade dominante. Rufino foi um guia dos autores para revelar relações que ocorriam na penumbra, que não são percebidas num rápido passar de olhos, mas que são importantes para entendermos a formação da sociedade brasileira, que se pensarmos em Gilberto Freyre, se tornaria cada vez mais matizada.
Notas
2. Para compreender mais sobre essa relação ver CHALLOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
3. João José Reis. A Greve Negra de 1857 na Bahia. Revista USP, 18, 1993.
Tissiano da Silveira1 – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista CNPq. E-mail: [email protected]
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim de. O Alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (c.1822-c.1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.Resenha de: SILVEIRA, Tissiano da. A trajetória singular de Rufino. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.30, n.2, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços – PAIVA et al (S-RH)
PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira; AMANTINO, Márcia (Orgs.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. Belo Horizonte: PPGH-UFMG; São Paulo: Annablume, 2011, 284 p. Resenha de: SILVA, Kalina Vanderlei. Um manifesto sobre os usos dos conceitos na História. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [27] jul./dez. 2012.
Dentro do atual cenário acadêmico brasileiro, e de suas rigorosas exigências em torno da produção científica – exigências muitas vezes mais quantitativas que qualitativas –, os grupos de pesquisa vêm agindo como verdadeiros palcos para o desenvolvimento do debate científico e da pesquisa sistemática, chamando a atenção tanto das instituições de investigação quanto das agências de fomento. No entanto, especificamente no campo historiográfico, nem todos conseguem de fato realizar um trabalho efetivo de diálogo entre diferentes instituições e ao mesmo tempo apresentar os resultados para o público mais amplo de pesquisadores.
Nesse sentido, o Grupo de Estudos Escravidão e Mestiçagens tem se destacado positivamente por conseguir ultrapassar as exigências básicas postas a seus congêneres ao reunir regularmente pesquisadores de várias regiões brasileiras. Seus integrantes compartilham um interesse temático que gira em torno da diversidade de situações coloniais – sempre observadas em suas especificidades, mas jamais desligadas das múltiplas conexões externas às Américas – e de uma preocupação teórico-metodológica com os conceitos empregados na construção do saber historiográfico.
Apesar de sediado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, o grupo – cujos primórdios datam de uma primeira reunião realizada no âmbito do XXIII Simpósio Nacional de História2 – não apenas congrega historiadores para discutir conceitos teóricos e metodologias de investigação, mas também vem produzindo obras de qualidade, como o recente Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços.
Privilegiando uma metodologia comparativa, embasada sempre em detalhada pesquisa documental cujos objetos são colocados em espaços coloniais específicos e bem definidos, os autores discutem as possibilidades conceituais no estudo da escravidão e das mestiçagens coloniais, inquietando-se acerca de quais conceitos e categorias podem ser empregados – e de que forma podem ser empregados – a fim de maximizar a compreensão o mais aproximada possível das realidades coloniais, de seus múltiplos personagens e de suas tão distintas identidades.
Terceiro livro da série, ‘… Paisagens e Espaços’ traz questionamentos que aprofundam e espelham outros já visíveis nas duas obras anteriores: no primeiro livro, ‘Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas’, a reflexão principal girava em torno da utilização da metodologia comparativa em estudos sobre os dois grandes conceitos do grupo3; no segundo livro, por sua vez, ‘Escravidão, mestiçagens, populações e identidades coloniais’, a preocupação basilar eram as identidades4.
Por outro lado, tanto a metodologia comparativa quanto os estudos identitários podem ser percebidos também em ‘Escravidão, Mestiçagens, Ambientes, Paisagens e Espaços’, o que dá aos três livros uma coerência interna e os apresenta como obras conectadas, realmente integrantes de uma série.
Assim é que, dando continuidade a essas discussões, os organizadores defendem na apresentação de sua terceira obra, além do cuidado com os conceitos relacionados ao mundo colonial – seu tema mais recorrente –, também a necessidade de focar outros espaços que não os urbanos, já que esses são em geral pensados de forma privilegiada pela historiografia como cenários para os jogos políticos coloniais. E para levar essa proposição a cabo, Eduardo França Paiva, Isnara Pereira Ivo e Márcia Amantino – historiadores em atividade respectivamente em Minas Gerais, na Bahia e no Rio de Janeiro – dividem sua obra em duas partes: a primeira, mais extensa, abrangendo o período colonial e a segunda se debruçando sobre o século XIX. Nesta última, o recorte espaço-temporal privilegiado se distancia do cenário favorito do grupo, a sociedade colonial americana. Apesar disso, os artigos mantêm a conexão temática e teórica ao enfocar aspectos das relações socioculturais estabelecidas por escravos, forros e livres do Império brasileiro a partir de premissas discutidas para os espaços coloniais.
Os capítulos de ‘…Paisagens e Espaços’ seguem uma perceptível divisão temática: o olhar sobre as paisagens urbanas perpassa principalmente os artigos de José Newton Menezes, de Carla Mary de Oliveira, de Maciel Carneiro Silva e de Luiz Gustavo Cota, enquanto o mundo para além das ruas escravistas é estudado por Isnara Pereira Ivo, que se debruça sobre o sertão, e Márcia Amantino, que focaliza as fazendas jesuítas. Por sua vez, a preocupação com os atores sociais dentro desses espaços preenche as páginas de Maria Lemke, Marcelo Rocha e Renato Rangel, que se preocupam com aspectos particulares das vidas de personagens mestiços, usando diferentes conceitos para abordá-los: pardos, mulatos, mamelucos. Já Eliane Garcindo e Eduardo Paiva, por seu turno, propõem reflexões conceituais mais amplas sobre as identidades mestiças, enquanto João Azevedo Fernandes traça uma revisão historiográfica, ou como ele denomina uma ‘arqueologia cultural’, dos mamelucos em autores clássicos tais como Freyre e Darcy Ribeiro.
De forma geral, percebe-se uma coerência teórica na abordagem das mestiçagens pelos múltiplos autores que seguem, basicamente, a definição de mestiçagem estabelecida por França Paiva na apresentação da obra: nela, Paiva expressa a fé de ofício do grupo, propondo a compreensão das mestiçagens enquanto mesclas bioculturais processadas nas dimensões complexas e dinâmicas dos espaços coloniais ibero-americanos5. Por outro lado, as espacialidades – um dos focos temáticos principais do livro – são abordadas com diferentes ênfases ao longo do texto.
O tratamento conceitual mais aprofundado dedicado a estas está no texto de José Newton Coelho Menezes. Em seu artigo ‘Escalas espaço-temporais e História Cultural: reflexão de um historiador sobre o espaço como categoria de análise’, ele se debruça sobre o uso historiográfico de conceitos de espacialidade, estabelecendo definições que pensam o lugar enquanto produto da ação humana, e a paisagem enquanto espaço percebido pelos sentidos. Tomando as Minas setecentistas como recorte, Menezes defende uma abordagem que busque compreender a relação entre identidades e espacialidades sempre considerando as características históricas da construção do lugar estudado. Esse seria o caso do estudo dos limites entre o urbano e o rural que o autor utiliza como exemplo: partindo de uma análise que considera as características urbanas comuns dentro do Império português, ele descreve uma complexa malha de lugares na capitania das minas, buscando pensar dentro dela o lugar dos escravos. Em cima dessa base empírica, ele passa a enfocar a historicidade dos conceitos de espaço, ou seja, como esses conceitos são não apenas construídos mas também mutáveis ao longo do tempo: conceitos tais como lugar – o lugar de determinados personagens na paisagem. Propõe assim que os lugares dos escravos na sociedade colonial, por exemplo, sejam buscados através dos sentidos que possuíam então.
Essa preocupação com a construção e a mutação dos significados dos termos, expressões e conceitos coloniais – uma inquietação que aponta para a preocupação mais profunda com a reconstrução exata das formas de pensar e socializar-se no mundo colonial – perpassa todos os textos do livro. Chamada de “polissemia dos termos colonial”, ela aponta para a busca pelas identidades como objetivo principal da maioria dos autores de ‘… Paisagens e Espaços’. Caso de Marcelo Rocha que em seu artigo ‘Vidas mescladas: mulatos livres e hierarquias na Nova Espanha (1590- 1740)’ reflete, baseado em ampla documentação hispânica, sobre as identidades mulatas no México colonial. Identidades não apenas mutáveis, mas também muito dependentes da relação que os grupos sociais que as construíram mantinham com o sistema de castas vigente no Império espanhol. Para Rocha, inclusive, essas identidades dependiam da capacidade dos atores de “instrumentalizar condições de assimilação aos distintos contextos a partir das relações grupais ou interpessoais”6. O que significa, de fato, que as identidades mestiças nada tinham de estáveis nem de fixas, mudando conforme os personagens se adaptavam a novos cenários, geográficos ou sociais.
Importante ressaltar que ‘… Paisagens e Espaços’ se apresenta como um verdadeiro panorama da diversidade dos espaços coloniais no mundo iberoamericano: seus autores, se em sua maior parte continuam a privilegiar os espaços urbanos, por outro lado privilegiam diferentes espaços urbanos: das vilas mineiras setecentistas às capitanias do norte do Estado do Brasil. E fora dos espaços urbanos a heterogeneidade também prevalece: dos sertões baianos às fazendas jesuítas, do mundo andino à Nova Espanha.
Ainda em torno dos espaços urbanos coloniais, Carla Mary S. Oliveira se apropria de uma abordagem cara ao grupo Escravidão e Mestiçagem ao analisar a produção artística barroca de Minas Gerais e das Capitanias do Norte do Estado do Brasil de forma comparada. Com um olhar treinado pela História da Arte, a autora enfoca trajetórias de vida de artesãos mestiços em um texto cujo repertório documental está fundado sobre os forros de igrejas e os óleos sobre madeiras que constituem o patrimônio visual dos templos das irmandades/ ordens religiosas em Minas Gerais, Recife, Salvador e João Pessoa. Esmiuçando os elementos pictóricos dessas fontes, ela busca compreender as representações artísticas que os artesãos, eles mesmo mestiços, construíam sobre as mestiçagens no mundo colonial.
Sem desconsiderar as rígidas imposições de regras artísticas que a Igreja tridentina trazia para o mundo colonial, a autora reflete sobre as “estratégias de apropriação e ressignificação que se cristalizaram na arte religiosa colonial dos séculos XVII e XVIII no Brasil, estratégias essas que historiadores como Gruzinski chamam de hibiridização”7. E se em seu texto a influência de Serge Gruzinski é mais direta, essa influência paira, por outro lado, em muito da produção dos pesquisadores do grupo Escravidão e Mestiçagem.
Se no capítulo de Oliveira as identidades são buscadas dentro de cenários urbanos coloniais, no trabalho de Isnara Ivo essas identidades são perseguidas nos sertões. Os personagens de Ivo são os chamados ‘homens de caminho’, comerciantes de diferentes etnicidades que percorriam, constantemente, os interiores coloniais da América portuguesa. Trabalhando sobre registros fiscais, a autora procura desenhar um retrato desses personagens, ousando analisar as descrições físicas trazidas pelos documentos. Assim, as descrições setecentistas de barbas, cabelo e cor dos olhos, tornam-se, em sua abordagem, elementos para reflexão não apenas sobre o imaginário e as identidades coloniais, mas também sobre as próprias conceituações generalistas usadas pela historiografia em torno do difícil personagem do mestiço. Tudo isso, todavia, sem fugir do recorte teórico dedicado às espacialidades.
No entanto, se as espacialidades compõem a temática central da obra, em associação com os conceitos de escravidão e de mestiçagem, isso não significa que todos os autores prefiram focá-las de forma central em seu trabalho. Assim é que alguns capítulos, como o de Maria Lemke sobre Goiás e o de Rangel Cerceau sobre Minas Gerais, cuidam menos de especificar as espacialidades, apesar de perceptivelmente focarem urbes coloniais, e mais de analisar identidades e formas de sociabilidades. Por um lado, Lemke se utiliza de uma metodologia cada vez mais atual na historiografia para melhor compreender os contextos e estruturas sociais: o estudo de trajetórias de vida; uma metodologia devedora de Ginzburg, apesar de não creditada a ele no texto. A partir dessa abordagem ela segue alguns ortodoxa’ de alguns governadores régios, ampliaram seus espaços de ação em Vila Boa, Capitania de Goiás. Assim é que através da descrição da correspondência administrativa, a autora descortina um cenário de conflitos políticos que envolviam ‘homens bons’ e representantes régios, mas também pardos ascendidos a posições oficiais.
Já o tema de Cerceau são as famílias. De fato, são “as mesclas envolvendo as uniões familiares constituídas por indivíduos desiguais social e culturamente”8. Assim como Lemke, ele também realiza estudos de caso sobre trajetórias de personagens específicos: no seu caso, as mulheres forras. Com relação à metodologia, sua abordagem dá uma atenção especial às conceituações setecentistas que poderiam influenciar as representações identitárias desses personagens. Assim é que ele analisa as definições de dicionaristas, pintores e cronistas para tentar se aproximar das imagens vigentes, nos setecentos, sobre os crioulos9.
Todas essas considerações conceituais em torno das mestiçagens e espacialidades, associadas ao contexto escravista americano ficam, de fato, bem exemplificadas no texto de Eliane Garcindo de Sá. Em seu artigo, intitulado ‘Identidade, espacialidade e territorialidade: reflexões sobre a presença africana no universo colonial’, Sá se debruça sobre crônicas andinas para questionar as espacialidades em sua relação com as representações construídas sobre as identidades coloniais. Seguindo uma das mais fortes premissas do grupo – a de buscar as interpretações próprias aos muito diversificados grupos mestiços sem concessões às leituras eurocêntricas e teleológicas impostas pela historiografia –, a autora lê as crônicas indígenas andinas em busca de suas versões próprias acerca da presença dos estrangeiros – fossem espanhóis fossem africanos – nos espaços incaicos. E nessa trilha ela identifica em algumas dessas crônicas um “libelo contra a mestiçagem”10. Além disso, a autora percebe a noção de território como um fator fundamental nas definições identitárias estabelecidas dentro dos domínios da Monarquia Católica, contexto no qual seus personagens se inseriam: para ela, os autores indígenas, eles próprios mestiços como Poma de Ayala, definiam africanos, espanhóis e descendentes de ambos como estrangeiros a partir de uma consideração geográfica, associando sempre as identidades desses personagens a seus territórios de origem. O que tornava esses autores – mestiços que nem sempre se autoidentificavam como tal, lembremos – opositores do próprio processo de mestiçagem. Esta mestiçagem, por sua vez, sempre entendida em suas páginas como a permanência de atores sociais estrangeiros, de fora daquelas espacialidades específicas.
Entre os textos que pensam as espacialidades não urbanas está, por sua vez, o capítulo de Márcia Amantino sobre as fazendas jesuíticas. Compondo um detalhado estudo de caso focado em uma fazenda específica – a fazenda de São Cristóvão no Rio de Janeiro setecentista – a autora apresenta dados de extrema relevância para a história da escravidão, bem característicos de uma tradicional História Social: dados populacionais, principalmente. Uma abordagem compartilhada também por Carlos Engelman, que discorre sobre as identidades crioulas no Vale do Paraíba também a partir de densos dados seriais.
Mas Engelman, por sua vez, vem se somar já à segunda parte de ‘…Paisagens e Espaços.’ E se esta é consideravelmente mais curta e menos coesa que a primeira, apesar disso ela traz interessantes contribuições para a discussão temática geral da obra: além de Engelman também Maciel Silva, que compara as ruas de Salvador e Recife a partir do personagem das domésticas, dialoga ativamente com as principais questões do grupo, desde a metodologia comparativa até os problemas identitários. Entre os dois estão os textos de Luiz Gustavo Cota – mais culturalista, centrado em festividades abolicionistas estudadas a partir de uma abordagem que mistura discursos, memória e a própria espacialidade urbana para compreender a difusão e as leituras da ideia de liberdade – e de João Azevedo Fernandes com sua crítica historiográfica que pinça a imagem do mameluco desde Varnhagen até Darcy Ribeiro.
Assim, em seu conjunto todos os textos de Escravidão, Mestiçagens, Ambientes, Paisagens e Espaços se inserem na discussão inicialmente proposta em sua apresentação, apesar de que as diretrizes teóricas esboçadas a princípio não chegam a engessar os resultados de seus diferentes autores. Tal mescla de coerência conceitual e flexibilidade metodológica torna a obra extremamente enriquecedora tanto para os estudiosos das temáticas canônicas do grupo quanto para a historiografia sociocultural que se debruça sobre o mundo colonial americano. Mas, além disso, esse terceiro volume do grupo Escravidão e Mestiçagens funciona também como exemplo do que uma obra historiográfica coletiva deveria ser: pela miríade de diferentes fragmentos desse mundo colonial que apresenta; pela coerência teórica que embasa tantos autores de diferentes contextos; pela seriedade e pertinência do trabalho com as fontes históricas.
Notas
2 Cf. Anais do XXIII Simpósio Nacional de História – História: Guerra e Paz. Londrina: ANPUH; Editorial Mídia, 2005.
3 Cf. PAIVA, Eduardo França & IVO, Isnara Pereira (orgs.). Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH-UFMG; Vitória da Conquista: Ed.UESB, 2008.
4 Cf. PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira & MARTINS, Ilton Cesar (orgs.). Escravidão, mestiçagens, populações e identidades coloniais. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGHUFMG; Vitória da Conquista: Ed. UESB, 2010.
5 PAIVA Eduardo França; Ivo, Isnara Pereira & AMANTINO, Márcia. “Apresentação” In: PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira & AMANTINO, Márcia (orgs.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 2011, p. 07-09.
6 ROCHA, Marcelo. “Vidas mescladas: mulatos livres e hierarquias na Nova Espanha (1590-1740)”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 94.
OLIVEIRA, Carla Mary S. “Arte colonial e mestiçagens no Brasil setecentista: irmandades, artífices, anonimato e modelos europeus nas Capitanias de Minas e do Norte do Estado do Brasil”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 97.
8 CERCEAU NETO, Rangel. “Famílias mestiças e as representações identitárias: entre as maneiras de viver e as formas de pensar em Minas Gerais, no século XVIII”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 165.
9 CERCEAU NETO, “Famílias mestiças…”, p. 165.
10 SÁ, Eliane Garcindo de. “Identidade, espacialidade e territorialidade: reflexões sobre a presença africana no universo colonial”. In: PAIVA, IVO & AMANTINO, Escravidão, mestiçagens, ambientes…, p. 39.
Kalina Vanderlei Silva – Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Docente da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, Universidade de Pernambuco. E-mail: <kalinavan@ uol.com.br>.
[MLPDB]Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais / Eduardo F. Paiva, Isnara P. Ivo e Ilton C. Martins
O livro Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais, organizado pelos historiadores Eduardo França Paiva, Isnara Pereira Ivo e Ilton Cesar Martins contem textos apresentados em mesas redondas e conferências na FAFIUV do Paraná em 2008. A coletânea de artigos é o desdobramento de comunicações e trocas de experiências em pesquisas que tiveram início em 2005, no XXIII Encontro Nacional da ANPUH, em que foi criado o Simpósio “Escravidão: sociedade, cultura, escravidão e trabalho”. Desde então, esses pesquisadores, que ficaram conhecidos como Grupo Escravidão e Mestiçagens, promoveram diversos eventos, nos quais socializam o resultado de suas pesquisas. O primeiro livro publicado pelo grupo foi Escravidão, mestiçagem e história comparadas, em 2008, e foi organizado pelos mesmos historiadores do livro aqui resenhado.
O líder do grupo, Eduardo França Paiva, tem se dedicado ao estudo das mestiçagens e do trânsito de cultura entre os continentes africano, europeu e americano. Ele tem mostrado que o intenso trânsito entre esses continentes resultou em uma realidade nova, multifacetada, cujas configurações sócio-culturais são mais bem compreendidas com o conceito de mestiçagem. É notória a referência ao historiador francês Serge Gruzinski. Apesar dos diversos aportes teórico-metodológicos dos artigos presentes no livro, o fio que os liga é exatamente as ideias de deslocamento e mestiçagem, como é bem ilustrado por Isnara Pereira Ivo. Esses dois fenômenos, que cresceram vertiginosamente na modernidade devido à era das navegações, foram abordados à luz da História Cultural Francesa, da História Social e da Micro-História.
Ancoradas na História Cultural são as análises que se valem das categorias de representação social e apropriação. Os artigos de Eduardo Paiva, Carlos Alberto Medeiros, Maciel Henrique Silva e Caio Ricardo B. Moreira, cujas fontes são mais características da História Cultural, como é o caso da iconografia, dos relatos de viagem e da literatura, enfatizam a forma como a realidade é simbolizada por vários sujeitos históricos; e como tais leituras são essenciais na classificação e hierarquização do mundo social, definindo como os homens vêem a si e aos outros, criando sentidos de identidade.
Já os artigos de Douglas Coli Libby, Ilton Cesar Martins, Márcia Amantino e José Newton Coelho de Menezes tangenciam mais as questões colocadas pela História Social. Têm destaque os “sujeitos anônimos”, as suas experiências e relações com os poderes hegemônicos. Daí a relevância dos estudos dos aparatos jurídicos e da lei e a forma como os agentes históricos se colocam frente a eles, estabelecendo formas de resistência e acomodação. Na mesma senda, cabem os estudos das mobilidades sociais e as estratégias cotidianas, dentro de um panorama em que são importantes a classe, o gênero e a etnia.
Por fim, são evidentes as inspirações da Micro-História nos artigos de Paulo Roberto Staudt Moreira, Rafael Cunha Scheffer e Vinícius Maia Cardoso. Transitando entre a macro e a micro escala, as análises das trajetórias pessoais de personagens anônimos e das histórias locais, dadas por olhar detetivesco, permitem uma compreensão mais pontual e complexa de como os agentes históricos transitam nos vários níveis socioculturais, cuja experiência é a dialética entre a norma e o vivido.
Contudo, não faz sentido estabelecer rígidas compartimentações entre os aportes teórico-metodológicos dessas abordagens. As divisões acadêmicas disciplinares não são critérios aceitáveis quando se analisa estudos que em sua maioria transitam entre essas várias abordagens. Indivíduo, cultura e sociedade, são dimensões intercambiáveis e assim foram tratadas nas várias análises presentes nesse livro.
A presença de profissionais das várias regiões do país oferece um amplo quadro dos atuais problemas, enfoques e abordagens colocados pela historiografia contemporânea sobre escravidão no Brasil. O uso de documentos, até pouco tempo inexplorados pelos historiadores, como é o caso da iconografia, dos testamentos, dos processos crimes, do rol de confessados, dos inventários post-mortem, dos registros de batismos e da literatura, é um destaque do livro. Analisados com sensibilidade e argúcia pelos articulistas, coloca-nos em contato com um passado que parecia distante e estranho. A presença, por exemplo, de práticas religiosas islamizadas dos negros no período colonial é de difícil identificação, devido à intolerância religiosa e à falta de “registros explícitos” que as revelem. A partir do uso de novas fontes, aliadas a novos enfoques, Eduardo Paiva analisa esse aspecto da realidade múltipla da América Portuguesa.
A colonização da África e do Novo Mundo favoreceram as trocas materiais e simbólicas dos três continentes e resultaram em uma realidade americana maleável, dinâmica e diversa de suas matrizes europeias, africanas e nativas. Segundo Isnara Pereira Ivo, os portugueses não arranhavam a costa como caranguejos, como havia afirmado Frei Vicente Salvador. Comerciantes, comboieiros, boiadeiros são tidos pela autora como “agentes integralizadores”, responsáveis pelo trânsito de culturas, produtos e gentes trafegados por caminhos, rotas e picadas, muitas vezes à revelia dos projetos metropolitanos. Daí, o motivo de os conceitos de Antigo Sistema Colonial e de Antigo Regime não comportarem as realidades dinâmicas e móveis plasmadas no Império Português Ultramarino. Tais conceitos pressupõem relações verticalizadas de poder incapazes de dar conta das peculiaridades culturais, hierarquias e relações sociais estabelecidas na colônia. A descoberta do Novo Mundo impactou também significativamente as culturas europeias, sendo mais apropriado falar em circulação, trocas, mediações, negociações, do que apenas dominação cultural. Ao estudar o discurso de intelectuais religiosos e leigos, Carlos Alberto Medeiros de Lima aponta que a descoberta de povos portadores de culturas diferentes levou os europeus a pensarem a si próprios não como superiores moralmente, mas tão degradados quanto os americanos.
Nesta esteira, a mestiçagem, como afirma Eduardo França, assume um lugar central na compreensão do crisol que representou as intensas mesclas culturais e biológicas, favorecidas pelo deslocamento de gentes e produtos que integraram, num mesmo universo, culturas distintas. A diversidade étnica nas Américas é demonstrada pelas classificações dadas aos sujeitos: brancos, pretos, cafuzos, mulatos, cabras, mamelucos e pardos indicam não só qualificação de cor, mas também as diversas posições sociais ocupadas por esses sujeitos que se modificam tanto no tempo como no espaço. O termo pardo, como mostra Douglas Cole Libby, é uma das mais controversas formas de qualificações das populações nas Minas Gerais na segunda metade do século XVIII e ao longo do século XIX. Nos Setecentos, ser qualificado como pardo representava uma associação direta com o passado escravista mais recente. Na passagem para o Oitocentos, devido ao intenso processo de mestiçagem, o termo pardo vai indicando mais a marca da mestiçagem com brancos do que a proximidade da condição de escravo. Em alguns casos estudados pelo autor, aparecem pessoas definidas como “sem cor”. Esse “silenciamento das cores” acontece quando há algum tipo de ascensão social, como bem colocara Hebe Maria Mattos, em seu livro Das cores do silêncio. A cor, portanto, no caso dos pardos, é indício não apenas da tez da pele, mas também de posição social. De qualquer forma, segundo Libby, a ascendência branca possibilitava o afastamento do estigma do cativeiro. A definição mineira de crioulo, por sua vez, referia-se aos negros nascidos no Brasil, independentemente de sua condição legal. Esta identificação era herdada pelos descendentes como forma de ligá-los a uma origem africana e não para ligá-los ao cativeiro. Portanto, se uma pessoa era negra ou crioula não significava que fosse necessariamente escrava. Outro termo controverso é cabra. Se por um lado liga o sujeito a um passado escravista, pois pressupunha a mestiçagem com negros, por outro, esconde a ascendência indígena. Talvez porque a política metropolitana proibia a escravização dos índios, o que poderia representar certamente um constrangimento para os donos de escravos.
Com respeito à escravização de índios, Márcia Amantino destaca um importante aspecto de sua relação com a mestiçagem. Durante muito tempo, pensou-se que o intercurso de índios e negros se deu de forma livre e espontânea. Contudo, a autora aponta que o casamento de índios com negras escravas era também uma forma astuciosa usada pelos fazendeiros para aumentar o seu contingente de trabalhadores. De um lado, porque os índios se mantinham presos à fazenda por laços familiares e afetivos, sendo tratados muitas vezes como escravos; por outro, os ventres escravos geravam filhos escravos, tornando essa uma forma de reprodução da mão-de-obra escravizada. Daí, podemos perceber a complexidade das condições étnicas, sociais, culturais e jurídicas que, segundo Rangel Cerceau Neto, possibilitou o aparecimento de “realidades familiares poliformes, composta de identidades múltiplas e de constantes metamorfoses”. Relações que eram ora toleradas, ora clandestinas, que se estabeleceram, muitas vezes, à revelia das normas rígidas demandadas pela Igreja e pelo Estado.
A complexidade jurídica da América Portuguesa é argutamente analisada por José Newton Coelho de Menezes. Ao estudar o caso de escravos que dominavam algum ofício, Menezes percebe uma contradição em suas condições jurídicas. Os ofícios eram regulamentados pelas câmaras municipais, sendo exigida uma certidão de exame para exercê-los. O profissional, mesmo sendo escravo, deveria submeter-se a todo o longo processo burocrático que o habilitava ao exercício de seu ofício, incluindo o cerimonial de juramento público do compromisso com o bem-comum. Este profissional, portanto, parece ter uma dupla condição jurídica. Se por um lado é considerado como um bem semovente, por outro, era obrigado a cumprir todos os deveres próprios da condição de um civil, “como se livre fosse”.
O aparelho jurídico, a lei e sua aplicabilidade devem ser, portanto, compreendidos levando em conta a tessitura social e o contexto que os engloba, como afirma Ilton Cesar Martins. Seu estudo a respeito da lei, crime e punição em Castro, município do Paraná, discute a legislação escravista no século XIX, dado que nesse período a interferência do Estado Imperial nas relações entre senhores e escravos foi mais marcante do que no período colonial. Esse aparato judicial serviu em alguns casos, segundo o autor, para legitimar a legalidade da violência dos senhores sobre os escravos. As leis, sendo escritas pelos proprietários, favoreciam-nos, além de representar um poder simbólico justificador de sua violência. As penas, aplicadas em caso de homicídio, eram letra morta ou abrandadas quando se tratavam dos senhores. No caso de réus escravos, a morte era a punição mais comum.
Os estudos de trajetórias pessoais e de Micro-História possibilitam dimensionar as complexidades que envolviam as relações entre identidades culturais e hierarquias sociais em contextos e espaços diversos, como bem indicam os artigos de Paulo Roberto Staudt Moreira, Rafael Cunha Scheffer e Vinícius Maia Cardoso. Staudt traça os primeiros anos de Aurélio Veríssimo de Bittencourt, um pardo que se tornou tipógrafo, burocrata e abolicionista. Acompanhamos com o autor as reviravoltas e sobressaltos de um sujeito não-branco que ascendeu socialmente, compreendendo melhor as mediações entre cor da pele e posição social no século XIX. Já Sheffer, leva-nos com João Mourthé, comerciante de escravos de Rio Claro, pelas intricadas teias que davam significado à comercialização de escravos no século XIX. Sua análise é elaborada a partir do desenrolar do processo jurídico que visava à devolução do escravo, sob a alegação de que o mesmo se encontrava doente no momento de sua compra. A análise da escravidão no Vale do Macacu, no Rio de Janeiro, desenvolvida por Vinícius Cardoso, é também instigante quanto à dinâmica, diversidade e maleabilidade da condição social dos mestiços nas Américas. Os estudos do micro, apoiados em vasta e variada quantidade de fonte – sem esquecer, é claro, o cabedal intelectual e a astúcia interpretativa do historiador –, faz-nos ver uma realidade mais verossímil e palpável do que apontariam estudos macro e generalizantes.
A literatura também tem destaque no livro por meio dos artigos de Maciel Henrique Silva e Caio Ricardo B. Moreira. Henrique Silva analisa a obra ficcional dos escritores pernambucanos Mário Sette, Carneiro Vilela e Theotônio Freire, e dos baianos Xavier Marques e Ana Bittencourt, todos eles filhos de senhores de escravos, e suas representações sociais sobre trabalho e escravidão no século XIX. O autor aponta a saudade das relações afetivas e amenas entre senhores e escravos como um traço comum às obras desses escritores. O estilo memorialístico remonta a uma infância idílica: um tempo austero, simples, pródigo, marcado por trocas mais afetuosas e sinceras entre senhores e escravos. Tais sentimentos e representações nos fazem entrever, segundo o autor, a ideologia de uma classe em decadência que encontra refúgio e consolo em lembranças de um passado melhor, fazendo dessas memórias um aparato discursivo de crítica ao seu tempo. Moreira, por sua vez, estuda a obra utópica e mística do escritor curitibano Dário Vellozo, que no fim do século XIX já se referia ao mestiço como personagem ideal de país futuro idealizado em seu livro.
O livro resenhado, como vemos, é uma leitura obrigatória para quem se interessa em compreender o desenvolvimento atual das pesquisas sobre a escravidão no Brasil. Oferece-nos, além do mais, narrativas prazerosas e instigantes, demonstrando que os historiadores estão atentos não apenas em divulgar os resultados de suas pesquisas, como também em apresentá-los sem descurar das formas e estilos de narrar uma história.
Manoel Carlos Fonseca de Alencar – Professor da Universidade Estadual do Ceará – UECE. Doutorando PPGH-UFMG. E-mail: [email protected].
PAIVA, Eduardo França, Org.; IVO, Isnara Pereira, Org.; MARTINS Ilton Cesar, Org. Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais. São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: PPGH-UFMG, Vitória da Conquista: Edições UESB, 2010. 310 p. Resenha de: ALENCAR, Manoel Carlos Fonseca. Outros Tempos, São Luís, v.9, n.14, p.244-249, 2012. Acessar publicação original. [IF].
O Brasil imperial. Volume II: 1831-1870 – GRINBERB; SALLES (HH)
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil imperial. Volume II: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, 502 p. Resenha de: POPINIGIS, Fabieane. Conflitos e experiências na formação do Estado imperial brasileiro. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7 p.357-363, nov./dez. 2011.
Conflitos e experiências na formação do Estado imperial brasileiro 358 Organizado por Keila Grinberg e Ricardo Salles e publicado em 2009 pela Civilização Brasileira, o livro O Brasil Imperial – Vol. II: 1831-1870, faz parte de uma coletânea de três volumes que abrange, em seu conjunto, todo o período Imperial: o primeiro deles vai de 1822 a 1831, o segundo de 1831 a 1870 e o terceiro de 1870 a 1889. Este volume dois tem onze capítulos, distribuídos em 502 páginas, acrescido de uma apresentação de José Murilo de Carvalho e de um pequeno prefácio dos organizadores.
Os autores tiveram bastante sucesso em pelo menos três quesitos que norteiam a organização da coleção: a exposição didática dos acontecimentos – inclusive em narrativas cronológicas; a escolha dos autores e temas, que possibilitaram aliar o estágio atual das pesquisas à critica historiográfica; e a articulação entre os temas e problemas historiográficos abordados, que se interconectam.
Através do artigo de Ilmar Mattos, que transita entre todos os temas abordados nos capítulos seguintes como que tecendo um fio invisível entre eles, somos apresentados a uma das mais interessantes características da coletânea: o diálogo entre os temas e abordagens, que parecem ser retomados aqui e ali, formando um conjunto na maior parte das vezes harmonioso e com movimento. Sob o título “O Gigante e o Espelho”, o autor mostra que a revolução de 7 de abril tornava realidade a independência do Brasil e abria um novo tempo de liberdade para os “brasileiros”, condensando problemas que eram centrais para os contemporâneos e seu projeto de construção da nação.
Em primeiro lugar, o gigante território e o desafio de mantê-lo unido, enquanto o restante da América se fragmentara, cria a singularidade de sua primeira expansão, que Mattos chamou de “expansão para dentro”. A partir da Independência, abdicava-se de um domínio ilimitado em termos espaciais e construía-se a ficção entre território e nacionalidade. O espelho, por sua vez, tinha dupla face: de um lado os brasileiros espelhavam-se nas nações “civilizadas” da Europa, no porcesso de construção da nação brasileira, e do outro, a associação do Brasil à lavoura e a opção pela manutenção da escravidão na consolidação da ordem significava conviver com outras “nações” no interior do território. O nexo de pertencimento, propriedade e características fenotípicas distinguiria os homens bons do “povo mais ou menos miúdo” e dos escravos, e, na medida em que avançavam o café e o regresso, também se acrescia à diferenciação entre livres e escravos aquelas entre escravo e cidadão. Seguir por esse caminho significava também voltar as costas a uma “proposta de nação constituída por homens e mulheres representados como livres e iguais juridicamente”. O regresso, a derrota dos liberais em 1842 e a consolidação do projeto político conservador, com os liberais atrelados às propostas e ações políticas dos saquaremas, “incapazes de manter viva entre seus compatriotas a lembrança do dia 7 de abril como início de um novo tempo”. A ordem imperial, portanto, consolidar-se-ia sob o signo da conciliação entre as famílias da boa sociedade sob o governo do Estado, que imprimiria, nas palavras de Mattos “não apenas um exercício de dominação, mas de direção intelectual e moral dos brasileiros, uma história e uma língua nacionais com seus propósitos ‘imperiais”.
História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7 nov./dez. 2011 357-363 Assim, o capítulo inicial sugere os eixos organizadores dos capítulos seguintes: as disputas políticas e sociais em torno da formação administrativa do território nacional, as questões suscitadas pelo nexo organizador da sociedade escravista e suas desigualdades, e a necessidade de criação de sentimento de pertencimento, a partir da imprensa e da literatura.
No caso do primeiro eixo, cuja referência fundamental é claramente o momento de abdicação de D.Pedro I, em 7 de abril de 1831. O período regencial é retomado como momento de disputa em torno de diferentes projetos de nação, em perspectivas diversas – que vão das discussões na arena estritamente política, passando pelos conflitos sociais em torno do processo de integração das regiões ao projeto centralizador na Corte Imperial, até lugar de homens e mulheres de cor na construção da nação.
Privilegiando a política parlamentar e abordando com minúcia as disputas entre as diversas propostas e os grupos que iam se delineando, Marcello Basile mostra, em “O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840)”, que o 7 de abril inaugurou um momento ímpar de experimentação política em que uma diversidade de fórmulas políticas foram apresentadas e experimentadas, e de participação popular, ainda que não na política institucional, mas nas ruas, de um amplo leque de grupos e estratos sociais. Partindo da crítica à historiografia que atribuiu ao período características sobretudo negativas – ressaltando as revoltas ocorridas como sinônimo de anarquia e empecilho ao estabelecimento da ordem -, ele é aqui abordado em suas próprias bases, e não como um momento de transição política entre a abdicação e o chamado regresso conservador. Embora não contemple neste capítulo sua própria pesquisa sobre os motins urbanos no Rio de Janeiro durante o período (BASILE 2007, p. 65) – o que teria contribuído para enriquecer o diálogo entre o que acontece nas ruas e os debates no Parlamento-, o autor observa que o que orientou o pacto responsável pelo esvaziamento do espaço público das práticas de cidadania experienciadas naquele momento inicial foi o temor das revoltas e a consciência da necessidade de coesão das elites políticas.
Alguns desses movimentos ocorridos nas províncias, sua relação com a Corte, os projetos de identidade nacional e a participação popular são analisados por Marcus Carvalho no capitulo intitulado “Movimentos sociais: Pernambuco (1831-1848)” e em “Cabanos, patriotismo e identidades”, de Magda Ricci. Nos dois casos, a data da Abdicação é novamente o divisor de águas que mobiliza esses grupos e radicaliza as oposições. Entretanto, os acontecimentos e seus desenvolvimentos são vistos neles como parte de um processo histórico de longa data, envolvendo questões políticas e sociais engendradas no enfrentamento entre os interesses dos diversos grupos em disputa. Ambos articulam o plano político institucional das tentativas do governo na Corte de tomar o controle sobre as províncias ao plano regional e cotidiano das querelas locais e aos sentidos da liberdade atribuídos pelo povo miúdo, atentando para a precariedade das liberdades individuais. A participação popular é aqui posta em relevo sem ser vista como espasmódica ou manipulada pelas elites políticas. Os autores tecem os acontecimentos numa trama complexa para ir além dos conhecidos marcos políticos, mostrando a diversidade de grupos envolvidos e as lógicas que informavam suas lutas, fazendo-os por vezes aliados circunstanciais – como no caso dos senhores de engenho, escravos, quilombolas, indígenas e homens livres pobres em geral. Ainda que, por vezes, não houvesse uma organização com objetivos mais específicos, os grupos em questão tinham suas razões e sua lógica de ação a partir de interesses próprios. Assim, a política cotidiana das pessoas comuns e dos diversos grupos que as compõe é analisada sem esquecer seus laços com a política institucional.
No caso de Carvalho, a inovação é a não compartimentação da história desses movimentos num Pernambuco em constante estado de tensão, que é guiada, de modo mais geral, pelos acontecimentos ligados ao 7 de abril, data da Abdicação, quando aqueles que haviam apoiado a repressão de D. Pedro I às pretensões revolucionárias de 1817 ou 1824 passam a ser perseguidos pelos que agora foram elevados pela gangorra política. Ricci, por sua vez, analisa o segundo ciclo de revoltas do período regencial no norte do território. Ela mostra que a Província do Pará, ao contrário de isolada e pouco povoada como se pretendeu em várias análises, estava interligada a rotas internacionais através do comércio intercontinental e da circulação de pessoas e ideias entre a região e os países vizinhos. Durante a Revolução de 1835, como chama a autora, surgia um sentimento comum de identidade entre povos e etnias de culturas diferentes, uma identidade local não afinada com aquela em formação no Rio de Janeiro. Com a luta de classes no centro do processo de formação do Império e das incertezas que configuraram a década de 1830, os dois textos são importante contribuição para mostrar como o medo aos sentidos de liberdade atribuídos pelo povo miúdo forçou dirigentes imperiais e elites locais a se aliarem e a submeter esses homens e mulheres livres pobres à repressão. A evidente vantagem destas estratégias é a de oferecer aos leitores um panorama do período abordado a partir de uma referência de fora da Corte.
O texto de Keila Grinberg também se conecta a este primeiro eixo, analisando a Sabinada não apenas como parte do processo conflituoso de disputa entre projetos de autonomia e independência das províncias em relação à Corte, mas, sobretudo, como disputa pelo lugar dos homens de cor na construção da nação. No texto intitulado “A Sabinada e a politização da cor na década de 1830”, o movimento na Bahia foi utilizado por Keila Grinberg para analisar dois projetos políticos em disputa: de um lado aquele representado por Antônio Pereira Rebouças que, colocando-se do lado da “ordem”, procurava ater-se aos princípios constitucionais segundo os quais os cidadãos brasileiros, qualquer que fosse a sua cor, só poderiam ser distinguidos por seus talentos e virtudes; Francisco Sabino, por outro lado, representava aqueles que viram com desgosto serem cada vez mais negadas as possibilidades abertas a partir da independência, de uma maior inserção de livres e libertos, pardos e mulatos, tanto na participação política como na ocupação de cargos públicos e militares.
A derrota do movimento e as políticas centralizadoras do Regresso, entretanto, fechariam os ciclos de revoltas e manifestações populares, frustrando as aspirações liberais de homens livres e de cor, que viram cada vez mais distante de sua realidade as possibilidades de uma participação verdadeiramente igualitária naquela sociedade.
Uma das principais causas de insatisfação entre homens livres pobres e libertos era a questão do recrutamento, grande causador de conflitos, pois expunha as contradições e hierarquias sociais. Como mostra Victor Izechsohn, no capítulo intitulado “A Guerra do Paraguai”, essas tensões foram acirradas durante a guerra: por um lado, os agregados buscavam proteção nos chefes políticos; quando não conseguiam, a opção era a oferta de substitutos, livres ou libertos ou a simples fuga. Por outro lado, por conta da “massificação operada pelo recrutamento”, aos trabalhadores pobres livres desagradava ver seu status igualado a tais recrutas. Afinal, a certa altura, o governo imperial resolveu libertar quantidade significativa de escravos para serem integrados ao exército, e o próprio Caxias mostrou constante preocupação com sua grande heterogeneidade racial. A Guerra do Paraguai é aqui analisada como elemento central na construção dos estados e nações envolvidos, num momento em que se procurava a manutenção do controle territorial pelos novos centros políticos estabelecidos.
Assim, as tensões que o recrutamento suscitava se entrelaçavam ao problema político da constituição de sentimentos de pertencimento a um território que havia sido consolidado recentemente.
O segundo organizativo dos capítulos da coleção – o da escravidão como nexo organizador da sociedade – é analisado de diferentes perspectivas nos trabalhos de Rafael Bivar Marquese e Dale Tomich e de Jaime Rodrigues. Para Marquese e Tomich em “O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX” foi a ação “concertada” entre os fazendeiros do Vale escravista e os políticos ligados ao regresso o que estreitou a relação entre o crescimento do tráfico atlântico e o aumento da produção cafeeira, além da otimização do tráfico conseguida por luso-brasileiros que comandavam boa parte do infame comércio na região da África centro-ocidental. O texto inscrevese no objetivo mais geral de enfatizar a necessidade de voltar à utilização das lentes de aumento na análise histórica sobre a inserção do Brasil num contexto mais amplo de relações, neste caso para perceber o “papel do Vale do Paraíba na formação do mercado mundial do café” e na conformação do estado brasileiro.
Dois elementos possibilitaram esse investimento inicial e o crescimento da produção na intenção de atender às necessidades do mercado externo entre as décadas de 1820 e 1830: em primeiro lugar, toda a estrutura dos caminhos de tropas montadas em função da mineração, no século XVIII, ligando o sul e o litoral ao interior de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro possibilitava escoar a produção do Vale do Paraíba (que dominaria a produção brasileira de café ate meados de 1870) para os portos do litoral; em segundo lugar, os arranjos políticos eficientes por parte do Império do Brasil para lidar com a pressão inglesa e a ilegalidade do tráfico a partir de 1831 teriam garantido um terreno seguro para as práticas escravistas.
Jaime Rodrigues, por sua vez, procura ir além dos paradigmas mais consolidados da historiografia que põe em relevo a pressão inglesa como razão determinante para o fim do tráfico atlântico de escravos em “O fim do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil: paradigmas em questão”. O autor encontra os principais argumentos de justificativa do comércio e do tráfico atlântico de escravos na função civilizatória da catequização de africanos e, posteriormente, na necessidade da manutenção da mão de obra para a lavoura, através da análise de obras e discursos letrados do início do século XIX. Rodrigues reafirma então a centralidade do comércio de escravos para a construção da nação na primeira metade do século XIX, imbricada no processo que levou ao fim do tráfico como seu aspecto fundante. O que teria mudado no período entre a primeira lei de proibição do tráfico atlântico e a lei de 1850 e sua efetiva aplicação? Entre o argumento da “corrupção de costumes” e a conivência das autoridades policiais com a propriedade escrava, Rodrigues atribui um grande peso ao medo senhorial em relação à população escrava, não apenas de motins e revoluções, mas também de ações jurídicas dos escravos contra seus senhores e em prol de sua liberdade. Segundo ele, é no “equilíbrio entre o medo das ações violentas dos escravos e a necessidade de manter a produção, que devem ser procuradas as explicações para as idas de vindas na decisão de acabar com o tráfico atlântico de escravos africanos”. Finalmente, nesse processo, o importante era definir o status jurídico dessas pessoas na sociedade que se estava construindo, limitando a cidadania de livres e libertos e garantindo meios de controle sobre eles e sobre seu trabalho.
No terceiro eixo que permeia a organização dos capítulos, a literatura, a língua nacional e a imprensa são analisadas por Ivana Stolze Lima, Márcia de Almeida Gonçalves e Sandra Jathay Pesavento como lugares privilegiados de disputa em torno da formação de um sentimento de pertencimento e nacionalidade. Em “Uma certa Revolução Farroupilha”, Pesavento atribui papel de destaque à literatura na construção posterior que se faz deste percurso de dez anos de guerra da província do Rio Grande do Sul contra o Império, centralizado no Rio de Janeiro, para elevar a Farroupilha a foros de evento mitológico e fundador de uma identidade que é ao mesmo tempo nacional e regional. Entre diferenças e semelhanças, literatura e história constroem o mito de um passado idílico em que “senhores não encontravam freios a seu mando”.
A partir da Independência, a interferência centralizadora da corte estabelecida no Rio de Janeiro representará “o outro”, assim como os inimigos no Prata. O ethos de uma identidade regional situa-se no Rio Grande do Sul como paladino da liberdade, unindo-os num ideal comum para além das distinções étnicas da posse da terra ou de hierarquia social. A elevação da Farroupilha como acontecimento chave para a explicação da província reiterava a vocação libertária do gaúcho, que, nessa leitura, rebelar-se contra o autoritarismo do Império, não para dele se desvincular, mas, ao contrário para transformar o nacional.
Ressaltando a importância da literatura e seus autores, Marcia Gonçalves em “Histórias de gênios e heróis: indivíduo e nação no Romantismo brasileiro”, analisa as disputas em torno da existência de uma literatura própria do Brasil na segunda metade do século XIX. As biografias mobilizavam conceitos de gênio e herói para a caracterização dos construtores do império do Brasil: selecionando- -se quem não deveria ser esquecido e como deveria ser lembrado, procurava- se criar exemplaridades para o que era ser brasileiro e individualizar o Brasil como estado. Elementos do romantismo que caracterizavam singularidades da cultura de povos e sociedades locais foram utilizados na construção de uma nacionalidade brasileira e suas especificidades. Nesse sentido, portanto, Gonçalves ressalta a importância do fundo histórico da literatura, que deveria alçar o Brasil a um lugar entre as nações modernas e civilizadas.
Ivana Stolze Lima, em “A língua nacional no Império do Brasil”, também atenta para a questão da especificidade da língua brasileira como “uma das expressões do Romantismo literário no Brasil” – tomando para isso um outro caminho, que procura revelar também o lugar daqueles que não faziam parte dos projetos dos letrados do século XIX, mas com quem tinham que lidar. A autora mostra como no início da colonização as línguas indígenas e africanas persistiam, e a escravidão africana ajudava a difundir o português. As diferenças linguísticas dos africanos eram superadas pelo uso de línguas gerais e pela utilização do português como base ou pela criação de línguas crioulas. No século XIX, com a evolução de um certo projeto de nação, dirigentes imperiais e homens de letras consideravam a centralidade da unidade da língua e sua utilização para a constituição do sentimento de pertencimento e nacionalidade.
Para isso foi essencial a atuação da imprensa no século XIX – que atingia mais gente do que os que sabiam ler -, e a educação escolar, formando cidadãos de acordo com os valores da classe senhorial em formação. Segundo a autora, a língua também propiciava caminhos para a incorporação social de homens livres pobres e mesmo escravos que se utilizavam de seus recursos.
Trata-se assim de um livro composto por capítulos escritos por especialistas reconhecidos nos variados campos de discussão historiográfica sobre o período, mas articulados por uma estratégia que possibilita sua interconexão a partir de grandes eixos temáticos. Isso faz com que a obra preencha uma importante lacuna na compilação de debates e pesquisas recentes, oferecendo aos leitores e leitoras uma leitura acessível para a compreensão dos processos históricos centrais no Brasil Imperial. Mais ainda, a coletânea, de forma geral, constitui-se em leitura obrigatória para os que trabalham com o tema e se interessam pelo debate historiográfico sendo por isso ótima opção para ser utilizada em sala de aula. Em suma, o livro cumpre com a função de divulgação para um público amplo sem abdicar de pesquisa empírica rigorosa e do debate historiográfico atualizado. Uma boa notícia para todos interessados em conhecer o que de mais novo se produz sobre o período Imperial.
Referência bibliográfica BASILE, M. Revolta e cidadania na Corte regencial. Tempo: revista do departamento de história da UFF, v. 22, p. 65, 2007.
Fabiane Popinigis – Professora adjunta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected] Rua Glaucio Gil, n.777, bloco 101, casa 01 – Recreio dos Bandeirantes 22795-171 – Rio de Janeiro – RJ Brasil.
O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853) | João Rosé Reis e Flávio dos Santos Gomes
A história de Rufino … não foi de maneira alguma típica. O interesse em narrá-la decorre de que a história não é somente feita do que é norma, e esta pode amiúde ser mais bem assimilada em combinação e em contraste com o que é pouco comum. Foi, aliás, o que buscamos aqui fazer: nosso personagem nos serviu de guia para uma história bem maior do que caberia na sua experiência pessoal. Ele foge com enorme regularidade de nosso campo de visão para dar lugar ao drama colossal da escravidão no mundo atlântico no qual desempenhou seu pequeno mas interessante, às vezes nefasto, papel. (p.360)
Ao estudarem a trajetória de Rufino José Maria, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcus de Carvalho nos oferecem um extraordinário painel, no espaço micro e macrossocial, do que foi o tráfico transatlântico de cativos africanos para o império do Brasil no século XIX. Por certo o tema não é novo, mas a maneira como foi abordado, sem dúvida é muito inovador. Se houve, realmente, um considerável aumento no número de pesquisas sobre o assunto desde o final da década de 1980, que culminou com o primeiro centenário da Lei Áurea, além de se terem firmado novos marcos para a análise do sistema escravista e das políticas inclusivas no país, o tema do tráfico de escravos também recebeu revisão significativa, como indicam trabalhos como Em costas negras, de Manolo Florentino.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e no Caribe, o tema do tráfico de escravos e do sistema escravista tem sido repensado, como indica Gerald Horne em O sul mais distante. Destoando dos estudos indicados, os autores deste O alufá Rufino deixam os dados quantitativos apenas como complemento, para abordarem a trajetória de um desses africanos que se tornou cativo nas Américas, onde alcançaria a alforria. Rufino tornou-se também traficante e dono de escravos, e nesse percurso transatlântico aprendeu a ler e escrever e cultivou a religião segundos as regras do Alcorão, praticando-a no Império do Brasil, motivo pelo qual foi preso. É bem presumível que a escolha do objeto deva-se não apenas à sua riqueza documental e exemplaridade, mas também às evidências que João José Reis trouxe com Domingos Sodré, um sacerdote africano. Contudo, diferentemente desse livro, em O alufá Rufino os autores aproveitam-se mais do que o personagem oferece para, a partir dele, reconstituírem certos nexos entre atores sociais que povoaram o mundo do tráfico de escravos. Circunstanciam os grandes comerciantes do período, descrevem suas principais embarcações e expõem como burlavam o bloqueio inglês nas costas do continente africano, como agiam quando eram capturados e que tipo de mercadorias levavam das Américas, para tornarem o negócio ainda mais lucrativo. Nesse ponto, habilmente os autores demonstram que quase toda a tripulação das embarcações fazia parte desse comércio, com caixas e rubricas próprias, como foi o caso de Rufino – embora até onde o acompanharam não tenham encontrado suas iniciais entre as mercadorias. Como cozinheiro, Rufino aproveitava o ensejo para comerciar doces – e até, provavelmente, comprar escravos – na África. Outra diferença entre os dois livros é que neste as afirmações seriam mais pautadas em suposições do que em comprovação documental.
Como mostram os autores, a “história dos africanos no Brasil do tempo da escravidão”, assim como a de Rufino, “em grande parte, é escrita a partir de documentos policiais” (p.9), que têm sido vasculhados de modo mais sistemático nas últimas décadas pelos pesquisadores brasileiros. Assim, com a história de Rufino os autores nos apresentam o perfil de alguns dos compradores de escravos no Império do Brasil, como João Gomes da Silva, homem pardo que exercia o ofício de boticário. Provavelmente, Rufino foi seu aprendiz por certo período, antes de seguir para Porto Alegre e lá ser vendido, porque é “possível que suas habilidades na cozinha viessem a ter alguma valia na preparação de remédios de origem animal e mineral” (p.31). No início da década de 1830, Rufino desce para o Rio Grande do Sul em companhia de seu senhor-moço, Francisco Gomes, que algum tempo depois o venderá para José Pereira Jardim, comerciante em Porto Alegre, onde “Rufino encontrou … alguma gente de sua terra escravizada ou já alforriada” (p.52). Em 1835, alguns meses após o levante dos malês na Bahia, ironicamente, Rufino alcançaria sua alforria pagando a quantia de 600 mil-réis.
Com a liberdade, Rufino passaria a figurar de volta na documentação, meses depois seguindo para o Rio Grande, “onde funcionava o governo legal antifarroupilha, talvez na companhia de seu ex-senhor, o desembargador José Maria Peçanha”, e lá “ficou … envolvendo-se com a comunidade muçulmana local até que, no final de 1838, teve lugar a ação policial em Porto Alegre contra aquela escola muçulmana” (p.69). Com isso, como sugerem os parcos documentos sobre ele, provavelmente seguiu para o Rio de Janeiro, entre o final de 1838 e o início de 1839, “e não três anos antes, como deixou transparecer no Recife em 1853, quando tinha boas razões para omitir a verdadeira história de sua saída do Rio Grande do Sul: preso por suspeita de conspiração, ele não podia revelar que suspeita semelhante já havia pairado sobre ele quinze anos antes” (p.70).
No Rio de Janeiro, “Rufino teria percebido que podia conseguir proteção e boa vida – além de dinheiro – alistando-se como trabalhador do tráfico” (p.81). Aqui, os autores demonstram como Rufino participará do comércio transatlântico de escravos, além de pormenorizarem o perfil de tripulantes dos navios negreiros e suas mercadorias (além das quantidades médias de escravos transportados na viagem de volta), e também circunstanciarem os principais organizadores desse mercado arriscado, em função da proibição inglesa, desde o início da década de 1830, mas, ainda assim, incomparavelmente lucrativo.
Nesse percurso, os autores nos apresentaram as histórias de vários personagens do tráfico da época, dos tripulantes aos chefes do comércio. Ao lado da Ermelinda, embarcação na qual Rufino trabalhou, eles indicam os destinos da escuna Paula, do patacho São José e da União (embarcação em que Rufino esteve antes de ir para a Ermelinda), quando estas foram confiscadas e julgadas pelos ingleses em Serra Leoa, juntamente com outras embarcações. Destaque-se ainda que havia muitas evidências, apesar da fiscalização inglesa, de que “traficantes e ingleses se irmanavam nos entrepostos do trato de gente”, pois “os verdadeiros ‘irmãos’ dos ingleses no terreno eram outros brancos, mesmo se traficantes, e não os negros traficados, de quem se diziam ‘irmãos’ os abolicionistas na distante Inglaterra” (p.157).
Embora não tenha sido condenada, apesar das tentativas na reunião de indícios que a apontassem como embarcação de tráfico negreiro – o que de fato era -, os prejuízos foram evidentes para a Ermelinda, sua tripulação e seus donos. Ainda que extraordinariamente rica a exposição dos autores, não há como em tão poucas linhas circunstanciarmos todas as ramificações e detalhes desse empreendimento e suas consequências, ao serem capturadas as embarcações e levadas até Serra Leoa, onde foram julgadas.
De Serra Leoa para o Recife, Rufino, como toda a tripulação e os comerciantes do trato de gente, teve de computar os prejuízos do empreendimento, não levado a cabo em função da captura inglesa nas costas do continente africano. Em Recife, Rufino se fixaria na rua da Senzala Velha, nome representativo para um ex-cativo e traficante, como ele. Os autores fazem uma primorosa análise do perfil e das características das práticas religiosas na Recife do século XIX, onde Rufino não estaria sozinho, haja vista a pluralidade étnica, cultural e religiosa ali presente. Como alufá, Rufino conhecia os meandros de sua religião, e a sua prática o ajudou a ultrapassar aquele período conturbado. Quando foi detido em meados de 1853 pela prática de rituais religiosos, Rufino manteve uma atitude serena, apesar de a “preocupação das autoridades pernambucanas” ter sido “atiçada não só porque sabiam que na Bahia os rebeldes possuíam papéis escritos em árabe como aqueles encontrados com Rufino, mas também porque, segundo as notícias que circularam o país, muitos dos rebeldes malês eram africanos libertos e nagôs como ele” (p.331). Dito isso, vale destacar ainda que “Rufino certamente desenvolveu uma visão cosmopolita de um mundo dificilmente alcançada pela maioria dos africanos e, menos ainda, dos brasileiros seus contemporâneos” (p.355), o que torna mais representativa sua trajetória.
Portanto, os autores nos oferecem a interpretação de um personagem rico e complexo, inserido no próprio núcleo do movimento dinâmico do tráfico de cativos do século XIX. Desse modo, tracejando pela microanálise (com a trajetória de Rufino) e pela macroanálise (com o estudo pormenorizado do tráfico de escravos), o texto também sugere avanços e traz inovações sobre o uso desses instrumentais metodológicos de análise das fontes e apresentação dos dados.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História (UFPR), bolsista do CNPq. Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Campus Amambai. Cidade Universitária de Dourados. Caixa Postal 351. 79804-970 Dourados – MS – Brasil. E-mail: [email protected].
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim de. O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 481p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011. Acessar publicação original
[IF]
“Catirina, minha Nêga, Tão Querendo te Vendê…”: escravidão, tráfico e negócios no Ceará do século XIX (1850 – 1881) / José H. Ferreira Sobrinho
O cientista social, José Hilário Ferreira Sobrinho, por seu engajamento e pesquisa acerca da cultura e história do negro no Ceará presenteou, em 2011, a comunidade de historiadores que se dedicam a pesquisa da história social da escravidão no Brasil publicando esta obra instigante e sedutora como um imã porque o texto, escrito com maestria, envolve e seduz o leitor. Nesse sentido, dentre os seus inúmeros méritos sublinha-se a sua contribuição para que se superem os efeitos ainda nocivos da ideologia racista que articulou o mito da pouca relevância da escravidão moderna, tendo por objeto povos africanos, na formação histórica do Ceará. Trata-se de mais um dos excelentes textos que, aos poucos, vêm constituindo uma historiografia da escravidão no Ceará. A este respeito sublinha, os “trabalhos sobre os negros cearenses são significativos por mostrarem outra realidade da presença dos mesmos no Ceará. Abre-se então, um caminho para a desconstrução da ideia do cativo ausente ou passivo no processo histórico, que, há tempos é predominante entre nós”. A partir do diálogo com autores locais e de outros que estudam a escravidão, e cotejando uma diversificada documentação como – livros de registros avulsos de compradores de escravos de Itatiba-SP (1861-1880), de registros de meia siza, de compra e venda de escravos para Pirassununga-SP (1877-1878) encontrados no Centro de Memória da Unicamp; livro de investigação da policia do porto do Ceará, livro do Cartório Feijó, livro de Lançamentos de despacho – Requerimento de Passaporte para escravos – 1868; romances, letras de músicas, jornais da época e outros documentos; mas, seguindo a trilha aberta por trabalhos constitutivos de uma nova historiografia da escravidão a partir da década de 1980/90, e orientados por princípios teóricometodológicos recortados no pensamento do historiador Inglês E. P. Thompson, o autor queria analisar “experiências e vivências de escravos, libertos e livres, no Ceará, procurando perceber suas táticas e estratégias nas brechas encontradas na sociedade escravista, que lhes possibilitavam a construção de espaços de liberdade”. Mas, ao aprofundar os seus estudos acerca da escravidão decidiu-se pela análise do movimento de “escravos vindos do Norte para o Sudeste, na segunda metade do século XIX” – o tema central deste livro. Tal como sublinha, “a temática é recorrente no meio acadêmico, mas pouco analisada pela historiografia brasileira, em particular, pela cearense”, inclusive “tomando como ponto de partida as vivências dos atores sociais envolvidos nesse “negócio”, no contexto de uma província, que vê diminuídas, ainda mais, as relações de produção com base na mão de obra escrava”.
O seu pressuposto é que “o tráfico interprovincial foi comum na vida social dos cearenses, com diferentes significados para os envolvidos, em particular, para o cativo”. Desse modo, trata-se de um estudo cuja importância se expressa “pela possibilidade de análise das estratégias de escravos e comerciantes, na consecução dos seus objetivos diante das adversidades e situações que se lhes apresentavam”. Em linhas gerais, para os escravos “a migração, caracterizada no comercio de escravos para outras províncias, representou, de um modo geral, a reelaboração dos horrores produzidos pelo tráfico atlântico como: a separação de famílias, o sequestro de pessoas livres e sua reescravização”.
Com esta perspectiva analítica, o autor indica que o tráfico interprovincial para “as lavouras de cana e de café, no Rio de Janeiro, e a zona de expansão da cafeicultura em terras paulistas”, quanto à especificidade da província do Ceará decorreu da articulação entre diferentes fatores dentre os quais se destacam – epidemias, secas e a Guerra do Paraguai. De sua analise se infere que o mesmo foi um processo complexo, denso e permeado por tensões de múltiplos matizes envolvendo proprietários de escravos, traficantes, escravos, libertos e o Estado. Os negociantes eram pessoas de posses com inserção na vida social da província que agiam mediante empresa ou firma tendo por articulistas mascates e procuradores.
Ao tratar do surto de febre amarela ocorrido em 1851, o autor destaca que “a epidemia abalou, de alguma forma a vida dos proprietários de escravos a ponto de um ano e meio depois, 1853, ter aumentado significativamente em relação aos anos anteriores, e, por bom tempo, nos anos posteriores, a venda de cativos para outras regiões”. No entanto, sublinha – “o período em que mais se exportaram escravos foi o da seca de 1877-1879 (6.559) sendo que aproximadamente 50% deles (2.909) em 1878”.
Em relação à Guerra do Paraguai salienta que “o fluxo de saída de escravos foi bem menor em relação ao período marcado pelas secas. Contudo, esse momento mexeu com o comércio negreiro interno e com o imaginário dos cativos frente a possibilidade de alforria”. Em sua análise tece os meandros da trama que envolvia a Guerra do Paraguai, a escravidão e o tráfico interno de escravos e, nesse contexto, a lógica da ação do Estado incorporando escravos em tropas do Exército. O tráfico interno, por um lado gerava renda para traficantes e proprietários de escravos cearenses porque encontraram no “comércio interno de escravos” “uma forma de continuar sobrevivendo e obtendo ganhos com a venda de cativos”. Por outro, evitava que indivíduos das classes dominantes fossem e ou enviassem os seus para o front da guerra, pois, “muitos proprietários, fugindo ao alistamento, não querendo embarcar na aventura nem ver seus os filhos ou agregados mais chegados embarcarem, decidiam enviar escravos, recebendo por isso uma determinada quantia, a título de indenização…”.
Jornais locais e de outras províncias noticiavam, por meio de seus anúncios, a “liberdade escrava” em troca da participação destes na guerra. Tal como salienta o autor, “noticias assim mexiam com o imaginário do escravo, que visualizava uma brecha para a conquista da liberdade, que o escravo, a seu modo interpretava. E o resultado desse entendimento levou muitos cativos à recusa, do cativeiro, não esperando que os senhores os negociassem e recebessem indenização.” Por isso, muitos deles recorreram à fuga.
No entanto, outros tantos resistiram ao tráfico. A este respeito o autor sublinha que as festas – de Reis Congos e Cirandas, frequentadas por crioulos, mestiços e africanos, para além de sua dimensão lúdica constituíam-se em ocasiões importantes para as trocas de informações “sobre os embarques, o sofrimento nas caravanas e a vida de trabalho duro, nas fazendas de café”; enfim, de avisos que tratavam “dos perigos e vantagens de determinados acontecimentos, nas cidades, ou nas fazendas, de temas relativos ao tráfico para o Rio de Janeiro.” Devido a esse processo chamado pelo autor de “correio nagô”, “os escravos estavam atentos e tinham conhecimento das discussões políticas referentes às leis emancipacionistas, às discussões políticas sobre a escravidão e o tráfico, em pauta no parlamento, e às quais recorriam para pressionarem as autoridades e senhores, na luta contra a venda indesejada, em particular, contra a exportação. Todavia, quando os tramites legais não funcionavam, as formas radicais, crimes e fugas eram as saídas possíveis.” A partir de histórias dos escravos Bernardo, Anna e Nicolau em sua luta contra o tráfico interprovincial o autor adentra no contexto criado pelas lutas por liberdade convidando-nos a compreendê-la sob a perspectiva dos escravos. Para tanto, é necessário que o leitor desbrave este texto escrito de modo arguto, perspicaz e critico.
Josenildo de J. Pereira – Professor do Programa de Pós-graduação em História – PPGHIS/UFMA – CCH e de História da África no Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão/UFMA.
SOBRINHO, José Hilário Ferreira. “Catirina, minha Nêga, Tão Querendo te Vendê…”: escravidão, tráfico e negócios no Ceará do século XIX (1850 – 1881). Resenha de: PEREIRA, Josenildo de J. Embornal, Fortaleza, v.2, n.4, p.1-4, 2011. Acessar publicação original. [IF].
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX | João José Reis
Estudos biográficos de indivíduos que experimentaram a escravidão – e mais ainda daqueles que conseguiram superá-la – representam um gênero narrativo de crescente interesse. Esses estudos se referem, sobretudo, ao complexo escravista do Atlântico Norte. As biografias de africanos e de seus descendentes permitiram perceber sob um novo ângulo, e de maneira mais humana, o movimento amplo da história, seja do tráfico de escravos, da ascensão e queda da escravidão no Novo mundo, da reconfiguração do Velho mundo pela colonização e pelo escravismo, enfim da formação de sociedades, economias e culturas atlânticas. É possível fazer dessas histórias pessoais uma estratégia para entender o processo histórico que constitui o mundo moderno e, em particular, as sociedades plantadas na escravidão que dele brotaram. Prospera, também no Brasil, o interesse por estudos biográficos desse tipo […] do sujeito que viveu na sombra do anonimato, de quem não se tem memória constituída, ou cuja memória pertence mais ao mito do que à história […]. (REIS, 2008, p. 315-6).
Com essas palavras, João José Reis justificou, no início do epílogo de seu novo livro Domingos Sodré, um sacerdote africano, o estudo que empreendeu para analisar a trajetória deste na Bahia escravista dos 800. Leia Mais
No sertão das minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888) – JESUS (HP)
JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888). São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2007. Resenha de: MEDEIROS, Euclides Antunes. História & Perspectivas, Uberlândia v. 23, n. 43, 15 dez. 2010.
Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão | Selma Pantoja
Escrito pela historiadora Selma Pantoja, o livro Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão, aborda alguns elementos da história de Angola durante o século XVII. Com o prefácio de Alberto Costa e Silva, a obra mostra o mito da rainha Nzinga que ascendeu ao poder rompendo as normas estabelecidas pelas linhagens tradicionais, que não admitiam uma mulher no poder. Além de também, dentre outras questões, Selma Pantoja traz as especificidades da escravidão dentro do continente africano.
As peculiaridades da história da África Negra trouxeram desafios para a historiografia. Sobre as fontes escritas percebe-se uma visão estereotipada dos africanos e suas sociedades, são relatos feitos por viajantes europeus carregados de superioridade. Com uma população ágrafa temos a tradição dos testemunhos orais que necessitam de uma técnica especial.
A obra traz um extenso relato sobre as características do povo Mbundu, bem como as especificidades da escravidão africana que tanto difere da praticada nas Américas. Deixa claro que ela é muito mais antiga do que se pensa, que era imanente naquele continente, mas de nenhuma forma benévola. E permeando toda a obra está a presença de Nzinha Mbandi que bravamente lutou contra o domínio português no Ndongo.
Sobre a escravidão africana vale ressaltar algumas características relativas à ela como o sistema de parentesco, os direitos pessoais, o escravo como propriedade, e este como sendo um dos tipos de dependência.
A autora também destaca a importância da mulher na sociedade africana, onde ela é o principal trabalhador agrícola e está diretamente ligada a produção e reprodução.
Selma Pantoja diz não ser adequado identificar a escravidão a partir do atributo propriedade, pois justifica que seus direitos são negociáveis, que tanto pessoas livres como escravos poderiam se negociados como propriedade.
Nota-se como característica marcante dos escravos africanos a ausência de parentesco, a não-integração com a linhagem ou etnia local. Para tanto era necessário que este indivíduo fosse retirado de local de origem, enfatizando sua procedência estrangeira. A guerra, o seqüestro, as razias eram as formas mais comuns de escravização e ao contrário que se imagina, aqui, o escravo não trabalhava somente em atividades produtivas, poderia este desempenhar cargos políticos e sociais.
E como o escravo está presente na estrutura econômica de uma sociedade africana? A autora mostra que, quando esta mesma sociedade depende do escravo, temos uma sociedade escravista. Porém a simples presença da escravidão e do escravo não necessariamente a define desta maneira.
Selma Pantoja dedica um capítulo de seu livro mostrando a organização e características da sociedade na África Central Ocidental. Primeiramente os povos de língua bantu onde há apenas uma breve amostra de características dessa sociedade, tais como prática da agricultura e da metalurgia, que possuíam um regime de descendência matrilinear, patrilinear e até de descendência dupla.
Após a autora enfatiza os povos coletores, existentes na África Central Ocidental, chamado de bosquímanos. Estes foram grupos nômades e tiveram sua população absorvida pelos povos de língua bantu, que resultou em um violento impacto no modo de vida dos povos caçadores.
Importante ressaltar que com a relevância da introdução do ferro na agricultura, facilitando na abertura de clareiras, que foi ideal para o cultivo de banana, tão importante na dieta bantu, fez com que o ferreiro tivesse muito prestigio dentro da sociedade, tornando-se o mais importante artesão da aldeia. Uma unidade política organizada em confederação de linhagem é mostrada como exemplo dentro da complexidade do sistema político da região, os Mbundu.
Uma característica marcante desta população eram os laços de parentesco além de muitos dependentes. Como no caso da mulher, que vivendo em uma sociedade polígama, tinha seu trabalho apropriado pelo homem.
A região do litoral da África Central criou estados que se apoiavam na autonomia de linhagem. Eles baseavam-se em uma relação social ou de parentesco consanguíneo, neste ultimo podendo ser matrilinear ou patrilinear. No caso dos Mbundu são predominantemente matrilineares, porém patriarcal, ou seja, segue-se a linhagem materna, mas sempre representado pelo homem.
Há um trecho onde podemos tornar a imagem de Angola mais real, com os aspectos geográficos da região. No que diz respeito às demarcações do domínio dos povos, estas eram feitas pelos rios e mares. O mar litorâneo era de domínio dos reis africanos, já o alto mar pertence aos europeus. O clima angolano é descrito como sendo intertropical, com o índice pluviométrico aumentando quando se afasta do litoral, já ao sul o clima é árido devido ao deserto.
Agora a autora adentra na história do Congo e do estado do Ndongo, onde viviam os Mbundu.
O Congo era divido entre cidades e a população das aldeias, sendo os títulos pertencentes aos habitantes das cidades. Quanto à religião houve um processo de cristianização que se operou somente à elite congolesa.
O governo central era mantido pela cobrança de impostos, estes eram pagos com tecidos, marfim ou cativos.
Uma expedição vinda de Portugal vinda de Portugal, em 1482, estabeleceu contato com o Congo, com interesses comerciais, os lusos introduziram na costa africana o comércio de manufaturas. No início esta relação luso-bakongo era amistosa, até a cristianização ter sido posta de lado pelo interesse no comércio de escravos.
O escravo era utilizado como pagamento no estudo dos africanos em Portugal. Sua venda rendia também impostos para o Manikongo, chefe do Congo. Em 1512 este comércio tornou-se monopólio real.
Durante o século XVII o Congo foi invadido pelo grupo dos yagas, que foi na verdade um golpe para os chefes locais, os Manikongos e comerciantes portugueses, estes guerreiros lutaram ao lado dos Mbundu. Foi então que resultou na hegemonia do Ndongo na região.
Os Mbundu era inicialmente organizado em forma de aldeia constituído por grupos de filiação. Os membros destes grupos tinham o controle das terras para o seu cultivo.
Sobre o soberano, era chamado de Ngola, este passava por um ritual relacionado à posse de objetos considerados sagrados.
Toda a população, aparentemente, estava submetido ao Ngola, mas havia diferença na forma de submissão, dentre as mais comuns formas de dependência estavam os prisioneiros de guerra, escravos por dívidas ou por punição de algum crime, estes não estavam inseridos em nenhum sistema de parentesco. Eram os cativos e as mulheres que se dedicavam à produção agrícola.
E é neste contexto que surge a figura de Nzinga Mbandi, e foi durante seu governo que o Ndongo sofreu sua fase mais tensa, a luta contra os lusos no comércio de escravos e o ataque dos Mbangalas. Nzinga destaca-se por conseguir equilibrar-se neste período de crise no governo.
Nota-se que o mito da rainha Nzinga também serve para autora enfatizar por várias vezes a importância da mulher na sociedade africana, tanto no poder como o principal produtor agrícola.
Voltando ao assunto do contato Portugal-África, foi em 1540 que os lusos tiveram contato com os soberanos Mbundu, e foram estes que buscaram contato com os europeus. O Ngola pediu aos portugueses que enviassem ao Ndongo padres e comerciantes. Mas quando o capitão Novais, enviado pelo reino português, chegou a região e o novo Ngola não quis recebê-lo e após alguns meses de espera o capitão avançou para o interior. O Ngola não apenas se recusou a ser convertido ao cristianismo, como prendeu Novais juntamente com o padre Gouveia.
Para incrementar o comércio de escravos os portugueses combateram contra os Mbundu ao longo do século XVII, e esta tarefa foi difícil pois os portugueses encontraram a resistência de Nzinga Mbandi.
Os portugueses usavam diversos pretextos para iniciar uma campanha militar com intuito de capturar mais escravos. Mas sem o apoio dos africanos os portugueses não poderiam ter acesso às rotas de comércio. A resistência de Nzinga vai dificultar todo comércio de escravos por todo século XVII.
Com a morte de Ngola Mbandi em 1617, houve uma disputa pelo poder entre Kia Mbandi e Nzinga. Ela fugiu para Matamba, onde não poderia mais reivindicar o título, já que para as linhagens tradicionais não aceitavam uma mulher no poder.
Seu irmão teve um governo marcado por inúmeras guerras, devastando o Ndongo. O governador empreendeu uma campanha militar contra o Ndongo e acabou que com sua capital destruída.
Para que a paz fosse restabelecida precisou de alguém com habilidade de negociação, Nzinga, uma mulher com capacidades não só diplomáticas como de guerra como demonstrou dentro de seus quilombos.
O Ngola Mbandi entra em contato com sua irmã Nzinga, que desempenha as negociações entre Ndongo e Portugal na negociação de paz entre os dois estados. Durante a década de 20 os portugueses conseguiram estabelecer aliança no Ndongo. O Ngola Mbandi falece e Nzinga detentora das insígnias reais apodera-se do poder.
Os dois últimos capítulos são onde Nzinga Mbandi está mais presente na obra de Selma Pantoja.
Nzinga adotou os costumes dos Mbangalas, e não aceitou a proposta dos portugueses para que o Ndongo tornassem seus tributários. Ela pediu em carta à Portugal, que enviassem padres ao Ndongo e em troca devolveria os escravos que haviam fugido dos portugueses e refugiaram-se no quilombo.
Porém os portugueses expulsaram Nzinga e colocaram um chefe submisso aos interesses lusos, Aire Kiluanji, que abriu as rotas comerciais do Ndongo. Os chefes Mbundu não reconheciam o Ngola, por ele não pertencer à linhagem. O que permeava esta resistência era o sentimento anti-português da região.
Após um assalto à ilha de Kwanza empreendido pelo governador, Nzinga foge para Matamba e ela passa a adotar os costumes e as formas militares dos Mbangalas.
O confronto militar do Ndongo com os portugueses resultou na demolição das bases do estado, além da propagação da varíola que despovoou aldeias inteiras.
É sempre recorrente falar em escravos que eram acolhidos pela Nzinga e este fato servia de argumentação para justificar a guerra contra a rainha Mbundu. Nzinga era soberana no Matamba, rompeu com as regras estabelecidas, sendo uma mulher no poder usando de força militar para consegui-lo.
Em 1641, Nzinga apóia a ocupação de Luanda pelos holandeses, o qual deseja seu apoio político. Nzinga usou a presença dos holandeses para expulsar de vez os portugueses e reaver o Ndongo. Os portugueses foram reduzidos à posição de intermediários ao comércio de escravos. Em 1648 os holandeses unidos a Nzinga avançaram contra os portugueses.
Os maiores rivais dos portugueses passaram a ser Matamba e o Congo. Foi durante o governo de Vidal de Negreiros que ocorreu o golpe fatal ao Congo deixando-o enfraquecido, mas este continuaria existindo até o século XIX.
Sobre Matamba, foi assinado um acordo de paz com os portugueses, para tal os lusos teriam que libertar a irmã de Nzinga e ela comprometia-se em entregar alguns escravos. A rainha Nzinga se e converteu ao cristianismo e aceitou a presença dos missionários na região. Neste momento era impossível lutar mais contra os portugueses, pois não havia possibilidade de reorganizar um exercito no Ndongo, já despovoado.
Foi durante o século XIX que a África tornou-se mais vulnerável as invasões européias, pois antes a malária era uma espécie de barreira natural, e neste século foi descoberto o quinino, que ajudou os portugueses a driblar esta barreira.
Nzinga faleceu em 1663, ela foi temida por não só ter sobrevivido a varíola como por ter adotado os ritos Mbangalas.
As conseqüências da disputa pelo comércio de escravos foram grandes, como a redução da população local, o aumento do numero de cativos, a redução da população local e a escravização de pessoas livres.
O Ndongo foi o principal fornecedor de escravos para Luanda, em um momento em que tive uma relação estreita com o comercio atlântica durante o século XVII.
Segundo Cavazzi, na região do Ndongo existiam três tipos de escravos: os quísicos, que eram filhos de outros escravos; os prisioneiros de guerra, que poderiam ser usados em sacrifício; e os escravos de fogo, que viviam em perpetuo serviço até a morte de seu proprietário.
Aos escravos eram negados direitos e privilégios, diferenciados dos demais membros da sociedade devido à ausência de parentesco. Tanto os escravos como as mulheres estavam subordinados aos mais velhos da linhagem.
Foi por meio do apoio destes escravos que Nzinga Mbandi conseguiu subir ao poder no Ndongo e tornar-se um mito não só no continente africano, mas para todos os afrodescendentes.
Nota
Resenha apresentada à Disciplina de História da África, ministrada pela Professora Dra. Fabiane Popinigis na Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC.
Mariana Ouriques – Graduanda do curso de História – UFSC.
PANTOJA, Selma. Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão. Brasília: Editora Thesaurus, 2000. Resenha de: OURIQUES, Mariana. O universo negro-africano e suas peculiaridades: a escravidão, o tráfico e o mito da Rainha Nzinga. Cadernos de Clio. Curitiba, v.1, p.116-120, 2010. Acessar publicação original [DR]
Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas | Eduardo França Paiva
Lançado em 2008, Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas é o primeiro livro publicado a partir das atividades do Grupo de Pesquisa “Escravidão e Mestiçagem”. O grupo foi criado em 2005, como desdobramento do Simpósio “Escravidão: sociedades, culturas, economia e trabalho”, no XXIII Encontro Nacional da ANPUH, ocorrido em Londrina. Em um segundo Simpósio, realizado no ano seguinte na cidade de Belo Horizonte, foi reforçada a disposição em ampliar as discussões acerca dos estudos sobre história da escravidão e das mestiçagens em uma perspectiva comparada, eixo central desse livro.
Sem perder de vista os aspectos locais e regionais que marcaram o escravismo e as mestiçagens, o grupo busca compreendê-los inseridos em processos mais amplos e complexos, no tempo e no espaço. A partir dessa perspectiva, o livro rompe, inequivocamente, com uma história comparativa tradicional, pautada em rígidas hierarquias sociais e culturais ou modelos históricos ideais a serem perseguidos. Leia Mais
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX – REIS (RBH)
REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 461 p. Resenha de: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 29 no. 57, JUN. 2009.
João José Reis é merecidamente um figurão da historiografia brasileira. Seus livros, desde o pioneiro Rebelião escrava no Brasil, modificaram o estado da arte dos estudos sobre escravidão, sobre rebelião escrava e movimentos sociais, não só no país, mas internacionalmente. Esse pesquisador meticuloso e apaixonado, esse amante dos arquivos, das bibliotecas, dos documentos e dos livros acaba de lançar mais uma obra, um livro já saudado efusivamente em várias resenhas de especialistas no campo dos estudos sobre escravidão, no campo da chamada História Social: Domingos Sodré, um sacerdote africano. O livro se propõe a fazer um exercício de micro-história, pois toma como fio condutor da análise a vida de um africano liberto que viveu na Bahia do século XIX, e a partir da biografia desse ex-escravo que se tornou uma importante figura entre a população africana da cidade, desse sacerdote preso por ser acusado de práticas religiosas heréticas e diabólicas, o autor traça um amplo panorama das intrincadas relações sociais, das relações de poder, das atividades econômicas e culturais vivenciadas pelos libertos, por essa parte da população que, vivendo nas fímbrias do sistema escravista, sendo resultado dele, mas em muitos aspectos a ele se opondo, é pouco levada em conta quando se trata de contar a história da escravidão brasileira. A trajetória do liberto, do papai Domingos Sodré, que provavelmente nasceu em Onim ou Lagos, na atual Nigéria, por volta do ano de 1797, que morreu em 1887, com estimados noventa anos de idade, que deve ter desembarcado na Bahia, como escravo, entre os anos de 1815 e 1820, até por sua longevidade, por ter atravessado quase todo o século e por ter transitado entre as condições de escravo e de homem livre, permite pensá-lo como um sujeito encruzilhada, sujeito que foi se constituindo e se transformando à medida que transitava por distintos territórios sociais e culturais, que elaborou e vestiu distintas máscaras identitárias, que encarnou distintos lugares de sujeito, que entrou em conflito e teve de negociar com distintas forças e personagens sociais, que conviveu, fez parte e recorreu a distintas instituições sociais, tanto formais como informais, que fez parte tanto do mundo dos pretos, da cidade negra, quanto dos brancos, da cidade oficialmente dita branca e aristocrática. Através de sua vida, João Reis tentou acompanhar as pistas que levam àpresença e àprática do candomblé, na Bahia do século XIX, bem como dar conta da dura repressão que ele sofria, em dados momentos, por parte das autoridades policiais e judiciais, e como, ao mesmo tempo, essas práticas conseguiam resistir e sobreviver por terem, muitas vezes, o apoio de membros das elites e até mesmo das próprias autoridades que deviam combatê-las.
No que tange à contribuição deste livro para o estudo da escravidão, da liberdade e do candomblé, outros autores já se manifestaram e não sou eu o mais habilitado para avaliá-la, já que não sou especialista no tema, nem milito no campo da História Social. Os motivos que me levam a resenhar esta obra, a indicá-la, portanto, como leitura obrigatória para todos os historiadores, independentemente do tema com que se ocupem, do campo da disciplina em que militem, é que a considero uma obra exemplar do que seriam, hoje, as regras que presidem a operação historiográfica; considero-a uma obra exemplar na observância dos procedimentos que dariam estatuto científico ao nosso ofício, mas também a considero exemplar no que tange aos impasses, aos dilemas, aos debates acalorados que dividem, nestes dias que correm, a comunidade dos historiadores. Assim como aborda um sujeito encruzilhada, ela é, também, uma obra onde as encruzilhadas em que está colocado nosso ofício emergem com nitidez. Ela é uma obra exemplar do caráter narrativo da historiografia, do papel que a narrativa desempenha na elaboração e inscrição da história; é obra exemplar das artes e artimanhas que são requeridas de todo historiador, na hora que tem de transformar a pilha de documentos compulsados, as inúmeras pistas e rastros encontrados, num enredo que faça toda essa poalha, essa dispersão, fazer sentido; ela é exemplar do uso do que alguns preferem chamar de imaginação histórica, para não dizer o uso da ficção na escrita da história, ficção entendida não como o oposto da verdade ou da realidade, mas como a capacidade poética humana de dotar as coisas de sentido, de imaginar significados para todas as coisas, sentidos que são sempre, em última instância, uma invenção humana, já que as coisas não trazem em si mesmas um único significado, nem gritam ou dizem o que significam. As evidências nem falam, nem são evidentes; elas são levadas a dizer algo por quem as diz, elas são levadas a serem vistas por quem as põe em evidência.
Em várias passagens do livro, o caráter lacunar das fontes, a falta de documentos sobre a vida de Domingos Sodré e o silêncio dos arquivos sobre a vida dos de baixo obrigam João Reis a imaginar, a ficcionar, a tentar adivinhar como poderia ter sido, o que poderia ter acontecido com o papai Sodré e seus companheiros de condição na cidade da Bahia, em tal ano e em tal situação. Ele não se contém em imaginar que papai Domingos poderia ter estado em dado lugar, conhecido alguns de seus vizinhos, participado de dadas cerimônias, conhecido algumas autoridades, tivesse tomado algumas medidas, sabido de dados eventos e notícias, sempre fazendo questão de deixar claro, nesses momentos, como pesquisador sério e honesto que é, que se tratava de viagens ou visagens de sua própria lavra. Imaginação, ficção que na historiografia é limitada pelas próprias informações que se tem, pelo conhecimento que o historiador tem do período que estuda, por aquilo que sabe sobre o funcionamento da sociedade e da cultura que está estudando. Imagina-se o provável, ficciona-se o possível de ocorrer naquele tempo e lugar, com as pessoas que vivem em dada situação social e segundo dados códigos culturais. No entanto, sem essa capacidade de imaginar, sem a habilidade de criar, de inventar sentidos e significados para os restos do passado que chegam até o presente, a historiografia seria impossível. O próprio João Reis admite o parentesco existente entre o historiador e o adivinho. O historiador, às vezes, também tem que ser um papai, tem que jogar os coloridos búzios das significações que acha possível serem dadas a um evento, tem que exercer suas artes divinatórias, deixar a intuição trabalhar, estabelecer ligações entre os eventos que não estão explicitadas na documentação. Afinal, faz certo tempo que os historiadores sabem que os documentos não dizem tudo e que eles são capazes de provar as teses mais díspares, dependendo dos significados que a eles se atribuem, da leitura que deles se faz.
No epílogo do livro, João Reis vai fazer uma afirmação que é muito reveladora da própria consciência que o autor tem da importância da narrativa, da construção do texto para a versão da história que constrói. Estamos muito longe, aqui, de certa visão ingênua de que é possível estabelecer uma versão definitiva dos eventos e que essa seria a verdadeira versão do passado. O autor vai afirmar que se as informações que se tinha sobre um figurão popular como Domingos Sodré eram poucas e esparsas, o que se sabia sobre a vida de Maria Delfina da Conceição, que foi sua esposa por cerca de dezenove anos, era ainda menos expressivo. Essa mulher que acompanhou os passos, que dividiu a vida, a casa e possivelmente a crença com o papai, deixou pouquíssimos rastros de sua passagem pela história. Se soubéssemos mais sobre ela, diz Reis, o enredo dessa história poderia ser diferente. Nessa passagem, o autor admite, explicitamente, que a história que acabou de contar tinha um enredo: ela foi enredada, tramada, os eventos foram interligados por uma atividade narrativa, por uma arte de contar história. Ao contrário do que alguns historiadores ainda supõem, o enredo da história de Domingos não foi descoberto, encontrado pronto nos arquivos pelo historiador baiano. Ele não está no próprio passado, embora este seja uma referência para criá-lo, embora pequenos pedaços de enredos, pequenas tramas, também narrativas, também escritas tenham chegado até nosso pesquisador. O que Reis está afirmando é que o enredo foi feito no presente, por ele, com as informações que encontrou. Se ele afirma que o enredo poderia ser outro, não é que a história em si mesma pudesse ser outra. Sabemos que o passado não pode mais ser alterado pelo simples fato de que passou, mas o enredo poderia ser outro, pois, de posse de outras informações, de informações sobre a vida da companheira de Domingos, ele poderia escrever a história que escreveu de outro modo, o livro poderia ser diferente do que este que está publicado. A estratégia narrativa podia ser outra, outras as personagens, outras as ligações entre os eventos, outras as tramas, outras as explicações e significações.
O livro Domingos Sodré, um sacerdote africano é uma obra modelar no uso das artes, artimanhas e mandingas de nosso ofício, por isso deve ser bibliografia obrigatória nos cursos de metodologia da pesquisa histórica. Nele estão presentes todas as regras que presidem a operação historiográfica e que permitem que nosso ofício reivindique o estatuto científico: a narrativa mediante documentos; a pesquisa ampla e meticulosa de arquivo, onde o autor expõe nosso parentesco com os detetives; a crítica rigorosa das fontes; o concurso de uma ampla bibliografia na área de estudos a que pertence, incluindo desde obras clássicas, até obras mais recentes, trabalhos sequer publicados; um domínio fino da teoria e da metodologia faz com que ela sustente a análise, esteja presente na carpintaria, na estruturação do texto e de todos os passos da pesquisa, sem que precise aparecer atravancando o texto, em digressões que costumam ser xaroposas e pedantes. Essa leveza, essa fluência, essa beleza do texto, que já fez de Reis um autor premiado, é parte desta outra dimensão inseparável da operação historiográfica, aquilo que Certeau nomeou de escrita, a dimensão artística de nosso ofício, a dimensão ficcional que a narrativa histórica convoca. O bom livro de história, o clássico em nossa área não se faz apenas às custas do tema que se escolhe e da pesquisa documental que se faz, pois a história só existe quando escrita, é no texto que ela se realiza, bem ou mal. Afirmo, e talvez ele nem considere isso um elogio, que grande parte do sucesso dos livros de João Reis se deve à forma como são escritos, à sua habilidade narrativa, a despeito de serem todos fruto de exaustiva pesquisa e do estudo metódico e rigoroso de temas inovadores, muitos deles pouco tratados ainda.
João José Reis possui uma consciência da centralidade da narrativa em nosso ofício, como poucos. Seus livros explicitam as estratégias narrativas que escolheu. Domingos Sodré é um livro que, se fôssemos adotar as sugestões de Hayden White, diríamos vazado no enredo romanesco. É uma trama em que embora Domingos opere como uma metonímia de seu tempo, bem a gosto da micro-história italiana, que inspira teoricamente e metodologicamente o livro, ele é descentrado e disperso por uma dezena de outros personagens que vêm ocupar o seu lugar na trama sempre que as informações sobre ele escasseiam. João Reis deixa explícito que irá adotar na narrativa esse procedimento analógico. Como num romance, o livro de Reis não é um livro de teses, embora defenda algumas ideias, aliás faça algumas conclusões, mas estas não aparecem explicitadas, e sim implícitas, imanentes à trama que ele arma. Ele convoca a nós, leitores, a que cheguemos às conclusões antes que ele as exponha, a partir do enredo que ele elabora. Ele homenageia a inteligência dos leitores, jogando no tabuleiro os seus Fás para que a gente os decifre, para que leiamos a mensagem que quer nos fazer chegar. Em vários momentos da obra, a metonímia Domingos é substituída por outros personagens que atuam como se fossem metáforas do velho sacerdote, outros personagens ocupam o lugar desse sujeito e o dispersam, fazendo-o aparecer com diferentes rostos, em diferentes corpos, em diferentes situações, para em seguida, em outro movimento, tal como ocorre com o Menocchio de Carlo Ginzburg, em quem parece se inspirar, deixar de ser um ser singular, único, para ser um sujeito exemplar, um sujeito resumo de seu tempo, de sua sociedade e de sua cultura. Sua figura, que se dispersa num primeiro momento, no segundo momento unifica, homogeneíza, encarna a situação do liberto na Bahia, no século XIX. Em ambas as situações o caráter ficcional do procedimento é notório, para o mau humor do historiador italiano, que não cessa de fazer diatribes azedas contra a presença da ficção no ofício do historiador. Mas sem a ficção não haveria trama, não haveria enredo, não haveria compreensão, não haveria saber histórico. Tanto no momento em que outros libertos vêm agir, se comportar, falar, como Domingos, tanto no momento em que o autor supõe que se um liberto realizava tais práticas, o papai como um liberto que era também possivelmente fazia a mesma coisa, passava pela mesma situação, quanto no momento em que o sacerdote singular, excepcional, tão único que chegou a merecer biografia escrita por outro figurão da cidade, torna-se um representante de todos os libertos, que sua vida se torna similar à de todos de sua condição, que suas práticas de crença se tornam análogas às de outros praticantes desses rituais, é a imaginação, é a ficção, é a capacidade de dar sentido, de raciocinar por imagens, por figuras, de estabelecer configurações, por parte do historiador, que está agindo. É o historiador João Reis que está produzindo esse enredo, essa versão para o passado, a partir de seu olhar: um olhar formado pela disciplina histórica, pelas regras da disciplina, um olhar informado por dados pressupostos teóricos, um olhar informado por dadas posturas políticas, éticas e morais, e, por que não admiti-lo, um olhar constituído por dados códigos estéticos, por uma dada maneira de figurar o mundo, de vê-lo e de dizê-lo, um olhar tropológico, além de ideológico. A história é um saber de encruzilhada entre o fato e a ficção, entre o feito e o contado, entre a ação e a narração, entre o que se vê e o que se imagina, entre o rastro e o sonho, entre o resto e o desejo, entre o que se lembra e o que se esquece, entre o achado e o perdido, entre a fala e o silêncio, entre o signo e a significação, entre o material e o etéreo, entre os homens e todos os deuses.
Portanto, Domingos Sodré, um sacerdote africano é um bom exemplo de como a “história vista de baixo” é uma impossibilidade, já que ela, como todas aquelas escritas por historiadores, é fruto do olhar do historiador e não do personagem que nela é tratado. No livro de João Reis não lemos a história contada do ponto de vista de Domingos, até porque este está morto e quase nada pode nos dizer para além do pouco que ficou registrado, sempre por outras pessoas, pois, como é comum entre os de baixo, na época tratada por Reis, ele era iletrado, e até os documentos que registram sua presença são escritos e assinados por outros. A história é vista por Reis, não por Domingos, embora caiba ao historiador, esta é uma das mandingas do ofício, tentar adivinhar, imaginar, fabular, idear, intuir o que pensava e sentia o papai. Talvez, quem sabe, João Reis até gostaria de ser um cavalo em que viesse se encarnar o papai Domingos, o mandingueiro famoso, mas, nas artes divinatórias da história, quem frequenta essa encruzilhada costuma fazer seus próprios despachos, encomendar seus próprios feitos e contados. João Reis faz, como todas, uma “história vista de cima”, já que, pelo menos até hoje, em nossa sociedade, os historiadores costumam ocupar os estratos considerados superiores da sociedade. É ele quem olha para Domingos do alto de sua sabedoria, de sua posição social, de seu lugar institucional, de seu lugar de classe, de seu lugar de letrado e doutor, de seu lugar de branco, né meu rei! Sobre a vida do velho sacerdote joga sua rede discursiva, o aprisiona em dados sentidos que estão agora à disposição da comunidade de historiadores para que sejam discutidos, debatidos, repensados, refeitos, reabertos a novas interpretações, a novas invenções. Mas, por isso mesmo, o velho mandingueiro baiano virou de vez figurão, passou a fazer parte da história do país, da história desta ignomínia, desta chaga que não pode deixar de ser reaberta para que continue doendo na consciência dos homens que foram capazes e ainda são capazes de perpetrá-la: a escravidão. Só por isso a invocação e a evocação do preto velho, a sua reencarnação narrativa nas páginas deste livro magistral, escrito por um mestre do ofício de historiar, que pode botar banca como seu personagem negro fazia na cidade da Bahia, já é merecedora de elogios e de leitura atenta. E quando tal intenção política e tal postura ética dão origem a uma narrativa primorosa como o deste Domingos Sodré, deve ser motivo de recomendação, não apenas para todos os santos, não apenas para todos os iniciados nas artes e ofícios da historiografia, mas principalmente para os neófitos, os que ainda estão realizando os atos preparatórios para entrar na nossa seita, os que ainda não estão de cabeça feita, que precisam passar pelos rituais de introdução a este fascinante mundo do sacerdócio, por isso mal remunerado, em nome do passado. Aceitem o sorriso convidativo do autor em sua rede e se enredem no fascínio deste livro escrito com competência científica e sensibilidade artística.
Durval Muniz de Albuquerque Júnior – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pesquisador CNPq. Departamento de História – Campus Universitário, BR-101, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN – Brasil. E-mail: [email protected].
A escravidão na Roma Antiga: política, economia e cultura | Fábio Duarte Joly
Resenhista
Rafael da Costa Campos – Mestrando em História na Universidade Federal de Goiás.
Referências desta Resenha
JOLY, Fábio Duarte. A escravidão na Roma Antiga: política, economia e cultura. São Paulo: Alameda, 2005. Resenha de: CAMPOS, Rafael da Costa. Os escravos na antiguidade. História Revista. Goiânia, v.12, n.2, p. 395-399, jul./dez.2007. Acesso apenas pelo link original [DR]
Tácito e a metáfora da escravidão – JOLY (RBH)
JOLY, Fábio Duarte. Tácito e a metáfora da escravidão. São Paulo: Edusp, 2004, 162p. Resenha de: BENTHIEN, Rafael Faraco; PALMEIRA, Miguel S. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.52 , dec. 2006
Há todo um significado especial envolvendo a produção de um livro sobre a metáfora da escravidão no Brasil. Originalmente uma dissertação em História Econômica defendida na Universidade de São Paulo em 2001, esse livro apresenta-se ao leitor como um estudo “da escravidão no Alto Império Romano” e, em especial, da “estreita associação entre política e escravidão” constatada naquela sociedade (p.25). Para nossa sorte, porém, a abrangência de suas questões vai além do recorte anunciado. Fábio Duarte Joly realizou, em verdade, uma instigante pesquisa sobre certas formas de classificação social vigentes no Mediterrâneo do primeiro século depois de Cristo e sobre as relações de poder que as instituem (ou são por elas instituídas). Partindo das obras de Tácito, Joly aborda o fenômeno da escravidão antiga salientando não os usuais recortes econômicos e jurídicos recorrentes na historiografia, mas sim suas decorrências políticas. Tal postura implica o reconhecimento do escravo e do homem livre como categorias de apreensão da lógica das ações sociais. Nesse ínterim, tais termos não servem apenas para nomear estatutos sociais específicos, mas também para localizar e reforçar ideologicamente o suposto lugar de cada indivíduo, seja ele escravo ou não, nos quadros hierárquicos de sua própria sociedade. Eis aí a força e a pertinência desse estudo.
O livro tem seu argumento desenvolvido ao longo de três capítulos, aos quais se somam uma introdução e uma conclusão. A parte substantiva da argumentação é inaugurada com o primeiro capítulo: “História, Retórica e Metáfora em Tácito”. O autor apresenta aí, de forma sucinta, aspectos da biografia taciteana, atentando tanto para lacunas informativas, como para problemas relativos à datação e à preservação dos textos a ele atribuídos. Segue-se então a explicitação do ponto de vista analítico que norteia o trabalho: explorar a lógica social da retórica de Tácito. Esta aposta se traduz aqui no esforço de tomar elementos retóricos não apenas como um dado de estilo — o que, segundo Joly, tem sido a regra nas apreensões desse historiador antigo —, mas como algo passível de ser explicado na relação com seus contextos de produção e recepção. Embora não se possa mapear com precisão a circulação da obra, o autor enfatiza, por meio do que chama de a metáfora da escravidão, o vínculo de Tácito com a elite imperial romana. Sendo as diversas alusões metafóricas às figuras de escravos e libertos um dado naturalizado na obra do historiador, pode-se supor, por meio delas, a abrangência e o significado dessas categorias para o projeto político e a visão de mundo dessa elite.
Em “Escravos e libertos em Tácito”, o segundo capítulo, o autor investiga — a partir, sobretudo, dos Anais e das Histórias — as idéias de Tácito a respeito da instituição servil. A análise então se centra nas referências literais a duas categorias jurídicas e sociais do Principado: libertos e escravos. Joly observa como o historiador antigo situa tais grupos na sociedade romana e quais critérios de classificação social mobiliza. O juízo emitido a respeito tanto do escravo quanto do liberto tem como medida a lealdade (fides) devida respectivamente ao senhor ou ao patrono. Tácito mostrava-se de modo geral hostil a esses dois grupos, pois entendia que ambos agiam, em regra, egoisticamente, e não de acordo com o interesse de senhores ou patronos; saudava, porém, a grandeza do espírito de alguns raros escravos e libertos, os quais teriam se sacrificado em defesa das causas desses mesmos superiores. Tácito tinha, portanto, como bem nota Joly, uma concepção ética da escravidão. Ou seja, o que definia a seus olhos a qualidade do escravo ou liberto era uma maneira de se comportar. Em algumas passagens dos escritos taciteanos, dedicadas à gestão da escravidão, esta instituição aparece também caracterizada como uma relação de dependência “cuja manutenção oscila entre o emprego da violência e da coerção legal e o recurso da cooptação por meio dos benefícios, como a concessão da liberdade” (p.105). Vale dizer: a concepção ética de escravos e libertos, bem como a idéia da escravidão como relação de dependência são as chaves pelas quais Tácito extrapola o sentido literal de tais categorias e, por meio do recurso à metáfora, converte-as em instrumentos de apreensão de práticas sociais e políticas em seu mundo.
Determinar a especificidade desses empregos metafóricos é a proposta do terceiro capítulo, “Tácito e a metáfora da escravidão”. Nele, Joly atenta para o uso das categorias escravo e liberto em dois contextos específicos na obra de Tácito: 1) em sua apreciação da participação política de magistrados e senadores na vida política imperial; e 2) nas práticas administrativas perpetradas por administradores de província. Fica registrada nessas circunstâncias a tensão entre dois pólos: as esferas pública e privada da administração imperial romana. No primeiro contexto, tal embate se dá entre a liberdade de expressão do Senado e o regime patriarcal imposto pela casa imperial. Tácito entende como nociva a concentração de poderes nas mãos do imperador, o que lhe permitiria sobrepor-se às prerrogativas do Senado. Isto, porém, apenas parece viável em função da atuação dos próprios círculos aristocráticos romanos, os quais preferiram tornar a esfera pública uma extensão da casa imperial para disto obterem vantagens materiais. Ao agir assim, sugere o historiador antigo, esses círculos de magistrados e senadores se comportam de maneira egoísta, como típicos escravos e libertos. No segundo contexto, as mesmas questões se fazem sentir na administração provincial. Joly explora uma série de exemplos taciteanos acerca da má utilização de cargos públicos em prol de vantagens materiais particulares. De qualquer maneira, o que parece preocupar Tácito é a possibilidade da instauração de uma tirania irreversível do imperador, inviabilizando eticamente o exercício da liberdade.
Embora os procedimentos metodológicos utilizados no livro e sua conclusão sejam por demais coesos para que lhes sejam dirigidas críticas maiores, é salutar atentar agora para algumas lacunas na análise de Joly. Uma delas é documental. O autor sustenta sua argumentação tanto no vínculo social entre Tácito e a elite imperial romana, como na sua particular forma de apresentação naturalizada da metáfora da escravidão, a qual não requer explicações por parte do historiador antigo. A estes dois suportes poder-se-ia acrescentar mais um: os demais textos de época, ou próximos a ela (Sêneca e Suetônio, entre outros). Joly os cita apenas en passant, sem se permitir exercícios comparativos. Talvez por este viés seja possível definir melhor os vagos contornos que no livro adquire o contexto social da obra tacitiana. A outra falta é conceitual. Joly se vale de conceitos como espaço político, público e privado, cultura política, participação política, entre outros, sem que sinta a necessidade de os definir. Afinal, existe uma cultura política no Principado romano? Caso exista, qual a sua especificidade? E, mais, seria possível aplicar a moderna oposição público/privado para torná-la inteligível? Qual a razão disto?
Deixando de lado essas pequenas lacunas, reconhece-se aqui Tácito e a metáfora da escravidão como um exemplo de trabalho equilibrado no trato com fontes e bibliografia. Ele escapa, assim, aos vícios de uma argumentação por demais colada ao corpus documental e se esquiva de criticar modelos a partir simplesmente de outros modelos, sem referenciar a documentação primária. Há, além disto, a estratégica escolha do tema. “A escravidão antiga”, afirma Norberto Guarinello no prefácio a esta primeira edição, “tem recebido no Brasil um tratamento que, talvez, só seja possível num país que conheceu de perto a experiência dessa forma terrível e extrema de dominação social” (p.15). Com efeito, sendo Fábio Duarte Joly um historiador natural do país da metáfora da escravidão moderna, seu trabalho não atesta somente a vitalidade da História Antiga no Brasil, ou mesmo as vantagens de se fazer uma História Antiga a partir do Brasil, mas demonstra, a despeito do que dizem os profetas da História-disciplina sobre as (im)possibilidades de se conhecer a História-matéria — ora amparados pelo culto à subjetividade, ora apegados à ilusão de poder anulá-la —, ser também graças ao enraizamento social do pesquisador, e nem sempre apesar dele, que a investigação historiográfica produz seus bons frutos.
Rafael Faraco Benthien – Mestrando, FFLCH-USP.
Miguel S. Palmeira – Doutorando, FFLCH-USP.
[IF]Além da Escravidão: investigações sobre raça/trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação | Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca J. Scott
Vivemos um momento singular na história brasileira. Depois de anos de luta dos afro-descendentes, nunca a questão da desigualdade racial esteve tão visível: políticas públicas com o objetivo de reparar anos de exclusão têm sido implementadas; a pesquisa histórica é sensível a essa nova condição; nos cursos de pós-graduação, trabalhos são produzidos sobre o período pós-abolição, no intuito de analisar a historicidade da exclusão racial e dos embates da população negra pelo alargamento das fronteiras sociais. Entretanto, esses estudos, alguns distantes do mercado editorial, ainda não progrediram para análises comparativas com outras sociedades que conviveram com a escravidão e que também tiveram que enfrentar as dificuldades do período pós-emancipação.
Em se tratando de uma instituição atlântica, que teve repercussões na América, na África e na Europa, a escravidão e os contextos pós-emancipação devem ser analisados da maneira mais abrangente possível. Afinal, a situação de desigualdade racial está presente em todos os lugares nos quais existiu o trabalho cativo negro. Por isso, o livro Além da Escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação, escrito por três renomados pesquisadores norte-americanos, Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca Scott, é imprescindível. Ele é fruto de estudos subordinados ao projeto Postemancipation Societies que, desde o ano de 1982, vem coletando e selecionando fontes do Caribe, da África e do Brasil. O livro contém três ensaios comparativos, que analisam as sociedades pós-emancipação em diferentes partes do mundo – como o Caribe britânico (especialmente a Jamaica), Cuba, a Louisiana (nos Estados Unidos) e a África colonial – e abrangem o período de 1833, ano da abolição da escravatura na Jamaica, até 1946, quando o trabalho forçado extinguiu-se na África de colonização francesa. Leia Mais
Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860 | Rafael de Bivar Marquese
No final dos anos 80 Ciro Flamarion Cardoso chamava a atenção para o fato de que a historiografia brasileira sobre a escravidão ignorava o que era produzido no restante das Américas sobre o mesmo tema e alertava para a necessidade de utilização do chamado método comparativo nos estudos sobre a escravidão. Desde então, livros como o de Eugene Genovese, sobre a escravidão nos Estados Unidos, de Moreno Fraginals e Rebeca Scott, sobre Cuba, de Emilia Viotti da Costa, sobre a Guiana Inglesa e o de C. R. L. James, sobre o Haiti, representaram avanços consideráveis no estudo sobre o tema. Quanto ao método comparativo, ele pode ser identificado nas recentes publicações de Célia Marinho Azevedo, sobre o processo abolicionista nos Estados Unidos e no Brasil, e na coletânea organizada por Manolo Florentino e Cacilda Machado. O livro de Rafael de Bivar Marquese, Feitores do Corpo, Missionários da Mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860, está situado na intercessão entre estas duas possibilidades de estudo, pois faz um balanço da produção historiográfica sobre a escravidão nas Américas e apresenta um estudo comparativo sobre os regimes escravocratas nas colônias inglesas, francesas, espanholas e portuguesa. Leia Mais
A Slaves Place, a Master’s World: Fashioning Dependency in Rural Brazil | Nancy Priscilla Naro
NARO, Nancy Priscilla. A Slaves Place, a Master’s World: Fashioning Dependency in Rural Brazil. London: Continuum, 2000. Resenha de: HOFFNAGEL, Marc Jay. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.20, n.1, p.301-304, jan./dez. 2002.
A Licentious Liberty in a Brazilian Gold-Mining Region. Slavery/ Gender and Social control in Eighteenth-Century Sabará/ Minas Gerais | Kathleen J. Higgins
Resenhista
Ernest Pijning – Historiador brazilianista em professor da Minor State University, Dakota do Norte (EUA).
Referências desta Resenha
HIGGINS, Kathleen J. A Licentious Liberty in a Brazilian Gold-Mining Region. Slavery, Gender and Social control in Eighteenth-Century Sabará, Minas Gerais. University Park, PA: University of Pennsylvania Press, 1999. Resenha de: PIJNING, Ernest. História Revista. Goiânia, v.6, n.1, p.223-225, jan./jun.2001. Acesso apenas pelo link original [DR]
Shared Traditions: Southern History and Folk Culture – JOYNER (CSS)
JOYNER, Charles. Shared Traditions: Southern History and Folk Culture. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1999. 361p. Resenha de: SEIXAS, Peter. Canadian Social Studies, v.35, n.3, 2001.
When we think about the major political fault lines in Canada, we tend to think in terms of regions. The recent election was one more example of ideologically defined parties whose strengths and weaknesses divide along stark regional lines. The greatest challenge to national unity in the twentieth century has been Quebec separatism, while resentments in both the Maritimes and the West have been endemic. When we examine the United States in the 20th century, however, racial divisions, and not regional schisms, appear to be the most significant threat to the success of the national project. Since mid-century, moreover, after years of northward migration of the descendents of enslaved African Americans, the problem of race relations is no longer plausibly conceived-if it ever was-as an exclusively Southern regional issue.
Charles Joyner’s collection of essays, most of them previously published, offers at least two challenges to this picture of the American socio-political map. First, he claims that the South continues to be a distinct region, socially and culturally. Secondly, he argues that the apparent racial divisions in the South mask shared traditions which are the product of centuries of interplay among folk traditions which originated in Celtic, west African, Native, and other cultures. Thus, Joyner speaks without hesitation or apology of the essential character of Southerners (p. 150). Region provides a central organizing framework for the otherwise widely disparate essays in the volume.
A second theme helps to unite his chapters: the interplay between folklore study and the discipline of history. Joyner himself, as both a folklorist and a historian, straddles the two fields. Folklore study had its origins in the collection of folk tales, legends, ballads, dances and crafts, and in the study of such products as dialects, vernacular architecture, folk religion, food and labour (p. 152). From these beginnings, it branched into a quest for theoretical foundations and several of Joyner’s essays help the uninitiated (like myself) understand the development of the field. It has been consistent in its concern with the lives and culture of non-elites. It has been less so in paying attention to the larger social and political contexts within which folkways were embedded or in serious study of cultures changing over time. This is where history comes in. Pursuing his study of the South over the course of a lifetime, Joyner promises that two disciplines offer more than either one alone could deliver.
Shared Traditions is organized into five sections. After an introduction that sets the theme of Southern unity in diversity, the first section examines slavery in the old South. While these chapters make an interesting read, they have long been superseded by the work of Jacqueline Jones, Leon Litwack, Eric Foner, and Herbert Gutman (among many others) who do not even get footnotes. Three review essays on David Potter, David Hackett Fischer and Henry Glassie comprise the second section. A third section is a disparate collection of essays on the New South, examining Jews, music, dulcimers, and a local civil rights campaign. The fourth section theorizes folklore study and history. The final section, a single chapter, is a plea for cultural conservation on the Sea Islands, where luxury resort development has largely displaced a vibrant and successful black folk culture.
Will Canadian social studies teachers and educators be interested in this volume? I do not think that any Canadian curriculum is geared in a way that this volume will be of import for its substantive detail on the American South. Nor is the volume an economical way to catch up on recent historiography of the region. Nor, when it comes to exploring the pedagogical possibilities of folklore research, does it offer anything close to what the Foxfire books did in the 1970s. There is, however, a contribution here, on the methodological and theoretical issues surrounding the interplay of capitalist globalization and regional folk cultures. These are key historical forces that touch the lives of our students and their families, whether Canadian-born or newly immigrated. I suspect, though, that hard-pressed teachers will be able to find more economical sources to enrich their approaches to these issues.
Peter Seixas – Canada Research Chair in Education. University of British Columbia.
[IF]Visões da liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte | Sidney Chalhoub
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. Resenha de: MONTEIRO, Marília Pessoa. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.14, n.1, p.245-246, jan./dez. 1993.
Escravidão no Brasil – PINSKY (PH)
PINSKY, Jaime. Escravidão no Brasil. São Paulo: Global Editora, 1981. Resenha de: AUN-KHOURY, Yara. Projeto História, São Paulo, v.2, 1982.
Yara Aun-Khoury
[IF]Guerra y sociedad en Chile. La transformación de la Guerra de Arauco y la esclavitud de los índios | Alvaro Jara
Resenhista
Sergio Vergara Q. – Universidad de Chile.
Referências desta Resenha
ALVARO, Jara. Guerra y sociedad en Chile. La transformación de la Guerra de Arauco y la esclavitud de los índios. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1981. Resenha de: Q., Sergio Vergara. Cuadernos de Historia. Santiago, n.1, p. 161-164, diciembre, 1981.