Posts com a Tag ‘Harvard University Press (E)’
Fugitive Pedagogy: Carter G. Woodson and the Art of Black Teaching | Jarvis R. Givens
Jarvis R. Givens | Imagens: The Black Teacher Archive
Born in 1865 during the last years of the American Civil War, Carter H. Barnett was a teacher and the principal of Frederick Douglass School in Huntington, West Virginia, where he edited the West Virginia Spokesman and contributed to the state’s Black teacher association. Positioned on the edge of a tattered 1896 photograph, he stands to the right of fifty-some school children assembled in motley garb on the school steps, Garnett’s own studious dress and the hat held in his hand testament to his status as Principal of this six-room school.
In 1900 Garnett was fired after he alienated local white leaders by proposing a series of Black candidates for political office who were independent from the local Republican Party. His replacement, the beneficiary of the persistent vulnerability of Black educators and—likely unbeknownst to the white school board—his cousin, was Carter G. Woodson, now well-known and indeed lionized as the ‘Father of Black History Month.’ Barnett’s story is a particularly resonant instance of the many under-examined stories unearthed in Jarvis Givens’s Fugitive Pedagogy: Carter G. Woodson and the Art of Black Teaching. Utilising Woodson as a centripetal focus, Givens unveils the full tapestry of Black education life, juxtaposing the fortunes and misfortunes of a realm “always in crisis; always teetering between strife and hope and prayer” (p. 22).
Givens, an assistant professor at the Harvard Graduate School of Education, maps this liminal position by excavating a pedagogical heritage of ‘fugitivity’, following the insights of theorists including Édouard Glissant, Saidiya Hartman, and Nathaniel Mackey. Invoking Mackey’s conception of the “fugitive spirit” of Black social life more broadly (p. vii), Fugitive Pedagogy describes the everyday acts of subversion Black teachers employed to teach students about Black history and heritage amid “persistent discursive and physical assaults.” (p 34). As Givens takes pains to emphasise, these acts were not isolated episodes but instead “the occasion, the main event”, representing the visible aspects of an “overarching set of political commitments” that dated to the period of enslavement and continued to be anchored in celebrations of the folk heroism of the fugitive slave (p. 16). The fugitive slave’s example symbolised a space of existence outside of prescribed racial orders, where African Americans could collectively assert their capacity to be educated, rational, and human. In the words of Master Hugh from The Narrative of the Life of Frederick Douglass, a slave who knew how to write was “running away with himself” (p. 12).
A great strength of this analytic, as opposed to resistance or freedom, is to emphasise that Black educational efforts were always fated to struggle against centuries of legislation and beliefs that denied Black educability. Incorporating Achille Mbembe’s Critique of Black Reason, Givens suggests that this “chattel principle” that rendered African-descended peoples fungible property to be exchanged by slaveholders denied their potential rationality, catalysing subsequent antiliteracy laws (p. 10). Slaves were to have “only hands, not heads”, hence the declaration of legislation following 1739’s Stono Rebellion that “the having of slaves taught to write, or suffering them to be employed in writing, may be attended with great inconveniences” (p. 11). Locating Black educators in the ‘Afterlives of Slavery’, Givens thus suggests that to be Black and educated has always represented “an insistence on Black living, even amid the perpetual threat of Black social death” (p. 10).
Fugitivity also voices the affective and embodied natures of teaching, where classrooms underwent “aesthetic transformation… to defy the normative protocols of the American School” (p. 204). For Givens, education is corporeal, embodied, and freighted with emotional resonance, its putative impossibility under dominant racial scripts “etched into Black flesh” (p. 20). Conversely, miseducation and antiblack curricular violence are situated as symbiotic with physical violence, hence the frequent quotation of Woodson’s assertion “there would be no lynching if it did not start in the schoolroom.” (pp. 95-96). Thematically, Givens thus emphasises Black education as a learning experience, something recovered by trawling a “patchwork of sources” from a diverse archive to privilege the often understudied experiences of Black students themselves and uncovering that common contradiction between “what they said or wrote” (p. 20).
Givens’s “collage of fugitive pedagogy” (p. 24) is constellated around the “particular, emblematic narrative” (p. 4) of Carter G. Woodson (1875-1950), the author, historian, and founder of the Association for the Study of African American Life and History (ASALH). As opposed to echoing Jacqueline Goggin and Pero Galgo Dagbovie’s accomplished biographies of Woodson, Fugitive Pedagogy analyses Woodson in constant relation to the ASALH’s broader network of scholars to demonstrate how Woodson “inherited a tradition and then played a crucial role in expanding it” (p. 16). (1) By effectively dethroning Woodson, this networked approach paints a more expansive portrait than the patrilineal tendency to centre the individual achievements of this ‘father’ of Black Studies.
For example, Givens’s first chapter provides a fresh perspective on the already well-examined subject of Woodson’s life from 1875-1912 by emphasising his socialization into a vibrant pre-existing “black educational world” (p. 26). This deliberately privileges Woodson the teacher over Woodson the later scholar, highlighting how reading newspapers to the Civil War veterans he worked alongside in West Virginia’s coal mines and witnessing his teachers, frequently themselves formerly enslaved men, allowed Woodson to develop “a studied perspective on the distinct vocational demands of being a black teacher” (p. 26). Taking Woodson as emblematic of the first post-emancipation school generation thus stresses the continuities in Black education’s striving against a pre and post-emancipation antiblack social order, revealing how teaching the formerly enslaved consequently remained “an act of unmaking the terms of their relation to the word and world” (p. 35).
Chapter Two highlights how Woodson’s desire to denaturalize prevailing forms of scientific judgement found an “institutional embodiment” in the ASALH, one instance of Woodson’s wider designs to form a Black “counterpublic” (p. 71). Whilst this is also well-trodden ground, the fugitive pedagogy motif nonetheless helps to explain the Association’s shift from the interracial historical alliance conceptualized in 1915 to its more polemic form in the 1930s. This was, Givens argues, a direct response to the epistemological violence of racist films such as Birth of the Nation and the physical violence of contemporary race riots such as 1919’s ‘Red Summer.’ In a position of eternal vigilance, the Association was thus portrayed “standing like the watchman on the wall, ever mindful of what calamities we have suffered from misinterpretation in the past and looking out with a scrutinizing eye for everything indicative of a similar attack” (p. 62).
Chapter Three moves to embed Woodson in a distinct tradition of Black educational thought, a literature of educational criticism that sought to counter the disfiguring of Black knowledge within American public life. As opposed to emphasising the barriers preventing access into American schools and universities, Givens instead underscores the “epistemological underpinnings of education provided to those who made it past these barriers” (p. 97). Thus, Woodson’s Mis-Education of the Negro (1933) critiqued the “imitation resulting in the enslavement of his mind”, particularly from institutions like Harvard which rendered its students “blind to the Negro” and unable to “serve the race efficiently” (pp. 98-99). In the most theoretically expansive section of Fugitive Pedagogy, Givens articulates this Woodsonian critique of pedagogical ‘mimicry’ to the adjacent conceptions of several extra-American Black thinkers regarding the disfiguring of Black knowledge: Aimé Césaire’s ‘thingification’, Sylvia Wynter’s ‘narrative condemnation’, and Ngũgĩ wa Thiong'o’s ‘cultural bomb.’
Chapter Four too ballasts fugitive pedagogy in the remembrance of the Black fugitive as an “an archetype who symbolized Black people’s political relationship to the modern world and its technologies of schooling” (p. 128). This archetype indicates the wider use of Black historical achievements as models for present political action within textbooks that sought to vindicate Black intellectual and political life by recalling the full history of resistance within the Black diaspora. In this sense, Givens concludes, the Black textbook was “itself a literary genre inaugurated by runaway slaves” (p. 158). This tradition rendered curricular violence visible, distilling the possibility of resistance by evoking a Black aesthetic that situated subversion and defiance as long-standing threads of Black existence.
Chapter Five looks to connect Woodson to a cadre of Black schoolteachers. Adapting the term “abroad marriages”, originally applied to those enslaved who married those living on different plantations, Givens shows how Woodson the ‘abroad mentor’ utilised the Black press, the ASALH, and particularly Negro History Week to translate his ideas to school teachers, pausing along the way to examine the inequity in school provision and the restrictions on teaching they faced, particularly in the South. One notable example was the Negro Manual and Training High School in Muskogee, Oklahoma. In 1925 its Principal Thomas W. Grissom was forced to resign after officials found Woodson’s The Negro in Our History being taught, with the school board decreeing that nothing could be “instilled in the schools that is either klan or antiklan” (p. 168).
Finally, Chapter Six looks to centre students as “partners in [the] performance of fugitive pedagogy” by analysing biographical materials recounting the school days of prominent civil rights activists, politicians, and scholars including Angela Davis, John Lewis, and John Bracey (p. 199). Whilst subsequent activists are likely to be far from representative, Givens effectively emphasises the aesthetic ecology of the classroom and how the value systems undergirding school routines, rules, and projects including Negro History Week “inducted [students] as neophytes in a continuum of consciousness” (p. 222). This collection of visual narratives, Givens argues, formed an ‘oppositional gaze’, a disposition to question social technologies that perpetuated antiblack violence. The example of Congressman John Lewis is particularly resonant, as Givens shows Lewis prefiguring his later contribution to the sit-in movement by asking a public library in Troy, Alabama for library cards for him, his siblings, and his cousins despite their full awareness of the futility of this request.
If Fugitive Pedagogy has one weakness, it is the underplaying of intraracial differences inevitable within Givens’s artifice. Whilst Givens stresses that fugitivity is a variable practice, he asserts that “surely there are deviations, but they are not the concern here” (p. 16). Correspondingly, Fugitive Pedagogy makes no attempt to comprehensively trace variations in region, class, and gender. In a book of just over 300 pages, this is a pragmatic decision which avoids diluting the argumentative thrust. Yet consequential statements of intraracial equality are on occasion made rather too briefly. For example, Givens looks to identify the ASALH as “an intellectual project with Black Americans across age, class, and gender in mind,” defining his inclusion of gender here as a “careful assertion” (p. 84). Granted, Givens effectively illustrates that Black women consistently made up more than three-quarters of the profession and rose to prominent positions, with Mary McLeod Bethune becoming the ASALH’s President from 1936 to 1951. Yet this is not to say that Black women’s contributions were adequately recognised or recompensed, particularly given Patrice Morton’s suggestion that the ASALH failed to challenge many myths of Black womanhood prior to the late 20th century.(2)
Second, further research is needed to layer fugitive pedagogy into the full scope of Black institutional life, investigating how fugitive pedagogy translated to ancillary sites of education, including clubs, sporting societies, libraries, and churches. Givens consciously distances his argument from quantitative assessments of the inequality of educational provision yet this risks obscuring regional variations in resources and the vital ties between low wages, economic precarity, and professional vulnerability. Fugitive Pedagogy largely develops ‘upwards’ from individual acts of fugitivity, occasionally de-emphasising the institutional context. This means that readers hear little about mundane but vital factors including roofs, heating, lighting, desks, school grounds, teacher-pupil ratios, or the disproportionate private ownership of Black schools. With the firings of both Grissom and Barnett, Givens correspondingly emphasises the outcome rather than the process, occluding the logics and justifications of school boards and the pressures placed upon them by local (white) communities. Should an adequate archive exist, an ecological study focused on fugitive pedagogy within a single school would particularly flesh out Givens’s framework.
Third, given the roots of fugitive pedagogy in the discrete experience and memories of slavery, could other insurgent pedagogies employ fugitive practices? If not, there is a risk that the fugitive model shifts a further emotive and educative burden to Black teachers, compounding the long-standing tendency already recognised by Givens for Black teachers to double tax themselves to achieve liberatory ends. Givens suggests so, situating Black fugitive pedagogy as one discrete tradition within a broader genre of educational criticism that critiqued orthodox models of schooling, a purposive attempt to “leave room to consider… bodies of educational criticism by Native American educators and thinkers, Marxist educators, and feminist teachers and thinkers, among others who understand their political motivations for teaching to be in direct tension with the protocols and dominant ideology of the American school” (p. 251, cf.76). Further, recounting recorded acts of fugitivity necessarily underplays the longer slog of merely existing and making a living within white institutions, with all the undoubtedly uneasy cross-racial cooperation and interest convergence this entailed. When reckoning with this subject matter, any historian is condemned to see only the tip of the iceberg, only those acts visible in the archive through exorbitant chance and, more than often than not, only when refracted through the institutional memory of surveillance institutions. Whilst Givens has collected a vast archive of Black voices, there remains the risk of privileging more palpable disobedience over the dissemblances and circumlocutions which could allow Black teachers “wearing the mask” to articulate an activist ethos within the confines of objectivity.
These three areas for further investigation notwithstanding, Fugitive Pedagogy ultimately offers an engrossing reminder of the importance of collective education that is particularly resonant in the world of individualised algorithmic learning that followed the COVID-19 pandemic. Ambitious and theoretically virtuosic in exposition, magnetic and energizing in execution, the clarity of its theoretical interventions suggests that its broad brushstrokes will be imminently nuanced by other scholars empowered by the fugitive framework and its relevance to current pedagogical debates.
As the February 2022 victory of a diverse coalition against Indiana’s House Bill 1134 signals a growing resistance to anti-CRT legislation, Givens is particularly commendable for his insistence on Black education’s prescriptive moral force. A more diluted ‘anti-racist’ pedagogy within contemporary education that often tends towards the personal and psychological, towards diversity and inclusion, is cut short shrift compared to a progressive pedagogy that acknowledges the structural determinants of white supremacy. For Givens, education provides an alternative prospectus for living. If this may appear somewhat utopian, Fugitive Pedagogy at least provides a powerful argument for cross-professional solidarity between academia and schoolteachers. This will undoubtedly be furthered by Givens’s creation (alongside Princeton’s Imani Perry) of the Black Teacher Archives. As Givens notes, this disposition represents “an international refusal of contemporary trends where teachers are deprofessionalized in general and where black teachers in particular have been systemically alienated, often being positioned as unintellectual and nonpedagogical knowers” (p. 239).
Excavating Black education’s persistent fugitive ethos also emphasises that the ‘political’ education challenged by recent anti-CRT laws has only been rendered visible and legislatively-eradicable in proportion to white discomfort. Historicizing this ethos thus provides a warning against retreating to political ‘neutrality’ as such an option has never existed. Ultimately, Fugitive Pedagogy suggests that any pedagogy seeking to advance Black achievement is necessarily ‘political’, if only because the mere social fact of Black literacy confounds the founding principles of the American Republic.
To be sure, teachers in the present United States face their own dilemmas. Contemporary educators face not only an onslaught of anti-CRT legislation but also the dilemmas of retaining any activist impulse behind Black education within a racial liberalism that stresses the integration of Black history into multi-racial educational programmes disarticulated from the Black counterpublic sphere. As Givens recently recognised in The Los Angeles Review of Books: “We must also recognize… that [the] siloed inclusion of Black knowledge into mainstream institutions- often in defanged fashion- can only do so much to disrupt the self-corrective nature of said systems.” (3)
Jarvis Givens’s Fugitive Pedagogy places educational strivings at the heart of the Black freedom struggle, providing historians of the United States a digestible testament to the methodological interventions and activist orientations of recent historians of Black education. Suitable for both advanced undergraduates and the public, Givens’s work deserves a central role in syllabuses on the Black freedom struggle, the sociology of knowledge, and broader histories of resistance to educational domination. As the global education sector rebuilds following COVID-19, Fugitive Pedagogy cogently conveys this literature’s overwhelming emphasis on the virtues of disciplinary self-introspection and recovering shared professional heritages. If much of the fugitive tradition with its attendant varieties remains to be fully pieced out, Givens nonetheless articulates a grammar for struggle that can provide refortification to our own generation’s embattled teachers who choose to think otherwise. Teetering once more between “strife and hope and prayer”, Fugitive Pedagogy articulates a language that provides historical ballast for the present and argumentative weapons for the future.
Thomas Cryer (he/him) is a first-year AHRC-funded PhD student at University College London’s Institute of the Americas, where he studies memory, race, and, nationhood in the late-20th-century United States through the lens of the life, scholarship, and activism of the historian John Hope Franklin. [Twitter: @ThomasOCryer]
Notes
1 Pero Gaglo Dagbovie, The Early Black History Movement, (Urbana: University of Illinois Press, 2007) & Jacqueline Anne Goggin, Carter G. Woodson: A Life in Black History, (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1993).Back to (1)
2 Patricia Morton, Disfigured Images: The Historical Assault on Afro-American Women, (New York: Greenwood Press, 1991).Back to (2)
3 Jarvis Givens, ‘Fugitive Pedagogy: The Longer Roots of Antiracist Teaching,’ The LA Review of Books, August 18th, 2021.Back to (3)
Resenhista
Thomas Cryer - University College London.
Referências desta Resenha
GIVENS, Jarvis R. Fugitive Pedagogy: Carter G. Woodson and the Art of Black Teaching. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. Resenha de: CRYER, Thomas. Reviews in History. Londres, n. 2465, sep. 2022. Acessar publicação original [DR]
The class matrix: social theory after the cultural turn | Vivek Chibber
Luego del giro cultural iniciado en la década de los 70 del siglo pasado, parte del debate en torno a la teoría social, en un intento por corregir las visiones deterministas difundidas por el marxismo clásico, ha girado en torno al rol de la subjetividad, lo particular y las experiencias individuales como fundamentos determinantes para comprender los conflictos sociales. Lo anterior, ha desencadenado en que teorías con paradigmas de carácter estructural hayan perdido popularidad para analizar los fenómenos sociales, siendo el marxismo una de las teorías más vilipendiadas. Categorías como clases sociales, capitalismo, explotación y lucha de clases, cada vez son menos frecuentes entre los análisis coyunturales y de carácter histórico. ¿Es que el capitalismo y sus efectos sobre la sociedad puede explicarse por variables culturales? En esta corta pero ambiciosa obra, el sociólogo marxista Vivek Chibber se impone una tarea clara y bien definida: rescatar y revalorizar la teoría materialista en los debates sociológicos de nuestro tiempo. Para esta labor, el académico organiza toda su argumentación en torno a responder las críticas de la teoría que considera ha desplazado al marxismo en los análisis sociales contemporáneos, a saber, los estudios culturales. Ahora bien, esta no es solo una nueva obra que intenta reproducir al pie de la letra los escritos marxistas tradicionales y conocidos por gran parte de los entendidos. Por el contrario, esta obra es un intento por actualizar la teoría materialista, reflexionando sobre los errores de las generaciones previas y tratando de situarse sobre vacíos, incluyendo eso que para seguidores del marxismo ortodoxo suena tan esquivo: la cultura. Por tanto, este es un escrito que intenta romper con el determinismo característico de la teoría marxista del siglo pasado, se empeña por sostener que la teoría materialista sigue siendo la principal herramienta teórica para analizar las sociedades capitalistas y, aún más importante, trata de incorporar y posicionar el rol de la cultura en la teoría materialista. Para lograr ese proyecto, el académico formado por Erik Wright escribe minuciosamente su obra bajo la siguiente y reveladora idea: “This book develops a theory of class structure and class formation by way of response to the cultural turn. It is written with the conviction that the road back to materialism goes through culture, not around it” (p.16) [Este libro desarrolla una teoría de la estructura de clases y de formación de clases como respuesta al giro cultural. Está escrito con la convicción de que el camino de vuelta al materialismo pasa por la cultura, no por rodearla]. De este modo, el autor minuciosamente divide su obra en 5 capítulos, cada uno con propósitos y desafíos específicos, pero que, sin embargo, convergen en intentar responder tanto a los cimientos teóricos del giro cultural, así como también develar una teoría marxista de la sociedad que responda a los desafíos y giros que ha tenido la sociedad en el último siglo. Una de las ideas que ha adquirido protagonismo desde el inicio del giro cultural dice relación con que las estructuras están subordinadas, de alguna u otra manera, a las constelaciones de los significados; el primer capítulo se encarga de abordar esta propuesta. De este modo, y aceptando de manera parcelada la propuesta de que los agentes tienen que interpretar la estructuras, el pasaje se centra en rebatir la tesis más popular entre los estudios culturales. La argumentación de Chibber se fundamenta en la naturaleza del capitalismo en sí mismo, es decir, la explícita condición que los trabajadores, mediante las relaciones laborales desarrollan ante la necesidad de supervivencia física del mismo. Para el autor, mientras exista una estructura que obligue a los sujetos a vender su fuerza de trabajo como medio para la supervivencia, los significados, y por tanto la cultura, quedan relegados a otro plano explicativo. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la cultura? El sociólogo señala que la cultura juega un rol importante en la mediación de la estructura y de la práctica económica de los sujetos, y sobre todo, por el rol que juega para proveer los códigos necesarios para activar la estructura: “culture is still the proximate cause of structure’s stability in that it provides the codes and meanings needed to actívate the scturures [la cultura es todavía la causa próxima de la estabilidad de la estructura en tanto provee de los códigos y significados requeridos para activar las estructuras].” p.39 Otro de los motivos que dieron rienda al giro cultural, fue el determinismo -asociado al marxismo clásico- respecto a la formación de “clase en sí”. Dicho de otro modo, la teoría indicaba que debido a la explotación sobre la que se basa el capitalismo se generaría una resistencia colectiva que terminaría por decantar en una organización política que, finalmente, derrocaría al capitalismo. En el segundo capítulo, Chibber se hace cargo de este postulado y lo enfrenta. En él se busca renovar la teoría de la formación de clases rompiendo con el determinismo del marxismo clásico, pero confirmando que sí existe un proceso de formación de clases en el presente modo de producción asociado a las estructuras económicas. Esta vez, lo que el autor propone es que la resistencia, en primera instancia, no ocurre de manera colectiva, si no que de manera individual. Lo anterior tendría explicación en la distribución desigual de los recursos en el capitalismo -tales como el poder y el capital- , generando que los trabajadores tengan que enfrentarse a la estructura de manera solitaria frente a los dueños del capital. Ahora bien, ¿cómo ocurre entonces la formación de clase? A juicio del sociólogo, esta reside en condiciones ambientales externas de carácter favorable (i.e. un cambio en la estructura) y cambios en el cálculo moral sobre cómo juzgan esas condiciones. En este último punto vuelve recurrir a la cultura para explicar la formación de la clase, sosteniendo que una de las condiciones externas al proceso de formación de clase pasa por esta: “The indispensable ingredient, in addition to a favorable external environment is cultural– a shift in workers’ normative orientation to solidaristic [El ingrediente indispensable, sumado a las favorables condiciones externas es cultural– un cambio en la orientación normativa de los trabajadores a solidaria].” (p.68) El capítulo tres, está enfocado a explicar el problema de la reproducción en el capitalismo. En específico, la pregunta que intenta resolver este apartado es: dado que el capitalismo está generando permanentemente resistencia hacia él ¿cómo es que sobrevive? Chibber diverge, una vez más, de las explicaciones culturalistas, argumentando de entrada que la explicación a esta interrogante está en la estructura de clases en sí misma y no necesariamente en la ideología. Así, el argumento del autor está sustentado en dos ideas. Primero, sostiene que el consenso activo es importante para la estabilización del capitalismo, sin embargo, este tiene su origen en la coordinación en los intereses materiales, y no en la socialización, a saber, “Workers are persuaded to accept the system as legitimate, not by dint of ideology but because of how it aligns with their well-being [los trabajadores son persuadidos a aceptar el sistema como legítimo, no por la ideología sino porque este se alinea con su bienestar]” (p.80). Segundo, en que el mecanismo fundamental para la estabilidad capitalista es la resignación del trabajador a su situación. Esta última nace de una limitación impuesta por el carácter primeramente individual de resistencia al capitalismo. De este modo, es posible ver al autor debatir de manera permanente con las lecturas subjetivistas que otros marxistas hacen de la obra de Antonio Gramsci, concluyendo que la ideología no es causa de la estabilidad del capitalismo sino un efecto de él. El capítulo 4, por su lado, entra de lleno en el perpetuo debate de la teoría social en torno a la agencia y la estructura. En específico, Chibber trata cuidadosamente de mostrar que la teoría materialista, a pesar de su carácter estructural, puede explicar la agencia y la acción de los sujetos en el capitalismo. Dicho de otra manera, lo que se quiere defender, de manera subyacente, es que la teoría materialista puede explicar la acción dentro de la estructura social sin caer en la necesidad de incurrir en la cultura como elemento sustancial, incluyendo la explicación del cambio social desde la teoría. Para lograr esto último, el autor se sustenta en la emergencia histórica de la socialdemocracia en la Europa del siglo XX. La tesis del sociólogo es la siguiente: dada la naturaleza misma de la estructura económica en la cual están insertos los agentes, la mayoría de los sujetos no estarán interesados en generar acción colectiva debido a la resistencia de carácter individual que se forma en dicha estructura. El cambio ocurre -o no- en la medida en que existan alteraciones que impacten en los intereses directos de los actores de la clase trabajadora, y la magnitud que tengan para generar respuestas motivadas a la subsanación de esos intereses. Por último, vale la pena mencionar el profundo énfasis que el autor señala sobre la estructura social: cualquier intento de cambio siempre va a estar constreñido por y en la estructura misma. El quinto y último capítulo, está destinado a defender de manera elocuente que la teoría materialista de clases provee una narrativa coherente con respecto al auge y caída de la izquierda del siglo XX. En otras palabras, luego de presentar la robusta teoría en el libro, el capítulo se propone demostrar que la teoría presentada sirve como herramienta de análisis y explicación. Para ello, Chibber, desde un análisis histórico, presenta las condiciones estructurales y a la vez beneficiosas para la formación de clase, en las que la izquierda europea del siglo XX emergió. La transición de la agricultura hacia la manufactura urbana, la creación de sindicatos en los lugares de trabajo, entre otros, son algunas de las experiencias históricas en la que se sustenta esta primera fase. Más adelante, sin embargo, Chibber argumenta de manera clara y concisa que las experiencias históricas que ayudaron a formar a la “clase en sí” del siglo XX, ya no corren para este nuevo período. Siguiendo su tesis de la individualización de la resistencia, el sociólogo arremete con una tenaz aseveración sobre la resistencia colectiva: la resignación con el capitalismo y sus consecuencias en la vida de los sujetos. Esto permitiría explicar el decaimiento en la articulación política de la izquierda actual. Para resumir, esta ambiciosa y delicada obra está destinada a subsanar dos desafíos. El primero, a debatir de manera abierta pero directa con el giro cultural y los argumentos que, desde la teoría social, buscaban deslegitimar al marxismo. Al hacerlo, el autor discute con algunos de sus postulados más importantes1 -mas no con todos-, lo que lo lleva a examinar si es que la cultura tiene espacio en la teoría materialista. El segundo, afrontar al marxismo clásico para resaltar la teoría materialista y su valor. Es así como el autor logra actualizar y reorganizar ciertos conceptos que, en corrientes pasadas, a juicio del autor se presentan como equivocados. Lo anterior transforma a la obra de Viver Chibber como un indispensable para aquellos que deseen seguir explorando, desde una perspectiva sociológica y actualizada, una teoría marxista para el siglo XXI. Leia Mais
Inky Fingers: The Making of Books in Early Modern Europe – Antony Grafton
Anthony Grafton / Foto: Princeton University /
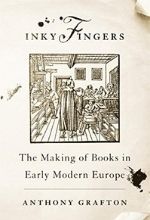
Globalists: the end of empire and the birth of neoliberalismo
Quinn Slobodian, professor na Wellesley College, é historiador com foco em história internacional, política norte-sul, movimentos sociais e história intelectual do neoliberalismo. É ligado a esse último tema que escreveu sua nova obra, “Globalists: the end of empire and the birth of neoliberalism”.
O objetivo inicial de Slobodian é quebrar com o senso comum de que os neoliberais acreditariam em um laissez-faire global, ou seja, em mercados que se autorregulem, em um Estado mínimo e na redução das motivações humanas ao interesse pessoal do homo economicus. Esses neoliberais imaginados confluiriam para um capitalismo de mercado livre conjugado com democracia e teriam fantasias de um mundo sem fronteiras. Leia Mais
Statelessness: A Modern History / Mira Siegelberg
Mira Siegelberg / Foto: TAUVOD /
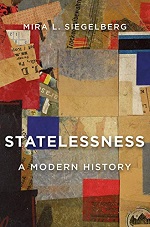
One way of telling the history of statelessness is to trace the origin of international agreements, notably the adoption by the United Nations General Assembly in 1954 of the Convention Relating to the Status of Stateless Persons in 1954, according to which a stateless person is anyone ‘who is not considered as a national by any State under the operation of its law’. Siegelberg does not dispute the importance of such a foundational moment—it forms part of her final chapter—but she insists upon the need for a non-teleological and more nuanced perspective, based upon a close reading of texts that emanated from multiple actors, including but not confined to a relatively small cast of international lawyers. These texts had consequences for the prospects of countless men and women. Statelessness thus becomes a touchstone for thinking about the relationship between the state, the international legal order, and the individual, and how that relationship was constantly reimagined. Leia Mais
Not all dead white men: classics and misogyny in the digital age | Donna Zuckerberg
A presença de referências ao mundo clássico em discussões realizadas nas redes sociais vem despertando a atenção de diversos estudiosos. Ainda que a tradição clássica tenha sido amplamente utilizada para justificar e legitimar posições ideológicas e regimes políticos ao longo da história, e, embora o estudo destas apropriações seja recorrente, a amplitude do universo on-line e a forma como esses discursos são criados e apropriados em plataformas virtuais trazem novas nuances para a situação, ou como é apontado por Donna Zuckerberg, as redes sociais amplificaram estes movimentos. A estudiosa, doutora em estudos clássicos pela Universidade de Princeton, é também fundadora e editora do site Eidolon, dedicado a apresentar os estudos clássicos para além dos meios acadêmicos tradicionais, considerando os aspectos políticos envolvidos e a partir de uma perspectiva feminista2.
Assim, em Not all dead white man, Zuckerberg se propõe a apresentar uma análise detalhada sobre como comunidades presentes na internet vêm se apropriando de símbolos, referências e personagens do mundo greco-romano com a finalidade de justificar posturas misóginas na contemporaneidade. Nesse sentido, dedicou-se ao mapeamento dos diferentes grupos que compartilham essas opiniões e apresenta um quadro minucioso dos mesmos, suas especificidades e diferenças, bem como de que forma eles se relacionam entre si. Leia Mais
Accounting for Slavery: Masters and Management – ROSENTHAL (THT)
ROSENTHAL, Caitlin. Accounting for Slavery: Masters and Management. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019. 312p. Resenha de: MUHAMMAD, Patricia M. The History Teacher, v.52, n.4, p.724-725, ago., 2019.
Scholars have written extensively concerning the Trans-Atlantic slave trade’s intricate financial regime promoted through multi-lateral treaties, slaving licenses, nation states, private companies, and slavers, proprietors, and bankers who financed and insured this barter in human commodities. In Accounting for Slavery, Professor Caitlin Rosenthal outlines municipal slavery business structures primarily in the West Indies; with slaveowners at the highest rank, followed by overseers and attorneys who were property managers. Using the terms “proprietor,” “balance,” “tally,” “middlemen,” and “employees,” Rosenthal transposes this verbiage with “plantation owner,” “bottom line,” “slaves,” “skilled workers,” “overseer,” and “watchmen”—demonstrating the level of accounting practices slaveowners developed.
Interlaced with technical nomenclature, the author includes historical events that affected plantation operations, such as the Maroon Rebellion in Jamaica and more frequent occurrences of sabotage of production output and plots to escape slavery’s brutality. She furthers her analysis by discussing crimes against humanity such as branding and torture as false incentives to increase labor production and compliance. Thus, enslaved people were forced to work against their will and were also chastised for fighting against a system in which human rights violations were systemically committed against them.
The author also discusses how slave codes encouraged plantation owners to maintain accurate records of their slaves’ whereabouts. Local authorities fined slaveowners for failure to abide by these laws, which only complemented their accounting practices. Both municipal and transnational law reflected Europeans’ desire to maintain control of their extended empire through hierarchies that negotiated with established Maroon communities of formerly enslaved people.
Although these communities were not acknowledged as a nation state, they had authority to enter a bi-lateral treaty with England in 1739 to preserve their autonomy with a condition precedent to not accept any additional runaway slaves.
Rosenthal then examines the impact of absentee proprietorship, in which plantation owners returned from the West Indies to England, seeking to maintain accountability of both land and slave. Consequently, these slavers authored plantation manuals (accounting guidelines) to track slaves, harvest, land, and productivity, referred to as “quantification.” Arguably, these standards were the financial antecedent to generally accepted accounting practices used to evaluate professional standards of modern bookkeeping for Western corporations. The slavers also furthered transnational law through lobbying with the British Parliament, securing their interests in sugar markets and a form of anti-dumping preventative measures under international trade law, as well as opposing the nascent trend in public international law to abolish the slave trade. The author argues that their records had a mitigating effect on the regulation of plantation slavery enforced by local officials, requiring slavers to adhere to graduated punishments that they recorded as evidence in their own defense.
Thereafter, Rosenthal dissects the methodology of plantation accounting, including ledgers, balance sheets, sticks used by slaves to account for livestock tallied annually, and eighteenth-century slaveowners’ advent of pre-formatted forms and double bookkeeping. These written records became evidence for British abolitionists to use against West Indian slavers since they not only detailed the loss of productivity, but also the loss of slaves’ lives resulting from the violence and torture they bore at the hands of slave masters.
Rosenthal then assesses rating systems based on historical records that affected the price of slaves as further evidence of their commodification. For instance, she employs the usage of “depreciation” in relation to an enslaved person’s decline due to disobedience, age or health. Value and (human) capital reinforced the disparity of rights between the enslaved and the master, with one person determining the other person’s worth based on what could be extracted by force or used as collateral for purchase of other tangible property.
Lastly, the author discusses the effects of the Civil War and Reconstruction on both slavers and enslaved. Slavers had the ability to quit the land and negotiate.
However, the agreements enslaved people signed were usually under duress, and former slaveowners had a greater bargaining position due to literacy, land ownership, prior financial gain from their former slaves, and the use of black codes to keep freed peoples subordinate.
The author uses primary sources to illustrate the development of accounting practices, through organization, law, and politics, making the text valuable for historians and graduate students specializing in those matters. With assiduous care, Rosenthal successfully depicts municipal slavery’s evolution from scattered processes to maintain control of slaves and land into a sophisticated, individual business venture that documented crimes against humanity and ironically supported the institution’s inevitable extinction.
Patricia M. Muhammad – Independent Researcher.
[IF]
The Injustice Never Leaves You: Anti-Mexican Violence in Texas – MARTINEZ (THT)
MARTINEZ, Monica Muñoz. The Injustice Never Leaves You: Anti-Mexican Violence in Texas. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018. 400p. Resenha de: WEBER, John. The History Teacher, v.52, n.3, p.530-532, may., 2019.
In her remarkable book, The Injustice Never Leaves You, Monica Muñoz Martinez examines the prevalence of anti-Mexican violence in Texas in the early twentieth century, and the importance of the lingering memories and scars created by those campaigns of violence on those who survived. Beyond highlighting episodes of racialized violence in the 1910s and their importance in solidifying a segregated society in the Texas-Mexico border region, this book also focuses on the efforts by those affected by racial violence to understand and record their own version of this history that has long been denied by both officials and academics in Texas.
Martinez has produced an enormously important history of extralegal violence that demands its readers confront past crimes and their continued resonance today.
The book’s first three chapters examine three infamous episodes of anti-Mexican violence and the struggles by survivors to challenge the presumption that wanton killing of Mexicans was justified. The lynching of Antonio Rodríguez in 1910, the murder of Jesus Bazán and Antonio Longoria by Texas Rangers in 1915, and the killing of fifteen ethnic Mexicans at Porvenir by a separate group of Texas Rangers in 1918 yielded no criminal convictions or punishments. They were all justified by state officials and local law enforcement as appropriate, if brutal, punishment for bandits or people deemed inherently criminal. Beyond these justifications that shielded Texas Rangers or lynch mob members from facing any punishment for their crimes, the families of the murdered and community members in each of these places fought against official versions of the past with a determined effort to maintain and cultivate their own understanding of history based in preserved community memories. In these alternate portrayals of the past that still circulate near the sites of these century-old murders, the Texas Rangers and white vigilantes were the criminals, preying on innocent, law-abiding locals. “Preserving memories,” writes Martinez, “became a strategy of resistance against historical inaccuracies and social amnesias” (p. 126).
Beyond just recounting these moments of violence, in other words, Martinez shows the continued resonance of these extralegal murders and the efforts by those affected to “insist that the state and cultural institutions stop disavowing this history and instead participate in the long process of reckoning” (p. 29).
The book’s next two chapters delve into efforts by the state of Texas and generations of historians to hide the brutal reality of racist violence and the Texas Rangers in the early twentieth century. Martinez shows that in 1919, the Texas government held off two efforts to punish state violence and mob violence. State Representative José Tomas Canales held a much-publicized investigation of the Texas Rangers in an attempt to both record their misdeeds and force their reform.
While the investigation produced thousands of pages of testimony and revealed the racist violence that animated Ranger activities in the border region, the state legislature, the adjutant general’s office, and the governor all resisted efforts to condemn past actions or reform the Rangers. Instead, Ranger activities were justified by Anglo state officials as necessary protections against endemic and inevitable banditry in the border region. As Martinez points out, the governor and the legislature also rejected efforts by civil rights advocates to pass anti-lynching legislation after a particularly brutal and public lynching in Hillsboro in early 1919. These simultaneous failures to confront both state and mob violence were, the author argues, clear proof that these forms of extralegal violence were selfreinforcing and “had a state-building function” (p. 6).
Martinez closes the book with an examination of recent efforts to use public history as a means to tell this more violent and complicated history. The author and other historians of the Texas-Mexico border region have worked to tell the true history of the Texas Rangers and vigilante violence through historical markers and, most ambitiously, through an exhibit at the Bullock Texas State History Museum in Austin in 2016 that revealed the history of racial violence that the state had tried to justify and then hide a century earlier.
The Injustice Never Leaves You is an important and timely book that should be read and taught widely. Martinez not only reveals the centrality of racial violence in Texas history, but also makes clear that the events of the past continue to bleed into the present through memory and through the unhealed wounds of contested history.
John Weber – Old Dominion University.
[IF]
This Vast Southern Empire: Slaveholders at the Helm of American Foreign Policy – KARP (PR-RDCDH)
KARP, M. .This Vast Southern Empire: Slaveholders at the Helm of American Foreign Policy. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 360p. Resenha de: CAPRICE, K. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p. 187-188, 2018.
In This Vast Southern Empire, Matthew Karp steps back from the previous historiography of the slaveholding antebellum South, a historiography that situates slaveholders as antiquated and inward looking, and, instead, Karp sees a slaveholding Southern elite looking outward in an attempt to enshrine their vision of modernity: a world economy run on slave labor. Karp bookends his study with the 1833 British emancipation of the West Indies, seen by Southerners as a global threat to the proliferation of slavery, and the creation and ultimate failure of the Confederate States of America, which Karp deems the “boldest foreign policy project of all” (p. 2). In this fresh take, Karp argues that, from 1833 to 1861, Southern elites eagerly utilized Federal power to secure the safety of slavery, not just in the United States, but throughout the Western Hemisphere.
By looking globally, Karp provides new and broader understandings to events previously seen as having only insular motivations. American interest in Cuba was less about the expansion of American slavery, Karp argues, and more about blocking the expansion of British anti-slavery, what Karp brilliantly terms as the “nineteenth-century domino theory” (p. 70). In a similar vein, Karp shows that Polk’s decision to push for war with Mexico, while pursuing peace with Great Britain over the Oregon question, was at least partially due to the fact that war with Mexico would not put the institution of slavery at risk. Insights from Karp’s global perspective do not end with the antebellum period, but extend into the policies of the Confederate government. As Karp explains, the immediate Confederate abandonment of the states’ rights platform was presaged by the Southern embrace of Federal power during their antebellum reign over American foreign policy. Through his argument, Karp provides yet another nail in the coffin which so securely holds the myth that the Civil War was fought for states’ rights rather than slavery.
In the epilogue, Karp closes by considering the imperialism of the 1890s as merely a continuation of the Southern elite’s original vision. Karp’s assessment, one deserving of far greater treatment, provides a steady timeline of white supremacy, framed originally as pro-slavery, and its position as the driver of American foreign policy. Previous views of the antebellum South as outmoded and inflexible, Karp makes astoundingly clear, dangerously underestimate a sectionalist dream of modernity with global reach. Along with a new understanding of the South, Karp also reframes the antebellum period, providing a transtemporal reassessment of the period typically considered “the coming of the Civil War.” Karp reimagines the early nineteenth century South as a growing slave empire from 1833 onward, an empire which required Republican success in politics and Union victory in war to overthrow, an assessment that is as imaginative as it is successful.
In the field of Civil War studies, which can at times view national borders as opaque and impassable, Karp’s work may be seen as so concerned with looking outward that it obscures the internal, but such criticism would be short sighted. Karp is adding to a historiography which is more than adequately saturated with examinations of the domestic struggles that eventually brought about war. David M. Potter’s 1977 The Impending Crisis, for example, is widely considered a masterwork on the coming of the Civil War, and it was certainly not the first or last published on the subject. Karp’s voice is a welcome addition, and his arguments should help convince many in the field to look beyond the black box in which we occasionally place ourselves while studying the Civil War.
Kevin Caprice – Purdue University.
[IF]
Njinga of Angola: Africa’s Warrior Queen | Linda M. Heywood
Uma vasta literatura tem abordado a vida e os feitos de Njinga (também grafada Jinga, Nzinga etc) desde 1668, quando sua primeira biografia foi publicada.1 Mais de três séculos após sua morte, ela ganha sua primeira biografia em língua inglesa, que vem se juntar aos esforços de outros historiadores americanos, no sentido de resgatar a sua história.2 Linda M. Heywood, professora da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, é estudiosa do passado angolano e possui uma vasta gama de publicações acerca da presença centro-africana na diáspora e da formação de uma sociedade crioula em Angola. Para escrever o presente livro, Heywood acessou um extenso acervo documental espalhado por arquivos e bibliotecas na Europa, Angola e Brasil. Além de revisitar fontes já exploradas, a autora usa registros inéditos, tais como documentação da Companhia das Índias Ocidentais e cartas escritas por missionários capuchinhos e pelos secretários de Njinga, os quais adicionam novas informações acerca da trajetória da personagem. Apesar de ter conduzido entrevistas em Luanda e Malange, as fontes orais foram pouco exploradas pela autora ao longo da obra. Neste livro, Heywood apresenta a história de Njinga desde o período que antecede ao seu nascimento até sua morte e finaliza com um epílogo que trata da construção da memória em torno da figura da rainha do Ndongo. O livro se insere no campo da biografia; no entanto, apesar de sua importância para a história das mulheres e de gênero, a autora não faz uso dos aportes teóricos dessas disciplinas em sua análise. Leia Mais
Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas – HERZOG (RTF)
HERZOG, T. Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015. Resenha de: LOPES, Jonathan Felix. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 9, n. 1, jan.-jun., 2016.
A autora deste livro, Tamar Herzog, é professora da Universidade de Harvard desde 2013 onde leciona nas cadeiras de América Latina, História espanhola e portuguesa, além de ser afiliada à Escola de Direito da mesma universidade. Foi, também, professora na Universidade de Stanford e desde a década de 1980 tem actuado em actividades académicas em outras Universidades norte-americanas, além de Israel e Espanha.
Graduada em direito e mestra em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutora em História pela Escola de (em francês) Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, com a tese (nome e data). Desde trabalharam resultaram duas obras publicas no ano seguinte La administración como un fenónemo social: la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)1 e Los ministros de la Audiencia de Quito 1650-1750, 2 sendo a primeira posteriormente traduzida para o francês e reeditada em língua inglesa.
Tamar Herzog possuiu uma sólida produção académica nos campos de sua formação, procurando analisar articuladamente as relações entre a lei e o cotidiano de realidades específicas. A partir de meados da década de 1990, se dedica a estudos que buscam associar dinâmicas locais ao contexto imperial no qual se inserem. As obras Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII-XVIII)3 e Ritos de control, prácticas de negociación: Pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750),4 consolidaram-na no campo de estudos de História do Atlântico.
Com foco no início da modernidade e no império espanhol, publicou uma série de artigos que envolvem desde as relações jurídicas ao estatuto social dos indivíduos. Em Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas, publicado em 2015 pela Harvard University Press, Tamar Herzog expande o horizonte de análise para o chamado Mundo Ibérico, isto é, os impérios de Portugal e Espanha. Com foco nas dinâmicas de fronteiras, o texto está envolto no eixo entre diplomacia, guerra e direito, tendo por base uma ampla gama documental. O livro está dividido em duas partes, que, no seu conjunto, representa uma inovação diante das análises historiagráficas mais tradicionais ao tomar como ponto de partida a análise da área colonial. Já na introdução estabelece uma série de críticas a parte da historiografia Colonial e do Atlântico.
Diante desse quadro, justifica tal inversão ao estabelecer que começar pela América pode clarificar particularidades dessa área e revelar o quanto as relações nela estabelecidas podem ter atuado sobre as metrópoles coloniais, construindo imagens reflectidas de ambos os lados do Oceano.
A primeira parte, intitulada “Defining Imperial Spaces: How South America Became a Contested Territory”, está dividida em dois capítulos, nos quais a autora busca contextualizar as relações diplomáticas entre os dois impérios no que diz respeito ao espaço sul-americano. Herzog argumenta sobre a aplicação de diferentes concepções de soberania, evoluindo entre modelos abstractos de delimitação – como os eixos latitudinal e longitudinal das bulas Inter coetera e de Tordesilhas – estabelecidos entre 1493 e 1494 e modelos com base na posse do território, tal qual priorizado no Tratado de Madrid, em 1750, até a combinação entre perspectivas, de que será exemplo o Tratado de Santo Idelfonso, firmado em 1777. Demonstra, também, a escalada territorial no estabelecimento formal de soberania das duas Coroas Ibéricas, desde a bacia do Prata, área chamada pela autora de Heartland da América do Sul, até o eixo ocidental do território brasileiro. Ressalta ainda que as sucessivas negociações diplomáticas foram incapazes de sanar as questões de delimitação entre as duas Coroas, configurando-se, na prática, numa série de conflitos territoriais e ideológicos, diante do complexo emaranhado de atores e interesses.
Esta ideia conduz Tamar Herzog a concentrar-se na organização do território, avaliando, com estreita base documental, as relações entre colonos europeus e populações autóctones. Argumenta a autora que a conversão de nativos constituiu um aspecto competitivo fundamental entre portugueses e espanhóis. Tal competição é explicada pela lógica social, ao se associar a conversão à transformação dos indígenas em vassalos de uma ou outra Coroa, permitindo, no campo geoestratégico, firmar alianças e estabelecer soberania sobre o território. Nesse contexto, acirravam-se as disputas entre ordens religiosas pelo direito de conversão. Em termos formais isso garantia às populações nativas aliadas o acesso a direitos junto à Coroa, como a manutenção das terras ancestrais e a protecção contra grupos rivais.
O aspecto mais inovador da obra, todavia, consiste em uma série de hipóteses sobre os interesses e estratégias dos indígenas ao estabelecer acordos com os colonizadores, contrariando assim a visão tradicional que tende a estabelecer a dicotomia entre passividade e resistência das populações autóctones no processo colonial. Reconhece ainda que os termos dos acordos nem sempre eram claros aos indígenas e, por vezes, as condições de negociação os desfavoreciam, pois consistiam na escolha entre conversão ou aniquilação. O uso da violência aparece nesse quadro de modo mais complexo, regulado pela noção de “guerra justa”, o que forjou uma complexa narrativa histórica que expunha o colonizador como vítima e não como agressor, presente em diversos registros feitos por europeus quando na América. Essa dinâmica revela que o recurso a violência consistia mais em uma estratégia para conseguir obediência do que de extermínio, distinguindo os nativos em duas categorias: aliados e inimigos.
Utilizando um olhar analítico estrangeiro, a autora busca inspiração na literatura anglo-americana do período colonial e revela uma estratégia de domínio territorial subjacente, a qual consistia em estabelecer uma relação direta entre uso e o direito à terra.
Na prática, isso garantia exclusivamente aos colonizadores europeus a reorganização do regime de terras e alavancou uma competição entre os agentes do território, que guiou à uma lógica de ocupação com base na máxima “better safe than sorry” (é melhor prevenir do que remediar).
A segunda parte, “Defining European Spaces: The Making of Spain and Portugal in Iberia”, está dividida em dois capítulos. O primeiro deles tem o curioso título de “Fighting a Hydra: 1290-1955”. A autora faz uma interessante associação entre o mitológico ser de nove cabeças enfrentado por Hércules e as diversas frentes de disputa territorial entre Portugal e Espanha no espaço da Península Ibérica durante o longo período em causa. Afirmando que os conflitos entre as duas Coroas forjaram uma espécie de hidra, Herzog ressalta a particularidade de cada caso, no que diz respeito as estratégias, atores e interesses. É neste contexto que nos descreve a área de fronteira como sendo caótica e descontrolada, e estabelece a esse propósito um paralelo com o sertão sul-americano.
No derradeiro capítulo, “Moving Islands in a Sea of Land: 1518-1864”, Herzog concretiza uma análise pormenorizada de duas áreas fronteiriças: Verdoejo, área meridional ao Rio do Minho, hoje pertencente ao concelho de Valença, Portugal, e a área montanhosa de Madalena/Lindoso, hoje concelho de Ponte da Barca, também em Portugal. Sucessivamente, são analisados em detalhe os aspectos relativos ao início do conflito, às partes envolvidas e respectivas reinvindicações.
Nas conclusões a essa obra, Tamar Herzog retoma algumas características centrais de cada capítulo e ressalta a importância dos aspectos territoriais na agenda das Coroas. É destacado o facto do Arquivo Nacional de Portugal se ter consagrado como Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em memória aos cadastros de propriedades – tombos. Herzog retoma uma vez mais o seu objecto de estudo, retractando a dificuldade de enquadrá-lo conceitualmente. A esse propósito, a autora sugere que devido a inadequação entre os termos limite (border) e fronteira (frontier), talvez fosse mais adequado empregar o termo território.
Aqui vale ressaltar a importância de uma compreensão conceitual advinda de outro campo, isto é, da Geografia, para compreensão de questões histórico-espaciais e, também, da geopolítica quando transcendem à relação entre impérios, países e grupos nativos. A diferenciação entre fronteira e limite já foi por muitas vezes tratada por geopolíticos desde o estudo pioneiro de Kristoff.5 Além disso, o estudo de Herzog, mais do que trabalhar com a categoria de território, ao nosso ver, poderia se enquadrar na dinâmica de territorialização e aos processos adjacentes de desterritorialização e reterritorialização, capitulados por Deleuze e Guattari6 e articulados para análise geográfica por Rogério Haesbaert.7 O carácter interdisciplinar do livro, sobretudo ao conjugar História e Direito, mereceria, assim, uma aproximação maior com a Geografia Histórica. Tal abordagem contribuiria para o melhor entendimento conceitual, notadamente às noções de soberania e de apropriação territorial, as quais já foram tratadas para o caso lusobrasileiro pelos geógrafos Maurício de Almeida Abreu8 e António Carlos Robert Moraes, 9 assim como em trabalhos mais pontuais, como, por exemplo, o da historiadora Iris Kantor.10 Mais do uma crítica, a ressalva aqui levantada busca ressaltar o carácter original e metódico da abordagem da autora e que, como tal, aponta novos caminhos para compreensão dos processos jurídicos e espaciais no longo curso da História. De modo que este trabalho constitui um contributo muito importante para reavaliarmos as narrativas e o lugar das populações nativas na formação do território americano.
1 HERZOG, Tamar. La administración como un fenómeno social : la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750). Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1995.
2 HERZOG, Tamar. Los ministros de la Audiencia de Quito (1650-1750). Quito: Ediciones Libri Mundi, 1995.
3 HERZOG, Tamar. Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII). Frankfurt/ Main: Vittorio Klostermann, 1996.
4 HERZOG, Tamar. Ritos de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750). Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000.
5 KRISTOFF, L. K. D. The nature of frontiers and boundaries. Annals of the Association of American Geographers, Washington DC, v. 49, n. 3, p. 269–282, 1959.
6 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
7 HAERSBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: do “Fim dos Territórios” à multiterritorilidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
8 ABREU, M. de A. A apropriação do território no Brasil colonial. In: FRIDMAN, F.; HAESBAERT, R. (orgs). Escritos sobre espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.
9 MORAES, A. C. R. de. Bases da formação territorial do Brasil : O território colonial brasileiro no “longo” século XVI. São Paulo: Annablume, 2011.
10 KANTOR, Iris. Soberania e territorialidade colonial: Academia Real de História Portuguesa e a América Portuguesa (1720). Temas setecentistas: governos e populações no Império português, Curitiba. Jornadas Setecentistas. Curitiba, v. 1. p. 233-239, 2007. Disponível em: http://www.humanas.ufpr.br/portal/cedope/files/2011/12/Soberania-e-territorialidade-colonial- %C3%8Dris-Kantor.pdf. Acesso em: 29 fev. 2016.
Jonathan Felix Ribeiro Lopes – Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ). Doutorando em Geografia na Universidade de Lisboa. Investigador associado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-ULisboa). Correspondência: Rua Gonzaga Bastos, 209, bloco B, ap. 104, Vila Isabel. Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CEP: 20541-000 E-mail : [email protected].
Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010. 209p. Resenha de: SOBRAL, Luís Felipe. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.68, jul./dez. 2014.
No momento em que o mundo encanta-se com os novos prodígios da comunicação, capazes de fazer crer que participamos de uma “sociedade da informação” absolutamente sem precedentes, o historiador cultural norte-americano Robert Darnton, especializado na chamada história dos livros e autor de um importante estudo sobre a publicação da Encyclopédie (Darnton, 1987), apresenta um caso desafiador que sublinha a importância da oralidade para a história da comunicação.
Em meados do século XVIII, a polícia parisiense prendeu o estudante de medicina François Bonis, acusado de redigir um poema contra Luís XV; no total, 14 pessoas foram encarceradas na Bastilha, conforme os investigadores seguiam o rastro de transmissão do poema. Ao longo desse percurso, o caso tornou-se complicado, pois surgiram outros cinco poemas sediciosos aos olhos policiais, cada um com seu próprio parâmetro de difusão: “eles eram copiados em pedaços de papel, trocados por pedaços similares, ditados a outros copistas, memorizados, declamados, impressos em folhetos clandestinos, adaptados em alguns casos a melodias populares e cantados” (p.11).1 A investigação não encontrou o autor do verso original provavelmente porque ele não existia: uma vez que os versos eram adicionados, subtraídos e transformados à medida que percorriam o circuito de comunicação, os poemas constituíam um caso de “criação coletiva” (p.11).
Registrada no dossiê policial como “L’Affaire des Quatorze”, a investigação produziu uma série de documentos (registros de interrogatórios, relatos de espiões, notas diversas) acessível na Bibliothèque de l’Arsenal, em Paris. Segundo Darnton, tal série “pode ser tomada como uma coleção de pistas para um mistério que chamamos ‘opinião pública'” (p.12);2 seu valor analítico repousa na capacidade de lançar luz sobre a importância da oralidade na história da comunicação, visto que o episódio indica a interpenetração entre oralidade e escrita em uma sociedade semiletrada.
Ao rejeitar definições apriorísticas de opinião pública (Michel Foucault e Jürgen Habermas), o autor envereda por 15 capítulos curtos que conferem a espessura histórica necessária para cada pista. O passo fundamental do livro é dado no momento em que se contrasta o teor político dos poemas à reação policial. Os 14 incluíam clérigos, burocratas e estudantes, isto é, pessoas oriundas dos estratos médios parisienses e provinciais, que “apreciavam trocar fofoca política em forma de rima” (p.22),3 uma atividade perigosa, porém distante de representar uma ameaça ideológica séria ao Antigo Regime; além disso, cantar músicas desrespeitosas e compor versos sarcásticos eram práticas comuns na Paris setecentista. A iniciativa da operação policial coube ao conde d’Argenson, “o homem mais poderoso do governo francês” (p.26),4 e foi realizada com muita competência: os suspeitos desapareciam das ruas da capital sem deixar rastros para não alertar o presumido autor do poema. Por que o Caso dos Quatorze provocou tamanha reação do aparato repressivo estatal? Tal questão não pode ser respondida pelos documentos produzidos pela Bastilha, pois o circuito de comunicação dos acusados carece de um vínculo tanto com a elite localizada acima da burguesia profissional como com os estratos populares alojados abaixo. Indícios presentes nos diários do marquês d’Argenson, irmão do conde, e de Charles Collé, poeta e dramaturgo da Opéra Comique, apontam a corte de Versalhes como fonte de alguns versos. Duas questões se apresentam: por que o conde tratou a investigação como um assunto da mais alta importância, e por que interessava a certos cortesãos que os versos fossem recitados pela população parisiense?
No final do livro, o leitor encontra seis apêndices: quatro fornecem detalhes sobre os poemas (letras, variações, popularidade), um transcreve um relatório policial, e o último, intitulado “Um cabaré eletrônico”, procura reconstruir, com a colaboração de músicos profissionais, 12 das inúmeras canções parisienses ouvidas em meados do Setecentos.5 Caracterizada pela transitoriedade, a prática musical impõe uma grande dificuldade ao historiador: o problema consiste na existência ou na ausência de uma ou mais fontes que ofereçam o repertório verbal e escrito do qual faziam parte as canções estudadas. Para reconstruir as canções, Darnton conta com cancioneiros, que fornecem as letras, e com outras fontes contemporâneas, que indicam a melodia, identificada pelas primeiras linhas ou títulos das canções. Se por um lado o esforço de reconstrução das canções implica levar a sério o desafio da história oral, por outro não se ilude com a falsa ideia de uma “réplica exata” (p.174).
Entre as canções do cabaré eletrônico distribuídas pelos 14, encontra-se “Qu’une bâtarde de catin”. Em uma de suas versões, ouve-se:
Qu’une bâtarde de catin
À la cour se voit avancée,
Que dans l’amour ou dans le vin
Louis cherche une gloire aisée,
Ah! le voilà, ah! le voici
Celui qui n’en a nul souci
Que uma puta bastarda
À corte se veja avançada,
Que no amor ou no vinho
Luís procure uma glória fácil,
Ah! lá está ele, ah! aqui está ele
Aquele que não tem nenhuma preocupação.6
Trata-se do poema mais simples e o que atingiu o público mais amplo entre os seis apreendidos pela polícia durante a investigação. Redigido para ser cantado ao som de uma melodia popular, identificada em algumas versões pelo refrão (“Ah! lá está ele, ah! aqui está ele”), esse poema apresenta a versificação mais comum das baladas francesas (ABABCC) e admitia inúmeras extensões, pois novos versos podiam ser facilmente incorporados. Cada um de seus versos atacava uma figura pública (a rainha, o delfim, o chanceler, os ministros), ao passo que o refrão denunciava os abusos do monarca, patético alvo do escárnio que se entregava aos prazeres mundanos enquanto o reino era ameaçado por vários problemas. Ao circular por Paris, a canção “tornou-se cada vez mais popular e cobriu um espectro cada vez mais amplo de questões contemporâneas conforme reunia versos” (p.68):7 as negociações de paz da Guerra da Sucessão Austríaca, a resistência ineficaz ao novo imposto denominado vingtième, as últimas disputas intelectuais de Voltaire. Em suma, observa-se a circulação de uma forma específica (as melodias) através das ruas e quais parisienses, processo pelo qual seu conteúdo (os poemas) é transformado pela população segundo os temas lançados em pauta pela conjuntura histórica: “Qu’une bâtarde de catin” tornou-se “um jornal cantado, cheio de comentários sobre os eventos contemporâneos e suficientemente cativante para um público amplo” (p.78).8
No exemplo transcrito, o alvo também era Madame de Pompadour, amante de Luís xv desde 1745. Compreende-se o ataque à Pompadour por sua origem plebeia; não apenas: na série de amantes reais, ela sucedeu às três filhas do marquês de Nesle, “o que era visto como adultério composto de incesto” (p.65).9 Do ponto de vista popular, tais escândalos ameaçavam o monarca e sua linhagem à ira divina; da perspectiva real, o ódio popular era uma manifestação da mão de Deus. Não se deve vislumbrar aí, explica o autor, uma possibilidade concreta de participação popular no mundo político, pois a França ainda está longe de 1789 assim como da Fronda, a revolta contra o governo do Cardeal Mazarino em meados do Seiscentos; no entanto, “uma população maior e mais alfabetizada exigia ser ouvida, e seus governantes a ouvia” (p.41).10 Luís xv era particularmente sensível ao que o povo dizia sobre ele, suas amantes e seus ministros, e monitorava a capital por meio da polícia e do ministro do Departamento de Paris, que detinha assim um imenso poder de manipular o rei. Há indícios de que o conde de Maurepas, hábil cortesão que ocupava tal cargo em 1749, distribuiu, encomendou ou escreveu versos satirizando Pompadour, aliada de seu rival, o conde d’Argenson; o objetivo era persuadir o rei da impopularidade de sua amante entre os súditos parisienses, porém seu plano não deu certo: Pompadour convenceu Luís xv a demitir Maurepas e d’Argenson tomou seu lugar.
A importância da circulação dos poemas, tendo eles origem na corte ou não, residia assim em sua capacidade de estabelecer uma rede de comunicação entre Versalhes e Paris: “um poema podia portanto funcionar simultaneamente como um elemento do jogo político cortesão e como uma expressão de outro tipo de poder: a autoridade indefinida mas inegavelmente influente conhecida como a ‘opinião pública'” (p.44).11 Tal argumento não apenas dispõe o autor contra o nominalismo que só permite falar em opinião pública após o primeiro uso documentado do termo, na segunda metade do século xix, como aponta uma conclusão mais abrangente. Ao argumentar, mediante o exame de um circuito de comunicação setecentista, que “a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p.130),12 Darnton descreve, seja na corte de Versalhes seja nas ruas de Paris, as relações de força particulares que constrangiam tal circuito; esse procedimento serve assim para pensar todas as redes de comunicação, inclusive a internet, que não seria a materialização virtual de uma democracia sem limites, mas um instrumento submetido aos interesses específicos de cada um de seus usuários, cujo acesso e emprego de tal ferramenta ainda é mediado pela posição social.13
Após esse percurso tortuoso, lê-se na conclusão:
A pesquisa histórica assemelha-se ao trabalho de detetive em muitos aspectos. De R. G. Collingwood a Carlo Ginzburg, os teóricos não consideram a comparação convincente porque ela apresenta-os em um papel atraente como detetives, mas porque ela está relacionada ao problema de estabelecer a verdade – verdade com v minúsculo. Longe de tentar ler a mente de um suspeito ou resolver crimes exercendo a intuição, os detetives procedem de forma empírica e hermenêutica. Eles interpretam pistas, seguem informações e constroem um caso até chegarem a uma condenação – sua própria e frequentemente a de um júri. A história, como eu a entendo, envolve um processo similar ao de construir um argumento a partir da evidência; e no Caso dos Quatorze o historiador pode seguir os passos da polícia. (p.142)14
Não se deve ver nessas linhas o fantasma do positivismo, pois os arquivos policiais, considerados como fonte privilegiada da rede de comunicação estudada por Darnton, não são autônomos: os indícios que eles apontam devem ser necessariamente relacionados a outras fontes. Ao contrário dos detetives, o historiador precisa ultrapassar a dimensão circunscrita de um caso para entender seu significado mais amplo: o Caso dos Quatorze não é senão o meio de acesso à rede de comunicação que operava na Paris setecentista. Apartado da vivência social que lhe interessa compreender, o historiador encontra-se sempre diante de fragmentos por meio dos quais aquela vivência será reconstruída. Quais os limites dessa tarefa? Se a verdade deve ser estabelecida – pois os eventos históricos ocorrem de uma maneira específica e não de outra –, a interpretação está sujeita à coleção de pistas reunidas, que impõem um jogo complicado entre conjecturas e refutações: nenhuma interpretação é definitiva, nem toda interpretação é válida.
Referências
DARNTON, Robert. A Police Inspector Sorts His Files: The Anatomy of the Republic of Letters. In: _______. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Vintage Books, 1985. p.145-189. [ Links ]
_______. The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encylopédie, 1775-1800. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. [ Links ]
_______. A World Digital Library Is Coming True! The New York Review of Books, v.LXI, n.9, p.8, 10-11, 2014. [ Links ]
Notas
1 “They were copied on scraps of paper, traded for similar scraps, dictated to more copyists, memorized, declaimed, printed in underground tracts, adapted in some cases to popular tunes, and sung”. Todas as traduções são minhas.
2 “The box in the archives … can be taken as a collection of clues to a mystery that we call ‘public opinion'”.
3 “The dossiers evoke a milieu of worldly abbés, law clerks, and students, who played at being beaux-esprits and enjoyed exchanging political gossip set to rhyme”.
4 “The initiative came from the most powerful man in the French government, the comte d’Argenson, and the police executed their assignment with great care and secrecy”.
5 Elas podem ser ouvidas e baixadas livremente em www.hup.harvard.edu/features/darpoe.
6 Bibliothèque historique de la ville de Paris, ms. 580, fólio 248-249, out. 1747 (p.153). Darnton modernizou o francês nas transcrições dos poemas (p.148).
7 “it [a canção] became increasingly popular and covered an ever-broader spectrum of contemporary issues as it gathered verses”.
8 “It had become a sung newspaper, full of commentary on current events and catchy enough to appeal to a broad public”.
9 “the king’s love affairs with the three daughters of the marquis de Nesle, which were viewed as adultery compounded by incest”.
10 “A larger, more literate population clamored to be heard, and its rulers listened”.
11 “A poem could therefore function simultaneously as an element in a power play by courtiers and as an expression of another kind of power: the undefined but undeniably influential authority known as the ‘public voice'”.
12 “The information society existed long before the Internet”.
13 Como se sabe, o próprio Darnton tem sido bastante ativo na defesa do livre acesso digital ao patrimônio intelectual constituído pela cultura escrita, ocupando atualmente uma posição na diretoria da Digital Public Library of America (www.dp.la); sobre essa questão, ver especialmente DARNTON, 2014, p.8, 10-11.
14 “Historical research resembles detective work in many respects. Theorists from R. G. Collingwood to Carlo Ginzburg find the comparison convincing not because it casts them in an attractive role as sleuths, but because it bears on the problem of establishing truth – truth with a lowercase t. Far from attempting to read a suspect’s mind or to solve crimes by exercising intuition, detectives operate empirically and hermeneutically. They interpret clues, follow leads, and build up a case until they arrive at a conviction – their own and frequently that of a jury. History, as I understand it, involves a similar process of constructing an argument from evidence; and in the Affair of the Fourteen, the historian can follow the lead of the police”. Darnton já discutiu as fontes policiais em outras ocasiões: cf., em particular, DARNTON, 1985.
Luís Felipe Sobral – Doutorando em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bolsista Fapesp. E-mail: [email protected].
[IF]
Capital in the Twenty First Century – PIKETTY (NE-C)
PIKETTY, Thomas. Capital in the Twenty First Century. Trad. Arthur Goldhammer. Cambridge: Harvard University Press, 2014. Resenha de: RUGITSKY, Fernando. Diagnóstico Capital: O Capital no Século XXI. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.99, Jul, 2014.
Em certa passagem de seu livro, ao examinar a evolução da desigualdade na França ao longo do século XX, Thomas Piketty afirma que “[d]esigualdades socioeconômicas – disparidades de renda e riqueza entre grupos sociais – são sempre tanto causa quanto efeito de outros desenvolvimentos em outras esferas. Todas essas dimensões são indissociavelmente entrelaçadas”. E conclui: “Assim, a história da distribuição da riqueza é uma das maneiras de interpretar a história mais geral de um país”1. Qual é a natureza de O capital no século XXI, este livro de recepção estrondosa? Na pletora de comentários, resenhas e críticas, é possível encontrar quem pretenda interpretar o livro seguindo a pista do trecho acima. Nessa leitura, Piketty partiria da história da distribuição da riqueza e da renda nos países ricos, ao longo dos últimos três séculos, mas terminaria propondo uma reinterpretação histórica abrangente. O livro, segundo Mike Konczal, seria “uma grande façanha da história econômica”2. Há também aqueles que veem o livro como uma contribuição à teoria econômica. Nesse caso, as várias séries históricas a que Piketty recorre não seriam senão instrumentos para questionar hipóteses teóricas dominantes e fundamentar um “modelo” alternativo. Suas duas “leis fundamentais do capitalismo”, em conjunto com a “contradição central” que ele identifica, são interpretadas como elementos de uma formulação teórica que representa, nas palavras de Branko Milanovic, “uma combinação da teoria do crescimento com as teorias da distribuição funcional e pessoal da renda e, assim, uma descrição abrangente da economia capitalista”3. Não há dúvida de que ambas as leituras dão conta de parte do livro de Piketty. Mas a sua contribuição não se esgota aí. Para usar uma expressão cara à teoria crítica, o que ele realizou no livro, com suas ousadias e seus limites, foi um diagnóstico do tempo presente4 . Debruçado sobre o capitalismo do início do século XXI, Piketty buscou apreender sua estrutura e sua dinâmica, apontando as tendências de desenvolvimento visíveis e as alternativas possíveis. Para tanto, recorreu a um primoroso e inestimável esforço coletivo de coleta e organização de séries estatísticas que lhe permitiram colocar o presente em perspectiva histórica e jogar nova luz sobre os últimos três séculos. Todavia, o resultado essencial da análise é a descrição do momento atual como uma bifurcação, explicitando os termos dos conflitos que estão e seguirão sendo travados no século atual. Como indica, aliás, o próprio título do livro, trata-se de examinar o capital no século XXI.
A DESIGUALDADE DO VELHO AO NOVO MUNDO
O diagnóstico de Piketty baseia-se em um contraste entre duas trajetórias estruturalmente diferentes de aumento da desigualdade: a que caracteriza a realidade europeia e a dos Estados Unidos5. São, para tomar emprestado o título de um dos capítulos do livro, “dois mundos” distintos6. O ponto essencial do diagnóstico, contudo, é sugerir a possibilidade de tal contraste estar se tornando uma característica do passado. A convergência do pior dos dois mundos poderia criar, no século XXI, um padrão de desigualdade inédito e, segundo Piketty, “aterrorizante”7 . Seria a emergência de um “novo capitalismo patrimonial”8.
Comecemos pela trajetória da Europa. Uma das variáveis que organizam o argumento de Piketty é a razão capital/renda. A sua pouco usual definição do capital de um país inclui sob essa rubrica propriedades rurais, imóveis residenciais, o capital das firmas e das organizações governamentais (incluindo imóveis, máquinas, computadores, patentes) e ativos líquidos detidos no resto do mundo (isto é, os ativos detidos por residentes menos os ativos no país detidos por estrangeiros)9. Assim, quando ele afirma que tanto na Inglaterra como na França a razão capital/renda era aproximadamente 7 ao longo dos séculos XVIII e XIX, isso quer dizer que o capital acumulado era cerca de 7 vezes maior do que a renda gerada nesses dois países a cada ano10.
Na França e na Inglaterra, a razão capital/renda apresentou uma trajetória muito similar. Após a mencionada estabilidade nos séculos XVIII e XIX, tal razão cai de aproximadamente 7 para menos de 3 entre o começo do século XX e o ano de 1950. Essa queda vertiginosa é, então, seguida de uma recuperação gradual. Em 2010, a razão capital/renda estava entre 5 e 6 na Inglaterra e havia superado 6 na França11 . Os dados para a Alemanha estão disponíveis apenas a partir do processo de unificação do país, na década de 1870. Mas a trajetória é semelhante: a razão capital/renda cai de cerca de 6,5 em 1910 para pouco mais de 2 em 1950 e a partir daí recupera-se gradualmente12.
A questão essencial a explicar, tendo em vista tal paralelismo, é a queda observada na primeira metade do século XX13. Dentre as razões plausíveis, seria possível incluir as destruições físicas do capital durante as duas guerras mundiais, especialmente na Europa continental. Piketty argumenta, no entanto, que essa não é a explicação principal. Ele atribui uma importância substancial ao virtual desaparecimento dos patrimônios europeus (líquidos) detidos no resto do mundo, devido tanto a expropriações (empréstimos ao governo russo que foram repudiados pela revolução de 1917, a nacionalização do canal de Suez etc. ) como ao processo de descolonização. Além disso, o entreguerras foi marcado por crescimento baixo e pelo colapso da Grande Depressão, o que afetou particularmente a renda dos mais ricos. Visando manter o seu padrão de vida, eles reduziram substancialmente sua poupança (e em muitos casos até se desfizeram de parte do patrimônio) e assistiram à diminuição de seu capital. Piketty afirma que tais desdobramentos “provaram-se mais destrutivos para o capital do que o próprio combate”14. Finalmente, parte da queda da razão capital/renda deve ser atribuída a “escolhas políticas deliberadas” do pós-guerra, isto é, a políticas de controle de aluguéis, regulação financeira e tributação de dividendos e lucros que levaram a uma redução dos preços dos imóveis e das ações negociadas em bolsa. Nas palavras de Piketty, “o declínio da razão capital/renda entre 1913 e 1950 é a história do suicídio da Europa e, em particular, da eutanásia dos capitalistas europeus”15.
Nas últimas quatro décadas, no entanto, a razão capital/renda aumentou de modo marcante nos países ricos (inclusive fora da Europa), aproximando-se dos valores observados na belle époque (quando, nas palavras dele, “o capital reinava”16). Sua explicação para esse desenvolvimento é o fato de que as taxas de poupança recuperaram-se após a crise da primeira metade do século XX e permitiram uma aceleração da acumulação de capital, ao passo que o crescimento da renda nacional desacelerou17. A isso se deve adicionar ainda uma recuperação dos preços dos imóveis e das ações negociadas em bolsa, fruto das desregulamentações observadas no período, “em um contexto político que era em geral mais favorável à riqueza privada do que aquele do imediato pós-guerra”18.
Mas como essas trajetórias relacionam-se com o padrão de desigualdade observado na Europa? A resposta dele pode ser dividida em três partes. Em primeiro lugar, um valor elevado da razão capital/renda é, por si só, um indicativo do poder político e social dos proprietários. Assim, a tendência de essa razão retornar a valores observados às vésperas da Primeira Guerra Mundial aponta para o restabelecimento de um nível de desigualdade que não foi observado, nos países ricos, ao longo de todo o século XX. Em segundo lugar, Piketty argumenta que a elevação da razão capital/renda pode ser acompanhada da elevação do percentual das rendas do capital na renda nacional e, como as rendas do capital são sempre mais concentradas do que as rendas do trabalho, essa última elevação se reflete automaticamente em uma maior desigualdade19. Em terceiro lugar, o aumento da razão capital/renda, por uma decomposição contábil, eleva o percentual do fluxo de heranças na renda naciona20. Assim, a importância crescente da riqueza acumulada tende a resultar no predomínio das heranças sobre o esforço individual, no que concerne à obtenção da renda, colocando em xeque a retórica meritocrática das sociedades contemporâneas: “o passado tende a devorar o futuro”21.
A ênfase na razão capital/renda como uma das raízes da desigualdade é uma das inovações mais importantes do livro de Piketty, uma vez que o debate sobre desigualdade tem se concentrado há algum tempo quase que exclusivamente nas disparidades salariais22. Segundo ele, esse foco desconsidera um dos principais determinantes do aumento recente da desigualdade. É necessário, assim, voltar a examinar a riqueza acumulada e sua distribuição. A trajetória da razão capital/renda explica boa parte da trajetória da desigualdade na Europa ao longo do século XX: do violento declínio entre 1913 e 1950 ao aumento expressivo a partir da década de 1970.
O mesmo não é verdade, no entanto, para os Estados Unidos. Não apenas porque lá a razão capital/renda foi muito mais estável do que nos países europeus, mas também porque o principal determinante do aumento recente da desigualdade norte-americana é a explosão dos salários elevados dos executivos das grandes empresas23. Tendo se estabelecido essencialmente a partir de intensos fluxos migratórios, é compreensível que a riqueza acumulada tenha desempenhado um papel muito distinto nos Estados Unidos ao longo do século XIX. Enquanto os imigrantes traziam consigo muito pouco capital acumulado, do outro lado do Atlântico a economia capitalista escorou-se nas riquezas herdadas do Ancien Régime24. Além disso, o impacto destrutivo das duas guerras mundiais foi muito menor para o capital norte-americano.
Levando em consideração essa estabilidade maior da razão capital/renda e o fato de que, apesar dela, a desigualdade nos Estados Unidos trilhou uma trajetória similar à europeia (reduzindo-se substancialmente na primeira metade do século XX e recuperando-se a partir da década de 1970), conclui-se que a desigualdade salarial desempenhou um papel importante. Piketty passa, então, a descrever com detalhes a “ascensão dos superexecutivos”, um fenômeno característico dos Estados Unidos, mas que também pode ser observado, em algum grau, nos demais países anglo-saxões25. Segundo ele, deve-se atribuir predominantemente aos tais supersalários o fato de que atualmente a desigualdade na economia norte-americana tenha atingido um nível semelhante àquele observado na Europa do início do século XX, no qual o percentil dos mais ricos (que ocupa um “lugar proeminente na paisagem social e não apenas na distribuição de renda”26) apropria-se de um quinto de toda a renda gerada anualmente no país, a mesma quantia que é dividida pela metade mais pobre da população27.
TEORIA E HISTÓRIA
Tendo em vista, por um lado, que a razão capital/renda está aumentando, tanto na Europa como nos Estados Unidos, podendo alcançar os níveis observados na belle époque e, por outro, que a explosão dos salários dos superexecutivos pode vir a se difundir para além dos países anglo-saxões, Piketty teme que o século XXI assista à emergência de uma sociedade ainda mais desigual do que a Europa de 1910 e os Estados Unidos de 2010. Uma sociedade em que uma parcela ainda maior da renda seja apropriada pelo percentil dos mais ricos, povoado por herdeiros que vivem de renda e por superexecutivos transformados em rentistas28. Esse é o seu sombrio diagnóstico, o “novo capitalismo patrimonial”.
O que lhe permite relacionar a trajetória retrospectiva da desigualdade a um prognóstico para o século atual é um conjunto de hipóteses teóricas relativamente simples. Dentre elas, está uma relação que ele denomina “segunda lei fundamental do capitalismo”, formalmente = s/g (sendo que é a razão capital/renda, s é a taxa de poupança e g é a taxa de crescimento da renda nacional)29. Na sua argumentação, no longo prazo, com a estabilização de s e de g, a razão capital/renda é explicada por essa “lei”, desde que os preços relativos do capital e dos bens de consumo não se alterem, em média, e que a parcela do capital representada por recursos naturais puros seja pequena. Ele usa essa relação não apenas para explicar as trajetórias da razão capital/renda na Europa e nos Estados Unidos, mas também para prever, com alguma hesitação, sua trajetória futura. Supondo um declínio de g, devido predominantemente ao declínio da taxa de crescimento demográfico30, e uma estabilização de s, Piketty conclui que, “em 2100, o planeta inteiro poderá se parecer com a Europa da virada para o século XX, pelo menos em termos de intensidade de capital”31.
Conforme mencionado anteriormente, um dos mecanismos pelos quais um aumento da razão capital/renda gera uma maior desigualdade, na argumentação de Piketty, é um aumento no percentual das rendas do capital na renda total. A relação entre essas duas variáveis é determinada pela “primeira lei fundamental do capitalismo”, α = rβ (sendo α, o percentual das rendas do capital na renda nacional, e r, a taxa de retorno sobre o capital)32. A hipótese convencional sobre essa “lei” (que, como o próprio autor reconhece, é simplesmente uma identidade contábil) é que um aumento de β seria sempre compensado por uma diminuição de r, de modo que permaneceria estável. Segundo o jargão, isso é o que se pode derivar de uma função de produção Cobb-Douglas em que a elasticidade de substituição entre capital e trabalho é igual a 1. Intuitivamente, significa que, dado um número determinado de trabalhadores, um aumento no capital leva a uma diminuição de sua produtividade marginal e, consequentemente, de sua taxa de retorno33.
Piketty argumenta, entretanto, que a própria elasticidade de substituição é historicamente determinada: ela parece ter sido inferior a 1 em economias agrícolas tradicionais, em que havia poucas alternativas para utilização do capital, e poderá ser maior do que 1 no século XXI 34. Além disso, o fato de que tanto β como aumentaram nos últimos quarenta anos sugere que ela já ultrapassou 1. Esse movimento paralelo de β e α não é apenas importante para o argumento do autor porque ele permite relacionar o aumento da razão capital/renda com o aumento da desigualdade. Ainda mais crucial é que ele evita que o aumento de β seja acompanhado por uma queda acentuada de r.
Chega-se, assim, à terceira hipótese teórica adotada por Piketty, a “contradição central do capitalismo”, formalmente r > g 35. Essa desigualdade é a razão principal para a concentração da riqueza e, consequentemente, das rendas do capital. Ela permite que, nas palavras do autor, “a riqueza acumulada no passado seja recapitalizada muito mais rapidamente do que a economia cresce”36. Foi a sua operação através do tempo que permitiu que, na Europa da belle époque, o percentil dos mais ricos detivesse metade de todo o patrimônio acumulado. Atualmente, esse percentil ainda detém uma parte menor da riqueza total tanto na Europa como nos Estados Unidos (25% e 35%, respectivamente). Mas, segundo Piketty, isso se deve, essencialmente, à imensa destruição de capital ocorrida na primeira metade do século XX, ao crescimento acelerado observado nas três décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial e a imposição de uma tributação elevada sobre os lucros e a riqueza. A combinação desses fatores permitiu que, por quase um século, a desigualdade se invertesse, isto é, r < g. Também a esse respeito, o século XX parece ter sido um período excepcional: com a desaceleração do crescimento e a redução dos impostos sobre o capital desde os anos 1980, a “contradição central” tende a se restabelecer no século XXI 37.
O foco nessa desigualdade entre r e g representa uma inversão significativa dos termos do debate usual. Segundo a inclinação tecnocrática da maior parte dos economistas, a questão que foi objeto de investigação principal nas últimas décadas foi o impacto da distribuição de renda no crescimento econômico. Dessa maneira, não se considerava a desigualdade um problema em si, mas buscava-se analisar se ela contribuía ou não para a obtenção de uma elevada taxa de crescimento do produto, o fetiche dos economistas. Esse foco, na realidade, remonta a um deslocamento da teoria econômica iniciado por John Maynard Keynes. Os economistas políticos clássicos e seu principal crítico centravam sua investigação nos determinantes da distribuição da renda entre os proprietários de terra, os capitalistas e os trabalhadores. Era esse, na expressão de David Ricardo, o “problema principal” da economia política38. No segundo capítulo de sua Teoria geral, Keynes menciona essa tradição e se distancia dela, afirmando que o que lhe interessa é a determinação da renda total, independentemente de sua distribuição39. O livro de Piketty é um esforço inequívoco para retornar àquela tradição do século XIX, e a “contradição central”, explicitando o impacto do crescimento na distribuição (ao invés do impacto desta naquele), deixa isso claro.
A formulação teórica principal de Piketty e a base de seu diagnóstico do tempo presente consistem na combinação das duas “leis fundamentais do capitalismo” com essa “contradição central”. Ela permite que ele explique tanto a importância crescente da riqueza acumulada como a tendência à sua concentração. Mas, para dar conta do aumento da disparidade salarial, com a ascensão dos superexecutivos, ele a combina com outro argumento, que consiste em uma crítica à teoria da produtividade marginal como determinante de tais supersalários e a indicação de que eles são predominantemente determinados por um crescente poder de barganha dos próprios superexecutivos40.
ECONOMIA E POLÍTICA NO NOVO CAPITALISMO PATRIMONIAL
Uma das reações plausíveis a essa argumentação é pessimista: tanto o crescimento demográfico como a elasticidade de substituição entre trabalho e capital não são exatamente passíveis de intervenção e suas trajetórias atuais parecem condenar o século XXI a uma desigualdade crescente. No entanto, há no horizonte de Piketty uma alternativa, ainda que utópica. Trata-se da adoção de um imposto global sobre o capital41. Para entender o seu significado, é necessário observar que a taxa de retorno sobre o capital que aparece na “primeira lei fundamental do capitalismo” é a taxa de retorno bruta, isto é, a taxa de retorno obtida antes de se descontar os impostos devidos. Entretanto, a taxa de retorno que deve ser comparada à taxa de crescimento, isto é, a taxa de retorno que importa para a “contradição central do capitalismo” é aquela líquida de impostos, que pode de fato ser recapitalizada pelos proprietários. Assim, ainda que a taxa de retorno bruta permaneça elevada, devido ao aumento da elasticidade de substituição entre capital e trabalho, é possível atenuar ou até eliminar a “contradição central” por meio de impostos que reduzam a taxa líquida. Além disso, o próprio crescimento da desigualdade das rendas do trabalho, fruto da elevação do poder de barganha dos superexecutivos, pode ser parcialmente atribuído à redução da progressividade tributária desde a década de 1980. Desse modo, se se quiser resistir à realização de seu prognóstico sombrio, a saída é tributária.
Independentemente do potencial dessa alternativa, o que ela revela é uma tensão entre economia e política no pensamento de Piketty. Nas palavras de Suresh Naidu, ele “oscila entre prestar homenagem às forças fundamentais da tecnologia, das preferências e da oferta e da procura e retroceder para afirmar que a política e as instituições são importantes”42. Apesar de sua frequente defesa de uma abordagem interdisciplinar, em alguns momentos seu argumento ainda recorre a um economicismo excessivo. Não obstante afirmar que admira mais Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss e Pierre Bourdieu do que Robert Solow e Simon Kuznets, sua abordagem por vezes o aproxima destes últimos e o distancia dos primeiros43. É possível que isso se deva, ao menos em parte, à tentativa do autor de comunicar suas conclusões aos demais economistas, para isso ele recorre em alguns momentos a conceitos e teorias correntes. Mas o preço dessa opção é empobrecer sua compreensão da dinâmica capitalista e estreitar seu horizonte normativo.
Uma ilustração curiosa dessa tensão é sua interpretação sobre a história econômica recente. Ainda que ele considere que as políticas adotadas no pós-guerra e a sua reversão no rastro da “revolução conservadora” de Margaret Thatcher e Ronald Reagan (a expressão é de Piketty) tenham tido profundos impactos distributivos, ele atribui as taxas de crescimento observadas no período exclusivamente ao processo de catch-up tecnológico44. Nas suas palavras, “nem a liberalização econômica que começou em torno de 1980 nem o intervencionismo estatal que se iniciou em 1945 merecem tais elogios ou críticas. A França, a Alemanha e o Japão teriam muito provavelmente alcançado o Reino Unido e os Estados Unidos, depois do seu colapso entre 1914 e 1945, independentemente de que políticas tivessem adotado (afirmo isso apenas com leve exagero)”45. A admissão do exagero apenas confirma a tensão entre inscrever sua interpretação na dinâmica dos processos sociais e atribuir partes do seu raciocínio a determinantes técnicos apartados da estrutura social.
O caso mais relevante, contudo, é o da “primeira lei fundamental do capitalismo”. No que tange à remuneração dos superexecutivos, Piketty critica a teoria que visa a explicar a sua determinação pela produtividade marginal, afirmando que se trata de uma ilusão46. Já no que diz respeito à remuneração do capital, ele recorre à produtividade marginal, assentando seu argumento em uma função de produção agregada. Essa opção foi objeto de críticas de economistas heterodoxos que consideram a própria ideia de uma função de produção agregada insustentável teoricamente47. O que poucos notaram, no entanto, é que o argumento não é isento de ambiguidades, uma vez que o próprio Piketty fornece as bases de uma alternativa teórica. Afinal, segundo ele, “é importante enfatizar que o preço do capital [e, logo, o seu retorno] […] é sempre em parte uma construção social e política: ele reflete a noção de propriedade de cada sociedade e depende de muitas políticas e instituições que regulam as relações entre diferentes grupos sociais e, especialmente, entre aqueles que detêm e aqueles que não detêm capital”48.
Se essa afirmação for levada a sério, não faz sentido considerar que é um resultado inexorável da elasticidade de substituição entre capital e trabalho. Economistas críticos têm enfatizado há algum tempo que o aumento do percentual das rendas do capital na renda é resultado de um conflito político em que os trabalhadores têm sido derrotados49. E, assim, conseguem explicá-lo sem recorrer a uma função de produção agregada50. Para Piketty, dar o passo de inscrever a sua “primeira lei fundamental do capitalismo” no seio do conflito distributivo representa simplesmente levar às últimas consequências a sua compreensão política sobre o capital. Esse passo teria, contudo, implicações significativas. Uma concepção ampliada do conflito distributivo permitiria cogitar soluções à espiral da desigualdade que não se restringiriam a corrigir, via sistema tributário, uma realidade determinada tecnicamente. Significaria integrar, na dinâmica que ele identifica, um elemento surpreendentemente ausente: as lutas políticas e sociais. Não se trata de questionar a relevância do imposto global sobre o capital que ele defende, que sem dúvida tem um papel destacado a desempenhar. Mas, apenas, de apontar para a necessidade de alargar o horizonte normativo. Segundo ele, “se quisermos retomar o controle sobre o capitalismo, devemos apostar tudo na democracia”. Apostar tudo na democracia significa também compreender que o seu real alcance está menos sujeito a limites técnicos do que faz crer uma parte substancial da teoria econômica dominante.
Nos limites dessa resenha, não é possível fazer justiça ao livro de Piketty. A fim de privilegiar uma exposição resumida de seu diagnóstico do tempo presente, optou-se por não abordar muitas outras contribuições do livro: da metodologia inovadora para coletar dados sobre desigualdade aos comentários críticos a teorias econômicas variadas, do exame detalhado da história da progressividade tributária ao modo de apresentação erudito, entre muitas outras. Não é possível julgar com certeza, passados apenas alguns meses de sua publicação, se o argumento de Piketty resistirá à passagem do tempo. No entanto, não há dúvida de que, na grande disputa ideológica que está se travando sobre os rumos futuros da teoria econômica e sobre a própria natureza do debate público sobre desigualdade, O capital no século XXI desempenhará um papel de protagonista. Os jovens que ocuparam Wall Street e colocaram na pauta a distinção entre os 99% e o 1%, assim como vários outros movimentos sociais que combatem as desigualdades, têm um novo aliado.
Notas
1 PIKETTY, T. Capital in the Twenty-First Century. Trad. Arthur Goldhammer. Cambridge: Harvard Uni-versity Press, 2014. p. 274-275.
2 KONCZAL, M. “Studying the Rich“. Boston Review, jul.-ago. 2014.
3 MILANOVIC, B. “The Re-turn of ‘Patrimonial Capi-talism’: A Review of Tho-mas Piketty’s ‘Capital in the Twenty-First Century'”. Journal of Economic Literature, vol. 52, n. 2, 2014. p. 520.
4 NOBRE, M. A teoria crítica. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
5 Utiliza-se aqui a palavra “desigual-dade” para se refe-rir às desigualdades socioeconômicas, de renda e riqueza, que são investiga-das por Piketty. Há, é claro, muitas ou-tras desigualdades (de gênero, de po-der, de reconheci-mento social etc.) que não podem ser ignoradas em um diagnóstico do tempo presente que se pretenda abran-gente.
6 PIKETTY, T. op. cit., cap. 8.
7 Ibi-dem, p. 571.
8 Ibi-dem, p. 173.
9 Ibidem, p. 47-50, 119.
10 A renda nacio-nal é igual ao pro-duto interno bruto (PIB) menos a de-preciação mais a renda líquida rece-bida do exterior, segundo as defini-ções convencionais da contabilidade nacional, adotadas por Piketty.
11 PIKETTY, T., op. cit., cap. 3.
12 Ibidem, p. 140-146.
13 Ibidem, p. 146-150.
14 Ibidem, p. 148.
15 Ibidem, p. 149. Em outra passa-gem, Piketty afirma que não é necessá-rio concordar com todas as teses de Lênin para compar-tilhar sua conclusão de que “o acirra-mento da competi-ção entre as potên-cias europeias por ativos coloniais obviamente contri-buiu para o clima que, em última instância, levou à declaração de guerra no verão de 1914”. Piketty, T., op. cit., p. 142.
16 Ibi-dem, p. 154.
17 Ibidem, cap. 5.
18 Ibidem, p. 173.
19 Ibidem, p. 220-222, 255-260. Para uma exposi-ção formal da rela-ção entre a distri-buição funcional (isto é, entre salá-rios e rendas do capital) e a distri-buição pessoal da renda, ver: ATKINSON, A. “Factor Shares: The Principal Pro-blem of Political Economy?”. Oxford Review of Economic Policy, vol. 25, n. 1, 2009. p. 8-12.
20 Piketty, T., op. cit., p. 383-385.
21 Ibi-dem, p. 378.
22] ACEMOGLU, D. “Technical Change, Inequality, and the Labor Market”. Journal of Economic Literature, vol. 40, n. 1, 2002. p. 7-72.
23 PIKETTY, T., op. cit., p. 150-156.
24 Um dado rela-tado por Piketty ajuda a dar a di-mensão dessa diferença: enquanto a população da França dobrou entre a Revolução Fran-cesa e o momento atual (passando de cerca de 30 milhões de habitantes para 60 milhões), a po-pulação dos Esta-dos Unidos au-mentou cem vezes no mesmo período (de 3 milhões para 300 milhões). Pi-ketty, T., op. cit., p. 29.
25 PIKETTY, T., op. cit., pp. 315-321.
26 Ibidem, p. 254.
27 Ibidem, p. 249.
28 Como observa o autor, é muito difícil distinguir ambos na prática. Piketty, T., op. cit., p. 439-447.
29 PIKETTY, T., op. cit., p. 166-170.
30 Ibidem, cap. 2.
31 Ibidem, p. 196. Tal suposição para s foi objeto de críti-cas, mas o prog-nóstico pouco se altera se a taxa de poupança cair, desde que caia menos do que g. Krusel, P.; Smith, T. “Is Piketty’s ‘Second Law of Capitalism’ Fundamental?”. Mimeo, 2014. Para uma exposição mais detalhada do argumento de Pi-ketty, ver: Piketty, T.; Zucman, G. “Capital Is Back: Wealth-Income Ratios Is Rich Countries, 1700-2010”. Paris School of Economics, 2013. p. 9-18.
32 PIKETTY, T., op. cit., p. 52-55.
33 FOLEY, D.; Michl, T. Growth and Distribution. Cam-bridge: Harvard University Press, 1999. p. 146-149.
34 PIKETTY, T., op. cit., p. 217-223. A crítica conservadora ao livro de Piketty tem se focado es-pecialmente nesse ponto. Summers, L. “The Inequality Puzzle”. Democracy: A Journal of Ideas, n. 33, 2004. Pessôa, S. “Erros e acertos do fenômeno ‘O capital no século 21′”, Folha de S.Paulo, Ilustríssi-ma, 8 jun. 2014. Para uma análise mais cuidadosa da questão, relacio-nando o argumento de Piketty com seu conceito ampliado de capital, ver: Rowthorn R. “A Note on Thomas Piketty’s ‘Capital in the Twenty-First Centu-ry'”. Mimeo, 2014.
35 PIKETTY, T., op. cit., p. 571. Ver também Piketty, T., op. cit., p. 25-27, 350-358.
36 Ibi-dem, p. 351.
37 Ibidem, p. 353-358.
38 RICARDO, D. On the Principles of Political Economy and Taxation. 3. ed. Indianapolis: Liberty Fund, 2004. p. 5.
39 KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nova York: Pro-metheus Books, 1997. p. 4-5.
40 PIKETTY, T., op. cit., p. 508-514.
41 Ibidem, cap. 15.
42 NAIDU, S. “Ca-pital Eats the World“. Jacobin, 2014.
43 PIKETTY, T., op. cit., p. 30-33.
44 Ibidem, p. 96-99.
45 Ibidem, p. 98-99.
46 Ibidem, p. 330-333.
47 GALBRAITH, J. “Kapital for the Twenty-First Centu-ry?”. Dissent, 2014. Ackerman, S. “Pi-ketty’s Fair-Weather Friends”. Jacobin, 2014. Nesse ponto, o isolamento da teoria econômica dominante, na qual Piketty foi formado, em relação a pers-pectivas alternativas cobrou o seu preço. Seus comentários sobre as chamadas controvérsias do capital, assim como seus comentários sobre Marx, de-monstram uma falta de familiaridade surpreendente, dado o cuidado com o qual o livro foi escrito. Ver Pi-ketty, T., op. cit., p. 7-11, 227-232.
48 PIKETTY, T., op. cit., p. 188.
49 STOCKHAMMER, E. “Why Have Wage Shares Fallen? A Panel Analysis of the Determinants of Functional Income Distribution“. ILO, n. 35, 2013. (Condi-tions of Work and Employment Seri-es).
50 Há uma vasta literatura que de-fende que a distri-buição funcional da renda é resultante de um conjunto de determinantes econômicos, políti-cos e sociais. Ver, por exemplo, Foley, D.; Michl, T. op. cit., p. 146-149. Um dos desdobramentos dessa literatura é a investigação da trajetória da taxa de lucro, por meio da sua decomposição no percentual dos lucros no produto multiplicado pela razão produ-to/capital, que é uma outra versão da “primeira lei fundamental do capitalismo” de Piketty. Um exem-plo recente dessa literatura é BASU, D.; R. Vasudevan. “Technology, Dis-tribution and the Rate of Profit in the US Economy: Un-derstanding the Current Crisis”. Cambridge Journal of Economics, vol. 37, n. 1, 2013. p. 57-89.
Fernando Rugitsky – Pesquisador do Núcleo de Direito e Democracia do Cebrap.
Women in Ancient Egypt – ROBBINS (RMA)
ROBBINS, Gay. Women in Ancient Egypt. Cambridge: Harvard University Press, 1993. 205p. ROBBINS, Gay. Reflections of Women in the New Kingdom: Ancient Egyptian Art from the British Museum. San Antonio: Van Siclen Books, 1995. 142p. Resenha de: SANTOS, Moacir Elias. A Mulher no Antigo Egito nas obras de Gay Robbins. Revista Mundo Antigo, v.2, n.4, dez., 2013.
Para a presente resenha acreditamos que não deveríamos apresentar apenas uma obra, mas duas. Tal escolha refere-se ao fato destas terem sido produzidas pela mesma autora, a egiptóloga norte-americana Gay Robbins, e também pelo conjunto que ambas formam, sendo a segunda complementar à primeira, embora não pertençam a nenhuma série ou algo semelhante. Robbins é atualmente Associate Professor de História da Arte e Curadora de arte egípcia no Museu Michael C. Carlos, na Universidade Emory. O primeiro livro, Women in Ancient Egypt, foi concebido a partir de um projeto da autora, encorajado e auxiliado por inúmeros estudiosos do Antigo Egito, dentre os quais destacam-se Vivian Davies, John Baines, Richard Parkinson e Stephen Quirke. Já o segundo, Reflections of Women in the _ew Kingdom: Ancient Egyptian Art from the British Museum, originou-se de uma exposição organizada por diversos especialistas, americanos e ingleses, dentre os quais figura a Dra. Robbins. Realizada no período de 4 de fevereiro a 14 de maio de 1995, no Museu Michael C. Carlos, a mostra revelou inúmeros artefatos, que representavam mulheres ou estavam a elas relacionados. A temática explorou diversos aspectos significativos que, desde o planejamento da exposição seriam ampliados e reunidos em um catálogo especializado. Entretanto este não se frutificou, devido à falta de recursos, todavia, pouco antes do encerramento da mostra, Clarles C. Van Siclen III ofereceu-se como patrocinador do catálogo. Embora seja “menos ambicioso que o catálogo original”, conforme as palavras de Gay Robbins, o presente conserva os mesmos textos didáticos. Leia Mais
Republic of Debtors: Bankruptcy in the Age of American Independence – MANN (CSS)
MANN, Bruce H. Republic of Debtors: Bankruptcy in the Age of American Independence. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. 344p. Resenha de: BRILEY, Ron. Canadian Social Studies, v.38, n.3, p., 2004.
In Republic of Debtors, Bruce H. Mann, professor of law and history at the University of Pennsylvania, offers an informative account of the role played by economic insolvency in the creation of the American republic. Nonetheless, most students at the secondary level will struggle with Mann’s prose grounded in economic analysis. Teachers of American history, however, would do well to consult this volume and incorporate Mann’s research into the historical narrative which all too often tends to uncritically celebrate the unfolding of American economic growth and prosperity.
In the midst of a major recession in which the economic gap between rich and poor continues to grow in the United States, it is worth recalling that these issues of economic and social inequality were present at the inception of the American republic. Americans who struggle under the burden of consumer credit card debt, while bemoaning the legal advantages awarded to corporate debt, will discover from reading Mann’s volume that such conditions are hardly new to American capitalism. Indeed, Mann’s attention to issues of class is crucial, for this is a topic which draws scant coverage in textbooks.
Mann argues that debt in the English colonies of North America was considered a moral issue and the failure to honor a debt constituted a character flaw. This situation, however, began to change in the mid-seventeenth century with the expansion of commercial capital activity. Yet, the devastation of the Seven Years War and the tightening of British mercantile regulations over the colonies resulted in an economic downturn, rendering many colonial businessmen and speculators unable to honor their financial obligations. Debtors called for relief, and insolvency was increasingly perceived as an economic failure, often due to market forces over which the individual exercised little control, rather than a moral lapse.
Essential to Mann’s argument is that this evolving attitudinal shift regarding insolvency extended to commercial rather than consumer debt. Thus, Mann asserts that some colonial legislatures began to experiment with limited bankruptcy laws. Also, many began to question whether imprisonment for debt was a proper remedy for merchants who had fallen upon hard times. Reformers complained that in the two major debtors’ prisons, the New Gaol in New York City and Philadelphia’s Prime Street Jail, respectable middle class businessmen and their families were often incarcerated with common criminals.
Appeals for commercial debt relief increased following the American Revolution and the post war depression which disrupted traditional colonial trading relationships. The uncertain financial times led to the imprisonment of such prominent speculators as William Morris, William Duer, and John Pintard. The ensuing social unrest culminated in Shays’s Rebellion and the belief that a stronger central government was necessary to protect property and maintain order. Accordingly, the Constitutional Convention of 1789 provided the national government with the power to create bankruptcy legislation.
During the 1790s popular perceptions regarding debt continued to evolve, and Mann devotes considerable space to newspapers, pamphlets, and reform journals in which debt was perceived as a threat to the independence of the new republic. Thus, Virginia planters complained that their British creditors were attempting to reduce them to the status of dependent slavery. The irony of such rhetoric, however, was apparently not recognized by the slave-owning planters. Some commercial debtors attempted to escape the reach of creditors by moving to the west, where they were able to reestablish themselves as entrepreneurs. Others were not as fortunate, ending up in the New Gaol where Morris, and others of his social background, attempted to maintain their status by orchestrating an elaborate self-governing procedure for the so-called Middle Hall of the New Gaol.
The debate over commercial debt in the new republic culminated in the Bankruptcy Act of 1800. Commercial debtors rejoiced in the passage of a law which, according to Mann, extended only to merchants, bankers, brokers, factors, underwriters, and marine insurers, who owed a minimum of $1,000 and who had committed one or more acts of bankruptcy (p. 222). Despite the class nature of this legislation and the fact that the bankruptcy process could not be implemented without the approval of creditors, the Bankruptcy Act of 1800 was unpopular with creditors. Accordingly, in 1803 the law was repealed, and a permanent piece of bankruptcy legislation was not enacted until 1898. While creditors continued to express some discomfort with debt relief for all social classes, Mann’s main point is that the Bankruptcy Act of 1800 represented a national statement of the ‘principle’ that release from debts was a boon reserved for capitalistic entrepreneurs, while simpler debtors should, by implication, remember the sanctity of their obligations (p. 256).
Mann concludes that the American legal and economic system continues to grapple with these issues of dependence and independence. Students and teachers of American history should pay greater attention to the class origins of this debate which is well outlined in Mann’s volume. The promise of equal economic opportunity in the United States remains an elusive goal.
Ron Briley – Sandia Preparatory School. Albuquerque, New Mexico, USA.
[IF]
Culture: The Anthropologists’ Account – KUPER (CSS)
KUPER, Adam. Culture: The Anthropologists’ Account. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 299p. Resenha de: GOULET Jean-Guy. Canadian Social Studies, v.38, n.3, p., 2004.
American academics are waging culture wars. (Not many dead.) Politicians urge cultural revolution (p. 1). Thus begins the introduction to a fascinating exploration of a recent chapter in the intellectual history that gave rise and prominence to ‘culture’ as a professional specialty and as a taken-for-granted concept in terms of which the citizenship at large discusses politics, economy, management, industry, media, and so on. One of the impulses from which this book has been written is the abuse of culture theory as a source of legitimization for apartheid in South Africa, where Kuper was an undergraduate in anthropology in the late 1950’s. Culture then superseded race as the objective fact on the basis of which to argue that those who shared a culture ought to live and breed together. To this day Kuper is suspicious of arguments that deny individuals the possibility to associate with whom they choose and so develop in ways that are not determined by their ethnicity and ancestry.
To expose the historical roots of cultural theory the book is divided into two parts. The first consists of two chapters. The initial chapter presents particular traditions of thinking about culture as seen in the work of Lucien Fevre (1878-1956), Norbert Elias (1897-1990) and Raymond Williams (1921-1988). Whereas German intellectuals advocated Kultur above the artificial civilization of the cosmopolitan, materialistic French, British intellectuals tied their notion of culture to the processes of industrialization and its ensuing socio-economic transformations. The second chapter focuses on the American tradition. Kroeber and Kluckhone are credited for constructing a distinctively American genealogy of the concept of culture. Parson built on this foundation to divide the intellectual labour between sociologist, psychologist and anthropologist giving to the latter, as a specialty, the concept of culture as a system of symbols.
Part II of the book focuses on the central project in postwar American cultural anthropology as developed by Geertz (chapter 3), Schneider (chapter 4), Sahlins (chapter 5), and by Sherry Ortner, Renato Rosaldo, George Marcus and James Clifford (chapter 6). These scholars who were granted tenure in the 1980’s promote a postmodernist anthropology born out of the recognition that the imperial project operated within the United States itself (p. 204). In a final chapter Kuper argues against the value of the concepts of culture and multiculturalism in discussions of identity. When difference becomes the basis for a claim to collective rights of those who share gender, race, ethnicity or disability (p. 224), Kuper sees a political agenda that constrains individuals to belong to the group to which they are assigned a priori..
In his criticism of the American project, Kuper operates from a number of vantage points. He chastises Geertz, who hails culture as the essential element in the definition of human nature and produces thick descriptions of local knowledge in Indonesia and Bali, for failing to understand local events in the light of what politicians, soldiers, and CIA operatives did when they not only shaped history but too often tortured and eliminated their enemies (p. 120). Kuper looks at Schneider through the psychoanalytical lens and identifies Schneider’s choice of kinship as a subject for deconstruction that becomes a way to perpetrate not only parricide but a wholesale slaughter of the ancestors(p. 132). Kuper presents Sahlins as Leslie White reincarnated as Lvi-Strauss (p. 198), a view that effectively captures Sahlin’s career path from Michigan to Paris and back to Chicago. In the end Kuper’s objection to the American project as a whole is a moral one, for It tends to draw attention away from what we have in common instead of encouraging us to communicate across national, ethnic, and religious boundaries, and to venture beyond them (p. 247).
First published in 1999, Kuper’s book was in its third printing in the year 2000, a clear indication of its importance. Against American anthropologists, Kuper argues that we ought to avoid the hyper-referential word culture altogether. Better, he claims, to talk more precisely of knowledge, or belief, or art, or technology, or traditions, or even of ideology (though similar problems are raised by the multivalent concept) (p. 10). This suggestion will not do. In the end, Kuper has not found a way out of the anthropological intellectual conundrum that he so elegantly explores. His book will remain, nonetheless, a masterpiece against which to measure the quality of other contributions in the enduring intellectual debate about the core business of anthropology.
Jean-Guy Goulet – Faculty of Human Sciences. Saint Paul University. Ottawa, Ontario.
[IF]
Northern Passage: American Vietnam War Resisters in Canada – HAGAN (CSS)
HAGAN, John. Northern Passage: American Vietnam War Resisters in Canada. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. 269p. Resenha de: NEIDHARDT, W. S. Canadian Social Studies, v.37, n.2, 2003.
The Vietnam War was a most traumatic experience for the American people for it was a war unlike any other war that Americans had ever fought. Never before had the homefront seen images of war so quickly and so graphically. The powerful presence of a television set in almost every American home and the nightly war reports from the seemingly war-obsessed news media combined to make this far-away conflict American’s first living room war.
As American casualties increased steadily, a growing concern began to spread throughout much of the United States that this was one war which America might just possibly not win. Indeed, as the war dragged on, a growing number of Americans began to question the legitimacy of their country’s political and military involvement in this far-away conflict in south-east Asia. In fact, by the late 1960’s, America had become a house divided over the Vietnam War and the consequences of that painful experience reached far beyond the borders of the United States.
In Northern Passage, John Hagan has provided a well-written and solidly researched book about the American draft and military resister experience in Canada. During his research, Hagan seems to have consulted a considerable range of archival material and most of the more important secondary literature on the subject. He also managed to interview various Canadian and American government officials as well as one hundred Vietnam war resisters who came to Canada particularly Toronto during those turbulent years.
John Hagan was not a draft resister. He tells us that his first contact with Canada came during a brief visit to Toronto in 1968. Soon thereafter he attended graduate school at the University of Alberta from where he observed the anti-Vietnam drama while occasionally becoming involved in local anti-war demonstrations in Edmonton. In 1974 he arrived back in Toronto to join the faculty of the University of Toronto.
Each of the six chapters in this book has a clear and major focus. Chapter 1 explores the reasons why so many war resisters, including thousands of young women, decided to come to Canada during what Hagan calls the largest politically-motivated exodus from the United States since the country’s beginning (p. xi). Chapter 2 explains why and how the Canadian government – which initially had been rather reluctant to take in any resisters – suddenly liberalized its immigration laws in the late spring of 1969 and thereby allowed thousands of war resisters to find refuge on Canadian soil. Chapter 3 concentrates almost entirely on Toronto’s so-called American Ghetto and how the presence of at least 20, 000 war resisters affected Toronto’s social, economic and political life. Hagan also provides detailed accounts of the Toronto Anti Draft Program (TADP) and Amex the magazine that began as a major source of news for American resisters and eventually became a major anti-Vietnam War lobbying force.
Chapter 4 focuses on the personal and professional lives of many of the war resisters and tries to explain why for so many of them, their resistance activities became a turning point in the development of long-term commitments to social and political action (p. 99). Chapter 5 examines how the Canadian and American governments dealt with the explosive amnesty issue. The Canadian Parliament granted a complete amnesty to all war resisters who had entered Canada illegally and offered each one the opportunity to apply for landed immigrant status. The American government, however, only offered a limited amnesty and then only to so-called draft-dodgers. Chapter 6 tries to explain why-after the Vietnam War was over-so many of these war resisters chose to stay in Canada. It obviously was a difficult decision for many of them, as these words from one deeply-troubled young American so clearly reveal: I feel a very strong allegiance to this country that took me in and made me welcome, but I also feel an identity coming out of my youth, my childhood, of the country where I grew up (p. 204).
Northern Passage serves as a powerful testament to all those young war resisters who risked so much for the sake of their own values and convictions. Choosing to come to Canada certainly must have been a soul-searching event for most of these young men and women whose patriotism and judgement was continuously questioned – and not only on the American side of the 49th Parallel. One wonders what they thought and felt when they learned that Robert McNamara-the once hawkish American Secretary of Defense during the height of the Vietnam War-made this remarkable admission in his memoirs in 1995: I believe we could and should have withdrawn from South Vietnam either in late 1963or late 1964 or early 1965 (p. 25).
W.S. Neidhardt – Toronto, Ontario.
[IF]
The Mass Media and Canadian Diversity – NANCOO; NANCOO (CSS)

The Mass Media and Canadian Diversity offers an insightful and thought provoking look at the role the mass media have played in both forming and perpetuating ideas about Canadian identity. It is a collection of essays and research reports by nineteen writers who look at the issue from varying perspectives. A great deal of attention is given to issues of identity for Native peoples, with a lesser emphasis on the portrayal of women and visible minorities in our society.
The organization of the book follows a logical historical progression to the role of the mass media in the formation of a Canadian identity. This is followed by reports on a number of studies which examine the direct impact of media decisions and actions. Finally, the editors suggest a course of action for the roles the media should play in dealing with identity issues in the future.
The Mass Media and Canadian Diversity concludes that the richness of cultural diversity in Canada has not traditionally been portrayed in an accurate or favorable light, and contends that there is a need, in fact, an obligation, for the media to remedy this situation in the future. More research needs to be done into the impact of media portrayals and a more concerted effort to make positive portrayals is required in order to encourage people to embrace the value of a culturally diverse Canada, to help us build a healthier, more successful society in the future.
The editors have done a fairly good job of choosing material for the book. Various perspectives are presented which provide a valuable cross section of the diverse cultures in Canada and representations of them in the mass media. This book will, unfortunately, have a limited use in the classroom. The reading level would be somewhat difficult for most high school students and the only visuals are charts of research findings. The reports on research were, in places, too reliant upon statistical findings and lacked interesting and useful analyses. Because of this, students would likely lose interest in reading this book. However, The Mass Media and Canadian Diversity would be a useful resource for a higher level course on media relations and the role of media in the formation of Canadian identity.
In The Power of News, Michael Schudson attempts to clarify exactly what the role of the media is and has been in American history. He is clearly an avid historian of the news media and the book is well referenced and footnoted. However, I found myself struggling to determine whether this book was about the power of news or the history of news.
The entire first half of the book is devoted to an interesting account of the role of the news media in American history. While this section is fascinating, I kept asking myself what this had to do with the power of news. The second half of the book is more clear in explaining how the news media has struggled to define the role it can and should play – that of keeping a presumably literate, intelligent, and politically active public informed or that of watch dog over those in power, charged with the responsibility of ensuring authority is used responsibly. Schudson concludes that the media must have a kind of schizophrenic role because they must assume the occurrence of both these situations. Sometimes people are informed and politically active and, at other times, they are less than vigilant. When this happens, the media must be prepared to take up the role of political activists and assure that the abuse of power does not occur.
The Power of News has limited applications for a high school social studies class. Schudson’s writing style make the reading heavy going in places. Also, the material assumes extensive knowledge of American historical contexts. As with The Mass Media and Canadian Diversity, this book is more appropriate for use with a higher level course on media relations.
While both of these books were about the media, and contend that news and the media have power over society and politics, they take different approaches. Nancoo and Nancoo focus on relations between diverse cultures within a society, while Schudson is more concerned about the relationship between the producers of news (the media) and the consumers of it (the general public). Both may have some use as instructor resources, at the high school level, but would not be suitable for use by high school students.
Elizabeth Senger – Calgary, Alberta.
[IF]




