Posts com a Tag ‘Direitos humanos’
Direitos Humanos na América Latina: história, política e lutas sociais | Revista Ágora | 2022
Detalhe de capa de Direitos Humanos: 70 Anos Edição Ilustrada | Ilustração de Joao Lin
Por que cantamos? […]
cantamos porque o grito só não basta
e já não basta o pranto nem a raiva
cantamos porque cremos nessa gente
e porque venceremos a derrota.
Cantamos porque o sol nos reconhece
e porque o campo cheira a primavera
e porque nesse talo e lá no fruto
cada pergunta tem a sua resposta.
Cantamos porque chove sobre o sulco
e somos militantes desta vida
e porque não podemos nem queremos
deixar que a canção se torne cinzas […]
Mário Benedetti
O presente dossiê “Direitos Humanos na América Latina: história, política e lutas sociais”, que ora chega ao público, na presente edição da Revista Ágora, é fruto de inúmeras preocupações voltadas para a defesa e garantia dos direitos humanos na região, a partir da reflexão crítica e abordagens de temas concretos que fazem parte da realidade histórica de nuestra América. Leia Mais
Direitos humanos e Relações Internacionais | Isabela Garbin
Um guia introdutório sobre direitos humanos para internacionalistas é como poderíamos, em poucas palavras, definir “Direitos Humanos e Relações Internacionais”, da professora Isabela Garbin, professora da Universidade Federal de Uberlândia. O livro compõe a coleção Relações Internacionais, coordenada por Antônio Carlos Lessa, é publicado pela Editora Contexto e chega em importante quadra da história brasileira e mundial. O sofrimento decorrente do quadro de desigualdades, deterioração ambiental, governos de arroubos autoritários e conflitos de diversas ordens exige uma reflexão que aproveite as construções político-jurídicas já elaboradas pela humanidade na esteira dos seus momentos mais dolorosos sem deixar de refletir sobre novos desafios que se apresentam e possíveis soluções a construir. O livro contribui nesse sentido. Leia Mais
Revolución/ democracia y paz. Trayectorias de los derechos humanos en Colombia (1973-1985) | Jorge González Jácome
Jorge González Jácome | Imagem: Universidad de los Andes
El libro de Jorge González Jácome es una bocanada de aire fresco para el estudio de los derechos humanos en Colombia. Recogiendo algunas de las hipótesis esbozadas en los trabajos de norteamericanos como Samuel Moyn1 y Patrick William Kelly2 —historiadores que recientemente han abierto nuevos caminos en la historia de los derechos humanos gracias a innovadores análisis sobre su surgimiento—, Jorge González se acerca a la especificidad del caso colombiano en medio de una plétora de trabajos dedicados a estudiar el Cono Sur y ante la ausencia de trabajos recientes que reflexionen directamente sobre la trayectoria de los derechos humanos como proyecto en nuestro país. A través de cuatro capítulos, uno introductorio y tres divididos por temporalidad y énfasis temático, González Jácome rastrea la manera en que el lenguaje y las ideas asociadas a los derechos humanos fueron apropiadas por el Estado y militantes de izquierda en un periodo que inicia en 1973 con la fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y termina en 1985 con la toma al Palacio de Justicia. Leia Mais
Imigração no tempo presente: experiências de vida e direitos humanos no Brasil/Revista Transversos/2022
A temática da imigração tem obtido grande repercussão nos meios de comunicação de massa, que, com frequência, têm noticiado esse fenômeno e seus desdobramentos no tempo presente. Embora o assunto remonte, no tempo e no espaço, a séculos anteriores, durante o período da grande imigração, na contemporaneidade, esse movimento tem se revestido de inúmeras preocupações. A grande mídia tem publicado matérias que aludem os impactos dos deslocamentos para o Brasil e suas implicações para a sociedade. Aponta-se para uma noção de crise migratória sem precedentes, motivada por questões que dizem respeito ao racismo e à xenofobia, além dos problemas que envolvem acolhimento a imigrantes, reconhecimento de cidadania e direitos humanos. Leia Mais
Afro-Clio: direitos humanos, história da África e outras artesanias | Elio Chaves Flores
Lélia Gonzalez (acima) e Elio Flores (abaixo) | Fotos: Divulgação / Brasil de Fato
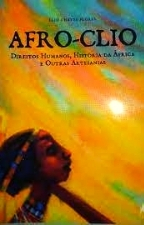
Flores é professor Titular do Departamento de História da UFPB, pesquisador na área de História Moderna e Contemporânea e atua nas áreas de Cultura Histórica, Ensino de História, História da África, Educação das Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos e Saberes Históricos.
O livro está organizado em quatro capítulos: o primeiro deles intitula-se “Sair da história: direitos humanos, tempo presente”; o capítulo 2, “Mergulhar na história: viradas, ventanias”. No capítulo 3 o autor reflete sobre o “Fazer-se professor (e historiador) de História da África – Licenciaturas”; e no quarto capítulo apresenta a “A tal tese e outras tensões (ou doutoristicamente falando?)”. Aos capítulos apresentados seguem-se as “Considerações Finais: à guisa do Posfácio” e a sua produção intelectual bibliográfica. Leia Mais
State violence, torture, and political prisoners: on the role played by Amnesty International in Brazil during the dictatorship (1964-1985) | Renata Meirelles
Renata Meireles | Fotomontagem: RC/coldwarbrazil.fflch.usp.br

A grande mudança aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, e mais intensamente ao longo da Guerra Fria, quando, nos anos 1970, a política internacional transformou-se em disputa pelo que então se queria entender por emancipação humana, ou por conquista de novas liberdades, quer no sentido anticolonial, quer no sentido da democracia repensada, restaurada, ampliada. A novidade do conceito de direitos humanos estava no ato de se acreditar que era mesmo possível agir-se para a elevação política e moral da humanidade, sem as limitações das fronteiras nacionais, se intervindo nos Estados de forma que seus governos, criticados externamente, respondessem por seus atos e promovessem mudanças positivas. Leia Mais
Educación y Derechos Humanos en Argentina. Apuestas y propuestas de transmisión y enseñanza | María del Rosario Badano, Rosana Ramírez, María Virginia Pisarello
Las autoras de “Educación y Derechos Humanos en Argentina. Apuestas y propuestas de transmisión y enseñanza”, entrañables militantes de la memoria -como son descriptas en el prólogo del libro- poseen una amplia experiencia y trayectoria en el trabajo con la memoria colectiva y social, y con la transmisión y enseñanza de los Derechos Humanos en el ámbito educativo universitario. Su compiladora, María del Rosario Badano, es Magister en Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica, ha dirigido numerosos proyectos de investigación vinculados al estudio de la Universidad Pública, el trabajo docente, culturas y narrativas. Leia Mais
Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza | Juan P. Bohoslavsky, Karinna Fernández e Sebastián Smart
La escasa literatura existente sobre la contribución y complicidad de empresas y grupos económicos en la violación sistemática de derechos humanos ocurrida en Chile durante el régimen de Pinochet, hace del libro Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza un aporte indispensable para mejorar nuestra comprensión sobre el origen de muchas de las desigualdades sociales y económicas que, actualmente, son objeto de las mayores protestas que hayan tenido lugar en Chile desde el fin de la dictadura cívico-militar.
En el libro, sus editores – Juan Pablo Bohoslavsky, Karinna Fernández y Sebastián Smart – reúnen una serie de investigaciones en las cuales se documenta desde diferentes disciplinas y dimensiones, la existencia de redes de financiamiento y apoyos a la dictadura, que habrían permitido al régimen de Pinochet solventar su política represiva para mantenerse en el poder, y al mismo tiempo, transformar radicalmente la estructura político-económica del país. De este modo, los veintiséis capítulos que componen el libro convergen en la tesis de que existiría una estrecha relación entre la asistencia económica extranjera, la política económica implementada por la dictadura y la violación sistemática de los derechos humanos.
El esfuerzo por documentar la colaboración y complicidad financiera con la dictadura chilena – tal como sostiene Elizabeth Lira en el prólogo del libro – constituye una pieza fundamental para garantizar a las víctimas la no repetición de las violaciones a los derechos humanos ni de las condiciones que las hicieron posible. En esta misma línea, Juan Pablo Bohoslavsky señala, en el capítulo introductorio, que este libro ofrece una nueva narrativa de la dictadura, al considerar la responsabilidad de sus cómplices económicos y vincularla con la actual agenda de justicia social. Argumenta que la ayuda financiera recibida por el régimen se orientó, por un lado, a comprar lealtades y apoyos de sectores claves de la sociedad chilena, y por otro, a montar un eficaz aparato represivo, cuyo principal propósito fue crear las condiciones necesarias para la implementación de un conjunto de políticas sectoriales que tuvieron como denominador común el beneficio económico de la élite chilena y de las grandes empresas nacionales y extranjeras, todo esto, en detrimento del bienestar de la clase trabajadora y el consiguiente aumento de la desigualdad económica y social en el país.
Los capítulos posteriores se organizan en siete secciones temáticas, cada una de estas aporta importante evidencia en ámbitos poco explorados del pasado reciente de Chile. La primera sección, titulada “Pasado y presente de la complicidad económica” se articula en torno al informe elaborado en 1978 por Antonio Cassese, quien fuera nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como relator especial para evaluar el apoyo financiero recibido por la dictadura. Como sugiere Naomi Roth-Arriaza en el capítulo que inaugura esta primera sección, los trabajos ahí presentados constituyen un importante esfuerzo por desarticular aquella narrativa que desliga el plan económico de la dictadura, de la violencia utilizada por el régimen de Pinochet para reprimir a la población y así, acallar sus críticas.[1] Los cinco capítulos que componen la sección funcionan como un bloque analítico que inicia dando cuenta de las razones de la escasa atención que recibieron las dimensiones económicas dentro de la agenda de la justicia transicional chilena y cómo, en los últimos años, esto se ha ido revirtiendo. Este cambio, producido por una forma más integral de comprender los derechos humanos, permitió ampliar la visión hacia los derechos económicos y sociales que fueron vulnerados durante la dictadura y que hoy continúan siendo parte de las luchas sociales en Chile. Si bien, como exponen Elvira Domínguez y Magdalena Sepúlveda en el quinto capítulo del libro, el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile ha sido en el último tiempo objeto de un mayor escrutinio internacional – lo que se refleja en un número relativamente alto de procedimientos especiales realizados en el país, al punto de equipararse con la atención prestada a la violación de los derechos civiles y políticos -, esto no ha sido suficiente para comprender efectivamente todos los abusos cometidos por el régimen de Pinochet, ni el efecto que éstos continúan teniendo para el pleno ejercicio de los derechos humanos en el Chile de post-dictadura.
Esta sección también aporta algunos antecedentes para comprender cómo la violación de los derechos civiles y políticos durante la dictadura – específicamente, la supresión de los derechos sindicales – fue un factor relevante para atraer la asistencia económica extranjera, y a la vez, fue condición necesaria para la imposición de una política económica basada en la acumulación de capital, la cual, a partir de la privatización de empresas del Estado y la venta de sus activos, transfirió la riqueza nacional a manos de la clase empresarial chilena. La sección cierra reconociendo que, aunque el impacto de las iniciativas en términos de verdad y justicia ha sido limitado, Latinoamérica ha ocupado un lugar protagónico en la identificación de las responsabilidades de las empresas en las graves violaciones a los derechos humanos. Destaca en este itinerario la forma en como las víctimas y sus familiares han complementado la movilización social con estrategias legales innovadoras a fin de responsabilizar a las empresas e incluirlas en el radar de la justicia transicional, esto, más allá de si las comisiones de verdad implementadas en sus respectivos países, tenían o no como mandato, esclarecer la participación de los agentes económicos en las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, y siguiendo a Priscilla Hayner (2008, p. 247), el deseo de buscar la verdad es cuestión de tiempo, hay veces en que este deseo sólo se logra hacer patente cuando las tensiones que generan conflictos dentro de una sociedad han sido disminuidas, y hay otras, en las que es justamente este deseo el que impulsa cambios sobre los límites y las formas de abordar los crímenes del pasado.
La segunda sección de este libro, titulada “La economía del pinochetismo”, también consta de cinco capítulos, los cuales – con excepción del capítulo de Marcos González y Tomás Undurraga, quienes discuten sobre la complicidad intelectual en la dictadura – se articulan en torno a la relación existente entre la política extractivista impulsada por la dictadura, la concentración del poder y la riqueza y la construcción de una institucionalidad político-jurídica funcional a las necesidades del neoliberalismo. La sección inicia con el capítulo presentado por José Miguel Ahumada y Andrés Solimano, quienes sostienen en su trabajo que las desigualdades sociales y económicas que afectan a Chile en la actualidad tienen sus bases en el modelo económico implementado durante el régimen de Pinochet. Así, esta sección analiza el recorrido que siguió la economía chilena durante la dictadura, la que – en tanto proceso históricamente situado – experimentó una serie de cambios, que fueron más el resultado del activo rol del Estado y de la correlación de fuerzas al interior del gobierno dictatorial, que un producto de las fuerzas autónomas del mercado.
En este marco, las privatizaciones llevadas a cabo desde la segunda mitad de los años setenta, con el objetivo inicial de desmantelar el Estado productor y desarrollista, y luego con la intención de suplir las funciones sociales del Estado, habrían posibilitado que las elites económicas no sólo concentraran el grueso de la riqueza nacional, sino que, además, adquirieran una fuerte influencia en el funcionamiento de lo que sería la nueva democracia. Del mismo modo, en esta sección se advierte que, pese al impacto negativo que ha tenido el extractivismo económico en los derechos humanos y en el medioambiente, no ha existido la intención de cambiar el rumbo del modelo extractivista chileno, pues como sugiere Sebastián Smart, si bien éste se asienta en una legislación creada por la dictadura, la interrelación y mutua dependencia entre el poder político y económico existente en Chile, ha impedido cualquier tipo de modificación sustantiva al modelo.
Por otro lado, esta sección refuerza la idea de que las actuales desigualdades surgen en un contexto de represión y de múltiples restricciones a la deliberación democrática, y también, de que son consecuencia de una trasformación radical de la economía, en la cual tuvieron lugar procesos de acumulación por desposesión y de oligopolización de la estructura productiva, dando origen con esto, a una elite empresarial que, hasta el día de hoy, controla amplios aspectos de la vida económica, política y social del país.
La tercera y cuarta sección – tituladas “Juegos de apoyos, corrupción y beneficios materiales” y “Normas y prácticas represivas en favor de los grupos empresariales”, respectivamente – reúnen diez investigaciones, las que podrían, por la similitud de sus temáticas, constituir una única sección cuyo eje estuviera en el impacto que han tenido las diversas políticas y decretos leyes, dictados por la dictadura, en la actual agenda de justicia social. A pesar de esto, es posible reconocer una cierta estructura asociada a temáticas específicas dentro de cada una de las secciones. Así, mientras los dos primeros capítulos de la tercera sección analizan el rol de las cámaras empresariales y de los medios de comunicación en la comisión u omisión de violaciones a los derechos humanos; los dos últimos dan cuenta del impacto que tuvieron las privatizaciones, tanto en el sistema de pensiones como en el patrimonio público de Chile. Respecto de este último punto, Sebastián Smart señala que, en base a la violencia desplegada, la dictadura terminó con el histórico y progresivo proceso de creación de empresas estatales, dando paso a la enajenación de las mismas (muchas de las cuales fueron vendidas muy por debajo de su valor económico). En efecto, según Smart, se pasó de 596 empresas estatales en 1973 a sólo 49 en 1989, lo que implicó una mayor concentración de riquezas y la profundización de las brechas sociales y económicas ya existentes.
Del mismo modo, los dos primeros capítulos de la cuarta sección tratan sobre el desmantelamiento del sindicalismo chileno y explican cómo el “Plan laboral” de la dictadura – que básicamente operó como una regulación del poder colectivo de los sindicatos – tuvo como objetivo garantizar plenamente el derecho de propiedad y legitimar así, las bases del poder económico y social de la elite chilena. Pese a que el año 2003, fue publicado en el diario oficial un nuevo Código del Trabajo, para Salazar (2012, p. 308-309) este no es más que una forma de aparentar modernidad y sensibilidad social, pues mantiene las mismas relaciones laborales impuestas por la dictadura.
Los dos capítulos siguientes reflexionan sobre cómo la implementación del modelo neoliberal en Chile significó la disminución de las prestaciones sociales básicas y el aumento de la pobreza, dando paso a la criminalización y el encierro masivo de pobres, por un lado, y por otro, a su erradicación de las áreas céntricas, y posterior, relocalización en sectores periféricos. Finalmente, los últimos dos capítulos de esta sección analizan las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y culturales que han experimentado los pueblos originarios en Chile, a propósito de la apropiación que hiciera la dictadura de recursos naturales y bienes comunes. Así, por ejemplo, y considerando la actual crisis hídrica, el capítulo de Cristián Olmos conecta el rol de empresas y actores económicos en la privatización del agua, con las constantes violaciones a los derechos de comunidades indígenas próximas a centros mineros en el Norte de Chile. Para Olmos, la base de estas vulneraciones se encuentra en la plataforma legislativa generada en dictadura, la cual comprende la Constitución, el Código de Aguas y el Código de la Minería. Una lectura similar lleva a cabo José Aylwin, quién en su estudio, da cuenta de cómo la dictadura, luego de apropiarse de tierras mapuches (reconocidas y restituidas por los proceso de reforma agraria impulsados por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende), éstas fueron vendidas de forma irregular, para posteriormente, establecer sobre ellas una política de incentivos monetarios y tributarios que benefició, principalmente, a los conglomerados forestales que habían colaborado con el régimen de Pinochet, teniendo esto, como consecuencia directa, la exclusión del pueblo mapuche y el deterioro del medio ambiente y del hábitat natural y cultural de las comunidades.
Dos capítulos son los que componen la quinta sección titulada “Estudios de casos”. En ella, se analizan emblemáticos casos de corporaciones nacionales que financiaron, o directamente participaron en delitos de lesa humanidad. Karinna Fernández y Magdalena Garcés documentan cómo los recursos logísticos de la Pesquera Arauco y de Colonia Dignidad fueron puestos a disposición de la represión militar. Este trabajo advierte sobre la activa participación de estas corporaciones en el secuestro, tortura y desaparición de civiles durante la dictadura chilena. Las autoras también llaman la atención sobre la falta de voluntad política para perseverar con las investigaciones y las debilidades presentes en la acción judicial, las que muchas veces, no han permitido conocer la verdad de los hechos, ni cuantificar o determinar el destino de los dineros obtenidos por la comisión de estos delitos. En esta misma línea, Nancy Guzmán entrega evidencia para conocer cómo, desde la elección de Salvador Allende como presidente de Chile, el diario El Mercurio fue utilizado por su dueño, Agustín Edwards, para colaborar con la dictadura; primero, azuzando el golpe de Estado, y luego, encubriendo los crímenes del régimen, mediante múltiples campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública.
La sexta sección temática, “Aspectos jurídicos de la complicidad económica”, también se compone de dos capítulos. En ellos se exponen, por un lado, los principios generales emanados del derecho internacional para abordar las causas de complicidad económica; y por otro, las (im)posibilidades de perseguir, juzgar o reparar – en el marco del derecho chileno – la comisión de estos delitos, por los cuales algunas empresas y sus altos miembros se beneficiaron económicamente. Juan Pablo Bohoslavsky reflexiona, a la luz del derecho internacional y comparado, respecto de cuándo procede establecer responsabilidades civiles en las violaciones de derechos humanos. En este marco, sostiene que para determinar dichas responsabilidades se requiere conocer si la asistencia corporativa a un régimen criminal, generó, facilitó, dio continuidad o hizo más efectiva la comisión de estos delitos. Argumenta que, comprender el contexto que originó y sostuvo la complicidad económica, resulta incluso, más relevante que constatar el grado de conocimiento que tenían las corporaciones sobre el daño producido. En un tenor similar, Pietro Sferrazza y Francisco Jara sostienen que la condición de civiles no excluiría a los actores económicos de la persecución criminal por delitos de lesa humanidad, al tiempo que advierte una oportunidad – de acuerdo a la jurisprudencia – para la imprescriptibilidad de los casos, toda vez que éstos devengan de acciones que hayan facilitado o contribuido a la violación de los derechos humanos.
La séptima sección, titulada “Conclusiones y prospectivas”, coincide con el último capítulo del libro. En este, el historiador Julio Pinto, describe tres momentos en los cuales se habría ido anudando una cierta simbiosis entre el mundo empresarial y la dictadura cívico militar. El primer momento, se encuentra en la amenaza que significó el programa de la Unidad Popular para la libertad de empresa y el derecho de propiedad. El segundo, tiene que ver con los beneficios que recibieron durante la dictadura aquellos empresarios que apoyaron y colaboraron con el régimen. Mientras que el tercer momento, se asocia con las garantías de inmodificabilidad de los mecanismos básicos de funcionamiento de la economía neoliberal, así como de los componentes centrales de la institucionalidad en la cual se estableció dicha garantía.
De este modo, el libro que ha sido reseñado tiene el valor de ofrecer un variado análisis sobre la complicidad de las empresas y empresarios durante la dictadura. Desde un abordaje interdisciplinario, logra articular efectivamente una narrativa que conecta las violaciones a los derechos humanos con las políticas económicas implementadas durante el régimen de Pinochet. No obstante, considerando la diversidad de perspectivas y dimensiones desde las cuales se observó el problema, se extraña un capitulo con una mayor sistematización de los fallos judiciales, conclusiones de comisiones investigadoras o solicitudes de información realizadas al Congreso Nacional. Esto, por un lado, a fin de comprender los aciertos y reveses que han tenido estas iniciativas, y por otro, para conocer el estado actual de las impugnaciones realizadas en el marco de los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo pronto, y de acuerdo a la experiencia comparada, pareciera ser que las democracias y economías modernas pueden sobrevivir a los juicios que buscan determinar las responsabilidades de los agentes económicos en la violación de los derechos humanos, lo que, sin duda, ofrece a las víctimas la esperanza de que las situaciones de abuso que experimentaron sean reconocidas y reparadas.
Finalmente, la evidencia histórica presentada en este libro no sólo constituye una crítica dirigida a los actores económicos involucrados en violaciones a los derechos humanos o a quienes se beneficiaron de las prácticas represivas y autoritarias de la dictadura, sino también, la crítica apunta a los gobiernos de la transición, los cuales no quisieron enfrentar realmente las causas estructurales de la desigualdad en Chile: concentración de la propiedad productiva, formación de conglomerados económicos con altas cuotas de mercado y debilitamiento del poder de negociación sindical, entre otras (SOLIMANO, 2013, p. 100). De este modo, el libro Complicidad económica con la dictadura chilena., podría nutrir el debate sobre la desigualdad en Chile – que, tras la revuelta social ha tomado con fuerza la agenda política – y direccionarlo, hacia la rendición de cuentas de los beneficios recibidos por las empresas, a cambio de su colaboración con la dictadura.
Nota
1. Durante la post-dictadura, la nueva clase dirigente permitió que en la figura de Pinochet se encontraran discursos a la vez contradictorios: los que apuntaban a su responsabilidad en una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y los que reconocían que las transformaciones económicas impulsadas bajo su régimen, constituyeron una pieza fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad política de Chile. Así, se podía condenar al dictador y, al mismo tiempo, reconocer su legado en materias económicas.
Referencias
HAYNER, Priscila. Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2008.
SALAZAR, Gabriel. Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política. Santiago: Uqbar, 2012.
SOLIMANO, Andrés. Capitalismo a la chilena. Y la prosperidad de las élites. Santiago: Editorial Catalonia, 2013.
Sergıo Urzúa-Martínez – Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. E-mail: [email protected]
BOHOSLAVSKY, Juan Pablo; FERNÁNDEZ, Karinna; SMART, Sebastián (Eds.). Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2019. Resenha de: URZÚA-MARTÍNEZ, Sergıo. Violencia, complicidad e impunidad: Los actores económicos en la dictadura de Pinochet. Varia História. Belo Horizonte, v.37, n.74, p.625-634, maio/ago. 2021. Acessar publicação original [DR]
Iglesia y derechos humanos. Ley natural y modernidad política, de la Revolución francesa hasta nuestros días | Daniele Menozzi
En la segunda Audiencia General de agosto de 2020, el papa Francisco sostuvo que el coronavirus no era la única enfermedad que debía ser combatida. Para el Obispo de Roma, la pandemia visibilizó otras patologías de base, como “la visión distorsionada de la persona”, “que ignora su dignidad y su carácter relacional”. En este sentido, recordó que “la dignidad humana es inalienable, porque ha sido creada a imagen de Dios”, y apeló a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la referencia más cercana a ese principio. 1 Tal conceptualización había sido expuesta dos años atrás en la Conferencia Internacional “Los derechos humanos en el mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones”, organizada por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (Italia). En ocasión del septuagésimo aniversario de la Carta de 1948, el Sumo Pontífice sostuvo que la Declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció “la igual dignidad de toda persona humana”, de las cuales derivan derechos fundamentales, “enraizados en su naturaleza” (es decir, en la “unidad inseparable de cuerpo y alma”), y deberes para con la comunidad.2
Ahora bien, ¿cuál es la interpretación que la Iglesia de Roma ha realizado sobre los derechos humanos? ¿Qué alcance ha tenido el documento adoptado por las Naciones Unidas en 1948 dentro del mundo católico? ¿Cuán restrictivo o novedoso es el pronunciamiento de Jorge Bergoglio? En Iglesia y derechos humanos. Ley natural y modernidad política, de la Revolución francesa hasta nuestros días, Daniele Menozzi nos brinda herramientas para ensayar algunas respuestas y formular otros interrogantes sobre estas cuestiones. Leia Mais
El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979- 1983) | Marina Franco
Acostumbrados/as a textos problematizadores, otra vez más, la historiadora Marina Franco nos acerca una nueva contribución que complejiza el conocimiento de diferentes aspectos de la sociedad argentina reciente. En esta oportunidad, con un estudio que se centra en la emergencia, configuración y visibilización del accionar de la represión y de la violación a los derechos humanos en el último tramo de la dictadura militar de 1976-1983.
La propuesta analiza un lapso que ha concitado el interés de las ciencias sociales en las últimas décadas. A decir verdad, la periodización del libro reconoce su inicio en la emergencia política del problema represivo, que toma como hito la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina en 1979 y señala como corte la autoamnistía militar y las elecciones de 1983. En ese marco temporal, la investigación aborda la trayectoria de los principales actores que participaron, de algún modo visible, en la cuestión represiva. Si bien el acento principal está puesto en la Junta Militar y las Fuerzas Armadas, también la mirada se detiene en los partidos políticos, los medios de prensa, la iglesia católica, el Poder Judicial y las organizaciones de derechos humanos. Leia Mais
Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistemática de los derechos humanos | José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez e Javier Tébar
En España el debate académico sobre los derechos humanos y libertades ciudadanas no se produjo de forma real hasta finales de la década de 1970, el “decalaje” entre las instituciones españolas y su entorno europeo era más que evidente. La creación de un marco de investigación histórica sobre la vulneración de derechos humanos surgió en el contexto del debate de la aprobación de la (ominosa) Ley de Amnistía (46/1977, 15 de octubre). Ley por la cual se exoneraban toda la responsabilidad judicial a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Franco. Esta publicación es una de las plataformas de lanzamiento de las corrientes de investigación comprometidas con las víctimas de la represión franquista. Verdugos impunes es una obra clave para comprender la naturaleza orgánica de la dictadura, los fundamentos ideológicos de las políticas de odio y la emanación de la jurisprudencia vulneradora de los derechos humanos más básicos.
La obra colectiva (Barcelona: Ediciones Pasado y Presente) alberga un compromiso claro con los valores del movimiento español de la Memoria Histórica. Los autores son especialistas en el campo de la historia política del siglo XX: José Babiano Mora (director del Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo), Gutmaro Gómez Bravo (Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid), Antonio Mínguez Macho (Departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela) y Javier Tébar Hurtado (departamentos de Historia de la Universitat de Barcelona y la Universitat Autónoma de Barcelona). El cuerpo de la publicación se compone de cinco bloques temáticos y un apartado de conclusiones generales. En los epígrafes finales, destaca el índice alfabético, ya que es muy extenso y facilita mucho el rastreo de conceptos históricos, personalidades, siglas y referencias jurídico-legislativas. Leia Mais
Disputar la ciudad – MONTEALEGRE; ROZAS-KRAUSE (EURE)
 Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl
Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl
MONTEALEGRE, Pía; ROZAS-KRAUSE, Valentina. Disputar la ciudad: sometimiento, resistencia, memorialización, reparación. Talca: Bifurcaciones, 2018. 200 pp. Resenha de: VIVANCO, Lucero de. Disputar la ciudad: sometimiento, resistencia, memorialización, reparación. EURE (Santiago) v.46 n.138 Santiago mayo 2020.
El extenso desarrollo de los estudios sobre autoritarismos, violencia política, derechos humanos y memoria social en América Latina y el mundo no hace más que expresar la necesidad de continuar profundizando estos temas, labor indispensable para la consolidación de prácticas, instituciones y regímenes democráticos. Bajo la convicción de que estas problemáticas deben ser tratadas interdisciplinarmente si se quiere capturar la complejidad que las caracteriza, Disputar la ciudad: sometimiento, resistencia, memorialización, reparación, constituye una significativa contribución, al ingresar desde la perspectiva contemporánea y global de los estudios urbanísticos y sus vínculos con el campo de la memoria.
En consecuencia, el primer aporte que hay que reconocerle a este libro es su aproximación enriquecedora, pues añade una dimensión espacial a las interpretaciones temporales y simbólicas del problema. Se rebasan así tanto las reflexiones historiográficas como los estudios sobre memoria hechos desde la literatura y los estudios culturales, usualmente anclados en las representaciones estéticas y el develamiento de las ideologías políticas dominantes. Disputar la ciudad, alternativamente, despliega las relaciones teóricas –y sus correspondientes estudios de casos– entre procesos de memorialización y transformaciones urbanas, entendiendo que los contextos urbanos y las disputas de poder entre la ciudadanía y los regímenes autoritarios promueven e instauran los espacios de memoria.
En efecto, en la “Introducción”, de las editoras, y en los ocho capítulos que conforman este libro subyace, por un lado, el entendimiento de que la memoria –siguiendo a Elizabeth Jelin– es una zona de batalla, una instancia en la que narrativas, subjetividades y afectos ingresan a la arena del poder en busca de visibilidad, reconocimiento y legitimación; y, por otro lado, la idea de la ciudad como una geografía contenciosa, de enfrentamiento continuo entre grupos hegemónicos y subalternos, centro y periferia, gentrificación y desplazamiento, transformación y tradición, regulación y segregación, violencia y resistencia. La vinculación entre violencia de Estado y disciplinamiento urbano, primero, y entre espacio y memoria histórica, después, se explica y justifica entonces como una instancia relacional, bajo la impronta de la “disputa”. En este sentido, el libro está alineado sobre dos pilares: uno teórico, que amplía el concepto de memoria con el de pugna de poder; y otro metodológico, que explora las transformaciones urbanas que son suscitadas por los procesos de memorialización.
Otro de los aportes de este libro es que los ocho capítulos que siguen a la introducción se organizan en cuatro secciones funcionales a cuatro conceptos clave, señalados ya en el título del libro: “sometimiento”, “resistencia”, “memorialización” y “reparación”. Estos conceptos son comprendidos, según las propias editoras, como “espacios relacionales de la memoria” (p. 9), donde el espacio no se limita a ser definido como un escenario contenedor, y la memoria no se constriñe a ser concebida como proceso social anclado en el tiempo. Sometimiento, resistencia, memorialización y reparación son, bajo esta perspectiva, operaciones de disputa urbana.
Como explican las propias editoras, pero también como se desprende de los estudios de caso, el sometimiento, primer eje conceptual del libro, está dado, desde la perspectiva racionalista de la modernidad, por “la metáfora de la ciudad como un cuerpo enfermo, como un enemigo del orden que debe ser dominado” (p. 9). En este marco, urbanismo es la marca del poder jerarquizado actuando sobre el espacio, para sanar, higienizar, controlar la ciudad; para someterla. Los estudios que conforman esta sección tienen el foco puesto en dos ciudades europeas: Roma y Sofía.
Respecto de Roma, Federico Caprotti, en “Patologías de la ciudad: hipocondría urbana en el fascismo italiano”, recuerda y discute la particular visión negativa que el fascismo tenía de esta ciudad, y que expresaba mediante un discurso dualista explícito que contraponía la “naturaleza prístina” a la “sociedad enferma”. El estudio analiza las razones que cimientan este rechazo: por un lado, el temor ante el potencial subversivo de la ciudad y, por otro lado, el peligro de la ciudad en tanto portadora de afecciones sociales y morales. Se explica así la orientación de las políticas de dicho régimen hacia la ruralización y la desurbanización.
Respecto de Sofía, en “Sobre los sin-casa: caos, enfermedad y suciedad en la Sofía de entreguerras”, Veronika Dimitrova aborda críticamente el tema de las transformaciones urbanas experimentadas por esta ciudad en el marco de su designación como capital de Bulgaria. Explica la autora que la ciudad se reguló casi exclusivamente en su parte central, dejando la periferia fuera de la planificación, lo que tuvo como consecuencia el desarrollo de barrios de personas “pobres sin-casa”. Dimitrova sostiene que, a diferencia de otros Estados europeos, “aquí es posible hablar de modernización y expansión urbana en cuanto proceso de negociación” (p. 47) que se lleva a cabo como una expresión de resistencia al poder.
“Si el sometimiento es una acción relacionada al poder jerárquico, la resistencia es inherente al poder ciudadano” (p. 11), plantean las editoras siguiendo a Michel De Certeau. Se entiende así que el espacio se configura como una táctica de resistencia urbana, segundo eje conceptual, frente a un amplio arco de violencias: desde las más visibles y materiales de los regímenes autoritarios, hasta los violentos eufemismos del capital. Bajo este segundo apartado se presentan dos importantes estudios sobre las ciudades de Santiago de Chile y São Paulo.
Diene Soles, en “Reconfigurando lo público y lo privado en el Santiago de Pinochet: un análisis de género”, releva la capacidad articuladora de las mujeres para crear organizaciones ciudadanas, no solo frente al empobrecimiento de la población derivado de la implementación de políticas neoliberales, sino también demandando la vuelta a la democracia como un modo de rechazar la violencia inmanente del régimen. Argumenta la autora que, mediante estas tácticas de resistencia, se quiebra la distribución tradicional de género entre lo privado y lo público. Se logra así que los espacios íntimos y domésticos sean usados como lugares de acciones colectivas y, más importante aún, que las mujeres se conciban a sí mismas como actoras sociales y agentes de cambio.
En “Procesos de significación en los modos de resistencia urbana”, Beatriz Dias y Eneida de Almeida levantan el caso de la megaciudad de São Paulo, para reconocer en ella diversos colectivos de arte urbano que actúan desde una periferia marginada, excedente directo del poder económico. Estos colectivos se despliegan desde el pensamiento-acción, como faces de la lucha por el derecho a la ciudad y la resistencia a la segregación urbana. Un punto central de la argumentación radica en la construcción de identidades, en tanto que los sujetos que interactúan con los colectivos, “al transformar la ciudad a partir de los deseos y necesidades colectivas, su propia identidad también es reconfigurada” (p.102).
Por memorialización, tercer eje conceptual, las editoras entienden “la concreción de un recuerdo en un lugar”, la instancia en la que “la relación entre memoria y espacio se materializa” (p. 13). Santiago de Chile y Medellín son las ciudades que reciben la atención de los dos estudios de esta sección. Coinciden ambos en expresar las disputas por la memoria cuando se trata de conmemorar a las víctimas, ya que la “víctima” –su definición, su identificación, su reconocimiento–, muchas veces imposibilitada de abandonar una “zona gris”, en el decir de Primo Levi, es también motivo de pugnas y exclusiones.
Carolina Aguilera, en “Santiago de Chile visto a través de espejos negros. La memoria pública sobre la violencia política del periodo 1970-1991 en una ciudad fragmentada”, hace el seguimiento histórico y crítico a la inscripción de memoriales en el espacio público en conmemoración de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas desde 1970 hasta el fin del régimen pinochetista. Su argumento busca demostrar la interconexión entre la distribución urbana de los memoriales y la propia segregación socioeconómica de la ciudad, develando así la heterogeneidad subyacente a los procesos de memorialización y la naturaleza combativa de la memoria. Cabe destacar que la autora facilita a sus lectores una línea de tiempo y una cartografía de los memoriales erigidos durante este periodo.
Medellín viene de la mano de Pablo Villalba en “Entre ruinas, lugares y objetos residuales: la memoria en la ciudad de Medellín”. En línea con los “ejercicios de memoria” que están en la base de los procesos de paz en Colombia, el autor afirma que se ha admitido un pluralismo en las marcas y los eventos urbanos de memorialización. Sin embargo, advierte de una serie de fenómenos que, al darse en paralelo, parecen promover una política de la amnesia: la condición efímera de las acciones conmemorativas, junto a la vertiginosidad del ritmo citadino; la destrucción del patrimonio arquitectónico y la comercialización para el consumo masivo y turístico de la memoria (por ejemplo, la narco-memoria) convergen así para forjar, más bien, una memoria sin historia.
El cuarto y último eje conceptual de este libro, reparación, asume que, “así como la memoria requiere de lugares para situarse, la reparación también tiene una dimensión espacial” (p. 15). Los memoriales cumplen, entonces, una doble función: pública, de rememorar el trauma social y generar espacios para rituales de reparación; e íntima, al ser una instancia de recogimiento efectivo para los procesos de duelo y sanación individual, especialmente cuando no se cuenta con los cuerpos de las víctimas para realizar los correspondientes ritos funerarios. Los estudios que se desarrollan bajo este eje abordan ambas dimensiones de la reparación. Pero también retoman la idea de la ciudad como organismo vivo, para plantear que esta puede y debe ser atendida en la recuperación de sus heridas.
Bajo el concepto de reparación, el estudio de Yael Navarro, “Espacios afectivos y objetos melancólicos: la ruina y la producción de conocimiento antropológico”, se focaliza en Chipre en el contexto de su división en 1974. Ese año, como consecuencia de la invasión turca, chipriotas griegos y turcos tuvieron que desplazarse dentro de la isla a las zonas que les habían sido asignadas en función de sus respectivas nacionalidades. En este contexto, y con una impronta teórica fuerte, Navarro discurre por una serie de categorías como afecto, melancolía, ruina, huella y fantasma, para indagar ya no en las relaciones intersubjetivas de la memoria, sino en las interacciones de lo humano y lo material, teniendo en la superficie del discurso la pregunta implícita por la posibilidad de reparación.
Finalmente, Estela Schindel, en “«Ahora los vecinos van perdiendo el temor». La apertura de ex centros de detención y la restauración del tejido social en Argentina”, se focaliza en la recuperación de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención en la dictadura, y en su conversión en espacios de memorialización. Se trata de una geografía del terror recapturada y reapropiada por la ciudadanía, para revertir las narrativas del miedo, contribuir con la reconstrucción de “los lazos sociales quebrados” y promover “prácticas y usos del espacio contrarios a los impuestos por el régimen dictatorial” (p. 185).
De acuerdo con lo dicho, este libro resulta imprescindible por varios motivos. Entre ellos, por la acuciosidad del tratamiento teórico llevado a cabo por las editoras y por los autores y autoras en los distintos casos de estudio. También porque el conjunto de capítulos constituye un catálogo de calidad de las variadas metodologías y aproximaciones críticas con las que se puede acometer reflexivamente las relaciones entre ciudad, violencia y memoria. Por último, porque el libro en su organicidad amplía desde las disciplinas espaciales el necesario e inagotado campo de los estudios sobre memorialización y derechos humanos.
Este libro llega para reforzar la colección Cuervos en Casa de la editorial Bifurcaciones –Conocer la ciudad, filmar la ciudad, mover la ciudad (próximo)–, que reúne valiosos trabajos que aportan, desde distintas temáticas y perspectivas, a una comprensión más integral y compleja de los fenómenos urbanos.
Referências
De Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. Berkeley, ca: University of California Press. [ Links ]
Halbawchs, M. (1992). On collective memory (The Heritage of Sociology Series). Chicago, il: University of Chicago Press. [ Links ]
Jelin, E. (2012). Los trabajos de la memoria (Serie Estudios sobre Memoria y Violencia). Lima: Instituto de Estudios Peruanos (iep). [ Links ]
Levi, P. (2011). Trilogía de Auschwitz. Barcelona: El Aleph. [ Links ]
Lucero de Vivanco – Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Email: [email protected].
¿Fue (in)evitable el golpe? Derechos Humanos: Memoria/Museo y Contexto | Mauro Basaure, Francisco Javier Estévez
El libro “¿Fue (in)evitable el golpe?” editado por Basaure y Estévez, se origina a partir de un seminario del mismo nombre celebrado en abril de 2017 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Está compuesto de dos partes relacionadas entre sí, en donde la primera de ellas -desde la perspectiva de actores claves en tanto testigos y participantes del gobierno de la Unidad Popular (UP) y, por ende, poseedores de una memoria viva– aborda un análisis político extenso de los hechos y procesos sociales, tanto externos como internos, que articularon un momento tal que hiciera propicio un Golpe de Estado, y, al mismo tiempo, reflexionar sobre qué se pudo haber hecho distinto para evitar aquello. Por otra parte, la segunda sección del libro hace eco de las reflexiones y visiones propuestas en la primera parte para abordar de manera crítica la llamada controversia sobre si el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos debiese o no contextualizar su muestra permanente. Controversia que nace de la crítica que demanda por una explicación de por qué terminó sucediendo el golpe, y no mostrar, así “solo una parte de la historia”. Demanda que emana de la derecha con fines justificatorios. En efecto, los siete artículos que componen la primera parte titulada ¿Fue (in)evitable el golpe? Respuestas de actores clave de la época de la UP (en donde también escriben los editores), conforman una especie de dialogo entre posturas que, aun perteneciendo a la izquierda política que le diera forma al gobierno, identifican y confrontan responsabilidades y autocríticas distintas entre sí. Andrés Pascal Allende, por ejemplo, en su aporte titulado No quisieron evitar el golpe, aparte de comenzar reafirmando que la responsabilidad directa del golpe es de quienes lo acometieron, identifica responsabilidades del gobierno en la medida en que no supo articular las demandas de un sujeto popular que exigía más radicalización en las propuestas que el mismo Allende consideraba debían ser graduales. Esto sumado a la no intervención de las fuerzas armadas, que necesitaban ser democratizadas ante las muestras que daban de estar cada vez más cómodas con la idea de un golpe, y del mismo modo, la ausencia de una voluntad política del gobierno por organizar la autodefensa e instrucción de las masas civiles para afrontar un eventual golpe que, así vistas las cosas, era predecible, pero totalmente contestable. Sergio Bitar (El gobierno de Allende era viable. ¿Por qué se tornó inviable?), en cambio, identifica que hubo condiciones propicias para un Golpe aceleradas por una pérdida de la capacidad de la conducción del proceso en marcha evidenciable en cinco factores: 1) la radicalización que proponían ciertos grupos y que los tornaban difíciles de manejar para Allende; 2) un manejo económico equivocado; 3) el quiebre entre partidos de izquierda y la DC; 4) una mala comprensión de los intereses internacionales, específicamente los intereses político estadounidenses y 5) subestimar la capacidad golpista de la derecha chilena. En el artículo titulado Los contextos del golpe y la consecuencia de Allende, de Ricardo Núñez, se enfatiza un tratamiento y estudio deficiente del contexto político global, donde no se asumieron con entereza ni las consecuencias de la guerra fría y de las pautas que aquello marcaba en las relaciones internacionales y dentro de la política nacional, ni las recomendaciones y observaciones que se hacían, preocupados, desde China o la URSS en cuanto al manejo de la revolución y la estrategia pacífica adoptada. Finalmente, Mariano Ruiz-Esquide (Cuando lo previsible se hizo realidad) argumenta que el escenario de un golpe se orquestaba desde antes de lo que se piensa, remontándose incluso al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que a los ojos de la derecha capitalista de la época y de las Fuerzas Armadas, era un serio problema. Lo mismo con el gobierno de Jorge Alessandri y los inicios de la reforma agraria, que se vio frenada y Alessandri obligado a transar con los Radicales para amortiguar el descontento de la derecha. Lo planteado por Ruiz-Esquide invita a un tratamiento más exhaustivo, y le imprime un valor histórico crítico más completo al diagnóstico de causas y responsabilidades de la izquierda. Una lectura equivocada de esta primera parte del texto, podría llevar a argumentar que se cae en una relativización de las responsabilidades directas del golpismo al intentar encontrar causas y responsabilidades en el actuar del gobierno, en tanto nada justifica una dictadura y sus horrores. Dicha lectura, a pesar de ser cierta sustancialmente (nada justifica realmente la dictadura que se vivió), es equivocada en este marco, pues la estructura que adquiere el libro no solo hace que sea una apreciación errada, sino que torna casi imposible asumir dicho objetivo. Queda claro, en todo momento, que no se trata de abrirse a la absurda posibilidad de la inevitabilidad del golpe, sino que, por el contrario, se trata de abordar de modo contrafactual la historia y “reflexionar sobre lo que no ocurrió para comprender lo que ocurrió efectivamente” (p.31), es una invitación a examinar los futuros posibles del pasado y no a alejar el foco de la discusión del hecho sabido de que “los golpes y cuasi golpes nacen de acciones deliberadas y completamente evitables” (p. 26). En la segunda parte del texto llamada Museo de la Memoria en controversia y el derecho a la memoria, en donde solo escriben Basaure y Estévez, se genera un fluido diálogo entre las reflexiones de la primera parte y los desafíos del Museo expuestos en la segunda. Dichos ‘desafíos’ responden a la crítica –bien extendida por los medios- de que el MMDH falla en su misión al no contextualizar su muestra permanente, es decir, al no referirse al proceso político que desencadenó el golpe. Esta crítica, que emana de los sectores de derecha, debe ser, sin embargo, asumida con cautela. Tal como indica Basaure en su intervención, el desafío es encontrar la manera de añadir museográficamente el contexto para que ello sea un aporte a la disputa por la memoria. Esta crítica de la derecha –aunque justificatoria, éticamente reprochable y pobre epistemológicamentese puede desarticular en dos vertientes, una ligada a la derecha pinochetista (crítica dura), que sitúa al contexto previo como indispensable para hacer entender que el golpe era necesario en tanto salvación de una guerra civil y, por ende, mucho de la dictadura estaría justificado; y por otra parte una crítica blanda, ligada a la derecha más liberal, que no desconoce las violaciones de DDHH, pero que si exige una mayor contextualización para entender el porqué de la polarización que se vivía en Chile. Asumir cualquiera de las dos críticas sería un error y atentaría contra el objetivo del Museo, pues, tal como dijo Estévez, el único contexto de la violación de los DDHH es la dictadura y eso no es justificable bajo ningún marco. De allí que dialogar con esas críticas deba ser tomado con cautela. Sin embargo, Basaure defiende la idea de que el MMDH puede y debe incorporar museográficamente una dimensión contextual sin necesariamente traicionar su misión, visión y función; es decir, sin tropezar con la contextualización que busca justificar el golpe como desea la crítica. La clave para aquello, afirma Basaure, es la palabra alemana para contexto: ‘Zusammenhang’, que tiene una doble significación en tanto refiere a lo que está relacionado, en contacto, cohabitando un espacio y/o tiempo, como también refiere a aquella relación causal o de la lógica causa-efecto, en donde dos fenómenos van juntos porque uno explica al otro. Ambas críticas de la derecha, por ende, buscarían establecer un contexto en su significado causalista y así justificar, en mayor o menor medida, el golpe y posterior dictadura. El desafío de la museografía es, precisamente, todo lo contrario: incorporar el contexto desde un sentido no causalista que permita vislumbrar los hechos y fenómenos que coexisten, sin que ellos se ordenen como causa-efecto, e intencionar una curatoría que empuje a la reflexión de que “el golpe es producto de una decisión golpista que resultó ser macabramente exitosa, y no de una crisis política y social, pues quienes acometieron el golpe siempre pudieron optar por no hacerlo” (p. 118). De esta forma no sólo no se traiciona la misión y visión del Museo, sino que también se refuerza, asumiendo los elementos históricos y políticos a favor del objetivo crítico y pedagógico que se propone el Museo, y participando de la disputa de otro terreno de la memoria que la izquierda normalmente ha dejado al sentido común: lo injustificable del golpe. Justamente por ello es que este libro adquiere relevancia. Pues aparece en un momento en donde el negacionismo y las expresiones del neofascismo chileno están cobrando auge. Aparece en un momento de sistemática violación a los DDHH en la Araucanía, de liberación de presos por crímenes de lesa humanidad, de la conformación de movimientos nacionalistas. Es en este contexto donde la pregunta por los errores y omisiones del pasado que se plantea este libro se torna importante y donde se asume el desafío de disputar cada espacio de memoria y desnudar como inmoral todo intento justificatorio del golpe de estado de septiembre de 1973. Leia Mais
História, memória e violência de Estado: tempo e justiça | Berber Bevernage
“Por que é tão difícil entender o passado assombroso e irrevogável na perspectiva da historiografia acadêmica e do pensamento histórico moderno ocidental em geral?” A pergunta que guia História, Memória e Violência de Estado: tempo e justiça, de Berber Bevernage (2018), pressupõe a angústia da incompletude e do inacabamento (MBEMBE, 2014), da indeterminação e instabilidade do objeto “tempo presente” (DELACROIX, 2018). O autor nos oferece um mergulho na história da crítica à noção de tempo construída pela modernidade para mostrar toda a sua potência e enraizamento enquanto engenhosa forma de “não ver” certos mundos, grandemente incorporada pela disciplina histórica. Por entre as brechas desse olhar pretensamente universal, América Latina e África emergem como que alçadas à categoria de experiências (i)morais – porque marcadas pela violência e injustiça –, da luta política que marca o século XXI periférico: o direito ao tempo.
Entre as referências mais conhecidas pelo universo acadêmico brasileiro dedicado à História do Tempo Presente e que constituem a base da argumentação de Tempo e Justiça estão o crítico literário alemão Hans Gumbrecht e o historiador francês François Hartog. Por caminhos diferentes, ambos chamam atenção para o crescimento ao longo do século XX de uma nova sensibilidade temporal marcada por uma assimétrica concentração na esfera de um presente repleto de simultaneidades (GUMBRECHT, 2014), demarcando a emergência de um novo “regime de historicidade” chamado presentista (HARTOG, 2013). No interior dessa discussão, o livro apresenta os anos de 1980 como período de evidência dos embates entre formas distintas de experienciar o tempo (com suas diferentes articulações entre passado, presente e futuro), expressas pelo desaparecimento da linguagem do esquecimento e da anistia do vocabulário político global. Leia Mais
Democracia, ditadura: memória e justiça política – REZOLA; PIMENTEL (RTA)
REZOLA, Maria Inácia; PIMENTEL, Irene Flunser (Orgs). Democracia, ditadura: memória e justiça política. Lisboa: ed. Tinta da China, 2013. 520 p. Resenha de: NEVES, Hudson Campos; NUNES, Carlos Alberto Lourenço. Justiça política e memória: redemocratização na esfera lusófona. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.26, p.623-629, jan./abr., 2019.
A coletânea “Democracia, Ditadura: memória e justiça política” reúne trabalhos de pesquisadores que participaram do Colóquio Internacional “Legados do autoritarismo em Portugal em perspectiva comparada”, ocorrido na cidade portuguesa de Lisboa, em abril de 2012. O livro foi coordenado pelas pesquisadoras Irene Flunser Pimentel e Maria Inácia Rezola. As organizadoras observam a construção de uma justiça transicional ou de transição que significa “a concepção de justiça associada a períodos de mudança política, caracterizada por respostas legais para confrontar os crimes de repressão de anteriores regimes” (p. 9). As autoras avançam na questão:
As violações básicas dos direitos humanos não podem ser actos legitimados do Estado e têm de ser vistas como actos cometidos por indivíduos; quem comete este tipo de crimes deve ser perseguido criminalmente; e, finalmente, os acusados também têm direitos e merecem um julgamento justo. (p. 9-10) Está situada aí a diferença entre um julgamento no âmbito dos Direitos Humanos e do que seria um julgamento político. A importância dos Direitos Humanos tem sido reafirmada em diferentes ocasiões ao longo do século XX, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, passando pela criação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de 1953, e pela American Convention of Human Rights, de 1978. Um dos fenômenos característicos dos anos 1980 foi a criação de Comissões da Verdade, como por exemplo, na África do Sul, Chile, Argentina, bem como na Europa do leste, procurando responsabilizar os agentes da violência de Estado. Há também a criação de tribunais nacionais, regionais ou internacionais voltados para essas questões como os tribunais organizados na ex-Iugoslávia, em 1993, e em Ruanda, em 1994, bem como o Tribunal Internacional e alguns tribunais híbridos, como o de Kosovo, de 1999, o do Timor Leste, em 2000, além de Serra Leoa e Camboja, ambos de 2003.
A obra está dividida em seis partes, que abordam aspectos ligados aos processos de transição democrática em Portugal e também no Brasil. Na primeira parte, a ênfase é dada ao caso brasileiro. Intitulada de “História da democratização e amnistia no Brasil”, é composta por quatro capítulos, com abordagens de diferentes disciplinas como História, Sociologia e Direito. Maria Celina D’Araújo analisa a questão da anistia no contexto do Cone Sul do continente americano. Por sua vez, Janaína de Almeida Teles estuda o papel dos familiares dos mortos e desaparecidos ao longo da transição democrática. O questionamento sobre até que ponto a Lei de Anistia se constitui em obstáculo para a transição brasileira nos dias atuais é feito por Lauro Swensson Jr. Por fim, Gilberto Calil faz uma releitura a respeito do processo de democratização ocorrido em 1945, salientando a pressão de diferentes organizações e movimentos populares na tomada de decisão do governo Vargas em entrar na luta contra o fascismo, ao lado dos aliados, na Segunda Guerra Mundial.
Intitulada “Justiça política de transição e revolução em Portugal”, a segunda parte traz como destaque no conjunto da obra o capítulo escrito por Irene Flunser Pimentel, “A extinção da polícia política do regime ditatorial português, PIDE/DGS”. No texto, a autora descreve a forma como o Movimento das Forças Armadas (MFA), após a chamada Revolução dos Cravos, em abril de 1974, que derrubou o regime salazarista em Portugal, lidou com a Polícia Internacional de Defesa do Estado/Direção-Geral de Segurança (PIDE/DGS), tanto na metrópole quanto nas colônias do ultramar. Num primeiro momento, algumas frações do MFA cogitaram reaproveitar membros da PIDE no novo governo. Havia pressões internas para que isso ocorresse, o que foi obstado pela mobilização popular. A população pressionou a Junta de Salvação Nacional instalada no poder na sequência da revolução, impedindo a aceitação de membros da PIDE na montagem da nova estrutura governamental portuguesa, além de demandar a punição dos agentes acusados de diferentes atos de violência e repressão durante a ditadura salazarista. Sobre este aspecto, também na segunda parte da obra, o capítulo escrito por Fernando Pereira Marques analisa como o novo poder estabelecido após abril de 1974 se posicionou com relação aos cidadãos que sofreram com a repressão perpetrada pelo Estado Novo e Miguel Cardina, por sua vez, analisa a Associação de Ex-Presos Políticos Antifascistas (AEPPA) e sua luta pelo direito à memória. Já João Madeira estuda a experiência do Tribunal Cívico Humberto Delgado em seu curto período de existência (1977-78).
Ao longo desse processo, que se desdobrou na segunda metade dos anos de 1970, houve avanços e retrocessos. Cabe destacar uma virada à esquerda, ocorrida no MFA, a partir de 11 de março de 1975. Houve uma radicalização para criminalizar a PIDE e seus integrantes. No período que se estendeu até outubro daquele ano, um grande número de processos contra os agentes da polícia política foi apontado por Irene Pimentel. Outra virada no âmbito do MFA ocorreu a partir de 25 de outubro de 1975, quando houve um afrouxamento das ações contra antigos membros da PIDE e “muitos viriam depois a ser absolvidos ou apenas condenados à prisão preventiva já cumprida, sendo libertados de imediato”. No fim das contas, a maioria sofreu condenações com “tempo de prisão já cumprido: em 1982, 98 por cento dos presos já estavam em regime de liberdade plena” (p. 122-126).
Na terceira parte, “As purgas políticas no Portugal revolucionário”, o texto de uma das organizadoras da coletânea, Maria Inácia Rezola, destaca-se pela rica base documental e por apresentar elementos que, como se faz depreender, relativizam uma visão compartilhada por uma parcela expressiva da sociedade portuguesa na qual está presente um ceticismo acerca das reais condições em que se realizaram os afastamentos e punições de membros do regime autoritário na sequência do 25 de abril de 1974. Esse tema também é alvo do capítulo escrito por Pedro Serra, que se debruça especificamente nos assim chamados saneamentos políticos ocorridos na educação. Já Pedro Marques Gomes analisa o processo que deu origem ao afastamento de jornalistas, com destaque para os conflitos internos no “Diário de Notícias”, jornal de grande circulação no país, durante o chamado “verão quente” de 1975, quando aquele órgão tinha dirigentes próximos ao Partido Comunista Português, entre os quais, José Saramago.
Rezola aponta que as chamadas purgas políticas – operacionalizadas no âmbito de um organismo oficial denominado Comissão Interministerial de Saneamento e Reclassificação (CISR) – teriam sido, no olhar de tendências críticas da opinião pública de Portugal, limitadas e temporariamente circunscritas, de forma que seus efeitos pouco teriam contribuído à aplicação da justiça aos colaboradores da ditadura. Segundo a autora, esse descontentamento localiza-se nos poucos resultados concretos apresentados pela CISR, ou seja, dos processos instaurados contra funcionários da ditatura, apenas 2% resultaram em condenações e perdas de cargos públicos. Mas cabe atentar para elementos que são trazidos à tona por Maria Inácia Rezola e que ressaltam a complexidade da matéria. Muitos juízes que haviam colaborado de forma direta ou indireta com a ditadura, tornaram-se alvos das ações da CISR. Essa situação certamente gerou um impasse, afinal, levar a ferro e a fogo as reclassificações e afastamentos levaria à paralisação de diferentes setores do Estado, sobretudo no âmbito do judiciário. Além disso, houve uma série de ações que resultaram na demissão automática de funcionários de extintas agências governamentais, o que ao todo chegou a mais de 12 mil exclusões, mas que não chegaram a ser computadas como parte do processo de saneamento. O texto ainda avança sobre questões que costumam fazer parte de processos de transição, como disputas internas e ambiguidades políticas ao longo da implementação de um regime democrático, dificultando as ações punitivas e reparatórias.
O capítulo “Os dividendos do autoritarismo colonial”, de Augusto Nascimento, abre a quarta parte da coletânea, dedicada ao “legado colonial”. O autor centra suas análises no pós-independência de São Tomé e Príncipe. Demonstra a concomitância da substituição dos símbolos nacionais portugueses por são-tomenses, sugerindo que aspectos das ações dos independentistas pareciam denotar a persistência de métodos e procedimentos do passado colonial. Por sua vez, Roselma Évora examina a transição para formação de uma sociedade independente em Cabo Verde no texto “O peso do legado autoritário na configuração do processo decisório democrático em Cabo Verde”. Segundo sua análise, o legado autoritário afetou o processo decisório do novo regime e interferiu nos níveis de desempenho institucional, fragilizando a atuação dos atores políticos no sistema democrático.
A quinta parte, “Memória da ditadura”, é a que reúne o maior número de capítulos, o que por si só demonstra o quanto este tema continua presente na primeira linha das preocupações de historiadores e historiadoras de tais processos, e ainda destaca como os testemunhos são parte fundamental da escrita de uma história de processos recentes ou mesmo que ainda não se encerraram completamente, ao menos em sociedades recentemente democratizadas. Francesca Blockeel estuda e compara as similaridades entre as ditaduras de Portugal e Espanha. A autora faz um apanhado, em paralelo, do trajeto dos dois países para tratar sobre os sistemas de repressão que ambas as ditaduras construíram e as narrativas predominantes nos dois países acerca da transição para a democracia. As formas repressivas da codificação do crime político e das normas para a punição aos opositores do Estado Novo são a temática de Guya Accornero, enquanto que Jacinto Godinho demonstra a importância da utilização de uma série documental histórica produzida no âmbito das ações da PIDE. João Paulo Nunes analisa como Portugal atual se define e caracteriza tendo em conta as memórias vigentes acerca do Estado Novo. Luciana Soutelo estuda o revisionismo histórico que passou a ter o Estado Novo Português como alvo, as novas interpretações históricas e os desdobramentos do Estado Novo na sociedade portuguesa. O estudo de Flamarion Maués focaliza o “surto” editorial de cunho político a partir do 25 de abril, quando livros que haviam sido proibidos e/ou recolhidos pela ditadura foram publicados e disponibilizados na sociedade lusa pós-ditadura. Por outro lado, o Brasil é o tema dos capítulos escritos por Roberto Vecchi e por Ettore Finazzi-Agrò. No primeiro caso, há uma importante discussão sobre o acobertamento e as dificuldades para acessar documentos relativos à guerrilha do Araguaia, enquanto o segundo trata das obras de Clarice Lispector durante a ditadura militar brasileira, sua militância e o impacto de seus textos.
Por fim, o sexto capítulo nomeado “Memória e revolução”, tem por âmbito o campo da produção cultural e as narrativas em torno de um dos processos políticos mais ricos e ainda indecifrável em grande medida na história recente de um país europeu, qual seja, a revolução portuguesa de 1974. O processo revolucionário e a transição profundamente conflitiva para uma sociedade democrática e integrada ao contexto da Comunidade Europeia ainda hoje suscitam inúmeras controvérsias. A memória social, portanto, segue sob o enquadramento de narrativas que se impuseram ao disputar a produção cultural e as imagens associadas ao novo Portugal, ainda que manejadas por setores que foram alvos da ação revolucionária por serem considerados próximos do regime salazarista. O capítulo de Paula Gomes Ribeiro trata dos padrões de funcionamento do Teatro de São Carlos, principal casa de ópera de Lisboa, no período que sucedeu o 25 de abril, demonstrando as questões relativas à implantação do que se pretendia ser uma democracia cultural, numa tentativa de facilitar o acesso a bens artísticos e culturais ao grande público, o que não deixou de gerar tensões. Por sua vez, o capítulo de Paula Borges Santos, intitulado “A Igreja Católica na transição para a democracia”, estuda o papel da Igreja Católica e suas relações com o Estado Novo e principalmente as estratégias da instituição com vistas a lidar com um passado de colaboração estrita com o regime autoritário, em meio à contestação à hierarquia. Houve uma redefinição do lugar social da Igreja Católica na sociedade portuguesa ao longo do processo de transição para a democracia, inicialmente pelos constrangimentos de justificar o colaboracionismo como o regime deposto e, posteriormente, por “reivindicar a sua participação no exercício das liberdades democráticas reclamadas e apropriadas pelo restante da sociedade” (p. 479). De sua parte, Riccardo Marchi estuda, a partir da imprensa da época, as direitas portuguesas ao longo dos anos de 1976 a 1980, particularmente a influência de tendências de extrema-direita no universo juvenil durante a construção da democracia em Portugal, quando tais posturas e agrupamentos pareciam desafiadores aos partidos e governos de centro-esquerda que então predominavam na composição política daquele país.
Hudson Campos Neves – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: hudsoncn.historia@gmail.
Carlos Alberto Lourenço Nunes – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: [email protected].
DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica d studi sulla memoria femminile (BC)
DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica d studi sulla memoria femminile. Resenha de: ERMACORA, Matteo. Il Bollettino di Clio, n.9, p.61-62, feb., 2018.
Pubblicata online dal luglio 2004, la rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile” si è proposta come luogo di analisi scientifica e di riflessione sul tema della memoria femminile nelle situazioni di esilio, deportazione e profuganza, – temi poco indagati dalla storiografia –e darne nel contempo massima visibilitàattraverso ricerche, documenti, scritti inediti etestimonianze orali.
Proprio per favorire la circolazione delle idee, superare la marginalità tematica della questione di genere e raggiungere un pubblico ampio, si è pensato ad una rivista scientifica “leggera”, digitale, indipendente, gratuita (tutti di documenti sono scaricabili e consultabili), aperta alla partecipazione di collaboratori italiani e stranieri mediante meccanismi di peer review. La rivista, inserita nel sito dell’Università degli studi di Venezia Cà Foscari, è strutturata su cinque sezioni: “Ricerche”, “Documenti”, “Interviste”, “Strumenti di ricerca” (bibliografie, sitografie) e “Recensioni”, concepite come “contenitori aperti”, tali da consentire vicendevoli rimandi.
Sin dagli esordi la rivista ha cercato di contraddistinguersi attraverso una marcata dimensione internazionale, l’ampiezza dello spettro geografico e cronologico preso in considerazione, la pluralità degli approcci disciplinari e metodologici, il graduale passaggio da un “tradizionale” orientamento storiografico ad una più ampia riflessione sui nodi teorici della questione femminile nella contemporaneità. In questa direzione la struttura della rivista si è modificata, aggiungendo la rubrica annuale “Una finestra sul presente”, volta ad illustrare una particolare situazione o tematica d’attualità, e le rubriche “donne e terra”, “donne umanitarie”, volte a valorizzare il rapporto delle donne con la natura, la solidarietà e l’attivismo femminile per la giustizia e i diritti umani. Tali rubriche hanno permesso di allargare lo sguardo a tematiche e situazioni extraeuropee e di ospitare studiosi e studiose di altra nazionalità.
Contestualmente anche la periodicità, dapprima basata su due uscite annuali (gennaio/luglio), alternando numeri monografici a miscellanei, si è via via arricchita con la presenza di “numeri speciali” curati da singoli o gruppi di studiosi esterni; la serie è stata inaugurata da Violenza, conflitti e migrazioni in America Latina (n. 11/2009).
L’attività della rivista si è accompagnata ad una serie di presentazioni pubbliche, mostre, seminari, convegni e giornate di studio, i cui materiali sono poi comparsi nella rivista stessa. Tra gli eventi promossi è necessario ricordare la giornata di studio su La lingua della memoria (giugno 2005), la mostra sui disegni dei bambini nei campi di concentramento italiani di Rab e di Arbe, i convegni Donne in esilio. Esperienze, memorie, scritture (ottobre 2006), Genere, nazione, Militarismo (ottobre 2008) e La violenza sugli inermi (maggio 2009), la Giornata della memoria La Shoah in Serbia (gennaio 2010), i seminari dedicati a Lo stato di eccezione (febbraio 2007), Donne e tortura (giugno 2010), lo sradicamento attraverso l’analisi di Hannah Arendt e Simone Weil (2011-2013), Tortura ed infanzia (giugno 2015), i convegni internazionali Vivere la guerra, pensare la pace 1914-1921 (novembre 2014) e Confini: la riflessione femminista (novembre 2017).
Se inizialmente, proprio partendo dal caso paradigmatico della Shoah, la questione posta al centro dell’analisi storiografica era data dalla necessità di ridare una “identità” e una “dignità” alle vittime indistinte della violenza genocidaria, della deportazione, dei sistemi totalitari, dei vari episodi di “infanzia negata” (n.3/2005: I bambini nei conflitti. Traumi, ricordi, immagini), dando valore ai destini individuali di donne e bambini, valorizzando le loro voci, le strategie di sopravvivenza e di reciproco aiuto, nel corso degli anni la rivista, adottando un approccio interdisciplinare, ha progressivamente dilatato i campi di indagine, spostandosi progressivamente su tematiche che riflettevano il rapporto guerra totale e profuganza nelle guerre del Novecento (nn.13-14/2010: La violenza sugli inermi), la privazione dei diritti e la “violenza estrema” dello stupro (n. 10/2009: Genere, nazione, militarismo. Gli stupri di massa), la prostituzione forzata, fino ad arrivare al femminicidio messicano (n. 24/2014). Costante in questo senso è stata l’attenzione alla lingua, alle parole, alla rappresentazione letteraria come strumento per esprimere il trauma ed esorcizzare il dolore (n. 8/2008, Donne in esilio; n. 22/2013, Voci femminili nei lager sovietici; n. 29/2016, Primo Levi e le scritture della salvazione).
Accanto al versante prettamente storiografico l’indagine si è progressivamente estesa all’esplorazione del filone del pensiero femminile e femminista, mettendone in luce complessità, soggettività, aperture critiche e alterità rispetto alle idee dominanti, pubblicando scritti inediti, opuscoli, antologie. Partendo dal tema della cittadinanza, della presenza/assenza delle donne sulla scena pubblica e dei diritti delle donne negati per forza di legge (nn. 5-6/2006), si è articolato il tema dello “sradicamento” – fisico, culturale, territoriale, da “sviluppo” capitalistico – come aspetto cruciale della condizione femminile nel tempo di guerra e di pace e si è cercato di valorizzare la capacità delle donne e del pensiero femminile di cogliere questa condizione e nello stesso tempo di metterla in discussione mediante la proposta di nuovi orizzonti sociali, relazionali, economici. Di qui l’attenzione riservata alla riflessione pacifista e femminista sulla denuncia della natura della guerra (nn. 18-19/2012; n. 31/2016), la ricostruzione di biografie di donne attive sul versante del relief work, l’analisi delle azioni di militanti pacifiste ed ecologiste, la riscoperta del pensiero di attiviste rispetto all’economia, alla pace, all’ambiente e ai diritti umani (Ruth First, n. 26/2014; Rosa Luxemburg, n.28/2015; Rachel Carson, n. 35/2017; lecollaboratrici di Gandhi, n. 37/2018) nonchél’ecofemminismo (n. 20/2012), il femminismo e laquestione animale (n. 23/ 2013). Questetematiche, variamente indagate dal punto vistastorico, filosofico, giuridico e sociologico,consentono di offrire un prisma rappresentativodella ricchezza del pensiero femminista e nelcontempo costituiscono un promettente campo dinuove indagini.
Matteo Ermacora
[IF]Direitos Humanos dos Pacientes – ALBUQUERQUE (TES)
ALBUQUERQUE, Aline. Direitos Humanos dos Pacientes. Curitiba: Juruá Editora, 2016. 288p. Resenha de MALUF, Fabiano. Dignidade e respeito aos pacientes: o olhar dos Direitos Humanos. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.16, n.2, 2018.
Em tempos de judicialização da saúde, o livro Direitos humanos dos pacientes, de Aline Albuquerque, apresenta extenso arcabouço teórico dos direitos humanos e agrega importantes elementos à promoção e à defesa dos direitos dos pacientes. A obra tem como objetivo principal conjugar os conceitos dos direitos humanos ao âmbito dos cuidados em saúde dos pacientes tendo como base a normativa internacional sobre a temática.
O livro é dividido em três partes. A primeira, Aspectos gerais dos direitos humanos dos pacientes , é composta por dois capítulos. No primeiro capítulo, observa-se o cuidado em delimitar os conceitos de direitos humanos e de paciente. Parte da premissa de que os direitos humanos existem para concretizar a dignidade humana, de modo que todos os seres humanos, sem nenhuma distinção, possam desenvolver suas capacidades pessoais.
Aborda também o Sistema de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sistemas aos quais se vincula o Estado brasileiro; e inclui o Sistema Europeu de Direitos Humanos por possuir este vasta jurisprudência no campo dos direitos humanos demarcando, dessa forma, as obrigações legais dos Estados contidas nesses três sistemas.
Define a tipologia obrigacional na qual os Estados têm as seguintes obrigações de direitos humanos: obrigações de respeitar, de proteger e de realizar – razão pela qual a falha em cumprir uma dessas obrigações acarreta séria violação dos direitos humanos.
Com relação à conceituação de ‘paciente’, deixa claro que o termo carrega dupla condição – de vulnerabilidade e de centralidade no processo terapêutico – e acolhe seu uso por ser utilizado pelos movimentos reivindicatórios dos direitos humanos; pela condição de vulnerabilidade expressada pelo termo e pela relação humana existente nos cuidados em saúde em detrimento aos termos ‘usuários’ e ‘consumidores’.
O segundo capítulo trata da teoria e dos princípios dos direitos humanos dos pacientes. Faz um resgate do panorama dos movimentos, organizações de pacientes e legislações acerca dos direitos dos pacientes, iniciando-se pelos Estados Unidos, passando pela Europa até chegar ao Brasil.
Destaca, ainda, a distinção entre o referencial dos Direitos Humanos dos Pacientes e as normas de direitos dos pacientes que, a despeito de se entrelaçarem, não são semelhantes. Os Direitos Humanos dos Pacientes derivam da dignidade humana inerente a todo ser humano, previstos em normas jurídicas de caráter vinculante, já as normas de direitos dos pacientes centram-se na perspectiva individualista do paciente sob bases consumeristas, dispostas em declarações, sem qualquer obrigatoriedade jurídica. Ressalta que o reconhecimento dos Direitos Humanos dos Profissionais de Saúde reverbera em benefício dos pacientes e contribui para disseminação de uma cultura de direitos humanos nos ambientes de cuidados em saúde.
Apresenta os pontos de convergência entre a Bioética e os Direitos Humanos dos Pacientes, porém reitera que ambos referenciais se expressam por meio de distintas linguagens e objetivos diferenciados, “a Bioética tem o escopo de refletir e prescrever moralmente, e o dos Direitos Humanos dos Pacientes, o de estabelecer obrigações juridicamente vinculantes aos atores governamentais com vistas à proteção dos pacientes” (p. 68). Evidencia os pontos de distanciamentos dos referenciais da Humanização da Atenção à Saúde notadamente em função da linguagem empregada, de cunho moral e motivacional, e do não reconhecimento do papel intransferível das autoridades estatais em prover condições dignas de cuidados em saúde para pacientes e de trabalho para os profissionais de saúde.
Nesse sentido, a obra traz à tona a discussão sobre a Abordagem Baseada nos Direitos Humanos aplicada à saúde ter como foco políticas e programas de saúde distantes da perspectiva do paciente. Assim, propõe uma inflexão no campo da bioética com o intuito de adotar uma perspectiva inclusiva, que recusa uma acepção atomista do indivíduo, ou seja, defende um conteúdo mínimo basilar do princípio da dignidade humana: “o de que cada ser humano possui um valor intrínseco que deve ser respeitado” (p. 77).
Albuquerque finaliza o capítulo abordando os princípios dos Direitos Humanos dos Pacientes: o Princípio do Cuidado Centrado no Paciente, notadamente o direito ao respeito pela vida privada e o direito à informação; o Princípio da Dignidade Humana que, apesar de polissêmico e complexo, assinala o papel fundamental para sua materialização na esfera dos cuidados em saúde dos pacientes; o Princípio da Autonomia Relacional, que enfatiza a interdependência do paciente com o meio relacional que o circunda, e o Princípio da Responsabilidade dos Pacientes, que corrobora que ao compartilhar informações e concorrer para a construção de seu plano terapêutico, o paciente reparte a responsabilidade pelo tratamento escolhido.
A segunda parte do livro, denominada “O conteúdo dos Direitos Humanos dos Pacientes”, compreende nove capítulos nos quais são tratados em profundidade os conteúdos de sete direitos humanos dos pacientes (do capítulo 3 ao 9): direito à vida; direito a não ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; direito à liberdade e segurança pessoal; direito ao respeito à vida privada; direito à informação; direito de não ser discriminado; e direito à saúde, todos detalhados posteriormente à apresentação da metodologia de levantamento e de desenvolvimento da jurisprudência internacional adotada (capítulos 1 e 2).
A abordagem dos direitos delimita-se a três aspectos: uma apresentação do assunto para melhor situar o leitor; as principais conexões entre o tema e o direito em análise e a exposição de casos ou relatórios sobre o tema. Busca-se extrair de cada direito humano outros, mais específicos, destinados a serem aplicados na esfera dos cuidados em saúde. O que se tem como maior contribuição do capítulo é a demonstração que “determinados direitos comumente atribuídos aos pacientes derivam de normas de direitos humanos e que a jurisprudência internacional em matéria de direitos humanos vem aplicando dispositivos de tal natureza com vistas a proteger o paciente” (p. 180).
A parte 3, intitulada “Aplicação dos direitos humanos dos pacientes”, defende a importância da figura do Agente do Paciente em seus diferentes contextos e condições específicas; ressalta a experiência normativa do Reino Unido, notadamente o sistema mais avançado em termos de direitos humanos dos pacientes e apresenta as normas brasileiras sobre os direitos dos pacientes sob a perspectiva dos direitos humanos, guardando especial atenção às legislações existentes em seis estados brasileiros.
Encerra o capítulo apresentando as justificativas para uma proposta de lei brasileira sobre os direitos dos pacientes sob a perspectiva dos direitos humanos, devido ao fato de não existirem políticas governamentais voltadas para a concretização de tais direitos e do vazio legislativo que concorre para a propagação de ações violadoras dos direitos humanos dos pacientes.
Nesse sentido, é oportuno ressaltar o Projeto de Lei nº 5559/16, em tramitação na Câmara dos Deputados, ao considerar que é dever do Estado zelar pela proteção das pessoas na condição de pacientes, adotar legislação condizente com sua situação específica de vulnerabilidade e que prevê os direitos dos pacientes com base nos documentos internacionais de direitos humanos e de bioética (SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA, 2017).
De modo geral, percebe-se que injustiças e tratamentos desumanos podem ocorrer mais frequentemente em localidades onde não se reconhecem os direitos humanos dos pacientes no discurso político e em legislações. Assim, é de fundamental importância a necessidade de se ter direitos que assegurem a oportunidade e a segurança de persegui-los e reivindicá-los.
De fácil leitura e compreensão, a obra convida os leitores a uma reflexão crítica ao lançar luz sobre a temática, incipiente no país, e contribuir para fortalecer, no Brasil, uma nova perspectiva, a da cultura dos direitos dos pacientes no âmbito dos cuidados em saúde. Desse modo, ser possuidor de direitos numa sociedade que assegura a vigência e a concretização dos direitos humanos dos pacientes é ao mesmo tempo uma fonte de proteção pessoal e uma fonte de respeito à dignidade humana.
Referências
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA. Carta de Recife. Moção de apoio ao Projeto de Lei nº 5559/16 – Estatuto dos Direitos do Paciente. XII Congresso Brasileiro de Bioética. VI Congresso de Bioética Clínica. Recife, 28 de setembro de 2017. Disponível em: < http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_11_01/CARTA-DE-RECIFE.pdf> . Acesso em: 16 de março de 2018. [ Links ]
Fabiano Maluf – Universidade de Brasília , Departamento de Saúde Coletiva , Brasília , Distrito Federal , Brasil. E-mail: [email protected] >
[MLPDB]A Conferência de Viena e a Internacionalização dos Direitos Humanos | Matheus de Carvalho Hernandez
As transformações ainda em curso do sistema internacional pós-Guerra Fria certamente passavam por momentos mais otimistas à época da realização da II Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, em 1993, na capital austríaca. Findado mais um conflito de dimensões mundiais, vislumbrava-se novamente a possibilidade de fortalecimento do multilateralismo na condução da política internacional; o papel deste como meio de difusão de valores humanistas; a hipótese do declínio no uso da força militar; somados à relativa novidade da pluralização de temas e atores a serem integrados na agenda global.
Ciente da historicidade de que são dotados os eventos, mas também de sua capacidade de influenciar seu tempo e, assim, produzir história, Matheus Hernandez identifica as razões pelas quais a Conferência de Viena se tornou um divisor de águas para a compreensão, a negociação e a busca por efetivação dos Direitos Humanos. As especificidades levantadas acerca do evento em questão demonstram que a Conferência de Viena foi mais do que uma simples reafirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, à medida que contou com ampla participação e interlocução de delegações estatais (171) e atores não estatais, alcançando, assim, maior legitimidade ao “tornar o debate global sobre direitos humanos muito mais pluralizado do que antes”. (HERNANDEZ, 2014, : 256). Leia Mais
Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony | Peter M. Bettie
Publicada em 2015 por Peter M. Beattie, professor da Universidade de Michigan, a obra“Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony” consiste em um ambicioso estudo de caso, em que a colônia penal de Fernando de Noronha se converte em um microcosmo para a análise de temas como raça, cor, escravidão, gênero, sexualidade, punição, justiça e direitos humanos, tanto em relação à sociedade e ao Estado brasileiros quanto ao quadro atlântico ou global.
Em primeiro lugar, o autor possui o mérito de escapar das armadilhas teóricas e metodológicas de estudos sobre prisões e punições, evitando a mera reprodução ou negação do paradigma foucaultiano (“Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão “). Tampouco recai nas versões simplificadas do debate sobre “ideias fora de lugar” ou no reducionismo binário de categorias como arcaico e moderno, afastando-se de alguns dos vícios que acometem obras de referência sobre o tema na América Latina e no Brasil. A partir de uma apropriação muito particular dos estudos e aportes teóricos e conceituais de Erving Goffman, Lewis Coser e David Garland, Beattie esboça uma criativa analise em que a ilha, o Império do Brasil e o Atlântico (quiçá o globo) se cruzam em múltiplas escalas geográficas, sociais e discursivas do oitocentos.
Os primeiros capítulos perpassam a historia da ilha desde a colonização portuguesa até o século XIX, com sua progressiva conversão na principal colônia penal do Estado brasileiro. O autor descreve o cenário e os atores envolvidos sem perder de vista o quadro mais amplo da sociedade brasileira e do Estado e suas instituições em formação, dando-se a um luxo do qual não usufruíam os condenados em seu isolamento, em que remetiam à sua ilha como “Fernando” em oposição ao “mundo” (continente). Fernando de Noronha adquire ao longo do texto tanto a condição de espaço físico, geográfico e social quanto a de representação compartilhada e disputada pelos agentes históricos, ora como cenário idílico ora como cárcere. Assim como a escravidão, a ilha se converteu em metáfora nas representações sobre liberdade e sua negação, servindo aos mais variados discursos e interesses.
Muito transparente em relação à metodologia adotada e à documentação analisada, Beattie apresenta as contradições entre o caráter normativo dos discursos de autoridades da alta burocracia imperial, da legislação vigente e dos regimentos oficiais e a realidade cotidiana da ilha, em que militares e condenados de diversas cores e condições civis (inclusive escravos) reinventaram suas vidas e identidades. Enquanto os discursos penais da primeira metade do século XIX remetiam a um estrito controle do tempo e do espaço, a arquitetura e a rotina da colônia possuíam condições muito particulares, não decorrentes de um caráter arcaico da sociedade escravista e das instituições brasileiras, mas em parte pela própria condição geográfica insular e pelas relações sociais muito particulares desse microcosmo social. Por entre as brechas do sistema, pessoas livres conviviam com condenados, e formas de comércio e de contrabando se misturavam à rotina imposta pelos regimentos. Contudo, esse submundo de Fernando de Noronha não é tomado como a negação de sua função, mas como a face complementar (“dark twin”) típica de todo ambiente penal planejado, sendo inclusive incorporado e defendido nos discursos dos administradores.
Ao abordar o trabalho dos presos nos campos agrícolas e outras atividades, o autor apresenta um interessante paralelo entre prisão e plantation, resvalando em uma tradição de estudos de cunho marxista que relacionam a esfera da produção e as práticas punitivas (Georg Rusche e Otto Kirchheimer, “Punishment and Social Structure”; Dario Melossi e Mario Pavarini, “The Prison and the Factory”). No entanto, as aproximações sugeridas por Beattie não se pautam pela dimensão econômica, especialmente tendo em vista o caráter deficitário da produção da colônia – em oposição à alta lucratividade de grande parte das plantations do continente – e o fato de que a maioria dos condenados não retornaria à sociedade na condição de mão-de-obra disponível. Amparado nas reflexões de David Garland, Beattie adota uma abordagem pluralista e multidimensional da punição, sem recair nas fórmulas do marxismo, do paradigma foucaultiano ou do simbólico durkheimniano, mas buscando combinar esses referenciais clássicos da sociologia da punição. É o caráter de instituições disciplinares que faz convergirem os ambientes e as práticas da colônia penal, das fazendas escravistas e até mesmo de agrupamentos militares.
Ao dialogar com outras duas referências do campo da sociologia, Erving Goffman e Lewis Coser, o autor apresenta uma das contribuições mais originais da obra no quinto capítulo. Por meio do uso alargado dos conceitos “instituição total” e “instituição gananciosa” (“greedy institution”), Beattie contradiz a suposta tensão entre a instituição da família e outras instituições disciplinares nas práticas narradas em Fernando de Noronha. Na gestão da colônia penal as autoridades passaram a questionar as diretrizes normativas referentes a gênero e sexualidade – isolamento e abstinência dos condenados -, defendendo a presença de mulheres e a constituição de laços familiares heterossexuais. O casamento se converteria em política abertamente defendida pelas autoridades da ilha, como instituição voltada à disciplina e à produtividade dos condenados: a “instituição ciumenta da conjugalidade heterossexual” (“jealous institution of heterossexual conjugality”).
Outra importante contribuição decorre da análise dos conflitos entre os militares que geriam a colônia penal e as autoridades da alta burocracia estatal, em geral pressionados pelos interesses de proprietários de escravos. Desde os primeiros capítulos o autor demonstra a politização das questões penais e prisionais no processo de formação do Estado. É evidente ainda o papel da política partidária no que se refere a nomeações de cargos e práticas clientelistas, que atrelavam a gestão da ilha ao jogo político do continente. Na segunda metade do século XIX, diante dos sucessivos embates sobre a escravidão e as constantes comutações de penas de morte pela ação do poder moderador, a colônia penal de Fernando de Noronha se converteu em uma representação disputada pelos agentes sociais. Curiosamente, tanto abolicionistas como defensores da manutenção da escravidão faziam uso da comparação entre a condição prisional e a escravidão no mesmo sentido, apontando a segunda como pior que a primeira. Entretanto, enquanto abolicionistas questionavam o cativeiro como indigno e pior que a prisão, escravocratas criticavam as comutações de penas de morte em galés ou prisão, sugerindo o risco de se incentivar a criminalidade dos escravos que prefeririam correntes e grades às senzalas. Nesse discurso, a colônia penal se tornava a ilha do rei, onde os escravos se livrariam do cativeiro. Como insiste o autor, tal percepção não correspondia à realidade dos números dos crimes e de escravos em Fernando de Noronha, o que, todavia, não invalida a importância de sua representação no imaginário oitocentista.
Nesse contexto, as autoridades locais passaram a ser questionadas por membros da alta burocracia sobre as praticas de gestão da Ilha, especialmente a partir da década de 1880, com a visita de inspetores nomeados pelo Ministério da Justiça. Entre as principais divergências estavam a própria política de promoção de casamentos (“jealous institution”), o reduzido controle do tempo e do espaço de circulação dos condenados, a quantidade de trabalho imposto e a falta de segregação e hierarquização da população prisional com base na condição civil. Quanto último quesito, as autoridades respondiam aos anseios de uma sociedade que ainda legitimava a escravidão e aos interesses de proprietários que se sentiam ameaçados pela crescente rebeldia de seus cativos e pela ascensão do movimento abolicionista. Entretanto, administradores da colônia se negavam a adotar uma gestão que segregasse e punisse de forma diferenciada escravos ou libertos. Esse dado permite ao autor sugerir uma estratificação menos clara entre os condenados das mais diversas cores e condições civis, aglomerados na categoria dos pobres intratáveis (“intractable poor”), pois, na colônia penal, condenados que fossem escravos ou livres compartilhariam de condições de vida e oportunidades muito semelhantes. O autor é cauteloso e nega qualquer subsídio à ideia de uma democracia de condição civil ou racial nas prisões, argumentando apenas contra estudos que avaliaram a condição de escravos nas prisões a partir da legislação e regulamentos.
O capitulo que antecede a conclusão, intitulado “Direitos Humanos em Perspectiva Atlântica” (“Human Rights in Atlantic Perspective”) destoa em forma e conteúdo do restante do livro. No entanto, se a escolha aparentemente rompe a harmonia do texto, a reflexão de cunho ensaístico e as hipóteses levantadas conferem maior profundidade e relevância à obra. A proposta comparativa tem por foco principal Brasil e Estados Unidos no século XIX, mas inclui outros espaços do globo, inclusive para além do Atlântico. Entre os pontos levantados, dois merecem destaque. Em primeiro lugar, o autor aponta o paradoxo de o Brasil, último país a abolir a escravidão, ter sido um dos primeiros a abolir de facto a pena de morte. Esse fenômeno negligenciado pelos que estudam o tema contradiz argumentos da historiografia sobre os Estados Unidos que defendem a relação intrínseca entre pena de morte e escravidão para justificar as divergências regionais do judiciário no país. Ainda nesse quesito, o autor se une aqueles que defendem a importância da atuação de D. Pedro II na política nacional, especialmente no que se refere ao judiciário, pois se a abolição da escravidão era um tema essencialmente do Legislativo, as prerrogativas do poder Moderador lhe permitiram atuar para por fim às execuções de penas capitais, inclusive no sentido de defender internacionalmente a imagem do país.
Em segundo lugar, Beattie sustenta a hipótese de que reformas referentes às penas corporais, à pena de morte e à escravidão se cruzaram e se estimularam mutuamente, e que aquelas que se referiam a melhorias no tratamento de algumas categorias sociais abriam possibilidades para futuras reformas referentes aos grupos ainda marginalizados. A título de exemplo, reformas contra penas corporais a homens livres teriam aberto a possibilidade de debates acerca das condições de prisioneiros e, inclusive, escravos. Além do mais, como se referiam a diferentes integrantes dos grupos marginalizados da sociedade, a hipótese de reformas graduais é utilizada pelo autor para defender a categoria relativamente indiferenciada dos “pobres intratáveis” (“intractable poor”).
Por fim, o trabalho margeia o anacronismo ao se escorar no conceito de direitos humanos para retratar o fim do século XIX, sem, contudo, comprometer seus argumentos centrais. Diante da tendência de estudos sobre escravidão e raça se valerem de tal discurso, esse pecado dos historiadores pode se converter em virtude no que se refere ao posicionamento político no presente em que a obra se insere.
A partir de um estudo de caso original e ambicioso, Peter Beattie apresenta uma obra de múltiplas escalas, descrevendo as minucias do cotidiano desse microcosmo, perpassando o imaginário e os discursos da sociedade oitocentista brasileira, e utilizando de forma criativa modelos clássicos da sociologia. Um dos pontos altos do estudo, o voo panorâmico atlântico esboçado nos últimos capítulos apresenta uma promissora proposta de história comparada, que se levada adiante trará grandes contribuições para historiografia. Ainda que Brasil (ou o Atlântico) não caiba em Fernando de Noronha, Beattie faz dessa colônia penal uma janela para muitas dimensões do século XIX.
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. Bolsista de Mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: [email protected]
BEATTIE, Peter M. Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony. Durham / London: Duke University Press, 2015. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. Fernando de Noronha e o Mundo: A Colônia Penal do Império em Perspectiva Atlântica no Século XIX. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 498-501, maio/ago., 2015.
O lugar da diferença no currículo de educação em direitos humanos – RAMOS (HCS-M)
RAMOS, Aura Helena. O lugar da diferença no currículo de educação em direitos humanos. Rio de Janeiro: Quartet,2011. 195pp. Resenha de: COSTA, Hugo Heleno Camilo. Um convite ao lugar da diferença no currículo de educação em direitos humanos. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 21 n.2 Apr./June 2014.
Inicio este texto com a ideia derridiana de disseminação. Para o filósofo franco-argelino (Derrida, 2001), a disseminação, diferentemente da polissemia, produz uma infinidade de sentidos, tornando impossível o acesso à origem do pensamento, do conhecimento. Essa concepção é um convite que a produção derridiana nos faz para pensar os desdobramentos generativos da interpretação, e é com essa deixa que, neste breve texto, convido à leitura do disseminador livro O lugar da diferença no currículo de educação em direitos humanos, de Aura Helena Ramos.
A dívida assumida ao ler/resenhar um livro é impagável e sempre uma injustiça, porque há, de praxe, traição interpretativa, violência para com discussões singulares e importantes, que são muitas ao longo do livro e que não cabem neste contexto. Defender uma vigilância na leitura/apresentação do texto, ou um melindre para com esta resenha, é, entretanto, tão importante quanto desnecessário, porque é impossível a precisão total, o controle absoluto sobre o entendimento do leitor deste texto, que já é uma supervisão. Dominar o pensamento da autora é a impossibilidade que nos cabe. Estar na interlocução, por meio da leitura do livro, é, de todas as maneiras, a possibilidade parcial que o papel de leitor viabiliza.
Meu convite se dá, então, na interpretação de que o livro em questão é um trabalho com potência para disseminar novos sentidos no âmbito das discussões sobre currículo para a Educação em Direitos Humanos (EDH) e, em seu dinamismo, instabilizar muitas questões que, frequentemente, tendem a ser supostas como fundamentais. Termos como o humano, diversidade, igualdade e direito, perdem, pelo trabalho de Aura Ramos, seu status de pressupostos e são submetidos à crítica pós-estrutural e pós-fundacional a partir de um olhar atento à diferença.
Assumindo como problemática central a necessidade de uma reconceptualização do que se entende por “direitos humanos” e, especificamente, EDH, a autora se volta para a necessidade de operar uma densa discussão no campo em foco a partir dos estudos da diferença. Uma leitura de diferença como produção discursiva, produção cultural, como enunciação. Leitura que, articulada pela autora no campo discursivo da EDH, lhe permite defender tais direitos como não estando fixados em seus sentidos, como não sendo objetos de conhecimento a difundir nas escolas, mas como produção diferencial escolar.
Para Ramos, mais importante e produtivo do que pensar a EDH de um ponto de vista normativo e de regulamentação da vida escolar, é operar com a leitura de que se constitui em experiência a ser construída, uma ética própria a ser performada, produzida, desenvolvida na relação com a diferença, com o outro. Isto é, assumir o conflito e a assimetria como meio de também enfatizar a dimensão política que caracteriza a vida social e oportuniza a circulação de sentidos provisórios.
Para a defesa de uma ética da diferença no currículo para a EDH, Aura Ramos empreende uma escavação nos pressupostos que dão base às discussões sobre o tema. A autora se volta para as construções discursivas nas políticas sobre EDH instalando um constrangimento no caráter de verdade última a que se pretendem as visões críticas e liberais, que colonizam as discussões sobre direitos humanos. Dessa forma, longe de pretender colaborar para a manutenção de tais verdades, assume um exercício de desconstrução dos discursos modernos, dos quais derivam diferentes visões a respeito desse tema.
Em seu trabalho de crítica ao embasamento moderno das discussões em torno dos direitos humanos, Ramos focaliza os discursos liberal e crítico, chamando a atenção para o fato de que, embora também se desenhem como críticas aos princípios e valores modernos e se oponham entre si, não deixam de operar no mesmo registro e de aspirar à condição de verdades inquestionáveis. Tais construções, segundo a autora, favorecem uma perspectiva violenta para com sua leitura de cultura e diferença, constituindo-se em críticas que tendem a suavizar o conflito, o dissenso, a relação com o outro, a produção cultural híbrida que compõe o currículo para a EDH.
Sem negligenciar um interessante diálogo sobre cultura e globalização, com autores como Vera Candau e Boaventura de Souza Santos, Ramos parte de uma afirmação radical da diferença, apoiando-se, para isso, nos estudos pós-críticos de Bhabha, Laclau e Mouffe. Com base nas perspectivas teóricas desses autores, vai focalizar o significante/nome vazio “direitos humanos” a partir das ideias de “universal” e “igualdade”, que tendem a favorecer a subordinação do “outro”, impondo-lhe o “mesmo” como condição para ser. Dito de outra forma, a autora busca pensar as ideias mencionadas em suas potencialidades de se constituir como padrões e verdades. E, como decorrência de tal construção universal, focaliza a tensão entre “igualdade” e “diferença” no âmbito escolar. Tensão que coloca a escola como lugar privilegiado para a socialização dos saberes elaborados, considerados universais, cuja finalidade seria a formação do cidadão, que, uma vez alcançada, levaria à igualdade social, à justiça social. É justamente na universalização de um modelo de cidadão, de humano, e, portanto, de educação, de valor, que se configura o alvo das críticas na obra de Ramos.
Em seu ritmo, a autora analisa os diferentes sentidos atribuídos à expressão “direitos humanos”, chamando a atenção para o conflito em torno de sua significação. Para isso, retoma marcos das discussões de um contexto social mais amplo, atentando para questões como a globalização e a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU), através da difusão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na tentativa de estabilização de uma visão universal de direitos humanos. Focaliza também, produções acadêmicas que tratam do tema, bem como lança mão de textos de entrevistas realizadas com lideranças nacionais que atuaram na produção de documentos de grande repercussão na definição de políticas de currículo para a EDH, tais como o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2003) e Subsídios para a elaboração das diretrizes gerais da Educação em Direitos Humanos (Dias, Nader, Silveira, 2007).
Tendo em vista tais documentos e pautada na teorização de Laclau e Mouffe, Aura Ramos propõe pensarmos as diferentes leituras que perpassam a denominação direitos humanos no cenário dos conflitos em prol da hegemonização de sentidos, de ideias. Conflitos que, para a autora, não devem ser entendidos nos termos de um “etapismo” histórico-social, mas como movimentos que, em cada contexto específico, produzem sentidos e fixam significados provisórios e contingentes. Com base nessa discussão, a autora pondera que não há um fechamento, ou significado, último em torno desse conflito, mas somente a produção de consensos conflituosos entre diferenças, entre diferentes demandas sociais.
Como via de acesso à parte de tais conflitos, ou consensos conflituosos, que marcam a produção das políticas de currículo para EDH, a autora chama a atenção para os processos de identificação e constituição dos grupos, compreendidos como elementos de uma comunidade política, que atuam no contexto de produção dos textos curriculares de EDH. A preocupação de Ramos, no que diz respeito aos fazeres de tais grupos, não está em destacar e culpar os atores envolvidos, mas em compreender as marcas de discursos, as tentativas de representação, que são provisoriamente constituídas nos documentos produzidos.
Trata-se, em sua opinião, de interpretar tais construções textuais para além de asserções objetivas, da superficialidade do que se coloca como pleito. Segundo Ramos, na abordagem aos textos da política, importa entendê-los como resultados contingentes das tensões entre distintos projetos envolvidos na política. Isso é conceber a produção da política como embate, negociação e hibridismo de sentidos, levando à hegemonização de verdades, presenças, ausências e silenciamentos.
Destaca-se, em termos de organização metodológica, a apropriação da teoria do ciclo de políticas de Stephen Ball, com vistas a pensar a produção da política como não detentora de uma gênese, um espaço originário, mas como uma produção textual discursiva contínua, que se dá no hibridismo de diferentes sentidos, no entrelaçamento de muitas verdades tramadas na política. Sentidos e verdades que circulam tanto em um cenário social mais amplo como naqueles que, em linhas gerais, se poderiam dizer mais restritos ou associados ao campo da educação.
Como resultado de seu trabalho de análise, Ramos propõe pensarmos “direitos humanos” como um significante vazio. Um significante, um nome, disputado em sua significação por diferentes grupos e que se desdobra para a/na escola com toda a sua rasurada significação, sendo ressignificado também na própria escola. A autora ressalta, como uma problemática, o desenvolvimento de tal conflito no campo discursivo da modernidade, no qual estão em confronto os discursos liberal e crítico, que se destacam em construções jurídico-políticas projetadas, marcadamente, por um viés universalista associado às perspectivas modernas.
Chama a atenção também para os deslizamentos de sentidos, no campo da corrente crítica, que tendem, na atualidade, a produzir sentidos híbridos, associados à discussão da diferença. O que, segundo a autora, tende a sustentar uma leitura de diferença nos termos da diversidade/pluralidade, cuja pretensão está na hegemonização das ideias de convivência multicultural e tolerância. A esse respeito, Ramos coloca sua crítica argumentando sobre a permanência da cultura como objeto de conhecimento, como repertório de sentidos a ser partilhados nas escolas.
Para Ramos, no âmbito das discussões sobre a EDH, a saída via a tolerância mantém a estratégia moderna de universalização de valores particulares que nada mais são do que uma visão particular que, entre tantas outras, foi universalizada. Um universal que não é considerado verdade a ser ensinada nas escolas, algo capaz de suplantar, negligenciar ou minimizar, a diferença, o local. Justamente por não considerar tal pretensão universal como uma totalidade fixa, mas mantida por muitas articulações, a autora vai chamar a atenção, a partir de Mouffe e Bhabha, para o fato de que, além dos binarismos (liberal e crítico), o ímpeto discursivo colonial, ou seja, toda tentativa de colonização do outro, precisa negociar seu reconhecimento com a diferença, com o particular.
No entanto, apesar da consideração acima, a autora não supõe que a negociação com a diferença seja capaz de anestesiar os discursos modernos universalizados. Antes, chama a atenção para a importância de que sejam problematizadas, no âmbito do próprio discurso moderno, ideias como autonomia e diálogo, uma vez que tendem a ser pensadas a partir de decisões já tomadas, de verdades já estabelecidas. Portanto, “uma” autonomia e “um” diálogo controlados, circunscritos ao terreno das verdades modernas.
Para a autora, ainda é novo o campo de investigação em EDH e significativamente (ainda) pensado nos marcos da modernidade. Pensar os direitos humanos a partir da afirmação da diferença e não da universalidade de valores é o cerne do trabalho de Aura Ramos, desenhado como uma proposta de “abordagem agonística”, expressão cunhada nas discussões de Chantal Mouffe e que supõe a negociação contínua com o outro. Uma proposta de “diálogo e consenso conflituosos” que, segundo a autora, reiteram a provisoriedade e contingência da política, da democracia. Um diálogo que não pretende estabelecer um último vencedor, mas favorecer políticas culturais que ampliem os espaços de negociação com a diferença, que preserve a interpretação do outro, que conceba a diferença como constitutiva e inerradicável do social.
Concluo pontuando o livro de Aura Ramos como uma grande contribuição à investigação em EDH. Argumento que a singularidade de sua produção consiste, também, no convite a um recuo estratégico na relação com o modo como são pensadas as justificativas, prioridades e metas para a educação em direitos humanos. Em seu trabalho investigativo, a autora provoca uma fratura no piso em que são assentadas as propostas no campo. Uma crítica severa aos significativos movimentos políticos/discursivos que tendem a assumir como problema os meios para a efetivação de ideais acertados pela modernidade, tanto por intermédio de perspectivas liberais, como críticas. O trabalho de Ramos vem de encontro à efervescência dos movimentos em prol da difusão de valores universais, tidos como absolutos e fundamentais ao social, à educação. Valores que, pretendidos à universalidade, tendem a ser incorporados ao campo da educação sem as devidas críticas e preocupações com a originalidade do local, da escola, da diferença. É na atenção para com essas dinâmicas que reside o convite da obra de Aura Ramos. Um convite a que desloquemos o olhar moderno sobre o humano e seus direitos (na educação), para pensar nos termos do direito humano à diferença.
Referências
BRASIL. Comitê Nacional de Educação e m Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação. 2003. [ Links ]
DERRIDA, Jacques. Posições. Belo Horizonte: Autêntica. 2001. [ Links ]
DIAS, Adelaide A.; NADER, Alexandre Antônio Gili; SILVEIRA, Rosa M.G. (Org.). Subsídios para a elaboração das diretrizes gerais da educação em direitos humanos: versão preliminar. João Pessoa: Editora Universitária UFPB. 2007. [ Links ]
Hugo Heleno Camilo Costa – Professor, Faculdade e Programa de Pós-graduação em Educação/Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
Fazendo e desfazendo direitos humanos – RUBIO (FU)
RUBIO, D.S. Fazendo e desfazendo direitos humanos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010. Resenha de: JÚNIOR, Roberto Galvão Faleiros. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.14, n.1, p.100-104, jan./abr., 2013.
Correntemente, os direitos humanos são compreendidos e, consequentemente, instrumentalizados, dentro de uma perspectiva universalizante, de forma hierárquica, de matriz jurídico-estatal, formalista e pós-violatória, gerando uma cultura anestesiada, reproduzindo práticas e anseios simplificados das relações humanas.
Os paradigmas hegemônicos do direito acabam respaldando a manutenção e a difusão desses aspectos tradicionais, engendrando percepções insuficientes sobre os múltiplos fenômenos jurídicos.
No entanto, de maneira oposta, David Sánchez Rubio, professor titular de Filosofia do Direito da Universidade de Sevilha, estrutura sua produção acadêmica e desenvolvimento teórico através de “[…] uma concepção muito mais complexa, racional, sócio-histórica e holística, que priorize as próprias práticas humanas, que são as que realmente fazem e desfazem, constroem e desconstroem os direitos humanos […]” (p. 12-13).
O viés crítico, sócio-histórico, relaciona-se com as obras de diversos autores, principalmente os da proclamada filosofia da libertação. Há uma nítida inspiração, dentre outros, em Joaquin Herrera Flores, Franz Hinkelammert e, especialmente, em Helio Gallardo.
Dentro dessa compreensão, insere-se a obra “Fazendo e desfazendo direitos humanos”, traduzida pelo professor Clovis Gorczevski, da Universidade de Santa Cruz do Sul, editada pela EDUNISC, e que conta com a apresentação aprofundada do professor Antonio Carlos Wolkmer da Universidade de Santa Catarina.
Wolkmer, aliás, é um dos privilegiados interlocutores de David Sánchez Rubio, tendo, também, uma importante parcela de influência na solidificação do pensamento do autor e de sua aproximação com a realidade brasileira e com o pluralismo jurídico.
Ao longo do livro, o autor sevilhano traz diversos elementos para a percepção e a edificação de uma “[…] noção sinestésica dos direitos humanos, que nos extraia da anestesia […]” (p. 18). Abordando de maneira extremamente crítica o entendimento tradicional, denuncia o abismo consolidado entre o que se diz e o que se faz sobre os direitos humanos.
A obra reúne diversos trabalhos que, modificados e ampliados, foram reunidos e publicados conjuntamente. Embora divididos em quatro capítulos com temáticas distintas, os artigos mantêm uma profunda identidade teórica, proximidades em suas fundamentações e, sobretudo, complementaridade em suas colocações e anseios propositivos.
A identidade teórica e a proximidade de fundamentos são didaticamente expostas logo na introdução. O autor ressalta que vivemos em uma cultura inexistente de direitos humanos, propalando, infelizmente, uma perspectiva estreita e reduzida, o que força a estruturação da dicotomia entre o que é discursivamente exposto e o que é realizado concretamente. Essa concepção arcaica vincula quase que cegamente os direitos humanos à emanação das normas jurídicas estatais e às declarações e aos tratados internacionais.
Procurando contrapor esse torpor, o autor recorre às formulações do cientista político Helio Gallardo (p. 8 e 13), que visualiza, ao menos, cinco elementos nos direitos humanos: a luta social; a reflexão filosófica ou a dimensão teórica e doutrinal; o reconhecimento jurídico positivo e institucional; a eficácia e a efetividade jurídica; a sensibilidade sociocultural.
Assim, a partir das contribuições de Gallardo, sustenta as análises expostas através dos artigos/capítulos, o que lhe permite mapear e denunciar que, comumente, os direitos humanos são entendidos pelo que disseram filósofos e cientistas políticos. Adverte que há uma absolutização da vinculação dos direitos humanos com instituições e com normas, ocorrendo, por conseguinte, um superdimensionamento da dimensão pós-violatória (recorrência constante a demandas processuais e institucionais) o que explica, em certa medida, a baixa taxa eficacial dos direitos assegurados em leis e tratados.
No entanto, procura deixar pontuado claramente em todos os capítulos do livro que “[…] os direitos humanos possuem como referente básico a vocação de autonomia dos sujeitos sociais como matriz de autonomia dos indivíduos ou pessoas” (p. 16). Neste sentido, os seres humanos devem criar condições sociais e individuais para relegar as experiências dominadoras e edificar as experiências emancipatórias. Para tanto, devem priorizar os elementos (explicitados por Helio Gallardo) que são negligenciados costumeiramente: a luta e a ação social; a eficácia não jurídica; e a sensibilidade sociocultural, ou seja, as relações, práticas ou tramas sociais.
Com substrato nessa sólida fundamentação política e filosófica, no primeiro capítulo, intitulado “Sobre direitos humanos: imagens, espelhos, cegueiras e obscuridades”, pontua os aspectos meramente refletidos com que a sociedade e o direito situam as relações sociais. A questão meramente formal da concepção usual de direitos humanos, que, com substrato na democracia liberal, dificulta a incorporação de novos sujeitos e novas liberdades.
O reconhecimento dos direitos humanos de todos acaba ficando adstrito à “personalidade”, à “cidadania” e à “capacidade de trabalho”, definindo as classes que são titulares desses direitos. Nesse viés, os “[…] critérios que se estabeleçam para adjudicar aos indivíduos a categoria de ‘pessoa’, ‘cidadão’, ou ‘capaz de obrar’, lhes outorgam o reconhecimentos dos direitos fundamentais, refletidos em cada norma constitucional” (p. 29).
Dentro dessa peculiar análise é possível identificar sujeitos sociais ou classes, excluídos mesmo dentro desta promessa de incorporação democrática dos anseios de “todos”. Os direitos e as reivindicações, mesmo quando reconhecidos e normatizados, acabam sonegados em dimensão concreta, em sua finalidade específica.
O que fica ressaltado neste artigo é a necessária e permanente luta por espaços de abertura e consolidação de direitos, o que incorpora lugares para além do jurídico-estatal, já que, para o autor, “[…] os direitos humanos entendidos como prática social, como expressão axiológica, normativa e institucional, que em cada contexto abre e consolida espaços de luta por expressões múltiplas da dignidade humana, não se reduzem a um único momento histórico e a uma única dimensão jurídico-procedimental e formal” (p. 41).
Neste trabalho, o autor deixa clara a importância que os direitos humanos têm como processo de criação contínua de subjetividades, de espaços de luta e consolidação permanente de inúmeras tramas sociais.
O segundo capítulo, “Herança, recriações, cuidados, ambientes e espaços comuns e/ou locais para a humanidade, povos indígenas e direitos humanos”, é o único trabalho inédito do autor e desenvolve diversas problemáticas envolvendo o patrimônio comum da humanidade.
No entanto, em diversos momentos, explicita-se que o patrimônio comum deve ser compreendido como recreações, espaços, usos e entornos comuns. Assim, consegue direcionar e problematizar de forma contundente as questões que envolvem a titularidade, o dever de gerir e a proteção que esses espaços devem incorporar.
Nesse viés, salienta que a herança comum da humanidade deve receber proteção e tratamento internacional com dimensões globais, sendo utilizada, em todos os sentidos e dimensões, a favor da humanidade.
Para sustentar essas colocações, afirma que a herança, ou o patrimônio comum de povos e comunidades deve ser compreendido como: bens comuns da humanidade e bens comuns globais. Os primeiros são os espaços públicos, terras comuns, bosques e conhecimentos tradicionais que afetam grupos de pessoas que vivenciam realidades sociais, culturais ou étnicas comuns em dimensões mais regionalizadas, contextualizadas. De outra forma, entende por bens comuns globais a atmosfera, os oceanos, a lua, etc., tendo por destinatários não grupos restritos com vínculos entre si, mas sim um número indeterminado de pessoas, ou seja, todos os seres humanos.
Essas peculiaridades são possíveis a partir do momento que identifica as características das heranças comuns da humanidade: a inapropriabilidade, a necessária utilização por todos os povos, a participação internacional nos benefícios obtidos pela exploração dos recursos naturais comuns e a sua conservação para as futuras gerações (o que pode indicar uma comunidade universal).
De forma contundente, também, denuncia a mercantilização de diversas formas e expressões da vida. Atenta para os perigos oriundos desse processo, sobretudo pelo fato de estarmos imersos em um sistema capitalista destruidor e devastador, que, de todo modo, absorve e redesenha as mercadorias conforme suas necessidades, reproduzindo processos de colonização.
Na tentativa de apontar algumas soluções para essas disparidades, parte para realçar o papel primordial – que por vezes é sonegado – que as comunidades indígenas podem exercer.
O reconhecimento deve perpassar pelas heranças locais para beneficiar a totalidade da humanidade, refletindo um regime jurídico especial através da autodeterminação, do território, da cultura e do consentimento prévio.
Dentro dessa exemplificação, através das especificidades indígenas, é possível indicar três eixos que permitem afastar as heranças comuns do caráter patrimonialista: não devem ser comercializadas, devem passar pela delimitação coletiva da titularidade e da gestão e a vinculação com uma concepção sócio-histórica de direitos humanos.
Já no capítulo terceiro, “Paradoxos do universal, direitos humanos e pluriversalismo de confluência”, profundas e controversas questões são abordadas sobre a costumeira polêmica dicotomia entre a universalidade e o relativismo cultural nas questões envolvendo os direitos humanos. Sem resvalar nos argumentos popularizados, o autor sevilhano contribui lucidamente para revelar problemáticas encobertas e desconsideradas.
Ao analisar pormenorizadamente a linguagem hegemônica do universalismo, identifica três paradoxos: o discurso oficial é favorável ou desfavorável ao deslocamento de pessoas dependendo do interesse dos grupos que controlam o sistema capitalista; um propalado discurso de estrita universalidade; e a titularidade exclusivista da cultura ocidental em procurar definir os direitos humanos.
Essa situação peculiar desenvolve-se no denominado universalismo de confluência, pois absolutiza a expansão de uma ou algumas universalidades em detrimento de outras culturas ou possibilidades.
Aventa essa hipótese em razão dos anseios à eventual pré-disposição que os seres humanos teriam pela unidade, pela necessidade de atingir a verdade e universalizar seus desejos.
A relação entre universalismo e relativismo não pode ser enfrentada de maneira dualista, maniqueísta. É evidente que eventuais soluções ou respostas sairão de um enfrentamento relacional, de uma busca pelas complementaridades e discrepâncias.
Demonstrando outras contribuições teóricas, sustenta que devemos agenciar múltiplas culturas e inúmeros grupos humanos em “particularidades concretas tensionadas de universalidade” (p. 102), promovendo e tencionando diversas possibilidades de relacionar o concreto e o idealizado.
Essas nomeações indicam que não devemos realçar apenas uma pretensão de unidade, mas que diversas pretensões devem ser levadas em consideração, com suas diferenças e relações sociais.
Nesse sentido, explicita que estamos diante “[…] não de um ‘universalismo, mas sim de um pluriversalismo de confluência’ aberto a partir de suas distintas procedências, a um permanente diálogo e a um contínuo processo de construção sem imposições etnocêntricas e homogêneas” (p. 102).
No quarto e último capítulo, “Ciência-ficção e direitos humanos: tramas sociais e princípios de impossibilidade”, David Sánchez Rubio inova no desenvolvimento das reflexões sobre os direitos humanos ao trazer, de maneira inovadora, a ficção científica para contribuir na reflexão do tema.
Essa peculiaridade é iniciada tendo por base a questão da modernidade, dos paradigmas e seus pilares: regulação e emancipação, com sustentação nos estudos de Boaventura de Sousa Santos.
No pilar regulação, encontram-se os princípios do Estado, do mercado e da comunidade. Já no pilar emancipação, identifica-se a lógica estético-expressiva (arte e literatura), a cognitivo-instrumental (ciência e técnica) e a moral-prática (moral e direito).
Desse modo, “[…] a racionalidade estético-expressiva é a que mais tem conservado a dimensão emancipadora da modernidade” (p. 119), o que pode indicar a peculiar importância que a ficção científica pode assumir no pilar emancipação na modernidade, pois “[…] a partir da ciência-ficção também se dão elementos com os quais se pode vislumbrar outra ciência que intercomunique, dialogue, encontre a relacionalidade e a recursividade de todas as partes e facetas da realidade” (p. 120).
Aprofundando a questão, buscando unir os direitos humanos e a ficção científica, traz os elementos contidos nos princípios de impossibilidade e a consequente idealização da empiria, do concreto e o conceito de tramas sociais, as construções cotidianas dos diversos sujeitos sociais.
Esses conceitos permitem o questionamento da mentalidade ocidental que valoriza, demasiadamente, os ideais de abstração, idealização e fetichização. Assim, no processo de humanização, de defesa e promoção dos direitos humanos, podemos estar sujeitos tanto à consolidação dos direitos como, também, a sua desconfiguração.
De todo modo, através da lógica estético-expressiva, através da ficção científica, poderá promover e consolidar direitos humanos. Nesse sentido, o autor deixa claro que: “[…] o que queremos dizer é que o humano se constrói, se faz” (p. 140).
A relevância do livro é notória face às cotidianas e permanentes formas de abordar direitos humanos e, do mesmo modo, o fenômeno jurídico. A perspectiva assumida permite revelações e discussões de situações e vivências sonegadas nas reflexões filosóficas e jurídicas atuais.
Roberto Galvão Faleiros Júnior – Universidade Estadual Paulista – Campus de Franca. Franca, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
Third World Protest: Between Home and the World | Rahul Rao
The opening scene of this fascinating book about human rights in the Global South, nationalism (‘home’) and cosmopolitanism (‘the world’) by Rahul Rao, Lecturer in Politics at SOAS, is central London in 2003. The author participates in a manifestation against the impending Iraq War, seen by many as an imperialist venture that will most certainly endanger Iraqi civilians. Yet he also professes to the “struck by the tacit alliance between a politically correct Western left, so ashamed of the crimes of Western imperialism that it found itself incapable of denouncing the actions of Third World regimes, and a hyper-defensive Third World mentality […].” After all, as British foreign policy makers pointed out, Saddam Hussein was guilty of the largest chemical weapons attack directed against a civilian-populated area in history, which took place in Halabaja in the late 1980s, at the end of the war against Iran.
Both sides may care about the fate of the Iraqi population. Yet, what sets the two groups apart, Rao remarks, is that they have identified different enemies: Communitarians and nationalists pointed to the international system as the main threat, while cosmopolitans point to the state, or, more specifically, to the often brutal ‘Third World state’. Leia Mais
Monções | UFGD | 2012
A revista eletrônica Monções – Revista de Relações Internacionais da UFGD (Dourados, 2012-) tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento das Relações Internacionais e seus campos afins a partir da publicação de artigos inéditos submetidos por pós-graduandos ou pós-graduados.
O público alvo da Monções são pesquisadores, acadêmicos e público interessado nas áreas de Política Externas, Política Internacional, Integração Regional, Economia Internacional, Teoria das Relações Internacionais, História das Relações Internacionais, Organizações Internacionais, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Direito Internacional e Dinâmicas da Fronteira, entre outras.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN [?]
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
A realização e a proteção internacional dos direitos humanos fundamentais – desafios do século XXI – BAEZ; CASSEL (FU)
BAEZ, N.L.X.; CASSEL, D. (Orgs.). A realização e a proteção internacional dos direitos humanos fundamentais – desafios do século XXI. Joaçaba: Editora UNOESC, 2011. Resenha de: HAHN, Paulo; PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.3, p.290-291, set./dez., 2011
Dentre os diversos lançamentos da Editora Unoesc para o ano de 2011, a obra A realização e a proteção internacional dos direitos humanos fundamentais – desafios do século XXI merece um destaque todo especial. Ela é um dos resultados de um Intercâmbio Jurídico-Cultural e Projeto de Pesquisa Interinstitucional: Dimensões Materiais e Eficaciais dos Direitos Humanos Fundamentais entre instituições e pesquisadores dos Estados Unidos e do Brasil.
Inicialmente deram início a este Projeto de Pesquisa a Universidade do Oeste de Santa Catarina e o Center for Civil and Human Rights, da University of Notre Dame (EUA). Posteriormente, como decorrência desses trabalhos e pela importância da temática, o projeto teve aderência de outras instituições e culminou na formalização de um intercâmbio jurídico-cultural entre Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos uniram-se a este intercâmbio a Connecticut University, a Fordham University, a organização não governamental Due Process of Law Foundation e a Embaixada Americana. E no Brasil estas ações de intercâmbio foram também apoiadas pela Universidade Católica de Pernambuco, pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Em 2012, na ocasião de três grandes eventos internacionais nos Estados Unidos, o presente livro também será lançado em inglês.
Em consonância com a proposta do projeto de pesquisa, as atividades foram direcionadas para o estudo dos direitos humanos fundamentais e do multiculturalismo, bem como para os mecanismos de proteção transnacionais dessa categoria. Na base dessas iniciativas, duas grandes linhas de investigação foram constituídas: a primeira, voltada aos direitos fundamentais civis, concentrando-se nos recortes epistemológicos e pragmáticos de alguns direitos subjetivos constitucionalizados e condizentes à pessoa humana, quais sejam, os direitos de personalidade e da informação, não sem antes formatar bases cognitivas e reflexivas comuns a esta discussão, relacionadas à compreensão de dois fenômenos jurídicos e sociais inerentes aos aspectos desenhados, a saber: a constitucionalização dos direitos fundamentais civis e os níveis de implicação destes direitos nas relações privadas. A segunda linha de investigação está voltada aos direitos fundamentais sociais, com delimitação igualmente epistemológica e pragmática de alguns direitos sociais condizentes à pessoa humana, quais sejam, direito fundamental ao trabalho digno e direito fundamental à seguridade social, não sem antes formatar bases cognitivas e reflexivas comuns a esta discussão, relacionadas à teoria dos direitos fundamentais sociais e políticas públicas de efetivação dos direitos fundamentais sociais.
Esta obra está dividida em quatro grandes capítulos: o primeiro reúne diversos artigos que discutem temas relacionados aos direitos humanos fundamentais e ao multiculturalismo; o segundo capítulo do livro aborda os desafios dos direitos humanos fundamentais civis no século XXI; no terceiro capítulo a problematização central das reflexões diz respeito aos direitos humanos fundamentais sociais no século XXI. Por fim, no último e quarto capítulo, a reflexão acontece no âmbito da Transnacionalidade e proteção internacional dos direitos humanos fundamentais.
Trata-se, pois, de um livro crítico e prospectivo que contém aspectos importantes acerca da natureza, da hermenêutica e de políticas públicas sobre os direitos humanos fundamentais, destacando-se o seu processo de internacionalização e os mecanismos que surgiram para a sua proteção, tanto na esfera interna dos Estados quanto na seara transnacional. Tratar a temática dos direitos fundamentais pressupõe criar uma postura crítica face aos inúmeros questionamentos que dizem respeito ao seu desenvolvimento histórico e filosófico.
O início do processo epistemológico contextualiza-se num momento histórico, que remonta à Modernidade, na qual se destaca o filósofo John Locke como sendo o maior representante do direito natural. O pressuposto fundamental do direito natural se assenta no fato de que a legislação de um país, ou seja, o direito positivo, somente será válido quando respeitar os direitos naturais inatos dos homens, que o constituem por meio de um contrato social em que manifestaram a sua vontade. O ser humano possui um complexo de direitos naturais inatos que são: a vida, a liberdade e a propriedade. Esses direitos não são transferidos para a formação do corpo político no momento em que se estabelece o contrato social, que foi a origem do Estado moderno. São, portanto, preexistentes a todo ordenamento jurídico, são imprescritíveis, inalienáveis e dotados de eficácia.
Tanto em Locke como em muitos outros autores, já emerge a concepção do direito à diversidade individual e à diversidade cultural das comunidades humanas, surgindo tratados sobre a tolerância para com aquele que é e que pensa diferente. Este paradigma cultural encontra, na atualidade, o foro de interculturalidade ou, dito em outras palavras, no horizonte da teoria crítica dos direitos fundamentais: o reconhecimento da alteridade do outro em sua identidade pessoal e cultural. Este fato como parte da condição originária do ser humano vai positivando-se em textos constitucionais desde as grandes revoluções do século XVIII até alcançarmos uma nova concepção universal da dignidade da pessoa humana que se expressa pelo sempre mais inovador conceito de direitos fundamentais do ser humano em sua realidade histórica.
E é a partir do século XX que começa a crescer uma afirmação cada vez maior dos direitos fundamentais com os incontáveis movimentos e lutas sociais e as inúmeras declarações universais dos direitos humanos (os grandes marcos são: ONU em 1948, OEA em 1966 e União Europeia em 2001). No campo filosófico, o século XX causa um giro kantiano ao reafirmar a liberdade e a sua justificação pelo imperativo categórico, criando as teorias que justificam e fundamentam o mínimo existencial da pessoa humana; isso vem sendo dominante no campo da filosofia política e do direito nas últimas décadas do século XX.
Em suma, temos nessa edição uma série de artigos em torno dos direitos humanos universais que prestam uma valiosa contribuição para promover maior aproximação jurídica e filosófica entre os juristas e filósofos dos hemisférios Sul e Norte do continente americano.
Paulo Hahn – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Chapecó, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
Maria Cristina Cereser Pezzella – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Chapecó, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas – BARRETO (FU)
BARRETTO, V. de P. O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Resenha de: SUBTIL, Leonardo de Camargo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.1, p.94-96, jan./abr., 2011.
Et si le poète était tellement capable d’être expliqué dans tout ce qu’il veut dire, je crois qu’il serait très superfl u (Gadamer, 1982, p.44).
O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas apresenta criticamente as reflexões centrais do professor Vicente de Paulo Barretto sobre o tema dos Direitos Humanos, na constituição das relações e das interferências recíprocas entre Direito, Moral e Política na sociedade contemporânea. Marcada por um constante e instigante problematizar teórico, afeito às realidades políticas e sociais que o constitui, a obra surge no contexto de recuperação original da significação moral dos Direitos Humanos através da inédita tese da desfetichização, elaborada pelo autor.
Dividida em 15 capítulos, a obra perpassa importantes temas da cultura jurídico-filosófica contemporânea, guardando, em sua constituição, duas linhas de investigação essenciais à consolidação do Estado Democrático de Direito e à construção de uma sociedade cosmopolita, libertas da mitologia legal, do positivismo jurídico e do fetichismo dogmático. Enquanto que a primeira linha de investigação delineia os fundamentos ético-filosóficos dos Direitos Humanos, a segunda ilumina as necessárias relações entre os Direitos Humanos e a sociedade democrática.
Nesse contexto de libertação dogmática, os Direitos Humanos surgem numa dimensão de recuperação moral dos fundamentos jurídicos, substituindo a até então predominante mitologia legal, inserida na lógica hobbesiana da totalidade normativa e do solipsismo soberano. Ocorre que, ao tentar livrar-se da totalidade normativa por um conjunto libertário e igualitário de direitos originais, os Direitos Humanos assumem uma dimensão fetichista e de dominação social, repetidora do formalismo positivista no tocante à plenitude de abrangência, descolada da realidade social.
É justamente nesse contexto de desapego à totalidade normativa e de afirmação democrática dos Direitos Humanos como categoria moral, anteriormente à sua consagração jurídica, que reside o desafio central da obra em apreço: a reavaliação do fetichismo dogmático através da compreensão dos Direitos Humanos como núcleo moral do Estado Democrático de Direito. Para tanto, o processo de desfetichização dos Direitos Humanos, na reatribuição de seu sentido moral original, passa por dois eixos essenciais desenvolvidos na estrutura do livro.
Primeiramente, a fundamentação ético-filosófica ressalta um problema paradoxal de constituição dos Direitos Humanos, pois, de um lado, há um crescimento desvirtuado dos textos normativos, o que contribui à imprecisão conceitual e à banalização dos Direitos Humanos. De outro lado, constitui-se uma dimensão utópica (retórica dos direitos), no sentido de um sistemático descumprimento dos pactos nacionais e internacionais de Direitos Humanos por governos e organizações sociais.
É nesse contexto que surge a importância de uma delimitação conceitual, na obra em análise, de algumas categorias essenciais ao estabelecimento de um maior rigor aplicativo dos Direitos Humanos, como, por exemplo, a da complementaridade entre Direito e Moral em Kant, como elemento legitimante do Estado Democrático de Direito.
Igualmente, a problematização do Direito através da moral possibilita visualizar uma separação analítica (não-conceitual) entre esses dois sistemas, observada na esfera de ação pública através da legislação, que limita a liberdade pessoal irrestrita de cada indivíduo. Importante mencionar também, no processo de maior rigor de análise dos Direitos Humanos inscrito na obra, as delimitações feitas sobre a conceituação e a natureza jurídica da dignidade humana, bem como a problemática das relações entre Direitos Humanos e Multiculturalismo, discussão tão afeita ao tema.
No segundo momento de desfetichização dos Direitos Humanos, já delineados os fundamentos ético-filosóficos dos Direitos Humanos, a indagação fundamental reside nos reflexos dessas delimitações conceituais na teoria do Direito, ressaltando a importância legitimante da filosofia na democratização do projeto jurídico através da projeção kantiana da autonomia no espaço público. Além disso, nesse maior democratizar do Direito frente à complementaridade filosófica, emerge o papel central da hermenêutica constitucional, possibilitadora de uma maior integração entre o Direito e as realidades sociais, afastados do fetichismo dogmático e da totalidade normativa.
As problemáticas inter-relacionais da obra referentes à cidadania, aos direitos sociais e à tolerância e, por conseguinte, aos limites da lei, estão inseridas num ambiente globalizatório, não linear, de exclusão social, onde a estabilidade westphaliana há muito deu lugar às instabilidades político-internacionais contemporâneas. O caminho rumo à democracia cosmopolita compreende, portanto, uma dupla via simultânea de ação, tanto no que se refere ao cumprimento compartilhado das funções do Estado, como no que se refere ao deslocamento de seus poderes às organizações internacionais. Esse caminho outorga visibilidade a um novo tipo de regime democrático, baseado em maior legitimidade jurídica e na democratização dos processos político-decisórios.
A teoria do Direito, nesse mar de instabilidades políticas e sociais, passa pelo desafio moral de uma nova teoria da responsabilidade particular e coletiva à construção de uma democracia cosmopolita, que “[…] supere as limitações do sistema político e da ordem jurídica do estado soberano” (Barretto, 2010, p.221). Esses desafios à teoria do Direito compreendem uma reflexão alternativa ao positivismo jurídico, trazendo o foco para o metaconstitucionalismo, na qualidade de dimensão normativa superior às normas constitucionais, como, por exemplo, os tratados internacionais de Direitos Humanos.
Nesse propósito de uma nova roupagem à teoria do Direito, a filosofia kantiana exerce uma importante “intuição diretora” na fundamentação dos Direitos Humanos e na construção da ordem jurídica metaconstitucional, com conteúdo moral e jurídico. Assim, atribui ao direito, por conseguinte, uma função de assegurar a paz justa através de sua força normativa, como reflexo dos valores morais da realidade social. É justamente nesse novo caminho metaconstitucional de abertura e de reconhecimento às instabilidades sociais, liberto do constitucionalismo liberal autorreferencial e da totalidade normativa (não plural), em que se situam os eixos normativos destinados à semantização humanitária do sistema fundado pela globalização e à continuidade do controle político-decisório em nível nacional, regional e internacional.
A riqueza da obra, O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas, do professor Vicente de Paulo Barretto, reside na ideia central de não conduzir dogmaticamente os leitores a conclusões lógicas presentes no universo jurídico contemporâneo; assim, a própria estrutura argumentativa e “inacabada” da obra entra em confluência com o objetivo de superação da mitologia legal e da face fetichista dos Direitos Humanos.
Em uma perspectiva humanista de observação e de constituição dos Direitos Humanos pela via de consideração da pessoa humana, que realiza sua liberdade na relação com o “outro”, a obra dá-nos substancial contribuição ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Na constante problematização das principais controvérsias do pensamento jusfilosófico contemporâneo, numa dialética produtiva (não reprodutiva) da pergunta e da resposta, toca as feridas do formalismo dogmático, inseridas no totalitarismo de plenitude normativa, traçando as bases para a desfetichização dos Direitos Humanos.
Referências
GADAMER, H.-G. 1982. L’art de comprendre: herméneutique et tradition philosophique. Paris, Editions Aubier Montagne, 295 p.
Leonardo de Camargo Subtil – Mestre em Direito Público pela Unisinos – Bolsista Capes/Prosup. Membro do Grupo de Estudos em Mireille Delmas-Marty (Unisinos). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
Howto Run the World: Charting a Course to the next Renaissance | Parag Khanna
In his new book, Parag Khanna, Director of the Global Governance Initiative at the New America Foundation and author of “The Second World”, seeks to answer how we can deal with global challenges in a more effective way in the years to come. In merely 214 pages, Khanna covers a vast array of challenges – from climate change, nuclear proliferation, poverty, human rights to the Middle East Conflict to the disputes in Kashmir, Iran and Afghanistan. As a natural consequence, some of his analyses seem a bit rushed (for example, his thoughts on nuclear proliferation are limited to just a few pages). Yet Khanna’s aim is not to engage in profound historical analysis; rather, the book can be understood as a smart brainstorming session on how to tackle the world’s most urgent problems. Academics will frown at his approach as Khanna’s assertions are not based on empirical research, yet he is certainly courageous for approaching big issues in a sweeping way.
Similar to Khanna’s previous book, How to Run the World is well-written, and a lot of his ideas are interesting and seem worth further consideration. For example, Khanna argues that aside from combating Somali pirates, more needs to be done to reduce illegal fishing in the region, which has led to the problem in the first place. In addition, instead of imposing futile sanctions against Iran, he advocated “flooding” the country with “contacts through commerce, media, and diplomatic channels that would force greater transparency on all its activities.” The author is also right to point out that private sector actors will undoubtedly play a key role in global governance, although his prediction that large corporations will soon issue their own passports for employees, with pre-negiotiated visa-free access to countries, seems exaggerated. Leia Mais
A gramática do tempo: para uma nova cultura política – SANTOS (RF)
SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma nova teoria política crítica: reinventar o estado, a democracia e os direitos humanos. In: ______. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. Resenha de: TENÓRIO, Camila Muritiba. Da inevitabilidade da crise da modernidade à criação de um novo contrato social. Revista FACED, Salvador, n.18, p.103-110, jul./dez. 2010.
Boaventura de Sousa Santos é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale e professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na qual exerce também a função de diretor do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Documentação 25 de Abril. O autor nasceu em Coimbra, em 1940, e possui hoje uma extensa bibliografia, composta de ensaios, artigos, livros e até mesmo poemas, que constituem embasamento para profissionais de diversas áreas. São algumas de suas obras mais importantes os livros Introdução a uma ciência pós-moderna, publicado em 1989; Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, datado de 1994; e A gramática do tempo: para uma nova cultura política, de 2006, o qual constitui objeto deste estudo.
Neste volume da coleção Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a politica na transição para digmática, Santos discorre sobre o Estado moderno ocidental e a crise que sofre este contrato social que, ao mesmo tempo em que busca gerir as desigualdades e exclusões, é responsável por sua expansão. A obra A gramática do tempo: para uma nova cultura política observa o colapso da modernidade para o qual a única solução seria uma transformação social capaz de inventar uma nova democracia e, consequentemente, um novo modelo de Estado.
Na terceira parte da supracitada obra, o autor se ocupa de uma das contradições que caracterizam a sociedade moderna, isto é, a antinomia existente entre os princípios de emancipação – que correspondem à igualdade e à inclusão social – e os princípios de regulação – que se referem à desigualdade e à exclusão.
O sociólogo aborda as particularidades que envolvem os termos desigualdade e exclusão, cujo significado aparece de forma distinta conforme o momento histórico e a sociedade em que se desenvolve. Tanto a desigualdade como a exclusão são sistemas de pertença hierarquizada, mas enquanto na primeira a pertença se dá pela subordinação, na segunda ocorre pela não-pertença.
A desigualdade é um fenômeno socioeconômico assentado na integração social, de forma que os desiguais compreendem parte indispensável da sociedade, contudo ocupantes do setor mais baixo. Seu grande teorizador é Karl Marx, que enfatizou a desigualdade entre capital e trabalho. Já a exclusão tem sua base na segregação, configurando-se como fenômeno sociocultural profundamente desenvolvido por Michel Foucault. A estes sistemas de hierarquização somam-se o racismo e o sexismo, figuras híbridas que combinam desigualdade e exclusão.
A gestão controlada das desigualdades e da exclusão tem sua base ideológica no universalismo, seja pela homogeneização e consequente descaracterização das diferenças – universalismo antidi-ferencialista –, seja pela absolutização das diferenças, tornando-as incomparáveis – universalismo diferencialista.
Conforme Boaventura de Sousa Santos, esse tipo de gestão passou a ser, devido às pressões sociais, uma preocupação do Estado, cuja proposta, longe de buscar eliminar esses elementos, corresponde à manutenção da desigualdade dentro de níveis toleráveis, por meio de políticas sociais, e à relativização da exclusão, a partir da distinção entre as formas aceitáveis e aquelas não aceitáveis socialmente. O Estado Moderno vive, então, um modelo de regulação social que produz a desigualdade e a exclusão, mas procura mantê-las dentro de limites funcionais.
A aplicação desse formato de gestão ocorreu por intermédio da social-democracia e do Estado-Providência, isto é, pela própria negociação entre capital e trabalho, com o Estado promovendo o pleno emprego e uma política fiscal redistributiva.
O autor afirma a necessidade de se rever o modelo moderno de regulação social, já que o pilar “comunidade” parece ter sido olvidado. Há, assim, não dois, mas três pilares básicos: Estado, mercado e comunidade, estando os dois últimos compreendidos no que se intitula sociedade civil. É com base nesse terceiro pilar que se observará a reinvenção do Estado-Providência, de modo que as áreas sociais não regulamentadas pelo Estado não precisariam seguir uma lógica mercadológica, sendo organizadas por meio do elemento comunidade.
A intensificação do processo de globalização econômica e cultural tem acarretado alterações no sistema de desigualdade e exclusão. Economicamente, tem-se a revolução tecnológica que levou a um aumento do desemprego estrutural que, por sua vez, torna precária a integração hierarquizada garantida pelo trabalho, passando este a constituir mais um elemento de exclusão que de desigualdade. Por outro lado, culturalmente, o que se percebe é a eliminação das culturas locais por meio da imposição de uma cultura dominante, um modelo de massa e uma ideologia do consumo.
Se a globalização da economia ocasiona a mutação do sistema de desigualdade em sistema de exclusão, a globalização da cultura opera em sentido inverso, ocorrendo, assim, uma metamorfose no sistema de desigualdade e exclusão. Esta metamorfose, aliada a uma insuficiência de recursos para manter as políticas redistributivas, evidenciam uma crise no Estado Moderno. Diante deste contexto, o autor encontra na articulação entre as políticas de igualdade e de identidade uma orientação para a criação de novas formas democráticas multiculturais e consequente reinvenção do Estado.
O sociólogo pondera sobre o contrato social, o qual se funda na permanente tensão existente entre regulação e emancipação, isto é, entre o interesse público por um Estado capaz efetivamente de gerir a sociedade e o interesse particular por liberdade.
Percebe-se que o contrato social encontra-se embasado em três critérios de inclusão e exclusão: 1- inclui apenas o ser humano, excluindo a natureza; 2- inclui os cidadãos e exclui os não-cidadãos; 3- inclui o espaço público, excluindo a esfera privada. A gestão dessas tensões ocorre por meio dos princípios de interação – o regime geral de valores –, dos indicadores quantitativos, escalas e perspectivas – o sistema comum de medidas – e do espaço de deliberação nacional – o espaço tempo privilegiado.
O objetivo da contratualização é garantir a legitimação do governo, o bem-estar econômico e social, a segurança e a identidade cultural nacional. A persecução destas metas levou à politização do Estado, que vem expandindo a sua capacidade de regulação, e à socialização da economia por meio do reconhecimento da luta de classes, destacando-se neste processo a atuação dos sindicatos. Outra implicação da implementação do contrato social é a nacionalização da identidade cultural nacional, o que tem reforçado os critérios de exclusão e inclusão.
Hodiernamente, contudo, o contrato social está em crise, o que pode ser observado em seus pressupostos. O regime geral de valores não tem resistido à fragmentação da sociedade, de modo que grupos sociais distintos possuem significados distintos para os mesmos valores. O sistema comum de medidas encontra-se em momento de agitação, afetando a estabilidade das escalas.
O espaço-tempo nacional desaparece para dar lugar ao global e ao local. Essas mudanças evidenciam um aumento da exclusão e das desigualdades, afetando a estrutura moderna de Estado.
Boaventura de Sousa Santos afirma que o maior risco para a sociedade é a insurreição de um regime fascista, que pode assumir quatro diferentes formas: 1- apartheid social, isto é, uma divisão dentro das cidades entre zonas selvagens e zonas civilizadas; 2- fascismo paraestatal, em que atores sociais se sobrepõem ao Estado nas tarefas de coerção e regulação; 3- fascismo da insegurança, no qual há disseminação do medo e da ilusão de que apenas grupos privados podem propiciar a segurança que o Estado não é capaz de oferecer; 4- fascismo financeiro, em que os mercados financeiros passam a influenciar e regular outros setores da sociedade.
A necessidade de se evitar a iminente crise que o contrato social exige, consoante o sociólogo, que sejam obedecidos três princípios: pensamento alternativo de alternativas, ação-com-clinamen (ações rebeldes) e espaços-tempo de deliberação democrática.
Enfim, o autor discute a construção de um novo contrato social, com a reinvenção solidária e participativa do Estado. A transformação social possui dois paradigmas: a revolução e o reformismo. Enquanto este traz o Estado como agente capaz de solucionar os problemas da sociedade civil, aquele trata da necessidade de re¬forma no próprio Estado.
O paradigma do reformismo prevaleceu no sistema mundial com a criação do Estado-Providência, cuja atuação se desenrola seguindo estratégias de acumulação de capital, hegemonia e con¬fiança. Foi a partir da desarticulação das duas últimas estratégias e decorrente ascensão da estratégia de acumulação que, em 1980, começou a crise deste paradigma.
Após o reformismo, inaugurou-se a fase do Estado mínimo, em que o Estado era considerado irreformável e, portanto, deveria interferir o mínimo possível na sociedade civil, confirmando a ideologia neoliberalista. Somente com a superação desta fase foi possível assimilar a questão da reforma, disseminando o paradig¬ma da revolução. É neste ponto que Santos começa a pensar uma reinvenção que não observe a concepção dominante de Estado¬-empresário – que prega a privatização e a adoção dos critérios de produtividade importados da esfera privada na administração pública –, mas, sim, empregando a concepção de Estado-novíssimo¬-movimento-social.
A reinvenção do contrato social, assim, passa pela articulação do terceiro setor, o qual deve sofrer uma reforma simultânea com o Estado, em que sejam coordenadas a democracia representativa e a democracia participativa.
Neste contexto, torna-se essencial a redescoberta democrática do trabalho, com redução da jornada laboral, estabelecimento de padrões salariais mínimos, reforço na qualificação profissional e, finalmente, reinvenção do movimento sindical com participação direta dos trabalhadores.
A democratização do trabalho, a participação popular nas decisões de Estado, bem como a reconstrução dos direitos humanos e o reconhecimento da diferença são pontos chaves de discussão nesta obra, constituindo-se a base para a criação de um novo pacto social.
Diante dos argumentos expostos por Boaventura de Sousa San¬tos, percebe-se que o autor, partindo da noção de contrato social, trata da tensão existente entre regulação social e emancipação social. Esta parece ser uma questão recorrente sempre que se discute a contratualização, com a irreversível transição do homem do estado de natureza para o estado civilizado.
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) já discorria sobre a dificuldade de se manter a liberdade individual, direito natural do homem, apesar da necessária sujeição à vontade do Estado.
O problema, então, seria “trouver une forme d’association qui défende et protège de toute da force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’a lui-même et reste aussi libre qu’auparavant1”. (ROUSSEAU, 1978, p.178) A solução seria a contratação de um pacto não orientado pela violência e coerção, mas sim pela vontade geral, de forma que cada constituísse parte indissociável do Estado, de forma que a obediência a este não fosse mais que a obediência à própria vontade.
O pacto social rousseauniano funda-se, destarte, no conceito de vontade geral, isto é, na noção de comunidade. Santos recupera a ideia de comunidade do contratualista, identificando-a como um novo pilar que representa, junto ao Estado e ao mercado, a tríade que sustenta o contrato social. A ação da comunidade desenvolveria uma democracia participativa e retiraria do mercado a regulação das áreas sociais privatizadas.
A comunidade em Santos representa o terceiro setor privado e não fundamentado na lógica mercadológica. A inclusão deste terceiro pilar na modernidade levaria à criação de um novo modelo de regulação, no qual, por meio da luta social, seria alcançado um equilíbrio entre regulação e emancipação, tal como apresentado no séc. XVIII por Rousseau.
Conquanto Boaventura de Sousa Santos desenvolva seus argumentos com base no conceito de comunidade fundado por Rousseau, suas ideias são bastante atuais e inovadoras, já que evidenciam a crise do Estado moderno e sugerem uma reforma que validaria um modelo contemporâneo de regulação social.
Neste sentido, observam-se ainda as discussões desenvolvidas por autores como Wampler e Avritzer (2004), que também buscam, por meio da participação e deliberação pública, uma mudança social substancial que possa impulsionar a democracia. Afirma-se a importância da sociedade civil no processo de decisões, especialmente do envolvimento da comunidade.
A diferença basilar na obra de Santos, quando comparada à de Wampler e Avritzer (2004) reside no fato de que, enquanto estes mostram-se confiantes no modelo de participação adotado hoje no Brasil, aquele não percebe ainda alterações significativas no Estado atual, que ainda vive a crise em seu modelo de regulação. As perspectivas de Santos, entretanto, são positivas – embora um tanto utópicas, como designadas pelo próprio autor – quanto à possibilidade real de reforma social e política do Estado.
A importância do consenso para garantir a legitimidade de um Estado é ressaltada por Carlos Nelson Coutinho (1995), trazendo novamente a ideia aristotélica de interesse comum em oposição à visão liberal de John Locke de que o bom governo é aquele que assegura os interesses e direitos individuais. As exclusões e desigual¬ades constantemente evidenciadas na modernidade por Santos representam a marca do séc. XIX, na vigência do Estado Liberal.
Contrariando as afirmações de Santos, Coutinho (1995) não acredita na reforma do Estado sob a égide do capitalismo, já que este modo de produção não se coaduna com a plena cidadania política e social, que apontaria para a instauração do socialismo.
Os dois autores, todavia, reconhecem que se está diante de uma crise que exige um reordenamento da sociedade, mas diferem quanto ao meio que deve ser empregado para solucioná-la.
Santos não adota uma abordagem institucionalista, pois afirma ser imperativa a atuação da comunidade na regulação do Estado, contudo, defende posicionamentos que remetem ao institucionalismo de Marta Arretche (2007) quando afirma que a criação do terceiro setor, ao qual se atribui a tarefa de democratizar o Estado, depende da promoção de políticas estatais. Arretche (2007) destaca a importância de se estudar as instituições políticas, já que elas têm o condão de influenciar no comportamento dos atores políticos, e, como resultado, podem garantir a representatividade, a estabilidade e a democracia.
É o Estado que deve tomar a iniciativa, por meio de suas políticas, para desenvolver um terceiro setor forte. No entanto, é a partir da colaboração entre comunidade e Estado que se garante a natureza democrática dessas políticas públicas. A resposta, en¬tão, não estaria numa visão institucionalista, nem numa teoria da sociedade civil, mas naquilo que os autores Wampler e Avritzer (2004) denominam de públicos participativos, isto é, uma esfera de deliberação que surge da conexão entre Estado e sociedade.
Poder e comunidade apresentam-se, segundo Francis Wolff (2003), como as duas instâncias da política, remetendo mais uma vez à tensão entre regulação e emancipação que está no centro das discussões em Santos. Ao mesmo tempo em que o homem busca a vida em sociedade para garantir a igualdade, a liberdade e a paz, ele precisa de um poder central – o Estado – para regular e agir coercitivamente sobre esta mesma sociedade. Mais uma vez depara-se com a crise do contrato social e a emergência do contrato rousseauniano como resposta a essas tensões.
Boaventura de Sousa Santos revela que a solução para a crise da modernidade estaria, então, na criação de um novo pacto social que pudesse equilibrar as tensões entre regulação e emancipação, o que somente pode ser logrado a partir do fortalecimento do terceiro setor e democratização do Estado, unindo sociedade civil e sociedade política, comunidade e Estado.
Notas
1 Tradução da autora: encontrar uma forma de associação que defende e protege de todas as forças comuns a personalidade e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, entretanto, a ninguém outro que a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes.
Referências
ARRETCHE, Marta. A agenda institucional. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 64, jun. 2007.
COUTINHO, Carlos Nelson. Representação de interesses, formulação de políticas e hegemonia. In : TEIXEIRA, Sonia (Org.). Reforma sanitária: em busca de uma teoria. São Paulo: Cortez, 1995. p. 47-60.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Du contrat social. Paris: Librairie Générale Française, 1978.
WAMPLER, Brian; AVRITZER, Leonardo. Públicos participativos: sociedade civil e novas instituições no Brasil democrático. In: COELHO, Vera; NOBRE, Marcos (Org.). Participação de deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004. p. 210-238.
WOLFF, Francis. A invenção da política. In: NOVAES, Adauto (Org.). A crise do Estado-Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 23-54.
Camila Muritiba Tenório – Analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Email:[email protected]
Assassinato de mulheres e Direitos Humanos – BLAY (REF)
BLAY, Eva Alterman. Assassinato de mulheres e Direitos Humanos. São Paulo: Ed. 34, 2008. 248 p. Resenha: RAMOS, Maria Eduarda. Homicídio de mulheres: pesquisa e proposta de intervenção de Eva Alterman Blay. Revista Estudos Feministas v.18 n.2 Florianópolis May/Aug. 2010.
O livro Assassinato de mulheres e Direitos Humanos, da socióloga Eva A. Blay, apresenta a extensa pesquisa feita pela autora e por sua equipe. Com relação aos julgamentos de tentativas ou homicídios de mulheres, a autora questiona: “Será que nada mudou na passagem dos séculos XX para o XXI?” (p. 22). Sua pesquisa buscou entender o contexto de violências contra mulheres que resultam em mortes.
A pesquisa teve três focos objetivos: pesquisar os tipos de tentativa ou homicídio em que as mulheres são vítimas; pesquisar os homicídios ou tentativas em todas as faixas etárias; propor políticas públicas transversais que atuem no aspecto de hierarquia de gênero. Desde o início do livro, percebe-se a preocupação da autora com a intervenção no sentido de não apenas investigar, levantar informações ou teorizar, mas também de propor possíveis ações preventivas para evitar a violência contra mulheres. Trata-se de assunto pertinente, já que atualmente há inúmeras discussões sobre a Lei 11.340 (para coibir a violência doméstica e intrafamiliar contra mulheres) e a implementação de políticas públicas que não fiquem apenas na punição aos/às autores/as de violência. Leia Mais
Comércio/ Desarmamento/ Direitos Humanos: reflexões sobre uma experiência diplomática | Celso Lafer
Desde o final dos anos 60, quando publicou um artigo pioneiro nesta mesma Revista (“Uma interpretação do sistema das relações internacionais do Brasil”, RBPI, Rio de Janeiro: ano 10, nºs 39/40, 1967, p. 81-100), o professor e empresário Celso Lafer tem sido uma das presenças mais constantes, se não a mais freqüente, na bibliografia brasileira de relações internacionais. Gerações de estudantes das universidades e da academia diplomática (o Instituto Rio Branco do MRE) debruçaram-se sobre seus artigos e livros, dali retirando reflexões inovadoras sobre o papel do realismo e do idealismo na política internacional, lições enriquecedoras sobre as desigualdades intrínsecas entre as nações na ordem política e na economia internacional, sobre a situação do Brasil no comércio internacional, bem como contribuições de alto sentido filosófico e moral sobre a defesa dos direitos humanos e das causas humanitárias em um mundo em mudança. Mas Celso Lafer não apenas desempenhou-se como intelectual de grande brilho nas lides acadêmicas; ele também exerceu seu talento na gestão prática das relações internacionais e na política exterior do Brasil, retomando com isso uma herança familiar, pois que é sobrinho do falecido político Horácio Lafer, que foi ministro da Fazenda do segundo Governo Vargas e Chanceler de Juscelino Kubitschek. Leia Mais
Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos – Volume II | Antônio Augusto Cançado Trindade
O segundo volume do Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos se insere em um projeto de grande envergadura do Professor e Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Antônio Augusto Cançado Trindade. Trata-se de um momento singular na vida de um autor já consagrado, com inúmeros textos, artigos e livros publicados, que agora se dedica a fazer uma “síntese” de suas reflexões. Síntese, não no sentido comum, mas no sentido da aufhebung hegeliana, ou seja, da superação com conservação. Apoiado em seus escritos anteriores, o autor lança mão de sua imensa erudição e criatividade para dar um salto de qualidade e criar, nesse movimento dialético, uma obra nova que conserva os pilares fundadores de seus escritos anteriores, mas os supera em alcance e complexidade.
Na linha do Volume I, Cançado Trindade inicia o segundo volume pela defesa do caráter especial do direito internacional dos direitos humanos. Diferentemente dos tratados tradicionais, os tratados de direitos humanos prescrevem, segundo o autor, obrigações de caráter objetivo, a serem implementadas coletivamente, e procuram garantir o interesse geral, transcendendo os interesses individuais das Partes Contratantes. Com base nessa constatação, o autor retira algumas ilações referentes à interpretação e aplicação dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos (Capítulo XI). Em primeiro lugar, não se pode presumir limitações ao exercício dos direitos consagrados em tais instrumentos, a menos que estejam expressamente formuladas nos tratados. Leia Mais
A proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil | Antônio Augusto Cançado Trindade
O eminente jurista internacional, o Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, apresenta neste trabalho um estudo organizado e inédito acerca da trajetória cinqüentenária da proteção internacional dos direitos humanos sob mira da posição brasileira, e, desde logo, vislumbra um enfoque pioneiro da matéria quanto a sua evolução e aperfeiçoamento.
Quando trata da “Generalização da Proteção Internacional dos Direitos Humanos”, o nobre professor assinala que este processo desencadeou-se no plano internacional a partir da adoção em 1948 das Declarações Universal e Americana dos Direitos Humanos e que contou com a participação do Brasil, nos planos global (Nações Unidas) e regional (sistema interamericano). Leia Mais
Estudios Básicos de Derechos Humanos IV | Laura G. Stein e Gilda P. Oreamuno || Estudios Básicos de Derechos Humanos V | Sonia Picado, Antônio A. C. Trindade e Roberto Cuéllar || Estudos Básicos de Derechos Humanos VI | Antônio A. C. Trindade, Charles Moyer e Cristina Zeledón || Estudios Básicos de Derechos Humanos VII | Antônio A. C. Trindade
A publicação de quatro novos volumes da série “Estudios Básicos de Derechos Humanos” dá seqüência ao trabalho iniciado com a publicação, também pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), dos três primeiros em 1994 e 1995 (ver: BELLI, Benoni. “As duas dimensões da promoção dos direitos humanos”, Revista Brasileira de Política Internacional, 39 nº 1, p. 164-171, 1996). Tendo em vista o grande número de artigos que compõem os volumes que acabam de ser lançados, esta resenha mencionará os principais temas tratados e escolherá um ou dois estudos de cada volume para uma apresentação mais detida.
Os quatro volumes publicados em 1996 seguem o mesmo formato dos anteriores, compilando artigos e conferências de especialistas, acadêmicos e “práticos” que atuam na área. O volume IV dedica-se totalmente à reflexão sobre os direitos humanos das mulheres e inclui artigos que discutem diferentes aspectos dessa temática, tais como a IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), o significado da categoria de gênero, os direitos reprodutivos, a participação política e a discriminação contra as mulheres. Sobre os direitos reprodutivos, o artigo de Sonia Montaño (“Los derechos reproductivos de la mujer”) fornece um balanço dos avanços obtidos na Conferência de Pequim e descreve seus pressupostos e limites. A autora enfatiza o papel desempenhado pelos movimentos das mulheres na mudança do valor social conferido à sexualidade e à reprodução. Este seria um dos panos de fundo dos avanços da Conferência e que poderia ser resumido numa fórmula: a separação entre erotismo e fertilidade. Com efeito, a Plataforma de Ação de Pequim reconhece os direitos das mulheres como parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos. Também consagra o direito das mulheres em controlar todos os aspectos de sua saúde, em particular sua própria fecundidade. Leia Mais







 Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl
Pía Montealegre / www.merreader.emol.cl