Posts com a Tag ‘Nacionalismo’
A World after Liberalism – Philosophers of the Radical Right | Matthew Rose
Matthew Rose | Imagem: Tikvah Fund
Matthew Rose é especialista em História das ideias teológicas e políticas e doutor pela Universidade de Chicago. Seu novo trabalho – A World after Liberalism – Philosophers of the Radical Right (2021) – foi pensado no contexto da campanha de Donald Trump e da crise dos refugiados de 2016, quando ele notou que jornalistas dos EUA e da Europa começavam a citar autores da extrema direita cuja tradição era “mais profunda e filosófica sobre a vida contemporânea e mais cética sobre o lugar do cristianismo na cultura ocidental” (Mclemee, 2022). Do desconhecimento inicial, o autor avançou para uma análise das ideias radicais do pensador “nacionalista” e de direita Samuel Francis, publicado na revista First Things (2018). O artigo se estendeu e se transformou na obra atual, acrescida de notas (ou retratos) biobibliográficos de mais quatro intelectuais: “o profeta” alemão Oswald Spengler, “o fantasista” italiano Julus Evola, “o antissemita” estadunidense Francis Parker Yockey e “o pagão” francês Alain de Benoist.
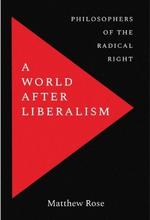
Os militares e a crise brasileira | João Roberto Martins
João Roberto Martins Filho Foto: Gabriela Di Bella/The Intercept
Em 2020, João Roberto Martins Filho publicou a segunda edição de O palácio e a caserna: a dinâmica militar das crises políticas na Ditadura (1964-1969), adaptação da sua tese de Doutorado em Ciência Política, orientada por Décio Saes e defendida em 1989. Nesse livro, manteve a proposição de que as forças armadas brasileiras configuram um partido político fortalecido na emergência uma “ideologia militar fortemente calcada na repulsa à política civil”, cujas pautas correlatas e consequentes seriam a estabilidade social e a garantia da ordem. (p.55). A tese contrapunha-se à interpretação da experiência militar como um conflito entre dois ideais capitalistas: o internacionalismo da Escola Superior de Guerra (ESG) e o nacionalismo de grupos minoritários. Um ano depois da republicação, Martins Filho nos brinda com outro estudos sobre “militares” e “crise” dos anos recentes, reunindo dezessete autores vinculados a instituições de ensino e pesquisa nas áreas de Estudos de Defesa, Segurança Internacional, Relações Internacionais, Estudos Estratégicos, Ciência Política e História Contemporânea, Antropologia e, ainda, profissionais do jornalismo e da área militar.

The Everyday Nationalism of Workers: A Social History of Modern Belgium | Maarten Ginderachter
Maarten Ginderachter | Foto: Maria Roudenko
Si bien este libro se ocupa de pasajes históricos de Bélgica lejanos para América Latina, considero pertinente llamar la atención sobre su estimulante propuesta: estudiar los nacionalismos “desde abajo”, es decir, colocando el foco de atención en las formas en que los nacionalismos son vividos por los ciudadanos “de a pie”; aquellos que no forman parte de las elites políticas o culturales, también desarrollan sus propias representaciones sobre la nación y la identidad nacional y cuentan con agencia propia para apropiarse o rechazar la simbología nacionalista oficial.
Se trata de una propuesta de suma valía ya que hasta ahora se han estudiado muy poco los horizontes de recepción de los nacionalismos. Y debo señalar que Maarten Van Ginderachter, autor del libro, no es ningún advenedizo en estos temas, toda vez que ha desarrollado esta línea de estudio en capítulos como “On the appropriation of national identity. Studying liux de mémoire from below”),1 que aborda las apropiaciones sociales y resignificaciones sobre los “lugares de memoria” de los que habló Pierre Nora. Además, ha coordinado libros como National Indifference and The History of Nationalism in Modern Europe, 2 donde se estudia el concepto de national indifference como guía para abordar los rechazos y apatías sociales que encuentra el nacionalismo oficial (el difundido por el Estado). Asimismo, coordinó el libro Emotions and Everyday Nationalism in Modern European History 3 donde se discute sobre las emociones que enrolan los nacionalismos vistos desde la perspectiva de la población en su vida cotidiana. Leia Mais
The Return of Cultural Heritage to Latin America: Nationalism, policy, and politics in Colombia, Mexico and Peru | Pierre Losson
Pierre Losson | Imagem: Twitter
El estudio que nos presenta Pierre Losson sobre la lucha por la devolución de patrimonio cultural de las naciones mexicana, colombiana y peruana y su intersección con el nacionalismo es más que estimulante. Esta obra de más de 200 páginas tiene como principal objetivo analizar tres casos de estudio correspondientes a las tres naciones y analizar su intersección con el discurso nacionalista, y cómo este se crea y transforma, la creación y expansión de la política cultural estatal e investigar quienes son los actores que reclaman y bajo que coordenadas lo hacen. Igualmente, cuenta con distintos apartados en los que se analiza las tensiones entre los reclamadores y el actor que tiene que ceder el patrimonio, así como las tensiones legales que se dan y las discusiones sobre si es mejor que el artefacto se quede en el lugar en el que estaba, en una tercera nación que, bajo distintas formas, lo expolió, para asegurar su conservación, o la devuelta al país o estado en el que tuvo su origen, a pesar de la peligrosidad que pueda suponer para su conservación. Leia Mais
Entre Ríos/siglo XIX. Lenguajes y prácticas, en un imaginario político dinámico y cambiante | Griselda Pressel, Fabián Herrero
El interés general y renovado que ha evidenciado la historiografía rioplatense del siglo XIX –sobre todo de la primera mitad– en atender las experiencias de construcción de institucionalidad, llevadas adelante por los Estados provinciales, da cuenta de una serie de aspectos complejos y cruces múltiples que, a pesar de encontrar paralelismos, adquieren, a su vez, en los diferentes espacios, características particulares. Precisamente, es desde esta perspectiva que, como sostiene Sonia Tedeschi, “resulta interesante observar cómo se estructura y desarrolla la experiencia de una sociedad pequeña situada […] casi en la periferia de los grandes centros políticos: los Entre Ríos” (2022, p. 185). Leia Mais
La invención de España. Leyendas e ilusiones que han construido la realidad española | Henry Kamen
La narrativa histórica de cualquier país, vista desde el prisma del nacionalismo, siempre suele tener una gran cantidad de interpretaciones erróneas, prejuicios culturales, mitificaciones populares y condicionantes políticos. El caso de España es especial, pues no existe en Europa un país con una visión histórica más distorsionada de sí mismo. Desde mucho antes de la Edad Contemporánea, los libros de historia estuvieron llenos de mitos y leyendas, que coadyuvaron a la formación de la identidad nacional, pero que, al mismo tiempo, han contribuido a conformar un potente imaginario colectivo sobre el surgimiento de España como nación.
Henry Kamen, 1 celebérrimo hispanista, considera que España es el resultado de milenios de flujos migratorios, conquistas militares, fusiones de pueblos, aculturaciones cíclicas y confrontaciones religiosas. En varias entrevistas, el autor ha confesado que le resultó muy difícil crear una estructura uniforme y equilibrada para La invención de España. Leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. El libro se compone del apartado introductorio, diecinueve capítulos, 2 la bibliografía y el índice onomástico. El cuerpo del texto establece un arco temporal que va desde la romanización peninsular hasta la descomposición del Antiguo Régimen y el surgimiento del Estado liberal. Leia Mais
Leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961 – Karine Ramondy
Detalhe de Capa de Leadrs assassinés en Afrique centrale 1958-1961 / Karine Ramondy /
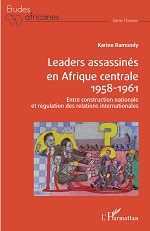
En suivant la trajectoire de quatre leaders d’Afrique centrale au temps des indépendances, Barthélémy Boganda (République centrafricaine), Patrice Lumumba (République du Congo), Félix Moumié et Ruben Um Nyobè (Cameroun), Karine Ramondy interroge l’assassinat politique comme moyen de réguler les relations internationales et comme fondement de la construction nationale. Elle contribue par ce travail au renouvellement de l’historiographie des indépendances et l’histoire des mémoires en Afrique centrale.
Karine Ramondy, chercheuse associée à l’UMR Sirice de l’université Paris-I, est spécialiste de l’histoire de l’Afrique dans les relations internationales au XX e siècle, de l’histoire des violences coloniales et postcoloniales et de l’anthropologie historique du combattant. Son ouvrage, Leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961 : entre construction nationale et régulation des relations internationales, paru aux éditions L’Harmattan en 2020, suit la trajectoire de quatre leaders d’Afrique centrale des indépendances, Barthélémy Boganda (République centrafricaine), Patrice Lumumba (République du Congo), Félix Moumié et Ruben Um Nyobè (Cameroun). Au prisme de leur assassinat politique – défini comme le « meurtre intentionnel d’une victime, perpétré pour des raisons liées à sa position publique éminente, commis à des fins politiques » (p. 17), Karine Ramondy défriche l’histoire de trois États en croisant les échelles durant près d’une décennie, sans pour autant essentialiser « l’Afrique centrale ». L’ouvrage contribue au renouvellement de ce champ historiographique initié depuis les années 1980, dans le sillage des travaux de Jean-François Bayart, Béatrice Hibo, Florence Bernault, Rémy Bazenguissa, Françoise Blum ou encore Daniel Abwa.
Avec la tâche délicate de travailler à la première étude historique sur le sujet, l’historienne s’est appuyée sur des sources variées mais dispersées : des archives étatiques des anciens pays colonisateurs, des entretiens de « témoins », des archives de la commission de tutelle de l’ONU ou encore des archives de partis, dirigeants et personnalités du temps de l’indépendance. Certaines de ses sources figurent d’ailleurs dans une partie annexe très riche, comportant des photographies, des extraits de correspondance ou encore des documents d’archives, publiques ou privées. La recherche adopte une approche biographique combinée à une approche comparative, de manière à « cerner des connexions à l’échelle globale » (p. 20). Il s’agit de s’interroger sur des invariants potentiels, mais aussi sur le rôle des puissances occidentales et les complicités liés à ces assassinats. L’ouvrage se divise en quatre parties. Si les deux premières parties se concentrent sur l’émergence de ces self-made men et les processus qui conduisent à leurs morts, les deux dernières élargissent la focale et les font revenir « à la vie » pour évoquer, dans le cadre des relations internationales, les synergies qui ont favorisé leur disparition.
Des leaders encombrants
Dans une première partie, Karine Ramondy commence par étudier la « fabrique du leader », étape préalable pour montrer en quoi les leaders apparaissent rapidement comme « encombrants » (p. 39) – pour leurs rivaux locaux comme pour les puissances occidentales qui échouent à les influencer. Une situation qu’elle résume en ces mots, inspirés par l’écrivain Albert Memmi : « à vouloir s’asseoir sur deux chaises, on est assis nulle part » (p.41). L’enfance et l’éducation des leaders est d’abord évoquée : ils sont des « enfants des
marges, orphelins ou délaissés par leurs parents d’origine très modeste dont aucun n’est issu d’un lignage ou d’une chefferie prestigieuse » (p. 41). L’importance de l’école pour ces élites, dont les membres étaient appelés « évolués », est soulignée : il s’agissait d’en faire, « des auxiliaires de qualité mais sans trop de qualités » aux yeux des colons (p. 43). Patrice Lumumba, Ruben Um Nyobè, Félix Moumié et Barthélémy Boganda étaient considérés comme « évolués » car européanisés, une situation que l’historienne décrit comme difficile : ils étaient « détachés de leurs racines et ancrés dans un nouvel univers qui leur est hostile » (p. 63).
Karine Ramondy explore également leurs relations avec les femmes, révélatrices de leurs tiraillements et de leurs contradictions. Elle évoque notamment le rôle de la mobilisation des femmes pour l’indépendance, prenant l’exemple de Ruben Um Nyobè et de son épouse Marthe Ngo Mayack, qui prennent le maquis en famille (p. 69), ou encore le décalage entre le discours officiel des révolutionnaires sur l’égalité des sexes et la persistance de la sujétion de leurs épouses dans la sphère domestique, prenant l’exemple de Léonie Abo, mariée de force et soumise aux décisions de Mulele (p. 70). Les leaders étudiés, qui doivent leur réussite à leur volonté et à leur force de travail hors norme, se sont attachés à forger un leadership « à l’africaine », incarnation de la modernité et du développement (p. 74). Dans des pages passionnantes, Karine Ramondy étudie les références à la sorcellerie et aux forces occultes dans le discours des opposants aux leaders, dont se jouent parfois ces derniers ; ainsi Boganda détourne sa réputation de « possédé » (p. 76), alors que son statut de prêtre semble avoir facilité le syncrétisme entre pratiques de sorcellerie et christianisme aux yeux des Centrafricains.
Sur les circonstances et les contextes rapprochés des assassinats, Karine Ramondy montre que les leaders ont été chassés comme des animaux, faisant écho aux travaux de Lancelot Arzel sur la pratique de la chasse coloniale (p. 92). L’animalisation des leaders a en effet été très largement relayée par les médias, comme pour la traque de Ruben Um Nyobè, réfugié dans le maquis en 1955 (p. 96). Dans le cas de Patrice Lumumba, des photographies de son cadavre ont été diffusées ; ainsi, le leader devient trophée, « doublement tué, une première fois par l’arme à feu, une seconde par l’objectif de la caméra » (p. 99). Sur la question de la responsabilité des assassinats, Karine Ramondy a examiné les enquêtes menées comme des précédents significatifs pour l’histoire des crimes politiques, en montrant aussi leurs failles. Elle étudie notamment le rapport Bellonte sur l’accident d’avion ayant causé la mort de Boganda, en mettant en évidence les négligences de la commission d’enquête belge – avec toutefois l’idée qu’elle est un modèle du genre, l’équivalent n’ayant jamais été réalisé par le gouvernement français.
Éliminer les leaders
L’historienne s’intéresse dans une deuxième partie de l’ouvrage aux processus d’« élimination politique, physique et mémorielle » (p. 137) communs aux leaders étudiés. Ces processus reposent sur l’usage de la justice et des médias ; une fois morts, les dépouilles et les mémoires des leaders sont malmenées, ce qui n’empêche pas qu’ils soient pour la plupart devenus des icônes dans leurs pays respectifs. Les procédures judiciaires menées à l’encontre des leaders sont envisagées par l’historienne comme des armes politiques – « défensives ou offensives, dissuasives ou factices » (p. 139), utilisées dans le maintien de la mainmise du lobby colonial sur les « indigènes ». Les procès à l’encontre des leaders ont un triple objectif : paralyser, museler, décrédibiliser (p. 140). Ainsi, l’acharnement judiciaire contraint Ruben Um Nyobè à prendre le maquis pour fuir la prison ; la volonté de briser l’immunité parlementaire des leaders poursuit le même but.
Concernant la défense des leaders, Karine Ramondy porte une attention particulière aux réseaux d’avocats. Souvent financé par les partis communistes, le recours aux avocats occidentaux a pour conséquence le renforcement des suspicions d’accointance avec l’URSS, dans le contexte de la guerre froide. L’exemple des stratégies de défense employées par Marie-Louise Jacquier-Cachin, l’une des avocates de Ruben Um Nyobè en 1955, est particulièrement saisissant (p. 167). Avocate communiste ayant participé à la défense des ouvriers de l’usine Renault en grève, à celle de Duong Bach Maï à Saïgon ou
encore de militants poursuivis pendant la guerre d’Algérie, elle appuie sa défense sur l’idée selon laquelle les garanties de l’État de droit ne seraient pas respectées, cherchant à faire reconnaître la nature politique et non criminelle de ces actes liés à la lutte pour l’indépendance.
Comme l’arme judiciaire, l’arme médiatique participe pleinement de la volonté de nuire aux leaders. Pour décrédibiliser leurs actions, la presse comme la radio ont été largement employées pour attaquer leur image, ou censurer leurs idées aux échelles nationales mais aussi internationales. Leur irresponsabilité, leur incompétence, les accusations de débauche qui leur sont faites ont participé à leur diabolisation voire à leur animalisation. Parfois, des rumeurs ont annoncé leur décès avant leur véritable mort (p. 176). Cependant, les médias peuvent aussi être envisagés comme au service du leadership. Ainsi, le journalisme a
souvent été conçu comme un tremplin politique au moment des indépendances, de manière à rétablir l’équité de l’information. Des journaux d’opinion ont permis d’accompagner la lutte pour la souveraineté, comme La Voix du Cameroun ou encore L’Étoile, fondés par l’Union des populations du Cameroun (p. 206). L’élimination mémorielle des leaders, au-delà de leur mort, est l’objet d’un long développement : comme pour la damnatio memoriae dans la Rome antique, la mémoire des leaders est visée par un acharnement visant à priver ceux-ci des honneurs dus aux dépouilles : les corps sont violentés et privés de sépulture. Ainsi, le corps de Ruben Um Nyobè fut traîné, ensanglanté et son visage défiguré ; celui de Patrice Lumumba est quant à lui entièrement dissous dans la soude (p. 218 et 219). Bien que l’intention fût d’éviter la renaissance mémorielle des leaders, ces outrages ont favorisé l’émergence du statut d’icônes mémorielles, qui subsiste jusqu’à aujourd’hui dans le cas de Lumumba, Boganda et Nyobè (p. 232).
Les espoirs déçus de l’ONU et du panafricanisme
La troisième partie est consacrée aux entreprises politiques et diplomatiques des leaders impliquant l’ONU et les acteurs du panafricanisme, qui se sont souvent soldées par des désillusions. L’ONU s’est grandement souciée des indépendances des colonies dans les années 1955-1965 dans la mesure où celles-ci ont modifié l’équilibre des puissances. Le recours à l’organisation a d’abord fait l’objet d’espoirs pour les leaders, dans la perspective d’un rapprochement entre idéaux de la décolonisation et droits de l’homme. L’Assemblée générale, bien plus que le Conseil de sécurité dont ils étaient exclus, a constitué pour eux une tribune pour exprimer leurs idées et rechercher des soutiens. Cependant, l’inexpérience des leaders, les entraves qui leur ont été opposées ou les attaques du lobby colonialiste ont eu globalement raison des espoirs placés en l’ONU. Ces tentatives des leaders ne sont cependant pas restées vaines ; Nyobé tire par exemple une certaine légitimité de son déplacement à l’ONU au moment de son retour au Cameroun (p. 262). Dans l’accompagnement de l’émergence de la jeune République du Congo, l’action de l’ONU est devenue un cas d’école en relations internationales. L’assassinat de Lumumba n’a pas été évité, mais la réaction de l’ONU est aujourd’hui reconnue comme l’une des actions les plus abouties de la force onusienne (p. 282). Malgré cela, c’est l’inaction qui caractérise globalement le bilan de l’action onusienne pendant les indépendances.
Le panafricanisme a lui aussi suscité une certaine exaltation des leaders, puisque synonyme pour eux de grand retour des Africains dans l’histoire intellectuelle et politique des relations internationales (p. 301). Les projets d’union et de solidarité régionales et continentales ont cependant échoué eux aussi, l’Organisation de l’unité́ africaine (OUA) créée en mai 1963 n’aboutissant qu’à un simple organe de coopération étatique. Le projet de Boganda d’unir l’Afrique centrale latine a également connu l’échec, à cause notamment de ses difficultés à constituer une élite politique. Enfin, le panafricanisme a été éprouvé par la crise congolaise (1958-1960), alors que la conférence des peuples africains d’Accra le 5 décembre 1958 était vue comme un évènement matriciel de la solidarité africaine (p. 340). Cette conférence appuie le leadership de Patrice Lumumba, dont la formation politique est stimulée par son amitié avec Frantz Fanon, partisan comme lui de l’unité africaine (p. 357). Pourtant, comme pour le recours à l’ONU, le passage « de la théorie à la pratique panafricaine » (p. 365) se solde par un échec, incarné par la mort de Lumumba.
Une géopolitique néfaste aux leaders
La quatrième et dernière partie évoque une géopolitique néfaste pour les leaders et leur survie, due aux effets négatifs de la bipolarisation des relations internationales pour les indépendances africaines conjuguée à la persistance du néocolonialisme. Pour l’historienne, les archives ont remis en question la place des leaders africains, longtemps sous-estimés et considérés comme passifs (p. 371). Ils ont en effet été capable de s’affirmer dans un monde bipolaire, et l’étude de cette affirmation contribue à accorder à l’Afrique une historicisation et une spécificité. Karine Ramondy étudie notamment la perception des leaders africains par les dirigeants des grandes puissances, notant par exemple que Staline les juge défavorablement contrairement à Khrouchtchev, qui accepte leur neutralisme en se contentant de leur anti-impérialisme (p. 374). Les Soviétiques considèrent les leaders africains avec prudence, dans certains cas plus que d’autres : par exemple, chez Barthélémy Boganda, le rejet du communisme était constitutif de son identité politique. A l’inverse, Félix Moumié a cultivé une ambiguïté avec le communisme (p. 400) – des liens ont pu être fatals pour Karine Ramondy, selon laquelle « l’injonction à être communiste a tué les leaders » (p. 410).
Le rôle des renseignements occidentaux pour « favoriser les hasards » (p. 411) est longuement appréhendé dans le dernier chapitre de l’ouvrage. Sous le sceau du secret d’État, leur but est idéologique, correspondant à une volonté de contrôle. Ainsi, les services secrets du Royaume-Uni, des États-Unis ou encore de la France comptent parmi les plus actifs pour favoriser la place des puissances occidentales en Afrique centrale. En France, le nom de Jacques Foccart, souvent associé à la Françafrique, apparaît inévitablement, tout comme la figure du barbouze défini par Karine Ramondy par son action secrète, son fervent gaullisme et anticommunisme et son « sens du devoir » (p. 417). Foccart, qui, régulièrement informé sur Moumié, a sans aucun doute donné un « feu orange » à son assassinat (p. 459). Les réseaux semi-officiels et officieux, comme celui des appuis locaux – Fulbert Youlou en AEF ou encore Houphouët-Boigny en AOF par exemple – ont déployé de nombreux efforts pour étouffer les aspirations des leaders. Fulbert Youlou, qualifié de « fossoyeur de l’idéal
centrafricain » (p. 417), a cherché à déstabiliser les tenants de la souveraineté centrafricaine au profit des puissances coloniales. Les leaders avaient ainsi peu de chance de rester en vie : officiellement et officieusement, tout a été fait pour entraver leurs actions, qui se heurtaient aux intérêts français, belges, britanniques, ou américains en Afrique centrale mais aussi aux intérêts d’acteurs africains souvent proches des leaders.
Les leaders étudiés, considérés aujourd’hui comme les pères des nations
indépendantes, restent des références au sein des sentiments nationaux qu’ils ont eu à cœur de créer (p. 463). Lorsque Karine Ramondy explique que pour certains Africains, les malheurs que connaissent la République centrafricaine et la République démocratique du Congo s’expliquent par l’outrage fait à leurs pères fondateurs (p. 243), il apparaît clairement qu’à défaut d’être des prismes de lecture uniques des destins nationaux, il est indispensable de faire l’histoire de ces assassinats politiques. Encore très présents dans les esprits, un retour sur ces assassinats est essentiel pour les constructions nationales. L’ouverture d’archives, comme celles des gouvernements Ahidjo et Biya pour le Cameroun, permettra sans doute de nourrir d’autres recherches en ce sens. Le travail de Karine Ramondy ouvre également des possibilités de recherche sur d’autres contextes plus ou moins lointains – le Maroc et l’assassinat de Mehdi Ben Barka (1965) par exemple, ou encore, plus récemment, celui de Laurent-Désiré Kabilé au Congo-Zaïre (2001).
Liens utiles:
La présentation de l’ouvrage sur le site de l’éditeur
Quelques podcasts de RFI portant sur les recherches de Karine Ramondy :
1) https://www.rfi.fr/fr/emission/2018…
affaire-internationale
2) https://www.rfi.fr/fr/podcasts/2020…és-lumumba-à-um-nyobe-spéciale-
indépendance-rdc
3) https://www.rfi.fr/fr/podcasts/2020…
4) http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200…
%C3%A9tait-leader-g%C3%AAnant-les-fran%C3%A7ais
Sihem Bella – Professeure au lycée Jean Moulin (Roubaix)
[IF]Graeco-Roman Antiquity and the Idea of Nationalism in the 19th Century. Case Studies | T. Fögen, R. Warren
El libro, fruto de un congreso organizado por los editores en Durham en junio de 2013, reúne estudios de caso sobre el uso de la Antigüedad clásica durante los nacionalismos en el siglo XIX. La obra consta de once artículos, donde se analizan casos de Estados europeos desde diferentes disciplinas. Leia Mais
The Crime of Nationalism: Britain, Palestine, and Nation-Building on the Fringe of Empire – KELLY (THT)
KELLY, Matthew Kraig. The Crime of Nationalism: Britain, Palestine, and Nation-Building on the Fringe of Empire. Oakland, CA: University of California Press, 2017. 264p. Resenha de: SCHONK JR., Kenneth. The History Teacher, v.52, n.3, p.529-530, may., 2019.
Matthew Kraig Kelly argues that the long-held conception that Palestinian nationalism is equal to criminality was a conscious construct by British and Zionist (“Zionist” is used here to represent Israeli nationalists) agents to marginalize and negate Arab agency in the Middle East. At its core, The Crime of Nationalism is the story of how ideas, opinions, and biases become discourse. Specifically, Kelly reconstructs the evolution of what he calls the construction of a “crimino-national” narrative of the Great Revolt of 1936 and its immediate and long-term aftermath (p. 2). At the onset of this era, Palestinian insurgency was taken by the British at face-value: a burgeoning nationalist movement seeking political agency in the years after Sykes-Picot, when British interests in southwest Asia were increasingly influenced by Zionist leaders. As tensions flared in 1936, the British began to categorize Palestinian action as criminal and terrorist, thereby associating any and all action by the latter as irrationally violent and dissolute. Within a period of just a few years, Arab transgression—whether it was conducted through political negotiation or in public protest—was defined as violence intent on undermining the ascendant Anglo-Zionist social order.
Kelly queries as to who has the right to use force. Through the use of letters, political missives, and newspaper accounts of all sides involved in this conflict, he convincingly argues that the British came to undermine Palestinian efforts to utilize violent—and peaceful—tactics in their nationalist endeavors. Such efforts yielded myriad results for the British. Primarily was that Arab action in Palestine was saddled with a discourse of violence, thereby negating any nationalist outcome.
Relatedly, such a discourse has had the effect of creating a global consensus that Palestinian nationalism was—and is—tantamount to criminal and terrorist activity.
Moreover, this direct involvement by the British in defining Palestinian action helped to justify any violent actions by the British and Zionists as being done in the name of justice and the maintenance of social order. In sum, these actions enabled the British and Zionists to self-justify their own use of force against Palestinians. This narrative transgresses both the historiography and conventional wisdom of the era that, Kelly argues, has been constructed by the British and has been incorrectly reified in scholarly works on the history of Palestine. As such, Kelly serves to correct this historiography, shedding light on how an ahistorical narrative becomes cemented.
This book has many applications for syllabi in myriad undergraduate and graduate courses on the modern Middle East, as well as those on the British Empire.
Adopters should not be dissuaded by the relatively brief time period covered in The Crime of Nationalism, as the implications of the events in question have relevance up through the present day. Less obvious is the teaching applicability in global history courses on nationalism, crime and criminality, and historical theory. Kelly consistently and effectively demonstrates how events in Palestine were influenced by and had connections to historical events and agents abroad. One such example regards the specter of recent events in Ireland, and how this shaped Britain’s response to the Great Revolt of 1936 and the events that followed in its wake. Thus, the book has a transnational aspect that provides a point of entry—and value—for those who may not be experts in the history of the Middle East. Moreover, Kelly’s arguments regarding the discursive construct of criminality will be of great interest and use for courses on the history of law and order. Additionally, the book has applicability in courses on historiography and historical methods. How Kelly corrects the narrative of the Great Revolt demonstrates the value of an applied empiricism that employs a post-modern analysis of the construction of historical discourse. As noted above, Kelly rightfully intends this as a work that corrects a historiography that has long perpetuated mistruths about the events of 1936. In this regard, The Crime of Nationalism teaches to transgress—that is, how to skillfully and tactfully provide voice to the historically marginalized.
Kenneth Schonk Jr. – University of Wisconsin–La Crosse.
[IF]Raza y política en Hispanoamérica – PÉREZ VEJO; YANKELEVICH (RHYG)
PÉREZ VEJO, Tomás; YANKELEVICH, Pablo (coords.). Raza y política en Hispanoamérica. Ciudad de México: Iberoamericana, El Colegio de México y Bonilla Artiga Editores, 2018 (1ª edición 2017). 388p. Resenha de: ARRE MARFULL, Montserrat. Revista de Historia y Geografía, Santiago, n.41, p.199-205, 2019.
El conjunto de trabajos presentados en esta compilación realizada por Tomás Pérez Vejo y Pablo Yankelevich, que en total suman diez, incluyendo dos capítulos de los compiladores, es un apronte serio y actualizado del ya muy referido –aunque nunca agotado– tema de la construcción nacional en las diversas repúblicas americanas. El elemento novedoso en este caso es la sistemática inserción de la discusión sobre la “raza” que guía cada uno de estos trabajos, en un esfuerzo por hacer converger los idearios de identidad nacional que emergieron en América tras las independencias y las conflictivas relaciones político-sociales evidenciadas en estos espacios, a las que, con cada vez más fuerza y honestidad, definimos como racializadas .
Para los compiladores, proponer el análisis de estas dinámicas nacio- raciales en los siglos XIX y XX aparece como necesario ya que, según indican, “no es que la raza formase parte de la política, sino que era el fundamento de la política misma” (p.12). Partiendo, así, de esta premisa, los diez autores convocados ensayan y demuestran cómo es que las ideologías racialistas que se gestaron en América desde la conquista o desde el siglo XVIII ilustrado, calaron profundamente y configuraron de manera compleja las propuestas romántico-nacionalistas, liberales y cientificistas de los siglos XIX y XX –a lo menos–, hasta mediados del siglo pasado. Leia Mais
O pensamento Nacionalista Autoritário (1920-1940) | Boris Fausto
Tendo em vista a história recente do Brasil, é possível perceber a adoção de um favoritismo às tendências nacionalistas e autoritárias, seja por meio de discursos oficiais, debates cotidianos, e/ ou nas grandes mídias. A considerável ascensão da corrente política direitistas no mundo, as (re) construções dos ideais nacionalistas e o avanço do conservadorismo, nos conduzem a questionar de que forma estes processos ocorrem. Tendo em vista este plano de fundo político-econômico, torna-se necessário (re) visitar os clássicos da histografia nacional, buscando compreender e discutir as teorias de historiadores, provendo diálogos e propondo hipóteses, o que leva a reflexões acerca atual cenário.
Neste sentindo, o presente trabalho trata-se de uma resenha da obra O Pensamento Nacional Autoritário (1920-1940), cujo o autor é Boris Fausto, que possui graduação e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo e Coordenador de Ciências Humanas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pesquisador sênior da Rockefeller Foundation e professor visitante da Brown University. A obra supracitada foi publicada em 2001 trazendo esclarecimentos e discussões de aspectos preponderantes sobre a temática, tais quais: conceito de autoritarismo, totalitarismo e suas distinções, espectro político – direita, esquerda e suas ramificações –, constituição do pensamento nacional autoritário no Brasil, acrescido da visão do autor sobre tal processo histórico, relacionando autoritarismo e racismo. Nesse sentido, a autora deste, propõe discutir as ideias da obra e propiciar reflexões destas frente ao atual contexto brasileiro. Leia Mais
Sergio Magalhães e suas trincheiras – SILVA (RH-USP)
SILVA, Roberto Bitencourt da. Sergio Magalhães e suas trincheiras: nacionalismo, trabalhismo e anti-imperialismo – uma biografia política. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. Resenha de: MALDONADO, Luccas Eduardo Castilho. Lutas e batalhas de Sergio Magalhães: um intelectual orgânico nos trópicos. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Paul Ricoeur é um conhecido autor por dissertar sobre as aproximações e os distanciamentos existentes entre a memória, a ciência histórica e o esquecimento. No tecer de seus argumentos, o escritor alerta: independentemente da forma de se conhecer o passado, seja a história, seja a memória, ela sempre será uma expressão do “caráter inelutavelmente seletivo da narrativa”. Assim sendo, por serem o que são, por optarem e omitir sincronicamente, os usos da memória e da história “são, de saída, abusos do esquecimento”.2 Jacques Lee Goff defendeu posições semelhantes, porém expande o raciocínio a ponderar também a realidade objetiva: “De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores”.3 Tais leituras revelam uma perspectiva muito importante para o ofício do historiador: por haver formas de seleção dentro e fora do controle do escritor e por ser um discurso sobre a concepção dos grupos sociais a respeito do passado, o exercício histórico sempre será uma prática política no cerne das disputas ideológicas.
Em grande medida, a recente publicação do livro Sergio Magalhães e suas trincheiras: nacionalismo, trabalhismo e anti-imperialismo – uma biografia política é um movimento capaz de ser ponderado dentro dessa realidade de seleções, inclusive no âmbito do esquecimento porquanto trata-se de um trabalho histórico responsável por ir à contramão do obscurantismo sedimentado sobre a figura de Sergio Magalhães. O seu autor, Roberto Bitencourt da Silva, ao analisar um qualitativo conjunto documental, revelou diversos aspectos da trajetória de um homem que, nas décadas de 1950 e 1960, empreendeu um expressivo papel na construção e na defesa de um projeto nacional de desenvolvimento econômico autônomo e, na contemporaneidade, conquanto a sua importância histórica, se caracteriza por ser pouco rememorada.
Silva é um pesquisador que há poucos anos defendeu o seu doutorado, um estudo sobre a biografia e o pensamento de Alberto Pasqualini, publicado como livro pela editora da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2013,4 e que, desde então, aprofunda ainda mais a sua contribuição ao pensamento acadêmico brasileiro. Toda a sua carreira na pós-graduação é marcada pela exploração de uma temática central: o trabalhismo. Desde seu mestrado até os seus últimos estudos, tal assunto foi tangido de alguma forma. Nesse sentido, uma das características mais interessantes, expressiva de muitos dos seus predicados de trabalho, encontra-se no grupo de pensamento por Silva frequentado. O seu orientador de doutorado, o professor Jorge Ferreira, é um dos principais nomes, dentre uma reunião de pesquisadores, que está a problematizar e a revelar diversas perspectivas e informações a respeito do trabalhismo e da Quarta República nos últimos anos.
A última obra de Silva, “Sergio Magalhães …”, é um significativo estudo resultado de um pós-doutorado a respeito da biografia e do pensamento do três vezes deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Sergio Nunes de Magalhães Jr. Mais precisamente, materializa-se em papel o (re)descobrir de como um dos políticos mais preocupados com a economia brasileira construiu uma carreira dentro do serviço público carioca, foi eleito para o Legislativo federal, projetou e aprovou uma das leis mais polêmicas de sua época, concorreu contra Carlos Lacerda em um pleito para um cargo executivo e foi cassado pelos militares no primeiro Ato Institucional.
Esses e outros caminhos por Silva buscados e explorados engatilham-se em uma crítica que a obra, junto de outros livros lançados nos últimos anos, visa constituir ao paradigma explicativo denominado populismo.5 Categoria responsável por conquistar uma expressiva influência no final do século passado, um exemplo desse prestígio foi o manejo constante por muitos autores de materiais didáticos que, ao se referirem ao período entre o Estado Novo e a Ditadura Militar, optaram pelo termo “República Populista”. Assim, Silva reforça uma posição contrária, referente em grande medida às formas expostas por Francisco Weffort em O populismo na política brasileira6 e Octavio Ianni em O colapso do populismo no Brasil,7 quanto ao caráter explicativo do conceito populismo. Para ele e outros acadêmicos, a generalidade e a amplitude da formulação, a ir de Eurico Gaspar Dutra, a passar por Getúlio Vargas e a chegar em Jânio Quadros e João Goulart, para citar apenas os presidentes, acaba por ser demasiadamente vaga e, por conseguinte, simplificadora de uma série de relações muito mais complexas na realidade histórica.
A biografia de Sergio Magalhães, lançada no primeiro semestre de 2017, conta com cinco capítulos, cada um a desenvolver funções mais ou menos precisas no sentido de exploração temática. As suas notas de rodapé são particularmente interessantes, pois revelam o conjunto documental consultado por Silva: um acervo variado de jornais, livros autorais de Magalhães e entrevistas com familiares e próximos do deputado.
No primeiro capítulo da obra, “‘Um dos que melhor conhece os nossos problemas’: o fascínio pelo sertão, o reconhecimento e os combates parlamentares” (p. 23-60), o autor realiza um movimento descritivo de três tempos que, resumidamente, principia na vida e origem familiar em Pernambuco, passa pelos trabalhos dentro das instituições estatais no Rio de Janeiro e se encerra com a dissertação ao alto dos projetos intentados por Sergio Magalhães dentro da Câmara dos Deputados entre 1955 e 1964. Trata-se de um trecho, apesar de não se afirmar como tal, introdutório para o assunto que será desdobrado com maior profundidade nos textos posteriores, uma vez que oferece uma narrativa diacrônica da trajetória do personagem e dos seus principais projetos políticos, porém sem aprofundá-los significativamente.
Após o primeiro capítulo, principia-se “‘O Brasil virou um quintal do imperialismo’: o pensamento político e econômico de Sergio Magalhães” (p. 61-104), passagem na qual Silva realiza um conjunto de movimentos descritivos e duas exposições das matrizes conceituais balizadoras do seu trabalho.
Na exploração das categorias, o escritor afirma uma opção pela filiação a uma perspectiva contextualista, nas acepções de John Pocock e Quentin Skinner, posição que, no desenvolvimento científico, significa dar grande importância ao contexto intelectual e histórico quando se analisa uma obra ou uma trajetória de um pensador. Tal arranjo, todavia, não corresponde à desconsideração das possibilidades criadoras de um personagem, mas propõe-se a ponderá-las dentro de um universo múltiplo e em um tempo específico.8 A outra chave analítica para o trabalho é a orientação do conceito intelectual assumido para estudar a trajetória de Magalhães. Após apresentar e explorar algumas de suas acepções, originárias de pensadores como Zygmunt Bauman, Salete Cara, Norberto Bobbio e Lucien Goldmann, o autor evoca a forma cunhada pelo socialista italiano Antonio Gramsci como norteadora. Dessa forma, no seu entender, Magalhães corresponderia à expressão de um intelectual orgânico na realidade brasileira; quer dizer, a deslocar-se na linha de raciocínio do escritor dos Cadernos do cárcere, o acadêmico trata o parlamentar trabalhista como um indivíduo que, inserido em uma conjuntura específica, expressa uma consciência do papel a ser praticado por grupos e/ou classes sociais nos terrenos da política, cultura e economia.9 No caso de Magalhães, tal orientação dar-se-ia principalmente no sentido das relações econômicas enviesadas pelas bandeiras do nacionalismo e do anti-imperialismo.
A parte descritiva do capítulo centra-se na realização de dois atos preliminares de exposição en passant: da conjuntura política entre o ano 1945 e a década de 1960 e da reflexão de um acervo de pensadores que trataram a problemática do desenvolvimento econômico brasileiro, como Caio Prado Júnior, Guerreiro Ramos, Roland Corbisier, entre outros. Tais desdobramentos, na prática, executam um exercício preparatório, a partir de um prisma contextualista, para a entrada no centro da questão investigada, constituindo a forma como Sergio Magalhães concebia o seu pensamento econômico sobre o Brasil e as relações comerciais internacionais
O terceiro capítulo da obra, “‘Contra a sangria das riquezas nacionais’: a limitação das transferências dos lucros do capital estrangeiro no centro do debate público” (p. 105-164), organiza-se em uma linha expositiva sustentada, por causa de suas significativas semelhanças, na conexão histórica entre dois projetos econômicos, um de Getúlio Vargas e outro de Sergio Magalhães, destinados a legislar sobre as relações comerciais internacionais de empresas estrangeiras no território brasileiro. Mais precisamente, o foco está nas reações a respeito das leis de remessas de lucros que, em períodos distintos, cada um empreendeu no interior do sistema político brasileiro, além – no estudo do deputado trabalhista – de outros projetos alvitrados dentro do parlamento. Todo o exercício analítico foi elaborado fundamentalmente a partir dos textos jornalísticos originários de: O Globo, Imprensa Popular e Novos Rumos – o primeiro, um tradicional veículo conservador, e os dois últimos, publicações ligadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB).10 Sobre esse conjunto documental é que as premissas de trabalho de Silva sustentam-se a partir de tal ponto no livro, transição marcada pelo aumento do manejo desse tipo de fonte, pois oferece sentido à forma concebida pelo autor de História da imprensa, posição correspondente ao ato concomitante de reconstrução de um processo e análise da atuação dos periódicos no interior da esfera pública (p. 110).
No primeiro momento deste capítulo, apresenta-se a recepção ao decreto nº 30.363/1952 de 3 de janeiro de 1952, do então presidente da República Getúlio Vargas – medida que regulara o limite máximo de 8% nas remessas de lucros originários de capital estrangeiro investido no país para o exterior. As reações dos jornais são apresentadas e, em grande medida, é possível observar que, naquele período, os nuances ideológicos aparentemente não estavam tão acirrados dentro da imprensa. O tradicional O Globo passou de uma posição elogiosa no primeiro momento para uma postura contida, a ponderar a iniciativa do Executivo e a problemática da possível redução da atratividade brasileira aos investimentos exógenos, conquanto constantemente o editorial disponibilizasse espaços para os apologistas da livre circulação de divisas como o grupo norte-americano Esso, investidor na área petroquímica. Por sua vez, a publicação comunista Imprensa Popular, a refletir a estratégia exposta no Manifesto de agosto de 1950, posicionou-se fixamente de maneira resistente ao projeto, porque, na compreensão dos militantes, a iniciativa seria uma ação oportunista do presidente uma vez que, na prática, nada mudaria devido à limitação de sua ação.
Após expor as reações ao plano de Vargas, o pesquisador foca sua análise nas manifestações sobre os projetos econômicos de Magalhães, esses semelhantes ao decreto que o antigo presidente rubricara, caracterizados por uma perspectiva da defesa da economia nacional. Com o escopo de construir esse ideal por sua ação como legislador dentro da Câmara dos Deputados, Magalhães encontraria reflexos nos mesmos espectros ideológicos os quais haviam ponderado a respeito da legislação de Vargas. De posição favorável e contida anos antes, o editorial da família Marinho em O Globo manifestou-se intensamente crítico e contrário às intenções do deputado petebista, especialmente contra a sua lei de remessas de lucros. Da mesma forma, a apresentar transformações na sua visão, o Partido Comunista, embora naquele período utilizando outro veículo, Novos Rumos, cambiou a sua leitura de um oposicionista para um aliado – movimento derivado da estratégia partidária de 1958, exposta na Declaração de março.
Nesse capítulo, Silva revela um movimento interessante no interior da sociedade, a reforçar uma leitura mais ampla, e acentua a interpretação de uma pesquisadora. No primeiro caso, a análise mostra-se capaz de revelar como as posições estabelecidas a respeito de um projeto político tornam-se cada vez mais díspares dentro de três periódicos da época. Há limites dimensionais de quanto tal contraste pode ser generalizado para outras expressões da realidade social, por causa do conjunto documental manuseado pelo autor de Sergio Magalhães. No entanto, esse sentido não está desconexo de uma parte do conjunto bibliográfico produzido nos últimos tempos, pois obras formuladas por meio de outros acervos são consoantes a respeito do acirramento das oposições ideológicos no pré-1964 e, por conseguinte, condizendo com a perspectiva de Silva.11 No segundo, o pesquisador corrobora a conclusão interpretativa de Lucília de Almeida Neves Delgado, docente da Universidade de Brasília (UnB), que, no seu livro PTB – do getulismo ao reformismo, defende a hipótese da paulatina aproximação de projetos e estratégias entre as legendas PTB e PCB ao longo da Quarta República.12
No quarto capítulo, “‘O estuário das aspirações progressistas na Guanabara’: o combate a Lacerda na campanha eleitoral de 1960” (p. 165-212), o foco está em um dos momentos mais interessantes na trajetória política de Sergio Magalhães: na sua disputa eleitoral com Carlos Lacerda para o governo do estado da Guanabara. Em 1960, após a construção e a inauguração de Brasília, ocorreu uma fundamental transformação no caráter político do Rio de Janeiro. Por ser a capital federal da República até então, o município não contara com eleições diretas para o seu representante executivo. Na prática, tal cargo fora de nomeação direta do presidente, situação que se transformou devido à promulgação de eleições diretas para a posição. Naquele pleito, houve quatro candidatos a disputar: Tenório Cavalcanti (PRT), Mendes de Morais (PSD), Carlos Lacerda (UDN) e Sergio Magalhães (PTB).
No decorrer do período eleitoral, intensificaram-se as oposições entre projetos, à semelhança do descrito no capítulo anterior, manifestando-se materializadas nas pessoas dos concorrentes Magalhães e Lacerda, assim, a reforçar e a expandir o argumento manejado pelo pesquisador. Com o manejo da mesma forma documental, porém nessa passagem a partir dos periódicos O Globo e Última Hora – o segundo conhecido pelo seu notório caráter nacionalista e defensor dos projetos petebistas -, o autor segue a expor expressões do acirramento político-ideológico que caracterizaram o país nos períodos anteriores à ruptura institucional.
O contraste entre Lacerda e Magalhães expressar-se-ia de diversas maneiras, contudo, de maneira geral, as diferenças sintetizavam-se em um desarranjo de projetos de país. A visão do udenista era marcada por uma perspectiva conservadora, despreocupada com as questões sociais e nacionais; diferentemente, Magalhães mostrava-se profundamente voltado para uma apologia do desenvolvimento econômico nacional autônomo e da construção de uma sociedade com menores desigualdades sociais. As próprias posturas dos aspirantes, aliás, a respeito do conjunto de favelas instalado no Rio de Janeiro, refletiam a inadequação de suas ideias, pois, enquanto Lacerda entendia-as somente como problema, Magalhães concebia-as como uma problemática social a ser tratada pelo Estado. O período final da campanha aumentou ainda mais o conflito ideológico entre as partes, porquanto uma série de acusações foi trocada com o acirramento da competição, essas marcadas pelo uso de adjetivos como “comunistas” e “nazistas”.
No capítulo final do livro, “‘Um período crítico’: esperanças, preocupações, derrotas e dissabores” (p. 213-269), os últimos momentos da carreira política de Sergio Magalhães são analisados. Tratou-se de compreender como nos primeiros anos da década de 1960 os caminhos do deputado trabalhista, marcados por uma série de processos e crises, no último deles, resultaram no seu ostracismo político. Nessa passagem da pesquisa, toda a descrição constituída por Silva manejou dois periódicos de caráter trabalhista que, na época, contavam com considerável circulação e importância: o já citado Última Hora e O Semanário.
A última parte do livro preserva, entre as suas virtudes, a problematização, a partir do manejo das posições colocadas por Magalhães, de dois processos essenciais do fim daquele período democrático responsáveis por mobilizarem debates acadêmicos. O primeiro compreende a crise política de 1961: antes de completar um ano de mandato e nas proximidades do pleito para o Legislativo federal, o presidente Jânio Quadros renunciou e instalou uma condição de profundo desequilíbrio entre as forças políticas do país, devido a um setor, mobilizado pelas forças conservadoras, ser contrário à posse do vice João Goulart e outro, de forças legalistas, defender a manutenção do rito constitucional. Naquela conflagração de poderes, Magalhães, na época presidente da Câmara dos Deputados, tomou uma posição assertiva e resistente em prol de Goulart. Porém, apesar da apologia pela manutenção do processo demarcado pela Constituição, a tendência do deputado trabalhista seria derrotada e uma solução conciliadora instituiu o parlamentarismo via Senado.
O segundo desdobramento foi o golpe de 1964. Reeleito deputado em 1962, em campanha no Rio de Janeiro que dividiu as atenções e os votos com o correligionário Leonel Brizola, Magalhães posicionar-se-ia sobre diversas questões vitais até a instalação do general Castelo Branco na cadeira da presidência: por exemplo, sua postura crítica ao Plano Trienal, formulado pelo ministro da Fazenda San Tiago Dantas e pelo ministro do Planejamento Celso Furtado. Aliás, o primeiro cultivava conflitos com Magalhães desde 1961, quando o responsável pela gestão econômica do Poder Executivo junto com setores da oposição e estratos mais à direta dentro do PTB tentaram afastá-lo da presidência da Câmara. Silva explorou uma pontual expressão de disputa e desacordo dentro do Partido Trabalhista Brasileiro. Temática interessante capaz de revelar os limites da coesão e organicidade desse importante partido da Quarta República, mas que ainda requer maiores explorações; é um nuance revelado a ser inserido e considerado em um plano mais amplo. As iniciativas pelo avanço das reformas de base e pela prática de fato de sua lei de remessas de lucro, não obstante adulterada por um substitutivo parlamentar, também estariam na sua agenda política. A fundação da Frente de Mobilização Popular, mobilizada principalmente por Brizola, instituição da qual era um dos principais formulares e atores, foi a principal medida desenvolvida pelo deputado trabalhista para esse fim. Juntamente com tal orientação, também emplacava uma severa oposição ao governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que o vencera anos antes.
Todavia, mesmo com os seus esforços dentro e fora do parlamento, entre eles os discursos proferidos após o presidente do Senado Auro de Moura Andrade declarar a vacância do Poder Executivo federal, Sergio Magalhães não conseguiria ver o avanço e a constituição de seu projeto de país. Sendo cassado pelo primeiro Ato Institucional em 10 de abril de 1964, seu número, na lista de 102 cidadãos que tiveram seus direitos políticos suspensos pela ditadura, foi o de 88. Era o epílogo da carreira política de Sergio Magalhães.
Roberto Bitencourt da Silva realizou um trabalho significativo com a construção da biografia de Sergio Magalhães. A obra conta com muitos méritos. O principal dentre eles situa-se na conjunta tentativa de retirar do esquecimento a figura de Magalhães e, a partir da trajetória do personagem, revelar nuances macros do Brasil da época, como o trabalhismo, a ruptura institucional de 1964 e os distintos projetos político-econômicos vigentes. Portanto, apresenta-se um trabalho que, dentre as noções de seleção de informação e construção da narrativa ponderados por Le Goff e Ricoeur, revela aspectos de um indivíduo situado nas margens nebulosas da historiografia e da memória, que começa a ser alçado mais ao centro das concepções a respeito do passado e, por conseguinte, escopo de análise e objeto de disputa ideológico. Para os pesquisadores interessados, a trajetória de Magalhães está longe de ser esgotada no sentido de investigações científicas, pois Silva manejou apenas uma parte do conjunto documental disponível a respeito do personagem, a existirem ainda outros jornais como o Diário de Notícias e o Correio da Manhã para serem explorados – além de outras fontes possíveis. Tal particularidade não corresponde a uma redução do valor qualitativo da obra, porém, diferentemente, confere uma virtude: Sergio Magalhães e suas trincheiras: nacionalismo, trabalhismo e anti-imperialismo – uma biografia política foi o exercício pioneiro e assim abriu caminhos para futuras e novas pesquisas.
Referências
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. PTB – do getulismo ao reformismo. São Paulo: Marco Zero, 1989. [ Links ]
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. [ Links ]
FERREIRA, Jorge. João Goulart: uma biografia. 4ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 2011. [ Links ]
__________. O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. [ Links ]
IANNI, Octávio. O colapso do populismo no Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 1975. [ Links ]
LE GOFF, Jacques. História e memória. 7ª edição. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. [ Links ]
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964. 8ª edição. São Paulo: Ed. Unesp, 2010. [ Links ]
NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. [ Links ]
POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003. [ Links ]
RICOEUR, Paul. A história, a memória, o esquecimento. Campinas: Ed. Unicamp , 2007. [ Links ]
SILVA, Roberto Bitencourt da. Alberto Pasqualini: trajetória política e pensamento trabalhista. Niterói: Ed. da UFF, 2013. [ Links ]
SKINNER, Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. São Paulo: Unesp, 1999. [ Links ]
__________. Maquiavel. Porto Alegre: L&PM, 2010. [ Links ]
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. [ Links ]
2 RICOEUR, Paul. A história, a memória, o esquecimento. Campinas: Ed. Unicamp, 2007, p. 455.
3 LE GOFF, Jacques. História e memória. 7ª edição. Campinas: Ed. Unicamp, 2013, p. 485.
4SILVA, Roberto Bitencourt da. Alberto Pasqualini: trajetória política e pensamento trabalhista. Niterói: Ed. da UFF, 2013.
5O livro de Jorge Ferreira, João Goulart: uma biografia, e a coletânea por ele organizado, O populismo e sua história: debate e crítica, são duas expressões recentes de um acervo de textos que constituem uma crítica ao conceito. Há também o mais antigo, porém, revisto e atualizado, O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964, de Luiz Alberto Moniz Bandeira.
6WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
7IANNI, Octavio. O colapso do populismo no Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.
8 SKINNER, Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. São Paulo: Unesp, 1999; Idem. Maquiavel. Porto Alegre: L&PM, 2010; POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003.
9GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
10O Partido Comunista do Brasil mudou seu nome para Partido Comunista Brasileiro na transição da década de 1950 para 1960. Nesta resenha, optou-se pela segunda denominação independentemente do período histórico.
11 Marcos Napolitano sustenta a existência de “um ambiente de polarização ideológica radicalizada e de disputa por afirmação de projetos autoexcludentes para a sociedade e para a nação”. NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 66.
12DELGADO, Lucília de Almeida Neves. PTB – do getulismo ao reformismo. São Paulo: Marco Zero, 1989.
Luccas Eduardo Castilho Maldonado – Graduando no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
Angola: história, nação e literatura (1975-1985) / Silvio A. Carvalho Filho
Lembro-me que, por volta de 2008, pude assistir a uma comunicação sobre a relação entre a escrita literária de Pepetela e a história de Angola, proferida por Silvio de Almeida Carvalho Filho, no âmbito dos encontros realizados pelo Núcleo de Estudos Africanos, da Universidade Federal Fluminense. Passados oito anos, com o lançamento do livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985), Silvio Carvalho Filho consolida-se como um dos mais importantes pesquisadores no que tange à análise da construção identitária do que veio a se tornar a nação angolana independente.
A oralidade foi e continua sendo explorada como um fator importante para diferentes sociedades africanas espalhadas pelo continente. No entanto, Silvio Carvalho Filho consegue demonstrar como, dependendo do contexto, nesse caso o do processo de independência angolana das amarras coloniais portuguesas, existe uma África que vai para além da oralidade. Propondo diferentes demandas políticas por meio de uma literatura escrita, aqueles que conseguiram publicar e publicitar suas obras entre o período de 1975 e 1985 são o destaque no livro.
Dando um enfoque na análise para essa comunidade imaginada existente nas obras literárias selecionadas, mas sem deixar de lado a atuação desses literatos durante a guerra de independência e a ocupação de cargos no novo Estado que emergiu pós-1975, Silvio Carvalho Filho posiciona-se defendendo uma abordagem do “[…] literato como arauto de um imaginário coletivo ou como parcela do mesmo”2. Nesse sentido, com um extenso levantamento de fontes, elegendo 56 livros, dentro de um universo de 129 publicações existentes para o período analisado, cartas, entrevistas, comentários e diversos periódicos, como o jornal Diário de Angola (1975-76) e as revistas Novembro (1976-86) e Lavra & Oficina (1979-83), Silvio Carvalho Filho conseguiu produzir um panorama a respeito da nação angolana imaginada e produzida na e pela literatura/literários. Percebendo-a como fortemente influenciada pelo seu meio social e agindo também como interventora nesse ambiente, o autor demonstra a íntima relação entre as ações pela independência de Angola, a construção de um projeto de nação profundamente ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e as ações dos literários, principalmente por meio de sua escrita, em prol desse projeto específico.
No entanto, o título do livro de Silvio Carvalho Filho pode enganar alguns leitores, especialmente no que diz respeito ao recorte cronológico referenciado. Aqueles que adquirirem o livro em busca de uma análise dos dez anos posteriores à independência de Angola não conseguirão encontrar ali muitas respostas. Os anos entre 1975 e 1985 fazem referência ao período de publicação das fontes analisadas, mas não necessariamente aos assuntos abordados tanto pelos autores da documentação consultada como pelo próprio Silvio Carvalho Filho. Dos dez capítulos existentes, encontramos várias ponderações a respeito desse período anunciado. Porém, em apenas dois o autor aborda de maneira direta a relação entre uma consciência crítica dos literários e de suas obras enquanto ferramentas políticas de atuação, um discurso engrandecedor do projeto socialista defendido pelo MPLA, assim como, posteriormente, do sistema que se tentou implementar em seguida à vitória sobre Portugal e as desilusões e desesperanças com a percepção de um Estado independente marcado pela ascensão de “[…] burocráticos despóticos, corruptos e nepotistas […].”3
Esse descompasso entre anunciação do recorte cronológico do livro e a atenção a um tempo histórico diferente nas análises pode ser explicado pelas características que o próprio Silvio Carvalho Filho elenca ao buscar compreender a construção da identidade nacional angolana a partir das obras de literatos como Manuel Rui, Uanhenga Xitu, Pacavira, Pepetela e tantos outros. Apesar de uma parte significativa da obra desses autores ter sido publicada apenas no pós-independência, muitas foram confeccionadas ainda durante o período colonial, acabando, por inúmeros motivos, tendo como destino o fundo das gavetas. Talvez a principal causa para a incapacidade desses autores de publicarem seus escritos antes de 1975 tenha sido, justamente, a maneira como viam sua literatura como um entrelaçamento entre a ação política e partidária de maneira engajada na formação da nação angolana.
Ao detalhar os diferentes fatores elencados pelos personagens e pelas narrativas das obras literárias analisadas, Silvio Carvalho Filho acaba por retornar para um passado marcado brutalmente pelas ações violentas da repressão colonial portuguesa. Nesse sentido, mais do que falar sobre os dez anos posteriores à independência angolana, no livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985) temos contato com processos de elaboração e disseminação de uma memória sobre um passado existente previamente a esse período, com objetivos políticos marcados pelas experiências e pelas referências ideológicas, predominantemente marxistas, dos literários angolanos vinculados ao projeto nacionalista do MPLA. Portanto, um suposto empobrecimento estético existente em determinados trabalhos desses autores é abordado por Silvio Carvalho Filho dentro de um contexto onde existiu um esforço político em direção a tornar a literatura mais como uma ferramenta de transformação por meio de seu posicionamento político ante a sociedade, do que uma valorização de uma possível noção do sublime estético das rimas poéticas e/ou da prosa narrativa.
Aos poucos, ao longo do livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985), somos apresentados às bases do projeto nacionalista angolano vitorioso na guerra de independência, sua relação com a literatura e com a atuação dos literários na sua escrita. Nesse sentido, Silvio Carvalho Filho demonstra a existência de um campo literário angolano que se consolida como hegemônico após a independência, que de maneira comum ao longo do período da guerra contra o regime colonial concebeu uma nação que desejavam ver quando livres da opressão portuguesa muito próxima do MPLA e bastante distante dos demais movimentos independentistas. Esse campo não necessariamente condizia com uma realidade ampla das experiências dos futuros cidadãos angolanos. Tendo a cidade de Luanda como cidade-símbolo da nacionalidade imaginada pelo MPLA e “[…] as populações de cultura crioula […]” estabelecendo a “[…] matriz básica da cultura nacional a ser engendrada […]”4, existiu um esforço de, por um lado, aglutinar a pluralidade sociocultural dentro de marcos nacionalistas de uma angolanidade almejada. Por outro lado, essa angolanidade encontrava-se em disputa com essa pluralidade quando a mesma não se coadunasse “[…] com a racionalidade ocidental, da qual o socialismo revolucionário era uma das vertentes […]”5. A nacionalidade angolana que emergiu dos literários analisados era estritamente vinculada ao MPLA. Nas obras literárias, ser angolano, em 1975, era entendido como ser adepto das propostas desse movimento. Com o decorrer dos anos, as desilusões e desesperanças com o socialismo levaram a mudanças que encerram a proposta analítica do livro.
Porém, o que era ser angolano? Talvez essa tenha sido a pergunta primordial que os literários analisados por Silvio Carvalho Filho tentaram responder. Como o autor aponta, esse processo de construção do projeto de nação imaginado pelos literários angolanos em suas obras remeteu constantemente a um passado. Buscar retratar um passado de uma determinada forma, mesmo que sendo através da ficção, era fortalecer premissas políticas do momento presente à produção dessas obras. Foi no embate a uma narrativa sobre o passado produzida nos marcos do colonialismo português que a literatura angolana construiu a si e a nação que almejava. Nesse sentido, ao invés de tentarem buscar no passado que construíam em suas obras uma essência nacionalista angolana atemporal, elaboraram uma identidade angolana baseada numa noção de experiência compartilhada entre a maioria da população. Essa experiência, que funcionaria como uma ferramenta agregadora da diversidade capaz de produzir uma unidade nacional, seria a da resistência contra a exploração e a repressão colonial.
O exercício literário desses escritores na tentativa de elaborar um passado comum, marcado pelas experiências de resistência ao colonialismo português, que buscou produzir um sentido de “nós angolanos”, por vezes parece ter seduzido algumas das abordagens de Silvio Carvalho Filho. O colonialismo foi uma forma de exploração altamente devastadora e violenta. Porém, o tom de denúncia das atrocidades coloniais adotado pelos literários angolanos, por mais importantes que tenham sido no contexto da descolonização, passou ao largo das complexidades dos contextos históricos que os mesmos tentaram recriar. Esse embaralhar entre história, memórias, literatura e os projetos políticos ensejados pelos literários da geração independentista, faz com que em determinados momentos Silvio Carvalho Filho adote uma abordagem que enxerga as narrativas literárias como uma espécie de testemunhos da verdade, sobretudo quando os textos literários dizem respeito às relações estabelecidas entre setores do mundo colonial como grupos estanques divididos entre, de um lado, o colonizador e, do outro diametralmente oposto, o colonizado.
Para concluir, no temeroso cenário acadêmico brasileiro de 2016, o livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985), de Silvio de Almeida Correio Filho é um importante contributo para os estudos africanos. Sua expansão no Brasil, acompanhada pela proliferação do ingresso de professores especialistas nas universidades e do crescimento da obrigatoriedade da História da África nos currículos disciplinares acadêmicos, encontra aqui uma importante ferramenta. O capítulo “A Nação, os Escritores e a Literatura” merece destaque especial. A apresentação panorâmica que Silvio Carvalho Filho produz no capítulo fornece aos professores universitários, sempre em busca de produções historiográficas de qualidade e em língua portuguesa, um importante texto para ser trabalhado nas salas de aula de graduação de todo o país. Além disso, a grandeza do livro recai na sua capacidade de realizar análises vastas e ricas, mas, ainda assim, deixar inúmeras outras possibilidades de pesquisa a serem exploradas. Abrindo caminhos para novas gerações, Silvio Carvalho Filho consegue brindar-nos com uma obra que acende pistas para futuras pesquisas e que poderão ampliar de maneira qualitativa os estudos africanos produzidos em solo brasileiro.
Notas
- CARVALHO FILHO, Silvio de Almeida. Angola: história, nação e literatura (1975-1985). Curitiba: Editora Prisma, 2016. p. 24.
- Ibid., p. 346.
- Ibid., p. 236-237.
- Ibid., p. 276.
Matheus Serva Pereira – Doutorando em História Social da África – Unicamp. Bolsista Fapesp. E-mail: [email protected].
CARVALHO FILHO, Silvio de Almeida. Angola: história, nação e literatura (1975-1985). Curitiba: Editora Prisma, 2016. Resenha de: PEREIRA, Matheus Serva. Literatura, memória e a construção de uma perspectiva nacional angolana. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.219-223, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire – LEBOURG (CTP)
LEBOURG, Nicolas. Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. [?]: Presses Universitaires de Perpignan, Collection Etudes, France, 2010. Resenha de: ANDRADE, Guilherme Franco de. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 12 – 10 de junho de 2013.
Nicolas Lebourg é um historiador da Universidade de Perpignan, na França. Um dos seus principais campos de pesquisa é sobre a Extrema Direita europeia, principalmente o partido francês Frente Nacional. Em suas pesquisas o historiador francês procura analisar a ideologia política pertencente aos grupos radicais, ideologia chamada por ele de “Nacionalismo Revolucionário” francês. Conhecido e estimado na França pela qualidade do seu trabalho e por outros pesquisadores na história de facções políticas. Nicolas também é conhecido por seu blog (http://tempspresents.wordpress.com) e por seus artigos em revistas e periodicos especializados. Em sua dissertação de mestrado, Lebourg escreveu sobre François Duprat, fundador da Frente Nacional. E em sua tese de doutoradoII ele pesquisou sobre o Nacionalismo Revolucionário.
Seu primeiro livro, “O Mundo visto da mais extrema-direita, do fascismo ao nacionalismo revolucionário”, foi publicado em dezembro de 2010 pela editora Presses Universitaires de Perpignan, que finalmente permite ao público ter acesso aos seus escritos.
Em sua introdução, Nicolas Lebourg explica como o fracasso político da direita francesa, na tentativa de manter a Argélia como seu território, durante a Guerra da Argélia, desmobilizou a identidade política radical, antes apoiada nas concepções de Vichy. Segundo o autor “a humilhação do fracasso da Argélia Francesa” levou a direita radical francesa a buscar um novo caminho político, que fosse significativo do ponto de vista da prática, relacionado à militancia dessa nova ideologia, quanto no aparato ideológico.
Dessas mudanças surgiram duas correntes ideológicas, segundo o autor “duas correntes nasceram desse esforço, a Nova Direita e o nacionalismo-revolucionário. Elas vêm de uma matriz comum”. Então, no decorrer de seu livro, em 250 páginas, o autor procura mostrar como essas correntes de forma dialética se influenciaram com o passar dos anos.
Como essas ideologias marcaram limites ideológicos e exerceram rupturas necessárias no pensamento político. Ambas influenciando-se, nunca longe uma da outra, mas sempre separadas.
Ao longo das páginas, o historiador procura enfatizar as oscilações ideológicas, assim como dos avanços e dos recuos das sete estruturas que formaram o movimento Nacionalismo Revolucionário de 1960 até 2002. Sendo as 7 estruturas: a Europa Jovem (Jeune Europe) , A Organização Luta do Povo (l’Organisation lutte du peuple), Os Grupos Nacionalistas Revolucionários de Base (les Groupes nationalistes-révolutionnaires de base), o Movimento Nacionalista Revolucionário (le Mouvement nationaliste révolutionnaire), Terceira Via (Troisième voie), Nova Resistência e Unidade Radical (Nouvelle résistance et Unité radicale) e o grupo de ação politica internacional A Frente Europeia de Libertação (le Front européen de libération).
No livro o autor procura mostrar que mesmo os grupos pequenos, que podem parecer inexpressivos do ponto de vista eleitoral, não chegando efetivamente a cargos políticos, esses grupos podem ter muita influência do ponto de vista ideológico, mesmo que alguns desses grupos sejam compostos por 200, 300 militantes. Questionado sobre a importância de pesquisar até os menores grupos do Nacionalismo Revolucionário, o autor responde dizendo: “dentro do sistema político competitivo, pequenos grupos descobrem sua importância em seu trabalho de “vigia” e de provedor de conceitos e elementos discursivos para as estruturas populistas que, por sua vez, acessam o espaço da mídia.”.
O autor explica que os nacionalistas revolucionários forneceram a Frente Nacional muitas das suas idéias principais como o antiamericanismo e política restritiva à imigração.
É, provavelmente, nas páginas dedicadas à transformação da Frente Nacional de um partido anticomunista para um partido xenófobo e contrário a imigração na França, que este livro é definitivamente o mais interessante. Nicolas Lebourg conta como François Duprat, então líder dos grupos nacionalistas revolucionários de base, impôs este tema e forçou Jean Marie Le Pen e outros frentistas que não acreditavam na sua idéia. Foi ele quem conceituou a noção de “nacionalismo revolucionário”, uma atualização do “movimento fascista”. No início da FN, são seus grupos nacionalistas revolucionários a ala mais radical do partido. Mas isso não impede que influencie fortemente a linha de discurso do partido e que se tornou a marca de um partido social de extrema direita.
Nicolas Lebourg acredita que o nacionalismo revolucionário morreu em 2002 com a dissolução da unidade radical. Sobre este ponto só podemos discordar dele, porque ainda há sites, revistas e organizações que pretendem seguir a Unidade radical. A capacidade de produção ideológica permanece intacta e a imaginação deles é ainda grande. É bem possível que ainda seja nas mentes dos seus líderes que irão desenvolver-se “conceitos e elementos discursivos” que aparecerão amanhã no movimento nacional e popular.
Desde o início, os movimentos fascistas experimentam uma margem que se diz “socialista e europeia”. Muitas vezes derrotados nas campanhas eleitorais, não foi possível desfrutar do poder. No entanto, conseguiu inventar discursos e idéias para a construção de uma Europa nacionalista. Estes têm contribuído para a formação da propaganda dos Estados fascistas depois de 1942, com destaque para a construção de uma “Nova Ordem Europeia”.
Após a Segunda Guerra Mundial, e, particularmente, com a fase de descolonização, e pós 1968, o neofascismo foi reimplantando esses elementos no contexto do que é chamado de nacionalismo revolucionário.
Tendo deixado a unidade europeia na expectativa, esses fascistas trabalham para o estabelecimento de uma ação e uma ideologia internacional. Eles, portanto, participam em muitas áreas políticas, nacionais e internacionais, e realizam táticas diferentes de um para o outro. Este livro é baseado principalmente em documentos inéditos: arquivos internos dos movimentos neofascistas, revistas produzidas por esses grupos nas décadas de 60, 70 e 80, e também compostos por vários dossies e documentos das policias.
Notas
2 Tradução do título ”O Mundo visto da mais extrema-direita, do fascismo ao nacionalismo revolucionário”.
Referências
LEBOURG, Nicolas. Le monde vu de la plus extrême droite : Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. Presses Universitaires de Perpignan, Collection Etudes, France, 2010.
Guilherme Franco de Andrade – Mestrando no Programa de Pós Graduação em História, Poder e Práticas Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. Sob orientação do Prof. Dr. Gilberto Grassi Calil.
Relações internacionais e desenvolvimento: o nacionalismo e a política externa independente (1951-1964) – VIZENTINI (AN)
VIZENTINI, Paulo G. F. Relações internacionais e desenvolvimento: o nacionalismo e a política externa independente (1951-1964). Petrópolis: Vozes, 1995. 325p. Resenha de: BUENO, Clodoaldo. Anos 90, Porto Alegre, v.4, n.5, p.212-215, 1996.
Clodoaldo Bueno – UNESP.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
O Brasil e a questão judaica – Imigração, diplomacia e preconceito – LESSER (RBH)
LESSER, Jeffrey. O Brasil e a questão judaica – Imigração, diplomacia e preconceito. Tradução de Marisa Sanematsu. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1995. P.372. Resenha de: IOKOI, Zilda Márcia Gricoli. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.16, n.31/32, p.364-366, 1996.
Zilda Márcia Gricoli Iokoi – Universidade de São Paulo.
[IF]A questão nacional na primeira República – OLIVEIRA (RBH)
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na primeira República. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. 208p. Resenha de: SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.11, n.21, p.248-254, set.1990/fev.1990.
Afonso Carlos Marques dos Santos – Professor Adjunto Doutor, IFCS-UFRJ. Coordenador do Setor de Teoria e Metodologia da História.
[IF]





