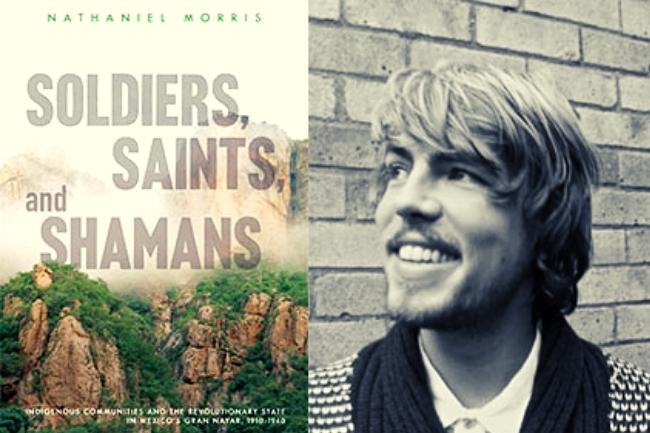Posts com a Tag ‘Estado’
Soldiers, Saints, and Shamans: Indigenous Communities and the Revolutionary State in Mexico’s Gran Nayar, 1910–1940 | Nathaniel Morris
Nathaniel Morris | Imagem: The University of Arizona Press
The period 1910-40 was tumultuous in Mexican history. The armed phase of the Mexican Revolution (1910-20) was followed by fragmented attempts by Revolutionary politicians to assert Federal control and modernisation in the face of military rebellion, resistance to social reform, two major religious revolts known as the Cristiada, and ongoing, albeit often unremarked, agency from Mexico’s indigenous populations. This latter aspect is the focus of research in Nathaniel Morris’s excellent new history. The author’s specific attention is on the Wixárika, Naayari, O’dam, and Mexicanero communities of the Gran Nayar region along with adjoining locations along the Sierra Madre Occidental highlands.
Nathaniel Morris’s work is a landmark study of ethnohistory and a highly original addition to our knowledge of Mexico’s revolutionary and counter-revolutionary era of 1910-1940. His focus is the Gran Nayar, a region centred on Nayarit, but also including parts of the states of Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, and Durango, during the armed phase of the Mexican revolution and the Cristero wars. Soldiers, Saints and Shamans fills a void in the historiography. As Morris correctly points out, there has been very little historical analysis of indigenous agency in the Mexican Revolutionary period, and ‘the Gran Nayar remains entirely absent from most Mexicans’ mental map of the period’ (p. 11). Throughout the 19th century, any Indian initiative was written off as a ‘caste war’, and irreconcilable with White and mestizo nation-building.(1) 20th-century historians and anthropologists mostly assumed that Mexico’s indigenous populations were either passive recipients of Revolutionary nation-building schemes or defiant outsiders from the mestizo state. A landmark study of caudillos (political/military ‘strongmen’) in the Independence Wars represented Indians as ‘apolitical’.(2)) Indigenous agency was usually explained as a defence of ‘old ways’, and the amorphous collection of rituals, everyday representations, and beliefs lumped together as a static rather than dynamic ‘costumbre’ (customs). Condescending, and even racist, interpretations died hard, as Nathaniel Morris’s separate study of the 19th-century Manuel Lozada revolt in a similar region has shown.(3) The outsized role played by indigenous communities in religious revolts, including the Cristiada, was explained as being motivated by religious devotion and an ingrained scepticism towards the Mexican state.(4) More recent scholarship has shifted the dial somewhat, demonstrating the considerable degree to which indigenous peoples collaborated with White/mestizo state-building all the same, often by turning against their defiant (‘bronco’) kin.(5) But Soldiers, Saints and Shamans should be considered a breakthrough. Leia Mais
Os militares e a crise brasileira | João Roberto Martins
João Roberto Martins Filho Foto: Gabriela Di Bella/The Intercept
Em 2020, João Roberto Martins Filho publicou a segunda edição de O palácio e a caserna: a dinâmica militar das crises políticas na Ditadura (1964-1969), adaptação da sua tese de Doutorado em Ciência Política, orientada por Décio Saes e defendida em 1989. Nesse livro, manteve a proposição de que as forças armadas brasileiras configuram um partido político fortalecido na emergência uma “ideologia militar fortemente calcada na repulsa à política civil”, cujas pautas correlatas e consequentes seriam a estabilidade social e a garantia da ordem. (p.55). A tese contrapunha-se à interpretação da experiência militar como um conflito entre dois ideais capitalistas: o internacionalismo da Escola Superior de Guerra (ESG) e o nacionalismo de grupos minoritários. Um ano depois da republicação, Martins Filho nos brinda com outro estudos sobre “militares” e “crise” dos anos recentes, reunindo dezessete autores vinculados a instituições de ensino e pesquisa nas áreas de Estudos de Defesa, Segurança Internacional, Relações Internacionais, Estudos Estratégicos, Ciência Política e História Contemporânea, Antropologia e, ainda, profissionais do jornalismo e da área militar.

Fotografía/ Estado y sentimiento patriótico en el Uruguay de Terra | Ana María Rodríguez Ayçaguer
Detalhe de capa de Fotografía, Estado y sentimiento patriótico en el Uruguay de Terra
Este libro es un ejemplo de cómo el trabajo de archivo y sus experiencias «erráticas» al decir de Lila Caimari (La vida en el archivo, 2017), producen frutos mucho más allá de los planes iniciales de quien investiga, abriendo puertas a agendas tan imprevistas como fructíferas.
En él se ofrece una descripción con relativo detalle de un proyecto cultural estratégico en un momento clave de la historia política uruguaya, el régimen terrista. En un trabajo organizado de acuerdo a varios ejes: el contexto político y las figuras de las que surge el proyecto, sus posibles antecedentes, su implementación en etapas y el análisis de lo que se conoce de su registro fotográfico, la autora nos acerca a las discusiones y prácticas políticas de la época en lo relacionado al lugar de la cultura y en particular al que la idea de «patria» tuvo en un modelo que se presentaba como alternativa al batllismo. Leia Mais
Estados Unidos. Uma História | Vitor Izecksohn
Vitor Izecksohn é professor do Instituto de História da UFRJ e pesquisador do CNPq e tem tido, nos últimos anos, uma trajetória dupla. De um lado, é autor de vários estudos relacionados à história militar brasileira, especialmente no diálogo com a história social. Destacam-se, nessa produção, seus trabalhos relacionados ao exército imperial: a formação do corpo de oficiais, o recrutamento, a organização das milícias, etc. De outro, ele é um especialista na história dos Estados Unidos, especialmente a história militar, entre a independência e o final da Guerra Civil, ou seja, entre 1776 e 1865. Leia Mais
Construir Valparaíso: Tecnología/ municipalidad y estado/ 1820-1920 | Samuel J. Martland
El desarrollo urbano de una ciudad está estrechamente vinculado a las características geográficas del territorio que ocupa, pero también a la manera como se organizan sus gobernantes y a las herramientas tecnológicas de las que disponen sus habitantes. El libro de Samuel J. Martland plantea una aproximación a la historia de Valparaíso durante el siglo XIX a través de un análisis en el cual articula la tecnología urbana, la administración municipal, las empresas privadas y la formación del Estado. En ese sentido, su hipótesis general plantea que “(…) esta ciudad fue un lugar de experimentación y adelantos no solo tecnológicos -el muchas veces citado “progreso”- sino, también, en los reglamentos de seguridad y comodidad, y en la organización administrativa y cívica1. Para su demostración, el historiador norteamericano propone una estructura cronológica basada en cinco capítulos. Ahora bien, antes de entrar en la discusión específica de cada uno, es fundamental abordar algunos elementos generales sobre la propuesta formal, epistemológica y metodológica del autor que se puede observar en la introducción y a lo largo de todo el libro. Leia Mais
Ejército de Línea y poder central. Guerra/política militar y construcción estatal en la Argentina/1860 – 1880 | Lucas Codesido
La publicación de este libro en 2021 tuvo algo de acontecimiento en el submundo de la literatura militar decimonónica en Argentina. No existe bibliografía abundante sobre el Ejército de Línea en la segunda mitad del siglo XIX, y en particular en el periodo en el que el autor se detiene. Aunque un conjunto de investigadores venimos estudiando dicho referente, los marcos temporales apenas llegan a la década de 1880 y salvo excepciones, no vamos río arriba, hacia las décadas de 1870, 1860 o 1850. Leia Mais
Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica | Frank Gaudichaud, Jeffrery Webber e Massimo Modonesi

O continente cresceu com lutas, rupturas e resistências. Entender o passado histórico nos permitirá compreender os fatos que sucederam a partir do fim da década de 1990 na região. O aspecto insurgente pode ser considerado um catalisador de mudanças que se associam aos governos progressistas.
O livro realiza uma análise crítica em torno desse tema. Podemos encontrar avaliações positivas e negativas dos chamados governos progressistas latino-americanos. Há, neste trabalho, uma narrativa imparcial, que avalia aspectos históricos, sociais e econômicos ocorridos entre o período das décadas de 1990 a 2000. Faz-se necessário destacarmos alguns pontos que se entrelaçam na análise dos três autores na obra, que se divide em três capítulos, o primeiro intitulado “Conflictos, Sangre y Esperanza. Progresismos y movimientos populares en el torbellino de la lucha de clases latinoamericana.” de Frank Gaudichaud [III], o segundo, “Mercado Mundial, Desarrollo desigual y Patrones de acumulación: La política Económica de la Izquerda Latinoamericana” de Jeffery Webber [IV] e o terceiro “El Progresismo Latinoamericano: Un Debate de Época” de Massimo Modonesi [V].
Para melhor compreensão do período do final da década de 1990, é importante considerar anos anteriores. Por isso, Gaudichaud demonstra em seu capítulo dados econômicos e sociais desde a década de 1980. Por exemplo, no período de 1980 a 2003 o desemprego aumentou de 7,2% para 11%. Além disso, no mesmo período, o salário mínimo diminuiu em um em média de 25%, e o trabalho informal teve um aumento de 36% para 46%.[VI]
Além disso, no decorrer da década de 1980, houve a mobilização dos movimentos de esquerda e a formação de um novo ethos militante. Novos movimentos sociais ganharam força, como o feminista, o indígena e o negro. Os desgastes das ditaduras militares, sobretudo pelas crises financeiras que vinham enfrentando, serviram de combustível para esses movimentos conquistarem espaço. Contudo, apesar de a década de 1980 ser considerada favorável às manifestações democráticas, pois encerra-se um estado repressivo, pelo lado econômico, a década de 1980 foi desastrosa, marcada pelos ajustes estruturais propostos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), tais como as privatizações, restrições salariais e o fim de barreiras aduaneiras [VII].
Portanto, segundo os autores, no final da década de 1990 surgiram diversos debates e críticas sobre o neoliberalismo. Inúmeros movimentos sociais estavam insatisfeitos, na ocasião, com um sistema econômico neoliberal que, na narrativa de partidos políticos e movimentos sociais, sujeitava o Estado ao interesse de empresários e oligarquias.
Dessa forma, a partir dos anos 2000, podemos perceber que essa insatisfação com a hegemonia neoliberal começa a agitar os movimentos populares e de esquerda, que buscavam uma mudança nas estruturas, no Estado, ou seja, de baixo para cima. O cenário era propício para mudanças, as agitações nas calles, os movimentos sociais e a luta contra o imperialismo norte-americano. Portanto, a democracia novamente parecia o caminho para as mudanças, o que estimulou novamente a organização popular através de votos.
À vista disso, os autores apontam que o ciclo dos governos de esquerda, que se inicia em 1999 com Hugo Chávez na Venezuela, tem continuidade durante os anos 2000. Essas experiências têm suas bases nas raízes históricas do continente e surgem com a intenção de refundar a sociedade. Porém, em alguns casos foi necessário romper com mais veemência com antigos poderes na região, como a própria Venezuela com revoltas anti-imperialistas, a mais famosa delas chamada de Caracazo que contou com a maioria da população lutando por mudanças sociais e políticas.
Porém, precisamos destacar que dentro dessa “Onda Rosa” [VIII] houve diferentes formas de governos progressistas. Isto é, existiram experiências mais radicais e outras mais moderadas, ainda que fazendo parte do mesmo movimento. Isso explica-se pelas próprias diferenças entre os países. Dessa maneira, não podemos generalizar as experiências, ou seja, os projetos de governos progressistas tiveram suas particularidades em cada região.
Neste contexto, líderes políticos como Rafael Correa (Equador), Hugo Chávez (Venezuela) e Evo Morales (Bolívia) emergem no cenário político com grande apoio popular, tendo como conceitos principais de seus governos o anti-imperialismo e antineoliberalismo. Esses líderes políticos assumiram o embate político com os Estados Unidos como um aspecto central em sua inserção internacional.
Tal postura gerou reações dos Estados Unidos. Como exemplo disso, citamos a interferência norte-americana na Venezuela, que ocorreu com a tentativa de desestabilização à experiência progressista de Hugo Chávez, em abril de 2002. Os EUA utilizaram-se de agências, como a Central Intelligence Agency (CIA), para desestabilizar a gestão de Chávez. No capítulo de Webber, notamos inclusive, exemplos recentes de apoio norte-americano à instabilidade nos países Latino-americanos. Podemos citar o golpe militar de Honduras em 2009 que destituiu o presidente Manuel Zelaya e o golpe parlamentar no Paraguai em 2012.
No caso venezuelano, o ocorrido pode ser explicado pelo fato da Venezuela ter a maior reserva de petróleo do mundo e isso estava no controle norte-americano. O golpe só foi frustrado pelo fato de Chávez ter contado com apoio de grupos da sociedade civil e das Forças Armadas venezuelanas. Como destacam os autores, as estratégias de intervenções imperialistas norte-americanas têm se adaptado para serem feitas através da grande mídia, com ataques constantes à credibilidade de governos de esquerda.
Para além do anti-imperialismo e anti-neoliberalismo que os governos progressistas de esquerda propuseram, podemos ressaltar a forte raiz nacionalista e libertária de Símon Bolívar nestes governos. Essa imagem de Símon aparece mais ainda na “Revolução Bolivariana” que Chávez promoveu na Venezuela. Faz-se isso na tentativa de libertar a América Latina por meio do conhecimento de seu passado histórico de luta e resistência, fazendo uso dos grandes heróis do passado, tal como Símon Bolívar, San Martin, dentre outros.
As diferenças entre as experiências de esquerda residem, por exemplo, no fato de algumas delas terem sido caracterizadas como revolucionárias ou experiências moderadas/reformistas, segundo os autores. Isso está baseado nas reformas econômicas, sociais, políticas que esses governos propõem em relação aos modelos que já estavam implementados. As experiências mais revolucionárias são aquelas que mais promoveram rupturas em uma resposta ao neoliberalismo. Já as mais moderadas/reformistas são as que, ainda que tenham promovido algumas mudanças progressistas, deram continuidade às práticas dessa doutrina.
Durante uma década de governos progressistas na América Latina, podemos concluir que a política de distribuição foi o foco principal. Esses governos buscaram implementar mudanças sociais e econômicas, sobretudo, para as grandes maiorias. Projetos como o “Bolsa família” do PT no Brasil são um exemplo disso. Não somente isso, os governos de esquerda buscaram aumentar o poder de consumo das classes menos favorecidas. Por isso, durante esses governos muitas famílias que outrora não tinham condições, conseguiram conquistar bens como casa própria. Grande parte deve-se ao fato dos governos progressistas terem se aproveitado da alta das commodities, ocorrida em 2003 com a alta demanda industrial que a China promoveu.
Este país foi o principal destino das exportações da região no período de 2002 a 2012. Matérias-primas exportadas, como petróleo, soja, dentre outras, tiveram um aumento de preço, favorecendo a economia latino-americana. Portanto, um dos méritos desses governos é ter aproveitado esse aporte financeiro para investir nos projetos sociais. Isto deu resultado, pois vimos que, durante uma década, um número considerável de pessoas saíram da pobreza. Como aponta Gaudichaud, “Según la CEPAL, 70 millones de personas salieron de la pobreza en una década…” [IX]
Durante os governos de esquerda, também podemos destacar as nacionalizações de empresas que anteriormente haviam sido privatizadas. Esse processo visou combater um “mal” para a economia dos países latino-americanos, pois, em contraponto com o setor privado, o Estado ficava com menos recursos financeiros do que poderia. Ou seja, as empresas estrangeiras repassavam mais capital para seus países de origem, do que ao Estado em que elas estavam sediadas, além disso, é importante ressaltar que as empresas foram nacionalizadas de acordo com as políticas do mercado, isto é, com negociações do Estado com as empresas e com taxas de indenizações.
Alguns exemplos dessas nacionalizações ocorreram na Bolívia e na Venezuela com as empresas de gás, petróleo, água, etc. Na Bolívia, em 2000 e 2005, ocorreram grandes vitórias populares antes mesmo de Evo Morales ser presidente, como as “Guerras da Água” em 2000. Esses episódios terminam com a expulsão de duas multinacionais: a estadunidense Bechtel e a filial de Suez, Aguas del Illimani. Essas vitórias fizeram o governo desmercantilizar a água. Além disso, também houve a vitória popular na questão do gás em 2003. Esse alavancou a imagem de Evo Morales como um líder pelas lutas nacionais. O acordo cancelado com a empresa americana Pacífic LNG tinha como principais justificativas o fato de que afetava a soberania da Bolívia, uma vez que fazia com que ela fizesse negócios com o Chile (recentemente há um histórico de embates entre os dois países). Outra justificativa era que a Bolívia receberia um valor “x” pelo gás, e este seria vendido em solo americano por outro bastante superior.
Já na Venezuela, Chávez recuperou o controle da Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima (PDVSA) e multiplicou os contratos com empresas estrangeiras de origens distintas onde entra, por exemplo, a aproximação com a China. As nacionalizações foram essenciais para inversão da política social, saúde e educação que os governos progressistas promoveram durante seu período na América Latina.
O Produto Interno Bruto (PIB) durante os governos progressistas cresceu na América Latina com casos excepcionais como a Bolívia, cujo PIB subiu de $8 bilhões em 2002 a $30 bilhões em 2013, de acordo com Gaudichaud [X]. Isso pode ser explicado pela alta dos preços das matérias-primas (como o petróleo) e investimento no agronegócio, ainda que isso tenha desagradado a setores sociais. Além disso, as experiências nacionais-populares que os governos progressistas implementaram também contribuíram para a economia interna, com o aumento do número de empregos e maior poder de consumo. Isso se fez por políticas redistributivas, assistencialistas e com concessão de créditos.
Como debatido por Massimo Modonesi, essa estratégia, voltada para a democratização do consumo, permitiu às pessoas que saíram da pobreza ou extrema pobreza contribuírem para a economia, gerando mais riqueza. Por outro lado, essa estratégia contribuiu também para que os governos progressistas, no que diz respeito à parte econômica, possam ser analisados como projetos conciliatórios. Haja vista que a democratização do consumo favorecia também a classe dominante, ou seja, segmentos da sociedade que são compostos majoritariamente por empresários, bancários, e, segundo Gaudichaud, isso resultou em consequências negativas para a esquerda pois podemos compreender que politicamente teria sido melhor para a esquerda que a incorporação das classes populares tivesse sido através da politização e não somente através do acesso ao consumo.XI
Portanto, uma das críticas que o livro faz aos governos progressistas deve-se ao fato do grande capital ter tido uma alta lucratividade durante suas gestões. Como aponta Webber, “tales mejoras modestas para las clases populares coexistieron con ganancias netas sin precedentes para el capital privado extranjero y nacional invirtiendo en sectores de recursos” [XII]. O agronegócio foi uma atividade que pode ser citada como exemplo. Os seus membros contaram com incentivos financeiros à produção, diminuição da burocracia e as economias do Estado se mantiveram e se intensificaram dependentes desse setor. O Brasil é um exemplo cuja economia depende de maneira relevante da exportação de soja. Durante o governo de Dilma Rousseff, houve um grande incremento nessas atividades, segundo Jeffery Webber.
Como apontado por Massimo Modonesi, os grupos indígenas merecem destaque como agentes políticos bastante relevantes na luta contra o neoliberalismo e o imperialismo na América Latina, entre as décadas de 1990 e 2000. Ao longo da história do continente, desde as invasões feitas pelos europeus, os indígenas têm sido perseguidos, exterminados e excluídos de um território que lhes pertencia. A mentalidade colonizadora que se faz presente até os dias atuais faz com que esses grupos sejam excluídos da sociedade, acentuando a vulnerabilidade desses povos indígenas. A constante perda de seus espaços, tão essenciais para a vida em comunidade que precisam, afeta diretamente a manutenção da cultura desses povos. Esses fatores geram um apagamento da cultura e identidade desses grupos, o que muitas vezes é legitimado pelo Estado, uma vez que falha em ter políticas que possam proteger esses grupos, suas terras e seu modo de viver.
Como debatido nos capítulos de Gaudichaud e Modonesi, após esse descaso e perseguição ao longo de diversos anos na América Latina, a resistência e a união se tornaram bastante presentes no modo de viver desses grupos indígenas, e por conta disso eles conseguem se mobilizar politicamente para continuar com suas reivindicações aos seus direitos à terra e à defesa da mãe natureza. Fazem ouvir suas vozes e marcham pelas ruas em manifestações agindo o ser político e chamando a atenção para o fato dos indígenas terem espaço em qualquer projeto de Estado na América Latina. Esses grupos estavam articulados, e com consciência política, e durante a época do descontentamento com o neoliberalismo, eles se uniram com outros grupos sociais em torno de um ideal comum, a luta contra o imperialismo.
Como afirma Gaudichaud, podemos destacar os Mapuches no Chile e a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE) no Equador. Esses grupos apoiaram os governos de esquerda e obtiveram respeito e respostas quanto a muitas de suas reivindicações. Porém, antes de ser esquerda ou direita esses grupos são primeiramente indígenas, e vimos isso em diversas vezes em que eles também se chocaram com decisões dos governos de esquerda, como ocorreu a partir de 2013 no Equador em manifestações questionando o presidente Rafael Corrêa, principalmente após a decisão de explorar o Parque Nacional Yasúni, abrindo-a a empresas mineiras. Ou seja, Corrêa adotou o discurso de exploração para justificar seu projeto econômico de redistribuição, o que para muitos pode ser entendido como uma política que busca um plano mais amplo para a nação equatoriana, mas que foi visto por esses grupos indígenas como uma traição por afetar diretamente suas matrizes.
Diante do extrativismo e do avanço do setor capitalista do agronegócio sobre os recursos da natureza, diversos grupos resistentes a esses ideais têm se chocado com o capital privado, como os camponeses, que defendem o meio ambiente e, em especial, os indígenas, como apontado no livro. Logo, é correto afirmar, segundo o capítulo de Webber, que esses grupos indígenas possuem uma ação política muito importante e uma voz politicamente ativa [XIII].
Nesse sentido, em alguns países latino-americanos, observamos que a luta de classes é muito recorrente. Como apontado pelos autores, o enfrentamento de grupos com interesses antagônicos se faz presente no continente, como por exemplo os movimentos sociais, indígenas, que discordam de projetos defendidos pelos grandes empresários, bancários, dentre outros. No livro, percebemos um viés marxista na análise dos autores que mostram como a temática da luta de classes é relevante para compreendermos como ocorreu a luta pela terra, por direitos sociais, por um Estado amplo de direitos em diversos países da América Latina como, por exemplo, nas experiências mais notórias dos governos progressistas: Bolívia, Equador e Venezuela.
Notas
II. O livro Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI – Ensayos de interpretación histórica, 2019 de organização de Franck Gaudichaud, Jeffery Webber, e Massimo Modonesi, fazem uma análise geral dos movimentos de esquerda latino-americanos iniciando em 1999 com Hugo Chávez na Venezuela até 2019 com o golpe a Evo Morales na Bolívia. Esses movimentos se acentuaram nesse período pois havia um descontentamento em diversos países latino-americanos com o projeto de direita: Neoliberalismo. Entretanto, o livro também irá apontar que o continente tem um histórico de revoltas, revoluções, e de lutas, em períodos que antecedem o neoliberalismo.
III. Frank Gaudichaud possui uma linha de pensamento marxistas além disso é francês, o que para esse estudo é bastante relevante pois permite ao mesmo uma análise de fora do objeto de estudo.
IV. Jeffery Webber é estadunidense mas visitou os centros de pesquisas da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO) em Quito, Equador, além do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Laboral e Agrário (CEDLA) e o Centro Boliviano de Estudos Multidisciplinares (CEBEM) em La Paz, Bolívia.
V. Massimo Modonesi pode ser destacado pelos seus estudos de movimentos sócio-políticos em México e América Latina e de conceitos e debates marxistas, além de ser diretor da revista “Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS) e da revista OSAL de CLASCO (2010-2015).
VI. GAUDICHAUD, Frank. Conflictos, Sangre y Esperanza. Progresismos y movimientos populares en el torbellino de la lucha de clases latinoamericana. In: GAUDICHAUD, Frank, WEBBER, Jeffery, MODONESI, Massimo. Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI – Ensayos de interpretación histórica. UNAM, México. 2019. p. 22
VII. Um reflexo da desastrosa economia da América Latina na década de 1980 pode ser a queda do Produto Interno Bruto (PIB). Em fins do século XX o PIB na América Latina caiu consideravelmente de 3,8% em 1997 para 0,9% em 1998. Ou seja, uma queda brusca que representa quase ¼ em menos de um ano.
VIII. O que nós conhecemos hoje pelo nome governos progressistas foi um giro político impulsionado pela esquerda em diversos países da América Latina. Exemplo de Equador, Bolívia, e Venezuela, que podem ser consideradas como as mais notórias experiências deste “giro a esquerda”. Mas também podemos citar Brasil, Argentina, Uruguai, entre outros. Essas experiências foram apelidadas também como “marea rosa“.
IX. Ibidem, p. 46
X. Ibidem, p. 46
XI. Ibidem, p. 83
XII. WEBBER, Jeffery. Mercado Mundial, Desarrollo desigual y Patrones de acumulación: La política Económica de la Izquerda Latinoamericana. In: GAUDICHAUD, Frank, WEBBER, Jeffery, MODONESI, Massimo. Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI – Ensayos de interpretación histórica. UNAM, México. 2019. p. 114
XIII. Analisamos que em alguns países como Equador, a ruptura de Corrêa com os grupos campesinos, com grupos indígenas como a CONAIE, gerou um desgaste político do então presidente. Ou seja, essa ruptura pode ser entendida como relevante pois antes dela o próprio Rafael Corrêa havia recebido prêmios e grande visibilidade pelo projeto Yasúni, sendo coerente afirmar que este evento foi um ponto chave para sua imagem política.
Referências
GAUDICHAUD, Frank, WEBBER, Jeffery, MODONESI, Massimo. Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica. México, UNAM, 2019.
João Carlos Calzavara – Graduando do curso de História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Membro do Laboratório de Estudos de Imigração (LABIMI). Bolsista do Projeto de Extensão “Ideias Políticas e História do Tempo Presente da América Latina entre 1998 e 2018: uma comparação entre Bolívia, Equador e Venezuela”. E-mail: [email protected]
GAUDICHAUD, Frank, WEBBER, Jeffery, MODONESI, Massimo. Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica. México, UNAM, 2019. Resenha de: CALZAVARA, João Carlos. Boletim Historiar. São Cristóvão, v.2, n.8, abr./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Agencias y funcionarios de la Argentina peronista (1944- 1955) | Hernán González Bollo e Diego Ezequiel Preyra
Este libro es una producción más que se suma al frondoso corpus de publicaciones que componen la colección “Convergencia. Entre memoria y sociedad”, editada por la Universidad Nacional de Quilmes y dirigida por la Dra. Noemí M. GirbalBlacha. Es otra obra que nos invita a reflexionar sobre el peronismo clásico en términos de continuidad con las gestiones gubernamentales previas. Los autores dialogan con las investigaciones que ponen en primer plano al Estado y estudian sus múltiples facetas: la conformación de agencias, los funcionarios y expertos que las transitaron, los saberes gestados en su interior, las capacidades estatales, entre otras. Asimismo, se vincula estrechamente con las indagaciones sobre los cuadros que conformaron las segundas líneas del liderazgo peronista.
De esta manera, Hernán González Bollo y Diego Ezequiel Pereyra historizan el proceso de conformación de un Estado planificador durante los gobiernos de Edelmiro Farrell (1944-1946) y de Juan D. Perón (1946-1955). El espinel que recorre el libro es entonces la conformación de ese Leviatán, cuyas dimensiones se vieron alteradas con la creación de Ministerios, Consejos, Direcciones y Secretarías, que incrementaron enormemente las capacidades administrativas del Estado. Con ese horizonte por delante, y utilizando herramientas teórico-metodológicas de la sociología histórica y la historia cultural, los autores reconstruyen las estructuras estatales enfocándose en la conformación de agencias y en los elencos de funcionarios y especialistas que las habitaron. Leia Mais
A miscarriage of justice: women’s reproductive lives and the law in early twentieth-century Brazil | Cassia Roth (R)
Cassia Roth | Foto: UCLA |
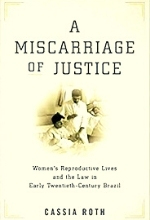
Sustentada por uma análise criteriosa dos Códigos Penais e Civil, a obra inicia o argumento de que, durante a Primeira República e o período Vargas, a cidadania feminina só poderia ser exercida pela maternidade. A utilidade da mulher das classes pobres e urbanas seria a de reproduzir a mão de obra para o futuro da pátria. O funcionamento desse modelo se pautava em médicos, formados no bojo de instituições organizadas, que concediam explicações técnicas para o reforço do papel maternal, e juristas, que por meio das leis afirmavam a criminalização de práticas de controle de fertilidade e deram base para ações policiais atentas aos usos da sexualidade. Leia Mais
La niñez desviada: La tutela estatal de niños pobres huérfanos y delincuentes. Buenos Aires 1890-1919 | Claudia Freidenraij
La niñez desviada: La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes. Buenos Aires 1890-1919 es una investigación minuciosa y profunda realizada por la historiadora argentina Claudia Freidenraij sobre una época en la que “las calles [de tierra] de Buenos Aires estaban salpicadas de niños” (p.13). Enmarcado en el periodo que va desde 1890 a 1919 este libro analiza los intersticios de las intervenciones públicas que recayeron en la capital argentina sobre los niños pobres, huérfanos, infractores, delincuentes pero especialmente de los sectores trabajadores, en un momento clave de transformaciones urbanas.
Aquí no sólo reconstruye y analiza el complejo articulado de politicas de castigo y represión de actividades y hábitos de los niños de las clases trabajadoras urbanas previo a lo que se consideraría una “justicia para menores,” sino también las formas en que se estereotiparon esas prácticas construyendo categorías jerarquizadoras y segregacionistas sobre estos sectores etarios y poblacionales. Bajo la etiqueta criminalizante y clasista de “minoridad”, las élites morales, constituidas en parte por una constelación de especialistas, colocaron sobre los niños de las clases trabajadoras un conjunto de etiquetas que no sólo inventarían categorías infantiles sino que asociarían prácticas de la infancia pobre con la desviación, la inmoralidad, el abandono y la delincuencia.
A partir de un enfoque que se nutre y forma parte de la historia social, de la historia del delito y la justicia, así como de la historia de las infancias, la autora consigue el relevamiento y análisis de un amplio corpus documental, fotografías, diarios y revistas, memorias de justicia, legislación, fuentes policiales, autobiografías, crónicas urbanas, cuentos, informes médico-legales. Con estas fuentes Freidenraij va desagregando cada uno de los adjetivos, cada una de las prácticas, para estudiarlos separadamente y mostrar cómo la construcción discursiva de la minoridad, el abandono o la delincuencia, vista en espejo, devuelve una imagen que permite ver las ideologías clasistas y los prejuicios de las “elites morales” hacia las infancias pobres urbanas.
La presencia de niños de los sectores populares en el espacio urbano, como muestra con detalle Freidenraj, causó alarma e incomodidad en quienes pretendían un ilusorio orden urbano. Para contener y minimizar las imágenes de niños efectuando todo tipo de labores o transgrediendo constantemente las múltiples normativas, se construyó, para usar las palabras de la autora, un archipiélago penal y asistencial de establecimientos, agencias estatales e instituciones particulares, cuyos engranajes operaron en conjunto, en un concierto de voces e intervenciones que oscilaron más en discordancia que en armonía, más hacia la represión que hacia el amparo.
El libro se concentra en niños mayoritariamente varones, porque hacia ellos se orientaron las políticas criminológicas del periodo de estudio y porque constituían el 82 por ciento de los aprehendidos (p. 108). A través de una lúcida escritura y análisis, la autora acompaña a esos centenares de niños en sus trayectos y circulaciones. Su intención es no dejarlos solos en algún momento. De tal forma, frente al histórico emplazamiento como “niños abandonados” que han sufrido, ella se decide por tomar una postura vinculante de cuidado, de atención, de conexión con sus situaciones y de búsqueda de entendimiento sobre cómo ha sido que han llegado a las puertas de las instituciones de control social. Así, advierte su vida en los conventillos, sus intermitencias escolares, los sigue a sus andanzas en calles, veredas y plazas, presencia sus juegos, escucha sus malas palabras y sus risas, los ve subirse colgados a los tranvías. En las líneas de este texto es posible escuchar la sonoridad que producían los niños en la calle. Pero el libro muestra, cómo al terminar el día no todos aquellos niños y muchachitos podían volver a sus casas o a sus andanzas. En tanto caía sobre ellos un amplio abanico de disposiciones de corte jurídico y se consideraban parte de un “problema social” que había que combatir, sus actividades estuvieron siempre al borde de ser delictivas, irregulares o “predelictivas” en tanto pertenecían a un sector social sobre el cual el Estado buscaba intervenir (p. 285). La institucionalización, por lo tanto, aparece siempre acechante al otro lado de la esquina; esto no hace que la autora los pierda de vista: los sigue a sus comparecencias ante la justicia, hasta los interiores de las instituciones, como si de un estudio etnográfico se tratara, escucha lo que los agentes del estado piensan sobre ellos, lo que escriben los jueces de menores, advierte el tratamiento que se les da a los cuerpos infantiles y luego articula todas estas observaciones en un estudio puntilloso de las estructuras de control y de construcción del “peligro infantil”.
El libro disecciona la anatomía de las prácticas de los agentes encargados o interesados en la “corrección” de esa infancia: jueces, intelectuales, defensores de menores, médicos, abogados. La policía aparece especialmente protagónica, preocupada por lo que considera una ocupación anárquica de la ciudad por los niños: no le gusta como juegan, cómo se relacionan, cómo se comportan (p.115), considera sus actividades siempre sospechosas, elabora catálogos de cada vez más crecientes normativas, porque los niños en el espacio público, si lo ocupan autónomamente, incomodan, en cualquier sitio, en Argentina, en México, en Brasil, en América Latina.
Los vaivenes que sufre la justicia para menores en los primeros años de su implementación en Buenos Aires son una respuesta, explica la autora, a la alarma social frente a las condiciones antihigiénicas y de hacinamiento que sufrían los niños en las cárceles con adultos delincuentes o detenidos. Consideraciones de orden moral e higiénico fueron las que impulsaron a las autoridades a construir instituciones de castigo infantil diferenciadas del mundo adulto, que en un inicio serían de corte religioso y luego laboral. El texto subraya cómo las violencias físicas contra los niños y adolescentes se implementaron también como terapéuticas correccionales por los encargados del orden carcelario. Pero, como la sociología, la antropología y la historia de la infancia ya han apuntado, los niños son actores sociales y siempre tienen respuestas imprevistas a los intentos de control que caen sobre ellos. Por eso, en este libro, aparecen también las resistencias infantiles a ese sistema lacerante de cuerpos y emociones. Aparecen entonces los niños como sujetos capaces de burlarse de las autoridades carcelarias, de ejercer su sexualidad dentro de los límites marcados por la prisión, por el encierro, por el género, organizando sociabilidades estructuradas a partir del lenguaje, de la risa, del juego.
El periodo que se trabaja en este libro se inscribe en un momento de despunte de la transnacionalización de las ideas de infancia. En 1916 se reúnen los “especialistas”, esas élites morales, especialmente de los saberes médico-pedagógicos, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que sería el I Congreso Panamericano del Niño, para discutir las acciones necesarias para higienizar, moralizar y escolarizar a la población infantil del continente. Los discursos estigmatizantes, las políticas sancionadoras y la persecución de las prácticas de los hijos de las clases trabajadoras se posicionan como uno de los nodos en las iniciativas en favor de la infancia de los países de la región.
Por todo lo anterior, este libro, si bien se dedica al caso argentino, también puede leerse en clave latinoamericana para vislumbrar los puntos en común con experiencias acaecidas en otras latitudes: las sociabilidades infantiles en conventillos, vecindades o inquilinatos y sus porosas fronteras con la calle, fabricada como espacio peligroso, la construcción de la figura del incorregible, las colocaciones de los niños en hogares y talleres, la criminalización constante de las prácticas cotidianas, la construcción de un andamiaje de leyes y normas para el control de la infancia en sus tránsitos por los rumbos de la ciudad, o la laborterapia como método de regeneración de los llamados menores delincuentes. Los niños argentinos no son los niños indígenas del México del porfiriato y de la revolución, tampoco los que venden diarios en Bogotá al iniciar el siglo, o los niños negros que trabajan en las calles de Sao Paulo. Sin embargo, coinciden con ellos temporalmente y sufren políticas que han cruzado las fronteras nacionales en forma de ponencias en congresos, de publicaciones en revistas médicas o criminológicas, en editoriales y noticias en la prensa. Así, terminan siendo depositarios de formas hegemónicas de concebir a las infancias populares acusadas de peligrosas, inmorales y antihigiénicas, discursos que justifican la obligatoriedad de que el Estado controle sus prácticas.
Los seis capítulos de este libro recuperan largos años de avances en la historia de las infancias en América Latina y proponen caminos novedosos para interpretar la minoridad, la categoría etaria, la historia de la criminalidad y el delito, y su vínculo con la historia social de la infancia. Es un libro propositivo e inteligente que da cuenta de la madurez y la plenitud en la que se encuentra este campo historiográfico en Latinoamérica.
Susana Sosenski – Doctora en Historia, Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México – MÉXICO. investigadores/sosenski.html. E-mail: [email protected].
FREIDENRAIJ, Claudia. La niñez desviada: La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes. Buenos Aires 1890-1919. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2020, 302p. Resenha de: SOSENSKI, Susana. Un archipiélago estatal para las infancias populares argentinas (1890-1919). Revista Tempo e Argumento. Florianópolis, v.13, n.32, p.1-6, 2021. Acessar publicação original [IF].
Estado, sociedade e educação profissional no Brasil: desafios e perspectivas para o século XXI | Eraldo L. Batista, Isaura M. Zanardinie e João C. da Silva
O livro tem por objetivo, segundo seus organizadores, apresentar “resultados de pesquisa focalizando questões teóricas e metodológicas e empíricas, trazendo ainda aspectos histórico-conceituais da Educação Básica, particularmente do ensino profissional” de nível médio (Batista, Zanardini e Silva, 2018, p. 13). Trata-se de coletânea de 13 capítulos, escritos por 19 pesquisadores.
Maria Ciavatta, no Prefácio, já nos indica que “o conjunto de textos, sobre vários aspectos do Estado, sociedade e educação no Brasil, é exemplar sobre a questão educacional da população nos cinco séculos de existência conhecida pelo mundo europeu, a terra brasilis, e na atualidade desta segunda década do século XXI” (p. 9). Leia Mais
Soberanías fronterizas. Estados y capital en la colonización de Patagonia (Argentina y Chile, 1830-1922) | Albert Harambour
Soberanías fronterizas | Detalhe de capa |
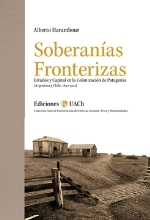
En contravia de esta nocion, Soberanías fronterizas. Estados y capital en la colonización de Patagonia (Argentina y Chile, 1830-1922) desplaza la atencion hacia los margenes del estado como epicentro que permite desentranar sus mitos fundacionales, logicas y efectos espaciotemporales. En un trabajo solido, sustentando en una variedad amplia de fuentes primarias, Alberto Harambour examina criticamente las dinamicas de expansion capitalista y construccion estatal en la Patagonia argentina y chilena durante el siglo xix y comienzos del xx. Leia Mais
Saberes jurídicos y experiencias políticas en la Europa de entreguerras: la transformación del Estado en la era de la socialización | Sebastián Martín, Federico Fernández-Crehuet e Alfons Aragoneses
O texto organizado por Sebastián Martín, Federico Fernández-Crehuet e Alfons Aragoneses, a partir do Grupo de Investigação “Edouard Lambert” de História Jurídica Comparada, publicado pela Athenaica (Sevilha) no ano de 2021, apresenta um preciso recorte espacial e temporal, quais sejam, a Europa dos anos 1920-1930 (com as devidas elasticidades próprias à historiografia). O objeto que está no centro do apurado debate é o movimento jurídico-político desse espaço-tempo, mediante análise dos aspectos sobre democracia, totalitarismo, teoria do Estado, teoria do Direito, constitucionalismo, direito público, direito privado, cultura jurídica (ciência do direito), e algo em filosofia do Direito2.
Pietro Costa abre o livro com um “capítulo preliminar”, à guisa de prefácio, intitulado Democracia e totalitarismo na Europa de entreguerras: uma introdução. O texto funciona como epígrafe a tudo o que virá, como inspiração ao conjunto ordenado de capítulos posteriores, trazendo o Zeitgeist do objeto da obra toda. E o “espírito do tempo” pode ser sumulado, de acordo com o autor, numa única palavra: guerra. Eis a atmosfera do tempo, do espaço e do livro que aqui estamos a observar. Leia Mais
La confederación argentina y sus subalternos: integración estatal, política y derechos en el Buenos Aires posindependiente (1820-1860) | Ricardo Salvatore
Diecisiete años después, especie de secuela de Paisanos itinerantes: Orden estatal y experiencia subalterna en Buenos Aires durante la era de Rosas, 1 Ricardo Salvatore nos propone reflexionar sobre la formación del Estado-nación en Argentina y las respuestas y experiencias de grupos subalternos a dicho proceso de naturaleza conflictiva. Centralizando su análisis en la provincia de Buenos Aires durante la era de Juan Manuel de Rosas, ya no son sólo objeto de estudio los peones de estancia y pequeños campesinos independientes, sino que versa en otros grupos: afro-porteños, pueblos indígenas, mujeres, unitarios comunes y vecinos rurales rebeldes. Al incorporar otros actores intenta entender mejor los múltiples entramados de poder y cómo fue la interacción particular de cada uno de ellos con las autoridades y una política estatal caracterizada por la ambivalencia entre coerción y persuasión. Familiarizando al lector con el tema de análisis, empieza rescatando y resumiendo los principales aportes de Paisanos itinerantes… Recuperando sus voces, acciones y memorias a partir del análisis de las filiaciones elaboradas por las autoridades militares reclutadoras, reconstruye la experiencia colectiva de peones y campesinos que formaron parte del ejército y las milicias de la provincia de Buenos Aires.
Poniendo énfasis en la cuestión militar procede describiendo los intentos del Estado rosista por controlar y ordenar la campaña. Identifica las formas de coerción y estímulos aplicados por el Estado en las unidades militares como también las estrategias de resistencia y de negociación que desarrollaron los subalternos. Entre ellas, la deserción y sus consecuentes acciones para no ser capturados, es decir, forjar una nueva identidad social y poder asentarse en una localidad. Dimensiona qué incidencia tuvo el servicio militar no sólo en la experiencia vivida sino también en nociones de pertenencia territorial e idea de nación que pudieron construir los soldados en sus participaciones bélicas en y fuera de la provincia. Esto le permite discutir con la historiografía tradicional hasta qué punto las autonomías provinciales fueron las principales protagonistas para modelar los sentidos de pertenencia de la población. Con los avances logrados puede desarrollar su concepto de “patriotismo condicional” y las formas de federalismo practicadas. Leia Mais
Mujeres que trabajan. Labores femeninas/ Estado y sindicatos (Buenos Aires/ 1910-1960) | Graciela Queirolo
“Las mujeres siempre trabajamos”: con esa afirmación-fuerza Graciela Queirolo presenta el tomo 6 de la colección “La Argentina Peronista” que dirige Gustavo Contreras. La autora propone vislumbrar un abanico de espacios remunerados (sin desatender los no remunerados) que ocuparon las mujeres en la ciudad de Buenos Aires entre 1910 y 1960. Demuestra que las trabajadoras fueron parte constitutiva del proceso de modernización capitalista que se intensificó durante los dos primeros gobiernos de Perón.
La afirmación inicial contiene varias hipótesis. Por un lado, propone una mirada crítica a las investigaciones que desatendieron la presencia femenina en ámbitos remunerados durante la primera mitad del siglo XX. Así como aquellas que concibieron la etapa de modernización capitalista como un momento en el que las mujeres retornaron al hogar (p. 54). Por otra parte, aunque la propuesta del libro se concentra en las trabajadoras asalariadas, logra hilvanar la trama social que constituye la doble jornada laboral para el género femenino: aquella que conjuga las tareas reproductivas, no pagas y naturalizadas, con la expansión del trabajo femenino asalariado. Este fenómeno de feminización del mercado de trabajo se presentaba como un atentado a la “moral” constituida. La formulación “mujeres que trabajan” nominaba ese problema social. Pero también contenía la negación de las tareas de cuidado como “trabajo”. Frente a ello la autora reafirma que “las mujeres siempre trabajamos” y reconoce aquellas labores remuneradas y no remuneradas como elementos constitutivos del sistema capitalista. Leia Mais
¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? – Rolf Foerster
Rolf Foerster (centro) e Camilo Rapu (direita) / twitter.com/rapucamilo/status.

Varios años tuvieron que pasar para que este libro finalmente se volviera a publicar. En el intervalo, numerosas fueron las intervenciones en las que Foerster expuso un sólido trabajo intelectual respecto a la situación de los pueblos indígenas en Chile, colocando especial énfasis en las relaciones interculturales y en la problemática mapuche actual. Las funciones del parentesco, las organizaciones políticas, las luchas por el reconocimiento y el colonialismo del Estado chileno sobre los mapuche son los temas principales que le dan cuerpo a su programa de investigación, así como a este indispensable volumen que la editorial Pehuén ha hecho bien en publicar. Análisis, observación y convivencia con los mapuche lafkenche de la costa de Arauco grabados en una excelente reedición de su tesis de doctorado.
Los cruces entre antropología e historia son obligados en toda la lectura del libro. En ese gesto resalta la potencia de una tradición que se funda y se define en la profundidad del tiempo, entre la fragilidad del presente y la fragmentación del pasado. Probablemente, el núcleo de esta voluntad analítica se condense en la hipótesis de trabajo que propone el autor:
en primer lugar, se trata de una reflexión diacrónica que parte del supuesto que los actuales conflictos con el Estado nacional -que generan las demandas de reconocimiento por parte de los mapuche- están en una relación de continuidad con el pasado colonial y con la peculiar forma con que la sociedad indígena ha encarado el asunto del poder (p. 20).
En mi opinión, el mérito más importante de esta conjetura, clara y precisa en su formulación, es que aborda las “transformaciones y las continuidades históricas de la sociedad mapuche” (p. 26), y junto con ello, desvela procesos de largo aliento que tratan de explicar la dinámica política que ha desplegado el movimiento mapuche, en las diversas modalidades de su gama, para relacionarse con el poder estatal, las fuerzas del capital y la sociedad chilena en general.
El libro consta de cinco capítulos y de un prólogo firmado por Fernando Pairican. En el capítulo primero, el autor construye un argumento profusamente bien documentado en torno a la estructura social de los mapuche antes de mezclarse con la administración colonial española. Leamos el siguiente pasaje que ilustra con exactitud el sentido de este apartado. “Hemos configurado una imagen de la sociedad reche-mapuche, previa al contacto, que nos debería servir para lograr una mejor comprensión de lo que va a acontecer en el siglo XVI y XVII, cuando los reche se enfrentan por segunda vez a una sociedad con Estado” (p. 88). Podríamos decir que su análisis es, sobre todo, para explicar desde el pasado remoto las conexiones más actuales entre identidad, cultura y territorio.
Otro aspecto relevante del libro es el lúcido tratamiento historiográfico con el que Foerster describe las continuidades y rupturas que se dieron al interior de las comunidades mapuche lafkenche, antes y después de la construcción de una nueva comunidad política en forma de república. Respecto al objetivo general del capítulo segundo, Foerster dice:
Aquí el centro de nuestro interés es, por un lado, analizar la política hispana en el mundo mapuche con especial énfasis en la zona de Arauco, y por otro, ver cómo la sociedad reche reacciona vía la aculturación negativa. Se trata de observar el peso o solidez de sus reestructuraciones territoriales (los ayllarehue, el butalmapu) y el efecto especular del ‘pacto colonial’ como forma de poner fin a la guerra y al establecimiento de la frontera (p. 21).
La vida social y cultural mapuche se transformó de manera irreversible luego de la ocupación militar del Wallmapu en la segunda mitad del siglo XIX. Como lo muestra Foerster en el capítulo tercero, el proceso de colonización que impulsó el Estado-nación chileno produjo un quiebre en lo que atañe a las relaciones interétnicas que se habían cultivado durante el régimen colonial español.
Dos hechos grafican esta situación. En primer lugar, el abandono de una política de regulación de la frontera, es decir con esa suerte de pacto que se sellaba en los parlamentos, en las que intervenían tanto las autoridades hispano criollas como indígenas […]. En segundo lugar, se transitó de un reconocimiento del territorio indígena al sistema reduccional, que si bien entregó medio millón de hectáreas, prácticamente pulverizó la propiedad indígena en un amplio archipiélago a lo largo de la región de La Araucanía (p. 224).
He aquí otro elemento importante que permite visualizar el flujo de los cambios en la vasta frontera del sur y que culminará con la “subordinación de los mapuche al Estado chileno como campesinos” (p. 27).
A partir de un marco temporal que abarca casi todo el siglo pasado, en los capítulos cuarto y quinto Foerster profundiza en una constelación de temáticas destinadas a desvelar el mundo de las reducciones, la pérdida del territorio, la reforma agraria en la provincia de Arauco, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, la expansión de las empresas forestales en un momento de globalización económica, los conflictos ambientales y las diferentes modalidades de acción colectiva que ha adoptado el movimiento mapuche una vez iniciada la transición a la democracia. Este último aspecto es significativo para abordar dos dimensiones que están profundamente conectadas. Por una parte, los procesos de articulación política que los mapuche lafkenche han desplegado para reivindicar su derecho al territorio y a la autodeterminación como pueblo autónomo. Y por otra, los alcances y las limitaciones del multiculturalismo y las políticas de reconocimiento en un contexto de hegemonía neoliberal.
¿Pactos de sumisión o actos de rebelión?, en definitiva, es un libro que merece ser leído con atención para poder comprender mejor una larga y compleja historia de conflictos no resueltos entre la sociedad mapuche y el poder estatal que siguen estando presentes en el Chile de hoy.
Damián Gálvez González – Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlin, ALEMANIA. Email: [email protected]. Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Santiago, CHILE.
[IF]No centro da etnia: etnias, tribalismo e Estado na África | Jean-Loup Amselle e Elikia M’Bokolo
O livro No centro da etnia: etnias, tribalismo e Estado na África, organizado pelo antropólogo francês Jean-Loup Amselle e pelo historiador congolês Elikia M’Bokolo, foi publicado originalmente em 1985. Trata-se de uma referência para os interessados nos estudos sobre populações africanas e, especialmente, nos estudos relativos às identidades étnicas e às identidades nacionais em contextos africanos. Está entre os estudos desenvolvidos por historiadores da África, nos anos de 1980, sobre a “invenção da tradição na África colonial” (Ranger, 1997 [1983]) e sobre a “invenção da etnicidade” e a “criação do tribalismo” (Vail, 1989). Com relação aos autores, J.-L. Amselle não possui livros ou artigos publicados em português, talvez seu livro mais conhecido seja Mestizo Logics (Amselle, 1998); já E. M’Bokolo é conhecido pelos dois volumes do livro África negra: história e civilizações (M’Bokolo, 2009; 2011) que foram publicados no Brasil.
No primeiro capítulo, intitulado Etnias e espaços: por uma antropologia topológica (pp. 29-73), J.-L. Amselle busca desconstruir a própria noção de etnia presente em diversos estudos antropológicos. Segundo ele, o pensamento antropológico seria marcado por doutrinas essencialmente a-históricas; somente com a contribuição da corrente dinamista ligada aos nomes de G. Balandier (1976; 2014), M. Gluckman e P. Mercier, entre outros, é que a antropologia teria dado primazia à história, algo que possibilitou a reflexão sobre os contextos políticos e o início das críticas ou desconstruções das definições de etnia. Leia Mais
Segredos de Estado: o governo Britânico e a tortura no Brasil (1969/1976) | João Roberto Martins Filho
Foi publicado pela Editora Sagga, em 2019, Segredos de Estado: o governo britânico e a tortura no Brasil (1969-1976), de autoria do historiador João Roberto Martins Filho. O livro teve origem em meados de 2013, quando o autor submeteu o projeto à cátedra, perante o King´s College, em Londres, com o título “As Democracias europeias e a ditadura militar brasileira: o caso do Reino Unido”.
A obra se embasa na documentação da diplomacia do Reino Unido e traz uma enorme contribuição para a historiografia sobre as ditaduras militares na América Latina. A obra quebra alguns mitos sobre a instauração de regimes autoritários no Cone Sul. O primeiro deles refere-se ao deslocamento da temática sobre a relação entre a ditadura militar no Brasil e outros países, saindo do foco dos EUA, apesar de ainda haver muito a ser estudado sobre a participação norte-americana no Golpe de Estado e no planejamento e apoio ao regime militar. Há uma vasta lacuna sobre a relação entre o regime autoritário brasileiro e os países europeus. Leia Mais
Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira 1760-1876 | Ilana Peliciari Rocha
De que maneira o Estado brasileiro atuou como senhor de escravos? A questão é colocada pelo livro “Escravos da Nação”, da historiadora Ilana Peliciari Rocha. O estudo é oriundo de sua tese de doutorado, defendida em 2012. A autora, que tem experiência em história demográfica, já desenvolveu pesquisas sobre a população escrava do município de Franca (SP) no século XIX e a respeito do fluxo imigratório para São Paulo no período republicano. Atualmente, Rocha é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e tem publicado artigos que abordam a trajetória de escravos e escravas da nação na história brasileira.
No livro em questão, Rocha investiga uma peculiaridade: a condição pública atribuída a alguns escravos no Brasil. Já de início a autora explica que os “escravos da nação” se tornaram uma categoria específica no Brasil após a expulsão e o confisco dos bens da Companhia de Jesus pela Coroa portuguesa, o que se deu em 1760. De acordo com ela, a partir desse evento é possível traçar, por meio da análise de documentação coeva (como cartas e ofícios, relatórios dos ministérios do Império, legislação e recortes de jornal), as formas de tratamento direcionadas aos “escravos públicos” espalhados em fazendas e outros estabelecimentos localizados em distintas regiões do Brasil. A administração desses cativos coube, no século XIX, às instituições vinculadas ao Estado imperial e perdurou até, precisamente, o ano de 1876, quando expirou o prazo que, segundo a legislação, era necessário para que tais cativos entrassem em posse de suas liberdades.
Segundo a avaliação de Rocha, os estudos historiográficos sobre a presença de escravos da nação nas fazendas e fábricas do Brasil mostraram, de maneira isolada para cada estabelecimento e localidade, que a administração desses cativos teria acompanhado o modelo da escravidão privada ou tradicional. A autora buscou acrescentar a esses trabalhos um olhar mais atento para o caráter público de tais escravos, com destaque para aqueles mantidos na Fazenda de Santa Cruz, na província do Rio de Janeiro, e na Fábrica de Ferro São João de Ipanema, na província de São Paulo. Sua proposta principal é compreender em que medida a administração desses escravos permite apreender o significado de “coisa pública” no Brasil entre o final do século XVIII e o último quartel do século XIX. Para isso, a pesquisadora leva em conta o conceito de “patrimonialismo” e dialoga com as obras de Raimundo Faoro, Fernando Uricoechea e José Murilo de Carvalho.
A estrutura do livro, inteligentemente pensada, colabora para o entendimento do estudo. A obra é composta por três partes bem articuladas, nas quais são abordados, respectivamente, os percursos dos escravos após a expulsão dos jesuítas, as concepções compartilhadas a cada época sobre tais cativos e os aspectos das experiências cotidianas desses escravos nos estabelecimentos do Estado. Ao longo dos capítulos, Ilana Peliciari Rocha compara o tratamento destinado a esses cativos com outras experiências ocorridas entre senhores e escravos, no âmbito do que chamou de “escravidão privada ou tradicional”, de modo que seja possível empreender o “significado de ser público para o escravo e também para o Estado” (p. 20). Os argumentos estão bem fundamentados tanto nas narrativas produzidas pelos contemporâneos quanto na projeção de dados quantitativos que auxiliam o leitor a visualizar os perfis dos escravos nacionais e as características da escravidão pública.
Na primeira parte do livro, em que é identificado o início de um cativeiro “público” no Brasil, Rocha discorre sobre os caminhos dos escravos após o confisco dos bens dos jesuítas, em 1760. Segundo ela, os escravos adquiridos pela Coroa portuguesa, então chamados “escravos do Real Fisco”, tornaram-se “patrimônio público” sem que houvesse legislação uniforme para o seu tratamento. Seja pela dificuldade de estabelecer um regimento homogêneo para estabelecimentos distintos, seja pela eficácia do controle administrativo desenvolvido pelos religiosos inacianos, a manutenção das propriedades e dos cativos confiscados deu continuidade – ao longo de todo o período colonial – ao modelo adotado pelos jesuítas.
Em seguida, a segunda parte apresenta as concepções e, sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelos membros do governo imperial no trato dos escravos da nação. Aqui, a análise concentra-se em meados do século XIX – período em que a documentação oficial permitiu perceber, com maior recorrência, a presença de cativos “públicos”. A autora mostra que houve a tentativa inicial de vender tais escravos a particulares, mas que o governo imperial acabou adaptando-se à condição de proprietário. Havia um sistema de trocas entre as fazendas e fábricas para suprir as necessidades de mão de obra, além de regulamentos para o controle e a manutenção da rotina produtiva nesses estabelecimentos públicos.
Quanto a esta segunda parte do livro, cabe destacar o capítulo que aborda a “visão oficial” sobre os escravos nacionais. Nele, Rocha busca dimensionar o impacto da escravidão pública nos debates políticos de meados do século XIX brasileiro e perpassa alguns temas caros ao período, como abolicionismo, patrimonialismo e liberalismo. De acordo com seu entendimento, a administração dos cativos “públicos” pelo Estado imperial teve um papel relevante na época, pois intensificou as discussões em torno da manutenção da escravidão “privada” na década de 1860. Segundo ela, “[…] como sancionadora da escravidão, a presença deles [dos escravos da nação] não gerava incômodos, mas no momento em que o Estado passou a ter uma nova atitude e as questões emancipacionistas ganharam vulto, isso influenciou as políticas públicas para com eles” (p. 171).
Entretanto, Ilana Peliciari Rocha também expõe os limites dos posicionamentos que questionaram a escravidão e o uso de escravos pelo governo imperial nesse período. Ao analisar os discursos do Parlamento do Império e um embate entre o periódico Opinião Liberal e a Mordomia-mor – repartição responsável pelos escravos da Fazenda de Santa Cruz -, ela identifica que a defesa da liberdade dos escravos da nação sofreu reveses devido à preocupação de que o assunto se estendesse à abolição do sistema escravista. Na compreensão da autora, tais discussões mostram que houve uma contradição entre o discurso liberal e as práticas do governo imperial, bem como o uso dos escravos nacionais no âmbito privado – o patrimonialismo. Juntos, tais aspectos teriam dificultado a aprovação de medidas favoráveis à alforria dos escravos da nação e, ao mesmo tempo, postergado o fim da escravidão particular no Brasil.
Especificamente sobre o “patrimonialismo”, Rocha acompanha a perspectiva de José Murilo de Carvalho e entende que a escravidão pública esteve relacionada à “administração patrimonial” empreendida pela burocracia nascente do século XIX brasileiro. Ela avalia, por meio da historiografia e das fontes, a complexidade que envolveu o uso de cativos pelo Estado: de um lado, o uso de escravos da nação para fins privados era admitido porque foi recorrente e não foi “efetivamente combatido” (p. 188); de outro lado, em alguns locais, como a Real Fábrica de Pólvora da Estrela, tal prática foi repreendida. A dificuldade do tratamento de tal patrimônio público esteve associada, ainda segundo sua leitura, à proximidade dos estabelecimentos com a sede do governo imperial e do Imperador, o qual teria influenciado uma postura “paternalista” em relação aos cativos. Para a autora, é possível afirmar que o Estado imperial, quando atuava como proprietário de escravos, foi patrimonialista, pois prevaleceu a confusão entre as esferas pública e privada na administração dos escravos da nação.
Vale observar que a “visão oficial”, tal como disposta por Rocha neste capítulo, dá centralidade aos embates entre liberais e conservadores no Brasil do Oitocentos. De certa forma, as atividades administrativas das instâncias do Estado e das instituições que mantiveram os escravos da nação, apresentadas ao longo de todo o estudo, ficaram em segundo plano nessa análise. Assim, é preciso sublinhar que não apenas as discussões no Parlamento e na imprensa, mas as diferentes medidas direcionadas aos escravos – presente nos regimentos, ofícios e relatórios – compõem a “visão” que o Império brasileiro pôde revelar sobre a escravidão pública e os escravos nacionais na época.
A última parte do livro de Ilana Peliciari Rocha é dedicada às ocupações e às experiências dos cativos mantidos na Fazenda de Santa Cruz, que foi usada como residência de passeio do imperador, e daqueles que se encontravam na Fábrica de Ferro de Ipanema. A autora conta que nesses estabelecimentos houve grande diversidade quanto às funções desempenhadas pelos escravos e que as oficinas manufatureiras permitiram que alguns deles se especializassem. Motivadas mais pelas demandas casuais dos administradores do que pela orientação de um regimento geral, a profissionalização e a diversificação das atividades nem sempre eram vantajosas para os cativos, os quais muitas vezes foram deslocados dos estabelecimentos em que viviam com suas famílias para trabalhar em outros locais, inclusive em propriedades particulares.
Nesta terceira parte, Rocha elenca ainda tópicos conhecidos na historiografia da escravidão, como a resistência escrava e a obtenção de alforrias, e aponta que os escravos da nação também recorreram às fugas ou aos pedidos de liberdade, mas de maneira distinta dos cativos “privados”. Enquanto as dificuldades de supervisionar a rotina de trabalho nos estabelecimentos favoreceram as fugas, a condição pública contribuiu, em muitos casos, para obtenção de alforrias. Aliás, apesar das ponderações feitas na segunda parte do livro, a autora conclui que a discussão parlamentar sobre a liberdade dos escravos da nação, iniciada na década de 1860, teve grande impacto na vigência da escravidão privada no Brasil. Segundo sua perspectiva, o debate que culminou na Lei do Elemento Servil, de 1871, teria impulsionado o discurso abolicionista e, até mesmo, “antecipado” a abolição aprovada em 1888.
Em suma, pode-se dizer com a investigação de Rocha que “ser público” para o Estado imperial brasileiro teve como característica o problema de “ser possuidor” de escravos para manter o funcionamento de seus estabelecimentos e de ter que lidar com um patrimônio disputado na sociedade oitocentista. Para os escravos da nação, “ser público” era estar sob o controle de um senhor disperso, algumas vezes favorável à liberdade, mas de qualquer forma presente em sua rotina e seus percursos. Os aspectos abordados indicam que este estudo contribui para ampliar as indagações, os debates historiográficos e a compreensão, entre os leitores interessados de hoje, sobre uma faceta pouco conhecida da história da escravidão e do Estado senhor de escravos no Brasil.
Referências
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: O Público e o Privado na Escravidão Brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018.
ROCHA, Ilana Peliciari. O escravo da nação Florencio Calabar: da Fábrica de Pólvora da Estrela para a Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Nucleus (Ituverava), v. 15, n. 2, p. 7-2-13, 2018. Disponível em: <Disponível em: http://nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/3011 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. ‘Escravas da nação’ no Brasil Imperial. História, histórias, Brasília-DF, v. 4, n. 8, p. 44-61, 2016. Disponível em: <Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10944 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. Imigração Internacional em São Paulo: retorno e reemigração, 1890-1920. Novas Edições Acadêmicas, 2013.
ROCHA, Ilana Peliciari. Demografia escrava em Franca: 1824-1829. Franca: UNESP-FHDSS, 2004
Larissa Biato Azevedo – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Câmpus de Franca. Mestre em História e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Câmpus de Franca. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018. Resenha de: AZEVEDO, Larissa Biato. O estado imperial: um senhor de escravos “pouco definido”. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 612-618, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Il bisogno di pátria – BARBERIS (CN)
BARBERIS, Walter. Il bisogno di pátria. [Torino]: Einaudi, 2004 e 2010. 141p.. Resenha de: GUANCI, Vicenzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
“Come figli di una famiglia senza armonia e senza memorie, gli italiani si sono spesso cresciuti da soli, superando la solitudine con cinismo, con opportunismo, con diffidenza, talvolta con esibizionismo. Ignorando le ragioni e l’utilità di una salvaguardia dell’interesse generale. E’ così che l’idea di patria si è di volta in volta caricata di significati che invece di tendere all’unità hanno accentuato visioni faziose, volte all’esclusione.” (p.7)
Con queste parole W. Barberis ripropone la questione della patria, o meglio della mancanza di un’idea di patria per gli italiani, partendo dalla sua considerazione che tale mancanza non ha inizio, come è stato scritto, l’8 settembre 1943, ma ben più in là, almeno cinque, se non quindici, secoli or sono. Egli sviluppa le sua argomentazioni annodandole intorno a tre temi, o meglio, intorno a tre “bisogni”, a ciascuno dei quali dedica quarantadue pagine: il bisogno di Stato, il bisogno di storia, il bisogno di patria.
Quale patria?
“una patria che non disegni i confini di un’identità chiusa, esclusiva; ma che prenda valore dalla consapevolezza della pluralità storica dei suoi volti. Una patria che non dimentichi di richiedere a chi appartenga alla comunità il rispetto delle tradizionali virtù civiche: l’obbligazione fiscale, l’esercizio della giustizia, la difesa delle istituzioni dello Stato.” (p. 10)
Il libro guarda al futuro, sia pure riflettendo sul passato. Si tratta, infatti, di un libro di storia. Perché, ricorda l’autore, ” è la storia ciò di cui ha bisogno un popolo: qualcosa che rimetta in ordine, oltre lo spirito di parte, la dinamica degli avvenimenti e le loro molteplici ragioni.” La memoria ha uno sguardo parziale e, pertanto, non può nutrire che sentimenti patriottici esclusivi; memorie differenti si contendono lo spazio della patria “una” tendendo ciascuna a farsi storia. E’ proprio questa contesa che una società sana deve evitare. E la storia ha esattamente questa funzione: “affidata a protocolli riconosciuti da una comunità scientifica”, attraverso procedure di analisi e interpretazioni, ha il compito di fornire alla comunità intera uno sguardo generale. Barberis esemplifica tutto questo nelle pagine dedicate a sviluppare il tema del bisogno di storia indicando le linee per la costruzione di una “dotazione storiografica comunitaria – se vogliamo nazionale – … [uscendo] dalle contingenze e dalle urgenze della contemporaneità. L’Italia ha una storia millenaria, tutta utile alla definizione dei suoi caratteri attuali e alla possibilità di emendarli.” E qui vengono ricordati i soggetti necessari a costruire una storia d’Italia: la Chiesa innanzitutto, Roma, i municipi, il Mezzogiorno, la Repubblica, la Costituzione.
La storia ci conferma che una comunità priva di un apparato statuale efficiente e condiviso non è davvero tale, poiché ciascuno in misura più o meno grande inclina infine verso il proprio interesse privato, provocando proprio ciò che tanto spesso è stato incolpato agli italiani: opportunismo, trasformismo, dissimulazione, mancanza di senso dello Stato, appunto. Barberis mostrando la necessità di uno Stato per gli italiani ripercorre la storia della sua formazione a partire dalla risposta alla domanda: perché proprio il Piemonte (e non un altro tra gli Stati d’Italia) unificò la penisola fondando lo Stato italiano?
“Il Piemonte, selvatico e periferico, non aveva conosciuto gli splendori della civiltà comunale e signorile… La certezza delle istituzioni, la loro continuità, la prospettiva di durata della dinastia, il suo radicamento territoriale, fecero ciò che non conobbe il resto d’Italia: assicurarono i sudditi che le loro iniziative erano possibili, che avevano i requisiti minimi di riuscita, primo fra tutti il tempo, garante eccellente di ogni contratto…. non furono simpatia, garbo e cultura; ma senso dello Stato, tecnica amministrativa e militare, e anche un certo patriottismo, il bagaglio eccentrico con cui poi i piemontesi si disposero all’incontro con gli altri italiani.”(p. 21)
Il bisogno di patria, la coscienza di appartenere ad un’unica comunità, furono esigenze che si rappresentarono immediatamente dopo la fondazione dello Stato italiano e sono state preoccupazioni presenti finora nella classe dirigente per tutti i centocinquant’anni dal 1861. All’inizio fu soprattutto la letteratura a svolgere il ruolo più importante, si pensi solo alle poesie di Carducci e al Cuore di De Amicis, ma poi dopo la prova tremenda della Grande Guerra, fu il fascismo a forgiare l’idea di patria sovrapponendola alla retorica della guerra, aiutato in questo dalla letteratura futurista. Così si confuse patria con nazionalismo, aggressione e morte, con la guerra appunto.
Oggi, bisogna ricostruire per gli italiani un’idea di patria che escluda non solo guerra ma anche la sopraffazione degli altri popoli , i quali, al contrario, vanno inclusi in un’idea di patria meticciata, alla quale partecipano tutti coloro che hanno la fortuna di abitare un paesaggio unico al mondo, poiché, ricorda Berberis citando Settis, “il nostro bene culturale più prezioso è il contesto, il continuum nel quale si iscrivono monumenti, opere, musei, città e paesaggi, in un tessuto connettivo ineguagliabile… questo è il tratto identitario degli italiani” (p.111). Se questo è vero, come è vero, vuol dire che insegnare storia d’Italia significa insegnare contemporaneamente geografia d’Italia, poiché ciò che conta imparare, va ribadito, è innanzitutto il contesto, di tempo e di spazio.
[IF]O Estado na teoria política clássica: Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas | Doacir Gonçalves de Quadros
Doacir Gonçalves de Quadros tem graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Política e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atualmente é professor do Centro Universitário Internacional (UNINTER) nos cursos de Ciência Política, Relações Internacionais, Direito, Comunicação Social e Secretariado Executivo. Como pesquisador atua nos seguintes temas: Teoria Política, Estado, Sociologia Política.
A obra intitulada O Estado na teoria política clássica: Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas, contendo 139 páginas, se divide em três capítulos. O primeiro, nomeado O Estado na teoria política grega clássica, se fixa em levantar os pressupostos iniciais para pensar o Estado. Para tanto, retorna-se às formas de governo aplicadas pelas propostas dos filósofos Platão e Aristóteles, abordando de início a obra A república de Platão, em que são examinados os contornos de sua teoria e a posterior classificação das formas de governo. Leia Mais
State Building in Boom Times: Commodities and Coalitions in Latin America and Africa – SAYLOR (RBH)
Os fatores históricos relacionados à construção de instituições públicas mais fortes têm sido sistematicamente estudados em muitas disciplinas. No entanto, as condições e os processos históricos que fortaleceram certas instituições públicas em alguns países, mas não em outros, permanecem pouco compreendidas. State Building in Boom Times suscita novo interesse por esse tema ao analisar as condições para a construção do Estado para além da Europa. Com esse objetivo, o livro destaca o papel dos setores exportadores de matérias-primas no fortalecimento das instituições públicas durante períodos de forte crescimento econômico. Leia Mais
Censores em ação: como os Estados influenciaram a literatura | Robert Darnton
Publicado pela Norton, de Nova York, em 2014, Censors at Work: How States Shaped Literature, o mais recente livro de Robert Darnton chegou ao Brasil em 2016 pela Companhia das Letras com tradução de Rubens Figueiredo, como Censores em ação: como os estados influenciaram a literatura.
Em setembro de 2012, Darnton esteve no programa Roda Viva [1] e dentre vários temas abordados analisou a importância que o historiador deveria dar à pesquisa presencial nos arquivos. Para ele, desta maneira é possível encontrar o que se procura e dar espaço à serendipidade, ambos os movimentos de relevância para o desempenho do ofício.
Desde O grande massacre de gatos, seu primeiro livro no Brasil, saído do prelo da editora Graal em 1986, o historiador apresenta com maestria uma dinâmica que une pesquisa, análise, uso de fontes arquivísticas e escrita da História. Constitui, sem dúvida, um dos mais importantes historiadores do livro e da leitura de nossa época, que busca, a partir de uma metodologia rigorosa tratar de objetos aparentemente não tão evidentes, tomando como ponto de partida perguntas cuja forma de responder evidencia a necessidade do recurso à micro-história com reconstruções que poderiam passar ao largo de pesquisador menos experiente. Com Darnton, os personagens, suas vozes e ações emergem de documentos silentes.
Apesar de vultoso, este seu método segue semelhante como em outros livros de igual sucesso e publicados pela mesma editora que agora traz ao público brasileiro o resultado da sua nova investigação.
A História do Livro e da Leitura na França é uma constante em suas publicações assim como a força e o poder do impresso, seja de livros ou de folhetos, como analisou em O diabo na água benta (2012) ou na rede comunicação provinda de canções na frança oitocentista como nos mostrou em Poesia e Política (2014).
Controle, censor e censura freqüentemente estiveram na linha de conduta de governos ao longo da história. No século XX, caso de nosso país, especificamente a literatura foi alvo em dois momentos, durante o Estado Novo e na Ditadura Militar, antes, no século XIX, as mordaças estiveram nas mãos de Portugal. Para ambos os séculos, historiadores brasileiros ainda se debruçam e analisam os danos causados pelos censores não só na literatura, mas na música, cinema e teatro, no caso do último século.
No que tange às contradições e as diferentes “censuras”, cabe citar um exemplo nacional. De volta ao nosso período colonial, em 2007, no artigo “O controle à publicação de livros nos séculos XVIII e XIX: outra visão da censura” a historiadora Márcia Abreu apresentou análise inovadora, dentro de temporalidade que abrange dois séculos examinando a ação da censura portuguesa nos romances. Com base em documentação impressa e manuscrita, a pesquisadora analisa as contradições e formas de análise do aparato censor para uma mesma obra – por exemplo. Estabelece a clara distinção entre circulação e produção de livros, discutindo os níveis de controle e, sobretudo, a forma de agir dos censores e sua trama no mundo tipográfico.
De igual modo, o autor norte-americano consegue traçar o perfil de alguns censores e das redes que se estabeleciam com as concessões e negociações de privilégios a tipógrafos e autores. Percebeu que, apesar das sucessivas mudanças na organização das instituições e na correlação de forças interna, o controle sobre os livros mantinha inalteradas muitas de suas práticas. Revelou também uma cultura política baseada em concessões, bajulações, trocas de interesses e uma censura que surpreendentemente considerava conveniência política, religiosa e moral, mas também sua qualidade estética. Por fim, um dos grandes méritos do texto foi seccionar uma imagem de uma censura puramente canhesca, maniqueísta e monolítica que havia sido cristalizada por estudos históricos do século XX.
Por essas razões, como método de análise Darnton propõe a etnografia e deixa apenas para as conclusões uma explicação que poderia ter sido apresentada ao leitor no início o livro. Para ele “uma visão etnográfica da censura a trata de maneira holística, como sistema de controle que permeia as instituições, colore as relações humanas e alcança as engrenagens ocultas da alma”. Como sempre traz uma pesquisa documental profunda e rigorosa, o que faz o livro ultrapassar o conteúdo que pretende e ser também um excelente exemplo de metodologia. Reforça que o “trabalho de campo nos arquivos leva o historiador a deparar com exemplos estarrecedores de opressão”.
O autor considera a literatura como um sistema cultural incorporado à ordem social e assim a propõe analisar, ponderando como a censura pode mudar a face da literatura, algumas vezes de forma muito explícita e de outras mais escamoteadas. Com grande brilhantismo, mostra a uma articulação entre temporalidades e contextos díspares, tendo como fio condutor o ato arbitrário do controle estatal das idéias através da censura.
A obra é dividida em três partes que sustentam a pergunta inicial: o que é censura? Para responder, indaga os próprios censores. Dois através dos arquivos – por exercício exegético fabuloso – e o último pessoalmente. Negociações, comprometimento, cumplicidade e negociação, ações que aparecem como práticas transgeracionais entre os censores e censurados. Assim, o livro perpassa três países em três épocas distintas. Em comum: três sistemas autoritários, ilustrando como a cultura política se consolida em cada caso.
Darnton abre o livro a partir da discussão sobre o ciberespaço que no início configurava-se um terreno fértil e livre, mas que com o passar do tempo virou um terreno de disputas, divisão, controle e vigilância. Lança uma questão que deveria estar constantemente em pauta: “será que a tecnologia moderna produziu uma nova forma de poder, que levou a um desequilíbrio entre o papel do Estado e os direitos dos cidadãos?”. A análise retroage ao passado e busca tratar do interior das operações de censura e evidencia que seja hoje ou no passado o objetivo era controlar a comunicação. Buscará na história comparativa a forma para tentar reconstruir a censura tal como operava em três sistemas autoritários: na monarquia dos Bourbon na França do século XVIII, no governo britânico na Índia – o Raj, do século XIX – e na ditadura comunista na Alemanha Oriental, no século XX. O autor considera que “cada um deles vale um estudo particular, mas quando tomados em conjunto e comparados, permitem repensar a história da censura em geral”.
A afirmação de Darnton se confirma ao longo dos capítulos, pois nos trará sistemas e formas distintas de exercer o controle. O autor se posiciona contrário à forma simplória que a censura foi estudada nos últimos cem anos. Parte do princípio de que não podemos falar em “a censura”, mas em censuras, pois elas diferem de acordo com lugares, tempos e personagens, por isso propõem uma abordagem etnográfica do objeto. Ele acredita que é preciso aprofundar a análise da dicotomia “repressão e liberdade” a fim de relativizá-la e perceber seus matizes. Ontem e hoje a censura poder ser muito mais sutil do que se supõe.
O primeiro capítulo, “A França dos Bourbon: privilégio e repressão”, é dividido em oito subseções, mas seu ponto nevrálgico se concentra em “A polícia do livro” e “Um sistema de distribuição: capilares e artérias”. Nele, Darnton articula os mecanismos para concessão de privilégios e mostra a fluidez e as promiscuidades da relação entre censores – em sua maioria professores da Sorbonne – os tipógrafos e autores. A burocracia, que aparece na França em 1750 com seus complexos sistemas de funcionários, simplificou e complicou o trabalho do censor. Eles atuaram praticamente como colaboradores de autores e as dedicatórias agiam como poderoso instrumento, mas era uma faca de dois gumes, pois “uma personalidade pública que aceitasse a dedicatória de um livro o endossava implicitamente e se identificava com ele”. Curioso fato foi que “apesar das disputas ocasionais”, escreve Darnton, “ a censura […] levou os autores e os censures a juntarem-se e não a separá-los”.
Tanto a trama de atuação dos censores quanto os seus critérios descritos por Darnton fazem lembrar o trabalho de Márcia Abreu – citado a cima – para os portugueses no mesmo século XVIII. O historiador americano apesar de mencionar várias vezes que o privilégio estava presente em outras partes da Europa, não nos indica onde ou como começou. Fermín de los Reyes Goméz no artigo “Con privilegio: la exclusiva de edición del libro antigo español”, publicado na Revista General de Información y Documentación (2011), informa que os primeiros privilégios foram conferidos na Itália, em 1469, a pedido de Antonio Caccia em Milão e de Johannes de Spira, primeiro impressor de Veneza. Deixa evidente que era um mecanismo que favorecia muitos tipógrafos e livreiros que a partir de então buscaram a proteção para seus negócios. De certo que não era nada ligado à proteção da propriedade intelectual, mas ao direito e aos regulamentos para exploração do comércio de livros. E assim como Darnton, verificou que o privilégio também englobava as mudanças de formatos do livro, uso de tipos diferentes e etc.
O segundo capítulo avança para o século XIX sob o título “Índia Britânica: liberalismo e imperialismo” e contêm igualmente oito partes, sendo a subseção “Vigilância” o ponto central do período tratado pelo autor. Ele relata o caso de James Long, um missionário anglo-irlandês em Bengala, que tentou “examinar tudo impresso em bengali entre abril de 1857 e abril de 1858”, a fim de ajudar o serviço civil indiano recém-criado a acompanhar o que estava sendo escrito, num esforço para “entender os indianos, não apenas para derrotá-los”, por isso “tudo foi pesquisado, mapeado, classificado e catalogado, incluindo seres humanos […]”. O governo britânico acreditava que para “manter seu império, eles precisavam de informação, que provinha, antes de tudo, do material impresso”. Surpreendidos pela Revolta dos Cipaios, em 1857, o Estado queria se antecipar aos revoltosos, ou seja, conhecer sua filosofia, seus pensamentos – uma justificava usada atualmente para controlar a vida de milhares de cidadãos. Para isso, Long colabora fazendo um levantamento de tudo o que foi impresso em bengalês entre abril de 1857 e abril de 1858, inspecionando as gráficas de Calcutá e comprando todos os livros publicados em 1857.
Darnton apresenta o processo de calúnia que Long sofreu após publicar um livro que tratava de um melodrama sobre a opressão dos trabalhadores nativos por plantadores britânicos. O historiador conclui com a pergunta: “o que se passava nos tribunais do Raj?”. Censura, vigilância e controle. Os britânicos mantinham o poder e exerceram a repressão com mão pesada.
Ao encetar o olhar para este exemplo, Darnton nos induz a pensar e questionar as práticas “justificadas” de controle e vigilância que vivemos hodiernamente no ciberespaço. Conhecer os hábitos, os costumes, a língua são algumas estratégias usadas há séculos como forma de dominação e exercício de poder.
O capítulo três, que adentra o século XX sob o título “Alemanha oriental comunista: planejamento e perseguição”, composto por também oito seções – equidade que mostra mais uma faceta do rigor metodológico do autor. Nesta parte, Darnton lança mão de fontes arquivísticas e de entrevistas com dois censores feitas nos anos de 1990, período em que esteve na Europa pesquisando.
Para compreender a forma de trabalho e o seu sistema, desta vez o historiador utiliza o relato de quem estava por dentro da máquina de censura. Como resultado, é proposto um diagrama – que pode ser adaptado para pesquisas afins – que mostra como funcionou o mecanismo de controle da literatura na RDA.
Ao longo da entrevista são detalhados os mecanismos de duas formas bem antigas de censura: os expurgos, quando parte do conteúdo era apagado ou rasurado e a prévia, quando a manipulação se dava no manuscrito. Tudo isto, baseado em um documento por escrito, o “Plano”, que funcionava como forma de guia sobre assuntos que poderiam ser publicados, mas também de controle sobre determinadas palavras. O entrelaçamento com práticas de censura de outras épocas e lugares é claramente ilustrado com o envolvimento de autores, editores, burocratas, e também leitores. Queria-se um a Alemanha Oriental livre da influência nefasta – assim reputada – do Ocidente, e para isto a literatura foi francamente manipulada.
Não resta dúvida tratar-se de uma obra que se sugere entusiasticamente pelo assunto – que nos interessa sempre – e por mais uma aula de metodologia utilizada por Darnton. O livro inova com sua desafiante análise comparativa envolvendo três séculos – mesmo com as dificuldades e riscos inerentes.
Nota
1. TV Cultura.
Fabiano Cataldo de Azevedo – Bibliotecário, professor assistente da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO. Dourando em História Política do Programa de Pós-Graduação em História da UERJ. E-mail: [email protected]
DARNTON, Robert. Censores em ação: como os Estados influenciaram a literatura. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de: AZEVEDO, Fabiano Cataldo de. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n.16, p. 242-246, jan./jun. 2017. Acessar publicação original [DR]
Haji. The suicidal State in Somalia: the rise and fall of the Siad Barre Regime, 1969-1991 | Mohamed Ingiriis
A obra apresentada por Mohamed Ingiriis, pesquisador somali que atualmente está finalizando seu doutorado em Estudos Africanos pela Universidade de Oxford, é resultado de uma minuciosa pesquisa sobre o governo de Siad Barre. O trabalho reflete muito da trajetória acadêmica do autor, que tem seu campo de pesquisa concentrado nos estudos políticos sobre a Somália, apresentando uma abordagem focada na história da formação do Estado somali, perpassando a sociedade e cultura local. Sua pesquisa está ligada ao Centro de Liderança Africana (CLA) da Universidade de Oxford. O historiador somali é chefe de um projeto de pesquisa de construção da paz, dirigido pelo CLA, além ser também um especialista em Somália/Somalilândia nos temas relacionados à democracia, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Gotemburgo, Suécia. Ademais, Ingiriis tem uma série de trabalhos publicados que versam os temas já abordados e que questionam a sociedade patriarcal na Somália, a relevância da mulher nesta sociedade, seu papel e a relação com os clãs.
Para expor sua proposta de análise do sistema político da Somália, no período em que Siad Barre governou (1969-1991), Ingiriis aponta que a base de sua pesquisa foram documentos do Estado, notícias de jornais, sobretudo, africanos, mas também telefonemas para indivíduos que estiveram ligados ao governo de Barre. As fontes que compõe a obra são vastas e retratam uma minuciosa pesquisa, que traz muitos elementos ainda pouco abordados sobre este período no país africano. Neste sentido, o autor afirma que seu objetivo neste trabalho é mapear e discutir como Siad Barre chegou ao poder, como ele construiu seu regime, apontando quem foram os agentes envolvidos nesta escalada ao poder e, essencialmente, qual o tamanho do legado do ex-líder somali e sua contribuição para as guerras clânicas que a Somália enfrenta ainda nos dias atuais. A obra esta dividida em cinco partes com onze capítulos, em uma narrativa que constrói uma sequência histórica dos eventos que permearam o país durante o regime militar e se encerra com uma conclusão que sumariza os argumentos e observações da obra. Ao longo dos capítulos o autor procura associar a narrativa histórica à série de fontes presentes no livro, buscando assim lançar as bases para a compreensão deste período aliando uma perspectiva crítica a historiografia sobre o tema.
A época observada compõe vinte e dois anos da história do país do chifre da África, e para Ingiriis modelou os conflitos que a Somália enfrenta ainda hoje. Valendo-se de modelos heurísticos de análise dos pesquisadores africanos Achille Mbembe [2] e Mahamood Mamdani [3] , o autor constrói uma narrativa histórica linear, que percorre a queda do governo civil em 1969, com um golpe de Estado dado pelo General Siad Barre, chegando até a fuga do líder em janeiro de 1991 da capital Mogadíscio. Focando, sobretudo, nos aspectos políticos da história da Somália, o pesquisador somali discute como este governo ditatorial configurou uma política baseada no clânismo e nas negociações com a URSS e com os Estados Unidos. Segundo o historiador somali, a União Soviética tem protagonismo na formação da Somália como uma República Democrática que se declarava socialista e era governada por um partido comunista liderado por Barre. No entanto, ao longo da obra ficam claras as contradições deste novo sistema político – tendo em vista que a Somália até 1969 adotava um sistema de eleições diretas para o parlamento e para os cargos de Primeiro Ministro e Presidente – ele assume, como frisa Ingiriis, uma posição comunista, baseada nos textos de Marx, mas também leva os escritos do Corão em consideração, respeitando uma série de costumes islâmicos que entram em contradição com o marxismo. Neste ponto, se expõem as problemáticas entorno da adesão dos pressupostos do comunismo soviético, em oposição aos costumes e práticas ligadas às tradições somalis (a forma de organização clânica [4]), sobretudo, a religião islâmica, que é maioria no país e rege muitas práticas sociais e até políticas na Somália.
Problematizar os desenhos do regime de Siad Barre é o ponto central do texto que apresenta uma quebra com uma série de trabalhos elaborados por historiadores sobre a Somália, particularmente, o período do regime do General Barre. Há muitas dissonâncias entre as pesquisas produzidas, alguns trabalhos como de Alice Hashim (HASHIM, 1997) exprimem a ideia de que o governo iniciado com o golpe de 1969 se tornou, gradualmente, fascista, pelas medidas que implementou e com o progresso do sufocamento da liberdade. Ahmed Samatar (SAMATAR, 1995), notório pesquisador do tema, declarou, em seus trabalhos, que o regime tinha poucas ideias socialistas e uma fraca ideologia. Conclusão que não foge à argumentação do historiador somali, que apresenta incongruências do regime quanto a sua posição ideológica. Entretanto, Ioan Lewis (LEWIS, 2008) reconhecido por suas pesquisas no chifre da África, especialmente, na Somália, argumenta em suas obras que o governo do ex-líder somali foi um período conturbado, porém que não é a raiz dos conflitos clãnicos enfrentados na região desde 1991. Desta forma, o antropólogo inglês vai à contramão da tese que Ingiriis apresenta, considerando que para ele é no governo de Barre que se perpetuam os privilégios que os grupos clânicos ligados ao governo vão desfrutar. Esta prática, de permitir que os clãs ligados à família do General Barre obtivessem uma série de regalias econômicas e políticas e ainda, desfrutassem de uma certa imunidade política, é a chave para, o historiador somali, de como compreender de que maneira, após a queda do regime, o país fragmentou-se em regiões lideradas pelos chefes de clãs.
Com efeito, Ingiriis traz à tona uma discussão ainda pouco elaborada no meio acadêmico, sobre as causas do “colapso” do Estado da Somália em 1991. Tendo em vista, que poucos trabalhos foram publicados após o fim do regime, muitas pesquisas foram elaboradas ainda na época que Barre governava o país, fato que tem relevância na análise, pois muitas fontes sobre o período só se tornaram acessíveis recentemente. É neste ponto, que o livro The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre Regime afirma sua relevância, pois aponta muitos elementos significativos e desconhecidos, porque expõe como membros do governo viram ou, ao menos, afirmaram ver as medidas impostas e as consequências que determinadas atitudes do ex-líder somali teve para o país.
O autor evoca ainda, algumas discussões e comparações com outros líderes africanos, como: Mobuto Sese Seko ex-ditador do antigo Zaire e Idi Amin ex-ditador de Uganda, apontando a similaridade de determinados comportamentos e alianças, destes dirigentes com Siad Barre, que inclusive teve relações próximas com ambos. De forma relevante, Ingiriis tenta demonstrar como o comportamento destes líderes militares configura um núcleo de estudos importantes para compreender as ditaduras na África e os legados que estas deixaram. Como já afirmado, o historiador somali vai destacar a relevância que as relações com Estados Unidos e URSS, tiveram tanto na Somália como nos países dos líderes citados, apresentando uma análise comparativa do comportamento das duas potências mundiais e como elas, se valendo de novas alianças modificaram o cenário de algumas regiões da África, principalmente, na década de 70 e 80.
O trabalho permeia toda a vida política da Somália nos vinte e dois anos de administração do General Siad Barre, não obstante, o autor constrói a história da Somália tendo como pilar central a história do Estado. É nesse sentido, que questionamos a centralidade deste Estado como formador de um determinado tipo de história. Esta discussão, em torno de uma história centrada no Estado tem sua relevância, sobretudo, na escrita da história do continente africano, porque carrega consigo uma série de “valores” da escrita da história ocidental e na forma de organização política predominante no ocidente. Sendo assim, quando questionamos a posição do autor em escrever um texto focado na história política do país, estamos questionando a validade da formação de um Estado na Somália. Pensando no ponto levantado por Jean François Bayart (BAYART, 2009), de que os processos políticos africanos não necessariamente, independente das influências externas, deveriam terminar na conformação do Estado, argumentamos que focar a pesquisa apenas nas estruturas políticas do regime pode possibilitar que questões culturais e sociais estejam à margem das análises sobre a história da Somália. Relegando, desta forma, um papel primordial ao Estado e justificando a necessidade de uma organização política nos moldes de Estado europeu, herdado do período de colonização.
Revelando uma observação acurada dos eventos políticos que permeiam a Somália de Siad Barre The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre Regime, compõe o panorama de trabalhos que problematizam a instituição e a permanência de uma determinada elite política, especialmente, no que tange a inserção dos militares na liderança de governos africanos. Focando na figura de um líder que se constrói enquanto protetor, carismático e onipresente, Ingiriiis levanta questões de grande pertinência, já que ainda hoje a Somália sofre as consequências de um governo que primou pela permanência através de privilégios e violências institucionais.
Notas
2. A análise oferecida por Achille Mbmebe na obra On the postcolony, é largamente utilizada por Mohamed Ingiriis no sentindo de apontar que um poder de inspiração colonial estava presente em muitos ambientes da África póscolonial. O filósofo camaronês assinala o conceito de commandent utilizado pelo autor somali para abordar a ideia de que Siad Barre havia sido um militar treinado pelo colonialismo que após assumir o governo continuou a perpetuar práticas colonialistas. Cf. MBEMBE, Achille. On the postcolony. California: University of California Press, 2001.
3. Mahmood Mamdani oferece uma modelo de análise que foca no Estado na África, o autor ugandense aponta para a ideia de que os Estados pós-coloniais africanos não são nada mais que uma extensão do controle colonial. É neste sentido que Ingiriis se vale do seu modelo heurístico para problematizar a conformação e consolidação do Estado na Somália independente. Cf. MAMDANI, Mahamood. Darle sentido histórico a la violencia política en el África poscolonial. In: ISTOR, Año IV, Nº 14, 2003, pp. 48-68.
4. A designação de grupo clânico, esta ligada a tradicional divisão somali, na qual indivíduos com ancestrais em comum ligam-se uns aos outros pelos laços familiares. A Somália atualmente possui seis grandes famílias clânicas, estas tem subdivisões internas, que dão origem a sub-clãs. LEWIS, Ioan. Understanding Somalia and Somaliland: Culture. History, Society. New York: Columbia University Press, 2008. 275p.
Referências
BAYART, Jean-François. The State in Africa: the politics of the Belly. Cambridge Press, 2009, pp. 1-40.
HASHIM, Alice Bettis. The fallen state: Dissonance, dictatorship and death in Somalia. London: University Press of America, 1997. 168 p.
LEWIS, Ioan. Understanding Somalia and Somaliland: Culture. History, Society. New York: Columbia University Press, 2008. 275p.
SAMATAR, Ahmed; LYONS, Terrence. Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction. New York: Brookings Institution Press, 1995. 112p.
Mariana Rupprecht Zablonsky – Graduanda do 8º período de História – Licenciatura e Bacharelado na UFPR. Bolsista PIBID e orientanda do Prof. Dr. Hector Hernandez Guerra. Link do Lattes http://lattes.cnpq.br/5021751592431335 .
INGIRIIS, Mohamed. Haji. The suicidal State in Somalia: the rise and fall of the Siad Barre Regime, 1969- 1991. London: University Press of America, 2016. Resenha de: ZABLONSKY, Mariana Rupprecht. Cadernos de Clio. Curitiba, v.7, n.2, p.129-136, 2016. Acessar publicação original [DR]
Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato, empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889-1921 | Laura Caruso
El libro de Laura Caruso, Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato, empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889- 1921, viene a llenar un vacío importante en la historia obrera argentina. Resultado de la tesis doctoral de la autora, el texto recoge la historia de los trabajadores marítimos, uno de los sectores más importantes del mundo del trabajo a comienzos del siglo XX.
La historia que presenta es la de “los trabajadores embarcados del puerto porteño, la de su labor cotidiana, sus organizaciones, luchas e itinerarios políticos”. No es un estudio solo de sus organizaciones gremiales y luchas sindicales sino que busca recoger varios aspectos de su experiencia histórica: su mundo laboral, sus vivencias cotidianas, sus posturas políticas, las maneras en que se vincularon entre ellos, con otros trabajadores, con las empresas y con el Estado argentino. Leia Mais
El mito de la Argentina laica: catolicismo, política y Estado – MALLIMACI (AN)
MALLIMACI, Fortunado. El mito de la Argentina laica: catolicismo, política y Estado. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2015. Resenha de: QUADROS, Eduardo Gusmão de. O estado da fé: catolicismo e governo na história Argentina Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 43, p. 491-496, jul. 2016.
Conhecer a história dos argentinos contribui para alargar a visão geralmente difundida da história do Brasil. Existe, afinal, uma série de processos políticos e econômicos que apresentam traços semelhantes, o que poderia ser ampliado, obviamente, para a história latino-americana como um todo. Isso é especialmente válido se o foco estiver em uma instituição internacional, como é o caso da Igreja Católica Romana.
Qualquer estudo sobre a história do catolicismo necessita articular esses dois aspectos: o global, gestado a partir do Vaticano, e o nacional ou local, onde a ação religiosa deve intervir respeitando os elementos condicionantes mantidos pelos atores sociais. No primeiro nível, a Igreja Católica apresenta-se como salvadora da humanidade, já que representa a ação do Deus criador dos céus e da terra; no segundo nível, é uma instituição política que atua como uma “nação” dentre outras, com o interesse de fortalecer seu domínio.
Ao enfrentar a questão do “mito da laicidade” na história da Argentina, Fortunato Mallimaci tem isso claro. Portanto, por toda a obra, sua análise percorre as vias de mão dupla entre a Europa e a América Latina, sem esquecer o modo como as camadas populares reagem às estratégias implantadas pelas elites, sejam elas políticas ou religiosas. O fundamento teórico-metodológico para integrar tais aspectos é de inspiração bourdieusiana, apesar de o autor indicar diversas vezes as reflexões de Ernst Troeltsch como suporte relevante.
O livro estrutura-se em seis capítulos. Eles podem ser lidos como hipótese de periodização, mas também podem ser formas de relação que a instituição eclesiástica católica estabelece com as demais esferas sociais. Assim, não é meta do autor realizar uma abordagem propriamente contextual, e o texto rompe com a confortável linearidade cronológica, uma decorrência da postura de considerar “,[…] el catolicismo como un lugar social donde se confrontan discursos competitivos y desiguales” (p. 66), preferindo intercambiar os marcos históricos com processos contemporâneos. Os limites entre o que estaria “fora” ou “dentro” da igreja são altamente questionáveis quando se quer entender seu papel na governamentabilidade: Un análisis sociológico sobre el catolicismo no puede abordar su sujeto de estudio si lo encierra en un universo puramente religioso. El fenómeno debe estar ligado a la sociedad que lo involucra y si esta se encuentra dividida, conflictuada, enfrentada, se pueden encontrar esos conflictos, con formas proprias, dentro del espacio de lo religioso, especialmente si se trata de un movimiento dominante y extensivo como es el catolicismo. Si esos conflictos se agudizn se puede ver cómo se generan estructuras intermedias y paralelas que un estudio de ese tipo no puede ignorar. Por esto, creemos necesario mostrar los procesos que relacionen estructuras, agentes y personas en el largo plazo (p. 66).
Nessa perspectiva, o capítulo inicial trata da mescla dos valores e símbolos católicos com as manifestações nacionais argentinas. O ideário de edificar uma religião civil perpassa o discurso das elites sócio-religiosas.
Mesmo que tenha sido declarada a laicidade estatal desde meados do século XIX, bem como da educação, o autor afirma que “[…] sin símbolos y sin sagrados no se consolidan las nuevas naciones” (p. 20).
A igreja católica não era tão forte, na época, para interferir diretamente nesse projeto, contudo havia uma crença difusa, sem demasiada fidelidade doutrinária ou ética, que unificava boa parte da população. O conflito com as ideias do positivismo foi tênue e já nos primórdios do século XX a igreja-mãe estava casada com o estado-pai (p. 33).
Nas décadas de vinte e trinta do mesmo século, as tendências integristas, totalizadoras, inspiradas na imagem do Cristo Rei, tornaram- se consolidadas. Os cristãos, nessa visão, precisavam lutar para estabelecer o domínio divino, e consequentemente da instituição que o representa, sobre todas as coisas. A oportunidade de atuação eficaz adveio de um fator extrarreligioso: a crise global do liberalismo ao final dos anos vinte. Dessa forma, o discurso católico passou a se colocar como uma terceira via entre o temido comunismo e os problemas da democracia burguesa. As duas fontes secularizadas de esperança perderam, naquele momento, boa parte de sua credibilidade social.
Cada vez mais a igreja assumiu a posição de ser o cimento que sustentava a sociedade argentina. O processo de diocesização, incrementado rapidamente nessas primeiras décadas do século, possibilitou a capilaridade necessária à expansão da “geografia católica” pelo território nacional. Há, entretanto, uma diferença sensível em relação ao catolicismo brasileiro nesse caso, pois a maioria do clero, inclusive o episcopado, era natural do próprio país (p. 94).
O capítulo terceiro demonstra a importância da Ação Católica para todo o período que se segue. Sua espiritualidade, de forte aspecto militar e integral, contribuiu efetivamente para incorporar ao seio da igreja católica setores sociais ainda desprezados, a exemplo dos jovens e das camadas empobrecidas. O autor ressalta que a recente ruptura teórico- metodológica, relativizando as dicotomias entre sagrado e profano ou oficial e popular, são importantes para que surjam novos estudos acerca desses sujeitos, geralmente invisibilizados na documentação. Esses estudos deveriam enfocar mais suas lógicas internas, os motivos de adesão e as estratégias simbólicas de legitimação constituídas (p. 109).
O grupo de militantes da Ação Católica partia do pressuposto de que existiria um déficit de catolicidade na configuração social e até entre os membros da igreja. Encampavam, então, a tarefa de cristianizar todas as instituições sociais, gerando um novo tipo de patriotismo católico em um contexto de fortes conflitos ideológicos. A comprovação dessa habilidade de produzir um novo consenso nacionalista foi o apoio dado ao vitorioso movimento golpista de 1943, com a posterior incorporação de muitos membros do laicato católico no aparato estatal.
Decorrente desse modelo de inserção social, o foco do autor nos três últimos capítulos da obra parte da análise do mundo do trabalho.
A afirmação deste na configuração política e religiosa ocorreu através da mescla de valores religiosos com o insurgente peronismo. Existem afinidades evidentes entre a forma de governo estabelecida por Perón e o catolicismo social moldado pela Ação Católica, mesmo que houvesse grupos discordantes que acusavam as ações ditatoriais do regime. Nesse momento de intensa politização do cristianismo, ou de sacralização do político, Jesus passou a encarnar “el primer justicialista” (p. 137).
Apesar de Perón ser militar de carreira, a militarização do catolicismo, com a consequente simbiose entre a igreja romana e as forças armadas, manifestou-se com maior intensidade na ditadura dos anos setenta. Mallimaci faz questão de denunciar o regime instaurado após o golpe de 1976 como um terrorismo de Estado com fundamento cívico-religioso-militar (p. 168). Verdade que o quinto capítulo busca demonstrar um período mais duradouro, que perpassa todos os golpes militares, e este provém do catolicismo de matiz integral propalado pelos militantes católicos. Tal herança nunca fora unívoca, é bom ressaltar, e o movimento antiperonista nutriu-se igualmente do imaginário cristão-militarizado para excomungar e expulsar Perón da Argentina.
O catolicismo integral e o peronismo serão objetos de disputa social no esforço coletivo de construir uma Argentina verdadeiramente católica. Dois movimentos são exemplares desse conflito de tradições.
De um lado, está o movimento Sacerdotes para o Terceiro Mundo, a experiência de messianismo utópico e popular mais importante do final da década de sessenta. Conforme o autor: La critica social y politica del Movimiento a la ditadura del momento fue respondida desde lo politico, lo social y lo cultural.
También hubo otra, teológica, política y religiosa, pronunciada por los sacerdotes católicos que formaban parte de ese gobierno militar. […] (Pero) En el Movimiento de Sacerdotes para el tercer Mundo se disociaba la memoria católica de la función legitimadora de las relaciones sociales hegemónicas y se las trasladaba a las clases subalternas primero y luego al movimiento político mayoritario en sectores populares (p. 192).
Do lado oposto, partindo da crítica teológica, política e religiosa, nessa ordem, estavam os capelães militares. Esse grupo, em texto divulgado na grande imprensa, denunciava seus companheiros de batina, como é demonstrado pelo autor quando este cita um documento gerado pelo Comando de Operações Navais, assinado pelo capelão Duilio Barbieri. Afirma-se nesse texto que: […] hay fundadas razones para creer que entre estos sacerdotes (para el tercer mundo) hay algunos que son activistas comunistas expresamente infiltrados ya desde el seminario, y que con esos sacerdotes estamos en el cero absoluto del espíritu (BARIBIERI, 1970 apud p. 193).
A tensão sócio-religiosa perdurou até a ditadura civil-militar implantada em 1976. A repressão violenta, utilizando inclusive grupos paramilitares, foi legitimada pela Conferência Episcopal Argentina.
Mallimaci chega a afirmar peremptoriamente que “[…] los golpes militares nunca recibieron la reprobación del cuerpo epsicopal, tanto en Argentina como en el resto de América Latina” (p. 194).
O leitor pode estar curioso para saber como o padre Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, se portou nessa conjuntura. A obra apresenta denúncias de que ele, enquanto superior dos Jesuítas, desprestigiou tanto sacerdotes quanto leigos ligados à Companhia de Jesus durante a perseguição governamental e eclesiástica. Estes eram aqueles que estavam inseridos exatamente nas lutas dos pobres. Ainda como provincial da Universidade do Salvador, vinculada à Companhia inaciana, padre Bergoglio participou da condecoração, concedida em 1977, ao almirante Emílio Massera, conhecido já na época por sequestrar, torturar e “fazer desaparecer” muitos membros do catolicismo (p. 200).
Esse tema do papa argentino retorna ao final do livro, quando este trata das reconfigurações recentes no campo religioso argentino.
O catolicismo integral ficou fragmentado com o impacto das redefinições democráticas no espaço público, bem como com o crescente pluralismo religioso. Ter um papa peronista (cf. p. 239) fortalece a relação simbiótica entre nação e fé católica. Assim, a laicidade permanecerá apenas no nível jurídico, como um mito social vigoroso nesse enviesado processo de reconhecimento da liberdade.
A obra aponta, destarte, para desafios fulcrais da democratização ainda recente na América Latina. Talvez o autor tenha, no intuito de demonstrar sua tese, ressaltado demasiadamente a continuidade da relação instituída entre catolicismo e governo, ou desprezado momentos em que a religião se distanciou do campo político, que é um princípio afirmado teoricamente (p. 149). Todavia, como se buscou indicar nesta resenha, o livro de Mallimaci está prenhe de intuições analíticas e metodológicas capazes de revigorar os estudos acerca dos atores religiosos, suas representações sociais, lógicas identitárias, pretensões legitimadoras e, sobretudo, crenças.
Imaginar o futuro em um mundo globalizante: paisagens transnacionais dos discursos do modernismo e das políticas da memória.
Eduardo Gusmão de Quadros – Docente do PPG em História e em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Doutor em Historia pela Universidade de Brasília – UnB. E-mail: [email protected].
Los pueblos amerindios más allá del Estado | Federico Navarrete e Berenice Alcántara
En las últimas décadas ha comenzado a aflorar de la mano de antropólogos, historiadores y arqueólogos, una imagen distinta de las sociedades no estatales americanas que reconoce la variedad de sus formas de organización social, ubicando su protagonismo en la historia junto al de las sociedades estatales con las que han coexistido durante milenios y buscando comprender las interacciones entre ellas. Y lo cierto es que una de las contribuciones más recientes en esta reorientación historiográfica y antropológica de los estudios americanistas ha sido el libro Los pueblos amerindios más allá del Estado, coordinado por Berenice Alcántara Rojas y Federico Navarrete Linares. Se trata de una compilación que se sumerge de lleno en la problemática de la existencia de incontables pueblos indígenas que se sustrajeron con éxito al dominio de los Estados precolombinos, coloniales y republicanos, ese capítulo de la historia del continente americano que ha sido tradicionalmente ignorado tanto por la historiografía como por la antropología. En líneas generales, el libro surge como corolario de un proyecto grupal de investigación coordinado por los editores de esta obra colectiva, pero más específicamente emerge como concreción editorial de las discusiones del coloquio internacional organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México llevado a cabo en la ciudad de México D. F. a comienzos de noviembre de 2008, en el que debatieron especialistas de México, Brasil y Estados Unidos. De esta manera, los siete trabajos compilados en este volumen hacen alusión a regiones muy diversas de América e inclusive van más allá, ofreciendo una perspectiva comparativa sin precedentes de los ambientes ecológicos y las prácticas socioculturales que posibilitaron a ciertas sociedades amazónicas, andinas, mesoamericanas, aridamericanas y melanesias escapar de la dominación estatal. Combinan las herramientas disciplinarias de la historia, la arqueología y la antropología para procurar identificar las complejas dinámicas de estas sociedades y sus contradictorias relaciones con los Estados que han intentado sujetarlos a lo largo de los siglos. En conjunto, presentan una perspectiva novedosa que amplifica la visión de las sorprendentes historias y las interesantes culturas de aquellos pueblos que tradicionalmente han sido considerados primitivos o “sin historia”. Leia Mais
Estado e sociedade no Alto Império Romano: um estudo das obras de Sêneca | Fábio Faversani
Como estudar a Roma Antiga, através de um único modelo teórico, no intuito de compreender o funcionamento desta civilização que, embora tenha experimentado três formas distintas de governo (a saber, a Monarquia, a República e o Império) e de ter englobado em seu interior identidades tão diversas, conseguiu existir como uma unidade política por tanto tempo? Afinal, basta apenas o olhar de um bom curioso atentar para esta cronologia e perceber que do ano 709 a.C. até 476 d.C., datas que reconhecidamente marcam a fundação de Roma e o fim do Império ocidental, compreendem um espaço de treze séculos e este tempo todo não pode ser algo uniforme. Sobre isso, é preciso dizer que todos esses longos anos também podem ser vistos através das mais diversas óticas, porque compreendem acontecimentos dos mais diversos. Ou seja, ao falarmos da história da Roma antiga, podemos fazer isso através do estudo de reis, imperadores, oligarquias, lutas e questões sociais, escravidão, reformas agrárias, literatura, religião, rumores, eleições, casamento, família e etc. Sendo assim, o que fica desta reflexão inicial é que os modelos de análise empregados – embora necessários ao historiador – todos são arbitrários e não conseguem dar cabo aos mais diversos aspectos desta grande civilização. Leia Mais
Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y servidores del estado en el Río de la Plata (Montevideo 1806- 1860) | Mario Etchechury
En las últimas dos décadas la historiografía rioplatense ha dado cuenta de resultados de investigación que abordan la construcción estatal decimonónica como una problemática de análisis. Trabajos como los de Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin, Alejandro Rabinovich, Diego Galeano, Magdalena Candioti, Lila Caimari, Ana Frega, Eduardo Zimmermann, Ricardo Salvatore, solo por mencionar algunos autores con variadas perspectivas y campos de análisis (la justicia, la policía, la prisión, el ejército, los expertos), han permitido, por un lado, la realización de investigaciones que descomponen ese ente “Estado” en políticas, instituciones, actores y prácticas, y por otro, romper con la idea homogeneizante que se oculta detrás de la categoría. El último libro de Mario Etchechury, que sintetiza parte de su tesis doctoral realizada en la Universitat Pompeau Fabra de Barcelona y sus actividades de investigación en el proyecto State Building in Latin America, se inscribe en esa línea de reflexión. La participación en un proyecto latinoamericano no puede ser un dato menor, ya que el trabajo que evidencia la faceta oriental del fenómeno, tiene su contraparte en otras regiones latinoamericanas que permiten reconocer similitudes y diferencias que surgen de la confrontación de distintos estudios de caso. Leia Mais
War, states, and contention: A comparative historical study – TARROW (CSS)
Sidney Tarrow. Foto: WRVO /
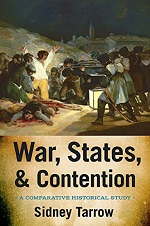
Sidney Tarrow is Maxwell Upson Emeritus Professor of Government and Visiting Professor of Law at Cornell University. He is the writer of numerous books, including The Language of Contention: Revolutions in Words, 1688–2012 and Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics. His book, War, States and Contention. A Comparative Historical Study, is a splendid and ground-breaking contribution to the comprehension of how war and states converge with contentious political issues.
Through a double accentuation on the structural foundations of war and dispute, from one perspective, and actor mobilization and repertories of contentious political issues from the other perspective, Sidney Tarrow addresses issues that lie at the heart of contemporary investigation on the restructuring of the state and on the obscuring of territories between internal and external politics. Beginning from the famous contention progressed by Charles Tilly that “states make war, war also makes states,” the book adds contentious politics to the equation. This adjunction provides further understandings of the relationship between states and war; contentious politics clarifies why and how states participate in wars, and the impacts of war on states. But the book additionally reveals insight into a second, less known equation of Tilly’s, which builds up a relationship between war and natives’ rights. Tarrow talks about how war prompts the employment of emergency measures that lessen rights, regardless of whether they are reinstated later. In other words, when a state rolls out war this involves changes in: the nature of internal contentious politics, the state’s reactions to conflict, and in state organization.
Tarrow examines these issues through a comparative historical study that uncovers how current structural changes in states, fighting, and types of contentious politics alter what we might see in the time of Western state-building. Drawing on these mechanisms connected to the formation and union of Western European states, Tarrow acknowledges two pivotal upturns. On the one hand, it puts contention between war and the state, considering both opposition from within national boundaries and from outside. Through this, he also studies the various forms through which domestic and international conflict stand in relation to each other. On the other hand, Tarrow updates these issues to the present in the analysis of the U.S. state and the War on Terror. He reveals how structural changes linked to globalisation and internationalisation alter the relationships between states, warfare, and forms of contention.
The author’s argument is built around a triptych—war, state, and contention—and bridges the gap between social movement studies, comparative historical sociology studies, and international relations. The relevance of this approach relies not only on placing three usually separate strands of literature in dialogue with one another, but also on the major results that the book offers. Powerful hypotheses for further research are provided. The present discussion engages with the book’s arguments on three intertwined topics, which constitute some of its major results: the relation between war and citizens’ rights; the transformation of the territoriality of war, states and contention; and the relation between war and the state. The inclusion of contention between war and rights reveals itself to be crucial for clarifying the relationship between the two. This is needed given that the issue seems not entirely solved by the historical sociology of the state, and is almost left unaddressed by research on contemporary wars and social movements. In this respect, one of the most striking results of the book is to reveal at what point the modern state is characterised by periods of restriction of citizens’ rights in wartime. In Tilly’s argument about war, states and rights, the relation between the three elements has a positive effect on rights. Because he looks at contentious politics, Tarrow demonstrates that the shrinkage of rights in times of war is a recurrent and understudied feature of the state as a specific political system. The advent of this “emergency script” is unveiled through a detailed historical account.
Chapters about U.S. politics after 9/11 shed light on a major transformation related to the use of legal instruments to modify the limits of the legally accepted boundaries of states’ interventions on bodies and limitations of individual liberties. The “rule by law” argument provides key understandings of how liberal democracies combine their foundational creeds with increasingly illiberal policies. Instead of despotic emergency rule, what is observed is a creeper process. Formally and procedurally, the U.S. state did not roll back liberal constitutionalism; however, in its content, the latter has been partially reshaped by the transformation of legally accepted boundaries on crucial issues such as the right to a fair trial or to individual integrity. In addition, both the increasing duration of wars and the undefined boundaries between times of war and peace have created a new hybrid status that seems to facilitate the perpetuation of these measures. By showing how the U.S. state deals with composite and long wars, and analyzing the interplay between contention, war, and states’ activities, Tarrow provides a critical contribution for the study of the blurred boundaries between domestic and international politics. The study of how international movements engage with states and vice versa sheds light on a major restructuring of the spatial dimension of power, while Tarrow also points out recurrent mechanisms of diffusion from policies for war to civilian policies.
In his book, Tarrow provides a stimulating perspective on the restructuring of state territoriality and its effects. In doing so, he echoes the questions raised by scholars who start from the idea that territoriality—bounded political authority—is a fundamental principle of modern political systems, and are interested in current processes of unbundling territoriality.
Sidney Tarrow’s investigation gives valuable insight in to the notion new territorialities in politics, and could engage more straightforwardly with these writers and with his own particular past contributions on these issues. Indeed, Tarrow has two fundamental arguments to make in this regard. This first is that he draws on the state-building literature, he indicates how the territorial restructuring of both war and contention influences the state, whose organization is as a matter of first importance territorial. Along these lines, Tarrow puts war back into the examination of state territorial restructuring. While most research sheds light on economics as a main thrust, contentious politics and composite wars additionally involve new types of state intervention and institutional arrangements. The second argument of Tarrow is that the unbundling of political power and rights are mutually related. The historical backdrop of the state and rights is a matter of territorial infiltration, confinement within boundaries, and the definition of the criteria that consider the privileges of political and social rights. A third set of comments highlights war and the transformation of the state in terms of power and bureaucracy. The preparation for war and the state of war opens up new opportunities for state authority in terms of the repression of opponents, as well as for the strengthening of both tax and repressive apparatus.
Tarrow’s main consequence for the U.S. state in relation to these issues is fascinating.
Indeed, there is an expansion of the structure of government; for example, the scope of the FBI and the Pentagon, as well as the multiplication of new agencies and joint-government organisations. Both the scope and the size of the U.S. state have expanded, despite a strong anti-state tradition. In the War on Terror, the contradiction between the expansion of the national security state and the anti-state movement has been somewhat resolved through increased outsourcing to private firms for the delivery of military and intelligence services.
This form of “government though contracts” allows for the preservation of existing budgets in the security sector, while increasing side-expenditure which is more difficult to track and control. The quick and poorly coordinated multiplication of contracts has created a much more intrusive U.S. state, but also a state more vulnerable to penetration from civil society and to regulatory capturing from firms. The writer conceptualizes this transformation of state power through Michael Mann’s distinction: there is in this manner a double extension of both the hierarchical and the infrastructural force of the U.S. state in connection to the War on Terror. This point, which is significant to the argument, is to a great degree stimulating.
Sabah Mushtaq – History Department. Quaid-i- azam University Islamabad, Pakistan [email protected].
[IF]Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea | André L. Resente
“Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea” é a obra do economista neoclássico André Lara Rezende, publicada em 2015 pela editora Companhia das Letras. O filho do escritor Otto Lara Rezende participou da elaboração do Plano Real, foi presidente do BNDES no governo FHC e fez parte da última campanha de Marina Silva à presidência da República. O livro dispõe de uma coletânea de trabalhos selecionados ao longo dos últimos anos distribuído em três capítulos, tendo como eixo central a desvalorização da política e a necessidade de repensar o Estado em prol da revalorização da vida pública. Entrelaçada com esta questão o leitor encontra uma aguda discussão sobre o crescimento econômico enquanto elemento associativo ao bem-estar social.
Para o autor o Estado precisa urgentemente caminhar devagar e (re) pensar os seus ápices de crescimento acelerado, porque talvez a simplicidade de dar um passo de cada vez possibilite o caminho mais seguro para uma sociedade cujo bem-estar seja ao menos vislumbrado para todos. Dentro deste escopo indica ainda a necessidade de usarmos da lógica cartesiana, não para sabermos o que é real, mas por meio da experimentação racional descobrirmos o que é falso: que o avanço científico aliado a um crescimento econômico acelerado não se apresenta como o único caminho para o bem-estar da civilização. Leia Mais
Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea / André L. Resente
“Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea” é a obra do economista neoclássico André Lara Rezende, publicada em 2015 pela editora Companhia das Letras. O filho do escritor Otto Lara Rezende participou da elaboração do Plano Real, foi presidente do BNDES no governo FHC e fez parte da última campanha de Marina Silva à presidência da República. O livro dispõe de uma coletânea de trabalhos selecionados ao longo dos últimos anos distribuído em três capítulos, tendo como eixo central a desvalorização da política e a necessidade de repensar o Estado em prol da revalorização da vida pública. Entrelaçada com esta questão o leitor encontra uma aguda discussão sobre o crescimento econômico enquanto elemento associativo ao bem-estar social.
Para o autor o Estado precisa urgentemente caminhar devagar e (re) pensar os seus ápices de crescimento acelerado, porque talvez a simplicidade de dar um passo de cada vez possibilite o caminho mais seguro para uma sociedade cujo bem-estar seja ao menos vislumbrado para todos. Dentro deste escopo indica ainda a necessidade de usarmos da lógica cartesiana, não para sabermos o que é real, mas por meio da experimentação racional descobrirmos o que é falso: que o avanço científico aliado a um crescimento econômico acelerado não se apresenta como o único caminho para o bem-estar da civilização. Leia Mais
Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción d el Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX | Ignacio Martínez
El sugestivo título del libro de Ignacio Martínez hace que el lector especializado realice una primera comparación con la conocida obra del historiador argentino Tulio Halperín Donghi, Una Nación para el desierto argentino, y trate de adelantarse e inferir un conjunto de reflexiones. Una de ellas refiere al “delicado contrapunto” entre dos temas dominantes, la construcción de una nueva nación y la construcción de un Estado. Halperín analizó el proceso de transformación de una Argentina sin centro a un Estado nación consolidado y Martínez estudia ese mismo proceso en forma paralela a la conformación de la Iglesia católica, planteo que ha tomado fuerza en los estudios sobre religión de los últimos años. El autor incorpora la variable eclesiástica como parte de la construcción de los poderes políticos en el Río de la Plata desde una escala de análisis provincial y estudia de las relaciones jurisdiccionales a nivel supraprovincial. Como explicita Martínez, la “Nación” a la que refiere el título del libro, es un espacio jurisdiccional con una autoridad capaz de dirimir los conflictos entre las autoridades locales y de fijar reglas generales para evitarlos. Desde esta perspectiva la “iglesia argentina” de la primera mitad decimonónica constituía un conjunto de diócesis que los distintos gobierno postrevolucionarios intentaron controlar.
Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) -principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina-, Martínez ha orientado sus investigaciones sobre el pensamiento ultramontano en el siglo XIX y su relación con la construcción del régimen republicano en Argentina. La obra que reseño es el resultado de la tesis doctoral del autor y se encuentra dentro de los trabajos que confieren nuevos aires a los estudios sobre religión en la Argentina. Más de quinientas páginas en las que se despliega un aparato erudito impecable, acompañado de una escritura clara y ordenada de un proceso por cierto enredado y espinoso. La investigación giró en torno a tres grandes líneas de reflexión. La primera tiene que ver con la importancia de dotar a la Iglesia de historicidad, esto es, poder descomponerla analíticamente en diversas dimensiones (económica, política, cultural, ideológica, etc.), y comprender que cada uno de esos planos comparte ciertos rasgos con la sociedad de la que forma parte. La segunda línea de reflexión refiere a los estudios tributarios en gran parte de la sociología de la religión -José Casanova, David Martin, Luca Diotallevi, entre otros – que proponen repensar la secularización como un proceso de recomposición de lo religioso en la sociedad. Una secularización que también implica pensar en diferentes dimensiones y que Martínez privilegia la institucional y política. En esta línea el autor retoma el concepto de laicización para explicar el proceso en el que las instituciones fundamentales de gobierno y de reproducción social se desprenden de manera gradual de los elementos religiosos. En el Río de la Plata del siglo XIX la religión no desapareció de la vida política frente al avance del poder civil sino que se recompuso. La Iglesia católica dejó de constituir el argumento último de legitimación de las instituciones políticas sin dejar de ser considerada necesaria para consolidar una moral cívica. Lejos de estar frente a una paradoja o contradicción, esa fue una de las características de la secularización en el territorio argentino. A su vez, Martínez utiliza una noción ideal-típica construida por el sociólogo francés Jean Baubérot, “umbrales de laicización”. Dicha conceptualización hace referencia al establecimiento de límites, pisos de secularización, materias que se ponen en discusión, se avanza sobre ellas sin posibilidad de retroceso. A partir de los umbrales “es posible evaluar las posiciones en disputa en un pie de igualdad, sin ubicar a una de ellas como triunfadora de antemano” (p.27).
La tercera línea de reflexión se relaciona con los nuevos estudios sobre surgimiento del Estado moderno. De manera específica aquellos de índole jurídica que han cuestionado la imagen de un centro monopolizador consumado en el monarca absoluto. Y en su lugar plantearon una pluralidad de jurisdicciones geográfica y socialmente superpuestas, cuyos pilares funcionaban según reglas y valores diversos. De manera específica para el Río de la Plata, Martínez retomó los trabajos de José Carlos Chiaramonte en los que este historiador refutó dos visiones enfrentadas que daban por sentado la influencia unívoca del iluminismo francés o de la tradición pactista española en los revolucionarios rioplatenses. En lugar de analizar el proceso revolucionario como una sucesión de modelos de pensamiento, Chiaramonte planteó la coexistencia de distintas tradiciones y formas de identidad política. A su vez, un conjunto de historiadoras como Marcela Ternavasio y Noemí Goldman profundizaron los análisis sobre formas de identidad, discursos y prácticas formales e informales de la política. A partir de sus investigaciones sabemos que existió una coexistencia de elementos pertenecientes a la tradición española junto con nuevas concepciones sobre el origen de la soberanía y las formas de ejercerla. Precisamente Martínez destaca que dichos trabajos señalaron la importancia de la escala provincial en el estudio del proceso de transformación de un sistema político de antiguo régimen a una república federal.
Ubicua, inasible, embrionaria, nebulosa, difícil de identificar como un actor concreto, Martínez caracteriza con esos términos a la Iglesia “argentina” de comienzos del XIX. El estudio de los conflictos provocados por los ajustes que sufrieron las jurisdicciones civiles y eclesiásticas en el Río de la Plata, entre 1810 y 1865, permite materializar y observar las diferentes aristas que tuvo la relación Iglesia-Estado. Una relación construida a las sombras de la transición entre dos formas políticas diferentes y con distintas fuentes de legitimidad. Desde esta perspectiva, Martínez encuentra un eje de análisis crucial, en sus palabras “la piedra de discordia”, que guía toda su obra: el derecho de Patronato. Entendido este último no como la puja entre Iglesia y Estado, sino como una manifestación de aquella transición. El Patronato constituyó un atributo de la soberanía antes y después de 1810, pero el problema estuvo en el significado de la nueva soberanía. Luego de la súbita desaparición de los procedimientos coloniales para el nombramiento de obispos (Patronato indiano), sobrevino un período en el que la incomunicación con Roma impidió asegurar criterios de selección confiables. Sumado a ello, el territorio argentino se encontraba en un momento caracterizado por la desarticulación política e institucional. Los Estados provinciales emergieron como las unidades político-administrativas más estables, y reivindicaron el ejercicio del patronato. Martínez desarrolla su explicación a partir de un conjunto de hipótesis sumamente sugestivas: la decisión por parte de los gobiernos posrevolucionarios de conservar el derecho de patronato condicionó el éxito de los ensayos estatales del período. A su vez, la necesidad de conservar el derecho de patronato por parte de las provincias limitó su independencia y facilitó la injerencia de poderes supraprovinciales. De esta manera, el patronato nacional debió consolidarse frente a dichos poderes provinciales y frente a la Santa Sede que se encontraba en pleno proceso de “romanización”.
El libro está estructurado en tres partes de tres capítulos cada una que responden a la periodización elegida, 1810-1820, 1820-1852 y 1852-1865. En cada una de estas tres etapas Martínez estudia por un lado, la normativa implementada y los conflictos que ello acarreó y por el otro, los argumentos y manifestaciones que emergieron para defender o refutar cada una de dichas normas. El autor explica la gestación de la relación Iglesia-Estado a partir de la coexistencia de engranajes antiguos y nuevos. En este sentido, la persistencia de la figura del patronato y sus modificaciones dan cuenta de los rasgos que adquirió el proceso de laicización y de las dimensiones territoriales necesarias la construcción de poderes políticos viables.
La primera etapa estuvo signada por el eco de la tradición borbónica, que asignaba al Estado un papel decisivo en la definición de los objetivos de cambio económico-social y un control preciso de los procesos orientados a lograr dichos objetivos. El autor plantea una continuidad inconsciente de una tradición administrativa e ideológica. A comienzos del siglo XIX todas las instituciones estaban atravesadas por la religión, por su sensibilidad, y sus normas. Martínez, desde la perspectiva de los estudios que refutan la idea de una iglesia colonial monolítica, da sentido a una entidad religiosa en un momento en que perdió el lugar legítimo que tenía durante el antiguo régimen. El origen revolucionario y secular del nuevo poder soberano entró en conflicto con los fundamentos del patronato que suponían la autoridad política católica.
La caída del Directorio en 1820 abrió la segunda etapa en la que emergieron tres poderes nuevos con pretensiones sobre las iglesias rioplatenses. Por un lado, los gobiernos provinciales y por el otro, dos poderes supraprovinciales (Roma y Juan Manuel de Rosas). Los tres convivieron, pero cada uno con sus propios intereses, escalas jurisdiccionales y diferentes fuentes de legitimidad. Los gobiernos provinciales fueron la única autoridad patronal luego de 1820, y cada uno se hizo cargo de sus propias estructuras eclesiásticas -hecho que en muchos casos implicó reformas. A su vez, Roma entró en escena con el objetivo de tomar contacto con las iglesias sudamericanas para aumentar su injerencia en los nombramientos de autoridades diocesanas. El análisis que el autor realiza de la conflictiva creación de obispados como el de Cuyo por ejemplo, muestra la multitud de actores que intervinieron, el tiempo que implicó, y cómo el propio nombramiento de los titulares diocesanos reflejó novedades que alteraron las formas de patronato. La designación de obispos por parte del papa sin la participación de los gobiernos provinciales y la creación de una nueva jurisdicción como el Vicariato Apostólico generaron varias rispideces. Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores del resto de las provincias, Juan Manuel de Rosas, se adjudicó potestades de gobierno sobre las iglesias y ofició de mediador entre la Santa Sede y las iglesias locales. En palabras de Martínez, Rosas cumplió la función de “Protopatrono Confederal”.
La tercera etapa estuvo signada por la cristalización del vínculo Iglesia-Estado en la Constitución nacional de 1853. Martínez analizó en profundidad las discusiones y los alcances de los artículos relacionados directamente con la religión, a saber el sostén económico, la libertad de cultos y el ejercicio del patronato nacional. En primer lugar, la declaración sobre el sostén del culto involucró mucho más que un vínculo económico. Aunque hubo posiciones enfrentadas, tanto en 1853 como en 1860 cuando Buenos Aires revisó el texto constitucional, las argumentaciones más extremas se mantuvieron dentro de los cánones discursivos. Es decir, aquellos actores que se negaban a cristalizar en la Carta Magna la separación entre Iglesia y Estado, no avanzaron contra la libertad de cultos. Por su parte, quienes bregaban por despojar a las instituciones políticas de todo elemento religioso, tampoco llegaron a suspender la asistencia económica al culto católico. En segundo lugar, la continuidad del derecho de patronato muestra que su ejercicio adquirió importancia como instrumento de gobierno. Más aún cuando la Iglesia católica mantenía funciones de gobierno primordiales, como el registro de nacimientos, la sucesión de sus patrimonios y el destino de sus cuerpos. Martínez culmina su investigación en 1865, momento en que Buenos Aires fue elevada a la categoría de Arquidiócesis, hecho que le significó la independencia de Charcas pero reforzó el ejercicio del patronato nacional. De todas maneras, el lugar de la religión en el espacio político todavía estaba por definirse aunque las reglas del juego ya estaban trazadas.
Una obra sin lugar a dudas de consulta obligada para aquellos investigadores decimonónicos. Un valioso aporte a partir del cual toma cuerpo el “incómodo maridaje entre soberanía republicana y potestad religiosa” (p.278). El libro deja varios caminos e interrogantes sugestivos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las implicancias del Patronato en relación con las actividades misioneras que emergieron con fuerza a partir de la década de 1850? Si las misiones tuvieron su razón de ser con el Patronato indiano, entonces ¿qué funciones cumplieron en un contexto republicano? ¿Cómo repercutió en términos de soberanía el hecho de que dichas misiones las llevaran a cabo miembros del clero regular que, además de ser la mayoría inmigrante (italianos y franceses), respondían a autoridades externas? Incluso cuando la principal fuente de legitimidad de las misiones provino de la propia Constitución Nacional de 1853, ¿cómo fue el proceso de reacomodamiento a partir de dicho “mandato constitucional” en la ecuación conformada por el sostén del culto católico, la libertad de culto y el ejercicio del Patronato nacional? A su vez, ¿cuáles fueron los alcances de la “romanización”? Es decir, ¿en qué medida la pretendida centralización de la Santa Sede, a partir de Propaganda Fide, influyó en el desarrollo de las actividades misioneras del territorio argentino y en las relaciones con las autoridades civiles? Sin dudas, un conjunto de interrogantes que aportan significativamente a los debates sobre la construcción del Estado republicano y federal.
Rocío Guadalupe Sánchez – Instituto de Estudios Socio Históricos Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. E-mail: [email protected]
MARTÍNEZ, Ignacio. Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 2013. Resenha de: SÁNCHEZ, Rocío Guadalupe. Iglesia, soberanía nacional y patronato en la construcción del Estado argentino del siglo XIX. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 227-230, jan./abr., 2016.
Sobre o Estado – BOURDIEU (RH-USP)
BOURDIEU, Pierre, Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: BEZERRA, Marcos Otavio. Revista de História (São Paulo) no.173 São Paulo July/Dec. 2015.
Os cursos de Pierre Bourdieu reunidos em Sobre o Estado apresentam um conjunto de formulações teóricas, indicações metodológicas, interrogações, esboços de análises empíricas e pistas de investigações importantes para as pesquisas atuais sobre questões relacionadas ao Estado moderno. De imediato, gostaria de remeter a dois aspectos centrais explorados analiticamente ao longo das vinte e três aulas. Primeiro, a principal contribuição teórica do autor reside na incorporação do poder simbólico como dimensão essencial do Estado. Concebido como uma forma de crença, uma ilusão bem fundamentada, ao Estado é atribuído o poder de organizar a vida social através da imposição de estruturas cognitivas e de consensos sobre o sentido do mundo. Segundo, investigar a gênese do Estado é investigar a formação de um setor do campo de poder ou metacampo. Este é assim designado pelo fato de condicionar o funcionamento dos demais campos e intervir na definição da posição que cada um deles mantém em relação aos demais. Assim, a análise realizada pelo autor em Sobre o Estado se inscreve em seu projeto de elaboração de uma teoria geral do espaço social.
Publicado originalmente em 2012, o livro é fruto das aulas proferidas por Pierre Bourdieu no Collège de France nos três cursos dedicados ao Estado nos meses de dezembro de 1989-fevereiro de 1990, janeiro-março de 1991 e outubro-dezembro de 1991. Ele integra um projeto mais amplo de edição dos cursos e aulas do autor. Com a publicação na íntegra dos cursos, o leitor brasileiro tem a possibilidade de seguir as escolhas analíticas feitas pelo autor e a construção de suas ideias sobre o tema. Uma breve, mas esclarecedora, análise feita pelos editores do livro sobre o lugar tardio que ocupa o Estado nas pesquisas realizadas por Pierre Bourdieu é incluída no final do livro. Graças a ela, constata-se que a definição de Estado explorada em seus cursos – como “instância oficial, reconhecida como legítima, isto é, como detentora do monopólio da violência simbólica legítima” (p. 490) – é elaborada inicialmente em seu livro Homo academicus, de 1984. A edição brasileira conta também com um artigo do sociólogo Sergio Miceli da Universidade de São Paulo. Nele, o autor retoma as formulações de Bourdieu sobre a transição do Estado dinástico ao Estado moderno e destaca o papel que, no processo, desempenham os juristas como formuladores do desinteresse e da universalização, princípios e valores centrais que se encontram associados ao Estado.
O trabalho de transformação das aulas em textos coube a antigos colaboradores de Bourdieu, falecido em 2002. Eles optam pela apresentação de uma transcrição não literal, mas editada, do material gravado, obedecendo a princípios adotados pelo próprio autor ao revisar suas transcrições. O resultado é uma agradável surpresa, especialmente para os leitores que só têm acesso aos livros e artigos nos quais são publicados os resultados de pesquisas. Em sintonia com o espírito que anima o ensino no Collège de France – ensinar a pesquisa que se encontra em desenvolvimento -, o leitor tem a oportunidade de acompanhar, através das aulas, como recursos intelectuais e conceitos elaborados pelo autor – como a reflexividade, a comparação, o uso da história, a construção de modelos analíticos e as noções de habitus, campo e dominação simbólica, entre outros – são mobilizados no processo de construção de uma pesquisa. Mantido o formato das aulas, é possível observar a elaboração e o desenvolvimento de ideias, suas articulações com o material empírico, o confronto com modelos explicativos disponíveis, os desvios pedagógicos tidos como necessários ao avanço da reflexão, as repetições de coisas já ditas, as hesitações e as indicações de caminhos possíveis de exploração. A preservação em texto do estilo do discurso oral contribui para transmitir ao leitor a sensação de estar acompanhando as aulas e o andamento da pesquisa ao vivo.
O Estado, concebido como um conjunto de agentes e instituições, que exerce a autoridade soberana sobre um agrupamento humano fixado num território e que expressa de forma legítima esse agrupamento é, na visão de Bourdieu, um fetiche político. Essa representação dominante do Estado é interpretada pelo autor ao mesmo tempo como condição de sua existência e um de seus efeitos. O Estado é definido, portanto, como produto de uma crença coletiva para a qual contribuem teorias políticas e jurídicas. Analisar o trabalho de produção dessa representação e de fundamentação dessa crença é uma tarefa a que se dedica Pierre Bourdieu, especialmente em seu primeiro curso. A empreitada é indissociável do exame do Estado como fonte de poder simbólico, isto é, como local onde se produzem princípios de representação legítima do mundo social.
A definição do Estado como instituição que reivindica o monopólio da violência física e simbólica legítima no âmbito de um território decorre de um posicionamento do autor em relação às tradições estabelecidas do pensamento sociológico sobre o Estado. De Max Weber ele retém a interrogação a respeito da legitimidade do Estado, o monopólio da violência física, à qual acrescenta a violência simbólica. Da formulação de Émile Durkheim afasta-se no que ela conserva da visão de teóricos liberais (como Hobbes ou Locke), que alçam o Estado a promotor do bem comum, e retém a sugestão de pensá-lo como fundamento da integração moral (através da difusão de valores) e lógica (através do partilhamento das mesmas categorias de percepção) do mundo social, isto é, como princípio de construção de consensos e em torno dos quais, acrescenta Bourdieu, se estabelecem os conflitos. Em relação à “tradição marxista”, a critica é dirigida à ênfase posta na análise sobre a função de coerção exercida pelo Estado em favor das classes dominantes em detrimento da reflexão sobre as condições de sua própria existência e estrutura. O autor retém, porém, o argumento de que o Estado contribui para a reprodução das condições de acumulação do capital, mas atribui isso, retomando Durkheim, ao poder do Estado de organizar esquemas lógicos de percepção e consensos sobre o sentido do mundo. A submissão ao Estado passa a ser entendida como algo que deve menos à coerção física do que à crença em sua autoridade.
Para compreender os fundamentos dessa autoridade e dos mecanismos que promovem o seu reconhecimento, Bourdieu deixa de lado as formulações abstratas e privilegia a análise de medidas e ações do Estado. Assim, ele retoma pesquisas realizadas nos anos 1970 sobre o mercado da casa própria na França, especialmente a investigação efetuada sobre uma das comissões criadas – a Comissão Barre – para tratar do assunto. A comissão, exemplo de uma invenção organizacional, condensa, do ponto de vista do autor, o processo de gênese da lógica estatal. O estudo sobre seu funcionamento permite elucidar o mistério que dota os agentes, atos e efeitos do Estado de seu caráter oficial, público e universal.
Ao acompanharmos o argumento do autor constatamos que é na “crença organizada”, na “confiança organizada”, que se encontra a chave para se decifrar a lógica de constituição do poder simbólico do Estado. Estamos muito próximos aqui das formulações de Marcel Mauss sobre a magia. Um ato de Estado é um “ato coletivo”, realizado por pessoas reconhecidas como oficiais, e, portanto, “em condições de utilizar esse recurso simbólico universal que consiste em mobilizar aquilo sobre o que todo o grupo supostamente deve estar de acordo” (p. 67). Através da oficialização, agentes investidos de legitimidade transformam um ponto de vista particular – uma gramática, um calendário, uma manifestação cultural, um interesse etc. – em regras que se impõem à totalidade da sociedade. Examinar os mecanismos que fundam o oficial é, portanto, uma via para tornar compreensível como um ponto de vista particular é instituído como o ponto de vista legítimo. O efeito de universalização é, por excelência, um efeito de Estado.
A formação do Estado como lugar de elaboração do oficial, do bem público e do universal é indissociável de dois outros aspectos desenvolvidos pelo autor em suas análises. Primeiro, os agentes identificados com o bem público – como funcionários e políticos – encontram-se também submetidos às obrigações próprias ao campo administrativo. A demonstração de que estão a serviço do universal, do interesse coletivo e não de um interesse particular, por exemplo, é um meio de usufruir do reconhecimento social associado a esta condição, isto é, de se beneficiar dos lucros simbólicos que se encontram diretamente vinculados às manifestações de devoção ao universal. O autor lembra ainda, e este é o segundo aspecto, que as lutas que definem os processos de universalização são acompanhadas de lutas entre agentes sociais interessados em monopolizar o acesso ao universal. Estas lutas se dão entre agentes do mesmo campo e entre agentes de diferentes campos (jurídico, político, econômico, intelectual etc.). A concepção do espaço social como formado por campos diferenciados, com seus agentes e lógicas próprias, que entram em concorrência entre si, é uma ideia forte na teoria do autor. No processo de diferenciação, é localizada a gênese do Estado e a gênese de um poder diferenciado designado como campo de poder. O poder do Estado – como metapoder capaz de intervir em diferentes campos – é objeto de concorrência entre agentes concorrentes interessados em fazer com que seu ponto de vista e seu poder prevaleçam como o legítimo.
Uma vez esclarecida a natureza específica do poder do Estado, Pierre Bourdieu interroga-se sobre o modo como se dá a concentração do capital simbólico do Estado. Para isso, propõe realizar uma sociologia histórica que torne compreensível a sua gênese. O Estado passa a ser examinado como um objeto histórico e a história é incorporada à análise como um princípio de compreensão. O recurso à história é defendido como um instrumento fundamental de ruptura epistemológica. Como ressalta o autor nas primeiras aulas, o risco de se refletir sobre o Estado através de pré-noções é grande. O fato de o Estado ter uma participação significativa na estruturação das representações legítimas do mundo social contribui para que o pesquisador, ao se propor a pensar o Estado, o faça segundo as categorias e termos do próprio Estado. A historicização opera, portanto, como um antídoto contra os mecanismos de naturalização. A abordagem genética proposta visa restituir o momento inicial, aquele em que é possível identificar as possibilidades disponíveis para os agentes sociais, em que as lutas estão se desenrolando, as escolhas estão sendo efetuadas e naturalizadas. Trata-se de olhar para o momento em que se desenrolam as lutas que antecedem a oficialização e a universalização. A partir desta perspectiva, Bourdieu visa compreender a lógica específica que está na origem da constituição do campo burocrático como espaço autônomo em relação, por exemplo, à família, à religião e à economia. Para isso, retrocede à Idade Média europeia. Fazer a gênese do Estado é, desse modo, fazer a gênese de um campo em que as lutas políticas são travadas em torno da apropriação de um recurso particular que é o universal.
A incorporação da história à sua perspectiva analítica – o autor considera sem sentido a fronteira entre a sociologia e a história – não ocorre, no entanto, sem crítica a certa abordagem histórica. A despeito de historiadores constarem entre os autores mais citados nos cursos, Bourdieu os censura por se limitarem, em razão dos constrangimentos próprios à disciplina, a acumular histórias. Ele lamenta que suas análises não se desdobrem no sentido da elaboração de modelos analíticos. Essa crítica, no entanto, não é nova e apenas atualiza debates desenvolvidos no âmbito da própria historiografia. É um modelo, portanto, que ele propõe construir através de sua história genética também chamada de sociologia histórica. Através do exame de um número delimitado de casos particulares, Bourdieu se propõe a descrever a lógica da gênese do Estado, a elaborar um modelo teórico capaz de dar inteligibilidade a inúmeros fatos históricos.
Mas se o sociólogo, segundo sua compreensão, faz história comparada de um caso particular do presente, ele o faz de modo distinto do historiador em relação a um caso particular do passado. O primeiro, de acordo com a abordagem genética, constrói o caso presente como a realização de um dos casos possíveis. O segundo, ao ressaltar a unilinearidade dos processos, contribui para eliminar os possíveis que a abordagem genética propõe evidenciar. As leituras de Bourdieu sobre a história e seus usos na construção de seu modelo da gênese do Estado não ficaram sem respostas. Número recente da revista Actes de la Recherche em Sciences Sociales dedicado à razão do Estado (n. 201-202, de março de 2014), fruto de uma jornada de estudo realizada em janeiro de 2012 por ocasião da publicação de Sobre o Estado, dedica quatro de seus artigos a reações de três historiadores e um sociólogo às formulações de Bourdieu. Pierre-Étienne Will reflete sobre o modelo apresentado por Bourdieu a partir do caso chinês. Tendo em mente a questão do desenvolvimento do poder simbólico do Estado, Jean-Phillippe Genet chama atenção para a importância da literatura sobre a Igreja na Antiguidade e na Idade Média, não examinada por Bourdieu. Christophe Charle se concentra no debate entre história e sociologia e George Steinmetz critica as formulações de Bourdieu à luz de variações estatais como o Estado colonial e o Império. Como indicam estes textos, o modelo de gênese do Estado elaborado por Bourdieu, construído a partir de uma comparação entre os casos francês, inglês e incursões pelo japonês, tem sido avaliado quanto a sua pertinência e limite a partir do confronto com outras experiências.
A análise comparativa dos casos selecionados através da leitura critica de trabalhos de sociólogos que produziram comparações históricas (como Shmuel N. Eisenstadt, Perry Anderson, Barrington Moore, Reinhard Bendix e Theda Skocpol) e de historiadores permite a Bourdieu propor uma teoria da gênese do Estado como o resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital. Considerado dessa perspectiva, o Estado é interpretado como princípio de unificação e instrumento de organização social forjado em sociedades que se desenvolvem no sentido da constituição de espaços sociais diferenciados. Em sua interrogação sobre a gênese do Estado, Bourdieu não minimiza a importância da dimensão material e institucional em sua formação, ressaltada pela literatura por ele trabalhada. Ele investe, porém, na questão que considera mais essencial e menos resolvida, qual seja, a do consentimento, da aceitação da autoridade do Estado. A ela responde através de observações sobre o processo de concentração do capital simbólico do Estado.
A demonstração sobre as diferentes formas de acumulação do capital resulta na definição do Estado como o lugar de totalização, de constituição de um poder que se impõe sobre os demais. Restrinjo-me aqui a apenas indicar os tipos de capital, cujas etapas de acumulação ocorrem de modo interdependente, incorporados pelo autor a seu modelo e aos quais se articulam a criação de espaços sociais relativamente autônomos. A concentração do capital da força física é associada à origem da formação de uma força pública (militar e policial) encarregada da manutenção da ordem. A concentração do uso legítimo da violência no âmbito do Estado é acompanhada da expropriação desse recurso das mãos de outros agentes sociais. A segunda dimensão destacada pelo autor é a do capital econômico. A criação de um sistema fiscal e de tributos obrigatórios e regulares assegura ao Estado os recursos indispensáveis à manutenção de suas despesas e financiamento de suas ações e serviços. Mas a arrecadação de impostos de forma ordenada e permanente só é viável à medida que a administração é capaz de produzir informações confiáveis e de organizá-las. O uso da estatística, da geografia e a produção de outras técnicas dirigidas ao conhecimento do mundo social, como os serviços secretos, asseguram ao Estado a acumulação de um importante capital informacional. Estas informações não são só reunidas, mas reelaboradas e difundidas de modo desigual. Uma dimensão importante do capital informacional é o processo de acumulação do capital cultural. Aqui é destacado o papel do Estado na construção dos símbolos nacionais, na unificação dos códigos linguísticos, métricos e jurídicos e a homogeneização das formas de comunicação através das classificações administrativas, dos sistemas escolares e a imposição de uma cultura dominante. A acumulação desse conjunto de formas de capital converge no sentido da produção do reconhecimento da autoridade do Estado, isto é, de seu capital simbólico. Este, por sua vez, se objetiva particularmente sob a forma do capital jurídico. A mobilização do direito e a participação dos juristas são essenciais no processo de constituição do universal como princípio da administração e do Estado como uma ficção jurídica.
Esse processo é considerado com atenção no último ano do curso, dedicado à compreensão da transição de um poder que se confunde com a pessoa do rei para um poder concentrado na burocracia. A interrogação sobre a gênese leva Bourdieu a refletir, portanto, sobre a passagem do Estado dinástico ao Estado burocrático. A chave analítica para a compreensão dessa transformação que conduz à constituição da razão de Estado, ao domínio público como um universo excluído das regras ordinárias, é a estratégia de reprodução própria a cada um destes poderes. “A verdade de todo o mecanismo político”, defende o autor, “está na lógica da sucessão” (p. 322). Assim, Bourdieu vê um sistema fundado no direito de sangue dar lugar a um sistema fundado na competência cultural e escolar. Ao longo dessas aulas, o leitor é convidado a acompanhar o surgimento de técnicas administrativas, de regulamentações, de instituições, de formas de pensamento e de agentes sociais que investem na desfamiliarização do poder. À medida que o Estado se consagra como poder impessoal e lugar do universal, os laços domésticos aí presentes passam a ser repudiados em nome de uma moral pública.
A análise da transição do Estado dinástico a um Estado mais “despersonalizado” introduz o fenômeno da corrupção como questão relacionada à formação do Estado moderno. A partir de um artigo de Pierre-Étienne Will sobre a China, Bourdieu propõe um modelo teórico da corrupção como fenômeno institucionalizado. Para entendê-lo cabe lembrar que o processo de gênese do Estado é interpretado como um processo de diferenciação, que produz o aparecimento de novos dirigentes, e de distribuição do poder concentrado na pessoa do rei através de uma cadeia de agentes interdependentes. O exercício do poder supõe, portanto, a concessão de poder a agentes intermediários. Essa delegação produz múltiplos pontos de autoridade na rede complexa que constitui o Estado e, desse modo, amplia as possibilidades de que esses pontos – a partir dos quais são controlados informações, recursos, execução de ordens e direitos – sejam utilizados em benefício dos próprios detentores. Os desvios no uso do poder, impulsionados não raramente pela introdução da lógica doméstica onde deveria prevalecer a razão do Estado, possibilidade inscrita na estrutura de distribuição de poder, é o que faz com que o autor interprete a corrupção como estrutural. O que me parece interessante no modelo não é tanto o risco tido como inerente à delegação de poder, mas o reconhecimento da força e a capacidade que possui a lógica doméstica de se impor à moral pública. Mas se a corrupção aparece como um bom lugar para se entender a formação do Estado, creio, no entanto, que é preciso considerá-la, o que não faz o autor, como mais um dispositivo administrativo e jurídico do Estado que, por um lado, delimita, em diferentes situações e momentos, as condutas tidas como próprias ou não ao mundo público e, por outro, contribui, através das denúncias de práticas irregulares ou desvios, para renovar a dimensão imaginada (ficcional) do Estado. Ao apontar para condutas tidas como inapropriadas ao Estado, as denúncias de corrupção disseminam a descrença no Estado em sua forma cotidiana e, ao mesmo tempo, como uma forma de teodiceia pública, atualizam a crença num Estado idealizado.
Em suas últimas palavras do curso, Bourdieu retoma o tema da corrupção e o associa à corrosão da confiança no serviço público. A perda de convicção no Estado como promotor do justo e do bem comum favorece as apropriações e usos inadequados de seus poderes. Como evidencia Bourdieu ao longo de toda sua análise, a construção do Estado como espaço público, como lugar do universal é uma obra inacabada e permanente, produto do interesse de distintos agentes e de lutas. Por isso, é também um processo reversível e uma obra passível de ser demolida. Os cursos reunidos em Sobre o Estado foram realizados no início dos anos 1990, momento em que a Europa vê-se confrontada mais diretamente com as políticas liberais de reforma do Estado e processos de dissolução do mesmo são colocados em marcha. Como observa o autor, do ponto de vista analítico, a interrogação sobre a gênese tem valor semelhante ao da interrogação sobre sua desconstrução. Indicações desse processo e suas consequências trágicas são retratadas no livro A miséria do mundo.
O Estado continua a ocupar, nos dias que correm, o centro dos debates políticos. Divide opiniões e ocupa lugar distinto em projetos concorrentes de sociedade. Violência policial, corrupção, garantia e violação de direitos individuais, promoção de oportunidades universais e garantia de bem-estar social são apenas alguns temas que lhe são diariamente associados. As aulas reunidas em Sobre o Estado são um instigante ponto de partida para uma discussão qualificada sobre essas e outras questões. O livro é um convite ao aprofundamento e à reflexão necessária sobre essa invenção nomeada Estado, ao qual estão atrelados tantos destinos individuais e coletivos.
Marcos Otavio Bezerra – Doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected].
Pensar el Estado en las sociedades precapitalistas. Pertinencia/ límites y condiciones del concepto de Estado | Eleonora Dell’elicine
El estudio del Estado constituye, indudablemente, un campo de investigación sumamente amplio, dinámico, cambiante y polémico. De hecho, las cuestiones relativas al Estado siempre han despertado el interés de los especialistas en ciencias sociales por cuanto refiere a un concepto central del discurso político contemporáneo a la vez que representa a un importante actor político de la vida social. De igual manera, el estudio del Estado ha sido alentado por las polémicas recientes respecto de la crisis actual de soberanía y eficacia de los Estados nacionales en tanto pilares del lazo social y del desarrollo del capitalismo, tal como habían sido concebidos durante el siglo XIX. Sin embargo, no se trata simplemente del agotamiento del objeto Estado: en tanto ya no se trata del dispositivo de articulación simbólica por excelencia, ha dejado de suministrar los supuestos y el fundamento para la subjetividad y para el pensamiento, sin que ello signifique que ha perdido toda forma de legitimidad. Si nos encontramos dentro de un contexto en el cual el Estado ya no es una condición dada, entonces se abre la posibilidad de historizarlo y empezar a pensar los límites de su aplicabilidad conceptual. En consonancia con este escenario, los últimos años han asistido a una multiplicación de trabajos en libros y publicaciones especializadas en torno a la aplicabilidad de tal concepto a las sociedades previas al desarrollo del capitalismo, lo cual a su vez abrió el campo para poner en discusión la especificidad de las configuraciones políticas en aquellas formaciones sociales, en donde ni la ideología, ni la política, ni la economía constituían ámbitos discernibles. Justamente por este aspecto, resulta cada vez más difícil, para una sola persona, abarcar los numerosos escenarios espacio-temporales y el conjunto de disciplinas – filosofía política, sociología, antropología, historia, arqueología, etcétera– susceptibles de ser empleadas para el estudio del Estado. Leia Mais
En minga por el Cauca: el gobierno de Floro Tunubalá (2001-2003) – GOW; SALGADO (A-RAA)
GOW, David; SALGADO, Diego Jaramill. En minga por el Cauca: el gobierno de Floro Tunubalá (2001-2003).* Bogotá: Editorial Universidad del Rosario y Universidad del Cauca, 2013. 294p. Resenha de: TOCANCIPÁ-FALLA, Jairo. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.21, jan./avr., 2015.
Buena parte de la literatura académica que examina la relación entre movimientos sociales y el Estado en América Latina plantea la dinámica de los primeros como el resultado de un proceso político y cultural diverso que reacciona y resiste creativamente a unas formas políticas del segundo (e.g., álvarez, Dagnino y Escobar, 1998). Esta oposición, sin embargo, muchas veces es resuelta por parte de los movimientos sociales como la exigencia de un mayor reconocimiento, acceso (derechos) y transformación de la institucionalidad política estatal que mantiene el poder, tal como acontece en alguna experiencia brasilera (Dagnino, 1998) y en otros países de la región. En términos genéricos, podría afirmarse que el libro En minga por el Cauca, del antropólogo David Gow y el filósofo Diego Jaramillo, se enmarca en esta última tendencia. Básicamente, el trabajo busca documentar el proceso tortuoso pero relativamente exitoso que tuvo un gobierno alternativo como el del taita1 Floro Tunubalá, líder indígena del pueblo misak2, y que representaba a una coalición de movimientos campesinos, obreros e indígenas que antes de las elecciones del año 2000 respaldaron su nombre para la gobernación del departamento del Cauca, en el período 2001-2003.
Aparte de la introducción y las conclusiones, el libro consta de siete capítulos, algunos de los cuales son escritos individualmente por cada autor, y otros, de manera conjunta; los capítulos conjuntos son la introducción, el capítulo 7 y las conclusiones. El resto de los capítulos son alternados: a Diego corresponden los capítulos 1, 2 y 6, y a David, los capítulos 3, 4 y 5. La introducción presenta los elementos generales, algunos antecedentes y la premisa central que orientó el estudio. Allí se contextualizan la situación histórica y social del Departamento en el ámbito nacional, el surgimiento de los movimientos y procesos sociales que desde hace varias décadas vienen horadando las prácticas clientelistas oficialistas de los gobiernos de turno, ya arraigadas, y que también caracterizan a los partidos políticos tradicionales vigentes en el Departamento.
En el primer capítulo, “El Cauca y su conflictividad plural: una lectura del contexto”, Diego Jaramillo nos presenta una trayectoria histórica de los movimientos sociales y étnicos en el ámbito caucano, donde las élites regionales han mantenido su poder, que en las últimas décadas se ha visto desafiado por dichos movimientos. En particular, el capítulo enmarca el surgimiento del Bloque Social Alternativo (BSA), el cual, si bien surge en una coyuntura electoral, en el fondo se trataba de “ubicar la reflexión y el debate en los problemas centrales del departamento y la región surcolombiana” (p. 57); al igual que se buscaba establecer un “programa para el Cauca” que se convirtiera en un “eje dinamizador y articulador de las luchas sociales en el departamento” (p. 57).
Este antecedente sobre los procesos y movimientos sociales que se destacaron en el Cauca sirve de antesala para el segundo capítulo, también elaborado por Diego, sobre “Planes de Desarrollo Alternativos”. Aquí, él examina ideas centrales asociadas al desarrollo como la planificación, el desarrollo y la superación de las condiciones materiales oprobiosas para los pueblos, que muchas veces se traducen en macropolíticas y que luego son contestadas desde un ámbito regional y local. En especial, se abordan la relación existente entre los planes del momento, como el Plan Colombia y el “Imperio” -léase Estados Unidos-; la prevalencia de las condiciones de raigambre indígena y campesina en el Cauca y la subsecuente reacción al Plan Colombia, visto como un plan de guerra. Igualmente, se examinan la formulación del Plan Alterno y el programa de gobierno que sirvió de guía, no sólo para el gobierno de Floro sino también para las organizaciones sociales que compartían valores y principios que sobresalían frente a otros dominantes en la historia regional del Departamento y que asociaban a la clase política clientelista tradicional de los partidos.
Luego de esta discusión, en el capítulo tercero se pasa al análisis de la “Violencia política, inclusión y gobernabilidad”, donde David trata de establecer de qué manera los grupos armados, legales e ilegales, afectan el ámbito departamental en términos de gobernabilidad. Se ilustran las tensiones con el Gobierno central en cuanto a las autorizaciones para establecer negociaciones regionales y locales con los grupos armados ilegales; al tiempo que, basándose en estadísticas presentadas por otros autores que desarrollan estudios regionales3, se muestran el peso que tiene cada actor armado (FARC, ELN y grupos paramilitares) en el escenario departamental, y sus efectos y desafíos para la gobernabilidad del taita Floro. En el capítulo cuarto, “La práctica de gobernar y la cuestión de gobierno”, David aborda uno de los mayores desafíos del gobierno de Floro, y que tuvo que ver con la deuda heredada del gobierno anterior, el de César Negret, quien el 28 de diciembre firmó un acuerdo de refinanciación de la misma acogiéndose a la Ley 550 de 1999, la cual fue promulgada para “obligar a departamentos, municipios y entidades en riesgo o en crisis a cumplir con sus obligaciones financieras; mejorar sus procedimientos administrativos, financieros y contables, y garantizar sus contribuciones a los fondos departamentales de pensiones” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2012: 3)” (p. 130). El examen es estadístico y muestra cómo, en efecto, frente a esta obligación -que significó un desfinanciamiento para la administración de Floro-, se afectaron no sólo las finanzas para atender asuntos urgentes sino también para llevar a cabo el Plan Alterno. El tema de fondo era revelar las limitaciones que se tuvieron en el logro de las políticas sociales que se propuso dicha administración. Esta ejecución es revisada en el capítulo quinto por David, bajo el título “Principio y práctica: la lucha para mejorar las políticas sociales”. Allí se plantea “lo que estaba en juego”: el reto de implantar una forma diferente de gobernar, con énfasis en categorías como “participación” y “equidad” efectivas, en sectores como Educación y Salud, y que por Ley deben atenderse. La apropiación de recursos a través del Sistema General de Transferencias no es tanto el problema, como sí lo es “la asignación de los recursos”. Existen, sin embargo, algunos principios positivos que caracterizan el proceso político alternativo regional en cuestión. éstos son examinados en el capítulo sexto, escrito por Diego, “La participación: una práctica entre el ejercicio de la ciudadanía y la acción comunitaria local”, donde discute la relación existente entre democracia y el tránsito de la democracia representativa a una participativa, tránsito que vincula directamente a los procesos y movimientos sociales desarrollados en las últimas décadas tanto en el país como en el Suroccidente, en particular, en el Cauca.
El capítulo séptimo nos introduce en cuatro estudios de caso que ilustran cómo el gobierno de Tunubalá los enfrentó y logró resolver. En todos los casos, se trata de mostrar una solvencia política y de gobernabilidad, donde la negociación se convirtió en una herramienta vital que caracterizó a su gobierno. El último capítulo, “Gobernador de todos los caucanos”, de ambos autores, presenta una recapitulación de lo que significó el gobierno de Floro Tunubalá, sus lecciones y aprendizajes, así como los alcances logrados en cuanto a participación, transparencia en la ejecución de los recursos, y el haber dejado el legado de que es posible alcanzar otra política diferente a la del clientelismo y la corrupción.
En síntesis, cabría preguntarse: ¿Cuál es el legado del libro En minga por el Cauca, que documenta el período de gobierno del taita Floro Tunubalá (2001-2003)? En primer lugar, deseo destacar la importancia de un trabajo inédito, en el que la academia -al menos un tipo de academia- se vincula directamente con la política, que pocas veces se muestra en las publicaciones. En efecto, es difícil encontrar un trabajo de esta naturaleza que ilustre cómo se vivió un proceso político regional, con sus alcances y limitaciones, desde “adentro”. Quizás, un énfasis en la intencionalidad política del libro pudo haber sido conjugado en la expresión “algunas lecciones de un proceso político regional”. Decimos lecciones porque, en efecto, éstas pueden deducirse de la experiencia y proyectarse tanto en el ámbito teórico como en el práctico. Así, el ejercicio de revisión de una experiencia política regional que nos presentan Diego y David nos ilustra que la división entre academia -léase teoría- y movimientos sociales -léase práctica- es falseada. Si bien algunas discusiones académicas-teóricas hacen parte de una comunidad cerrada, esto no tiene porque ser así. Las revisiones de experiencias de la vida política -regionales, cotidianas o locales- son escenarios vitales para que los investigadores académicos, no academicistas4, puedan contribuir a las conceptualizaciones de dichos escenarios y, en particular, aportar a las comprensiones de fenómenos que persisten y que evidencian desconocimientos en su dinámica. En este sentido, así como el texto muestra unas virtudes, también marca sus limitaciones. En primer lugar, no estoy seguro de que deba sostenerse la relación genealógica entre la ideología de izquierda y los movimientos sociales (capítulo 1). Creo entender que existe cierto grado de afinidad entre una situación objetiva que aprecia la ideología marxista y otra más subjetiva y vivida históricamente por los movimientos sociales, alas en su composición heterogénea (ver, por ejemplo, una discusión en Dagnino, 1998). Otra dimensión académica teórica-práctica es el uso acrítico de conceptos y expresiones como “Imperio y el Plan Colombia” (capítulo 2). Creo que el aporte de cierta academia a los movimientos sociales no es sólo la transferencia de aspectos ideológicos de lucha y contestación a planteamientos y condiciones ideológicas desiguales del Estado y de los partidos, sino también una propuesta crítica-constructiva consecuente con conceptos que se aplican en un contexto determinado. El uso acrítico de “Imperio” -referido al imperialismo estadounidense-, por ejemplo, no es consecuente cuando más adelante, en el capítulo cuarto, se indica que organismos como USAID, Chemonics y Associates in Rural Development de Estados Unidos financiaron parte del Plan Alterno de Floro.
Finalmente, en lo académico aparecen algunas “ingenuidades” en la interpretación de los datos, que demuestran también que, a veces, como académicos no estamos preparados para tratar el tema complejo del poder y los hechos políticos. Una de ellas refiere al reparo de que “Tunubalá fue dejado solo y tuvo poco o ningún apoyo de los líderes y agentes políticos del Cauca” (p. 259; cursivas nuestras), afirmación que contradice lo planteado a lo largo del texto, en el cual se cuestiona una clase política clientelista y politiquera. Existe la premisa de que en política hay que saber tratar con los opositores, y lo que se dio fue un distanciamiento preventivo, para no ser identificado con lo que se criticaba; de allí esta afirmación. Otra “ingenuidad” refiere al tema fiscal y de la deuda de la Gobernación antes del gobierno de Floro, y que es presentado en el libro como una de las grandes limitaciones, ya que se recibió un Departamento hipotecado (capítulo 4). El punto es: ¿Qué administración en el pasado no ha recibido una Gobernación endeudada? Se podría argumentar que la diferencia es que esta vez el gobierno anterior se acogió a la Ley 550 de 1999, pero que, de cualquier manera, tanto el gobierno de Floro como todos los anteriores gobernadores en la historia del Departamento salieron a flote en la parte administrativa y de manejo de los recursos. Tan fue así que entregaron un Departamento sano, para que la clase clientelista dirigente continuara en el siguiente período administrando el buen esfuerzo que ellos hicieron5. Otra ingenuidad es el manejo de las estadísticas, que no se revisaron en la composición de las categorías y en las correlaciones que se dieron entre ellas. Ello condujo a afirmaciones como la siguiente: “el 11% de los incidentes reportados fue enfrentamiento entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC, lo que refleja la intención de los paramilitares por eliminar al grupo guerrillero” (p. 98). ¿Por qué debe asumirse que un mayor porcentaje tiene esta orientación, y no a la inversa? o ¿por qué no otras motivaciones? Es claro que en el conflicto, las acciones armadas tienen mucha fundamentación en la afectación y/o eliminación del adversario. En el campo de los movimientos sociales existe una oportunidad perdida para los autores, y refiere básicamente a no haber integrado en la discusión a líderes de aquellos colectivos que hicieron parte del Bloque Social Alternativo (BSA). Una presentación del material recopilado y discutido con estos actores seguramente hubiera contribuido a un examen más crítico, detallado y constructivo de cómo fue percibido el proceso desde afuera, incluso para proponer iniciativas que pudieran ser proyectadas en futuros intentos. Desde este punto de vista, el sentido de colaboración investigativa sigue siendo limitado.
Deseo cerrar esta reseña reiterando la virtud de este trabajo: introducirnos en un proceso político regional que, a pesar de lo transitorio, deja lecciones en distintos niveles y a diferentes comunidades de actores sociales y académicos. Si quisiéramos decirlo en otros términos, el libro nos lleva al corazón de las complejidades de la política regional, muchas veces sospechadas pero no reveladas, y en otras ocasiones reveladas, pero que expresan lo enrevesado de la problemática, entre otras, lo cual constituye una contribución importante. Por otro lado, también nos muestra que en la política de la alternatividad no se puede ser ingenuo al pretender transformar una realidad política en tan poco tiempo, máxime cuando esta realidad se encuentra afianzada en redes clientelistas, en la institucionalidad estatal y en prácticas gubernamentales arraigadas en el bipartidismo. De hecho, no hay referencia a la “movida política” previa a las elecciones conocida como Toconet (Todos contra Negret), y en la cual algunos partidos clientelistas terminaron apoyando la candidatura de Floro con el fin de contrariar al candidato de Negret. La variable temporal es fundamental para comprender y dimensionar los procesos de cambio de una cultura política regional que todavía se resiste a ser transformada, y que cada día se renueva a través de los partidos y la política clientelista. Para concluir: este libro debe ser leído y discutido no sólo por estudiantes de Política, Sociología, y Antropología, entre otras disciplinas, sino también por los mismos líderes y actores de los movimientos sociales, quienes podrán apreciar los aciertos y desfases de los hechos y de las interpretaciones que acompañaron este proceso de gobernabilidad regional; además de examinar las lecciones potenciales que se pueden deducir para futuros proyectos de transformación y gobernabilidad no sólo regionales, departamentales y del Suroccidente colombiano, sino igualmente de otras regiones del país donde el accionar de otros movimientos sociales alternativos también tiene un protagonismo destacado en la política local y regional.
Comentarios
* Gow, David y Diego Jaramillo Salgado. 2013. En minga por el Cauca: el gobierno de Floro Tunubalá (2001-2003). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario y Universidad del Cauca, 294 páginas.
1 Taita en el pueblo misak, como en otros pueblos indígenas, refiere a una autoridad tradicional.
2 El pueblo misak, también conocido como guambiano, ocupa una amplia franja de la cordillera Central del departamento del Cauca (municipios de Piendamó -La María y Piscitau-, Silvia -Guambía, Ambaló y Kizgó-, Totoró, Morales -San Antonio y Bonanza-, Cajibío -Kurakchak-), Tambo (Guambiano) y Caldono (Siberia), en el suroccidente de Colombia. Debido a problemas de tierras, en años recientes, los misak¸ han buscado ampliar su territorio dentro del departamento del Cauca y en departamentos vecinos como el Huila (MinCultura, s. f.).
3 Lastimosamente, estas cifras no son revisadas y son presentadas sin sentido crítico. Por ejemplo, a partir de un 100% que se tipifica como “accionar y presencia de los actores armados en el Cauca”, se mezclan y suman categorías duplicadas como “FARC, ELN” y “Grupos Guerrilleros” o “AUC” y “Grupos paramilitares”. Asimismo, categorías como “estrategias militares con fines estratégicos” son asimiladas sin reparar en su conceptualización y su correlación con otras categorías mezcladas y sumadas, tales como retenes y otras formas de control, masacres, secuestros, etcétera.
4 Hay que reconocer que esta distinción requiere un trabajo teórico-práctico más elaborado, y que vincula categorías como “colaboradores”, “activistas”, e “investigadores” (para una aproximación en el caso de pueblos indígenas, en particular los nasa, ver Rappaport, 2008).
5 De esto queda, sin duda, una lección fundamental, como lo insinuó el taita Floro en el lanzamiento del libro en Popayán, el jueves 10 de abril de 2014, y es la enseñanza moral de que las cosas se hicieron, y lo más importante: se hicieron bien.
Referencias
Álvarez, Sonia, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (eds). 1998. Cultures of Politics, Politics of Culture: Re-visioning Latin American Social Movements. Boulder, Westview Press. [ Links]
Dagnino, Evelina. 1998. Culture, Cititizenship, and Democracy: Changing Discourses and Practices of Latin American Left. En Cultures of Politics, Politics of Culture: Re-visioning Latin American Social Movements, Eds. Sonia álvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar,pp.33-62. Boulder, Westview Press. [ Links ]
MinCultura. s. f. Consultado el 13 de abril de 2014, en: http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Namtrik.pdf[ Links]
Rappaport, Joanne. 2008. Utopías interculturales. Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia. Bogotá, Universidad del Rosario y Universidad del Cauca. [ Links]
Jairo Tocancipá-Falla – Profesor titular. Departamento de Antropología y miembro del Grupo de Estudios Sociales Comparativos (GESC), Universidad del Cauca, Popayán, Colombia. Correo electrónico:[email protected]
[IF]
Políticas educacionais e Estado federativo: conceitos e debates sobre a relação entre município, Federação e educação no Brasil – ARAÚJO (ES)
ARAÚJO, Gilda Cardoso de. Políticas educacionais e Estado federativo: conceitos e debates sobre a relação entre município, Federação e educação no Brasil.Curitiba: Appris, 2013. 371p. Resenha de: BARBOSA, Luciane Muniz Ribeiro. Políticas educacionais e Estado federativo. Educação & Sociedade, Campinas, v.34 no.125 out./dez. 2013.
O livro Políticas educacionais e Estado federativo: conceitos e debates sobre a relação entre município, federação e educação no Brasil é uma adaptação da tese de doutorado de Gilda Cardoso de Araujo. Trata-se de pesquisa resultante de estudo teórico, de natureza histórica e conceitual, sobre a configuração das instituições políticas municipais e federativas, a forma de assimilação destas no Brasil e de sua articulação com a organização da educação nacional.
Por que e para que mais um estudo sobre municipalização do ensino? Essas são questões que a própria autora nos apresenta e se compromete a responder não somente com dados que evidenciam o município como o responsável pela maior parte das matrículas do ensino fundamental na atualidade, ou diante do fato de que tal municipalização já estaria consagrada como um dos eixos da política educacional brasileira. As respostas que revelam a pertinência do estudo relacionam-se com o fato de que a discussão sobre a municipalização do ensino tornou-se algo comum e específico da área da educação. Entretanto, a produção existente não dialoga com a longa tradição do pensamento político que articulava a organização do Estado brasileiro com a discussão sobre a organização da educação nacional, desprezando também a análise da formação das instituições políticas municipais e federativas e configurando o processo de municipalização do ensino como que descolado dos problemas relativos ao Estado e à sua organização política e administrativa.
Daí se depreende o objetivo da obra de Gilda Cardoso de Araujo: apresentar os fundamentos, em um quadro conceitual e histórico, do processo de municipalização no Brasil, analisando o município e a Federação como instituições políticas, bem como a relação destas com a organização da educação como uma tarefa do Estado nacional.
No primeiro capítulo “Federação e município: uma articulação necessária” apresenta-se a ideia da Federação como uma construção histórica com estreita relação com o município como instituição política. Inicialmente, analisa-se o que se constitui “esse nosso desconhecido federalismo”, ressaltando que a história do Estado brasileiro está associada à própria história da ideia da Federação e que esta, como instituição política, possui um histórico “que contribui para o direito à educação como modernamente inscrito e realizado na política educacional brasileira” (p. 37).
Com base nesses pressupostos, debate-se a relação entre poder local, Federação e educação, questionando sobretudo a constante associação realizada entre descentralização federativa e democracia. Tal análise é apresentada mediante o resgate: das abordagens clássicas dos formuladores do federalismo americano, como James Madison, Alexander Hamilton e John Jay; das contribuições de Alexis de Tocqueville, ao distinguir duas espécies de centralização: a governamental e a administrativa e ao defender que a soma das duas em um só poder se tornaria prejudicial para o desenvolvimento das nações; e da proposta de federalismo total de Pierre-Joseph Proudhon, com o desafio de se estabelecer um equilíbrio entre a autoridade e a liberdade. As contribuições de tais autores fundamentam teoricamente todo o trabalho, revelando-se presentes nos debates de temas como: federalismo; poder local; poder nacional; maior ou menor descentralização do Estado.
No segundo capítulo – “Instituições políticas: municipalismo e federalismo” – são apresentadas as origens históricas e conceituais da instituição municipal, acompanhando sua trajetória iniciada em Roma e sua chegada ao Brasil e ressaltando os momentos em que ela se insere na organização federativa do país, assim como as complexidades, contradições e equívocos resultantes desse processo.
Município e Federação são destacados e analisados em cada momento histórico, com realce para as discussões que envolveram tais temas nos debates constituintes e sua explicitação nos textos constitucionais. Dessa maneira, é possível compreender como a Federação brasileira, originada como resposta à centralização unitária do período colonial e imperial, deixa de ser considerada como grande questão nacional na Era Vargas, substituindo-se o debate pelo tema do municipalismo, reflexo das demandas por autonomia local; ou, ainda, como o Estado Novo, instaurado em 1937, culminou como um processo de centralização autoritária, perdendo-se o sentido da ideia de Federação descentralizada, anteriormente erigida pela Constituição de 1891. Também é possível entender a trajetória (permeada de equívocos conceituais e históricos) de construção da proposta de Federação tridimensional e a defesa do municipalismo, impulsionada pela campanha municipalista e tendo ganhado força especialmente na Constituinte de 1946; a maneira como a Federação tridimensional é secundarizada no regime militar, marcado pelo excessivo controle do poder central, assim como sua retomada vigorosa na década de 1980, momento de um novo processo constituinte e reabertura política do país.
O terceiro capítulo – “Município, Federação e Educação: instituições políticas” – aborda a articulação da organização do ensino com o municipalismo e com o federalismo brasileiro. As origens da relação entre município e educação, desde a Baixa Idade Média, são evocadas para se expor a trajetória dessa relação e o tipo de educação que chegou às vilas brasileiras no século XVI. Na sequência, a história da educação brasileira é apresentada, destacando-se o movimento pendular entre centralização e descentralização política e administrativa que marcou a relação entre as esferas de poderes no Brasil.
O debate histórico e conceitual apresentados no segundo capítulo, assim como o rigor com que os dados da história da educação são apresentados permitem a compreensão do processo de municipalização do ensino no Brasil, não apenas como expressão de um debate em torno de temas como centralização ou descentralização, autoritarismo ou democracia, mas sim como um processo histórico de autonomia municipal estreitamente vinculado “à complicada história de Federação no Brasil” (p. 233).
Ressalta-se, ainda, que a história das instituições políticas do século XIX e XX, base para a constituição do município como ente federado e para as teses municipalistas da área da educação, revela o já destacado movimento pendular entre centralização e descentralização política e administrativa no país, desconsiderando-se, entretanto, o debate sobre as desigualdades regionais na oferta da educação elementar, tema que, na avaliação da autora, permanece como a grande questão a ser resolvida pelas políticas públicas atuais.
O quarto capítulo – “Município, Federação e Educação: ideias políticas” – cumpre com o grande desafio de situar o tema da organização do ensino como intrinsecamente vinculado ao tema da organização do Estado nacional. Dado que as ideias de município, Federação e educação foram abordadas por diferentes correntes teóricas e políticas, verifica-se que, somente mediante a análise dessas correntes, torna-se possível superar os equívocos presentes nos pressupostos que envolvem o debate sobre a descentralização do ensino.
Para tanto, a autora apresenta a origem do debate sobre as três categorias de análise (município, federalismo e educação) na tradição liberal, examinando as obras e pensamento político de Tavares Bastos e Rui Barbosa e suas propostas de implantação da descentralização federativa. Na sequência, analisa como o debate anterior foi incorporado pela tradição evolucionista e positivista, expondo a defesa de Alberto Sales pelo separatismo como solução para a crise do Império e para a organização política e administrativa do país, e o uso que Júlio de Castilhos fez do separatismo como bandeira política positivista no Rio Grande do Sul. As obras e os pensamentos de Alberto Torres e Oliveira Vianna, representando a tradição autoritária, são utilizadas para a apresentação do debate sobre a organização do Estado e da educação nacionais com base em seus argumentos sobre a necessidade de se adequar as instituições políticas à realidade brasileira. Por fim, são analisadas as ideias de Anísio Teixeira e Carlos Correa Mascaro, destacando suas propostas específicas sobre o processo de municipalização do ensino, não distantes, contudo, do debate teórico e político sobre a centralização ou descentralização como forma de organização do Estado brasileiro.
O resgate de tais autores para a área de educação mostra-se de grande relevância, dado seu sentido “de recolocar a Federação na sua relação com o poder local (município) e com a educação, como um problema nacional e não apenas educacional […], problematizando-os mediante o enfoque da teoria política brasileira” (p. 238).
Encontra-se ainda, nas “Conclusões”, um excelente resgate das principais ideias apresentadas nos capítulos da obra, ressaltando os momentos e fatos históricos relevantes para o debate teórico e conceitual do municipalismo, federalismo e educação, assim como os equívocos presentes na redução desse debate aos temas da centralização ou descentralização.
Longe de se configurar como um estudo de abordagem “muito ideologizada ou muito concreta” sobre o tema da municipalização do ensino, predominantes na área, a obra de Gilda Cardoso de Araújo cumpre com o objetivo proposto de se apresentar como um estudo de enfoque teórico e conceitual sobre os temas do municipalismo, federalismo e educação. Trata-se de um trabalho de fôlego e coragem, ao apresentar os equívocos nos quais os estudiosos da área costumam incorrer ao analisar tais temas, superando-os com minuciosa pesquisa bibliográfica e detalhada análise histórica e conceitual.
Em um momento em que tanto se discute a relevância e as complexidades de se constituir um Sistema Nacional de Educação, assim como os objetivos e conteúdos de um Plano Nacional de Educação que seja de fato nacional, federativo e democrático, a obra de Gilda Cardoso de Araújo revela-se de fundamental relevância, preenchendo importante lacuna na área da educação.
Luciane Muniz Ribeiro Barbosa – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo (SP) – Brasil. Contato com a autora: <[email protected]>
A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro – FISCHER (RBH)
FISCHER, Brodwyn. A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro. Stanford, California: Stanford University Press, 2008. 488p. Resenha de: OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.33, n.66, jul./dez. 2013.
O livro A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro é o resultado da tese defendida por Brodwyn Fischer, em 1999, na Universidade Harvard. A autora analisa o processo de formação dos direitos na organização do Estado e da sociedade brasileira e os conflitos de classe, raça e gênero que permearam a constituição do espaço urbano carioca.
Por eleger como cerne de sua análise os embates estruturados no cotidiano dos pobres do Rio de Janeiro, A Poverty of Rights é uma contribuição original à história social da pobreza urbana. O trabalho relaciona-se à renovação da historiografia em tempos recentes, dando destaque ao tema das favelas. Como observou Brum,
se a história urbana e, em especial, a história da cidade do Rio de Janeiro se consolidaram como campo de pesquisa institucionalizado de historiadores a partir da década de 1980, será apenas na primeira do século XXI que começou a tomar corpo uma produção dos programas de pós-graduação em história em que a favela é tomada como objeto de estudos históricos. (Brum, 2012, p.121)
Junto aos livros Um século de Favela (2001), organizado por Alba Zaluar e Marcos Alvito, Favelas Cariocas (2005), de Maria Lais Pereira da Silva, A invenção da favela (2005), de Lícia do Prado Valladares, e Favelas cariocas: ontem e hoje (2012), organizado por Marco Antônio da Silva Mello, Luiz Antônio Machado da Silva, Letícia de Luna Freire e Soraya Silveira Simões, a obra de Fischer inscreve-se na renovação dos estudos históricos sobre a cidade do Rio de Janeiro, tendo como eixo a problematização das práticas e representações da pobreza e do espaço urbano.
O diferencial da pesquisa de Fischer é o recorte temporal, o escopo de fontes que utiliza e a maneira como enfoca o tema da cidadania. Ao enfrentar uma questão de ampla tradição na História e nas Ciências Sociais que tratam do Brasil e da América Latina – a relação entre desigualdade, direito e espaço urbano –, Fischer desenvolve um argumento centrado em processos que transcorreram entre a década de 1920 e o início da década de 1960. Esse foi o período de rápida urbanização, industrialização e expansão dos subúrbios, favelas e outras formas urbanas. O corte temporal também se justifica em vista da estrutura de poder que presidiu o campo político carioca. Desde a primeira Constituição republicana (1891) até 1960, o Rio de Janeiro tinha um prefeito indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, elegia vereadores para o legislativo municipal e deputados e senadores para o legislativo federal. Sendo a capital da República, as reformas no sistema político encontravam ampla repercussão e expressão na vida política e cultural da cidade. Além disso, o governo de Lacerda (1961-1965) foi um marco para os estudos sobre a pobreza urbana no Rio de Janeiro: ao iniciar uma política de remoção que culminaria no despejo parcial ou completo de cinquenta a sessenta favelas (atingindo cerca de 100 mil pessoas), alterou profundamente a rotina e a conformação do espaço urbano carioca.
Além do recorte temporal, a autora usa diversos tipos de documentos para desenvolver o seu argumento. Uma vez que as classes subalternas não deixam arquivos organizados que informem sobre suas práticas, justifica-se o uso de sambas, jornais, fotografias, discursos políticos, relatórios de agências do poder público, projetos de lei, legislação, cartas e processos de justiça, entre outros documentos, para compreender as estratégias dos pobres na conquista da cidadania. O material acumulado pela autora é eclético, encontra-se disperso numa miríade de lugares e instituições, e estabelece vários filtros culturais para representar a pobreza urbana. Somente com a leitura de um caleidoscópio de registros, somada à análise da bibliografia específica sobre a relação entre direito e cidadania, consegue-se colocar em pauta problemas relevantes na análise da sociabilidade e das práticas dos grupos subalternos.
Para analisar o corpus documental heterogêneo que acumulou, a autora organizou a análise em quatro partes que possuem certa autonomia, cada uma das quais é constituída por dois capítulos. Na primeira parte, intitulada “Direitos na Cidade Maravilhosa”, analisa o processo de formação do espaço urbano do Rio de Janeiro e a classificação das formas de habitar da população pobre. Interessa à autora salientar como a construção do status de ilegalidade para as formas de habitar e viver na cidade, a restrição do espaço político dominado pela interferência do governo federal e as legislações restritivas ao crescimento das favelas contribuíram para a reprodução de uma incorporação clientelista dos pobres na política urbana. Na segunda parte, intitulada “Trabalho, Direito e Justiça Social no Rio de Vargas”, Fischer tem como principal material de análise as cartas enviadas para o presidente Getúlio Vargas. A promulgação da legislação trabalhista, o discurso varguista incorporando o trabalhador na comunidade política nacional, e as estratégias dos grupos populares para conquistar direitos sociais são o eixo de sua análise. Na terceira parte, intitulada “Direito dos pobres na Justiça Criminal”, a autora analisa a forma como o crime era definido por critérios do sistema jurídico e de uma moralidade popular, e como esse jogo de força foi alterado pela reforma do Código Penal na década de 1940, com o surgimento da noção de ‘vida pregressa’. Na última parte, intitulada “Donos da Cidade Ilegal”, Fischer analisa os conflitos pela terra e pelo direito à moradia travados na zona rural e nas favelas do Rio de Janeiro.
A “Era Vargas” (1930-1945) foi um período de grandes transformações no que toca o direito da classe trabalhadora. Esse fato político e social já foi analisado por diferentes autores, constituindo-se em uma questão clássica para a historiografia brasileira. Fischer consegue trazer uma novidade para o tema, pois não restringe a análise ao direito social e político, mas aborda como as reformas penal e urbanística do Rio de Janeiro também afetaram a cidadania dos grupos populares. Destarte, a política de massa e o Código Eleitoral de 1932, o direito à cidade e o Código de Obras de 1937 do Rio de Janeiro, o direito civil e o Código Penal de 1940, e o direito social e a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943) são os eixos de sua análise, como fica evidenciado na divisão das partes do livro.
A autora mostra que a conquista de direitos para os ‘pobres’, para os trabalhadores informais e parcela significativa da população brasileira sem registro civil delineou-se em situações de grande ambiguidade. Longe de desenvolver uma narrativa linear da evolução do Estado e da sociedade na sedimentação dos direitos, como na análise clássica de T. H. Marshall em Cidadania, classe social e status, ou de incorporar o discurso das ideologias políticas que transformaram Vargas em um mito, a autora apresenta a contingência das situações vivenciadas pelos ‘pobres’. Preocupa-se com a forma pela qual as pessoas com baixa educação formal e com pouco poder econômico e político construíram várias estratégias para lutar por direitos, sempre marcadas pela contingência de suas vidas e experiências sociais.
Ao sublinhar o processo de formação dos direitos e da cidadania, Fischer enfatiza que os pobres “formam a maioria numérica em várias cidades brasileiras, e eles compartilham experiências de poucas conquistas, exclusão política, discriminação social e segregação residencial”, conformando “uma identidade e em alguns momentos uma agenda comum” (Fischer, 2008, p.4). Ela compreende que esse grupo não tem sido pesquisado de forma verticalizada, visto que a história social do período posterior à década de 1930 tem privilegiado a análise da consciência da classe trabalhadora, dos afrodescendentes, dos imigrantes estrangeiros e das mulheres. Segundo a autora,
a verdade é que no Rio – como em outros lugares, da Cidade do México a Caracas, a Lima ou Salvador – nem raça, nem gênero, nem classe trabalhadora foram identidades generalizadas e poderosas o suficiente para definir a relação entre a população urbana pobre e sua sociedade circundante, durante a maior parte do século XX. Muito poucas pessoas realmente pertenciam à classe trabalhadora organizada; muitas identidades raciais e regionais competiram umas com as outras em muitos planos; muitos laços culturais, econômicos e pessoais vinculavam os mais pobres aos clientes, empregadores e protetores de outras categorias sociais; também muitos migrantes foram para a cidade para alimentar suas esperanças. O povo pobre no Rio compreendeu a si mesmo, em parte, como mulheres e homens, em parte como brancos e negros, nativos ou estrangeiros, classe trabalhadora ou não. Mas eles também se entenderam como um segmento específico, simplesmente como pessoas pobres tentando sobreviver na cidade. (Fischer, 2008, p.3, tradução nossa)
Nesse sentido, Fischer também enfatiza que a experiência da pobreza urbana não pode ser reduzida à definição de classe trabalhadora no sentido clássico do marxismo. Ao reduzir a experiência da pobreza urbana a uma situação de classe, corre-se o risco de perder as dimensões étnicas, raciais e de gênero que moldam as identidades e as relações tecidas com as variadas instâncias sociopolíticas. A desigualdade social foi tomada no livro como uma condição que atravessa diversos tipos de situações e que perpassa transversalmente as relações tecidas na sociedade e no Estado brasileiros.
Por tudo isso, A Poverty of Rights constitui um importante trabalho para a renovação dos estudos sobre a cidadania no período posterior à década de 1930 e da história social da pobreza urbana no Rio de Janeiro.
Referências
ALVITO, M.; ZALUAR, A. (Org.) Um século de favela. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. [ Links ]
BRUM, Mario Sergio Ignácio. Cidade Alta: história, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. (Prefácio de Paulo Knauss). Rio de Janeiro: Ponteio, 2012. [ Links ]
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. [ Links ]
MELLO, M. A. da Silva; MACHADO DA SILVA, L. A.; FREIRE, L. L.; SIMÕES, S. S. (Org.) Favelas cariocas: ontem e hoje. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. [ Links ]
SILVA, Maria Lais Pereira da. Favelas Ccariocas (1930-1964). Rio de Janeiro: Contratempo, 2005. [ Links ]
VALLADARES, Lícia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005. [ Links ]
Samuel Silva Rodrigues de Oliveira – Doutorando, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV). Bolsista Faperj. E-mail: [email protected].
[IF]Rapa Nui y la Compañía Explotadora 1895-1953 – FUENTES (RCA)
FUENTES, Miguel. Rapa Nui y la Compañía Explotadora 1895-1953. Santiago: Rapanui Press, 2013. 408p. Resenha de: GONZÁLEZ, Paola. Revista Chilena de Antropología, n. 28, p.105-106, jul./dic.. 2013.
Este libro es resultado del proyecto de investigación “El Fundo Vaitea. Patrimonio y Memoria en Rapa Nui durante el período de la Compañía Explotadora” y constituye un homenaje al próximo cumplimiento de los 100 años de la rebelión dirigida por María Angata y Daniel Teave en 1914. El volumen se divide en seis secciones que poseen diversos artículos temáticos elaborados por distintos investigadores y académicos de diverso origen (chileno, rapanui, extranjero) que tratan, desde diversos enfoques provenientes de la Arqueología, Historia, Antropología y los Estudios Patrimoniales, el periodo de desarrollo de la llamada “Compañía Explotadora”, una empresa ganadera que se instaló en Rapa Nui entre fines del siglo XIX y mediados del siglo pasado. Estas secciones se articulan al modo de una reflexión amplia que gira alrededor de tres ejes: producción académica, reflexión patrimonial y discusión política, abarcándose desde aquí a un público diverso que incluye tanto a académicos (arqueólogos, historiadores, antropólogos, etc.) así como a las propias organizaciones sociales rapanui y la comunidad rapanui y chilena.
En cuanto al primero de los ejes de esta publicación: discusión académica (Secciones I, II y III), se desarrolla al comienzo del libro una contextualización histórica del llamado “ciclo ganadero” en Isla de Pascua, abordándose luego una serie de temáticas procedentes de la Arquitectura, Arqueología, Antropología e Historia. En esta línea se encuentran los trabajos de Rolf Foerster, Flora Vilches, Francisco Rivera, María Francisca Ramírez y Valentina Fajreldin, girando estos últimos alrededor de las siguientes problemáticas: la evolución de la economía interna de la Compañía y su relación con el Estado chileno y la comunidad isleña; el desarrollo de nuevos patrones alimentarios en Rapa Nui durante el periodo de la CEDIP y su impacto sobre el marco social y cultural de la isla; la relación existente entre los restos materiales de la Compañía y los sucesivos contextos coloniales y neocoloniales establecidos en Pascua a partir de esos años; las características y dilemas del posible proceso de “patrimonialización” y puesta en valor de sitios históricos en Rapa Nui (por ejemplo en el caso del complejo industrial de Vaitea), etc.
Surge en este punto la interesante problemática de definir lo patrimonial en el caso del pasado reciente isleño, tema sensible al momento de la definición de esferas de protección del patrimonio histórico en la isla. En el caso del artículo de 106 Miguel Fuentes Flora Vilches, esta arqueóloga aborda el estudio de las “pircas” (o muros de piedra) alrededor de la isla como una vía para entenderlas como evidencias materiales del colonialismo y subordinación a que se vio sometida la comunidad rapanui frente a la actividad industrial (con la anuencia del Estado chileno). Estos trabajos se complementan además con un importante registro arquitectónico y espacial del complejo industrial Vaitea y de las pircas de la “Compañía Explotadora de Isla de Pascua”, las cuales ocasionaron una profunda alteración espacial de la isla durante el período de operación de la CEDIP, aquello con graves efectos para la cultura rapanui.
Posteriormente, este volumen se centra en la discusión del concepto de “patrimonio histórico” (Sección IV), considerándose aquí los distintos “intereses patrimoniales” involucrados desde un punto de vista social y legal. Se abordan en esta sección los conflictos de interés relativos a la administración del patrimonio histórico de la isla, resultando evidente la existencia de una importante tensión entre el Estado chileno y la comunidad rapanui. Un ejemplo de estas reflexiones lo encontramos, por ejemplo, en el artículo de la antropóloga Riet Delsing, quien hace hincapié en el desconocimiento que ha hecho el Estado chileno de la propiedad ancestral de los rapanui sobre las tierras de la isla y de sus derechos como pueblo indígena, existiendo además una disociación entre el pasado lejano de la cultura rapanui y las evidencias históricas (traduciéndose esto en una escasa protección de los propios vestigios históricos rapanui). En la misma línea se encuentran los trabajos de Cristián Moreno Pakarati (historiador rapanui), Georgianna Pineda (conservadora-restauradora) y Francisco Torres (arqueólogo y director del Museo Antropológico P. Sebastián Englert).
Finalmente se recogen los planteamientos de distintos académicos y actores sociales y políticos de la comunidad rapanui, llevándose a cabo un giro en la reflexión de índole más propiamente política. Se discuten en esta sección algunas de las principales problemáticas del actual conflicto étnico rapanui, reflexionando además en algunas soluciones para la misma. Esta sección es coherente, de esta manera, con el hilo conductor de este libro: lograr una vinculación entre la academia, los proyectos de investigación y los procesos sociales, reemplazando así el quehacer “aséptico” de la investigación científica por un quehacer científico comprometido con las luchas sociales.
Paola González – Arqueóloga, Sociedad Chilena de Arqueología. E-mail: [email protected].
[IF]O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna – NEUMANN (C-FA)
NEUMANN, Franz. O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna. Tradução de Rúrion Melo. São Paulo: Quartier Latin, 2013. Resenha de: PROL, Marques Flavio. O Império do Direito e a liberdade: uma teoria crítica do direito e do Estado. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.21 Jan./Jun., 2013.
Foi publicada em português a tradução do livro O Império do Direito, de Franz Neumann. Escrito em 1936, na Inglaterra, para obtenção do segundo doutorado do autor, sob orientação de Harold Laski, a versão em livro foi publicada cinquenta anos depois, em 1986.
Alemão, Neumann foi advogado trabalhista e do Partido Social Democrata. Ao longo da década de 1920, ainda na Alemanha, escreveu sobre direito do trabalho e direito econômico, e os principais textos do período estão reunidos em duas coletâneas publicadas em italiano.1 Diante da ascensão do nazismo ao poder, em 1933, foi obrigado a se exilar.
Após a estadia na Inglaterra, dirigiu-se aos Estados Unidos, onde iria escrever o livro pelo qual é mais conhecido: Behemoth2, que apresenta um estudo do regime nazista. Nele, Neumann critica o conceito de capitalismo de estado, controvérsia estabelecida com Friedrich Pollock. Foi também nessa época que ele se tornou colaborador do Instituto de Pesquisas Sociais, estabelecido no exílio.3
A publicação de O Império do Direito ilumina uma parte relevante da obra de Neumann.4 Nesse texto, o autor apresenta uma interpretação específica a respeito do direito moderno, do Estado e da sua relação com a liberdade humana. Em termos críticos, essa preocupação com a liberdade talvez possa ser traduzida como interesse pela emancipação, embora Neumann não tenha afirmado isso explicitamente.
O livro apresenta quatro teses distintas a respeito do desenvolvimento do direito moderno. Ele se insere nos principais debates a respeito da natureza do direito, tanto da perspectiva filosófica, com críticas a Schmitt, Kelsen e Austin, como da perspectiva sociológica, com a referência central sendo Max Weber.
Para apresentar a relação estabelecida entre direito moderno e a realização da liberdade, este texto está organizado da seguinte forma: (i) inicialmente, apresento a estrutura geral do livro e suas principais teses; (ii) na sequência, ressalto como o vínculo que o autor estabelece entre direito e democracia permitiria a realização, ainda que parcial, da liberdade. Ainda nessa parte, demonstrarei como Neumann desenvolveu posteriormente sua concepção de liberdade.
1.Estrutura geral do texto e suas principais teses
Neumann divide o seu texto em três partes: ( i ) “introdução e a base teórica”; ( ii ) “soberania e império do direito em algumas teorias políticas racionais (o desencantamento do direito)”; ( iii ) “a verificação da teoria: o império do direito nos séculos XIX e XX”.
Na sequência dessa seção, apresentarei inicialmente o ponto de partida teórico do texto de Neumann, para só então apresentar as quatro teses que o autor defende ao longo do livro.
1.1 Sociologia do direito. Elementos contraditórios do Estado e do direito
O livro discute a relação entre direito, ciência política e economia, razão pela qual a sociologia do direito é o principal ponto de partida para análise. Por sociologia do direito, Neumann entende a compreensão das relações entre direito e a “subestrutura social”5
Afastando concepções meramente econômicas das instituições jurídicas, que reduziriam a subestrutura social do direito a uma análise economicista, Neumann entende que a tarefa central da sociologia do direito é demonstrar como o direito e o Estado possuem tanto um desenvolvimento histórico autônomo enquanto forma específica de ordenação das relações sociais, como um desenvolvi mento condicionado a determinações sociais oriundas da religião, da economia e da política.
Por Estado moderno, Neumann entende “toda instituição socio logicamente soberana” (p. 64). A soberania, por sua vez, corresponde ao poder jurídico mais elevado de determinar normas que valem coercitivamente para todas e todos em um determinado território. Ao afirmar que a soberania é, em última instância, um poder jurídico, Neumann tenta escapar tanto de um reducionismo jurídico, que equacione soberania e direito, como de um reducionismo político-sociológico, que identifique soberania e poder.
Ainda falta, contudo, esclarecer melhor o que o autor entende por direito e por poder. Para ele, o elemento de direito e o elemento de poder contidos em sua definição de soberania e de Estado moderno são contraditórios. Esta é a primeira tese do texto. A soberania absoluta, no sentido do poder irrestrito do Estado para emitir normas de qualquer conteúdo, não se reconcilia com a afirmação histórica de âmbitos de liberdade diante do Estado na forma jurídica (“Império do Direito”).
Para Neumann, a definição de direito deriva da contradição entre esses dois elementos. É por isso que teórica e historicamente percebe-se uma dupla noção de direito: uma política e outra material.
Segundo a noção política, qualquer decisão do Estado seria direito, fosse ela justa ou injusta. O direito e a lei seriam apenas voluntas.
Por outro lado, de acordo com a noção material, “as normas do Esta do são compatíveis com os postulados éticos definidos, sejam postulados de justiça, liberdade ou igualdade, ou qualquer outro” (p. 98).
Ou seja, deve haver identidade entre as normas emitidas pela autoridade estatal e certo conjunto de valores externo ao direito para afirmar que as normas emitidas pelo Estado são “direito”.
A segunda tese do texto deriva dessa primeira. Para Neumann, a justificação secular e racional do Estado e do direito pode ter um aspecto revolucionário sob certas circunstâncias históricas. A superação histórica de justificações do Estado e do direito que se baseavam na religião ou no direito natural fortalece concepções de mudanças do status quo. Essa justificação secular e racional implica que o Estado e o direito “são simplesmente instituições humanas originadas da vontade ou da carência dos homens” (p. 73). Assim, a exigência da noção material de direito de uma justificação independente do direito e do Estado não pode depender senão de argumentos que se referem e são construídos pela própria sociedade.
Neumann então apresenta sua terceira e principal tese: a afirmação histórica e teórica de um Império do Direito garantidor da liberdade tem um efeito desintegrador em uma sociedade baseada na desigualdade (p. 40). A terceira tese é uma especificação da segunda: a justificação secular e racional do Estado e do direito, na modernidade, assume a forma da defesa de um Império do Direito geral. Este Império do Direito expressa o estabelecimento de certas esferas de liberdade em face do Estado. E essas esferas de liberdade permitem que os grupos minoritários ou desprivilegiados de uma sociedade desigual reivindiquem direitos por meio do próprio Império do Direito e de acordo com uma justificação secular e racional. Mas esse processo ameaça as posições de poder estabelecidas e, consequentemente, ou o poder aceita essas demandas ou ele abandona a justificação secular e racional. O exemplo da República de Weimar, mais abaixo, ilustra esse fenômeno.6
1.2 “Desencantamento do direito” e instituições jurídicas
As três teses são desenvolvidas ao longo de todo o texto. A segunda parte do livro apresenta o desenvolvimento da contradição entre soberania absoluta e Império do Direito na obra dos principais pensadores racionais do Ocidente – de Cícero a Hegel. Neumann analisa suas distintas teorias do Estado e do direito para demonstrar como a contradição está invariavelmente presente. Paralelamente, Neumann apresenta como progressivamente ocorre a superação teórica de justificações transcendentais do direito em favor de concepções que se baseiam nas vontades e nas carências dos homens – processo que ele chama de “desencantamento do direito”.
É também nessa parte do texto que Neumann apresenta sua quarta tese: “o reconhecimento da liberdade e igualdade em uma es fera leva ao postulado da liberdade e igualdade nas outras” (p. 118).
Para ele, a justificação secular e racional do Estado e do direito per mite e estimula o reconhecimento jurídico progressivo da liberdade e da igualdade, embora o risco de regresso seja constante.
Essa tese, junto às demais, será novamente objeto de estudo na terceira e última parte do livro, quando Neumann analisa a evolução histórica das instituições jurídicas na Alemanha e na Inglaterra dos séculos XIX e XX. Nesse ponto, Neumann estuda a relação entre direito, política e capitalismo.
Ele defende que a sociedade liberal e competitiva do século XIX, ao compartilhar uma concepção individual de liberdade política e econômica, determinava que o direito só fosse válido se exercido por meio de leis gerais aplicadas por juízes independentes por meio de um processo de subsunção lógico-formal.
Essa ideia formal de direito, por outro lado, pressupunha uma determinada estrutura econômica, social e política: uma economia não monopolizada, a inexistência de uma classe trabalhadora enquanto movimento independente que apresentava demandas ao Estado e ao direito e uma separação de poderes, no qual o direito era aplicado por um órgão independente do órgão de criação, sendo que um ou outro deveria ser dominado pela burguesia.
Contudo, quando o capitalismo se monopolizou e o proletariado passou a exigir o reconhecimento formal de direitos, ocupando lugar no Parlamento, essa estrutura jurídica formal entrou em xeque.
Neumann afirma que a justificação secular e racional do direito passou a ser reivindicada por uma nova classe social, organizada politicamente. E a possibilidade dessa classe exigir direitos formais democraticamente (a afirmação progressiva do Império do Direito por uma justificação secular e racional), entrou em contradição com o desenvolvi mento do sistema produtivo. A sociedade burguesa ficou ameaçada.
A solução encontrada na década de 1930, na Alemanha, foi o completo abandono de qualquer pretensão de racionalidade na justificação do Estado e do direito: a contradição entre soberania e Império do Direito foi resolvida em favor do primeiro elemento. Para Neumann, o direito da Alemanha nazista era uma simples técnica de transformação da vontade do líder em realidade constitucional. A característica própria do direito e do Estado, a contradição entre um momento de soberania e um momento de justificação racional e secular, foi deixada de lado em favor de uma justificação irracional e carismática do poder absoluto do Estado.
2.Vínculo entre direito e democracia.
Contudo, é possível defender, a partir de Neumann, que a “solução nazista” não era a única alternativa historicamente possível. Aqui talvez resida a maior contribuição do autor para o pensamento jurídico e político contemporâneo. Estabelecendo um vínculo entre democracia e direito, tanto da perspectiva teórica, a partir da análise de Rousseau, como da perspectiva histórico-institucional, a partir de sua análise sobre a República de Weimar, Neumann parece postular que seria possível garantir o contínuo reconhecimento de esferas de liberdade e igualdade por meio de um direito democrático, ainda que o risco de regressão estivesse presente.
Não há espaço para reconstruir o que interpreto como as duas linhas de análise sobre o vínculo de direito e democracia realizadas por Neumann. Por isso, apresentarei somente o que considero a sua compreensão sobre as transformações ocorridas na República de Weimar.
Neumann entende que a típica sociedade liberal do século XIX transformou-se radicalmente na Alemanha do início do século XX.
Além da transição do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista, o autor afirma que a estrutura política também foi substancialmente alterada, sendo que a Constituição de Weimar tentou equilibrar o conflito de classe entre proletariado consciente e burguesia com base na ideia de paridade e com o sufrágio universal. As instituições políticas democráticas permitiram que todas as forças sociais participassem ativamente da criação do direito e do exercício do poder político.
Nesse contexto, a estrutura formal do direito do século XIX também foi transformada. A estrutura econômica de monopólios, o proletariado se constituindo enquanto classe social ativa e a participação de diversas forças sociais na criação do direito fizeram com que começassem a surgir inúmeras normas mais abertas que o padrão tradicional. O conflito social não permitia que o legislador decidisse de antemão qual a solução a ser adotada em um caso concreto. Cláusulas jurídicas gerais passaram a dominar o ordenamento jurídico, como as exigências da “função social da propriedade”, “interesse público” e “boa-fé”, que permitiam uma decisão diferente para cada caso concreto.
Para Neumann, essas cláusulas gerais só garantiram o equilíbrio de forças sociais enquanto todas puderam participar do processo de justificação. Enquanto existiu esse equilíbrio em Weimar, as forças sociais puderam participar ativamente da formação do poder político, porque a elas também eram reconhecidas esferas de liberdade em face do poder do Estado. Contudo, a partir de 1930, as cláusulas gerais passaram simplesmente a ser utilizadas como justificativa para proteção dos interesses monopolistas e da vontade política do Führer. As esferas de liberdade foram sacrificadas em favor da soberania estatal7
2.1 O elemento jurídico da liberdade e a realização da liberdade humana.
A consequência desse diagnóstico, para Neumann, é a de que o reconhecimento formal e jurídico de âmbitos de liberdade em face do poder do Estado é essencial para garantir a realização da liberdade humana, ainda que não a garantam definitivamente.
Neumann entende que a liberdade jurídica se diferencia da liberdade sociológica e filosófica. Enquanto a primeira é a ausência de restrição, a liberdade sociológica seria a possibilidade individual de livre escolha entre duas alternativas iguais. Neumann entende que a liberdade jurídica, conectada a instituições democráticas e a uma justificação secular e racional, permite a progressiva realização da liberdade sociológica, ao dar atenção crescente às diferenças sociais entre os homens. A liberdade jurídica, contudo, não garante a liberdade sociológica.
Finalmente, a liberdade jurídica e a liberdade sociológica simples mente tornam possível a “autoafirmação humana, o fim da alienação de si do homem” (p. 83), inspirando-se na filosofia do direito hegeliana.
A tentativa de formular uma “teoria da liberdade humana” nunca foi abandonada por Neumann. Em texto posterior, de 1953, Neumann retornará à questão.8 Nesse texto, ele afirma que o conceito de liberdade política possui três elementos constitutivos: jurídico, cognitivo e volitivo. O elemento jurídico é o reconhecimento de uma esfera de liberdade do cidadão e de organizações privadas em face do Estado.
Neumann diferencia sociedade civil e Estado e afirma que a primeira deve ser independente do Estado para permitir que as demandas sociais se formem autonomamente.
Desenvolvendo a afirmação realizada antes, Neumann afirma mais uma vez que o elemento jurídico é insuficiente. Dessa vez, contudo, apresenta dois novos motivos: a liberdade concebida enquanto ausência de restrições não permite explicar porque a democracia é o sistema político que maximiza a liberdade; a fórmula da independência da sociedade civil em relação ao Estado ignora que a liberdade pode ser ameaçada no interior da própria sociedade civil.
Assim, ele desenvolve o elemento cognitivo e o elemento volitivo da liberdade política, que complementam o elemento jurídico. O elemento cognitivo reconhece que a sociedade humana acumula progressivamente conhecimento a respeito da natureza e do próprio homem. Nesse sentido, ele permite a realização efetiva da liberdade, ao possibilitar ao homem a compreensão das relações naturais e sociais nas quais está inserido. Ao mesmo tempo, também permite que o homem reforme a estrutura institucional para adequá-la ao conheci mento adquirido.
Por fim, o elemento volitivo (ou ativista) da liberdade é a vontade humana de ser livre. É por meio dele que se defende a superioridade da democracia enquanto forma histórica de realização da liberdade. O vínculo entre direito e democracia fica ainda mais evidente no texto de 1953, porque Neumann defende que somente a democracia institucionaliza a oportunidade do homem escolher livremente entre oportunidades iguais. E o cidadão – individualmente ou em grupo – só pode escolher livremente se tem esferas de liberdade reconhecidas juridicamente.
Em The concept of political freedom, portanto, Neumann desenvolve a teoria apresentada inicialmente em O Império do Direito. Os três ele mentos da liberdade – jurídico, cognitivo e volitivo – conformariam um desenho institucional e social mínimo para que uma sociedade moderna possa ser livre, ainda que o risco de regressão esteja presente. A análise da República de Weimar realizada nos últimos capítulos de O Império do Direito demonstra o risco do abandono do Império do Direito.
Nesse contexto, acredito que os estudos de Franz Neumann podem contribuir significativamente com a reflexão contemporânea a respeito do direito e da democracia. Sua análise sobre o desenvolvimento da racionalidade jurídica apontou para a superação da dicotomia direito formal-material, no sentido de um direito procedimental democrático.9 Por outro lado, Neumann também apontava para a necessidade de congregar outros elementos, além do jurídico, para a sociedade moderna realmente permitir a efetivação da liberdade.
Notas
1.FRAENKEL, E.; KAHN-FREUND, O.; KORSCH, K.; NEUMANN, F.; SINZHEIMER, H. Laboratorio Weimar: conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista. Roma: Edizione Lavoro, 1982, NEUMANN, F.Il diritto del lavoro fra democracia e dittadura. Bologna: Il Mulino,1983.
2.NEUMANN, F.Behemoth : the structure and practice of national socialism 1933 1944 (1942). New York: Harper Torchbooks, 1966. Versão atualizada do livro publicado originalmente em 1942.
3 A relação entre Neumann e o Instituto não é contínua. Sobre o assunto, ver JAY, M.The dialectical imagination : a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research. Boston: Little Brown, 1987.
4 A preocupação de Neumann com o direito foi analisada nos seguintes textos: RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann, São Paulo: Editora Saraiva, 2009; PROL, F. e RODRIGUEZ, J. Franz L. Neumann: direito e luta de classes. In: RODRIGUEZ, J. e SILVA, F., Manual de Sociologia Jurídica, São Paulo: Editora Saraiva, 2013, pp. 61-79.RODRIGUEZ, J. Franz Neumann, o direito e a teoria crítica.Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004. RODRIGUEZ, J.Franz Neumann: o direito liberal para além de si mesmo.In: NOBRE, M., Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008. KELLY, D.The State of the political: conceptions of politics and the state in the thought of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann. New York: Oxford, 2003. SCHEUERMAN, W.Between Norm and Exception: the Frankfurt school and the rule of law. Cambridge: MIT Press, 1997.
5.Neumann se baseia nos estudos de Karl Renner. Ver: RENNER, K.The institutions of private Law and their social functions. Londres: Routledge & K. Paul, 1949.
6.Acredito que é a partir desta tese que Rodriguez afirma a atualidade do diagnóstico de Neumann, por meio da expressão “fuga do direito”. A afirmação histórica do Império do Direito e do reconhecimento de diversas esferas de liberdade jurídicas faz com que as forças produtivas e o exercício puro do poder assumam outra roupagem social, não jurídica. O direito moderno democrático impõe restrições ao exercício do poder. Para mais, ver RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito.
7.Rodriguez diferencia a “forma direito” dos “modelos de juridificação”. A ideia de “forma direito” ele retira da própria tensão entre soberania e direito que Neumann afirma ser característica das sociedades modernas. Por “modelos de juridificação”, Rodriguez diferencia como cada sociedade concretiza essa tensão em sua organização específica. A “forma direito” ganha potencial emancipatório quando está conectada a um procedimento democrático.Justamente o que foi abandonado na Alemanha nazista. Para mais, ver: RODRIGUEZ, J. Fuga do Direito, pp. 69-85; p. 95-120; pp. 129-135.
8.NEUMANN, F. The concept of political freedom.Columbia Law Review, vol.53, n. 7, 1953, pp. 901-935.
9.Algo que Habermas, por exemplo, realiza em seus textos sobre direito e democracia. HABERMAS, J.Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vols.Tradução de Flávio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
Referências
FRAENKEL, E.; KAHN-FREUND, O.; KORSCH, K.; NEUMANN, F.; SINZHEIMER, H. Laboratorio Weimar: conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista. Roma: Edizione Lavoro, 1982.
HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade.2 vols. Tradução de Flávio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
JAY, M.The dialectical imagination: a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research. Boston: Little Brown, 1987.
KELLY, D.The State of the political: conceptions of politics and the state in the thought of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann New York: Oxford, 2003.
NEUMANN, F.Il diritto del lavoro fra democracia e dittadura. Bologna: Il Mulino,1983.
_______.Behemoth: the structure and practice of national socialism 1933-1944 (1942). New York: Harper Torchbooks, 1966. Versão atualizada do livro publicado originalmente em 1942.
_______.O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna. Tradução de Rúrion Melo. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
_______. “The concept of political freedom”.Columbia Law Review, vol.53, n. 7, 1953.
PROL, F.; RODRIGUEZ, J. Franz L. Neumann: direito e luta de classes.
In: RODRIGUEZ, J.; SILVA, F. (orgs.).Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
RENNER, K.The institutions of private Law and their social functions. Londres: Routledge & K. Paul, 1949.
RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
_______. Franz Neumann, o direito e a teoria crítica.Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004.
_______. Franz Neumann: o direito liberal para além de si mesmo. In: NOBRE, M., Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008.
SCHEUERMAN, W.Between Norm and Exception: the Frankfurt school and the rule of law. Cambridge: MIT Press, 1997.
Flávio Marques Prol – Doutorando na Faculdade de Direito da USP e pesquisador do NDD-CEBRAP.
Educação/ Estado e Poder | F. Comparato
A educação ocupa um lugar central no desenvolvimento histórico brasileiro e as decisões tomadas em relação ao sistema de ensino, ao longo dos anos, sempre foram influenciadas a partir de variáveis econômicas, sociais, culturais, e políticas. Fábio Comparato1, em seu livro Educação, estado e poder, originado a partir de três conferências, faz uma análise das diferentes orientações que a educação recebeu ao longo da República, e ressalta que somente conhecendo a sociedade e suas dimensões, será possível ter um claro entendimento do processo educativo. Apesar de passados alguns anos de sua publicação a obra mantêm sua atualidade, servindo de base para resgatar os aspectos que ainda estão presentes na contemporaneidade. Leia Mais
Somalia: State Collapse, Terrorism and Piracy | Brian Hesse
O livro Somalia: State Collapse, Terrorism and Piracy é a compilação de uma edição especial Journal of Contemporary African Studies, organizada por Brian Hesse, professor de ciência política na Universidade Northwest Missouri State. O professor Hesse possui outras publicações sobre África, em especial relacionada à política externa americana, como o livro The United States, South Africa and Africa: of grand foreign policy aims and modest means. Além disso, tem a peculiaridade de ser guia sazonal de safári na África pela empresa americana Cawabunga Safari. Este livro está dividido em sete capítulos, produzidos por autores diferentes, e analisa aspectos, como a formação do atual governo de união, a ligação da Somália com o terrorismo global, a influência da diáspora somali na política do país, a dinâmica da pirataria e onde o cenário político, econômico e social funciona bem na Somália. O livro concentra-se em explicar a falência do Estado somali por meio de três eixos: clãs, terrorismo e pirataria – estes somados às intervenções estrangeiras e agravados por elas. Trata-se de um livro recente, publicado pela primeira vez em 2011, e que reflete sobre os problemas atuais da Somália, assim como sobre as causas destes.
O primeiro capítulo, Introduction: The myth of Somalia, de autoria do próprio organizador do livro, apresenta a história da Somália independente, com ênfase na fragmentação do Estado somali. A atual Somália é a junção das antigas Somalilândia Britânica e Somalilândia Italiana, as quais ficaram independentes em 1960, formando a República da Somália. Os somalis étnicos estão espalhados por várias regiões do Chifre da África: Quênia, Etiópia, Djibuti e na região que se proclamou a República da Somalilândia. Além desses, os refugiados e a diáspora Somali estão localizados em países da África, do Oriente Médio, da Europa e da América do Norte. Desde 1992, a Somália já passou por três intervenções militares sob a chancela da ONU, além da presença de inúmeras Organizações Não-Governamentais (ONG). Leia Mais
A Separação do Estado e da Igreja. Concórdia e conflito entre a Primeira República e o Catolicismo – MATOS (LH)
MATOS, Luís Salgado de. A Separação do Estado e da Igreja. Concórdia e conflito entre a Primeira República e o Catolicismo. Lisboa: D. Quixote, 2011. Resenha de: CARVALHO, David luna de. Ler História, v.65, p. 179-181, 2013.
1 O livro A Separação do Estado e da Igreja. Concórdia e conflito entre a Primeira República e o Catolicismo de Luís Salgado Matos apresenta logo no subtítulo uma indicação preciosa sobre o seu contributo para a historiografia, a de que também houve concórdia no processo de separação do Estado da Igreja! Segundo o autor, o próprio processo de implementação da Lei da Separação demonstra mesmo que numa fase inicial o projeto da lei era de molde a não levantar problemas; devido a um acordo tácito entre o Estado e a Igreja as cultuais eram, na prática, voluntárias e o culto paroquial livre.
2 Não saindo da tradicional vertente da história da I República – a História Política – Luís Salgado Matos inova no entanto ao demonstrar que cada um dos dois intervenientes no processo em análise, o Estado e a Igreja, longe de serem entidades homogéneas, decompunham-se numa heterogeneidade de protagonistas e interesses contraditórios. Para exemplo podemos ver como o autor avalia a sensibilidade em matéria religiosa por parte do Estado, ou seja dos republicanos. A existência de diversas sensibilidades como as dos evolucionistas e unionistas, adeptos de uma política de atração e para quem a Igreja só devia ser reprimida se fizesse política contra a República, até aos democráticos, considerados como os mais radicais e para quem defender a República era reprimir a igreja já era conhecida, mas Salgado Matos debruça-se ainda sobre outra categoria, a dos laicistas. O autor demonstra que os mais radicais não foram os democráticos, mas sim os laicistas. Estes consideravam a religião como algo a extinguir ao contrário dos democráticos que a concebiam de um modo positivo.
3 Partilhando a conceção de que a questão religiosa foi central na «vida e morte» da I República, Salgado Matos demonstra como a organização política esteve refém da «dialética dos extremos», quer no interior do Estado Republicano quer no da Igreja Católica. No campo republicano, o do Estado, a tendência laicista mais radical pressionava a corrente laica e no campo do Catolicismo os católicos monárquicos constitucionais, representados pelo rei exilado, D. Manuel, pressionavam a hierarquia eclesiástica e os partidários da indiferença face à questão do regime político, como os membros do Centro Católico.
4 Os republicanos laicos, pretendendo um relacionamento com o topo da hierarquia católica, o Vaticano, não conseguiam dissociar-se de um laicismo intolerante, de tal modo que fundamentavam a importância dessa relação praticamente apenas na salvaguarda do empreendimento colonial. A hierarquia católica, reforçada por já não partilhar o seu poder com o Estado Regalista, não se demarcou das ofensivas monárquicas e do próprio constrangimento proveniente do rei exilado ser considerado um rei «fidelíssimo», tornando-se «refém do seu imaginário de vítima perseguida».
5 No cerne de toda a questão religiosa esteve, segundo o autor, a questão da personalidade jurídica da Igreja Católica. Contrariamente às teses que consideram que o Estado republicano era irredutível, atribuindo a personalidade jurídica apenas à associação dos cidadãos crentes em cultuais e que a Igreja também o era, considerando apenas a hierarquia eclesiástica, para Luís Salgado Matos houve entendimentos que consideravam soluções intermédias. Estas soluções existiam no próprio texto da lei, pois as cultuais aí consagradas constituíam mais de que uma categoria, além das cultuais a serem criadas de novo existiam também as cultuais baseadas em organizações tradicionais como as misericórdias, irmandades e outras instituições seculares da Igreja. Ainda que as Irmandades tivessem de alterar os seus estatutos, muitas não o fizeram, não sendo postas em causa e, além disso, não tardou que existisse legislação atribuindo ao clero a acreditação dos membros cultualistas como católicos. Esta foi uma solução de compromisso aceite pelos moderados de ambas as partes e contrariada pelos seus extremistas, demonstrando que a Lei da Separação portuguesa não era uma cópia da lei francesa de 1905, mas sim uma lei original.
6 As irmandades foram, segundo o autor, o terreno de encontro entre o Estado e a Igreja e esta prática remontava ao Estado monárquico liberal. O desejo dos republicanos laicos era o de uma reconfiguração que não abandonasse totalmente o regalismo, tendo chegado a negociar com o Vaticano e com os bispos antes da publicação da Lei da Separação, algo que o papa de então, Pio X não aceitou. Posteriormente, sobretudo devido a um novo papa, Bento XV, advogando uma política de ralliement, e a Sidónio Pais, com medidas segundo as quais os associados teriam de ter o aval do clero, a questão religiosa foi resolvida em termos institucionais.
7 Com o cuidado de não equiparar a separação da Igreja do Estado com a Lei da Separação, pois que aquela foi realizada também em muitas medidas anteriores a esta, a tese fundamental de Salgado Matos é a de que nem o Estado nem a Igreja pretendiam a separação que acabou por ocorrer, mas após o processo se ter iniciado cada uma das entidades foi ultrapassada e os seus objetivos alterados de um modo antes inimaginável. A divulgação da pastoral dos bispos em fevereiro de 1911 constituiu o marco dessa clivagem, não obstante o culto ter prosseguido com normalidade na maioria das paróquias. Mesmo com a sua conciliação depois da primeira guerra, nem o Estado republicano nem a Igreja católica tinham conseguido dominar os seus extremistas.
8 Sendo eu próprio um historiador da «Separação» em Portugal, embora numa perspetiva menos política e mais social e cultural, as conclusões de Luís Salgado Matos são particularmente preciosas, não apenas por aquelas que são coincidentes, mas também devido às que são divergentes.
9 No que respeita a conclusões convergentes com as minhas existe uma coincidência fundamental, concluímos ambos não ter existido uma guerra religiosa no processo de laicização e o autor considera que esse processo não constituiu uma perseguição, mas apenas um combate, com a «violência de forças opostas».
10 No respeitante a conclusões divergentes será muito interessante tentar perceber a sua razão de ser. Pela minha parte pude concluir que a faceta mais conflitual da «Separação» se tinha verificado no contexto da realização dos cultos, pois a grande maioria dos tumultos inventariados referia o constrangimento desses atos como pretextos de rebelião. Para Luís Salgado Matos, porém, o fulcro do conflito entre o Estado e a Igreja foi o da organização dos cultos uma vez que colocava em causa a personalidade jurídica da Igreja. Creio que esta divergência se deve exatamente ao diferente tipo de universo que ambos estudámos, no meu caso observei as reações dos fiéis comuns face aos implementadores locais da lei, enquanto Luís Salgado Matos observou essas reações sobretudo no topo das duas esferas, o Estado e a Igreja. Mais difícil de explicar é o autor não ter atribuído importância à «Lei do Registo Civil Obrigatório», anterior à «Lei da Separação», no que diz respeito à sua prescrição de proibição do cortejo fúnebre religioso no espaço público. Na minha inventariação de conflitos o maior pico mensal de tumultos verificou-se precisamente após a implementação dessa medida. Porque não terá havido eco nas esferas superiores da contenda, quando sabemos que foi a única ocasião em que os mais altos representantes do Estado republicano consideraram a possibilidade de um «conflito passional de natureza religiosa»?
11 A terminar uma breve alusão positiva à preocupação do autor em explicitar constantemente o significado de muitos conceitos pouco acessíveis a quem não tiver alguma especialização neste domínio, algo que não é muito vulgar!
David Luna de Carvalho – Doutorado em História Contemporânea e investigador do Centro de Estudos de História Contemporânea (ISCTE-IUL). E-mail: [email protected].
Fundeb, federalismo e regime de colaboração – MARTINS (ES)
MARTINS, Paulo de Sena. Fundeb, federalismo e regime de colaboração. Campinas: Autores Associados, 2011. Resenha de: SILVA, Isabelle Ffiorelli. A “política de fundos” e os contornos federativos do estado brasileiro. Educação & Sociedade, Campinas, v.33 n.121 out./dez. 2012.
A pesquisa no campo das políticas educacionais, realizada por Paulo de Sena Martins em seu livro Fundeb, federalismo e regime de colaboração, traz uma análise acerca da adoção da “política de fundos” no país, tratando-a como inerente aos contornos do nosso Estado federado cooperativo. As características de nossa Federação e suas possibilidades de aperfeiçoamento são constantemente imbricadas com a formulação e implantação da “política de fundos”, cujas origens remontam ao período marcado pelo Movimento dos Pioneiros, mas somente adotada como política pública a partir dos anos de 1990.
O livro resulta da tese de doutoramento defendida em 2009 na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, cujo objetivo projetado e, a meu ver, alcançado foi compreender a capacidade dos fundos de assegurarem o regime de colaboração entre os entes federados e a busca pela equidade na distribuição dos recursos para os diferentes sistemas de ensino estaduais e municipais. Trata-se da análise de uma política pública, de seu processo decisório na formulação das leis regulamentadoras da principal política de financiamento da educação brasileira, a denominada “política de fundos”. Para isso, o autor utilizou textos teóricos, além do exame da legislação e de documentos técnicos, especialmente as notas taquigráficas das audiências públicas realizadas pelas comissões especiais e pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, que analisaram as Propostas de Emenda Constitucionais (PECs) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Na introdução são apresentadas as questões que irão permear toda a obra. Enfatiza-se o contexto de elaboração e negociação das leis e sua incidência na versão final aprovada, lançando mão de documentos técnicos para analisar o processo de tramitação das PECs do Fundef e do Fundeb, e tendo como tônica o mecanismo de fundo como possibilidade de fortalecer o Estado federativo cooperativo. Para tanto, são apresentadas as “falhas” detectadas no Fundef e as alternativas de aprimoramento no fundeb, tais como o cumprimento da regra de complementação da União e a necessidade de dar mais autonomia aos conselhos, a fim de aperfeiçoar a fiscalização e o controle social. Demonstra como o envolvimento da sociedade civil se deu de formas distintas na formulação da lei que regulamenta ambos os fundos, sendo que, no Fundef, a atuação crítica de entidades representativas da comunidade educacional foi muito mais no processo de execução do fundo por estarem relativamente desarticuladas no contexto de sua elaboração. Já na tramitação do Fundeb, tal comunidade obteve papel fundamental em vários momentos de embate, principalmente quanto à questão da inclusão das creches no novo fundo.
No primeiro capítulo, o autor inicia sua análise apresentando as tipologias de Estado federal e como a Federação brasileira se estruturou com base nas relações entre poder central e poderes estaduais e locais. Utiliza, para tanto, importantes autores da ciência política, do direito, da educação, da história e da economia. Considera que as regras distributivas de uma federação cooperativa devem estar em estreita relação com as regras distributivas do financiamento educacional; assim, as regras de redistribuição dos recursos destinados à educação no âmbito de cada estado, segundo as matrículas e as ponderações referentes às etapas, modalidades e tipos de estabelecimento, devem expressar um equilíbrio federativo, com efetivo regime de colaboração na repartição de competências concorrentes. Para ele, um Estado federado que se pretenda cooperativo deve buscar constantemente seu equilíbrio, no sentido da conciliação das autonomias locais com os interesses nacionais.
A Constituição brasileira é sempre mencionada pelo autor para afirmar o princípio do federalismo cooperativo, por meio da regulamentação e operacionalização de um regime de colaboração, também previsto na carta magna, entre os entes federados na implantação e manutenção das políticas públicas concorrentes. Não desconsidera que as ações dos envolvidos na gestão e financiamento das políticas públicas carecem de um processo de negociação permanente. Entretanto, a União tem papel importante de promover a equalização e a redistribuição, assumindo o papel de apoio técnico e financeiro aos entes subnacionais, visando corrigir as desigualdades de capacidade de gastos e de gestão das políticas públicas, em especial da educação. Aliás, toda política pública deve refletir o compromisso com o equilíbrio federativo! Nesse sentido, afirma categoricamente que a tradução do federalismo cooperativo nas políticas educacionais deve ser concretizada pela efetivação do regime de colaboração.
No segundo capítulo, o autor elenca os mecanismos de gestão intrínsecos ao federalismo o os analisa no âmago do Estado brasileiro, utilizando-se da legislação, sua constituição e reação na conflituosa arena política, e destacando seus reflexos no provimento do serviço público educacional. Mostra, desde o Ato Adicional de 1834 até a Constituição de 1988, o movimento de centralização e descentralização do poder político e suas repercussões na autonomia e equilíbrio federativos, ocorrendo tanto avanços como recuos a depender se o período político pendia para maior abertura política ou não. As garantias legais ao financiamento educacional foram propostas principalmente no contexto de promulgação da República Federativa, tais como a criação de uma taxa escolar, de impostos próprios provinciais, da vinculação de impostos, além de uma contribuição direta cobrada a cada família, embora ciente de que os instrumentos jurídicos foram (e ainda são) muitas vezes distorcidos ou ignorados.
O autor vai clarificando que, no bojo de uma gradativa evolução federativa, surgem os germens para os mecanismos de gestão e distribuição de recursos para a educação, por meio da adoção da vinculação de impostos (consagrada já nos anos de 1930) e da política de fundos (recuperada e regulamentada nos anos de 1990). Elucida-nos que, no primeiro meio, a discussão da inclusão sustentava a defesa dos “entusiastas pela educação” da obrigatoriedade do ensino para absorver as camadas sem acesso à educação; já no segundo meio, a questão da equidade orienta a luta pela democratização da educação, buscando a universalização de todas as etapas da educação básica e, ainda, das condições de sua qualidade. Nesse ínterim, surge a proposta de criação de um fundo escolar, sendo retomada em 1995 e reavivada pela tramitação da PEC que regulamenta o Fundef, redundando na aprovação da Lei n. 9.424, em 1996. Considerada como “minirreforma tributária” pelo formulador da proposta, Barjas Negri, Martins também reconhece seu potencial equitativo e o defende mediante seu aprimoramento pari passu com o pacto federativo. Assim, pondera que, apesar do contexto dos anos de 1990 estarem direcionados à gestão gerencial, os fundos contábeis surgem como estratégia política para alcançar a equidade, viabilizar a autonomia federativa, consolidar o controle social e aprimorar o regime de colaboração.
No terceiro e último capítulo da obra, o autor analisa o processo de tramitação das leis que regulamentam o Fundef e o Fundeb. Nos debates ocorridos no primeiro caso, as problemáticas que permearam os debates foram o gasto-aluno baseado no orçamento disponível, ao invés de orientado pela qualidade da educação, o risco de superlotação de salas e a prioridade do fundo para uma determinada etapa, em revanche com o conceito de equidade educacional. Já nos debates ocorridos no segundo caso, foram utilizados argumentos baseados nos efeitos previstos e/ou detectados do Fundef na educação infantil, na educação de jovens e adultos, no ensino médio e na secundarização da questão da valorização do magistério. Tais efeitos foram analisados em relação ao princípio da equidade, relação esta que denuncia a incapacidade do Fundef em interferir nas disparidades regionais e estaduais, sem a efetivação da complementação da União e a operacionalização do regime de colaboração. Nesse caso, “o fundo não suprime as diferenças, mas cria as condições para diminuí-las”, na medida em que absorve mecanismos capazes de superar a incomunicabilidade entre os fundos estaduais. Outro limite apontado referente ao funcionamento do Fundef consiste na definição anual do valor mínimo por aluno, que sempre foi desrespeitado e até mesmo congelado nos anos de 1998 e 1999, ilustrando a atuação coadjuvante do fundo no ajuste fiscal promovido naquele contexto de reforma do Estado.
Se tomarmos a ciência política como “óculos” de análise da política de fundos, tal obra se enquadra na análise da principal política pública para a gestão e financiamento da educação brasileira, mais especificamente na análise de seu processo de discussão, tomada de decisão e consequente formulação, mais do que a análise de seus efeitos produzidos durante e após sua implantação. Embora na obra encontremos pesquisas analisando os resultados e efeitos gerados pelo Fundef, após seus dez anos de funcionamento, principalmente no terceiro capítulo, a ênfase de esforços analíticos recai na avaliação do processo de formulação, tramitação e aprovação das leis que regulamentaram a política de fundos, explicitando seus avanços e retrocessos inerentes aos contornos do nosso Estado federado. Contudo, como possível coadjuvante no equilíbrio federativo, a política de fundos é defendida e aceita como política pública educacional, em constante aprimoramento inerente ao desenho do Estado democrático brasileiro.
Isabelle Fiorelli Silva – Doutoranda em Educação na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professora no Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: [email protected]
Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia/ 1790-1850 | Hendrik Kraay
Em recente ensaio publicado na imprensa brasileira, o historiador Luiz Felipe de Alencastro, tratando do “Livro Branco da Defesa Nacional”, lançado em 2012 pelo governo brasileiro, declarou taxativamente: “a discriminação racial não escrita (…) exclui negros e mulatos do alto oficialato das Três Armas”. Voltado a apresentar os números e as reflexões sobre planejamentos e estratégias para a Defesa do país, o “Livro Branco”, anota o historiador, inova pelo tratamento conjunto dos assuntos relativos às Forças Armadas e à diplomacia no Brasil, mas permanece, por outro lado, calado, no registro de um conhecido silêncio: a recusa em abordar a questão racial nas Armas, e a sua impermeabilidade à pauta das políticas afirmativas.
Se iniciássemos por sua conclusão a resenha do livro de Hendrik Kraay, poderíamos partir, seguramente, do mesmo ponto a que chega Alencastro. Nas palavras do historiador canadense, afinal: “(…) a abolição da discriminação racial formal nas Forças Armadas, um processo concluído na década de 1830 com o estabelecimento da Guarda Nacional e o fim da discriminação racial no recrutamento para o Exército, tornou menos possível a política baseada na cor” (p.379-380).
A complexa tradução histórica dessa formulação que aproxima períodos mediados por quase duas centenas de anos, Hendrik Kraay a promove numa obra de extenso fôlego, escrita no final da década de 1990, mas só há um ano apresentada em edição brasileira. O fato não impediu, porém, que desde a sua elaboração a riqueza do trabalho venha sendo amplamente conhecida e consultada pelos estudiosos interessados no tema e no período cobertos pela pesquisa.
Curiosamente, o tempo de espera da sua chegada ao público de língua portuguesa correu a favor da consolidação, na historiografia brasileira, de novas alternativas de interpretação a abordagens tradicionais no exame de temas como a Independência, a formação do Estado, ou a política nas camadas populares no Brasil. Alternativas que se juntaram, por outro lado, à elaboração das categorias “raça” e “cor” como motivos de uma já sólida tradição de estudos históricos sobre a escravidão no Brasil, tradição que se confunde com o processo de profissionalização da área no país, desde as últimas décadas do século passado.
Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência (Bahia 1790-1850) é, assim, um livro de muitos temas, como o confessa seu próprio autor. A bem dizer, é um livro de todos aqueles temas. E a escolha das Forças Armadas como objeto privilegiado em torno do qual seu estudo se organiza deve-se ao fato de que, em palavras do próprio Kraay, “nenhum outro setor do Estado penetrou tão fundo na sociedade”, oferecendo ao pesquisador a oportunidade de estudá-la ali onde ela não é composta “nem de escravos, nem de senhores”.
Dessa maneira, o estudo proposto das relações sociais e políticas marcadas pela hierarquia de corte racial desloca o cerne da análise do binômio senhor-escravo, ao mesmo tempo em que funciona como elemento articulador de toda a rede de temas que acusam a presença inescapável de sua sombra, ou seja, o peso da ordem escravista manifestando-se nas sutilezas dos seus diversos desdobramentos. Assumindo essa perspectiva, o autor ademais reconhece a complexa trama de interações por meio das quais um conjunto de elementos sociais como classe, status e origem interferem com a cor para a produção das diferenças entre as pessoas, dentro e fora de suas organizações.
Igualmente atravessados, assim, pela “questão racial”, e radicados no exame da dinâmica do Exército baiano entre 1790 e 1850, três são os principais temas que a obra descortina: a nova história militar, a formação do Estado brasileiro na “era da independência”, e a política popular.
Em tese defendida no ano de 1995 na Universidade do Texas, Hendrik Kraay sinalizava desde o título a abordagem escolhida para o tratamento característico da história militar em sua obra. “Soldiers, officers and society” traduz textualmente a pretensão de o historiador ultrapassar as narrativas das estratégias de guerra, dos procedimentos militares ou o tom laudatório das campanhas e de seus heróis, típicos dos trabalhos sobre a corporação – muitos deles produzidos por militares – até bem perto de fins do século XX. Kraay, ele mesmo, tratou do assunto juntamente com Victor Izecksohn, Celso Castro e outros em “Nova História Militar Brasileira” (FGV, 2004).
Nessa linha, a original história das milícias coloniais baianas produzida por Kraay é interpelada pelo interesse da disposição racialmente segregada dessa instituição auxiliar do Exército. O significado da discriminação oficial que separava os regimentos de brancos, pardos e pretos tornava a milícia, especialmente para esses últimos, numa fundamental agência de prestígio e de status pessoal, dado o elemento de diferenciação por ela representado numa sociedade em que a pobreza e a escravidão tinham cor marcante. Não por acaso, a perda da distinção por parte dos oficiais pretos da milícia (os famosos Henriques), com o fim da corporação em 1831 e sua substituição pela Guarda Nacional, lançou-os a uma feroz crítica do Estado em termos raciais. E sua frustração com o exercício da proclamada igualdade liberal formal – que extinguia os batalhões segregados – culminou no expressivo envolvimento dos ex-Henriques na revolta da Sabinada, em 1837.
Os oficiais do Exército baiano surpreendido por Kraay, por sua vez, estão longe das cenas das batalhas. O estudo bem documentado de suas trajetórias pessoais e familiares revela, à maneira da prosopografia, uma história a partir da qual é possível observar como o processo de profissionalização do Exército é consentâneo com a formação de um oficial funcionário público, proprietário modesto, crescentemente dependente das rendas do Estado e submetido ao seu estrito controle. Esse processo é fortemente induzido por uma máquina de Estado cuja força centralizada se manifesta a partir da década de 1840, num cenário claramente distinto daquele em que, no fim do período colonial, senhores e altos oficiais se confundiam no topo da hierarquia das Forças Armadas. Nota relevante acerca de um e de outro perfil dos oficiais, os documentos a respeito de suas carreiras não fazem qualquer menção de sua cor. Supunham-se todos brancos, na verdade; quando menos, na provocativa expressão de Donald Pierson, “brancos da Bahia”.
Essa pirâmide, encimada por alvos baianos, compunha-se na base pelos soldados da tropa. Em sua maioria recrutados à força entre livres ou libertos, brancos ou pardos, esses homens não gozavam do benefício de um acesso abreviado aos postos mais elevados da corporação – reservados aos cadetes, filhos de oficiais. A forma violenta de seu ingresso no Exército expunha a sempre encenada disputa entre as autoridades públicas, os pobres elegíveis e seus patrões: ser recrutado significava, portanto, perder a batalha nas tramas do patronato ou, pior, não poder contar com qualquer proteção. A característica ambigüidade dessa situação política levou o autor a afirmar que os pobres livres, beneficiários desse quadro, “encaravam o patronato como uma maneira natural, necessária e até mesmo ‘boa’ de organizar a sociedade” (p.288). Uma vez recrutados, porém, as desonrosas punições corporais a que estavam sujeitos lhes recordavam que a sua condição de vida era forjada com molde não inteiramente diferente daquele com que eram marcados os escravos.
Em resposta, os mecanismos de que se valiam os soldados para afirmar a sua liberdade incluíam deserções regulares ou o refúgio temporário na rede dos vínculos que não desatavam com a comunidade mais ampla. Foram, afinal, os espaços ainda não fechados entre o quartel e a rua no fim do período colonial que permitiram as duplas profissões de soldados e sargentos que, também artesãos e alfaiates, manifestaram vigorosa desafeição ao Trono em conspiração de pardos delatada por pretos da milícia na cidade da Bahia, em 1798. Dessa maneira, entre recrutamentos e deserções, punições e indultos, o quartel, assinala Kraay, funcionava como “uma porta giratória através da qual os soldados passavam regularmente” (p.117). Tratava-se de um equilíbrio dinâmico entre a ação do Exército à cata da sujeição dos “vadios” e a iniciativa dos pobres, livres ou libertos, em busca de um patrão que lhes valesse (ainda que esse patrão fosse, por fim, o próprio Estado armado).
Ao longo do período estudado na obra, a história é também de significativas mudanças nas fileiras, ao lado de inquietantes permanências. Tal como entre os oficiais – sobretudo após a criação de um Exército Nacional na década de 1840 – o perfil do soldado se conforma sob o peso de um controle mais estrito do Estado, de maior dependência à ocupação militar. A intensa politização provocada pelos conflitos de Independência resultou num crescente “escurecimento” das tropas – que contavam, inclusive, escravos recrutados – e a desmobilização do Exército envolvido nessa guerra implicou a dispensa de batalhões em que a presença expressiva de homens de cor era vista como elemento decisivo de graves ameaças à ordem, como aquela que o Batalhão dos Periquitos protagonizou em motim estourado em Salvador no ano de 1824, ainda no desenrolar dos sucessos da Independência da Bahia. Aos recrutas, portanto, o Estado pós-Regresso (1838) suprimiu o espaço para duplas atividades, o direito a licenças e baixas, e restringiu seu contato com o mundo exterior à caserna. Mas manteve, apesar de sua progressiva perda de legitimidade, a forma coerciva do recrutamento e o padrão da disciplina corporal, forçando os soldados a também manter atualizada a teia de favores que, nas palavras contrariadas do então Presidente da Bahia, “hoje tudo invade, e desfigura” (p.287).
A noção de Estado que emerge da obra de Kraay em meio a esse conjunto de transformações não é, ele salienta, a do “Estado autônomo que Raimundo Faoro e Eul-Soo Pang enxergaram como sendo primordial à história luso-brasileira”. Em seu lugar, o autor “enfatiza as íntimas conexões entre o Estado e a classe dominante” (p.18). Poder-se-ia dizer a esse respeito, em suma, que ao longo do período a classe senhorial baiana deixou de estar no controle direto das Forças Armadas – ocupando seus mais altos postos numa corporação de caráter local – para se beneficiar da segurança propiciada por um Exército nacionalizado por obra da força do Estado, então livre dos focos de rebeliões. Essa formulação tal como elaborada supõe, portanto, um importante trânsito na dinâmica do Estado, de um Império ao outro. Kraay o explica, sobretudo, a partir das evidências de seus resultados na estrutura do Exército e no perfil de seus integrantes. A relevância dessa explicação, porém, não afasta, antes mesmo sublinha, a importância de outra que dê conta das formas como esse trânsito de um modelo de Estado ao outro representou a efetiva construção de um Estado Nacional no Brasil.
Arriscaríamos dizer que as íntimas conexões entre o Estado e a classe dominante sugeridas por Kraay carecem, na obra, de uma maior diferenciação dos seus termos. No amplo quadro da política institucional que recobre e produz as mudanças no Exército claramente apresentadas no livro, as “classes senhoriais” resumem a “sociedade” em geral frente à qual o perfil do Estado é discutido. Por sua vez, os liberais expressivamente citados como responsáveis pela reforma do Exército entre as décadas de 1820-30 não dialogam, nas páginas do trabalho, com adversários conservadores mais distintamente apresentados. A própria narrativa de um Estado como máquina burocrática em construção a partir do Regresso não é objeto da atenção detida e específica do autor, naquilo que ela interessaria em demonstrar como se forjou uma identificação das classes – e não só dominantes – com a figura de uma administração política que superou a pátria local como eixo de funcionamento e que fixou as condições para o surgimento de instituições e carreiras nacionais, como as do próprio Exército. Afinal, como suposto na formulação antes apresentada, o trânsito entre aparelhos de Estado distintos deve mais à “era da Independência” do que à Independência como tal; o que é o mesmo que dizer que a Independência por si não formou o Estado nacional, premissa, aliás, que o autor reconhece.
Mas se a Independência – ou Independências, pois “não há uma narrativa única e linear da Independência brasileira” (p.371) – não formou definitivamente o Estado, ela assentou as bases de uma nova ordem política que foi particularmente explorada pelos militares. Modulando a imagem de revolução conservadora atribuída por F.W.O. Morton ao movimento de Independência no Brasil, Kraay identifica os elementos sociais de uma revolução no conjunto de desafios que movimentos políticos impulsionados por soldados e oficiais do Exército e da milícia lançaram à ordem vigente a partir da década de 1820. Nesse particular, a nova posição assumida por esses atores tinha especial relação com a circulação de pautas, termos e com a cultura política que a vigência de uma Constituição pós-revoluções liberais permitiu que se formasse.
Os motins militares contra o regime de disciplina ou contra práticas arbitrárias das autoridades do Estado – destacada a Revolta dos Periquitos, em 1824; a expressiva participação de ex-integrantes da milícia preta na Sabinada, em 1837; ou ainda as diversas estratégias de “negociação e conflito” de que os homens das fileiras do Exército dispunham para fazer política e remediar a sua condição, todo esse processo evidencia o “Estado feito por baixo” que Kraay elege como um dos objetos de seu interesse. A relevância do reconhecimento de uma política de caráter popular no século XIX, renovando constantemente os horizontes de uma “segunda independência”, faz Kraay acenar para uma tradição historiográfica brasileira, inspirado na qual ele diz:
os soldados (e seus aliados na sociedade civil) reformularam o Exército, assim como – para usar um exemplo mais familiar aos historiadores do Brasil – as ações dos escravos em suas relações cotidianas com seus senhores transformaram a escravidão (p.106).
Assim, unindo os temas centrais da discussão enfrentada pelo autor em sua obra, a comparação feita no início dessas notas entre as frases de Alencastro e de Kraay cobra sentido, no fim, com uma breve referência a Karl Marx e o seu “Sobre a Questão Judaica” (Boitempo, 2010). Nesse trabalho, Marx, polemizando com Bruno Bauer acerca dos direitos políticos dos judeus na Alemanha do século XIX, promove sua seminal distinção entre “emancipação política” e “emancipação humana”. Com ela, poderíamos dizer, retomando o fio das profundas transformações havidas na estrutura do Exército brasileiro, que a reforma liberal que, em 1831, extingue as milícias racialmente segregadas e as substitui por uma Guarda Nacional racialmente “cega”, em nome da igualdade formal entre as pessoas, essa reforma representa a emancipação política dos cidadãos brasileiros em relação às suas diferenças de cor. Tal como na defesa por Bauer da emancipação dos alemães frente às suas distinções religiosas, o Estado brasileiro emancipava politicamente seus cidadãos, vale dizer, declarava-os livres e iguais, abstratamente, nos limites de sua cidadania. Essa emancipação, porém, não convenceu Francisco Xavier Bigode, ex-Tenente Coronel da milícia preta, extinta em 1831. Para ele, a igualdade diante da lei era “sem significado, a menos que ela reconhecesse as distinções raciais que a legislação colonial havia incorporado” (p.340).
Marx diria que a emancipação política eleva abstratamente os indivíduos de suas diferenças de castas e crenças, que ela os torna iguais formalmente, mas, não sendo emancipação humana, permite que suas diferenças concretas sigam agindo à sua maneira. Vale dizer, sigam à maneira das ordens sócio-políticas e econômicas que as produzem. Assim, nas palavras de Hendrik Kraay, nesse quadro “as afirmações de igualdade caíam em ouvidos ensurdecidos por atitudes profundamente arraigadas” (p.164). De fato, lembremos, não poderia ser diferente: o Império não tinha ainda o seu Livro Branco.
Douglas Guimarães Leite – Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói/Brasil). E-mail: [email protected]
KRAAY, Hendrik. Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. Resenha de: LEITE, Douglas Guimarães. A cor da política: carreira, identidade racial e formação do Estado nacional no Exército baiano do entre-impérios (1790-1850). Almanack, Guarulhos, n.4, p. 154-158, jul./dez., 2012.
Las alcabalas mexicanas (1821-1857). Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional | Ernest Sánchez Santiró; La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857 | Israel Arroyo García
Em quê estudos sobre o México pós-independência poderiam interessar aos historiadores brasileiros? Em muitos aspectos, como espera-se aqui mostrar. Em primeiro lugar, explicar processos tão prolongados e complexos como a quebra e fragmentação dos impérios espanhol e português e o surgimento das novas nações latino-americanas é sem dúvida um grande desafio. Isto porque não se trata apenas de explorar as rupturas mais evidentes, mas também, e em boa medida fundamentalmente, a profunda relação de continuidade entre o regime colonial e os estados independentes. Nesse sentido, ambos os livros constituem duas maneiras diferentes de contar a história de uma mesma época: a mudança política decorrente da independência do México.
O livro de Israel Arroyo, correponde à versão refundida de sua tese doutoral apresentada ao Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México em 2004, e tem como fontes três acervos: os tratados constitucionais e políticos (livros, folhetos, planos políticos, editoriais de jornais), as atas e minutas constitucionais e as leis secundárias (convocatórias constituintes e leis eleitorais). O primeiro atende ao estudo da parte doutrinária sobre as formas de governo, a representação política e a cidadania. Diferentemente do historiador das ideias, o texto vincula a doutrina com o pensamento constitucional dos atores individuais e coletivos: as ideias dos tratadistas ou políticos não giram sobre si mesmas, adquirem seu peso a partir de que impactem ou não a dimensão constitucional. Já as atas constitucionais permitem ver o processo de criação das normas e as instituições políticas. Cem páginas de anexos estatísticos em que o primeiro discute os critérios metodológicos adicionam maior consistência ao estudo.
O autor não se limitou a extrair o argumento das maiorias, mas analisa o ponto de vista das minorias ou dos grupos ou indivíduos que souberam combinar ambas as possibilidades. A obra está dividida em duas partes. Na primeira, em três capítulos, o autor examina o momento fundacional das formas de governo. Aqui destaque-se que o uso do plural não é casual. Isto porque no México não houve uma única forma de governo, mas diferentes projetos que se alternavam. O primeiro capítulo aborda a disputa original entre os dois tipos de monarquias constitucionais: a borbonista e a iturbidista (1821-1822). As diferenças entre um projeto e outro se situaram em dois itens: no poder executivo – monarca mexicano ou estrangeiro – e na origem e peso diferente que deram aos poderes públicos. A segunda fase da disputa se deu entre os propugnadores de uma república confederal e os de uma república federalista (1823-1824). O objetivo aqui foi rastrear as principais características da república no México, assim como a inclusão das diferentes visões de tipo confederalista que existiram na época. Arroyo García propõe nesse primeiro capítulo que inicialmente se constituiu uma “república parlamentar”. Se o argumento for convincente, perderia valor a apreciação de que os tratadistas mexicanos foram imitadores dos Estados Unidos. No capítulo seguinte, sua atenção volta-se para o pensamento constitucional dos anos 1840. A premissa central é que surgiu a projeção de uma república federal e liberal que buscou acomodar-se entre as repúblicas confederalista e unitária de seu imediato passado, ou, inclusive, frente ao ressurgimento do monarquismo constitucional de 1845 e 1846. E no terceiro capítulo, examina não só o pensamento constitucional dos tratadistas mexicanos sobre os termos “federalismo”, “república”, mas também as continuidades e rupturas do liberalismo jusnaturalista a respeito dos constituintes dos anos 1840. A tese principal é que não se pode compreender as novidades sugidas em 1857 sem examinar as conexões em indivíduos e conteúdos constitucionais dos congressos de 1842 e 1847.
A segunda parte da obra dedica-se à análise do processo de constituição da representação política e da cidadania no período. No primeiro capítulo dessa segunda parte é examinada a passagem da representação política no México independente, em torno de quatro eixos de discussão: as instruções frente aos “poderes amplísimos”, a construção de uma divisão eleitoral própria, a definição dos requisitos para exercer um cargo de representação e o voto por “diputaciones”. No México, em termos gerais, experimentou-se uma tríade de modelos de representação: pelo “modo honesto de viver”, por renda anual e de acordo com paradigmas fiscal. Isso significa que os constituintes mexicanos não compartilharam – salvo em situações restritas e como requisitos de exceção – as exigências censitárias. Em matérias de direitos políticos, os hispano-americanos teriam se adiantado aos ideais igualitários dos liberalismos democráticos contemporâneos, feito que contrasta com experiências como a francesa (modelo fiscal) ou a inglesa (modelo censitário). A frequência com que foi utilizado o voto por “diputaciones” como instrumento eleitoral e de representação política levou os constituintos de 1856 a propô-lo como mecanismo alternativo ao Senado da república. No capítulo seguinte o autor passa em revista outro aspecto da representação política: a cidadania ativa (o direito de votar e ser eleitor). Parte da pressima de que devem diferenciar-se os direitos políticos dos procedimentos de eleição. O argumento central é que o direito ao sufrágio no México foi amplo e os métodos de eleição restritivos. Contudo, persistiu um modelo dual de cidadania (o dos preceitos gerais e o dos estados), o que explica que se desse uma gama diferenciada de “cidadanias” pelo país. Ainda assim, a herança gaditana – o método de eleição de quatro graus – foi transcendida precocemente, e em geral se anulou o grau dos compromissários desde 1823. Ao final do trajeto estudado, 1857, se passou a um sistema de um grau uniforme para todos os poderes públicos gerais. Em todo o período referido o comum foi o afastamento – nisto similar ao ocorrido na representação política – dos modelos censitários de cidadania, com um predomínio dos paradigmas do modo honesto de viver e de renda anual. E conclui: “no México, houve cidadãos terrenos, não de ficção ou de papel”.
Já quanto ao livro de Ernest Sánchez, conta-nos uma outra parte da mesma história por meio de um imposto, o mais importante de todos no México das primeiras quatro décadas após a independência – as “alcabalas”. As alcabalas corresponderiam a um tributo inexistente no Brasil colonial: as sisas. O que efetivamente havia no Brasil eram impostos sobre importação e exportação, mas não propriamente sobre a circulação.
A independência do México implicou a quebra das ideias e das instituições políticas do Antigo Regime colonial da Nova Espanha após uma década de agudos conflitos militares, sociais e políticos. Esta ruptura com a monarquia espanhola gerou um espaço de incerteza no qual a irrupção do liberalismo, no marco da conformação do novo Estado-nação, concedeu à política uma preeminência inusitada, já que os novos valores e práticas a seguir seriam dirimidos naquela arena. Ernest Sánchez parte da premissa, a meu ver absolutamente correta, de que neste contexto os dilemas da política alcançaram medularmente a esfera das finanças públicas. De fato, a fiscalidade veio a constituir-se como um dos temas mais decisivos da construção do Estado nacional, ao constituir-se não apenas numa manifestação de sua capacidade de controle sobre o território e os habitantes do México, mas também na base financeira chamada a sutentar a nova maquinária política.
Certamente que uma exposição conduzida unicamente em termos de facções políticas enfrentadas, com seu corolário de projetos fiscais, que prescindisse totalmente do marco socio- econômico seria uma análise excessivamente voluntarista do processo histórico. Não é que a estrutura sócio- econômica marcasse irremediavelmente a fiscalidade, mas ao menos estabelecia possibilidades ao projetismo liberal em matéria fiscal.
O autor pergunta-se: por quê o advento do Estado-nação mexicano, radicalmente diferente da monarquia católica em sua natureza polítca, não implicou a instauração de um regime fiscal acorde com os princípios básicos do primeiro liberalismo, isto é, as “contribuições diretas” (as que gravam uma manifestação duradoura da capacidade de pagamento dos contribuintes, seja a partir das fontes dos rendimentos econômicos (contribuições de produto), seja a partir da renda que percebe as pessoas (contribuições pessoais)? Por quê, apesar da condenação quase unânime de políticos, publicistas e economistas políticos, as “contribuições indiretas” (gravames que recaem sobre manifestações transitórias da capacidade de pagamento, que se percebem por ocasião de atos contratuais – no caso das alcabalas, os atos de compra e venda ou troca de bens móveis e imóveis) sobre o comércio interno, herdadas do antigo regime colonial da Nova Espanha, constituíram-se num dos suportes fundamentais da fiscalidade da nova nação? Quando podemos detectar na ordem política, o abandono de tal primazia e que elementos tornaram-no possível? Estas são as questões que vertebram o livro. A solução proposta pelo autor articula-se em torno de três elementos básicos: 1. a práxis fiscal das diversas soberanias políticas, com uma atenção preferencial ao problema da arrecadação; 2. as diferentes posições da economia política ilustrada e liberal com relação às contribuições indiretas sobre o comércio interno; e 3. os projetos de reforma fiscal que, em alguns casos, pretenderam sua abolição, embora em outros significaram um claro reconhecimento.
Apesar de tratado de modo tangencial, dado o escopo do livro, avança-se na discussão sobre como implantar, por exemplo, um amplo sistema fiscal liberal de contribuições diretas, que pressupunha coisas tão básicas mas fundamentais como a existência de cidadãos e de propriedade privada, em um país onde os primeiros estavam se formando em termos políticos e culturais e onde a propriedade corporativa civil e eclesiástica era ubíqua e numerosa. Ou seja, em que medida o desenvolvimento dos intercâmbios mercantis internos e externos do México fazia rentável a manutenção das alcabalas herdadas do período colonial? Na década de 1850, por sua vez, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, pois implicava responder à questão de como combinar o desenvolvimento das ferrovias e a manutenção das alfândegas internas e as alcabalas.
É exatamente por conta destes argumentos que as alcabalas foram tomadas como observatório privilegiado da mudança política e da modernização fiscal do México no século XIX: era a rubrica líquida mais importante em termos quantitativos para os erários estatais e departamentais. Apesar de a data inicial do estudo situar-se em 1821, Ernest Sánchez estuda as alcabalas desde o final do período colonial.
O lugar das alcabalas e dos impostos em geral e, sobretudo, o “contingente” não deixam dúvida sobre a relação de coletivos entre os poderes locais e os poderes confederais: os estados reservaram para si o controle completo sobre os recursos públicos, decidiam que tipo de contribuições aplicar e como gastá-las, negaram-se sistematicamente a terminar com as alcabalas e os impostos de capitação ou então o que foi mais decisivo, se opuseram a criar uma verdadeira Fazenda liberal e federal. “Contingente” era o nome dado a um montante de recursos que cada unidade da federação mexicana aportava anualmente aos cofres da Fazenda nacional. Era a materialização, no plano fiscal, do federalismo mexicano: como o governo nacional e cada estado tinham seus próprios orçamentos, este mecanismo foi desenhado no sentido de harmonizar o pacto federal com os poderes regionais. Ernest Sánchez questiona a ideia de que o debate sobre o tema do “contingente” em relação à definição das formas de governo não pode ponderar-se a partir da eficiência arrecadatória, mesmo no caso de que fosse de 100%: o fundamental seria o tipo de vinculação qualitativa que entabulavam as partes. O contingente mede sim a eficiência e os vínculos em uma república confederal. O autor retorna a esta questão mais adiante, no âmbito da constituinte de 1842, em que assinala que este modelo não conseguiu saldar a ausência de uma burocracia federal própria e o domínio quase absoluto dos recursos, diretos e indiretos, gerados pelos departamentos.
Retornemos à questão inicial: em quê estudos sobre o México pós-independência poderiam interessar aos historiadores brasileiros? Creio que a rápida apresentação de ambas as obras permite mostrar que a comparação do quadro brasileiro com o mexicano reserva ainda muitos resultados interessantes. Ter comungado um passado colonial seria um argumento. Mas fiquemos com outro: centralização e descentralização, unitarismo e federalismo (e mais ainda, confederalismo), pacto federativo, para ficar apenas nas palavras e expressões mais visíveis, remetem a questões que sem dúvida interessam a todos quantos estudam a política oitocentista brasileira. Inevitável, por exemplo, deixar de mencionar as implicações desta discussão em trabalhos recentes da historiografia brasileira, inaugurados pela professora Mirian Dolhnikoff (DOLHNIKOFF, Mirian. Construindo o Brasil: unidade nacional e pacto federativo nos projetos das elites (1820-1842). Doutorado em História. São Paulo: FFLCH/USP, 2000). Ambos os textos têm certamente muito a contribuir.
Angelo Alves Carrara – Professor no Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-Juiz de Fora/Brasil). E-mail: [email protected]
SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest. Las alcabalas mexicanas (1821-1857). Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional. México: Instituto de Investigaciones Dr. Jose María Luis Mora, 2009. ARROYO GARCÍA, Israel. La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Autónoma de Puebla, 2011. Resenha de: CARRARA, Angelo Alves. Da colônia à nação: impostos e política no México, 1821-1857. Almanack, Guarulhos, n.4, p. 164-167, jul./dez., 2012.
O Estado em Portugal (séculos XII-XVI). Modernidades medievais | Judite A. Gonçalves de Freitas
Esta obra de Judite de Freitas constitui no atual universo historiográfico, cheio de histórias monográficas, um estudo de síntese. Somente por este aspecto, já mereceria atenção. Mas, soma-se a essa ‘dissonância’ a proposta de escrever sobre o Estado (com maiúscula, segundo sua opção) na Idade Média, em Portugal, numa perspectiva que cruza o histórico com o historiográfico. Para aqueles que acompanham a “biografia póstuma” do estado medieval, principalmente a partir dos anos sessenta do século passado, perturbada e transformada por uma plêiade de fenômenos interpretativos, desde as inspirações foucauldianas, passando pela virada linguística, pelas desconstruções da pós-modernidade, pelos olhares da nova história política conjugada à cultura (cultura política) e que reforça – outra vez! – os laços com a sociologia (redes sociais), o livro de Judite de Freitas é um desafio.
“O Estado em Portugal (séculos XII-XVI)” insere-se numa bibliografia publicada anteriormente pela autora, que versa sobre temas ligados à história do estado, das instituições centrais, das sociedades políticas e do poder régio. Destacam-se, por entre artigos e livros, “A Burocracia do “Eloquente” (1433-1438): os textos, as normas, as gentes”, de 1996, “Teemos por bem e mandamos. A Burocracia Régia e os seus oficiais em meados de Quatrocentos (1439-1460)”, de 2001, e “D. Branca de Vilhena: patrimônio e redes sociais de uma nobre senhora no século XV”, de 2008. Portanto, trata-se do resultado de um percurso intelectual dedicado a pensar os meandros do estado medieval e as formas pelas quais as instituições centrais se apresentam, se representam e agem. Leia Mais
Un desierto para la nación: la escritura del vacío | Fermín Adrian Rodríguez
Foi apenas quando avançava na estrada em direção à província argentina de Chubut, após deixar La Pampa, que obtive uma leve sensação do que queria dizer el desierto: o monstro devorador, o antípoda da civilização, o lar dos selvagens. A ideia da ausência, do vazio, seja na literatura, nos relatos parlamentares, nos projetos políticos do século XIX sempre foi uma presença forte nas representações sobre as regiões que não foram tornadas cidade, latifúndio ou rotas de comércio. Imensos espaços em branco no mapa, a natureza indomesticada, a physis.
No entanto, e desconcertantemente, o deserto “era” alguma coisa. Mas o que “era” esse deserto foi pergunta calada durante muito tempo para o saber institucionalizado. Em termos materiais, hoje, o deserto é transformado em sojeiro. No campo simbólico, do qual trataremos mais de perto, desde finais dos anos 1990, verificamos tentativas, incipientes, porém extremamente atraentes, do universo acadêmico e do campo literário, de dar voz ao silêncio, de dar corpo ao vazio e humanidade à vida no “deserto”. A história completa sua volta, e o deserto torna-se, novamente, espaço de conquista. Leia Mais
Estado e políticas educacionais na educação brasileira – SAVIANI (RBHE)
SAVIANI, Dermeval. Estado e políticas educacionais na educação brasileira. Vitória: EDUFES, 2011. Resenha de: CASTANHO, Sérgio. Revista Brasileira de História da Educação, v. 11, n. 3 (27), p. 153-182, set./dez. 2011
Uma fecunda parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, por sua editora, e a Sociedade Brasileira de História da Educação, para comemorar os dez anos de existência desta última, completados em 28 de setembro de 2009, resultou numa iniciativa editorial das mais importantes: uma dezena de volumes sobre dezeixos temáticos em torno da história da educação. O volume de número 6 é este de que aqui nos ocupamos. Organizado pelo renomado educador Dermeval Saviani, cuja contribuição à história da educação brasileira tem sido das mais relevantes, este livro acrescenta muito à reflexão histórica sobre o papel do Estado nas políticas educacionais no Brasil. Sem mais delongas, passemos ao conteúdo do volume.
Abrindo a coletânea, deparamo-nos com o capítulo de seu organizador, Dermeval Saviani, intitulado “O Estado e a promiscuidade entre o público e o privado na história da educação brasileira”. O autor revela essa “promiscuidade” (termo que ele próprio questiona, mas defendendo sua utilização) entre as esferas pública e privada na educação brasileira. Isso é feito rastreando a simbiose público-privada desde o período da “Educação pública religiosa (1549-1759)” até o atual, objeto da indagação “Educação pública: dever de todos, direito do Estado? (1961-2007)”, passando pelos momentos da “Educação pública estatal confessional” (1759-1827)”, da “Instrução pública e ensino livre (1827-1890)”, da “Instrução pública para os filhos das oligarquias (1890-1931)” e da “Educação pública e industrialismo: o protagonismo das três trindades (1931-1961). Ao chegar à atualidade, Saviani mostra o paroxismo dessa promiscuidade “assumindo novas e variadas formas que estão em curso”. O autor é incisivo na sua crítica: “Tudo se passa como se a educação tivesse deixado de ser assunto de responsabilidade pública a cargo do Estado, transformando-se em questão da alçada da filantropia”. Na conclusão, o caminho aventado por Saviani é o de radicalizar o caráter da educação como coisa pública (res publica): “Republicanizando a educação, estaremos radicalizando uma das promessas da burguesia liberal e, com isso, explorando seu caráter contraditório tendo em vista a superação dessa forma social”.
O segundo artigo, “Estado e cristandade nos primórdios da colonização do Brasil: implicações para a política educacional”, é assinado por José Maria de Paiva, autor clássico no estudo desse período de nossa história da educação. O capítulo traz a marca registrada de Paiva, que imprime a seus trabalhos invulgar profundidade de reflexão e análise, a par de um extremo cuidado no trato com as fontes. A gênese do Estado, na passagem do medievo para a modernidade, é estudada a partir de textos de Tomás de Aquino e John Locke. Referência central no pensamento histórico do autor é a necessidade de partir da cultura social para o entendimento do Estado. É por esse caminho que Paiva chega ao Estado português no período da colonização americana, ininteligível fora do âmbito da cristandade – que é o “modo de ser social” conformador da esfera pública. Como era a relação entre o Estado e a educação? Talvez uma passagem do texto em foco possa contribuir para responder a indagação: “Pela tradição, a escola refletia o religioso, como toda a vida social, mas tinha como objeto o cultivo do que então se entendia por ciência. Pelo papel que lhe cabia – de assegurar a manutenção da cultura – era ofício real; em termos atuais, ofício do Estado”. Realeza, Igreja, Educação – tudo fazia parte de um mesmo bloco, eu quase diria um “bloco histórico”, marcado ademais pela prática mercantil, que na modernidade passou a reclamar o tipo de conhecimento que a escola podia fornecer, basicamente a leitura e a escrita. Do geral o autor passa para o específico, o colégio jesuítico no Brasil. Os jesuítas, no entender de Paiva, foram a única ordem religiosa a estabelecer colégios no Brasil, o que se deve a que a eles, e a mais ninguém, o rei delegou a tarefa de evangelizar os índios e preparar os futuros evangelizadores. Trabalhando com a categoria histórica de “experiência”, o autor mostra que os colégios foram organizados tendo por base a experiência das universidades que os antecederam cronologicamente. Conjugados, os conceitos de cultura social e de experiência dão conta, no trabalho de Paiva, de explicar a política educacional na América colonial portuguesa a cargo dos agentes inacianos.
Ainda trabalhando com esse tema, com fundamentos e propósitos que ora se aproximam ora se afastam do precedente, o artigo terceiro tem o timbre de Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiro, intelectual atuante na docência e pesquisa da UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O título do capítulo é “O Estado e a política educativa dos jesuítas na história da educação brasileira”. Iniciando por evidenciar as raízes da ordem jesuítica no cenário mundial marcado pelo concílio tridentino, Ana Palmira detém-se no estabelecimento e expansão da Companhia em Portugal e seu posicionamento no contexto da Igreja e da Realeza nessa parte da Ibéria. Só então estuda os jesuítas no Brasil, suas províncias, suas casas de profissão, seus colégios e seus seminários. Taxativa, para ela a “história da companhia de Jesus confunde-se com a própria história da educação brasileira colonial”. Alargando a mirada, Ana Palmira afirma que “os jesuítas palmilharam todos os espaços d território colonial: o campo econômico, pacificando e adestrando a mão de obra indígena e negra; a seara política, exercendo forte influência na Coroa Portuguesa e participando das mais importantes decisões de caráter político e religiosa da época; as diversas instâncias da vida cultural, veiculando ideologias literárias, imagéticas e religiosas; e, finalmente, o terreno prático, mediante o exercício do apostolado missionário da educação formal, ministrada nos colégios, e do sermonário religioso, pregado no púlpito das igrejas”. Não resisto à tentação, para usar uma expressão que cabe à talha ao tema em foco, de uma citação final, em que Ana Palmira sintetiza o sentido da educação jesuítica no Brasil: “Nesse sentido, especialmente o ensino religioso, compreendido no seu sentido lato (a catequese, as normas religiosas impostas e obrigatórias, a doutrinação, os castigos, as representações imagéticas, os rituais, os cultos e, principalmente, a pregação), foi a forma mais eficiente de educação daquele tempo, pois doutrinava, simultaneamente, os senhores e os escravos, os possuidores e os despossuídos, os poderosos e os subjugados. Os jesuítas educaram para o êxito da empresa colonial, para a manutenção do status quo de um pequeno grupo e para a instauração de formas de mentalidades peculiares, que ultrapassaram as barreiras daquele período e que perduram, até hoje, como traços característicos da sociedade brasileira”.
O quarto artigo é da uspiana e pesquisadora do CNPq Carlota dos Reis Boto, tendo por título “Pombalismo e escola de estado na história da educação brasileira”. Para a autora, é preciso deixar de lado a ideia de que o ensino público no Brasil foi obra dos republicanos, pois remonta à ação do Marquês de Pombal, bem antes da eclosão da República no país. Boto não se restringe a mapear os feitos pombalinos. Ad astra per aspera: ela procura o caminho mais penoso, pesquisando o iluminismo português, de que Pombal foi adepto e coautor. Vendo uma das características desse iluminismo, a secularização, como “um modo de ser mundo”, ela esclarece por que a educação pombalina, no contexto iluminista, não poderia deixar de ser secularizada, ainda que não laicizada. Em seguida, ela destrincha a vida e obra de três pilares do iluminismo português que estiveram intimamente vinculados à política educacional desencadeada por Pombal: D. Luís da Cunha, Ribeiro Sanches e suas Cartas sobre a educação da mocidade e Verney com seu Verdadeiro método de estudar. Passando das bases teóricas às diretrizes práticas, Boto mostra o que foi e como foi a escola pública traçada por Pombal. Nas conclusões, revisita o legado pombalino, considerando-o como “um modo de ser escola do Estado-Nação”. E considera, fechando o artigo, que a escola pública é “o lugar mais progressista em matéria de educação”.
O capítulo seguinte é de Maria Cristina Gomes Machado e versa sobre “Estado e políticas educacionais no Império brasileiro”. A autora é especialista em educação no Império e já nos havia brindado com seu indispensável Rui Barbosa: pensamento e ação. O problema que Machado coloca e procura resolver no artigo é o de como a educação atuou no período imperial para constituir o Estado-nação no Brasil. Para isso vasculha a política educacional imperial, desde as primeiras iniciativas sob D. Pedro I até o desfecho republicano. Grande destaque é dado às reformas Couto Ferraz (1854) e Leôncio de Carvalho (1879), esta última com mais amplidão por ter ensejado os pareceres de Rui Barbosa. No ocaso do Império – mostra Machado – dá-se a emergência das questões da liberdade de ensino e do caráter religioso ou laico do ensino conduzido pelo Estado.
Segue-se o capítulo de Luís Antônio Cunha sobre essa última questão: “Confessionalismo versus laicidade no ensino público”. Cunha – ou LAC como ele se autorrefere utilizando suas iniciais – principia com uma bem centrada conceituação de “laico” em confronto com “leigo”. Depois disso volta-se para os primórdios da educação na América portuguesa: a educação religiosa no Estado confessional. Nas três décadas finais do século XIX LAC vislumbra o surgimento da laicidade como superação da incomodatícia “simbiose Igreja-Estado”. Essa laicidade (“de elite”, acentua LAC) acaba por marcar a institucionalização do Estado republicano. A despeito da laicidade, o ensino religioso acaba por retornar à política educacional, como forma de “controle político-ideológico”. Entre outras pontuações históricas interessantes, LAC mostra que o manifesto dos “pioneiros” de 32 não teve consequências práticas no tocante à laicidade do ensino público, pois a Igreja Católica saiu-se amplamente vitoriosa na Constituição de 1934. Passando em revista a questão após a era Vargas, atravessando o debate ocasionado pelas vicissitudes da nossa primeira LDB (1961) e a problemática da “religião, moral e civismo na ditadura militar”, Cunha chega aos dias atuais percebendo algo de novo, a “emergência do movimento laico”, que se distingue do laicismo republicano.
Chegamos assim ao sétimo artigo, a cargo da dupla Geraldo Inácio Filho e Maria Aparecida da Silva. Seu título: “Reformas educacionais durante a Primeira República no Brasil (1889-1930)”. A primeira constatação dos autores é que as reformas imperiais deixaram intocado o panorama educacional que vinha do período pombalino: “Dessa forma, a nascente República herdou as escolas isoladas e o descaso com a instrução pública”. A partir desse ponto de partida, não é difícil à dupla mostrar os avanços na política educacional da Primeira República, que implanta os grupos escolares, garante a laicidade do ensino público, promove reformas estaduais significativas e dá ênfase ao ensino primário, vale dizer, ao que na ocasião se poderia entender por “educação popular”. Tópicos especiais do artigo são dedicados à educação de adultos, ao ensino secundário e à educação superior. Nas conclusões, não deixa de causar impacto a constatação dos autores de que as políticas educacionais da Primeira República “não eram formuladas como um projeto de Estado, mas como iniciativas de governo, sem continuidade, após as eleições substitutivas dos governantes”.
O oitavo capítulo, de autoria de Marcus Vinicius da Cunha, tem por título “Estado e escola nova na história da educação brasileira”. O artigo é inovador por não se contentar com as análises correntes da escola nova, que por vezes datam-na do manifesto de 1932, mas aprofunda-se na questão, buscando as origens e bases teóricas do escolanovismo. No Brasil Cunha localiza, na esteira de Antunha, em Oscar Thompson o primeiro ato da cena escolanovista, apesar de seu caráter elitista, que não chega a impressionar o professorado. O interessante é que o autor vê no escolanovismo uma expressão educacional do ideário liberal. E é com esse fundamento que analisa as contribuições de Sampaio Dória, de Lourenço Filho, de Anísio Teixeira, de Francisco Campos e de Fernando Azevedo. Maior destaque vai para Anísio Teixeira, apesar da ressalva de que seus argumentos e conceitos eram “extraídos diretamente da filosofia de Dewey, filha do mesmo ambiente que deu à luz Jefferson”. O último parágrafo é imprescindível: “As iniciativas e as ideias de Anísio Teixeira redefiniram as relações da Escola Nova com o Estado: a realização do Estado Educador exigia, antes de tudo, manter contato íntimo com a sociedade (…). Restava saber se, até que ponto ou até quando o Estado seria sensível essa proposta. A resposta veio em 1964”.
“A política educacional do Estado Novo” é o trabalho com que José Silvério Baia Horta comparece a esta coletânea. Trabalho de historiador, o artigo de Baia Horta garimpa os discursos oficiais do varguismo. E encontra, na política educacional que tais documentos revelam, uma constante: “colocar o sistema educacional a serviço da implantação da política autoritária”. É com essa ótica que o autor repassa a política educacional do Estado Novo (1937- 1945), examinando a reforma do Ministério da Educação e Saúde empreendida pela dupla Getúlio Vargas-Gustavo Capanema e em seguida a legislação de ensino do período, detendo-se nos seus níveis primário, médio e superior. Deixando de lado a identificação fácil e nem sempre convincente entre o varguismo e o fascismo mussolinista, Baia Horta conclui: “(…) a não concretização das diferentes propostas oficiais mostra que o regime nunca chegou a impor à escola um papel político idêntico àquele instituído na Itália fascista. Assim, a escola no Brasil pôde conservar, durante todo o período, uma relativa autonomia”.
José Luís Sanfelice, que já havia percorrido algumas salas e muitos porões da ditadura militar com seu trabalho sobre o movimento estudantil no período, volta ao tema de sua predileção com o décimo capítulo deste volume, intitulado “O Estado e a política educacional do regime militar”. Revolução? Golpe? Sanfelice não se furta a responder a tais perguntas, mas inova mesmo ao caracterizar o Estado pós-64 como “Estado de Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Qual foi a política educacional a cargo desse Estado? De imediato, responde Sanfelice, falou mais alto a Segurança Nacional. Nesse sentido, a política do início da ditadura foi de repressão, tanto ao movimento estudantil quanto às universidades e aos profissionais que atuavam no seu âmbito. Paulatinamente, porém, passou a falar alto a outra face, a do Desenvolvimento, e foi assim que medidas de financiamento do ensino primário via salário educação foram implantadas, juntamente com outras como a da Reforma Universitária (1968), a do MOBRAL (1967) e a da reforma do ensino de 1º e 2º graus (1971, Lei 5.692). Sanfelice, em parágrafo abrangente, sintetiza: “A política educacional dos governos militares pode então ser definida como a política da modernização conservadora e que expressou: o autoritarismo dos mandatários (os docentes, as resistências das universidades, o movimento estudantil foram calados); a subordinação a um modelo econômico excludente e, portanto, elitista, de privilegiamento do grande capital; o tecnicismo burocrático (as medidas em geral não contaram com a participação dos educadores); a mentalidade empresarial no campo da educação, assaltada por princípios de eficiência, produtividade, racionalidade e economia de recursos”.
O volume se encerra com um instigante artigo de Carlos Roberto Jamil Cury sobre “Reformas educacionais no Brasil”. Antes de entrar no mérito, Cury investiga o significado de “reforma” em geral e de “reforma educacional” em particular. Ao conceituar a reforma da educação, o autor considera-a como uma decisão de autoridade para mudar, com base em lei, a política educacional, tornando “a situação considerada mais congruente com a realidade”. Como é preciso, segundo essa conceituação, uma base legal, Cury passa em revista as principais leis sobre matéria educacional no país, dadas sob as diferentes Constituições que aqui tivemos. Como a primeira Constituição foi a imperial de 1824, o estudo abarca as leis a partir desse marco. São revistas as reformas no Império, na Primeira República, na Era Vargas, no Regime Militar e enfim no atual Estado Democrático de Direito. Encerrando o artigo, Cury aposta: novas reformas virão. E deixa no ar uma pergunta: “Será que elas serão de molde a serem inovadoras de modo a conduzir a uma verdadeira mudança social?”.
Em conclusão, trata-se de uma visão panorâmica, porém profunda, sobre o Estado e as políticas de educação na história educacional brasileira. Cobrindo todos os períodos em que essa relação entre Estado e educação se dá no Brasil, o livro traz inestimável contribuição para todos aqueles que se dedicam a seu estudo, apresentando, ademais, preciosa colaboração ao contemporâneo debate sobre os rumos da educação brasileira.
Sérgio Castanho
O tutu da Bahia. Transição conservadora e formação da nação, 1838-1850 | Dilton Oliveira de Araújo
Nos últimos anos, os estudos sobre a conformação política do Estado e da Nação brasileiros no Oitocentos têm fornecido valiosas contribuições para a compreensão das experiências vivenciadas por homens e mulheres em um período fortemente marcado por amplas transformações políticas. Ao se debruçarem sobre temas relacionados à dinâmica da vida política no Brasil do século XIX, sobretudo no que diz respeito à diversidade de buscas de alternativas em meio a um conturbado processo de construção do Estado nacional nas primeiras décadas desse século, as pesquisas apontam para uma sociedade rica em manifestações políticas de variado tipo, cujo elemento central indica um acentuado aprendizado coletivo e individual resultante dos muitos confrontos políticos que, não raras vezes, saíram dos gabinetes e dos espaços institucionais para ocuparem as ruas e as praças públicas do Brasil Imperial. Felizmente, aos poucos começa a adquirir solidez o entendimento de que a constituição do Estado nacional, formalizado enquanto corpo político em 1822, não foi um projeto conquistado sem grandes atritos nas diversas províncias que compunham o vasto território da antiga América portuguesa. É, nesse sentido, que se insere o livro de Dilton Oliveira de Araújo, O tutu da Bahia: transição conservadora e formação da nação, 1838-1850, fruto da sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal da Bahia, onde atua como professor.
O que chama a atenção, de imediato, no livro de Dilton Araújo é o título – O tutu da Bahia – adotado para exemplificar o clima tenso e de suspeição que se instalou na província nos anos seguintes à derrota da Sabinada. Conforme esclarece, tutu significava medo, pavor, algo que provocava nos indivíduos o receio de que alguma coisa temível estava para acontecer. “A insurreição era uma tutu para meter medo aos legalistas”, dizia o Correio Mercantil de 19 de junho de 1838, poucos meses depois de as tropas do governo reconquistarem a cidade de Salvador do controle dos sabinos. E aqui reside, certamente, a originalidade do seu trabalho. A violenta repressão que se abateu sobre os rebeldes que promoveram a sabinada foi suficiente para varrer da província baiana novas tentativas de contestação? O que aconteceu com as personagens centrais – e outras menos conhecidas – das lutas rebeldes ocorridas nas décadas de 1820 e 1830? Quais as dificuldades, antigas e novas, encontradas pelas autoridades locais para selar o pacto político necessário à conformação da unidade nacional? Essas são algumas das questões que o autor busca responder ao se debruçar sobre a conjuntura política que marcou a Bahia nos anos de 1838-1850. Para isso, recorre, principalmente, aos periódicos que circularam no período, responsáveis, em grande medida, por dar vazão ao clima de insegurança presente naqueles anos. Mas, em que medida, essa instabilidade política tinha correspondência na realidade?
A hipótese levantada pelo pesquisador é que a tão propalada pacificação da Bahia após os anos 1840 foi um objetivo duramente perseguido pelas autoridades políticas – tanto da província quanto em âmbito nacional – associadas às elites econômicas locais. No entanto, a pulsação da sociedade baiana, evidenciada pela documentação, delineava um quadro oposto ao desejado: “A pacificação, mais do que uma realidade consumada, era um devir histórico, que foi, a posteriori, incorporado ao discurso dos historiadores e, anacronicamente, imputado a uma época à qual não pertencera” (2009, p.22). A conquista da estabilidade política após um período de grande turbulência foi, portanto, fortemente almejada por grupos políticos e econômicos e variados foram os caminhos utilizados para a sua efetivação.
Uma das primeiras constatações importantes feitas por Dilton Araújo é que a historiografia sobre o período pós-Sabinada deixou um imenso vazio sobre o tema. A rigor, os estudos que têm a questão política como foco de análise se dirigiram quase que exclusivamente para as rebeliões ocorridas em 1798 e 1838. Quando muito, as abordagens sobre a dinâmica política na província baiana restringiram-se aos espaços institucionais sem fazer alusão ao que ocorria fora desses ambientes. Afora isso, a ênfase é dada nas questões econômicas ou culturais. Desse modo, o que sobressai nas obras analisadas pelo autor – inclusive em estudos clássicos sobre a história da Bahia a exemplo daqueles produzidos por Braz do Amaral e Luiz Henrique Dias Tavares e que serviram como referências importantes em trabalhos posteriores –, é a incorporação reiterada da ideia de pacificação da província e, em decorrência, a omissão, com raras exceções, de posicionamentos distintos aos projetos políticos capitaneados pelos governos local e central.
Na esteira das pesquisas recentes que buscam recuperar a historicidade de categorias como nação, federalismo, centralização, o historiador parte da concepção de que o processo de unificação da nação brasileira se deu em meio às distintas identidades políticas coletivas que anteriormente compunham o território da América portuguesa. Os empecilhos para se concretizar a unidade nacional foram uma constante após a ruptura política com Portugal em 1822 e o estabelecimento da autoridade monárquica sob o comando dos herdeiros da casa de Bragança. A Bahia, ao lado de outras províncias como Pernambuco e Pará, foi palco privilegiado de diversas manifestações de descontentamento com a linha política centralizadora assumida pelas autoridades situadas no Rio de Janeiro. De fato, as décadas de 1820 e 1830 expressam da maneira mais veemente que a constituição da nação não seria conquistada pelo recém-Estado independente senão à custa de virulenta repressão às atitudes e práticas oposicionistas. No entanto, a complexidade dessa dinâmica política somente pode ser apreendida em suas conexões mais amplas quando associadas às fortes mudanças do período decorrentes da expansão das ideias liberais e nacionalistas no mundo Ocidental, às condições políticas vivenciadas pelo Brasil nesse contexto e, sobretudo, às especificidades de uma província que detinha um papel importante – tanto econômico quanto político – na construção do Estado imperial.
Importante notar que a despeito das linhas centrais de contestação dos movimentos ocorridos nos anos 1830, com exceção da rebelião escrava dos malês, serem definidas pela crítica ao processo de centralização política, as motivações dos participantes não se restringiam a isso. Militares, homens pobres livres e de cor buscavam, cada qual a seu modo, inserir-se na cena política de maneira a solucionar os seus problemas imediatos, seja àqueles relacionados aos baixos e atrasados soldos, seja as condições precárias de sobrevivência marcada por uma estrutura econômica fortemente desigual e restritiva. A combinação da insatisfação política e social aparecia assim como um elemento impulsionador tanto no que se refere à adesão dos segmentos menos favorecidos, quanto na radicalidade a que estavam dispostos a assumir. Para estes, as novas condições políticas abririam amplas possibilidades de inserção, contrariamente ao intento das elites dirigentes. No projeto de Estado e de Nação a ser efetivado, nem todas as aspirações poderiam ser contempladas ou, dito de outro modo, era preciso ceifar as propostas desagregadoras de modo a afirmar a unidade política e territorial do Império do Brasil sem maiores sobressaltos. Dilton Araújo mostra que, no caso da Sabinada – uma experiência que afrontou fortemente os poderes local e central tendo em vista que os rebeldes ocuparam a cidade de Salvador por alguns meses (7 de novembro de 1837 a 16 de março de 1838) –, a repressão não se restringiu ao período subsequente à derrota do movimento. Pelo contrário, os anos que se seguiram foram testemunhas de um processo intermitente de erradicação de possíveis lideranças e das práticas rebeldes, no qual, autoridades políticas e camadas economicamente dominantes firmaram alianças para assegurar a tranquilidade pública e desobstruir o caminho rumo à desejada unidade nacional.
Em que medida a derrota dos sabinos significava a impossibilidade de ocorrência de novos movimentos rebeldes? Esta parece ter sido uma questão frequentemente formulada pelas autoridades. O estudo de Araújo se apoia fortemente na visão dos periódicos para demonstrar que, na opinião da imprensa conservadora e legalista, o tutu não poderia ser menosprezado, razão pela qual, o castigo infligido aos rebeldes deveria ser exemplar sob o risco de que novas rebeliões pudessem ocorrer caso o governo se mantivesse leniente. Esta é a posição do Correio Mercantil que, de maneira permanente, insistiu na necessidade de o Estado não descuidar da vigilância e acentuar os modos de enquadramento dos desviantes. Não obstante a intensidade da repressão contra os envolvidos, evidenciada em número de mortos, presos e deportados pela justiça, os editores desse periódico não se davam por satisfeitos assim como alguns dos seus correspondentes, a exemplo do Lavrador do Recôncavo, que conclamava os defensores do trono e do Império a se unirem contra os opositores da ordem, além de defender a centralização do poder nas mãos do Imperador. A fala do Lavrador expressa a insatisfação com os rumos políticos trilhados pelo Brasil sobretudo no que se referia à legislação imperial, com os seus variados códigos legais, assim como a atuação do parlamento, incapaz de apresentar soluções compatíveis com as exigências demandadas pela sociedade. A Bahia, mais uma vez, enfrentava uma forte crise política, momento propício para a emersão de posições conservadoras que encontravam guarida na imprensa e, certamente, possuíam muitos adeptos entre determinadas camadas sociais da província. O período de reação, como aquele vivenciado logo após a derrota dos sabinos, motivava a exposição dessas posturas, cujas denúncias potencializavam a falta de segurança das propriedades e das liberdades caso as instituições não agissem com rapidez e eficiência, como afirmavam os signatários das representações à assembleia geral em 1839, publicadas pelo Correio Mercantil. Para além de uma preocupação meramente local, essa movimentação das classes proprietárias revela um interesse com as novas formas de organização política do Estado que, em seus contornos mais amplos, apontavam para as articulações entre o centro e os poderes regionais, necessárias para debelar as inquietudes locais, sem perder de vista, no entanto, as aspirações políticas e econômicas da elite baiana.
Essa interlocução entre o governo local, as elites econômicas da província e o poder central – questão a exigir maior aprofundamento – denota que a almejada eficácia das formas de ordenamento político era um projeto difícil de ser consolidado. O autor busca extrair das fontes documentais que a apregoada paz política no pós-Sabinada não condizia com o quadro de intranquilidade delineado a partir dos próprios discursos das autoridades e reforçado pela imprensa local. A frequência com que as notícias sobre possíveis inquietações aparecem nesses registros na década de 1840 informa sobre um período no qual o desejo de pacificação da província estava longe de ser concretizado. Os distúrbios poderiam ser promovidos por escravos, homens livres pobres, índios, militares ou até mesmo ex-integrantes da sabinada à espera do momento mais apropriado para voltarem à ativa. O fato de não ter ocorrido um evento de maior envergadura no período não retira a gravidade das tensões sociais e políticas que colocaram o governo em estado permanente de alerta. Prova disso, foram as medidas para intensificar a segurança na província, além do cerco em torno dos suspeitos de envolvimento em ações ameaçadoras da ordem e o combate à imprensa oposicionista, sobretudo, o Guaycuru, cuja contundência da crítica formulada aos governos local e central levou seus editores a enfrentarem alguns processos judiciais. Dilton Araújo mostra como foram variadas as tentativas para legitimar a nação brasileira, seja por meio das comemorações cívicas das datas consagradoras do futuro promissor da Bahia e do Brasil, ao tempo em que outras deveriam ser menosprezadas, seja pela desaparição, alijamento ou cooptação de antigas lideranças dos movimentos rebeldes. Sobressai da leitura de O tutu da Bahia, a constatação de que as profundas alterações ocorridas com a independência e a organização do Estado imperial não foram suficientes para resolver problemas antigos, que em meados do século XIX apareceriam renovados em meio a um processo de experiência e aprendizado também compartilhado pelas elites.
Com base em uma pesquisa rigorosa na documentação, com destaque para os dois importantes periódicos da época – o Correio Mercantil e o Guaycuru –, a dinâmica política da Bahia nos anos 1840 retratada por Dilton Araújo não somente preenche uma lacuna nos estudos sobre a complexa formação do Estado e da nação brasileiros, quando vista sob outras perspectivas, como também aponta possibilidades para novos estudos sobre uma sociedade oitocentista em busca da construção de uma unidade nacional obstaculizada pelas muitas contradições geradoras de conflitos outros, nas quais a província da Bahia, com a sua tradição de lutas e rebeldias, adquire particular relevância.
Maria Aparecida Silva de Sousa – Professora adjunta no Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Vitória da Conquista/Brasil). E-mail: [email protected]
ARAÚJO, Dilton Oliveira de. O tutu da Bahia. Transição conservadora e formação da nação, 1838-1850. Salvador: Edufba, 2009. Resenha de: SOUSA, Maria Aparecida Silva de. Tempos de paz, tempos de tensão política. A Bahia no pós-Sabinada. Almanack, Guarulhos, n.2, p.147-150, jul./dez., 2011.
Igreja e educação feminina (1859-1919): uma face do conservadorismo – MANOEL (REF)
MANOEL, Ivan Aparecido. Igreja e educação feminina (1859-1919): uma face do conservadorismo. Maringá: UEM, 2008. 102 p. Resenha de: FONSECA, André Dioney. Religião, Estado e educação feminina. Revista Estudos Feministas v.18 n.3 Florianópolis Sept./Dec. 2010.
O chamado catolicismo ultramontano tem sido nas últimas décadas objeto de inúmeros estudos na área de história. É compreensível o interesse dos pesquisadores nesse projeto católico ao se considerarem os reflexos dessa autocompreensão em diferentes esferas da sociedade, em seu longo período de vigência (1800-1960). Em poucas palavras poderíamos afirmar que o ultramontanismo foi uma resposta da Igreja às ameaças que vinham se avolumando desde a ruptura das relações feudais e da ética católica, com a introdução do assalariamento, da ética mercantilista, da constituição dos Estados nacionais e da preponderância do poder civil sobre o religioso e, em especial, das transformações abruptas na esfera intelectual que abririam caminho, a partir do humanismo, à Reforma Protestante, ao Iluminismo, ao Liberalismo, ao materialismo dialético e ao socialismo.
Em face de todas essas perdas, no século XIX, a Igreja resolveu agir de maneira radical, provocando uma verdadeira agitação sociopolítica ao anunciar sua reação ao mundo moderno, condenando o capitalismo e suas teorias, bem como a esquerda em todas as suas vertentes. Em suma, o projeto político ultramontano estruturou-se em torno da rejeição à ciência, à filosofia e às artes modernas, condenando o capitalismo, a ordem burguesa, os princípios liberais e democráticos e todos os movimentos esquerdistas, como o socialismo e o comunismo. Leia Mais
A gramática do tempo: para uma nova cultura política – SANTOS (RF)
SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma nova teoria política crítica: reinventar o estado, a democracia e os direitos humanos. In: ______. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. Resenha de: TENÓRIO, Camila Muritiba. Da inevitabilidade da crise da modernidade à criação de um novo contrato social. Revista FACED, Salvador, n.18, p.103-110, jul./dez. 2010.
Boaventura de Sousa Santos é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale e professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na qual exerce também a função de diretor do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Documentação 25 de Abril. O autor nasceu em Coimbra, em 1940, e possui hoje uma extensa bibliografia, composta de ensaios, artigos, livros e até mesmo poemas, que constituem embasamento para profissionais de diversas áreas. São algumas de suas obras mais importantes os livros Introdução a uma ciência pós-moderna, publicado em 1989; Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, datado de 1994; e A gramática do tempo: para uma nova cultura política, de 2006, o qual constitui objeto deste estudo.
Neste volume da coleção Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a politica na transição para digmática, Santos discorre sobre o Estado moderno ocidental e a crise que sofre este contrato social que, ao mesmo tempo em que busca gerir as desigualdades e exclusões, é responsável por sua expansão. A obra A gramática do tempo: para uma nova cultura política observa o colapso da modernidade para o qual a única solução seria uma transformação social capaz de inventar uma nova democracia e, consequentemente, um novo modelo de Estado.
Na terceira parte da supracitada obra, o autor se ocupa de uma das contradições que caracterizam a sociedade moderna, isto é, a antinomia existente entre os princípios de emancipação – que correspondem à igualdade e à inclusão social – e os princípios de regulação – que se referem à desigualdade e à exclusão.
O sociólogo aborda as particularidades que envolvem os termos desigualdade e exclusão, cujo significado aparece de forma distinta conforme o momento histórico e a sociedade em que se desenvolve. Tanto a desigualdade como a exclusão são sistemas de pertença hierarquizada, mas enquanto na primeira a pertença se dá pela subordinação, na segunda ocorre pela não-pertença.
A desigualdade é um fenômeno socioeconômico assentado na integração social, de forma que os desiguais compreendem parte indispensável da sociedade, contudo ocupantes do setor mais baixo. Seu grande teorizador é Karl Marx, que enfatizou a desigualdade entre capital e trabalho. Já a exclusão tem sua base na segregação, configurando-se como fenômeno sociocultural profundamente desenvolvido por Michel Foucault. A estes sistemas de hierarquização somam-se o racismo e o sexismo, figuras híbridas que combinam desigualdade e exclusão.
A gestão controlada das desigualdades e da exclusão tem sua base ideológica no universalismo, seja pela homogeneização e consequente descaracterização das diferenças – universalismo antidi-ferencialista –, seja pela absolutização das diferenças, tornando-as incomparáveis – universalismo diferencialista.
Conforme Boaventura de Sousa Santos, esse tipo de gestão passou a ser, devido às pressões sociais, uma preocupação do Estado, cuja proposta, longe de buscar eliminar esses elementos, corresponde à manutenção da desigualdade dentro de níveis toleráveis, por meio de políticas sociais, e à relativização da exclusão, a partir da distinção entre as formas aceitáveis e aquelas não aceitáveis socialmente. O Estado Moderno vive, então, um modelo de regulação social que produz a desigualdade e a exclusão, mas procura mantê-las dentro de limites funcionais.
A aplicação desse formato de gestão ocorreu por intermédio da social-democracia e do Estado-Providência, isto é, pela própria negociação entre capital e trabalho, com o Estado promovendo o pleno emprego e uma política fiscal redistributiva.
O autor afirma a necessidade de se rever o modelo moderno de regulação social, já que o pilar “comunidade” parece ter sido olvidado. Há, assim, não dois, mas três pilares básicos: Estado, mercado e comunidade, estando os dois últimos compreendidos no que se intitula sociedade civil. É com base nesse terceiro pilar que se observará a reinvenção do Estado-Providência, de modo que as áreas sociais não regulamentadas pelo Estado não precisariam seguir uma lógica mercadológica, sendo organizadas por meio do elemento comunidade.
A intensificação do processo de globalização econômica e cultural tem acarretado alterações no sistema de desigualdade e exclusão. Economicamente, tem-se a revolução tecnológica que levou a um aumento do desemprego estrutural que, por sua vez, torna precária a integração hierarquizada garantida pelo trabalho, passando este a constituir mais um elemento de exclusão que de desigualdade. Por outro lado, culturalmente, o que se percebe é a eliminação das culturas locais por meio da imposição de uma cultura dominante, um modelo de massa e uma ideologia do consumo.
Se a globalização da economia ocasiona a mutação do sistema de desigualdade em sistema de exclusão, a globalização da cultura opera em sentido inverso, ocorrendo, assim, uma metamorfose no sistema de desigualdade e exclusão. Esta metamorfose, aliada a uma insuficiência de recursos para manter as políticas redistributivas, evidenciam uma crise no Estado Moderno. Diante deste contexto, o autor encontra na articulação entre as políticas de igualdade e de identidade uma orientação para a criação de novas formas democráticas multiculturais e consequente reinvenção do Estado.
O sociólogo pondera sobre o contrato social, o qual se funda na permanente tensão existente entre regulação e emancipação, isto é, entre o interesse público por um Estado capaz efetivamente de gerir a sociedade e o interesse particular por liberdade.
Percebe-se que o contrato social encontra-se embasado em três critérios de inclusão e exclusão: 1- inclui apenas o ser humano, excluindo a natureza; 2- inclui os cidadãos e exclui os não-cidadãos; 3- inclui o espaço público, excluindo a esfera privada. A gestão dessas tensões ocorre por meio dos princípios de interação – o regime geral de valores –, dos indicadores quantitativos, escalas e perspectivas – o sistema comum de medidas – e do espaço de deliberação nacional – o espaço tempo privilegiado.
O objetivo da contratualização é garantir a legitimação do governo, o bem-estar econômico e social, a segurança e a identidade cultural nacional. A persecução destas metas levou à politização do Estado, que vem expandindo a sua capacidade de regulação, e à socialização da economia por meio do reconhecimento da luta de classes, destacando-se neste processo a atuação dos sindicatos. Outra implicação da implementação do contrato social é a nacionalização da identidade cultural nacional, o que tem reforçado os critérios de exclusão e inclusão.
Hodiernamente, contudo, o contrato social está em crise, o que pode ser observado em seus pressupostos. O regime geral de valores não tem resistido à fragmentação da sociedade, de modo que grupos sociais distintos possuem significados distintos para os mesmos valores. O sistema comum de medidas encontra-se em momento de agitação, afetando a estabilidade das escalas.
O espaço-tempo nacional desaparece para dar lugar ao global e ao local. Essas mudanças evidenciam um aumento da exclusão e das desigualdades, afetando a estrutura moderna de Estado.
Boaventura de Sousa Santos afirma que o maior risco para a sociedade é a insurreição de um regime fascista, que pode assumir quatro diferentes formas: 1- apartheid social, isto é, uma divisão dentro das cidades entre zonas selvagens e zonas civilizadas; 2- fascismo paraestatal, em que atores sociais se sobrepõem ao Estado nas tarefas de coerção e regulação; 3- fascismo da insegurança, no qual há disseminação do medo e da ilusão de que apenas grupos privados podem propiciar a segurança que o Estado não é capaz de oferecer; 4- fascismo financeiro, em que os mercados financeiros passam a influenciar e regular outros setores da sociedade.
A necessidade de se evitar a iminente crise que o contrato social exige, consoante o sociólogo, que sejam obedecidos três princípios: pensamento alternativo de alternativas, ação-com-clinamen (ações rebeldes) e espaços-tempo de deliberação democrática.
Enfim, o autor discute a construção de um novo contrato social, com a reinvenção solidária e participativa do Estado. A transformação social possui dois paradigmas: a revolução e o reformismo. Enquanto este traz o Estado como agente capaz de solucionar os problemas da sociedade civil, aquele trata da necessidade de re¬forma no próprio Estado.
O paradigma do reformismo prevaleceu no sistema mundial com a criação do Estado-Providência, cuja atuação se desenrola seguindo estratégias de acumulação de capital, hegemonia e con¬fiança. Foi a partir da desarticulação das duas últimas estratégias e decorrente ascensão da estratégia de acumulação que, em 1980, começou a crise deste paradigma.
Após o reformismo, inaugurou-se a fase do Estado mínimo, em que o Estado era considerado irreformável e, portanto, deveria interferir o mínimo possível na sociedade civil, confirmando a ideologia neoliberalista. Somente com a superação desta fase foi possível assimilar a questão da reforma, disseminando o paradig¬ma da revolução. É neste ponto que Santos começa a pensar uma reinvenção que não observe a concepção dominante de Estado¬-empresário – que prega a privatização e a adoção dos critérios de produtividade importados da esfera privada na administração pública –, mas, sim, empregando a concepção de Estado-novíssimo¬-movimento-social.
A reinvenção do contrato social, assim, passa pela articulação do terceiro setor, o qual deve sofrer uma reforma simultânea com o Estado, em que sejam coordenadas a democracia representativa e a democracia participativa.
Neste contexto, torna-se essencial a redescoberta democrática do trabalho, com redução da jornada laboral, estabelecimento de padrões salariais mínimos, reforço na qualificação profissional e, finalmente, reinvenção do movimento sindical com participação direta dos trabalhadores.
A democratização do trabalho, a participação popular nas decisões de Estado, bem como a reconstrução dos direitos humanos e o reconhecimento da diferença são pontos chaves de discussão nesta obra, constituindo-se a base para a criação de um novo pacto social.
Diante dos argumentos expostos por Boaventura de Sousa San¬tos, percebe-se que o autor, partindo da noção de contrato social, trata da tensão existente entre regulação social e emancipação social. Esta parece ser uma questão recorrente sempre que se discute a contratualização, com a irreversível transição do homem do estado de natureza para o estado civilizado.
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) já discorria sobre a dificuldade de se manter a liberdade individual, direito natural do homem, apesar da necessária sujeição à vontade do Estado.
O problema, então, seria “trouver une forme d’association qui défende et protège de toute da force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’a lui-même et reste aussi libre qu’auparavant1”. (ROUSSEAU, 1978, p.178) A solução seria a contratação de um pacto não orientado pela violência e coerção, mas sim pela vontade geral, de forma que cada constituísse parte indissociável do Estado, de forma que a obediência a este não fosse mais que a obediência à própria vontade.
O pacto social rousseauniano funda-se, destarte, no conceito de vontade geral, isto é, na noção de comunidade. Santos recupera a ideia de comunidade do contratualista, identificando-a como um novo pilar que representa, junto ao Estado e ao mercado, a tríade que sustenta o contrato social. A ação da comunidade desenvolveria uma democracia participativa e retiraria do mercado a regulação das áreas sociais privatizadas.
A comunidade em Santos representa o terceiro setor privado e não fundamentado na lógica mercadológica. A inclusão deste terceiro pilar na modernidade levaria à criação de um novo modelo de regulação, no qual, por meio da luta social, seria alcançado um equilíbrio entre regulação e emancipação, tal como apresentado no séc. XVIII por Rousseau.
Conquanto Boaventura de Sousa Santos desenvolva seus argumentos com base no conceito de comunidade fundado por Rousseau, suas ideias são bastante atuais e inovadoras, já que evidenciam a crise do Estado moderno e sugerem uma reforma que validaria um modelo contemporâneo de regulação social.
Neste sentido, observam-se ainda as discussões desenvolvidas por autores como Wampler e Avritzer (2004), que também buscam, por meio da participação e deliberação pública, uma mudança social substancial que possa impulsionar a democracia. Afirma-se a importância da sociedade civil no processo de decisões, especialmente do envolvimento da comunidade.
A diferença basilar na obra de Santos, quando comparada à de Wampler e Avritzer (2004) reside no fato de que, enquanto estes mostram-se confiantes no modelo de participação adotado hoje no Brasil, aquele não percebe ainda alterações significativas no Estado atual, que ainda vive a crise em seu modelo de regulação. As perspectivas de Santos, entretanto, são positivas – embora um tanto utópicas, como designadas pelo próprio autor – quanto à possibilidade real de reforma social e política do Estado.
A importância do consenso para garantir a legitimidade de um Estado é ressaltada por Carlos Nelson Coutinho (1995), trazendo novamente a ideia aristotélica de interesse comum em oposição à visão liberal de John Locke de que o bom governo é aquele que assegura os interesses e direitos individuais. As exclusões e desigual¬ades constantemente evidenciadas na modernidade por Santos representam a marca do séc. XIX, na vigência do Estado Liberal.
Contrariando as afirmações de Santos, Coutinho (1995) não acredita na reforma do Estado sob a égide do capitalismo, já que este modo de produção não se coaduna com a plena cidadania política e social, que apontaria para a instauração do socialismo.
Os dois autores, todavia, reconhecem que se está diante de uma crise que exige um reordenamento da sociedade, mas diferem quanto ao meio que deve ser empregado para solucioná-la.
Santos não adota uma abordagem institucionalista, pois afirma ser imperativa a atuação da comunidade na regulação do Estado, contudo, defende posicionamentos que remetem ao institucionalismo de Marta Arretche (2007) quando afirma que a criação do terceiro setor, ao qual se atribui a tarefa de democratizar o Estado, depende da promoção de políticas estatais. Arretche (2007) destaca a importância de se estudar as instituições políticas, já que elas têm o condão de influenciar no comportamento dos atores políticos, e, como resultado, podem garantir a representatividade, a estabilidade e a democracia.
É o Estado que deve tomar a iniciativa, por meio de suas políticas, para desenvolver um terceiro setor forte. No entanto, é a partir da colaboração entre comunidade e Estado que se garante a natureza democrática dessas políticas públicas. A resposta, en¬tão, não estaria numa visão institucionalista, nem numa teoria da sociedade civil, mas naquilo que os autores Wampler e Avritzer (2004) denominam de públicos participativos, isto é, uma esfera de deliberação que surge da conexão entre Estado e sociedade.
Poder e comunidade apresentam-se, segundo Francis Wolff (2003), como as duas instâncias da política, remetendo mais uma vez à tensão entre regulação e emancipação que está no centro das discussões em Santos. Ao mesmo tempo em que o homem busca a vida em sociedade para garantir a igualdade, a liberdade e a paz, ele precisa de um poder central – o Estado – para regular e agir coercitivamente sobre esta mesma sociedade. Mais uma vez depara-se com a crise do contrato social e a emergência do contrato rousseauniano como resposta a essas tensões.
Boaventura de Sousa Santos revela que a solução para a crise da modernidade estaria, então, na criação de um novo pacto social que pudesse equilibrar as tensões entre regulação e emancipação, o que somente pode ser logrado a partir do fortalecimento do terceiro setor e democratização do Estado, unindo sociedade civil e sociedade política, comunidade e Estado.
Notas
1 Tradução da autora: encontrar uma forma de associação que defende e protege de todas as forças comuns a personalidade e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, entretanto, a ninguém outro que a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes.
Referências
ARRETCHE, Marta. A agenda institucional. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 64, jun. 2007.
COUTINHO, Carlos Nelson. Representação de interesses, formulação de políticas e hegemonia. In : TEIXEIRA, Sonia (Org.). Reforma sanitária: em busca de uma teoria. São Paulo: Cortez, 1995. p. 47-60.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Du contrat social. Paris: Librairie Générale Française, 1978.
WAMPLER, Brian; AVRITZER, Leonardo. Públicos participativos: sociedade civil e novas instituições no Brasil democrático. In: COELHO, Vera; NOBRE, Marcos (Org.). Participação de deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004. p. 210-238.
WOLFF, Francis. A invenção da política. In: NOVAES, Adauto (Org.). A crise do Estado-Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 23-54.
Camila Muritiba Tenório – Analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Email:[email protected]
Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (Siglos XV-XVII) – PLATT et al (C-RAC)
PLATT, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse; HARIS, Olivia. Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (Siglos XV-XVII). Historia Antropológica de una Confederación Aymara. La Paz: Instituto Francés de Estudios Andinos, Plural Editores, University of St. Andrews, University of London, ínter American Foundation, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 2006. 1088p. Resenha de: ORÍAS, Paola Revilla. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.41, n.2, p.309-311, dic. 2009.
En abril del año 2006 apareció: Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). Historia antropológica de una confederación aymara [en adelante QQCH]. Se trata de la cristalización de un proyecto de investigación emprendido por Tristan Platt, Thérése Bouysse-Casagne y Olivia Harris [en adelante TTO], antropólogos e historiadores comprometidos en la indagación del pasado andino, quienes durante años recopilaron, estudiaron e interpretaron el material que presentan en este volumen.
El sólido análisis crítico propuesto se centra en las manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales del territorio Qaraqara-Charka -confederación de etnias regionales y señoríos prehispánicos de América del Sur que se fue constituyendo en conjunto político después del eclipse de Tiwanaku (Platt et al. 2006:25)-, durante las épocas prehispánica y colonial, atendiendo particularmente al papel y desenvolvimiento de los señores naturales en los diferentes contextos en que ejercieron su autoridad. La idea parece haber sido gestada en Sucre (Bolivia) en los años ochenta, con el aliento de intelectuales como John Murra, Thierry Saig-nes y Gunnar Mendoza.
En el propósito colaboraron estudiosos como Thomas Abercrombie, Mercedes del Río, Roger Ras-nake, Carlos S. Assadourian, Teresa Gisbert, Rossana Barragán, Jorge Hidalgo, Martti Parssinen, Ana María Presta y Nathan Wachtel entre otros, lo que junto a la amplia covertura institucional internacional de que fue objeto la publicación, nos señala la envergadura del proyecto acometido. Hasta aquí, ningún investigador o grupo de investigadores se había enfrentado a un reto historiográfico de tal magnitud sobre las raíces profundas de Charcas.
Tres son los momentos y escenarios cuyos pormenores analiza este libro: el mundo prehispánico, la incorporación de la Confederación Qaraqara-Charka al Estado Inca y posteriormente al Imperio español sobre la base de una alianza de intercambio recíproco.
Al inicio encontramos un rico, puntual y breve ensayo de interpretación antropológica de conjunto, pero no estamos aquí ante una historia monográfica concluyente sobre Charcas, sino ante una mirada indagatoria y reflexiva en torno a las manifestaciones socio-culturales, similitudes, diferencias, trato e interacción que se estableció entre los señoríos Qaraqara y Charka, de éstos con las demás federaciones de Charcas y con otras regiones.
La obra está dividida en cinco capítulos principales: Culto, Encomienda, Tasa, Tierra y Mallku, cada uno con un conciso ensayo de interpretación que introduce el contexto específico de la documentación transcrita en extenso al final del libro. Muchos de los documentos presentados, hasta aquí inéditos, nos llegan por primera vez reunidos y con un sólido aparato crítico.
Atendiendo a la subjetividad inmanente a cada texto y los criterios de verdad de la época, el análisis crítico documental le da especial relieve a la indagación en las condiciones de producción, en lo que dicen y parecen callar las voces interactuantes, sumergiendo la atención del lector en diferentes procesos de construcción de la memoria. No olvidemos que hay historiadores y antropólogos envueltos en una empresa que combina técnica y método de archivo con trabajo de campo, además de algunos acercamientos arqueológicos e incluso climatológicos. La práctica interdisciplinaria ciertamente enriquece el trabajo y suscita interrogantes desde diferentes ángulos. Estamos ante una moderna exégesis de fuentes que deja entrever formas alternativas de integración y análisis de datos, y que permite la (deReconstrucción de la vida prehispánica y colonial en Charcas. Diferentes lecturas parecen posibles. No podía ser de otra manera al tratarse de la historia de una sociedad en esencia polifónica y multicultural, donde las voces de los sujetos históricos parecen yuxtaponerse.
El capítulo “Culto” presenta dos probanzas de méritos, una de un cura vasco de la diócesis de Charcas y otra de un párroco de Chayanta. El valor de estos textos está en relación con la poca documentación que hay al respecto para Charcas. En el capítulo “Encomienda”, encontramos tres cédulas bastante tempranas que permiten entender la organización de Qaraqara y de Charka, así como la constitución de los centros de poder de la zona. “Tasa” por su parte remite a documentos sobre pleitos entre indios y encomenderos, así como a cálculos oficiales que, elaborados en diferentes momentos, proporcionan valiosos datos sobre contabilidad y monetización colonial, aclarando el panorama tributario. En “Tierra”, los autores seleccionan y abordan el estudio de algunos casos individuales documentados, los mismos que, ampliando el lente analítico, permiten comprender la realidad política local y regional de las fronteras entre ayllus.
Dada la variedad de los problemas planteados y la dinámica de su estructura, los capítulos suelen entrecruzarse y complementarse en su contenido, lo que a su vez indica que diferentes recorridos son posibles dependiendo del interés del lector.
El marco temporal abarca a grandes rasgos los siglos XV-XVII, aunque hay documentos que sobrepasan estos límites. Por otro lado, algunos textos podrían pasar como piezas de microhistoria, ya que, si bien toman en cuenta la coyuntura individual, con un cambio de lente permiten identificar un contexto más amplio. En otros casos, en un mismo texto se entrecruzan varias temporalidades relacionadas por cierto lugar común, el mismo que permite reconocer elementos de larga duración dentro de una visión braudeliana. Y es que, antes que buscar huellas prehispánicas en el tiempo diacrónico, el afán de contextualización de TTO busca entender cómo prácticas culturales concretas lograron ir cobrando nuevos sentidos por medio de la interacción de los actores.
El territorio de la Confederación Qaraqara-Charka se presenta como un espacio diferenciado -política y culturalmente hablando- del Collao, cuya tendencia hegemónica en la zona antes de la llegada de los Inca se debió a su privilegiada posición económica, política y geográfica estratégica dentro del Qullasuyu (Platt et al. 2006:28). No obstante, fuera de todo presentismo concluyente, los mapas presentados se anuncian sólo referenciales, dando prioridad al estudio de las personas en relación al de los territorios. Así, los autores nos dejan sospechar el dinámico contacto que hubo entre grupos de puna y de valle, sobre la base de obligaciones de reciprocidad política, religiosa y militar entre comunidades, trayéndonos a la mente aquel modelo de autosuficiencia estudiado por Murra y Condarco Morales para la zona andina (Condarco Morales y Murra 1987). La postura es más cautelosa a la hora de reflexionar sobre la posible tradición dual de gobierno, pero llega a proponer que se trató de una confederación formada por Charka vila y Charka hanco: “Así se justificaría que, más tarde, los Qaraqara siguiesen clasificándosejunto con los Charka” (Platt et al. 2006:47).
Una de las reflexiones más interesantes que nos ofrece QQCH gira en torno al estudio de la autoridad indígena en Charcas. Esta es presentada como una fuerza dinámica y transformadora de sí y de su entorno en el contacto y la convivencia diaria en el escenario colonial. Precisamente, el último capítulo “Mallku”, presenta probanzas de méritos y servicios de señores naturales, relatos personales sobre el linaje de algunas familias que, en la larga duración, permiten descubrir ciertos objetivos de encumbramiento y de poder escondidos entre líneas dentro de un escenario más amplio que el individual. En este sentido una pieza clave es el “Memorial de Charcas”, pronunciamiento de los mallku de la zona en que instan al Rey a proveer los remedios necesarios en diferentes aspectos concernientes a la situación del indígena después de las reformas toledanas; pero, particularmente, buscando el restablecimiento de sus derechos y estatus de altas autoridades prehispánicas, enumerando los servicios hechos a los Inca y al Rey y pidiendo ser tratados como nobles españoles. Resalta aquí el acusioso análisis del papel y estrategias de los mallku de Charcas para acomodarse en contexto colonial. Este documento reúne los puntos esenciales abordados en los diferentes capítulos, y cuya preocupación de transcripción y reedición parece haber sido una de las motivaciones principales de la gestación de QQCH.
En pos de comprender mejor la posición, relación e influencia de los señores naturales de Qaraqara y Charka, así como la transformación diacrónica de las sociedades andinas, TTO proponen una aproximación rigurosa a dos momentos ineludibles: La llegada del Inca Wayna Qhapaq, y el posterior reordenamiento del Estado Inca por Gonzalo y Hernando Pizarro en 1538.
Por los datos expuestos evidenciamos que lejos de rebelarse, los aymarás habrían optado por una política de alianzas con Pachakuti y Wayna Qhapaq, la misma que les ayudó a garantizar ciertos privilegios y una notable autonomía dentro de su territorio. Teniendo en cuenta que los Inca dependían bastante de Charcas en su empresa de conquista, el sometimiento habría sido más bien una especié de pacto de intercambios recíprocos (Murra 1975:IV). Bouysse-Casagne sostiene incluso que los Inca no sólo dejaron su impronta en Charcas, sino que éstos tomaron muchos elementos sociales y culturales de esta región del Sur para el gobierno del Estado multiétnico.
A pesar de la innegable dificultad que implica reconocer la superposición de derechos y obligaciones en este escenario de reciprocidad y rivalidades entre mallku, la perspectiva antropológica de este estudio nos muestra la importancia que conservaron los señoríos de Charcas en la vida política del Tawantinsuyu o Estado multiétnico andino, a partir de la relación de sus autoridades con el Inca.
En lo que a la imposición del dominio hispano se refiere, éste no habría sido el resultado del enfrentamiento entre dos bandos opuestos, pero de un combate desde varios frentes rivales (dos Inca, dos sacerdotes, varios mallku, los españoles). Para TTO, la capacidad de negociación del príncipe Pawllu con los señores naturales locales lo convierten sin duda en: “el que conquistó el Qullasuyu para el Rey de España” (Platt et al. 2007:111).
Sea como fuere, QQCH muestra mediante estas reflexiones cómo desde los primeros años de convivencia entre españoles e indígenas, pero particularmente después de 1569, se puso en marcha todo un proceso de desestructuración que sufrieron las sociedades andinas, en el que el Virrey Toledo dejó una fuerte impronta. La documentación expuesta y la lectura propuesta traza el desarrollo de las interacciones entre los actores, las mismas que llevaron a la organización paulatina de una nueva sociedad en Charcas. TTO sugieren incluso que en este período se habría ido organizando poco a poco en Potosí un “archipiélago colonial”, con una lógica radial en torno al mercado naciente integrado por la minería, la agricultura, el trabajo artesanal y una serie de nuevas tareas dentro de una red comercial inédita en la zona1. La coyuntura política posterior a la llegada del Virrey, así como el accionar de los señores naturales, habrían sido desde esta perspectiva fundamentales para consolidar los cambios. Toledo habría motivado por ejemplo que el mallku tradicional se convirtiera intermediario entre el indígena y la Corona, intentando dar fin a la antigua organización dual, y distanciándose sustancialmente de la autoridad tradicional.
No obstante, y considerando que la historia está llena de matices, como bien muestran TTO es necesario destacar que muchos de los documentos presentados en esta obra dejan ver que ciertas reglas internas de sociabilidad andina tradicional perduraron -aunque no intactas- en diferentes aspectos dentro de celebraciones o en muestras de generosidad (Platt et al. 2006:659). El interés de este libro radica precisamente en ver cómo, en qué medida y bajo qué circunstancias fueron cambiando estas prácticas y sus referentes dentro del imaginario cultural de Charcas, para articularse dentro de la nueva sociedad colonial.
La contribución de este volumen a la historiografía andina es sin duda sumamente rica y sólida. Su lectura es absolutamente recomendable y necesaria para los estudiosos del pasado andino.
Agradecimientos: Comprometo especialmente mi gratitud el Doctor Jorge Hidalgo L. cuyas acertadas recomendaciones fueron de gran ayuda. Asimismo, agradezco los valiosos comentarios de los evaluadores que ayudaron a mejorar la calidad de este trabajo.
Notas
1 Aunque hubo algunos lugares como Macha, donde Platt argumenta que la organización vertical logró subsistir marcando una continuidad en la larga duración (cf. Platt et al. 2006:538).
Referencias
Condarco Morales, R. y J. Murra 1987 La Teoría de la Complementariedad Vertical Eco-Simbiótica. HISBOL, La Paz. [ Links ]
Murra, J. 1975 Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. IEP, Lima. [ Links ]
Platt, T., T. Bouysse-Cassagne y O. Harris 2006 Qaraqara-Charka Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (siglos XV-XVII) Historia Antropológica de una Confederación Aymara. IFEA, Plural, University of St. Andrews, University of London, ínter AmericanFoundation, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, La Paz. [ Links ]
Paola Revilla Orías – Magíster Historia. Mención América, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, Santiago. E-mail: [email protected]
[IF]
Capitalismo, Estado e Educação – LUCENA (TES)
LUCENA, Carlos (Org.). Capitalismo, Estado e Educação. Campinas: Alínea, 2008, 217 p. PREVITALLI, Fabiane Santana. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 7 n. 2, p. 397-401, jul./out.2009.
Importante obra organizada pelo professor e cientista social, doutor em Filosofia e História da Educação, Carlos Lucena, lançada no segundo semestre de 2008 pela editora Alínea. Os artigos reunidos no livro apresentam um diagnóstico do processo de mundialização do capital que, na visão dos autores, ocorre sob a hegemonia das políticas neoliberais, das mudanças tecnológicas, bem como sob o discurso ideológico da valorização da educação.
Contrários às teorias que afirmam as regras do livre mercado como fatalidade ou, parafraseando Carlos Lucena, como sendo “o fim da História”, os autores analisam o intenso processo de mundialização do capital como processo histórico no âmbito das lutas de classes e problematizam seus impactos sobre o trabalho e a educação.
A obra está organizada em dez capítulos.
Os dois primeiros centram a análise na relação entre globalização e mundialização do capital e da educação. Olinda Maria Noronha, no primeiro capítulo, “Globalização, mundialização e educação”, enfatiza as ações dos organismos internacionais no sentido de promover um novo tipo de educação, de pedagogia e de formação de professores, os quais privilegiam um saber fazer pragmático e utilitário que é requerido pelo mercado. No segundo capítulo, “Globalização capitalista e apropriação”, Lucília e Janaína Machado relacionam a questão ambiental e da educação no âmbito do processo de globalização, ressaltando os desafios educacionais e ambientais em função da lógica do sistema de produção e circulação de mercadorias. Para as autoras, embora o desenvolvimento sustentável esteja sendo discutido como novo paradigma conceitual e político, são enormes as dificuldades para o cumprimento de resoluções e planos de ação em razão da racionalidade econômica capitalista à qual está subordinada a cidadania.
No terceiro capítulo, “Transformações no Estado-Nação e impactos na educação”, o autor José Luís Sanfelice faz uma síntese bastante elucidativa sobre o processo histórico de formação e transformação do Estado-Nação e demonstra como a educação, à medida que a globalização avança, vai se tornando um serviço privado e perdendo seu sentido fundamental que é permitir o acesso dos seres humanos à cultura e a conhecimentos disponíveis, assumindo assim um caráter acentuadamente mercantilizado. Nesse contexto, Sanfelice destaca o papel da ciência e da tecnologia como elementos de dominação na relação geopolítica entre os Estados capitalistas centrais e periféricos, contribuindo para que permaneçam intocadas as determinações estruturais da sociedade sob a lógica do capital.
A questão da ciência e da tecnologia também é abordada por Carlos Lucena, no quarto capítulo do livro. Sob o título “Mundialização, ciência e tecnologia”, o autor debruça-se sobre os pressupostos teóricos das crises do capitalismo e questiona a neutralidade da ciência e da tecnologia uma vez que a base das mesmas assenta-se na própria reprodução do capital.
Para Lucena, “a ciência não é uma invenção do capitalismo, até porque ela é tão antiga quanto a humanidade, mas o capitalismo inventou formas de explorá-la, subjugando seus resultados a seus interesses” (pág. 91).
O quinto e o sexto capítulos discutem a questão da reestruturação produtiva do capital era protagonizado pelos jesuítas, pautado pela aquisição do saber clássico acumulado pela civilização ocidental cristã. Era um ensino altamente refinado e eficiente para os fins sociais e culturais do poder hegemônico. Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, os autores resgatam as reformas pombalinas, as quais transferiram a educação quase que exclusivamente a cargo das famílias pertencentes à aristocracia agrária escravocrata.
Com o advento da República, o traço elitista permaneceu. Foi somente na ditadura militar que a expansão do ensino tornou-se uma realidade ou, nas palavras dos autores, “que a sociedade brasileira deixou, na realidade, de ser uma ‘sociedade sem escolas’”. Todavia, o traço característico da constituição da educação brasileira é a sua dualidade: escolas de ensino precário para as classes populares e escolas eficientes para as elites.
O quinto e o sexto capítulos discutem a questão da reestruturação produtiva do capital e seus impactos no mundo do trabalho no contexto internacional e no Brasil, respectivamente. Em “La precariedad como paradigma de la reestrutucturación capitalista em la fase de la crisis estructural”, Luciano Vasapollo demonstra o quadro do desemprego, bem como o depauperamento das condições de trabalho e do aumento da pobreza, tomando como referência os Estados Unidos e a Europa. Ao caracterizar a reestruturação produtiva do capital, o autor foca sua análise na formação de um “novo sujeito do mundo do trabalho (…) que é determinado não somente pelas transformações nas atividades produtivas, mas também por sua configuração sócio-política e sua capacidade de organizar- se em um novo movimento sindical que saiba interpretar as necessidades de emancipação” (pág. 121-122).
Ricardo Antunes, em “Riqueza e miséria do trabalho no Brasil”, apresenta, a partir de um conjunto de estudos setoriais realizados por diversos autores, as principais tendências da reestruturação produtiva no Brasil sob a égide do neoliberalismo, apontando a centralidade do desemprego global, da flexibilização e da precarização do trabalho como fenômenos dominantes e como estratégias de dominação nessa nova fase do capital.
No sétimo capítulo do livro, “Estado, políticas públicas e educação no Brasil”, Antonio Bosco de Lima analisa a crise do Estado capitalista como um processo de revigoramento da reprodução do capital por meio do recurso de fortalecimento do mercado. O autor apresenta uma interessante análise do Estado na perspectiva do pensamento político liberal e da teoria marxista, tecendo contundentes críticas ao liberalismo e neoliberalismo. No centro dessa discussão está a escola pública que, para Bosco, “(…) é um aparelho do Estado que, de acordo com os neoliberais, precisa ser controlada pelo mercado” (pág. 147). Estabelece-se, portanto, uma disputa no campo político-ideológico em que, de um lado, encontra-se a comunidade educacional para quem há a necessidade de uma escola mais democrática e, de outro lado, o pensamento neoliberal dominante pelo qual é preciso tirar o conteúdo político das escolas.
Assim, segundo o autor, não é o conteúdo da escola que está em crise, tampouco a educação formal, mas o modelo de escola na sociedade regida pela lógica do capital.
Tendo como objeto de discussão a noção de dignidade e de direitos do homem, Robson Luiz de França, no oitavo capítulo “O trabalho como princípio da dignidade da pessoa humana”, destaca a degradação das condições de vida dos trabalhadores e o aumento do desemprego estrutural no âmbito da ascensão das políticas neoliberais.
Nesse contexto de aprofundamento das desigualdades sociais, de um “estilo de vida que se estabelece pelo não-comprometimento e pela ausência quase total da solidariedade social” (p. 168), a educação tende a tornar-se, crescentemente, em um meio de transmissão de princípios doutrinários neoliberais, assumindo um caráter adaptativo. Portanto, o que está em questão para o autor é a adequação da escola à ideologia dominante assim como as formas de resistência da mesma a esse processo.
No nono capítulo, “O Estado e o mundo do trabalho em mutação”, Maria Vieira Silva analisa as relações entre Estado-Nação e as ações do terceiro setor e seus impactos na educação.
Chama-nos atenção o argumento da autora, segundo o qual o terceiro setor é um espaço político de ruptura da cidadania e dos direitos públicos historicamente conquistados. De acordo com a autora, a educação escolar na década de 1990 tem sido um campo fértil para a consolidação de ações e proposições do terceiro setor.
Nesse contexto, Vieira defende uma concepção crítica da educação, voltada para o atendimento dos interesses daqueles que, ao longo de um processo histórico, ficaram à margem dos bens sociais e materiais produzidos coletivamente pela humanidade.
No capítulo que encerra o livro, cujo título é “Entre o real e o virtual”, Andréia Galvão aborda a reforma sindical e trabalhista em debate no governo Lula. A autora discute a flexibilização da legislação do trabalho como parte da estratégia do capital mundializado, com o objetivo de derrubar as formas de regulação sobre o trabalho, ou seja, a desconstrução de direitos sociais historicamente conquistados pelos trabalhadores. Para Galvão, o governo Lula tem mantido a flexibilização trabalhista, ainda que em ritmo menor que o verificado no governo FHC. A autora ainda destaca alguns pontos da reforma sindical, para demonstrar que ela vem para restringir a liberdade e a autonomia dos sindicatos. Nesse sentido, Galvão conclui que não há no governo Lula “um compromisso em assegurar e, muito menos, em ampliar os direitos trabalhistas” (pág. 215).
Assim, tratando de temas relevantes de forma instigante, o livro organizado por Carlos Lucena constitui-se num importante instrumento teórico para cientistas sociais, educadores e demais interessados em compreender criticamente os processos socioeconômicos, políticos e educacionais que regem a sociabilidade nas nações capitalistas neste inicio do século XXI. A sua leitura é fundamental para aqueles que desejam discutir, numa perspectiva crítica radical, as inter-relações entre trabalho e educação em tempos de globalização e mundialização do capital sob a égide de políticas fundadas no neoliberalismo.
Fabiane Santana Previtalli – Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Greening Brazil: environmental activism in state and Society – HOCHSTETLER; KECK (RBH)
HOCHSTETLER, Kathryn; KECK, Margaret E. Greening Brazil: environmental activism in state and Society. Durham (NC): Duke University Press, 2007. 304 p. Resenha de: SEDREZ, Lise. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.29, n.57, jun. 2009.
Com um estilo envolvente e farta documentação, Greening Brazil: environmental activism in state and society promete um estudo ao mesmo tempo amplo e detalhado do ativismo ambiental no Brasil. É uma promessa cumprida com garbo. Usando como fio condutor a transformação da agenda ambiental no Brasil, o livro analisa a interação entre o Estado brasileiro e a sociedade civil. As autoras Kathryn Hochstetler e Margaret Keck já estudam as instituições brasileiras e o movimento ambientalista há mais de duas décadas e, em Greening Brazil, colocam ao alcance do leitor a experiência e o insight acumulados ao longo dos anos, num trabalho ambicioso que sintetiza temas de governabilidade, história ambiental e conexões entre Estado e sociedade civil.
Em publicações anteriores, Hochstetler e Keck já tinham proposto modelos teóricos competentes sobre a gênese da moderna sociedade civil na América Latina. Neste novo livro, no entanto, as autoras se debruçam sobre os mecanismos concretos que deram forma aos processos de desenvolvimento de instituições ambientais, evidenciando ora as potencialidades e contradições desses processos, ora os agentes e alianças que os tornaram possíveis. Traçando narrativas locais e internacionais, Greening Brazil associa o contexto internacional de disputas e acordos ambientais às singularidades da história e da política brasileiras. Nesta perspectiva, as autoras corretamente sublinham a importância de trajetórias e alianças pessoais no funcionamento do Estado brasileiro, assim como o descompasso entre uma legislação ambiental avançada e sua implementação de fato, não tão avançada. Parte do dilema de base, segundo Hochstetler e Keck, se explica pelas constantes reestruturações a que as agências ambientais eram submetidas, as quais continuamente redefiniam o foco de ação para um ou outro aspecto da agenda ambiental. Esse processo de permanente recomeçar trouxe para a esfera pública elementos de incerteza e indefinição que os atores políticos precisavam levar em conta ao alocar esforços e recursos.
Para os leitores americanos, seu público alvo, Hochstetler e Keck dissecam os diversos níveis da burocracia brasileira e suas transformações ao longo dos anos, transpondo quando possível agências e títulos para os similares americanos. Não é uma tarefa menor, já que alguns – ou vários – aspectos desse sistema legal e administrativo são obscuros mesmo para brasileiros, e já que várias das transformações citadas no livro, como a expansão de direitos coletivos e a criação do Ministério Público, foram conquistas quase revolucionárias no processo de formação da sociedade civil no Brasil. Nessas análises, a contribuição de Hochstetler e Keck é valiosa não só para leitores interessados em meio ambiente e governabilidade, mas também para um público mais amplo que estude o funcionamento do Estado brasileiro.
As autoras organizaram o livro cronológica e tematicamente. Os primeiros três capítulos discutem o estabelecimento de agências ambientais governamentais e não governamentais desde 1950, identificando três fases (ou ondas) de ativismo ambiental. A primeira fase, influenciada por um nacionalismo desenvolvimentista que se prolonga até a década de 1970, deu origem às mais antigas organizações conservacionistas brasileiras e várias instituições de pesquisa ambiental, e formou a geração que criou as primeiras instituições ambientais governamentais. A segunda fase cobre o período de liberalização política que se inicia em 1974 e continua até meados dos anos 80. Nesse período emergiram organizações ambientalistas mais militantes, “socioambientalistas”, de certa forma inseridas no quadro mais amplo de pressões exercidas pela sociedade civil brasileira pela melhoria de condições sociais e por maior democracia. Um terceiro período, a partir da Constituição de 1988, caracteriza-se pelo desafio triplo de restauração democrática, crise econômica e aumento exponencial do contato com agências e ativistas internacionais, um movimento que continua até o presente.
Os últimos dois capítulos são desenvolvidos paralelamente a essa identificação das “três ondas” do ambientalismo brasileiro, em estudos de caso sobre florestas e ambiente urbano, os dois pólos que constituem, nem sempre harmonicamente, a base da agenda ambiental brasileira. É um fecho oportuno – e necessário. Se por um lado a questão da Amazônia foi e é fundamental para o ambientalismo brasileiro, por outro lado a partir de meados dos anos 80 cerca de 40% de todas as organizações ambientais no Brasil, governamentais ou não, eram voltadas para problemas ambientais urbanos – uma consequência da característica majoritariamente urbana de 80% da população brasileira, incluindo os ambientalistas.
Uma das contribuições de Greening Brasil é seu entendimento de políticas ambientais como inseridas no contexto político brasileiro maior, e não isoladas ou um fim em si mesmas. Nesse sentido, e diferentemente de experiências em outros países, as autoras ressaltam a importância da politização do ativismo ambiental – neutralidade política não era uma opção se o ambientalismo buscava se legitimar no quadro político brasileiro. Porém, não obstante a importância de atores domésticos, o livro enfatiza também o papel de atores transnacionais, brasileiros ou não. Talvez o papel da iniciativa privada, que em parte resistia à agenda ambiental, e em parte se apropriava desta para fins de relações públicas, tenha sido pouco desenvolvido no livro. E talvez algumas vezes o acompanhamento dos ativistas ao longo de décadas tenha sido menos frequente e evidenciado do que os leitores gostariam, haja vista a importância que as autoras dão às trajetórias pessoais no desenvolvimento de políticas ambientais públicas. Mas em geral, Greening Brazil é uma obra fundamental para a história do ambientalismo brasileiro, trazendo à luz fontes inestimáveis como entrevistas com Chico Mendes e Herbert de Souza, o Betinho. De fato, o longo envolvimento de Hochstetler e Keck no ambientalismo brasileiro as torna, tal qual seus entrevistados, atores da narrativa que construíram em seu livro.
Lise Sedrez – Professora Assistente de História da América Latina, California State University, Long Beach. 1250 Bellflower Boulevard, Long Beach, CA 90830-1601. E-mail: [email protected]; www.sedrez.com.
[IF]Cultura e poder / Estevão C. R. Martins
Professor de teoria da história e de história contemporânea na Universidade de Brasília – UnB, Estevão C. de Rezende Martins dedica-se aos estudos nos campos da teoria, filosofia e metodologia da história, história cultural moderna e contemporânea, e das relações internacionais, em particular da Europa ocidental. Publica em 2007, Cultura e poder, livro que busca situar o leitor em questões referentes à formação e organização dos Estados modernos e de suas relações externas. Nas palavras do autor, o livro segue uma “perspectiva teórico analítica em que são coordenados a preocupação filosófica com a engenharia conceitual e o prisma historiográfico, penhor de inserção empírica dos temas tratados” (p. 01).
O livro está dividido em sete capítulos que buscam apresentar ao leitor, inicialmente, os conceitos que o autor utiliza (como poder, idéias, cultura e ideologia), para em seguida, demonstrar como estes são utilizados para a construção das identidades e, conseqüentemente, das organizações sociais que originam os Estados. Durante a leitura da obra capítulos, nota-se que há quatro seções de análise que direcionam o livro. Essas podem ser divididas em: seção de conceituação (capítulos 1, 2 e 3), nos quais são apresentados os conceitos usados em todo o livro; análise da União Européia (capítulos 4 e 5), onde as idéias apresentadas pelo autor já foram trabalhadas e postas em prática, com relativo sucesso; e análise da América Latina (capítulo 6), utilizando-se de todo o escorço conceitual apresentando. O capítulo 7 tratará das perspectivas sobre o uso das idéias e o poder que exercerão no contexto da “mundialização”.1 Diversos são os campos de estudos e pesquisas que se dedicam à formação dos Estados e sua relação com as identidades sócio-culturais. Dentre esses, há de se destacar o campo da ciência Jurídica, da Ciência Política e das Relações Internacionais. E é por meio dos conceitos fornecidos por estas áreas do saber que Martins articula seus pensamentos utilizando uma perspectiva que se afasta da ciência da história e se aproxima da filosofia, do direito e das relações internacionais. Por meio de tais perspectivas e com base no instrumental teórico dos campos citados é que o autor inicia suas pontuações.
O que são idéias e como são capazes de mover sociedades, isto é, sua concepção e sua função, são as bases para os debates do primeiro capítulo. O autor trata as idéias com uma perspectiva do papel que desempenham no “contexto de redes culturais cuja resultante são as formas de poder na sociedade e no Estado que interferem na formulação e na prática de condutas individuais e sociais”. (p. 7) As idéias são apresentadas como uma forma de orientação do agir, destacando-se em três dimensões distintas: passado (interpretação), presente (explicação) e futuro (projeção). Tais dimensões orientam o pensar humano e a formação não apenas de idéias, mas de identidades – outro discussão que perspassa o livro todo. O debate sobre as idéias de poder é o que conclui o primeiro capítulo. Neste ponto, Martins apresenta diversos posicionamentos sobre as idéias de poder – Foucault, Carl Schmitt, Jean Bodin, etc. – mas deixa claro seu alinhamento com a concepção de Niklas Luhmann, que concebe o poder “como um jogo social de ações, que causam a partir de pressupostos não causais, que efetuam trocas com base em fundamentos não permutáveis, que jogam utilizando regras não colocáveis em jogo”. (p. 25) O poder da cultura e a cultura do poder são o mote do segundo capítulo. O autor emprega o termo cultura, no livro, de forma ampla, “diretamente vinculada à ação racional do homem” (p. 2), um fator dinâmico de ação, formação e transformação. O fundamento da cultura está no fato de que o homem precisa agir para poder viver.
Utilizando-se das concepções de Gordon Mathews, para Martins, a cultura está mergulhada em um “sistema de circulação de idéias e de produtos chamado mercado” (p. 30), e segue três vertentes: a individual, a coletiva (família, colegas de trabalho, torcedores de um time, etc.) e a pública ou estatal (sistemas de educação e de comunicação em massa). Por estas vertentes, o autor explicita a importância do conhecimento histórico, ou “cultura histórica”, pois esse é formador de identidades e está inserido em um mundo de signos, elementos distintivos pertencentes a uma “cultura”. “A cultura histórica é, então, a articulação de percepção, interpretação, orientação e teleologia, na qual o tempo é um fator determinante da vida humana”. (p. 33) Ao nascer, qualquer pessoa já está inserida em um mundo pleno de histórias, de signos e conceitos pré-concebidos, mas isso não significa precisar aceitá-los passivamente; ao contrário, ao adquirir consciência, conquista a capacidade de transformar estas idéias dadas em idéias e conceitos próprios. O indivíduo, grupo ou nação demonstram, desta forma, o poder da cultura. A construção e formação das identidades tomam boa parte desse segundo capítulo, pois para Martins, é o entendimento de si e de quem é o outro que propiciará a criação de laços entre os países, superando questões seculares, como ocorreu com a União Européia (UE). Ponto interessante, pois o autor toma a UE como um exemplo, guardadas as devidas proporções, que a América Latina deve seguir para superar desavenças e se impor de forma organizada.
O terceiro capítulo trata da ideologia. Neste ponto, o autor explicita que o entendimento de ideologia como “receita pronta” para uso rápido, simples e imediato, independente do conteúdo ou dos fins – colocadas de forma maniqueísta muitas vezes – deve ser superado. Atualmente deve-se observar a amplitude e abrangência das idéias, que escapam do simplismo das ideologias clássicas. É algo que pode estar em qualquer contexto, desde que nele haja a questão de ser, pensar e agir, que pode ser entendida como ideologia. Martins expressa que ideologia “é um instrumento prático polivalente, socialmente relevante e particularmente eficaz – embora de contornos difusos, quando ‘vivida’ de forma concreta pelas pessoas”. (p. 67) Após apresentar suas impressões sobre os conceitos elencados Martins passa a questionar essas concepções, o autor vai se lançar a questionar o poder da cultura na história européia e, conseqüentemente, como se pode buscar um fio condutor para a formação das identidades da Europa ocidental, o que facilitaria a convivência e formação de um bloco de países.
O capítulo quatro é dedicado a apresentar a história da Europa ocidental e como a formação das identidades foi diferente em relação aos europeus orientais. Para tal, lança mão das idéias sobre a expansão da fronteira na formação das identidades e do conceito de “grande fronteira” – teorias de Frederick Tuner e Walter Prescott Webb, respectivamente. Para Martins, “A percepção ou ‘estranhamento’ cultural entre diversos ‘outros’ que conviveram – e convivem – no espaço da(s) Europa(s) é um elemento importante na organização extrínseca (…) e intrínseca da identidade cultural européia…” (p. 83).
As questões do multiculturalismo e das identidades nacionais no conjunto Europeu é o tema do capítulo cinco. Nesse momento da obra é debatido o conceito de “linguagem da nação”, isto é, o discurso político nacional que integra três grandes dimensões: a razão modernizadora, a vontade mobilizadora e a justiça igualitária. Por meio desta “linguagem da nação”, deste discurso político nacional é que as nações modernas se organizaram. Para Martins a nação não é uma ideologia, mas um “produto, dentro de um território particular, das relações entre uma economia, uma cultura e um Estado dominados pelo princípio da racionalidade instrumental”. (p. 99) Por essa linguagem é que uma sociedade pode construir o passado como tempo ultrapassado (dimensão interpretativa), de modo a se distanciar e poder explicar o passado e ter perspectivas de futuro (projeção). Contudo, no decorrer da leitura, nota-se que essa linguagem, com bases muito mais históricas, perdeu sua força. A busca de uma nova linguagem deverá, segundo Martins, passar por uma (re)construção das consciências nacionais (no âmbito europeu), devendo se reorientar em busca de uma síntese democrática, o que evitaria os elementos contraditórios de nossa modernidade.
O sexto capítulo do livro volta-se para os debates sobre a formação de uma identidade cultural latino-americana. São expostas quais são as dificuldades para se fomentar uma identidade comum na América Latina. O primeiro passo é compreender que as sociedades européias são “sociedades originárias”, ou seja, foram criadas, originadas da vontade mobilizadora de um grupo, enquanto as sociedades americanas são “sociedades implantadas”, isto é, não foram originadas de uma vontade de um grupo, mas sim impostas por um grupo sobre outro. A partir desse pressuposto, Martins vai discorrer sobre a situação na América Latina e das dificuldades de uma articulação histórica, que contribua para uma identidade comum.
A parte final da obra é dedicada a uma discussão de possíveis perspectivas sobre os movimentos de “mundialização”, o uso e poder das idéias nesse contexto “A multipolaridade política e cultural apresenta-se como contraponto consolidável para viabilizar uma alternativa à unipolaridade econômica norte-americana ainda remanescente”. (p. 137) Com tal perspectiva, propõe que o mundo social deve se voltar para um entendimento da diversificação cultural interna, encarceradas nos Estados nacionais, pois a cultura serve como referência do agir humano, podendo influenciar na modificação das estruturas sociais vigentes.
O historiador convencional ao ler, Cultura e poder não encontrará uma obra nos moldes da ciência da história. Mesmo hoje, onde as fronteiras entre as disciplinas como filosofia, história, sociologia e relações internacionais, não possuem um limite claro – pois todas se utilizam de conceitos comuns, mas com usos específicos – pode-se dizer que o livro é direcionado para o campo das relações internacionais, como o próprio nome da coleção, Coleção Relações Internacionais, já mostra – e dos estudos que debatem a formação dos Estados nacionais e das relações de poder que emergem no interior dessas sociedades, através de uma perspectiva cultura.
Centra-se no contexto europeu, mas segue esse caminho para demonstrar como as idéias e os conceitos apresentados foram aplicados na Europa, suas conseqüências e os possíveis que a América Latina pode seguir para formar uma macro-identidade regional, respeitando as diferenças culturais – o que não ocorreu no velho continente, segundo Martins, pois os Estados foram criados, como que ignorando tais diferenças culturais, criando situações de conflito nos dias atuais, como nos Bálcãs ou na região basca. Contudo, sem se aprofundar no debate, o livro pode introduzir e situar o leitor no debate sobre cultura e poder.
A obra de Martins é extremamente interessante, já que ao introduzir e situar o leitor no debate sobre cultura e poder, centra-se no contexto europeu e segue essa trilha para demonstrar como as idéias e os conceitos apresentados foram aplicados na Europa, suas conseqüências e os possíveis caminhos que a América Latina pode seguir para formar uma macro-identidade regional, desde que respeitadas as diferenças culturais.
Notas 1 O autor usa o termo “mundialização”, expressão do universo da língua francesa, no sentido de “globalização”, mas com ênfase aos aspectos mentais, ideais e culturais.
Eric de Sales – Graduado em História pela Universidade de Brasília – UnB e mestrando pela UnB em História na Área de Concentração História Social. E-mail para contato: [email protected].
MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. 2 ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2007. Resenha de: SALES, Eric de. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.167-171, 2007. Acessar publicação original. [IF].
Estado e Burguesia no Brasil: origens da autocracia burguesa | Antônio Carlos Mazzeo
Uma primeira associação ao título surge de maneira fácil, quase imediata: ao estudar as relações entre estado e burguesia na formação social brasileira, Antônio Carlos Mazzeo remonta à ideia originariamente expressa por Marx e Engels, em seu Manifesto Comunista, a qual serve de epígrafe a esta resenha e norteia nosso entendimento primário dos conceitos utilizados pelo autor ao apresentar suas ideias. Antônio Carlos Mazzeo é um autor marxista, que utiliza, em primeira instância, a análise de Marx e Engels para desenvolver sua apreensão das características da formação histórica da sociedade brasileira. Leia Mais
Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (1857-1886) – MENESES (M-RDHAC)
MENESES, Luis Alarcón; CALDERÓN, Jorge Conde; DELGADO, Adriana Santos. Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (1857-1886). Barranquilla: Fondo de publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2002. 257p. Resenha de: ORTEGA, Antonino Vidal. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.1, jun./dic., 2004.
Antonino Vidal Ortega – Ph.D. en Historia. Jefe, professor e investigador del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Director de Memorias.
[IF]O Homem, o Estado e a Guerra: uma análise teórica | Kenneth N. Waltz
Um dos desafios que põe à prova acadêmicos de Relações Internacionais desde o término da II Guerra Mundial é a elaboração de teorias que combinem alcance explicativo, coerência e parcimônia. Kenneth Waltz, um dos mais destacados pensadores de Relações Internacionais ainda vivo, é lembrado por ter tentado superar esse desafio – especialmente com Theory of International Politics. Com essa obra, Waltz tentou formular uma teoria sistêmica das Relações Internacionais, ficando reconhecido por ser fundador da corrente de pensamento que se convencionou chamar neo-realismo. Prova do valor de seu trabalho é o fato de o Professor Emérito da Universidade de Califórnia, Berkeley, ter sido agraciado com o prêmio James Madison – concedido pela American Political Science Association – por sua contribuição à ciência política.
O Homem, o Estado e a Guerra, cuja primeira edição data de 1959, é a publicação da dissertação de doutorado, Man, the State and the State System in Theories of the Causes of War, defendida em 1954 na Universidade de Columbia. Segundo o próprio Waltz, esse livro não apresentou uma teoria das Relações Internacionais, mas assentou as fundações para que uma fosse elaborada. A intenção não foi construir modelos a partir dos quais fosse possível a dedução de políticas em prol da paz, mas a de fazer um exame dos pressupostos em que modelos existentes estão baseados. Partiu-se do princípio de que, para se explicar como alcançar a paz, deve-se compreender as causas da guerra. Essas causas são explicadas em três níveis de análise. Leia Mais
Batallas contra la lepra: Estado, medicina y ciencia en Colombia | Diana Obregón Torres
Diana Obregón é professora e pesquisadora da Universidade Nacional da Colômbia e seu livro é uma versão mais abrangente de sua tese de doutoramento em história da cência, defendida na Universidade de Virgínia, em 1996. Partindo de um interesse geral sobre a constituição das associações científicas no final do século XIX e início do XX na Colômbia, a autora se surpreendeu com o grande número de artigos sobre lepra, fazendo-a supor que os médicos, na época, não tivessem outra preocupação como foco de atenção e análise. Essa descoberta causou-lhe a princípio verdadeiro horror, sobretudo “… por las figuras que por lo general acompañan las descripciones médicas …” (p. 11). Embora não constituíssem seu interesse central, a autora não poderia deixar de notar essa presença.
Algum tempo depois, ao se debruçar sobre o desenvolvimento da teoria microbiana e sobre como a bacteriologia influenciou e modificou as práticas médicas na sociedade colombiana, a autora voltou a deparar com a doença. Dessa vez, os grandes nomes da bacteriologia local, como Juan de Dios Carrasquilla e Federico Lleras Acosta, estavam profundamente envolvidos com a pesquisa sobre a lepra. Assim, Diana percebeu que era preciso entender um pouco mais a doença e descobrir que lugar ela ocupara naquela sociedade, qual sua importância no desenvolvimento da bacteriologia. Tudo isso sem perder de vista o potencial estigmatizante, uma vez que a lepra gera transformações nas percepções humanas e nas relações sociais e culturais, pelo aspecto físico que muitos dos pacientes podem apresentar ao longo do tempo, por causa das seqüelas da doença.1 Leia Mais
Anarquismo, Estado e pastoral do imigrante. Das disputas ideológicas pelo imigrante aos limites da ordem: o caso Idalina – SOUZA (RBH)
SOUZA, Wlaumir Donizeti de. Anarquismo, Estado e pastoral do imigrante. Das disputas ideológicas pelo imigrante aos limites da ordem: o caso Idalina. Sn. Editora da Unesp, 2000. 243p. Resenha de: ALMEIDA, Vasni de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.44, 2002.
Um bom estudo em ciências humanas, um estudo histórico em particular, ganha relevância ao primar por dois aspectos: a preocupação com as mudanças que marcam uma sociedade numa determinada trajetória histórica e a atenção redobrada com as alterações verificadas nas instituições inseridas e ativas nesse processo de transformação1. Um tratamento cuidadoso para com as redes de interdependências entre diferentes grupos no estabelecimento de uma nova ordem social e cultural e para com os rearranjos internos que acompanham cada um dos grupos envolvidos aponta para a eficácia de um estudo acadêmico transformado em publicação. Esse é o caso do livro de Wlaumir Donizeti de Souza, voltado para a imigração italiana para o Brasil, ocorrida entre a segunda metade do século XIX e os primeiros decênios do século XX. Transição da monarquia para o sistema republicano de governo, a imigração como fator de mudança cultural e social e os elementos sociais em conflito (Estado, catolicismo e anarquismo) formam o esteio da obra.
Procurando se desvincular das armadilhas que tendem a estreitar “o leito do rio”, o autor verificou e destacou a intrincada teia de interesses desse significativo período de mudanças políticas e culturais pelo qual passou o País. Seu olhar esteve atento para as ações da Igreja Católica em relação às forças sociais externas a ela e em relação aos “catolicismos” coexistentes na sua esfera interna. Da mesma forma, sua atenção se voltou para os movimentos anarquistas em suas relações com o poder social do catolicismo, notadamente no que tange ao trato com o imigrante. Completando as forças que se locomoviam ao redor do trabalhador imigrante, estava o agricultor contratador de mão-de-obra. Esses são os elementos básicos que compõem a trama tecida pelo autor.
Para Donizeti de Souza, a população imigrante italiana, contratada para trabalhar no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, foi instrumentalizada pelo catolicismo ultramontano, com a Igreja Católica buscando influenciar a política imigratória num período em que se aproximava o rompimento formal e tardio entre essa religião e o Estado brasileiro. Na tentativa de estabelecer os critérios para a arregimentação de trabalhadores, o catolicismo romanizado estimulou a elaboração de pastorais voltadas para o enquadramento do imigrante, tendo em vista o seu projeto religioso e político. Aos scalabrinianos, instituição missionária fundada em 1887, por dom Giovanni Baptista Scalabrini, religioso com larga experiência no trato com os postulantes `a imigração nas suas cidades de origem, coube essa tarefa. Para sustentar sua análise, o autor se apega ao conceito de imigrante ideal, ou seja, um trabalhador lapidado para atender a interesses econômicos políticos dos grupos que pensavam no sentido de nação, que então se desenhava lentamente, tanto na visão de fazendeiros quanto na de políticos de linhagem conservadora. O imigrante ideal seria aquele comprometido com os laços culturais e religiosos propostos na perspectiva romana de sociedade e indivíduo, imagem idealizada também pela oligarquia que o contratava. Para os fazendeiros, o estrangeiro contratado deveria ser “dócil, ordeiro, familiar e trabalhador”, uma mão-de-obra com as marcas da “resignação”. Na visão do poder religioso ultramontano, caberia ao catolicismo a moldagem do imigrante que satisfizesse os requisitos dos contratantes. O autor aponta com acuidade a conexidade entre o ideal de trabalhador desenvolvido pelo catolicismo romano e o tipo de trabalhador procurado pelo coronel para ser empregado na lavoura. Os dois ansiavam por trabalhadores obedientes. Quais as pretensões de um catolicismo que se via ameaçado por intrincada e complexa rede de inimigos, dentre os quais podemos encontrar os anarquistas, os maçons, os políticos liberais e os protestantes? Donizeti de Souza responde sem mais delongas: ser fonte inspiradora da cidadania brasileira e fonte única de unidade nacional. Enquanto o chefe local buscava aumentar o lucro (com a devida ordem) na unidade agrícola, o catolicismo buscava forjar, sob seus auspícios, a unidade cultural e religiosa do País. O que um fazendeiro esperava de um padre era que este ressaltasse “as obrigações morais do empregado para com o patrão, seu dever de obediência, de humildade, de docilidade e resignação, aceitando sua situação como desígnio divino, uma vez que a ordem social era por ele estabelecida”.
Da sua parte, o ultramontanismo pretendia, além das prerrogativas políticas e econômicas, enquadrar religiosamente o colono do interior do País, pouco afinado com as doutrinas da Igreja, procurando “instar um tempo sem magia”. Sendo assim, os scalabrinianos foram os designados para acompanhar o homem católico, desde a partida até sua instalação definitiva na sociedade hospedeira, isso dada a experiência acumulada por esses religiosos na missão junto ao imigrante. Na visão dos scalabrinianos, a religião seria um fator de patriotismo e de princípios civilizadores para os imigrantes em terras brasileiras. No entanto, como acontece em todos os processos de incursões missionárias, o agente não fica incólume na sociedade envolvente, não tardando muito para que esses religiosos percebecessem os fatores complicadores de sua missão. Havia inúmeras dificuldades em implantar o projeto de pastoral de imigrante: falta de padres, custo das viagens de religiosos, descontinuidade na formação de trabalhadores contratados. Padres ávidos por lucros, ostentadores, boêmios, apresentavam-se também como percalços na organização de uma pastoral alicerçada no ultramontanismo.
Os scalabrinianos, assim, tencionavam atuar junto ao imigrante italiano com maior independência possível do clero local, dada a influência que esse exercia junto às populações interioranas e por serem poucos afeitos às exigências de um catolicismo disciplinador. A religiosidade praticada em regiões distantes dos grandes centros, com a complacência dos padres, poderia colocar em risco o projeto educacional que pretendiam implantar. As divergências entre os scalabrinianos e padres das paróquias logo emergiram e são reveladoras dos embates internos no seio de um catolicismo que atuava numa sociedade que passava por profundas transformações, tanto na esfera política quanto na cultural. Em determinado momento da missão dos scalabrinianos no Brasil, mais precisamente no período em que o padre Cansoni esteve no País, a ordem foi aconselhada a assumir paróquias, onde o sustento seria mais viável. Isso porque a inquietude entre o clero nacional e o ultramontano estava se tornando visível, com os primeiros cada vez mais resistentes à presença da ordem em sua área de atuação, já que esta tinha a liberdade de acompanhar os imigrantes em qualquer paróquia, mesmo sem estar comprometida com ela.
Uma proposta de Domenico Vicentine, substituto de Scalabrini na condução da ordem, restringia a missão dos carlistas à formação de quadros para o serviço junto aos imigrantes, cabendo aos bispos das dioceses a administração da política pastoral ao imigrante. Na verdade, o clero nacional pretendia enquadrar os scalabrinianos nas estruturas das paróquias, impedindo assim que a missão junto aos imigrantes invadisse a jurisdição das dioceses, o que contrariava a intenção da ordem, que era a de agir sem necessariamente estar vinculado às estruturas eclesiais vigentes. Percebendo as dificuldades em atuar na jurisdição das paróquias, os scalabrinianos fundaram um orfanato cujo objetivo seria o de amparar crianças órfãs que vagavam pelas ruas (esquálidas, tristes, fracas e miseráveis), preparando-as para o trabalho e para serem “bons cidadãos” e “cidadãs”. Utilizando como recurso de convencimento o fato de o orfanato ser um espaço de formação de crianças desvalidas, moldando-as para o trabalho, os scalabrinianos obtiveram dos fazendeiros o apoio necessário para a implantação do projeto, conseqüentemente, da estruturação da ordem no País. Lembra o autor que os orfanatos constituíam-se através de uma mentalidade tridentina, fato que mais uma vez denota a tentativa de romanização do imigrante por meio da ação educacional.Ao saírem em missão para angariar fundos para o orfanato, os padres scalabrinianos batizavam, ouviam confissões, faziam casamentos, enfim, atrelavam a proposta educacional à estruturação da ordem, funcionando o orfanato como um ponto estabilizador das missões.
O autor destaca que os scalabrinianos foram acossados, no final do processo imigratório, em três frentes: na primeira, pela oligarquia, já que o imigrante não mais se apresentava como um investimento seguro; na segunda, pelos párocos locais, temerosos de perder a arrecadação junto aos poucos imigrantes que ainda entravam no país; na terceira, sofria a concorrência dos anarquistas e dos maçons. Nessas frentes de combate, a que mais merecia atenção por parte do clero romano era a política desencadeada pelos anarquistas juntos aos imigrantes.
A celeuma entre a ordem scalabriniana e grupos anarquistas, na atuação junto aos imigrantes, mereceu por parte do autor um capítulo à parte. De posse de um documento desses religiosos sobre o desaparecimento de uma das internas do orfanato, Donizeti de Souza rastreou em publicações anarquistas o mesmo assunto. Nas leituras dos periódicos, percebeu com perspicácia a disputa que se travava entre o movimento político anarquista e o movimento religioso católico ultramontano pelo controle do imigrante. Tencionando alcançar o monopólio do acompanhamento ao imigrante em diversas regiões do País, as duas partes procuravam atingir a imagem do outro perante a opinião pública e perante o Estado. Não foi intenção do autor apontar o desenlace da trama envolvendo a menina Idalina, personagem central da discórdia, o que certamente o faria enveredar para um texto novelesco, tão em moda na historiografia atual. Antes, sua atenção esteve voltada para a distinção dos elementos em conflito, fazendo de sua obra uma possibilidade de compreensão dos interesses de instituições nas formulações ideológicas de um período que ainda carece de novos estudos.
Resta apontar os complicadores das considerações de Donizeti de Souza, que são de duas ordens: a primeira diz respeito à afirmação de que a intenção dos scalabrinianos era a de constituir, nas pequenas cidades em ascensão, dada a presença do imigrante italiano, “pequenas itálias”; o segundo complicador desse texto bem articulado reside na afirmação do autor de que no projeto dos religiosos estava embutido um projeto “neocolonial”. Não estariam essas responsabilidades aquém das forças de uma ordem religiosa que não se configurava entre as mais influentes dentre o escopo missionário católico, tanto no Império quanto na Primeira República?
Para além desse pequeno deslize (se é possível considerar como tal uma afirmação que não compromete o texto), essa obra é um alerta para quem reduz aos liberais, à maçonaria e ao protestantismo a capacitação de indivíduos voltados para uma sociedade ordeira e laboriosa, quesitos básicos para a consolidação da República. Em se tratando de moralização de condutas, as intenções de protestantes, católicos e maçons não eram tão díspares quanto podem parecer numa análise estreita. Os ultramontanos buscavam com disposição instilar o rigor disciplinar entre os trabalhadores imigrantes tendo em vista a composição de uma nova ordem social, um tanto quanto ameaçada pelos ideais políticos anarquistas, dos quais os italianos não estavam distantes.
Notas
1 Temos em mente, quando sinalizamos para a rede de interdependências em processos de mudanças (ou de desenvolvimento), as concepções teóricas de Norbert Elias sobre transformações sociais no processo civilizador. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, vol. 1.
Vasni de Almeida – Doutorando em História-UNESP/Assis.
[IF]Rioting in America – GILIE (CSS)
GILIE, Paul A. Rioting in America. Bloomington: Indiana University Press, 1996. 248p. JAMES, Joy. Resisting State Violence: Radicalism, Gender and Race in U.S. Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. 280p. Resenha de: LEWIS, Magda. Canadian Social Studies, v.35, n.4, 2001.
I have thought a lot about the two books under examination in this short review: Rioting in America by Paul A. Gilje and Resisting State Violence by Joy James. I have read both of them more than once and have used them in my teaching in graduate courses in Cultural Studies. The critical frameworks by which both Gilje and James approach their topic, the first through a critical historical reading and the second by way of critical race and feminist theory, is essential to the understanding of the possibilities, as well a the impossibilities, of popular movements for social transformation. This is a timely question not only from a global perspective but in the local Canadian context as well.
Both texts are eminently readable and compelling. Although they have significantly different agendas and purposes, I found each text to be an interesting and important contribution toward an understanding of, what I have come to call, the globalization of the impotence of popular political action and what one might do about it.
Rioting in America is a studied and well researched history of popular political action in the United States from its beginnings as a British Colony to the 1990s. Although its attention is focused entirely on the history of the United States, offered sometimes in great detail, I find the book useful in a Canadian context. This is particularly so in regard to my current interest in understanding the dissonance between those who are popularly called the people and those who, as a result of apparently democratic processes, claim to govern on our behalf.
Rioting is not a political form that has a significant history in contemporary Canadian popular politics. For example, when, in the fall of 1996, Mike Harris’ Conservative government began its systematic dismantling of Ontario’s public education system in preparation for what he is hoping, still, to achieve through the privatization of large segments of it, almost 300,000 people, many of them teachers, many of whom voted for Harris, marched on the Ontario Legislature. I was there. Intriguingly, the positively carnivalesque atmosphere of the event, including beclowned entertainers, had the effect of masking the seriousness of the consequences to the public education system of the proposed legislation, Bill 160.
That same fall, there were protests in the streets of Paris for similar reasons: the colonizing forces of economic globalization fuelled by neo-conservative ideologies revealed in the bureaucratic dismantling of public schooling; the pricing out of range, for the children of the disappearing average family, of post secondary education; the undermining of the health care system; and the destruction of the social infrastructure that had heretofore provided at least minimum levels of subsistence for the most economically and socially disadvantaged.
As I reflect on that day of protest and recall a carefully paced walk along the lovely boulevard avenue that leads to the seat of government, where, having arrived, we settled in for a picnic while we heard carefully worded speeches delivered from platforms erected the day before (because this was a planned for event), and which Mike Harris never heard because he wasn’t there that day (equally planned for). Police in riot gear were discreetly out of sight.
That same month, over-turned cars burned in the streets of Paris. University students, my daughter among them, and some of their professors blockaded the university buildings, angry protestors marched with fists clenched and raised, and police in Darth Vadaresque riot gear, forming a human chain complete with one-way-view face shields, blocked every side street for the entire route of the protest. Unlike my day of protest, for these demonstrators, there was no way out. Yet, ironically at the end of the day, whether in Paris or in Toronto, we all quietly went home.
Gilje’s historical accounting within a well analyzed context calls me to think about popular movements: riots, revolutions, demonstrations. What compelled me about this book is the way it raised questions for me, about the effectiveness of popular movements at a time, when, not politics, but the hidden structures of the global economy, drive political decisions and possibilities. Rioting in America makes me question the implications of the dissonance between how individuals in democratically elected governments come to occupy their positions of power, on the one hand, and, on the other hand, how these individuals come to articulate their loyalties (most often, it seems, in these days of the Multilateral Agreement on Investments (MAI) and global conservatism, not always in the best interests of those who elected them).
In Canada, the peculiarities of Euro-American democratic processes are well demonstrated at the level of the everyday where the hegemony of conservatism, also known as corporate interest, at all levels of public institution, takes precedence over the interests of individuals who, nonetheless, believe themselves to be participating in democratic processes, apparently guaranteed by the vote. Given such a peculiar turn of democratic events, it seems that history has not yet decided at what gruesome cost the fragile gains of American democracy have come (Gilje, p. xi).
In this regard, Resisting State Violence, Joy James’ brilliant, engagingly autobiographical volume, is a perfect companion piece. Through a conceptual examination of the processes of racism and sexism, she uncovers the invisible underside of democracy, as we know it. The transformation of Euro-American democracy into state violence is thus revealed. Drawing on the personal/political engagement of the intellectual/activist, James accomplishes her stated agenda: to draw together, on the one hand, critique of, and on the other hand, confrontation with state violence (James, p. 4). For the former, she provides complex conceptual frames and, for the latter, she offers suggestions for and examples of practice.
As with Gilje, what I value in James’ work is the questions she moves me to ask and the conceptual tools she offers for exploration of these questions. Ultimately I ask, what are the possibilities and impossibilities, at the turn of the millennium, of popular movements aimed at effecting collective/state practices that support the best interests of the people, set against the logic of a democratic process dependant for its success, on the participation of an uninformed or partially informed population? And what are the implications of this for what we are able or allowed to do in schools, Academic Freedom notwithstanding.
For me, as an intellectual in present day Ontario, these are not academic questions even as they are pedagogical ones. How I resolve some sense of these questions will ultimately guide strategies not only for political participation but for what we do with students at all levels of the schooling enterprise. For helping me ask these questions I thank Gilje and James.
Magda Lewis – Associate Professor, Queen’s University. Kingston, Ontario.
[IF]O universo do indistinto: estado e sociedade nas Minas setecentistas (1735-1808) – SILVEIRA (VH)
SILVEIRA, Marco Antônio. O universo do indistinto: estado e sociedade nas Minas setecentistas (1735-1808). São Paulo: Hucitec, 1997. Resenha de: ROMEIRO, Adriana. Varia História, Belo Horizonte, v.16, n.22, p. 207-211, jan., 2000.
Muitos foram os autores que se debruçaram sobre os caracteres específicos do sociedade mineira do século XVIII, em busca dos processos e da dinâmica social responsáveis por uma feição tão peculiar. Como, por exemplo, explicar a fluidez e a instabilidade- características apontadas por Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Laura de Mello e Souza, entre outros – sem incorrer no lugar-comum ultrapassado de uma sociedade menos rígida e por isto mais democrática?
É neste domínio que se situa o livro “O universo do indistinto: estado e sociedade nas Minas setecentistas”, de autoria de Marco Antonio Silveira. A questão que o autor se propõe a responder é: de que modo os códigos e a simbologia da sociedade patrimonialista e estamental foram reinterpretados e reinventados no contexto da mineração e do aluvionismo social?
O pano de fundo do livro é o contexto europeu da segunda metade do século XVII, quando aparecem uma nova sensibilidade e uma nova sociabilidade, atrelado às transformações em curso do capitalismo industrial. Gestos e hábitos considerados até então como naturais e corriqueiros passam a ser execrados em nome das boas maneiras e do refinamento – cada vez mais necessários numa sociedade que se caracteriza pelo convívio prolongado, pelas relações de dependência entre os indivíduos. Toda uma nova ética do comportamento individual e social é construída em torno destes novos valores ditos civilizados. É por esta trilha, explorada por Norbert Elias, Peter Burke, Keith Thomas e Mikhail Bakhtine – este último, a partir de uma perspectiva muito diferente- que Marco Silveira se envereda para pensar a sociedade mineira do século XVIII. Mas, familiarizado com a já não tão mais recente historiografia sobre as relações entre cultura popular e cultura erudita na Europa da Época Moderna, ele formula o seu problema de forma diferente: como vislumbrar formas de contestação e resistência a estes modelos civilizadores forjados a partir das novas exigências do capitalismo industrial ? Como articular, teoricamente, o problema da releitura e da reinterpretação de significados e códigos culturais? O autor responde: ” em toda abordagem cotidiana do fim da época moderna devem-se considerar as inúmeras reconstruções de valores e comportamentos difundidos pela sociedade. Ao mesmo tempo em que os grupos dominantes buscavam distinguir-se, suas formas de distinção eram reprocessadas na vida cotidiana. O estudo da cultura desse período é, portanto, também o estudo do fundo comum capaz de fornecer lógica no interior de um processo caracterizado por heranças culturais diferentes e em constante movimento” (p. 40). Para fortalecer seu ponto de vista, recorre a Goethe e a defesa da virtude em oposição ao cerimonial empolado e artificial. Em fins do século XVIII, as primeiras lufadas do romantismo já anunciariam as fissuras deste processo civilizatório. É assim que as Minas vão encarnar, em sua análise, o lugar por excelência de resistência a este processo civilizatório, desafiando o aparato simbólico das sociedades estamentais do Antigo Regime.
É esta matriz teórica- que privilegia os embates e conflitos culturais em detrimento do conceito de mentalités- que fundamenta a empreitada do autor pelas Minas do século XVIII. Em que medida a feição peculiar e original da sociedade mineira aponta para uma reinvenção igualmente original dos códigos, valores e normas que pautavam a sociedade européia do Antigo Regime? Apresentada a estrutura teórica e metodológica da investigação, o autor persegue, no capítulo 2, “Império e civilização”, as evidências de que nos trópicos reinava a mais absoluta barbárie, em contraposição aos apelos insistentes da Coroa, preocupada em levar o verniz da polidez, da etiqueta e da civilidade aos confins do sertão, porque, segundo o autor, ser civilizado passou a significar “bom vassalo”. É isto que vai permitir ao autor detectar nas velhas e repetidas ladainhas sobre o bom vassalo o propósito determinado da Coroa em lustrar seus mais rústicos vassalos – e mais importante – proceder a uma leitura da refração aos códigos de bom-tom como o sinal inequívoco de uma aclimatação da sociabilidade refinada: corrupção, troca de favores, desvios morais e religiosos. Diante de quadro tão assustador, só resta ao reformismo setecentista formular a utopia de uma nova sociedade, assentada sob as bases da civilização.
No capítulo 3, As Minas cadávericas e os “habitantes do universo”, o autor detecta na crítica dos administradores, governadores, religiosos e viajantes sobre a natureza indómita das gentes das Minas uma preocupação com a rusticidade e a grosseria dos mineiros. A começar pela paisagem urbana irregular e tortuosa e dela passando à gente da capitania, espécie de “monstruosidade indómita”, avessa ao modelo do bom vassalo e ignorante dos princípios religiosos e políticos- cuja expressão mais brilhante é de autoria do Conde de Assumar. Contra este estado de coisas vai se bater o discurso reformista, propugnador de uma sociedade fundamentada sobre o espírito público e na reforma dos costumes e comportamentos.
A parte 11, As bocas deste mundo, divide-se em dois capítulos. No primeiro deles, “Aiuvionismo social”, o que está em jogo são os sistemas de valor que se debatem numa economia complexa como a das Minas setecentistas: diante de uma realidade adversa, a ética da honra e da palavra, próprios da sociedade estamental, sucumbem diante de uma outra ética, a do dinheiro e da circulação, mais apropriados a uma sociedade fluida e aluvionista. Aqui estamos diante de mais um daqueles rearranjos que se forjaram nas Minas, resultantes de uma adaptação, para a realidade da mineração, do universo normativo do Antigo Regime. No capítulo 2, “Escravidão como valor”, o autor desenvolve a tese de que as Minas teriam conhecido uma variante peculiar do escravismo moderno: “a própria experiência cotidiana, entretanto, criou também as condições para que a escravidão fosse vivida como um valor. Dessa forma, embora a fluidez e a mobilidade convidassem à desagregação final do espaço público, persistiam elementos morais capazes de conferir certa legitimidade ao mundo mineiro. Em meio às reconstruções diárias, os cativos e forros buscaram, muitas vezes. formas peculiares de ‘ascensão’, mediante alforrias, quartações, empréstimos, escritos e outros métodos aptos a simbolizar a identidade”(p. 185).
No capítulo 1, “Justiça e criminal idade” que compõe a parte 111, A outra legislação, é analisada a estrutura ineficiente, morosa e venal do aparelho de justiça, responsável pela criação de novos expedientes, capazes de funcionar como uma legislação paralela, mais imediata e eficaz. Novamente aqui, o autor retoma a tese da multiplicidade dos rearranjos cotidianos. No capítulo 2, “A vontade da distinção” o autor discute a obsessão pela honra e pela distinção numa sociedade fluida, flexível e aluvionista. De que modo a simbologia e a ritualística que no universo estratificado e estamental têm por objetivo conferir visibilidade aos lugares sociais poderiam funcionar aí ? O final do século XVIII foi marcado pela integração dos mulatos aos postos civis e militares, abrindo virtualmente a possibilidade de ascensão das demais camadas sociais, dominadas pelo desejo de distinção. Daí o paradoxo da dinâmica social nas Minas: se a distinção visava marcar os lugares sociais, numa sociedade caracterizada pela instabilidade e pela fluidez, a busca desenfreada pela fidalguia e pelos símbolos estamentários conduzia à indistinção e à banalização de tal simbologia.
Vazado numa linguagem elegante e fluente, o livro de Marco Antonio Silveira revela uma pesquisa documental rica e minuciosa, e aqui e ali afloram casos e histórias interessantes, que, nas mãos do autor, transformam-se em exemplos fulcrais da complexidade da dinâmica social das Minas setecentistas. Atento ao detalhe e ao particular, Silveira os interpreta à luz de suas preocupações teóricas, captando-os no contexto mais amplo do universo colonial.
Talvez seja este olhar voltado ao particular que compromete, em vários momentos, a clareza e o entendimento dos objetivos mais gerais perseguidos pelo autor. Mesmo a introdução, cuja finalidade é introduzir o tema de estudo, falha ao restringir-se a uma discussão metodológica pouco relevante, que bem poderia ser substituída por uma apresentação da natureza das questões a serem desenvolvidas ao longo do livro. Além disso, os capítulos não evidenciam de forma explícita a unidade e a coerência dos temas nele analisados, parecendo muitas vezes pouco amarrados entre si. Fica por explicar a escolha dos temas da escravidão e da justiça para enfocar a natureza da sociedade mineira. Por que estes e não outros ? Por outro lado, alguns pressupostos teóricos não convencem totalmente: refiro-me à tese de que a Coroa portuguesa teria tentado implantar nos trópicos uma sociabilidade marcada pelo refinamento e pela polidez, identificando nela o ideal do bom vassalo. Se é inegável que um topos recorrente na documentação relativa às Minas é precisamente a condenação do mineiro, visto como sinônimo de rebelde e indômito, resta, no entanto, problematizar até que ponto tal topos não se constituiu numa peça de retórica, manipulada pelas autoridades administrativas segundo interesses bastante definidos. Ademais, raramente a estigmatização do mineiro como mau vassalo parece ter uma relação direta com a sua impermeabilidade às normas de civilidade e boas maneiras. Vale indagar até que ponto é legítimo afirmar que fazia parte do projeto político da Coroa portuguesa aplicar o verniz da civilidade nos seus colonos rústicos incrustados nos sertões do Novo Mundo. Que políticas o Estado português implantou na capitania com o objetivo de civilizar seus vassalos?
Cumpre notar que, ainda que o autor esteja atento para o fato de que a troca de favores, o tráfico de influência, o apadrinhamento e mesmo o desvio de dinheiro fossem práticas aceitas e correntes nas sociedades do Antigo Regime, em várias passagens do texto ele parece tender a considerá-las como exemplos de corrupção.
Um outro ponto a ser destacado diz respeito às fontes teóricas do autor. Eclético, ele se inspira em Thompson, Stuart Clark, Carlo Ginzburg, Norbert Elias, Huizinga, Peter Burke, Keith Thomas, entre outros, para pensar os mecanismos de distinção social em Minas. Na verdade, a estrutura teórica do trabalho é mais condizente com uma abordagem cultural do que uma abordagem da mecânica social – à exceção de Thompson e Elias, este último aliás incorporado sem uma crítica consistente de suas posições evolucionistas. E o problema a ser enfrentado é ainda o da dinâmica específica de uma economia mineradora no contexto colonial, pois não se trata aqui de pensar numa resistência concebida como reinvenção e reinterpretação. Cabe notar, além disso, que esta imagem de uma outra sociedade, em tudo diferente à européia, mais sensível ao dinheiro que à honra, foi amplamente manipulada tanto pela Coroa quanto pelas próprias autoridades locais.
Finalmente, podemos indagar se este padrão estamental, civilizador e ordenado, instaurador de uma nova sensibilidade, não teria desencadeado também na Europa da Época moderna as suas próprias reinterpretações, à luz de outros valores culturais, obrigando-nos a relativizar a força do modelo e por consequência a originalidade do mundo construído nas Minas …
Adriana Romeiro – Departamento de História/UFMG.
[DR]
Estado e Agricultura no Brasil | Wenceslau Gonçalves Neto
Resenhista
Barsanufo Gomides Borges – Doutor em História Econômica pela USP e Professor Titular do Programa de Mestrado em História das Sociedades Agrárias da Universidade Federal de Goiás.
Referências desta Resenha
NETO, Wenceslau Gonçalves. Estado e Agricultura no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1997. Resenha de: BORGES, Barsanufo Gomides. História Revista. Goiânia, v.3, n.1-2, p.131-137, jan./dez.1998. Acesso apenas pelo link original [DR]
O universo indistinto: Estado e sociedade nas Minas setecentistas (1735-1808) | Marco Silveira Antônio
Resenhista
Ramir Curado – Mestrando do Programa de Mestrado em História das Sociedades Agrárias da Universidade Federal de Goiás.
Referências desta Resenha
SILVEIRA, Marco Antônio. O universo indistinto: Estado e sociedade nas Minas setecentistas (1735-1808). São Paulo: Hucitec, 1997. Resenha de: CURADO, Ramir. História Revista. Goiânia, v.3, n.1-2, p. 139-142, jan./dez.1998. Acesso apenas pelo link original [DR]