Posts com a Tag ‘Democracia’
Las nuevas caras de la derecha | Enzo Traverso
Enzo Traverso | Foto: ULF Andersen/Gamma-Rapho/Getty/O Globo
O que me levou a ler o livro de Enzo Traverso não foi apenas o título referente a esse dossiê de resenhas sobre “novas direitas”. O fato de ele ser um dos poucos historiadores de ofício a estudarem o fenômeno e de fazê-lo com ferramentas típicas de historiador – a categoria “regimes de historicidade” – foi o que pesou na escolha. Las nuevas caras de la derecha (2021) é a tradução argentina de Les nouveaux visages du fascisme (2017). O título em francês retrata com maior fidelidade o conteúdo desse livro do historiador italiano, atuante na Holanda, França e nos Estados Unidos da América (EUA): a narrativa do processo de transição do fascismo ao pós-fascismo, vivenciada por europeus e estadunidenses nos últimos vinte ou trinta anos, e comunicada imediatamente após atentados terroristas na França, como o massacre do Charlie Hebdo.

Na tipologia, curiosamente, Traverso o reintegra como categoria, quando afirma que o populismo argentino e peronista (nacionalista, messiânico, carismático, autoritário e idealizador do povo) difere dos “populismos reacionários” estadunidense (D. Trump) e francês (M. Le Pen e E. Macron). O primeiro distribui riqueza entre os pobres e os insere no sistema democrático. Os segundos são orientados pela entrega da nação “las fuerzas impersonales del mercado”. (p.21). O primeiro, acrescentamos, foi gestado no imediato pós-guerra em mundo bipolar. O segundo, reitera o autor, foi gestado na “era da globalização neoliberal”. O primeiro, por fim (como vários movimentos políticos do século XIX), pode continuar a ser designado “populismo”. O segundo, entretanto, deve ser tipificado como “pós-fascismo”.
O primeiro capítulo do livro – “¿Del fascismo al posfascismo” – é dedicado à definição dessa nova categoria. O que vemos nas duas primeiras décadas do século XX, segundo Traverso, não é um resíduo nem um prolongamento do fascismo, ou seja, não é o caso de se falar em “neofascismo”. Os fascismos clássicos (italiano ou alemão) eram antidemocráticos e os pós-fascismos (ao menos o de Le Pen) querem “transformar el sistema desde dentro” (p.27). Os fascismos clássicos eram estatistas, imperialistas e queriam criar uma “terceira via entre liberalismo e comunismo” e os pós-fascismos (ao menos o de Trump) são neoliberais. Os fascismos clássicos possuíam uma visão de mundo e um “modelo alternativo de sociedade”, enquanto os pós-fascismos (o de Trump é, novamente o exemplo) não tem programa ou se reduz a um “Make America Great Again”. Os fascismos clássicos estavam fundamentados em uma “ideologia forte” e o pós-fascismo, exemplificado por Macron, significa o “grau zero de ideologia”.
Com as sucessivas comparações, somos levados a definir o pós-fascismo a partir de traços ideológicos na esfera política, econômica e social: combate à democracia, defesa do livre mercado, ausência de projeto societário e de ideologia forte. Traverso, contudo, acrescenta uma marca diacrítica fundamental: “Lo que caracteriza al posfascismo es un régimen de historicidade específico – el comiezo del siglo XXI – que explica su contenido ideológico fluctuante, inestable, a menudo contradictorio, en el cual se mezclan filosofias políticas antinómicas.” (p.26).
A oralidade que marca o texto e a interrupção do entrevistador, provavelmente, o impede de detalhar esse novo “regime de historicidade”. Tomando como base o seu livro anterior (citado pelo apresentador, Régis Meyran), somos induzidos a compreendê-lo como um tempo sem futuro (horizonte de expectativas), algo que explicaria, inclusive, o caráter instável e contraditório das ideologias e as recorrentes antinomias em termos de “filosofia política” no interior dos movimentos e partidos. Esse auxílio, contudo, é insuficiente para relevar as contradições do próprio Traverso nas definições de pós-fascismos por meio de exemplos.
Afinal, se as antinomias são o caráter dos movimentos pós-fascistas, poderíamos rotulá-los como antidemocráticos? Se os fascismos italiano e alemão reuniam “corrientes diferentes, desde las vanguardias futuristas hasta los neoconservadores, de los militaristas más belicosos a los pacifistas muniquenses etc.” as antinomias deveriam continuar traço diferenciador dos movimentos e partidos do século XXI? Se as categorias “horizonte de expectativa” e “espaço de experiência” estão fundadas na ideia de continuidade passado/presente/futuro, porque afirmar peremptoriamente que as novas direitas do século XXI, exemplificadas na figura de Trump, não representariam uma continuidade histórica e nem uma herança com o fascismo histórico (mesmo que o sujeito citado não as reivindicasse conscientemente)?
O segundo capítulo – “Políticas identitarias” – expressa concepções de Traverso sobre o emprego da categoria “identidade”, acompanhada de suas críticas aos discursos identitários difundidos, principalmente, pela Frente Nacional (FN) e o “Partido de Indígenas de la República” (PIR). Sua ideia de identidade é remetida (entre outros referenciais) a P. Ricoeur – que lhe inspira na caracterização das identidades veiculadas pelos partidos de esquerda (ipseidade – identidade histórica) e de direita (mesmidade – identidade essencial). Em termos abstratos, Traverso elogia as políticas identitárias de esquerda que reivindicam o “reconhecimento”, ao passo que as de direita reivindicam a “exclusão”.
A esquerda radical (Traverso lamenta) nunca soube conciliar diferentes pautas identitárias, pondo o fator econômico (a classe) acima das identidades de raça, gênero e religião. Nesse sentido (ainda que de modo irônico, para Traverso), a nova direita representada pela FN, por exemplo, é mais eficiente, pois associa a defesa dos “blancos humildes”, manifestando, assim, a sua simpatia pela categoria interseccionalidade. Quanto às críticas às políticas de direita, estas não são nada genéricas. O laicismo, as identidades nacionais e étnicas difundidos pela FN são reacionárias (defensivas), ilógicas, antieconômicas e antissociais.
A melhor parte da discussão entabulada por Traverso, nesse capítulo segundo, está nas razões que ele aponta para esse reacionarismo. As políticas identitárias das novas direitas (que geram a exclusão de migrantes), o laicismo autoritário de Estado (que negam a cidadania plena aos ex-colonizados e que prometem o retorno à Europa anterior ao Euro) são produtos da própria República e do Colonialismo. Assim, não se pode acusar a FN de antirrepublicana, posto que as exclusões do tipo fazem parte da história da República francesa recente. Nesse trecho, quase que ouvimos Traverso declarar que não há (não houve) um germe ultradireitista. Foi a própria serpente (a República francesa) que pariu os identitarismos excludentes dos novos reacionarismos.
Aqui, vemos como o autor põe grupos de esquerda e de direita sob o mesmo solo – que gera as mesmas distorções. Ele avança ainda mais na indicação de semelhanças quando afirma que as “direitas radicais”, os “expoentes liberais e conservadores” não mais buscam “legitimar uma política” por meio da “ideologia”, que “se improvisa a posteriori”. Chega a empregar a expressão “pós-moderna” para tipificar esse traço do nosso tempo. Mesmo que esteja entre aspas, essa expressão não cabe na passagem.
Se ele admite a legitimidade política não ideológica como consequência de uma relação pós-moderna dos humanos com o tempo, as continuidades de ideias e práticas das novas direitas com as ideias e práticas de direitas do século XIX e XX não mais se sustentam. Se, ao contrário, ele reitera a interpretação das novas direitas dentro dos quadros de um novo regime de historicidade, a condição “pós-moderna” não faz nenhum sentido no seu texto.
Além desse deslise teórico, Traverso revela um misto de idealismo em relação à ideia de partido político, em prejuízo, inclusive da sua abordagem historicista (realista) sobre as novas direitas. A vida partidária, mesmo em tempo anterior ao século XXI, é marcada por estratégias de sobrevivência que resultam em diferentes comportamentos, desde a manutenção de um programa, passando pela captura dos eleitores, até a manutenção do poder, quando à frente do Executivo.
No terceiro capítulo do livro – “Antissemitismo e islamofobia” –, as questões identitárias ganham ainda maior espaço. O entrevistador parece determinado a extrair de Traverso uma crítica às definições dos termos em pauta e uma comparação entre os dois fenômenos, tomando-os em seus elementos aparentemente similares: o antissemitismo na primeira metade do século XX e a islamofobia no início do século XXI. O autor resiste várias vezes a compreendê-los como fenômenos simétricos e, implicitamente, a considerá-los “ideologias”. É certo, julga ele , que as afinidades existem: para os antissemitas dos anos 30 do século passado, judeus e bolchevistas eram um “outro” ameaçador, enquanto para os islamofóbicos, os mulçumanos e os terroristas islâmicos são um novo outro inimigo; o antissemitismo estruturava os ideais nacionalistas do início do século XX, enquanto a islamofobia estrutura os nacionalismos europeus do início do século XXI.
Essas similitudes, contudo, são menos expressivas quando observadas caso a caso, com destaque para a experiência francesa. Para Traverso, a “judeofobia” é combatida pelo Estado francês que, por sua vez, legitima a islamofobia. Os judeus estão integrados econômica, social e culturalmente, enquanto africanos e asiáticos e seus descendentes, mesmo nascidos na França, experimentam uma cidadania de segunda categoria. Nos anos 60 do século passado, ao lado dos negros, judeus marcharam em luta contra o racismo e pelos direitos civis. Hoje, organizações civis que congregam judeus confundem o Estado de Israel e comunidade judaica, oprimindo palestinos em suas próprias terras: “La memoria del Holocausto se há convertido en una religión civil republicana, en tanto que la memoria de los crímenes coloniales sigue negada o acallada, como en el caso de las controvertidas leyes de 2005 sobre el ‘papel positivo’ de la colonización.” (p.88). A emergência da islamofobia contemporânea, conclui o autor, não pode ser reduzida ao racismo clássico dos séculos XIX e XX ou ao fator imigração. O colonialismo entranhado na República é o que explica (na certeira expressão de Meyran) o “racismo de pobre” em vigor na França.
Observem que não apresentei nenhum senão ao capítulo terceiro e o mesmo ocorre com o quarto capítulo – “¿Islamismo radical o islomofascismo? El Estado Islãmico a la luz de la historia del fascismo”. Nele, novamente, Meyran tenta extrair de Traverso uma posição sobre a potência heurística da categoria (“islamofascismo”) e, consequentemente, sobre a validade de tipificar o Estado Islâmico (EI) com expressão do fascismo. Ele rechaça a proposição, embora reconheça semelhanças entre os fascismos italiano, alemão e francês e as ações do EI.
Elas estariam principalmente, nos contextos de emergência do primeiro e do segundo fenômeno (desestabilização da Europa pós Primeira Guerra Mundial e desestabilização de países árabes pós invasões soviéticas, estadunidenses e europeias no Iraque e Afeganistão, por exemplo) e no caráter conservador das suas revoluções (o emprego da tecnologia para propagandear uma sociedade “obscurantista”, baseada em um “passado imaginário”. As diferenças, contudo, superam as similaridades mais gerais, quando, segundo Traverso, o analista aborda os fenômenos diacronicamente e em suas particularidades.
hemos visto surgir fascismos en América Latina, es decir, fuera de Europa: ahora bien, estos se instalaron en el poder gracias al apoyo de los imperialismos, las grandes potencias. En Chile, uno de los peores regímenes fascistas latinoamericanos se instaló mediante un golpe de Estado organizado por la CIA. […] La fuerza del EI, al contrario, radica en el hecho de mostrarse ante los ojos de muchos musulmanes como un movimiento de lucha contra el Occidente opresor. Eso vuelve problemático definir este movimiento como fascista.

Henry Kissinger e Augusto Pinochet (1976) | Imagem: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile/Wikipédia
Fascismo é conceito histórico, não devendo ser usado como categoria analítica. Totalitarismo (de H. Arendt) é categoria analítica adequada ao exame do EI, mas limitada à sua natureza abstrata (de categoria), a exemplo da categoria nacionalismo. O nacionalismo fascista é cimentado pelo “culto ao sangue” (Itália) e “culto ao solo” (Alemanha) e o nacionalismo do EI é “universalista”; o fascismo (categoria ou conceito histórico?) do Chile foi apoiado pelo imperialismo estadunidense que combate agora as ações do EI; o fascismo da Itália e da Alemanha emergem como alternativa à democracia liberal, enquanto o EI emerge em território que nunca praticou a democracia; o fascismo da Itália e da Alemanha eram anticomunistas enquanto o EI nunca encontrou a resistência de “uma esquerda radical”.
Ao listar meia dezena de razões para não tipificar o EI como fascista, Traverso demonstra os perigos das conclusões sobre causas e consequências de fenômenos históricos com base apenas no emprego de categorias (sobre todo os tipos ideais). Ideologias são apenas uma variável. Não é a religião que explica o EI: “hay que estudiar l la relacion que existe entre Marx, el marxismo, la Revolución Rusa y el estalinismo […] resulta evidente que el EI no es la revelación del islan ni la única expresión posible del islam, pero si uma de sus expresiones […] la Inquisición no es la única expresión posible del cristianismo, !también existe la teologia de la Liberación”. (p.92) Traverso, por fim, deixa implícito que quando cientistas sociais e historiadores tomam a ideologia como causa eles enviesam os resultados. Quando estrategistas e políticos agem dessa forma, o prejuízo é em escala. Eles criam “espantalhos”, omitem o assentimento popular ao EI, o financiamento ocidental ao EI, a contribuição ocidental midiática à banalização da violência (adotada pelo EI), a instrumentalização das ideias de direitos humanos, liberalismo e democracia para exterminar os movimentos emancipatórios de povos africanos e asiáticos.
Nas conclusões do livro – “Imaginario político y surgimento del posfascismo” –, mais uma vez, o leitor perceberá a tensão entre o reiterar de uma tese (a falência das utopias do século XX, a exemplo do comunismo e do fascismo, dá vasão às investidas pós-fascistas, encarnadas pelas novas direitas e o terrorismo islâmico), a instabilidade da aplicação dos conceitos (o “modelo antropológico do neoliberalismo”, também referido como “idolatria do mercado”, é ou não uma ideologia dos últimos 20 anos?) e a atribuição de valor na causação das novas direitas (a extinção das ideologias do século XX, a precariedade socioeconômica de grandes segmentos populacionais, na Europa, Ásia e África ou os dois condicionantes simultaneamente?).
Da mesma forma, ainda na conclusão, Traverso consolidará, sinteticamente, as principais ideias que se propôs a defender durante a entrevista: 1. Novas direitas (ou direitas radicais) e islamismos não são fascistas; 2. Novas direitas e islamismos são “sucedâneos” reacionários (passadistas e xenófobos) das utopias do século XX; 3. Movimentos sociais e partidos políticos de esquerda (com suas iniciativas, ironicamente, dispersas em um mundo globalizado) não são capazes, no curto prazo, de preencher esse vazio utópico; 4. “Religiões cívicas” como o republicanismo francês pós massacre Charlie Ebdo e memorialismo anti-holocausto, respectivamente, acrítico e vitimista, são incompetentes como freios às novas direitas. Sua percepção de futuro, contudo, é otimista: “no hay inexorabilidade alguna. Pueden myy biente aparecer en cualquer momento mentes creadoras, dotadas de una poderosa imaginación, y proponer una alternativa, outro modelo de sociedad.” (p.116).
No início desta resenha, anunciei a razão da minha escolha: queria observar o que caracterizaria o trabalho de um historiador de formação e ofício que estuda o fenômeno das “novas direitas”. A resposta serve como avaliação geral do livro. Em Las nuevas caras de la derecha o noviço de história é beneficiado, talvez, pelo gênero textual (marcado pelos diálogos entre Meyran e Traverso) que elimina a organização lógica de um texto e (se o noviço aceita participar como observador) em benefício da liberdade de suspender a leitura e refletir sobre o lido sem perder o fio da meada (já que as questões ou temas se encerram ao final de uma ou duas intervenções do entrevistador).
Esse expediente possibilita a percepção das várias tensões que atravessam o livro e que ensinam de modo mais realista como trabalha um historiador que se ocupa do referido tema, obviamente, aos que estão predispostos a aprender: a tensão sobre as escolhas de variáveis para a comparação (sobre o que serve e o que não serve para fazer analogias, se mais as semelhanças, se mais as diferenças) e as justificativas políticas empregadas para fazê-lo; a tensão sobre a adequabilidade e a eficácia do emprego do conceito histórico e da categoria analítica; a tensão da escolha entre se comportar como historiador tipicamente historicista (examinando múltiplas variáveis e construindo contextos prováveis a partir de múltiplos pontos de vista) e um cientista social (empregando modelos/tipos e fazendo generalizações sobre sujeitos concretos a partir de categorias/abstrações); a tensão de perceber a oportunidade para problematizar uma situação concreta, mediante antinomias ou explicações unilaterais, e de encontrar o melhor momento para reiterar a sua tese sobre os estados de coisas nos quais estamos envolvidos no início do século XXI (Estado Islâmico, Trump, Le Pen): fenômenos pós-fascistas resultam do fracasso das revoluções do século XX e da crise do capitalismo como fornecedores de horizontes de expectativas para populações alijadas da globalização e vitimadas pelo colonialismo.
Sumário de Las nuevas caras de la drecha
- Prefacio a la edición castellana
- 1. Prólogo
- 2. ¿Del fascismo al posfascismo
- 3. Políticas identitarias
- 4. Antisemitismo e islamofobia
- 5. ¿Islamismo radical o “islamofascismo”? El Estado Islámico a la luz
- de la historia del fascismo
- Conclusión. Imaginario político y surgimiento del posfascismo
- Sobre el autor
Para citar esta resenha
TRAVERSO, Enzo. Las nuevas caras de la drecha. Buenos Aires: Titivillus, 2021. 234p. Resenha de: FREITAS, Itamar. As recentes direitas de um historiador. Crítica Historiográfica. Natal, v.2, n. esp. (Novas Direitas em discussão), ago. 2022. Disponível em <https://www.criticahistoriografica.com.br/3237/>.
El Uruguay en transición (1981-1985). El sinuoso camino hacia la democracia | Carlos Demasi
El tramo final de la dictadura civil militar y el proceso de transición a la democracia acumulan un buen número de obras, inclusive algunas que surgieron en su propia contemporaneidad. Entre los diversos trabajos existentes hay aportes que provienen desde la historia hasta la ciencia política, junto con las miradas que emergen de testimonial. En este marco, el libro escrito por Carlos Demasi supone un aporte valioso, tanto por realizar un enfoque novedoso sobre ese proceso histórico que desembocó en el retorno al régimen constitucional en 1985, como por explicitar tensiones y discusiones con algunas de las miradas existentes sobre el tema. Leia Mais
Revolución/ democracia y paz. Trayectorias de los derechos humanos en Colombia (1973-1985) | Jorge González Jácome
Jorge González Jácome | Imagem: Universidad de los Andes
El libro de Jorge González Jácome es una bocanada de aire fresco para el estudio de los derechos humanos en Colombia. Recogiendo algunas de las hipótesis esbozadas en los trabajos de norteamericanos como Samuel Moyn1 y Patrick William Kelly2 —historiadores que recientemente han abierto nuevos caminos en la historia de los derechos humanos gracias a innovadores análisis sobre su surgimiento—, Jorge González se acerca a la especificidad del caso colombiano en medio de una plétora de trabajos dedicados a estudiar el Cono Sur y ante la ausencia de trabajos recientes que reflexionen directamente sobre la trayectoria de los derechos humanos como proyecto en nuestro país. A través de cuatro capítulos, uno introductorio y tres divididos por temporalidad y énfasis temático, González Jácome rastrea la manera en que el lenguaje y las ideas asociadas a los derechos humanos fueron apropiadas por el Estado y militantes de izquierda en un periodo que inicia en 1973 con la fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y termina en 1985 con la toma al Palacio de Justicia. Leia Mais
Comparing Transitions to Democracy. Law and Justice in South America and Europe | Cristiano Paixão e Massimo Mecarelli
Ce livre collectif, réunissant quatorze auteurs sous la direction de Cristiano Paixão et Massimo Meccarelli est une contribution innovante à l’étude des transitions démocratiques du XXe siècle en Amérique du Sud, en Espagne, au Portugal et en Italie étudiées sous l’angle de l’histoire du droit, plus particulièrement de l’histoire de la justice dans les périodes de sortie de la dictature et de la difficile reconnaissance des crimes commis avant le processus démocratique. En rappelant le combat récent des familles de victimes pour retrouver les corps de leurs parents disparus et le poster du président Bolsonaro (quand il était membre du Congrès) affirmant que « seuls les chiens recherchaient des os », ce livre montre, s’il en était besoin, combien est vive, chez tous ceux qui ont perdu un être cher dans les crimes des dictatures du XXe siècle, la mémoire de ces tragiques événements et la volonté de connaître la vérité, sinon de voir punis les responsables de ces atrocités. En donnant des évaluations précises du nombre des victimes, de celui (beaucoup plus faible) des actions intentées et de celles (encore moins nombreuses) ayant abouti à des condamnations, en décrivant les obstacles rencontrés par les victimes et leurs familles face aux lois d’amnistie et aux politiques fondées sur l’oubli, cet ouvrage est un salutaire rappel pour les lecteurs du monde entier sur la persistance des crimes contre l’humanité et sur leur poids dans la psychologie de millions de personnes à travers tous les continents.
Au-delà de l’émotion que peuvent ressentir les lecteurs, même ceux bien informés de ces questions dans leur pays, mais ayant eu rarement accès à une étude comparative de cette ampleur, ce livre est un très bel exemple d’histoire du droit à l’époque contemporaine, ou si l’on préfère de l’histoire du temps présent. Dans beaucoup de pays, la discipline de l’histoire du droit s’est d’abord développée pour étudier les traditions nationales, qu’elles remontent à l’Antiquité, au Moyen Âge ou aux Temps modernes. Il a fallu, au cours de ces dernières décennies, des engagements individuels et collectifs de quelques spécialistes de l’histoire du droit pour que l’étude du XIXe , puis du XXe siècle, devienne un objet de recherches et d’enseignements à part entière. Sur la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, il a été longtemps objecté que le recul manquait pour apprécier des événements dont les chercheurs avaient pu être des contemporains, du moins dans leur jeunesse. Depuis longtemps cette objection, qui par nature s’affaiblit d’année en année, a été réfutée par les historiens généralistes qui traitent de la seconde moitié du XXe siècle, qu’il s’agisse de l’établissement des régimes démocratiques en Europe après 1945, de la guerre froide, de la décolonisation ou de la fin de l’URSS. Il n’y a aucune raison pour qu’il en aille différemment pour l’histoire du droit : de la part d’auteurs qui sont pour la plupart séparés des événements analysés par l’espace d’une ou deux générations et qui s’efforcent à l’objectivité en travaillant sur les archives et les discours des acteurs de cette histoire contemporaine, l’on peut trouver la même « objectivité » que chez les historiens étudiant des périodes plus anciennes avec un vocabulaire et un regard qui eux sont nécessairement contemporains. De plus, le sujet traité dans ce livre concerne au plus haut point l’histoire du droit : il s’agit d’analyser le contenu et la portée de textes constitutionnels, de lois (particulièrement de lois d’amnistie), de jugements, de prises de position doctrinales qui constituent autant de pièces de dossiers pouvant être vérifiés ou discutés (« falsifiables » selon le vocabulaire de Popper). Leia Mais
La Repubblica di Weimar: democrazia e modernità | Chritoph Cornelissen
Stretta fra la fine della Prima guerra mondiale (1918) e l’avvento del nazismo (1933), la Repubblica di Weimar viene spesso associata nell’immaginario comune a un fallimento: violenza politica, crisi economica e inflazione galoppante, instabilità nella guida dei governi e debolezza del parlamento sono alcuni degli elementi che l’avrebbero condannata all’insuccesso. Un insuccesso talmente bruciante che avrebbe portato la nuova Repubblica federale tedesca, nata dopo la fine della seconda guerra mondiale, a smarcarsi il più possibile dall’esperienza di Weimar, sostenendo che il nuovo assetto istituzionale sarebbe stato di tutt’altra pasta. Soprattutto quando, come in questo caso, le convinzioni sono così consolidate, una rinnovata attenzione storiografica può essere opportuna. Il volume curato da Christoph Cornelissen e da Gabriele D’Ottavio nasce da un convegno tenutosi nel 2019 a Trento e si propone, nel centenario della fondazione della Repubblica di Weimar, di riprendere alcuni argomenti grazie a degli articoli firmati da studiosi e studiose di entrambe le aree culturali (i saggi scritti in origine in tedesco sono stati tradotti da Enzo Morandi). Più esattamente, vengono proposte delle coppie di temi (Costituzione e rivoluzione, società postbellica e cultura politica, crisi economica e crisi sociale, aspirazioni individuali e diritti collettivi, dimensione globale e prospettiva europea, eredità e attualità) che danno forma alla struttura del libro e separano per coppie i dodici saggi presenti.
Christoph Cornelissen insegna Storia contemporanea presso l’Università di Francoforte sul Meno e dal 2017 è il direttore dell’Istituto storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento, l’istituto che ha organizzato insieme ad altri e ha ospitato il convegno sul centenario di Weimar. Gabriele D’Ottavio lavora come ricercatore di storia contemporanea presso l’università di Trento, oltre a essere affiliated fellow presso lo stesso Istituto italo-germanico. Leia Mais
Diario de una temporada en el Quinto Piso | Juan Carlos Torre
La publicación de un libro de Memorias de un hombre público abre siempre una puerta a los laberintos del Estado. El libro de Torre asoma a las dificultades que presupuso la conducción económica al nacer la democracia argentina en la década de 1980. Libro de recuerdos, evocador de sentimientos pero también reflexión sociológica sobre los mismos hechos que narra como miembro del equipo del ministro Juan Vital Sourrouille. El autor advierte que la “democracia formal” implicaba un giro trascendental en la forma de entender el Estado, más lejos de Leviathán y más cerca del consenso. La democratización implicaba reconocer que la ley requería deliberación, confrontación y que la política económica era uno de los temas centrales en debate. Leia Mais
A sociedade da decepção | Gilles Ipovetsky
Gilles Ipovetsky | Foto: Fronteiras do Penamento
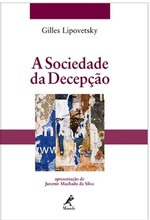
O autor toca uma atmosfera de suspeição da onda atual e de rejeição ao assumido discurso estático sobre alienação e controle programado da existência pelo capitalismo, em vista das dúvidas, ansiedades e incertezas de uma “realidade plural, multidimensional, mas dificilmente vivida (inclusive pelos antagonistas declarados da modernidade), como se fosse um inferno absoluto. Sem dúvida, nosso universo social contém elementos que podem induzir-nos ao otimismo e ao pessimismo” (LIPOVETSKY, 2017, p. 3). Leia Mais
La Transición española y sus relaciones con el exterior | Mónica Fernández Amador e RAfael Quirosa-Cheyrouze Muñoz
Si tuviera que definirse este trabajo con sólo una palabra, esta sería necesario. Se trata de un estudio que muestra la realidad del periodo histórico denominado transición a la democracia española, y que además presenta la realidad de esta etapa vista desde la perspectiva internacional, analizando para ello diferentes aspectos que permiten extrapolar a un contexto más amplio del habitual lo acaecido entre 1976-1983 en España.
La obra coordinada por Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz reúne, tras el texto escrito por ambos y utilizado como investigación introductoria, doce capítulos firmados por investigadores, historiadores de prestigio y personalidades reconocidas vinculadas por su profesión con el proceso democratizador en España. La mayor parte de los investigadores pertenecen a universidades españolas, pero a sus aportaciones se unen los trabajos de miembros de instituciones homólogas de países como Alemania, Francia o Portugal. Todos ellos con amplia y especializada trayectoria en publicaciones históricas y en el campo de la Historia del Tiempo Presente. Leia Mais
Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina | Flávia Biroli, Juan Marco Vaggione e Maria das Dores Campos Machado
Na América Latina, a década de 2010 foi marcada pela queda do que se convencionou chamar de “onda vermelha”. Fosse por meio de golpes ou eleições, essas mudanças levaram à instabilidade política e ao acentuado crescimento do conservadorismo religioso e do neoliberalismo no continente latino-americano. O resultado mais visível da chegada desse segmento das direitas ao poder vem sendo demonstrado pelo desprezo às políticas de direitos humanos e aos acordos internacionais de garantia de direitos sexuais e reprodutivos. Dessa forma, para sua autoafirmação diante de outras frações do conservadorismo, tais movimentos transformam seus adversários políticos em inimigos, agindo de modo violento contra movimentos feministas e LGBTQI.
É partindo desses pontos que a obra “Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina”, de Flávia Biroli, Maria das Dores Campos Machado e Juan Marco Vaggione, traz as seguintes questões: qual (is) é (são) a(s) novidade(s) desses atuais ataques à agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual? Como esses atores conservadores, sobretudo religiosos, incidem sobre as democracias da região? Quais as consequências do uso do gênero dentro das disputas políticas? E quais são os efeitos da polarização em um contexto de erosão das democracias? Leia Mais
…como se fosse um deles: almirante Aragão – Memórias, silêncios e ressentimentos em tempos de ditadura e democracia
Obra de cunho histórico-biográfico, publicada no ano de 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, na categoria biografia, em 2018. Seu autor, Anderson da Silva Almeida, sergipano, marinheiro entre os anos de 1996 e 1999, e sargento fuzileiro naval de 1999 a 2010, quando deixou as fileiras da Marinha do Brasil, é hoje professor na Universidade Federal de Alagoas.
Resultado de sua pesquisa de doutorado, cuja Tese foi defendida em 2014, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), o livro é uma contribuição no sentido de, em um quadro atual de franca disputa de memórias em torno de fatos e contextos históricos que tocam o passado ditatorial recente do Brasil, reconstruir a trajetória do vice-almirante fuzileiro naval Cândido da Costa Aragão, sobretudo a partir de seu ingresso como soldado nas fileiras da Marinha do Brasil, com ênfase nos contextos em que esteve inserido desde os anos iniciais da década de 1960, passando pela associação de marinheiros e fuzileiros navais e o golpe civil-militar em 1964, até seu regresso do exílio, no ano de 1979. Leia Mais
Botas militares para salvar la democracia: miradas a las acciones de pacificación en la gobernación de Caldas 1953- 1964 | Jhon Jaime Correa Ramírez, Natalia Agudelo Castañeda, Edwin Mauricio López García
Un texto que a través de sus cinco capítulos y epílogo navega sobre dos singularidades. De un lado, la geografía e historia del antiguo Caldas, y de otro, el ejercicio del poder gubernamental de las Fuerzas Armadas. De esta doble «ecualización» surge Botas militares para salvar la democracia… como una ejercicio de historia bajo la pulsión de comprender no la Violencia en mayúscula como nos la enseñaron, sino los afanes de paz de un país que a comienzo de la década de 1954 vio la llegada de los militares al poder como un segundo proceso emancipatorio, con el ascenso del teniente general Gustavo Rojas Pinilla al poder tras el «golpe de opinión», que puso fin a la presidencia de Laureano Gómez y su reemplazo Roberto Urdaneta Arbeláez. En 72 horas, Colombia tuvo tres presidentes, una muestra de la crispación en la elite política tanto liberal como conservadora con el proyecto político corporativista de Laureano Gómez, inspirado en el gobierno de Francisco Franco en España. Leia Mais
La democracia como mandato. Radicalismo y peronismo en la transición Argentina (1980-1987) | Adrián Velázquez Ramírez
Adrián Velázquez Ramírez nos presenta en “La democracia como mandato” una inteligente lectura sobre el radicalismo y el peronismo en la transición argentina. El libro se estructura en dos partes que no sólo abarcan el período 1980-1987, sino que lo exceden al afirmar que en esos años se estableció un lenguaje político que aún hoy habitamos. Leia Mais
Gobiernos y democracia en América Latina. ¿En la búsqueda de la igualdad social? | Francisco Reveles Vázquez
Esta obra colectiva coordinada por el profesor de la Universidad Nacional Autònoma de Mèxico Francisco Reveles Vàzquez intenta indagar sobre los vìnculos entre el règimen polìtico y la implementaciòn de diversas polìticas sociales tendientes a construir espacios màs igualitarios y equitativos en Amèrica Latina, la regiòn màs desigual del planeta. El trabajo constituye una labor de construcciòn de redes cientìficas con especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Mèxico y Uruguay. Este trabajo expresa claramente la capacidad de los cientìficos sociales haciendo de la cooperaciòn una de sus fortalezas. Leia Mais
Revolucionário e gay: a vida extraordinária de Herbert Daniel – pioneiro na luta pela democracia/ diversidade e inclusão | James N. Green
James N. Green nasceu no ano de 1951 em Baltimore nos EUA e é atualmente professor de História Latino-Americana na Brown University, além de ativista de causas políticas e LGBTQ+. Green é diretor de um dos mais importantes centros de estudos sobre o Brasil no exterior, e está à frente do Projeto Opening Archives, programa que tem milhares de documentos sobre o período da ditadura militar brasileira. Green é homossexual e um dos maiores brasilianistas dos EUA, características que se refletem em suas obras.
O livro “Revolucionário e Gay: A vida extraordinária de Herbert Daniel – Pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão”, lançado no ano de 2018, é uma obra biográfica sobre Herbert Eustáquio de Carvalho, mais conhecido como Herbert Daniel (Daniel era um de seus codinomes) – um complexo personagem da esquerda revolucionária no contexto político da década de 1960, falecido em 1992. Intelectual e guerrilheiro, Daniel fez parte de diversos grupos políticos, como Colina, VAR-Palmares, e VPR. Leia Mais
Feminismos e Democracia | Joana Maria Pedro e Jair Zandoná
Publicado em 2019, o livro organizado por Joana Maria Pedro e Jair Zandoná conta com dezoito capítulos estruturados em sínteses-soma. Engloba temas diversos para repensarmos a amplitude entre os Feminismos, Democracia –ou na ausência dela- e a própria História. Discorre-se, com isso, o quão plural é o Feminismo -por isso Feminismos- (PAULA; GALHERA, 2019) e a importância das reivindicações e dos debates, tanto em períodos ditatoriais, como em períodos democráticos no sub- Continente. Assim, Dora Barrancos, Olga G. Duhart, Roselane Neckel, Mariana Joffily e Maurício Cardoso evidenciam a relação entre Feminismos e Democracia nos dias atuais. Cristina Scheibe Wolff, Soraia C. de Mello, Jair Zandoná, Heloneida Studart, Ana R. Fonteles Duarte e Lorena Zomer os analisam diante do cenário ditatorial na América Latina. Já Cintia Lima Crescêncio por meio da perspectiva do humor, Elias Ferreira Veras pela operação historiográfica, Claudia Regina Niching pelo Direito, Karina J. Woitowicz diante do Jornalismo, Silvana Maria Pereira pela Medicina, História e Gênero, Ana Maria Marques e Giseli Origuela Umbelino finalizam pela perspectiva do estudo das mulheres na História dentro das escolas. Uma obra que reflete, sem dúvidas, acerca dos Feminismos na História de ontem e de hoje, com debates dos mais diversos Feminismos existentes. Leia Mais
Martín Balza. Un general argentino. Entre la república y la democracia | Germán Soprano
Escribir una biografía, que merezca ser leída o al menos consultada, supone no solo el dominio de los datos personales y las trayectorias de vida del protagonista, sino un claro sentido sobre el propósito de la obra y las implicancias que contextualizan y explican los escenarios donde los hechos ocurrieron. No menos importante es la condición de contemporaneidad y pervivencia del personaje, ya que la distancia cronológica y la muerte -que no es este el caso- otorgarían mayor libertad de expresión y tornarían admisibles ciertos juicios críticos que la figura de un hombre público como Martín Antonio Balza siempre alientan. Ambas circunstancias son ampliamente superadas por Germán Soprano en este libro, ya que logra dar cuenta de un hombre y su tiempo sin caer en la vulgaridad apologética, además de desplegar los hechos con objetividad, más allá de la asumida admiración del autor por su biografiado.
Lo anterior es posible porque Soprano establece en forma clara, ya en la introducción, la multiplicidad de fines que persigue con este texto y que dan forma a través de la vida de Balza a una manifestación sobre las relaciones entre el Ejército y la sociedad, pero también cuál ha sido y podría ser el rol del instrumento militar terrestre en el marco de la Defensa Nacional. Para ello, el autor recurre a un infatigable trabajo de archivo y relevamiento documental que deja clara la dimensión heurística que apoya el relato metódico que estos dos tomos –por cierto bien justificados– entregan al lector. Leia Mais
Como as democracias morrem / Steaven Levitsky e Daniel Ziblatt / Rodrigo Perez / 04 ago 2020
Na coluna “Livros que merecem uma sentada” dessa semana, discuto o best seller “Como as democracias morrae “, assinado por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, cientistas políticos de Harvard. Um livro com problemas e um tanto irritante. Mas a hipótese dos autores ajuda a pensar o Brasil. Apesar de tudo, o texto merece uma sentada.
Rodrigo Perez Oliveira- Professor do departamento de história da Universidade Federal da Bahia e colunista da Revista Fórum e dos Jornalistas Livres.
Acessar publicação original
From Franco to Freedom. The Roots of the transition to Democracy in Spain, 1962-1982 | Miguel Ângel Ruiz Carnicer
David Alegre Lorenz e Miguel Ãngelo Ruiz Carnicer (direita). Foto: La Esfera de los libros 2018 /
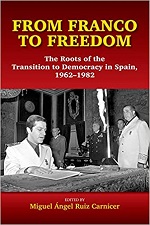
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Departamento de Historia, Universidad de Zaragoza), editor de From Franco to Freedom1 (RUIZ CARNICER, 2018), realiza una labor de coordinación e integración de trabajos notable. En líneas generales, el conjunto de las contribuciones busca la implementación de un contexto de originalidad y proporciona nuevos puntos de vista sobre la fase final de la dictadura, mediante el estudio de los condicionantes externos y los contextos internos que influyeron en los lentos ritmos del cambio. Como en el resto de su trayectoria de investigación, el editor pone el foco en la transformación de las mentalidades colectivas y el escenario socio-cultural. Los diferentes aportes a la investigación tienen una clara naturaleza multidisciplinar y una estructura bastante equilibrada (en su dimensión y en forma). El cuerpo del texto se compone de ocho capítulos, cada uno de ellos cuenta con una conclusión y un epígrafe de referencias documentales. En la parte final existe un aparatado con la información biográfica de los investigadores participantes y el índice alfabético. El trabajo no cuenta con una conclusión final conjunta. Leia Mais
El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla | Yascha Mounk
A onda de recessão democrática global gerou outra onda: a de livros teóricos sobre o tema, que surgiram aos montes em tempos recentes. Um desses é El pubelo contra la democracia, de Yascha Mounk, professor de Harvard. Yascha, como grande parte dos pesquisadores do Norte, prefere trabalhar com o conceito de populismo, evitando outras noções também em voga como fascismo, democratura e afins. Independente do rótulo utilizado, Yascha prossegue com a discussão que se tornou em voga: por que a democracia liberal passou a dar sinais de decadência após décadas de estabilidade?
Enquanto autores como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018, p. 33-34) preferiram focar sua obra, na fragilização das instituições através de um processo de autoritarismo gradual, Mounk direciona o seu livro para uma visão menos institucional e mais “popular”. Isto é, busca compreender menos os líderes por trás desses movimentos anti- democráticos, e mais a base que os sustentam: o povo, conforme até mesmo o título deixa claro. Para isso, se propõe a debater os motivos que levaram parte da população mundial a rejeitar a democracia, que, outrora com apoio majoritário, atualmente encontra-se, na melhor das hipóteses, desacreditada (MOUNK, 2018, p. 64).
A surpreendente vitória de Donald Trump em 2016 serviu para evidenciar um tumor no âmago da democracia liberal (MOUNK, 2018, p. 10): se a suposta democracia mais estável e poderosa do planeta pode eleger um demagogo, o que será das outras? Previsível, portanto, que essa eleição tenha acabado por impulsionar também a eleição de outros demagogos ao redor do planeta (MOUNK, 2018, p. 10). Apesar de suas idiossincrasias variáveis de nação para nação, todos esses “homens fortes” (MOUNK, 2018, p. 13) possuem características interseccionais entre si: os ataques à mídia livre; a perseguição à oposição; a existência de inimigos invisíveis, dentro e fora de seus países; e, mais notável, a simplicidade com que tratam a democracia, interpretando a realidade como crianças mimadas, se propondo a solucionar todos os problemas possíveis (apenas para suas seitas), mas sem propostas reais de como fazê-lo (MOUNK, 2018, p. 12-16). Mas o que leva as pessoas desejarem isso, almejarem trocar a estabilidade da democracia liberal por um movimento populista autoritário, quando não fascista?
Para Mounk (2018, p. 159) o primeiro motivo é pragmático: estagnação econômica. Crises e estagnações historicamente sempre favoreceram o surgimento ou ascensão de regimes autoritários, principalmente quando aliadas a altos índices de corrupção. A crise de 2008 e as medidas de austeridade que se seguiram a ela, adicionaram ainda mais caldo ao ressentimento criado pela estagnação. Na impossibilidade de prover a família ou de desfrutar do mesmo conforto que outrora possuíra, as pessoas direcionam o seu ressentimento e frustração para a política e para bodes expiatórios conforme a necessidade: alguém precisa ser culpabilizado pelo fracasso. No caso europeu e estadunidense, os imigrantes; no caso brasileiro, a corrupção e o fantasma invisível e onipresente de um comunismo inexistente.
Segundo Mounk (2018, p. 172), a segunda razão, principalmente na Europa e na América do Norte, é a imigração. A presença do alien, do desconhecido, o contato com novas culturas, principalmente em momentos de crise, é um ingrediente importante para o bolo do nacionalismo populista. Como efeito, Mounk também constata que homens são mais suscetíveis a sucumbir à hipnose populista pela perda de autoridade masculina conforme, nas últimas décadas, a tradição de poder é progressivamente questionada. Da mesma forma, o Partido Republicano, nos EUA, é particularmente forte entre os homens brancos, o maior eleitorado de Donald Trump, dado que sentem um esvaziamento de seu poder e se colocam, eles próprios, como vítimas (STANLEY, 2018, p. 98, 104-105). Assim, surgem narrativas que apontam mulheres independentes, negros, judeus, árabes, homossexuais, ou qualquer desviante da tradição, como responsáveis por um suposto declínio da nação.
O terceiro motivo, o grande diferencial dos populismos contemporâneos, é a ascensão da internet e das redes sociais como ferramenta de comunicação em massa (MOUNK, 2018, p. 152-153). Ao passo que fenômenos como a tão em voga fake news pouco têm de novo, as redes sociais ajudaram na disseminação da mentira, bem como na organização de grupos de ódio e na padronização dos pensamentos através de algoritmos. Se na realidade somos constantemente expostos ao outro, a uma alteridade forçada, na internet podemos facilmente nos fechar em pequenos grupos, repetindo mentiras até que se tornem verdades. Como Orwell (2009, p. 338) já mostrava, 2 + 2 passa a ser 5 se assim for conveniente, e quem mostrar que é 4 é obviamente um (insira aqui o rótulo do inimigo objetivo do movimento).
Foucault (1979, p. 77) já dizia que “as massas, no momento do fascismo desejam que alguns exerçam o poder, alguns que, no entanto, não se confundem com elas, visto que o poder se exercerá sobre elas […]; e, no entanto, elas desejam este poder, desejam que esse poder seja exercido.” Embora Mounk evite trabalhar com a ideia de fascismo, conforme já foi aventado, o conceito de populismo que desenvolve lida com a mesma ideia: a necessidade das pessoas, em um momento de frustração e desilusão com o establishment político, desejarem avidamente por um “homem forte”, pouco importando seu preparo para o cargo. A capa da edição espanhola, edição que aqui está sendo resenhada, um rebanho de ovelhas, ilustra justamente a submissão do homem-massa ao messias, ao líder.
O modus operandi desses populistas autoritários é padrão e já foi bastante relatado nos últimos anos: a classificação maniqueísta do mundo em uma oposição binária. Consequentemente, todos aqueles que não apoiam esses grupos, são automaticamente classificados como “malignos”. Os meios de comunicação, a oposição e as universidades são alvos preferenciais, e inimigos invisíveis aparecem por todos os lugares. Se há uma característica em comum, a despeito de todas as diferenças, entre esses grupos, essa é o conspiracionismo paranoico.
Um dos exemplos mais mencionados por Mounk (2018, p. 17) é a Hungria de Orbán, sugerida por politólogos após a queda da União Soviética como um dos antigos satélites com mais chances de consolidar uma democracia liberal. Mounk (2018, p. 18) aponta alguns dos pontos que indicavam que a democracia iria se tornar resiliente na Hungria: experiência democrática no passado; legado autoritário mais frágil do que os demais ex- satélites soviéticos; país fronteiriço com outras democracias estáveis; crescimento econômico; mídia, ONGs e universidades fortes. Trinta anos depois, verifica-se justamente o contrário: após anos gradualmente dissolvendo as instituições do país, aparelhando a corte, perseguindo jornalistas e acadêmicos, Viktor Orbán conseguiu, no escopo da crise do coronavírus, enorme poderes (O GLOBO, 2020) e poucos discordariam que a Hungria é, hoje, autoritária.
Outra força importante da obra de Mounk é ressaltar a diferença entre liberalismo e democracia, discussão pouco levantada por outros autores sobre a temática. Com a queda do Muro de Berlim, e o suposto fim da história, o homem se acostumou à falácia de que democracia e liberalismo são sinônimos, de que não há democracia sem liberdade individual, e que não há liberdade individual sem democracia. Viktor Orbán classifica o seu regime como uma “democracia iliberal”, nome orwelliano que, em última análise, sintetiza o seu autoritarismo e o de tantos outros atuais: uma ditadura velada, com uma democracia de fachada, inexistente na prática, com restrição de liberdades individuais e do livre-pensamento (MOUNK, 2018, p. 18). Um método eficiente de “democratura” desenvolvida pela escola Putin de governar.
Mounk divide essas “democraturas” em dois tipos: liberalismo antidemocrático e democracia iliberal. Em outras palavras, uma cisão na noção de democracia liberal, que se parte em duas. A primeira é caracterizada por um sistema fechado, que exclui a população, através do representativismo, da participação política, concentrando o poder nas mãos de uma elite oligárquica. Ou, como Robert Dahl (2005, p. 31) já havia apontado quase 50 anos atrás em Poliarquia, uma hegemonia ou uma semi-poliarquia, considerando que, para Dahl, somente um regime inclusivo e igualitário poderia ser classificado como poliarquia, isto é, o mais próximo possível de uma democracia, esta um ideal utópico a ser perseguido mas nunca alcançado. Entrementes, o liberalismo antidemocrático de Mounk, assim como a hegemonia ou semi-poliarquia de Dahl, é marcado pela concentração de poder e limitação da liberdade apenas para a elite, enquanto o restante da população é progressivamente excluído. O segundo sistema, a democracia iliberal, é uma consequência do primeiro. A população politicamente invisível acaba por ser presa fácil de movimentos populistas anti-democráticos, que supostamente visam subjugar o primeiro sistema, embora, muitas vezes, como ocorreu no Brasil de 2018, sejam parte dessa própria elite. Conforme aponta Jason Stanley (2018, p. 82), “a democracia não pode florescer em terreno envenenado pela desigualdade”. O povo é, assim, capturado pelo discurso do “homem forte”, que retomará o país aos tempos de glória, não importando se a morte da democracia real é uma consequência inevitável desse processo. Soma-se a isso a diminuição da representatividade na democracia representativa. Embora, por sua própria definição, a democracia representativa implica em certo afastamento do povo em relação ao político, dado que o primeiro fica, em grande parte, impossibilitado de tomar decisões diretas, há uma ascensão no sentimento desse afastamento. Isto é, a democracia está supostamente cada vez menos representativa, e os políticos profissionais progressivamente mais afastados da opinião popular (MOUNK, 2018, p. 64).
Talvez o maior defeito da obra de Mounk – um defeito que não é exclusivo seu, mas sim de grande parte dos livros sobre movimentos anti-democráticos contemporâneos -, é vender suas ideias como se fossem novidades, quando Robert Dahl, meio século atrás, já apontava as mesmas questões com nomenclaturas distintas, ressaltando ainda a importância de perceber que a democracia plena é impossível e utópica. Tanto mais, a insistência de Mounk com o rótulo de populismo autoritário recusa, possivelmente para evitar utilizar um termo tão desgastado, a ideia de que parte desses movimentos anti-democráticos sejam de fato movimentos fascistas. Entretanto, se por um lado é realmente necessário evitar elasticizar o conceito de fascismo para não englobar tudo, por outro somente com malabarismo intelectual é possível classificar um Jair Bolsonaro, para usar um exemplo de nosso país, como apenas um “populista de extrema-direita, ultraconservador e nacionalista”. Mesmo porque um populista de extrema-direita, ultraconservador e nacionalista é justamente um fascista.
Referências
DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
O GLOBO. Parlamento da Hungria aprova lei de emergência que dá a Orbán poderes quase ilimitados. O Globo, Rio de Janeiro, 01 abr. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/parlamento-da-hungria-aprova-lei-de-emergencia-que-da-orban-poderes-quase-ilimitados-24338118 . Acesso em: 15 ago. 2020.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
MOUNK, Yascha. El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla. Espasa Libros: Barcelona, 2018.
STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. Porto Alegre: L&PM, 2018.
Sergio Schargel – Mestrando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio, mestrando em Ciência Política pela UNIRIO. Bolsista CNPq. E-mail: [email protected]
MOUNK, Yascha. El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla. Barcelona: Espasa Libros, 2018. Resenha de: SCHARGEL, Sergio. Velhas ideias sob novas roupagens. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 24, p. 220-224, jul./dez., 2020.
Makers of Democracy. A Transnational History of the Middle Classes in Colombia | Abel R. Lopez Pedreros
Retrato de Abel Ricardo / www.youtube.com
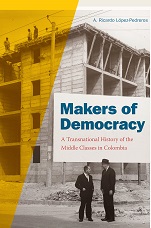
Asi, el autor va mostrandonos las particularidades de nuestra democracia y por ende de nuestras capas medias, para verlas distintas, cuando no “bastardas”, de las europeas y norteamericanas. Esas capas, supuestamente, son simbolo de la lucha contra las oligarquias criollas y exigen una lectura de la sociedad no en terminos binarios de dos clases opuestas, pues hay una mas en la mitad. Las clases medias alimentan y son alimentadas por las pequenas y medianas industrias que reciben credito del Estado y de las agencias norteamericanas vinculadas a la Alianza para el Progreso, el famoso programa anticomunista lanzado en la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963). Finalmente, en esa primera parte, las capas medias tambien estan vinculadas al sector de servicios o terciario, en el que se dan procesos de seleccion, segun estereotipos comunes de clase y genero. Leia Mais
Democracia, federalismo e centralização no Brasil – ARRETCHE (TES)
ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro, Editora FGV/Editora Fiocruz, 2012, 232 p. Resenha de: LOBO NETO, Francisco José da Silveira. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.12, n.2, maio/ago. 2014.
O livro de Marta Arretche trata da democracia, do federalismo e da centralização. Temas fundamentais na sociedade radicada neste país continental que, desde 15 de novembro de 1889 se constituiu, pelo decreto n. 1 do Governo Provisório, como Federação.
A autora, ao trabalhar seu objeto, prioriza o aprofundamento da ordem constitucional atual, no qual revela sua trajetória de cientista social e cientista política, recorrendo às referências que lhe oferecem a História e o Direito, na elucidação dos fatos e na construção de sua análise interpretativa.
Importante mencionar, desde já, o rigor metodológico da organização da obra composta de cinco capítulos, cada um deles com sua especificidade e todos se integrando para conformar a unidade do livro, “apresentado originalmente como tese de livredocência defendida no Departamento de Ciência Política na Universidade de São Paulo” (p. 24), em 2007. A própria autora nos diz, na Introdução, que “embora cada capítulo possa ser lido separadamente, o livro tem uma unidade teórica e analítica” (p. 13), no “objetivo de examinar ‘se’ e ‘como’ Estados federativos produzem efeitos centrífugos sobre a produção de políticas públicas, tomando o caso brasileiro como objeto empírico” (p. 13).
Peça importante na interpretação do seu livro é, além da Introdução (p. 1131), o artigo de 2001 “Federalismo e democracia no Brasil: a visão da ciência política norteamericana” (Arretche, 2001, p. 30). Nele, ela analisa os estudos da ciência política nos Estados Unidos, revelando-nos rumos novos de pesquisa. Sua preocupação foi “destacar a necessidade de ampliação da agenda de pesquisas sobre a natureza das relações intergovernamentais no Brasil”, sugerindo dois caminhos: “exame dos processos decisórios em que o governo federal foi bem sucedido em implementar sua agenda de reformas” e “análise do processo decisório de políticas que envolvam relações diretas entre o Poder Executivo dos diversos níveis e/ou nas quais o Poder Judiciário funcione como árbitro dos conflitos intergovernamentais” (Arretche, 2001, p. 30).
A importância deste livro, portanto, está justamente na concretização dessa ampliação de agenda na própria produção da pesquisadora, a partir de 2001. As análises contidas nos cinco capítulos respondem a muitas questões, mas abrem, sobretudo, outras tantas indagações.
De fato, a autora menciona duas dimensões centrais no seu foco de análise: “o poder de veto das unidades constituintes nas arenas decisórias centrais (sharedrule) e a autonomia dos governos subnacionais para decidir suas próprias políticas (selfrule)” (p. 13). Assim, a estrutura do livro tem os três primeiros capítulos voltados para a primeira dimensão e os dois últimos abordando a segunda dimensão.
No primeiro capítulo, a pesquisadora examina 59 iniciativas de interesse federativo, que foram aprovadas na Câmara dos Deputados entre 1989 e 2006. Tratam de diferentes matérias que afetam interesses dos governos subnacionais, relacionadas às receitas de estados e municípios; à autonomia dos governos subnacionais na decisão sobre a arrecadação de seus impostos, o exercício de suas competências e a alocação de suas receitas. E ela o faz sempre trazendo o texto da Constituição de 1988, onde claramente é atribuída à União autoridade para legislar “sobre todas as matérias que dizem respeito às ações de Estados e municípios” (p. 70). A autora também demonstra que os constituintes de 1988 “não criaram muitas oportunidades institucionais de veto” e “não previram fortes proteções institucionais para evitar que a União tomasse iniciativas para expropriar suas receitas ou mesmo sua autoridade sobre os impostos e as políticas sob sua competência” (p. 70). Assim, com argumentação solidamente fundamentada, aborda os seguintes aspectos: a partir do federalismo comparado, analisa hipóteses do processo centralizador vivido na década de 1990; estuda amplamente as leis federais afetando interesses dos governos subnacionais, fundamentando-se na distinção entre execução de políticas e autoridade decisória; analisa – como determinantes federativos desse processo – as mudanças nas agendas da Presidência da República e o comportamento das bancadas estaduais; finalmente, identifica a influência das instituições federativas em relação aos processos decisórios. Em sua conclusão “de como 1988 facilitou 1995”, que aparece como título deste primeiro capítulo do livro, Marta nos diz que “há mais continuidade entre as mudanças na estrutura federativa da segunda metade da década de 1990 e o contrato original de 1988 do que a noção de uma ampla reestruturação das relações intergovernamentais autorizaria supor” (p. 72).
Já o segundo capítulo se volta para uma análise do comportamento das bancadas estaduais na Câmara dos Deputados em relação às matérias de interesse federativo, especificamente aquelas em que a União e os “governos territoriais” tinham interesses opostos. Foram identificadas 69 iniciativas – propostas de emenda constitucional (PECs), projetos de lei complementar (PLPs) e projetos de lei (PLs) – representando 24% de votações no período de 1989 a 2009. Este capítulo se ocupa da agenda federativa após a Constituição de 1988 cuja temática principal é a criação de impostos e contribuições não sujeitos à repartição com os estados e municípios, da análise da correlação entre a “centralização decisória nas arenas federais” e a limitação das “oportunidades institucionais de veto dos governos territoriais”. A conclusão da pesquisadora é exposta em um duplo aspecto. Primeiramente a “centralização regulatória combinada à ausência de arenas decisórias adicionais de veto” limita as oportunidades de veto dos governos subnacionais. Em segundo lugar, o comportamento das bancadas estaduais sem coesão em torno das questões estaduais, cedendo mais aos acordos partidários do que aos interesses regionais que representam (p. 112113).
No capítulo terceiro, a investigação se volta para uma análise comparada da relação entre federalismo e bicameralismo, como fundamentação argumentativa do estudo sobre o comportamento do Senado Federal brasileiro. Sobretudo estudando a tramitação de 28 emendas constitucionais, a autora constata que nossos senadores não se deixam afetar pelas pressões dos governadores, das elites econômicas ou da opinião pública dos estados ou regiões que representam. O poder de veto no Senado Federal, de fato, pertence aos partidos políticos e não aos interesses regionais. Unindo o caso brasileiro às teorias que embasam o relacionamento do federalismo ao bicameralismo, a pesquisadora assim se expressa em sua conclusão: “mesmo sob o bicameralismo simétrico em que a Câmara Alta constitua uma arena adicional de veto, o efeito inibidor de vocalização dos interesses regionais sobre a mudança institucional pode ser substancialmente reduzido se a segunda casa legislativa também for uma casa partidária, isto é, se a disciplina partidária prevalecer sobre a coesão da representação regional” (p. 141).
Se até aqui Arretche privilegiou a análise da centralização e o poder de veto das instâncias subnacionais, nos capítulos quarto e quinto seu foco será a descentralização e autonomia nas relações verticais da federação e a questão da igualdade regional.
O capítulo quarto examina as bases teóricas para a análise dos “mecanismos institucionais que permitem aos governos centrais obter a cooperação dos governos subnacionais para realizar políticas de interesse comum” (p. 27). A análise comparada permitiu minimizar uma correlação direta entre a criação destes mecanismos e a forma federalista ou unitária de organização do Estado. A distinção conceitual entre execução e autoridade decisória é mais útil do que a distinção entre estados federativos e unitários “para predizer os efeitos centrífugos da relação central-local, isto é, dos arranjos verticais dos estados nacionais” (p. 170). Isto significa, no caso brasileiro, que a “convergência em torno das regras federais é alavancada quando a) a Constituição obriga comportamentos dos governos subnacionais ou a União controla recursos fiscais e os emprega como instrumento de indução de escolhas dos governos subnacionais.” (…) “Neste sentido, efeitos centrífugos não são diretamente derivados da fórmula federativa, mas mediados pelo modo como execução local e instrumentos de regulação federal estão combinados em cada política particular” (p. 171).
O capítulo final enfrenta – inovando – a questão crucial do pseudo-confronto entre a proposta federalista e a igualdade territorial como forma de manter a unidade da União. Neste sentido, argumenta contra as interpretações de que a Constituição de 1988 criou instituições federativas comprometedoras da eficiência do Estado brasileiro, lembrando que não podem ser ignorados nem o papel das desigualdades regionais, nem as relações da União com os governos subnacionais sobre o seu funcionamento. A divisão entre unidades pobres e ricas é que está “na origem da escolha por um desenho de Estado que permita ‘manter a União’ e evitar os riscos associados à fórmula majoritária” (p. 175). Resgatando as discussões dos capítulos anteriores, Marta Arretche sintetiza: “Distinguir quem formula de quem executa permite inferir que, no caso brasileiro, embora os governos subnacionais tenham um papel importante (…) no gasto público e na provisão de serviços públicos, suas decisões de arrecadação tributária, alocação de gasto e execução de políticas públicas são largamente afetadas pela regulação federal”. Após debruçar-se sobre dados de um panorama das políticas nacionais de redução das desigualdades e seus efeitos sobre a desigualdade territorial de receita, das políticas nacionais de regulamentação e supervisão do gasto e seus efeitos, a autora afirma em sua conclusão: “A parte mais expressiva das transferências federais no Brasil tem sua origem no objetivo de reduzir desigualdades territoriais de capacidade de gasto. Essas foram (historicamente) um elemento central de construção do Estado brasileiro, similarmente a outras federações, em que a ideia de uma comunidade nacional única prevaleceu sobre as demandas por autonomia regional” (p. 201).
Como afirma a apresentadora, o livro traz “uma interpretação inovadora sobre o nosso sistema federativo”. É uma obra fundamental para os cientistas políticos e apoio à autoanálise dos políticos em seu comportamento. Sobretudo, porém, indicado para fortalecer análises de pesquisadores e profissionais da saúde e da educação, já que estes campos manifestam fundamental correlação entre os poderes central e locais.
Referências
ARRETCHE, Marta. Federalismo e democracia no Brasil: a visão da ciência política norteamericana. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 23-31, 2001. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/spp/v15n4/10369.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2014. [ Links ]
Francisco José da Silveira Lobo Neto – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz, Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Aporías de la Democracia – LOLAS; RIBA (RFA)
LOLAS, R. E.; RIBA, J. (Coords). Aporías de la Democracia. Barcelona: Terra Ignota Ediciones, 2018. Resenha de: MONTOYA, Angélica Montes. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.32, n.56, p.597-606, maio/ago., 2020.
Aporías de la democracia es la primera obra colectiva de la red NosOtros y que surge del encuentro de un grupo de académicas y académicos de distintas instituciones y países de América latina y Europa. Esta red inicio el proceso de compartir y producir en colectivo con el 1er Coloquio Euro-Latinoamericano consagrado al tema que da su título a la obra. Para sus editores, esta obra propende “no solamente que con su lectura cobren sentido las dificultades que las democracias actuales poseen, sino también que se haga evidente que, para mantener un sistema democrático, aquello que se ha entendido por ‘representación’ debe ser actualizado, porque en lo esencial ya no representa a la misma ciudadanía, sino a los que ostentan el poder” (R. Espinoza Lolas & Jordi Riba).
Tras la lectura atenta de los textos podemos decir que en Aporías de la democracia se trata, entonces, de poner en común el trabajo de reflexión teórica adelantado por cada uno de los miembros de la red NosOtros, teniendo como hilos conductores unos conceptos entorno a los cuales cada autor/a desarrolla su análisis. En 2017 se trabajó entorno a los conceptos de “democracia” y “aporías”; en el 2018 “migración”, “exilio”, “refugio” y en el 2019 se trabajarán “Estado”, “nación”, “frontera”. Cada encuentro permite un cuestionamiento de dichos conceptos y la puesta en marcha de colaboraciones académicas y de escritura tendientes a pensar y cuestionar el conjunto de temas y discursos que imperan — como si fueran evidencias- en la vida política y social de nuestras sociedades contemporáneas.
Estructura de Aporías de la democracia
El libro de 263 páginas, está estructurado en cuatro partes, cada una contienen artículos cortos en los cuales se analizan los abismos, contradicciones, aciertos y desaciertos del modelo de “democracia representativa” en América Latina y en Europa. Veamos en detalle de que hablan los autores.
La primera parte titulada D e m o c r a c i a y B r e x it , contiene dos artículos que centran su estudio en lo que, política y teóricamente, ha representado el que el Reino Unido decidiera salir de la Unión Europea. Así, el primer artículo, examina el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Su autor pone su interés en las posturas teóricas que los filósofos Negri, Zizk y Badiou sostienen frente a este hecho histórico, para luego ponerlos frente a sus propias contradicciones, ya que, al tiempo que aquellos reclaman por el respeto de la verdadera democracia (la que se construye desde abajo), cuestionan abiertamente la decisión tomada, por una mayoría del pueblo Británico, de salir de la UE expresada en el referendo de 2016 (Timothy Appleton). A lo anterior se sigue un segundo artículo consagrado al análisis de lo que el autor llama “una democracia capturada por el capitalismo”. De la mano de Zizek se muestra en que forma “la empresa se devora al Estado y, a la vez, el “Estado es quien mantienen viable la empresa”. Ante esta situación, solo desde la Amistad y desde la cooperación en red es posible imaginar, construir y aplicar posibles cambios que nos ayuden a romper ese cinturón de dependencia (Empresa=> Estado => Empresa) que destruye toda alternativa de democracia posible (Ricardo Espinosa Lola).
La segunda parte el libro, Democracia y ciudadanía , recoge análisis situados en Chile. Aquí se exponen dos artículos, en los que se muestran algunas experiencias de la expresión del desencanto de la ciudadanía chilena y las respuestas que (frente a una tradición política de derecha, que representan las élites) se vienen gestando desde las bases de las movilizaciones sociales. El primer artículo presenta una experiencia de construcción de lo que su autora califica de “Alcaldía ciudadana como propuesta política de gobernanza” en la ciudad de Valparaíso. Esta experiencia es liderada desde el Movimiento Autonomista de Valparaíso que gana la Alcaldía de esta ciudad en 2016; y está respaldada en una coalición política autodenominada “ciudadana”. A lo largo de su análisis, se explica la existencia de una “democracia tutelar heredada de la postdictadura chilena” la cual ha de ser superada desde una concepción de la democracia como ejercicio participativo de la ciudadanía. Precisamente, la “Alcaldía ciudadana” responde a esto último, ya que desde la autoorganización política un grupo de ciudadanos de Valparaíso han puesto en marcha proyecto político como expresión y garantía de una democracia afirmativa, que cuestiona el proceso de transición democrática de los años 90’s, al tiempo que ofrece: primero, pensar lo colectivo (comune) desde la participación activa y, segundo, potenciar el vínculo entre las categorías políticas y ciudad (Pamela Soto Garcia).
En dialogo con el anterior análisis, se ofrece un segundo artículo que interroga la noción de ciudadanía en el marco del Chile contemporáneo. Se trata de un trabajo de coescritura que centra su interés en comprender por qué surgen y que aportan a la ciudadanía los más recientes movimientos sociales (movilizaciones estudiantiles de 2006; la revolución “pinguina” de 2011, las resistencias indígenas y ambientalistas de los últimos años) ocurridos en el país austral. Como lo expresan los autores “Nos interesa señalar que estos movimientos, junto con sacar a la luz pública unas demandas particulares de la ciudadanía, lograron unir a la población más allá de las formas de organización tradicionales, mostrando que otra democracia era posible y, sobre todo, necesaria”. A lo largo del artículo, de la mano de trabajos teóricos entorno a la geografía, el urbanismo y la filosofía de D. Harvey, G. Debord y F. Guatarri, los autores del articulo construyen una reflexión acerca de la ciudad, la ciudadanía y la construcción de lazos territoriales, como elemento importante para pensar y construir la existencia social colectiva del NosOtros en dialogo, también, con el arte (Patricio Landaeta &Ana Cristi C.).
La tercera parte de la obra colectiva, Democracia y política , cuenta con cinco artículos en los que sus autoras/es ofrecen al lector un zoom sobre el estado de la democracia y sus aporias, desde unas miradas situadas (territorializadas). Aquí viajaremos de Colombia a España, pasando por Brasil y Uruguay. El primero articulo brinda una lectura filosófico-histórica de la construcción de la nación en Colombia. La autora se pregunta por los dispositivos (en sentido de Foucault y Agamben) utilizados para establecer el carácter de unidad étnica-racial, territorial y cultural requerida para el “éxito” de ese proyecto de Estado-nación en el siglo XIX. De esta forma, situándose en el Colombia, la autora explica lo que ella denomina los “tres dispositivos” discursivos y legales empleados para construir la imagen de la Nación mestiza y democrática, que absorbió las otredades (minorías étnico-raciales indígenas y particularmente negras) en Colombia. Dichos dispositivos son: la ciudadanía (dispositivo jurídico), la democracia racial (dispositivo antropológico y sociohistórico) y la invisibilización (dispositivo cultural y educativo).
In fine la intención de la autora es la de mostrar que, si bien es cierto que el cambio de constitución política en Colombia -en el año 1991 (CPC 1991)- ha significado una transformación significativa en la inversión de los “tres dispositivos”, antes señalados. Generándose, así, una mayor visibilización de las minorías étnicas y raciales, gracias 1) al reconocimiento de políticas de acción afirmativa y/o la implementación de una etnoeducación, 2) a la fuerza que ganan los discursos acerca de la ciudadanía diferenciada y de la democracia inclusiva. No obstante, la Nación en Colombia (probablemente también en otros lugares de las Américas latinas) sigue pareciéndose a Macondo, la fábula del realismo mágico de García Márquez. En efecto, para la autora, la Nación (con N) se acerca en su complejidad a la metáfora de Macondo, en la que se designar y expresa, no la realidad de un lugar, sino la existencia de un âme o un soufflé (un alma o una bocanada de aire de vida). Macondo fue “el lugar de lo imposible, el lugar de todas las cosas, de los santos y de los demonios, de la condena y de la resurrección, del amor y del desamor, de la espera y de la locura”, en este sentido es tiempo de ver en la CPC de 1991la nación, no ya como un lugar sino como un âme. Explicar la nación como un conjunto de solidaridades, de convergencias complejas de identidades (en movimiento y tensión constante) que debe su existencia al plebiscito cotidiano, sin el cual ese soufflé se agota y cesa de existir (Angélica Montes Montoya).
El segundo artículo, inicia recordando que el conflicto está a la base de la sociedad democrática (Laclau y Mouuffe), por ello cualquier forma de hegemonía se opone a la «formación de buenas políticas» y a la democracia ella misma. A partir de esta premisa, los dos autores se libran a un diagnóstico de la calidad de la democracia en Brasil, cuya historia republicana -desde su independencia (1889) hasta hoy- oscila entre “breves momentos de respeto por el orden democrático y la usurpación por parte de fuerzas militares o civiles, totalitarias y hegemónicas”. El último ejemplo de esta oscilación se encuentra en la destitución de Dilma Roussef, la primera mujer presidente y la primera en ser objeto de un nuevo tipo golpe de Estado, orquestado desde el poder legislativo y judicial, con el respaldo de un sector de la clase política, las iglesias evangélicas, los medios de comunicación, el capital financiero y agrario. Ante la pregunta ¿Cómo ha sido esto posible?, los autores responden que ello es debido: primero, al presidencialismo de coalición, que se origina dado que el Brasil funciona un gobierno presidencial en medio de un sistema de fundaciones parlamentarias, esto hace que para gobernar el presidente/a brasilero debe contar con una mayoria absoluta en el Congreso y ello empuja a una necesaria búsqueda de coaliciones, cuando ello no se logra acontece el impeachment. La segunda razón, es la judicialización de la política, esta consiste “en la tendencia de los tribunales a juzgar casos que, en principio, estarían reservados al poder legislativo o ejecutivo” (Ericson Falabretti & Francisco Verardi Bocca).
El tercer artculo, aborda los efectos negativos que tienen para la democracia la perspectiva política liberal y neoliberal, la cual se ha instalado en América Latina. Apoyándose en el estudio de las obras de Friedrich A. Von Hayek, el autor mostrara que “la democracia basada en la búsqueda de la igualdad de derechos está lejos del horizonte del gobierno neoliberal”. De esta forma, afirma que, “No se puede pensar al principio de la igualdad solamente en términos de igualdad de oportunidades. Lo que la forma neoliberal echa de lado son las condiciones necesarias para alcanzar esa igualdad” (Cesar Candiotto).
En el cuarto artículo, dedicado al Uruguay, su autora adelanta un estudio de lo que ella denomina la “ciudadanía diaspórica”, entendida como “una ciudadanía extraterritorial nutrida de actos, discursos, representaciones y vivencias de exexiliada/o, emigrantes, expatriada/os” que se puede observar como un proceso de construcción de una comunidad política. Se trata de un proceso de militancia y organización que los migrantes uruguayos han construido a través de una larga lucha en “defensa de los derechos y políticos de los inmigrantes, expresada…en torno al reclamo de habilitación del voto extraterritorial” y sostenido por un movimiento social que la autora califica de no convencional. Este carácter no convencional se reflejaría (de acuerdo al trabajo de búsqueda y sistematización de datos recolectados) en una autoorganización organización, a través de sitios web, boletines electrónicos y página Facebook. Las condiciones en las cuales se organiza esta “ciudadanía diaspórica” la acerca a lo que se denomina e-diaspórica (descrito por la socióloga Dana Diminescu), es decir, “…un colectivo disperso, una identidad heterogénea cuya existencia reposa sobre la elaboración de una dirección común, una dirección…renegociada según la evolución colectiva”. Para la autora del artículo, los procesos de la “ciudadanía diaspórica” que ponen a prueba al Estado-nación tradicional, pueden verse como una aporía a la democracia y a su institucionalización, que la circunscribe a una territorialidad definida (Fernanda Mora-Canzani).
Cierra este tercer apartado del libro un quinto artículo dedicado a estudiar las experiencias de “participación ciudadana” que se inicia en España a partir del año 2011, cuando tienen lugar la ocupación de las plazas. Durante este episodio se hicieron virales muchos slogans dirigidos a cuestionar el sistema democrático representativo: “no nos representan”, “democracia real”. Desde entonces en España se han venido organizando nuevas experiencias y formas de relación entre la institución y la sociedad. Las reflexiones has sido particularmente interesantes e intensas entorno a los gobiernos municipales (municipalismo), desde donde se habla de “ayuntamientos del cambio” en ciudades como Barcelona y Madrid. La autora nos explica como han sido estas experiencias, a través de las cuales se ha “buscado un desplazamiento que permita hacer bascular las democracias representativas hacia mecanismos de democracia directa ampliando la incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas”, esto es calificado -por la autora- de una “democracia expandida”. Esta última debe entenderse más allá del debate de la representación y la participación: basándose en los trabajos de Foucault (sobre la política como politeia y lo político como dynasteia) la “democracia expandida” debe verse más allá de los mecanismos de participación ciudadana y ser observada como la “integración de esos saberes y practicas que emergen de la experiencia como marco a partir de los que configurar y decidir las formas de enseñanza y aprendizaje, la organización de las infraestructuras …en tanto que dimensiones que vehiculan nuestros modos de relación social”. En suma, la “democracia expandida” sería una democracia que -retomando el texto de Foucault “La verdad y las formas jurídicas” de 1973- propende por una perspectiva de la democracia en la que hay una inversión de la soberanía, una reapropiación de ese principio por aquellos que, siendo gobernados a través de ella, se declararán ahora soberanos de si mismos (Ester Jordana Lluch).
Cierra la obra colectiva, una última parte Democracia y filosofía , constituida de cuatro artículos que vuelven sobre la noción misma de democracia. El primer artículo, el autor analiza las aporías de la democracia partiendo de las declaraciones (hechas en un Twitter) del ciber-militante Julian Assange quien afirma que “actualmente se está modificando la relación de la gente con el poder” y de Pierre Rosanvallon, para quién, “la democracia es la historia de un desencanto y la historia de una indeterminación y de una obstinación”. La idea central del texto es la de mostrar como las declaraciones actuales de Assange se articulan con las cautelas manifestadas por el teórico Rosanvallon. Así, las denuncias que se escuchan, primero, entorno al hecho de que el poder institucional “no nos representa” y, segundo, las exigencias de una mayor participación de los ciudadanos (democracia directa), dialogan con la forma democrática que Rosanvallon señala como formas indeterminadas y, por ello, abiertas que debe tener la democracia. Ya hace mucho tiempo Rosanvallon ha puesto el ojo en esa forma paradójica que la democracia contiene, por ello el autor del artículo declara que “Viejo pues es lo nuevo en forma de deseo y de indeterminación”.
Para ahondar en este carácter de lo “viejo nuevo” de la crítica de la democracia, el autor recurre a los trabajos de Miguel Abensour, quien en su obra “La democracia contra el Estado”, había planteado aquella como un momento emancipatorio, ya que ella (la democracia) se muestra indomable, salvaje y turbadora de los órdenes establecidos. La democracia “encuentra la fuente de su fuerza indomable, en el elemento humano, en ese foco de complicaciones, de agitaciones que entraña la articulación de vínculos múltiples”. De esta manera -de la mano de Levinas y de Abensour- en el artículo se nos recuerda que la democracia no es concebible sin el recurso a la utopía, por ello se hace indispensable indagar los vínculos entre el nuevo espíritu de la utopía (no sustancialista ni mitológicamente relacionada a la armonía) y la revolución de la democracia, entendiendo “que ninguna comunidad humana puede prescindir de la ley, que se concibe, antes que nada, como relación. Y donde el legislador sólo puede ser colectivo, plural”. In fine, se trata de una apuesta por remplazar el “sustancialismo utópico” por la intersubjetividad política, en la cual se pone como centro la humanidad indeterminada y no ya el hombre. Esto quizá ayude a salir de la doble aporía frecuentemente encontrada, a saber, la identificación de la política con el Estado (propia del hegelianismo) o la de hacer jugar (desde un anarquismo torpe) lo social contra lo político. (Jordi Riba).
El segundo artículo, ofrece un análisis que parte del binomio crisis/critica, partiendo de las raíces etimológicas de los dos temimos, la autora busca responder la pregunta ¿esta la democracia está en crisis porque subjetivamente se ha perdido la pregunta de como juzgar democráticamente? O ¿es la crisis de la democracia un síntoma causado, precisamente, por la incapacidad de criticar? La autora del articulo recuerda, primero, que etimológicamente la categoria “critica provienen del griego krion (juicio, decisión) y del verbo krino (yo decido, yo juzgo), del mismo modo la noción crisis vienen del griego Krisis (apela a la decisión) y, de igual forma, del verbo krino, designando, en este caso, el momento en que se produce un cambio. Segundo, que a partir de esta etimología se puede inferir que “el juicio crítico tiene que ver, a la base, con las condiciones ontológicas de la formación subjetiva en lo que tienen ella de “consciencia-de-si” ligada, en cierta manera, a un estatuto comprensivo en el cual la interpretación de dicha posición subjetiva se cumple en el ejercicio del juicio crítico”. Así, para salir de la “inconsciencia-de-si” -cuando hay una crisis- presupone interrogarse, juzgar y cuestionar las Verdades inscritas en el pensamiento. La propuesta, entonces, es la de observar lo que la autora del artículo llama “las metonimias” inscritas en el concepto de democracia; interrogarlas con el propósito de hacer surgir orientaciones que sean el resultado de un juicio colectivo, solo así se podría llegar -en sus propios términos- a una “economía del pensamiento distinta, cuyo movimiento racional de la misma representación de lo que se ha comprendido como democracia” creando un nuevo concepto (otro) que pueda ser revelador del uso reflexivo de la capacidad de juzgar, y en este sentido representaría, también, un acto critico (Lorena Souyris).
En cuanto al tercer artículo, de esta cuarta parte de la obra, continua en el tratamiento de las aporías de la democracia, en esta ocasión volviendo a las nociones de libertad e igualdad. Las preguntas que articulan la reflexión son dos: ¿Cómo conceptualizar la libertad en el marco político? y ¿Cómo conceptualizar la igualdad en vistas a una mayor emancipación? Para los dos autores, la primera gran tensión se revela en el término mismo democracia que engloba significaciones varias y contrarias: demos (pueblo) y kratos (potencia, fuerza, poder e incluso gobierno). El problema estriva en que entre los griegos demos podría significar, tanto la totalidad de los ciudadanos como la parte popular excluida. “Así, democracia puede significar el poder de los anteriores excluidos, pero debe ser también el poder de la totalidad”. Una situación similar ocurre con la categoría kratos, como potencia y poder, debe ser mantenida entre la totalidad del pueblo y no ser exclusiva de una cabeza o grupo. El desarrollo del concepto poder ha sufrido cambios importantes, imponiéndose la lectura moderna y liberal, que afecto las nociones políticas de libertad e igualdad.
Las dos autoras -de la mano de Rancière y Badiou- pasan revista a las teorías y explicaciones de la evolución de la noción de democracia, desde Aristotele y Platon hasta la modernidad, para señalar que el principal problema al que nos enfrentamos hoy es a la “inconmensurabilidad entre lo que la palabra democracia significa y la noción de democracia neoliberal” imperante. Para responder a este desafío las autoras proponen: primero, una crítica a la noción de política, entendida como administración del Estado, ya que así entendida la política se aleja de su componente principal, que es el conflicto. Segundo, cuestionar los axiomas de libertad e igualdad dentro de la democracia liberal.
En el desarrollo de sus análisis las autoras responderán que: 1) la principal contradicción de la democracia liberal es la de “intentar establecer una democracia apoyada en la idea del consenso y de la representatividad”. 2) el gran error ha sido el que la libertad ha sido absorbida por la concepción liberal como “espacio individual…como propiedad privada…capitalizante”. De la misma manera, la igualdad ha sido asociada a esta lectura liberal hasta verse asociada a la libertad capitalizante. Ahora bien, no debe perderse de vista nunca que la libertad no es un estatus del individuo, ella debe ser pensada como emancipación, de modo a do hacer de ella una libertad de consumidores (Teresa Montealegre Bara & Gisele Amaya Dal Bó).
Finalmente da cierre, a esta parte del libro, un cuarto artículo consagrado al estudio de la noción de autoridad. Advierte su autor que se trata de un concepto mal comprendido y poco trabajado. A menudo se le confunde con otros conceptos como poder, fuerza y totalitarismo. Además, con frecuencia la autoridad es criticada desde la izquierda acusándole de enemiga de la democracia y de la sociedad (Negri, Hardt). Entre los filósofos hay quienes no la consideran un problema filosófico, pues les resulta obvio de que se trata; mientras que otros la juzgan un tema de psicología social (Foucault). Para lograr su lectura distinta y heurística, el autor del artículo hace un recorrido por algunas de las obras de filosofas y filósofos del siglo XX (H. Arendt, M. Bakunin, P-J. Prroudhon, M. Horkheimer, J. Dewey, E. Fromm, L. Muraro, L. Cigarini, M. Reévault d’Allonnes, M. Mead y P. Friere). Con ello busca demostrar el “espejismo de la autoridad” que acompaña la ficción de una tradición que hace una lectura autoritaria de la noción de autoridad. Al final de la lectura queda al descubierto lo que sería el mayor desafío político contemporáneo que “ya no consiste tanto en suprimir la autoridad como en intentar pensarla y articularla de otro modo”. Si bien el autor no espera que el lector se reconcilie de forma definitiva con la autoridad, espera que por lo menos se pueda comprender su complejidad para así evitar las lecturas unidimensionales e ideologizadas de la misma (Edgar Straehle).
El libro Aporías de la democracia , concluye con las palabras del poeta francochileno Luis Mizon quien expresa el desgarro de ser Otro/diferente en tiempos de crisis de las democracias. Por ello declara que, al igual que la insolencia política, la insolencia poética es una forma de oponerse al exceso, a la desmesura del poder. En suma, es una forma de resistir y de construir un NosOtros en medio de sus complejidades; enriqueciéndola por la diversidad de las expresiones del ser y de sus variadas formas de resistencia.
Angélica Montes Montoya – Catedrática, Universidad Paris 13, Villetaneuse, France. Directora del Think Tank GRECOL-ALC. Doctora en Filosofía política. E-mail: [email protected]
[DR]Shifting the Meaning of Democracy: Race, Politics/and Culture in the United States and Brazil | Jessica Lynn Graham
A atual ascensão da extrema-direita mostra contornos verdadeiramente globais. Com maior ou menor intensidade, ocorre em todos os continentes e ganha corpo em países de trajetórias históricas as mais distintas. Dada a natureza dos problemas que ele coloca às democracias mundo afora, o fenômeno tem tornado lugar-comum a comparação da presente conjuntura com o período de gestação do fascismo e do nazismo na Europa. A profunda recessão econômica, já esperada como decorrência da pandemia de coronavírus, que grassa o mundo no momento mesmo em que escrevo estas linhas, faz com a Crise de 1929 uma comparação cada vez mais atraente. Leia Mais
Forty Autumns: A Family’s Story of Courage and Survival on Both Sides of the Berlin Wall – WILNER (TH-JM)
WILNER, Nina. Forty Autumns: A Family’s Story of Courage and Survival on Both Sides of the Berlin Wall. New York: HarperCollins, 2016. 391p. Resenha de: SHIELDS, Trevor. Teaching History – A Journal of Methods, v.45, n.2, p.55-57, 2020.
On June 26, 1963, President John F. Kennedy, on a visit to West Berlin, eloquently lamented, “The [Berlin] Wall is…an offense not only against history but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to join together.” All too often, the humanity of those impacted by the events of the Cold War gets lost in the background of the larger narrative of communism versus democracy—the Soviet Union versus the United States. Nina Willner’s work, Forty Autumns: A Family’s Story of Courage and Survival on Both Sides of the Berlin Wall (2016), successfully and vividly injects much needed humanity into the Cold War.
Written as primarily a family memoir, Forty Autumns tells the story of just one of the families divided by the Berlin Wall. Willner’s book chronicles the life of her mother, Hanna, and grandparents, Erna and Karl (Willner regularly only refers to Erna and Karl as Oma and Opa, or Grandma and Grandpa.) The book, which is divided into roughly four sections, begins with several maps of Europe during the Cold War. From there, one of the greatest features of the book appears, a family and historical chronology as Willner pairs the events of the Cold War physically right alongside their impact on her family. Seeing the history of the Cold War linked to the impacts of particular historical events on real people makes the vivid narrative of Forty Autumns difficult to put down. In 1946 the Soviets occupied East Germany and imposed Soviet law. That same year, Opa, who fought for the Germans during WWII, was forced to begin teaching Soviet doctrine to his many students in East Germany.
The Cold War had more physically terrifying consequences on the people of East Germany than being forced to learn and love communism. Not wanting to take any chances of people inciting dissent, many East Germans were thrown into prison with little idea why they had been arrested. The Hoheneck Castle, which was known around the world for its Gothic and Renaissance architecture, was converted to house women. In eloquent yet terrifying prose, Willner paints the picture: “There, skin to skin, in total darkness, with no room to sit, they were made to stand in knee-deep freezing water for days on end in dank, poorly ventilated chambers until they simply passed out” (72). The inhumanity of what happened at Hoheneck Castle, although known to historians, is often missing from more traditional narratives. Since Forty Autumns was written in such an accessible way, more people today will understand the realities of life behind the Iron Curtain.
Willner’s book could be used in the classroom in a variety of ways. The most obvious, though, would be to use the story of her family to both introduce and to potentially teach the entirety of the Cold War. This would be particularly doable since Willner interjected the major events of the Cold War throughout the many pages of Forty Autumns. On the family level, for example, East German authorities harassed Opa at the same time the Warsaw Pact was being formed and dissent was being silenced. Forty Autumns definitely brings to life the impact of many Cold War developments on both individuals and Germany as a whole.
While not all of Millner’s family lived to see Germany reunified in 1990, all the individuals discussed helped make true a few of President Ronald Reagan’s words: “What is right will always triumph” (324). Although much of Forty Autumns detailed the horrors of life under communism in East Germany, it ended on a positive note, with Willner’s extended family reuniting in a united Germany in 2013. Anyone interested in learning more about the Cold War or about one family’s brave attempt at enduring the unthinkable should give Forty Autumns a read. Beyond that, in a more contemporary moment where construction of a wall is regularly discussed as a way to make life better for so many, the history within Forty Autumns should be seen as a foreboding tale.
Trevor Shields – Minooka High School.
[IF]Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa da assembleia / Judith Butler
Conhecida internacionalmente pelo livro Problemas de gênero: feminismo e a subversão da identidade2, publicado no início da década de 1990 e lançado no Brasil apenas em 2003, a filósofa estadunidense Judith Butler se dedica às análises sobre feminismos, gêneros, corpos e sexualidades. Sua obra, que mantém fluxo entre teoria e engajamento político, exerce significativa influência, tanto nos debates acadêmicos em diferentes áreas do conhecimento quanto nos movimentos sociais e em setores da sociedade civil. Suas teorias, em destaque sobre a performatividade dos gêneros, ensejaram um intenso debate e tensões, por deslocar certezas naturalizadas como a do sexo biológico. Na sua perspectiva, há um esforço em retirar o caráter ontológico das interpretações sobre as identidades de gênero e sobre o sexo, gerando uma dissociação entre o sexo, gênero e desejo.
Nos últimos títulos publicados pela autora, como Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?3 e Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia4, há o interesse em discutir sobre formas de inserção políticas contemporâneas, violências institucionalizadas ou não e sobre a precariedade a que determinados conjunto de sujeitos são induzidos e que limitam a prática efetiva da democracia e que encontram no gênero e na experiência corporificada espaços privilegiados de acontecimento.
O livro Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia reúne seis capítulos que possuem como eixo norteador a relação entre os corpos, suas performances em assembleias e a ocupação de espaços públicos promovida pelas manifestações que se multiplicaram em vários países do mundo, desde 2010, quando cerca de um milhão de pessoas se reuniram na Praça Tahrir no centro do Cairo, no que ficou conhecido como Primavera Árabe. Para a autora, as manifestações no Egito, além de servirem de exemplo para lutas políticas em outros países, renovaram o interesse de pesquisadores de várias partes do mundo sobre o estudo de assembleias públicas e de movimentos sociais que tomaram como fator estimulante a condição precária a que muitos corpos são submetidos, nas chamadas democracias neoliberais.
Para iniciar a reflexão, Butler apresenta algumas categorias importantes para pensar os temas desenvolvidos ao longo dos capítulos, entre elas: democracia, povo, precariedade e performance. A autora sofistica a análise dessas categorias, considerando a polifonia à qual são sujeitas. No que se refere à conceitualização de democracia, é apontada a necessidade de pensá-la, para além de uma abordagem nominalista que não considera os limites da prática democrática em contextos neoliberais que operam pela precarização da vida, limitando o direito à existência de grupos. Em outros termos, para pensar em democracia na contemporaneidade é necessário ir além de estruturas governamentais que se autoproclamam democráticas, discutindo a inserção de práticas em assembleia que reivindicam formas de existência não precárias. Verticalizando ainda mais a análise sobre esse aspecto, Butler aponta que os discursos que se apoiam no marketing e na propaganda são os definidores de quais movimentos populares podem ou não serem chamados de democráticos.
Nesse debate, emerge a segunda categoria problematizada pela autora: povo. Seu interesse é responder às seguintes questões: quem realmente é o povo? Que operações de poder discursivo e com que intencionalidades se constrói essa categoria? A resposta que a autora constrói para essas perguntas é a de que não existe “povo” sem uma fronteira discursiva, ou seja, sua definição é um ato de autodemarcação que corresponderia a uma “vontade popular”. Aplicando à análise dos movimentos contra a condição precária, como a Primavera Árabe e o Occupy the Wall Street, a autora conclui que é necessário “ler tais cenas não apenas através da versão de povo que eles enunciam, mas das relações de poder por meio das quais são representadas”5.
Por precariedade, Butler entende uma condição induzida por violência a grupos vulneráveis ou ainda a ausência de políticas protetivas. Sua análise situa em torno das economias neoliberais que cada vez mais retira direitos – previdenciários, trabalhistas, de moradia – e acesso a serviços públicos como escolas e universidades.
A última categoria basilar para entender as discussões que seguem nos seis capítulos do livro é a de performance, já discutida pela autora em outros textos, mas que, nesta obra, é pensada através do viés das coletividades e para além do gênero. Em outros termos, Butler incorpora o seu conceito de performance para entender como os corpos agem de forma coordenada em assembleias. Para a autora, podemos perceber as manifestações de massa como uma rejeição coletiva à precariedade e, mais que isso, como um exercício performativo do direito de aparecer, “uma demanda corporal por um conjunto de vidas mais vivíveis”6.
A tese sobre a qual os capítulos versam é a de que, quando os corpos se reúnem em assembleias, quer sejam em praças, ruas ou mesmo no ambiente virtual, eles estão exercitando o direito plural e performativo de aparecer e de exigir formas menos precárias de existência. Os objetivos dessas assembleias são desde oposição a governos autoritários até redução de desigualdades sociais, questões ecológicas ou de gênero. Pensar sobre elas e sobre a pluralidade que incorporam é discutir como a condição precária é representada e antagonizada nesses movimentos e como se materializam na expressão de corpos que entram em alianças.
Os capítulos deste livro “buscam antes de tudo compreender as funções expressivas e significantes das formas improvisadas de assembleias públicas, mas também questionar o que conta como público e quem pode ser considerado povo.”7 Os primeiros capítulos se concentram na discussão sobre formas de assembleia que possuem modos de pertencimento e que ocorrem em locais específicos. Já os últimos capítulos discutem movimentações que acontecem entre aqueles que não compartilham um sentido de pertencimento geográfico ou linguístico.
No capítulo 1, intitulado “Políticas de gênero e o direito de aparecer”, Butler discute as manifestações de massa, com destaque àquelas que pautam as questões de gênero, como uma rejeição coletiva à precariedade de corpos que se reúnem por meio de um exercício performativo do direito de aparecer. Nesse sentido, a autora insere a discussão sobre o reconhecimento com um dos cernes dessas manifestações públicas. Segundo ela, os sujeitos estariam lutando por reconhecimento em um campo altamente regulado e demarcado de zonas que permitem ou interditam formas corporificadas. No capítulo, a autora ainda se lança a responder questões como: por que esse campo é regulado de tal modo que determinados tipos de seres podem aparecer como sujeitos reconhecíveis e outros tantos não podem? Quais humanos contam como humanos? Quais humanos são dignos na esfera do aparecimento e quais não são? Para a autora, o reconhecimento passa pela noção de poder que segmenta e classifica os sujeitos de acordo com as normas dominantes que buscam normalizar determinadas versões de humanos em detrimentos a outras. A autora avança ainda mais: a necessidade de se questionar como as normas são instaladas é o começo para não as tomar como algo certo/ um dado.
Utilizando o gênero para pensar essa questão, Butler argumenta que as normas de gênero são transmitidas por meio de fantasias psicossomáticas como patologização e a criminalização, que buscam normalizar determinadas práticas e versões do humano em relação às outras, basta pensar que há formas de sexualidade para as quais não existe um vocabulário adequado porque as lógicas como pensamos sobre o desejo, orientação, atos sexuais e prazeres não permitem que elas se tornem inteligíveis. Nesse processo de apagamento, o que se observa é a luta em assembleia pelo direito de viver uma vida visível e reconhecível que opera por meio de rompimentos no campo do poder.
No segundo capítulo, “Corpos em aliança e a política das ruas”, é dada visibilidade para os significados das manifestações no espaço público que articulam pluralidades de corpos que compartilham a experiência da precariedade e que se exibem e lutam por direito de existir. Para a autora, a política nas ruas deve congregar uma luta mais ampla contra a precariedade, sem que sejam apagadas as especificidades e pluralidades identitárias. Para tanto, há a necessidade de uma luta mais articulada que requer uma “ética de coabitação”. A ideia não é de “se reunir por modos de igualdade que nos mergulhariam a todos em condição igualmente não vivíveis”8, mas sim de “exigir uma vida igualmente possível de ser vivida”9.
Para pensar no espaço de aparecimento, Butler recorre e questiona Hanna Arendt que pensa o espaço a partir da perspectiva da pólis, onde a ação política é sine qua non ao aparecimento do corpo no espaço público. Para Butler, o direito de ter direitos não depende de nenhuma organização política particular para sua legitimação, pois antecede qualquer instituição política. O direito, então, passa a existir quando é exercido por aqueles que estão unidos em alianças e que foram excluídos da esfera pública, que é marcada por exclusões constitutivas e por formas de negação. Isso fica claro quando:
Ocupantes reivindicam prédios na Argentina como uma maneira de exercer o direito a uma moradia habitável; quando populações reclamam para si uma praça pública que pertenceu aos militares; quando refugiados participam de revoltas coletivas por habitação, alimento e direito a asilo; quando populações se unem, sem a proteção da lei e sem permissão para se manifestar, com o objetivo de derrubar um regime legal injusto ou criminoso, ou para protestar contra medidas de austeridade que destroem a possibilidade de emprego e de educação para muitos. Ou quando aqueles cujo aparecimento público é criminoso – pessoas transgênero na Turquia ou mulheres que usam véu na França – aparecem para contestar esse estatuto criminoso e reafirmar o seu direito de aparecer10.
Em outros termos, o espaço público é tomado por aqueles que não possuem nenhum direito de se reunir nele. Indivíduos que emergem de zonas de invisibilidade para tomarem o espaço, ao mesmo tempo em que se tornam vulneráveis às formas de violência que tentam reduzi-los ao desaparecimento. Neste capítulo, a autora discute o direito de ter direitos não como uma questão natural ou metafísica, mas como uma persistência dos corpos contra as forças que buscam sua erradicação.
No terceiro capítulo chamado “A vida precária e a ética da convivência”, Butler discute os significados de aparecer na política contemporânea e as possibilidades de aproximação entre corpos identitariamente diferentes e espacialmente separados, unidos apenas pela experiência da globalização e mediados pelos fenômenos tecnológicos e comunicacionais atuais, como as redes sociais. Para Butler, “alguma coisa diferente está acontecendo quando uma parte do globo, moralmente ultrajada, se insurge contra as ações e os eventos que acontecem em outra parte do globo”11. Para a autora, trata-se de laços de solidariedade que emergem através do espaço e do tempo, ou seja, uma forma de indignação que não depende da proximidade física ou do compartilhamento de um língua. Em outros termos, as obrigações éticas são surgem apenas nos contextos de comunidades “paroquiais” que estão reunidas dentro das mesmas fronteiras, constituintes de um povo ou uma nação.
Em parte, essas experiências compartilhadas são possibilitadas pelas novas mídias que, além de espaço de mobilização, se configuram também como uma potente possibilidade de transpor a cena, simultaneamente, para vários outros lugares. De outro modo, “quando o evento viaja e consegue convocar e sustentar indignação e pressão globais, o que inclui o poder de parar mercados ou de romper relações diplomáticas, então o local terá que ser estabelecido, repetidas vezes, em um circuito que o ultrapassa a cada instante”12. Assim:
Quando a cena é transmitida, está ao mesmo tempo lá e aqui, e se não estivesse abrangendo ambas as localizações – na verdade, múltiplas localizações – não seria a cena que é. A sua localidade não é negada pelo fato de que a cena é comunicada para além de si mesma e assim constituída em mídia global; ela depende dessa mediação para acontecer como o evento que é. Isso significa que o local tem que ser reformulado para fora de si mesmo a fim de ser estabelecido como local, o que significa que é apenas por meio da mídia globalizante que o local pode ser estabelecido e que alguma coisa pode realmente acontecer ali. […] As cenas das ruas se tornam politicamente potentes apenas quando – e se – temos uma versão visual e audível da cena comunicada ao vivo ou em tempo imediato, de modo que a mídia não apenas reporta a cena, mas é parte da cena e da ação; na verdade, a mídia é a cena ou o espaço em suas dimensões visuais e audíveis estendidas e replicáveis. Quando a cena é transmitida, está ao mesmo tempo lá e aqui, e se não estivesse abrangendo ambas as localizações – na verdade, múltiplas localizações […]13
O quarto capítulo – “A vulnerabilidade corporal e a política de coligação” – estrutura-se em torno de três questões fundamentais: vulnerabilidade corporal, coligações e políticas das ruas. A vulnerabilidade é uma experiência corpórea de exposição a possíveis formas de violências como conflitos entre manifestantes, violência policial ou violência de gênero, pois “algumas vezes o objetivo de uma luta política é exatamente superar as condições indesejadas da exposição corporal. Outras vezes a exposição deliberada do corpo a uma possível violência faz parte do próprio significado de resistência política”14. Para a autora, essa vulnerabilidade torna-se menos problemática quando os coletivos criam redes de proteção. A multidão, então, assumiria a função de suporte coletivo, pois:
Quando os corpos daqueles que são considerados “dispensáveis” se reúnem em público (como acontece de tempos em tempos quando os imigrantes ilegais vão às ruas nos Estados Unidos como parte de manifestações públicas), eles estão dizendo: “Não nos recolhemos silenciosamente nas sombras da vida pública: não nos tornamos a ausência flagrante que estrutura a vida pública de vocês.” De certa maneira, a reunião coletiva dos corpos em assembleia é um exercício da vontade popular, a ocupação e a tomada de uma rua que parece pertencer a outro público, uma apropriação da pavimentação com o objetivo de agir e discursar que pressiona contra os limites da condição de ser reconhecido em sociedade. Mas as ruas e a praça não são a única maneira de as pessoas se reunirem em assembleia, e sabemos que uma rede social produz ligações de solidariedade que podem ser bastante impressionantes e efetivas no domínio virtual15.
No quinto capítulo intitulado “Nós, o povo – considerações sobre a liberdade de assembleia”, Butler discute a categorização e a reivindicação da ideia de “povo”, em meio às lutas políticas, problematizando concepções restritivas de povo, como no caso da Constituição dos Estados Unidos. Necessário pensar que a construção de “povo” é uma autodenominação que opera por meio de uma construção discursiva, integrando e excluindo grupos que estão ou não dentro dessa categoria. Ainda no capítulo, a autora discute as privatizações no contexto neoliberal, que minimiza a proteção do Estado e enseja formas de alianças nas ruas que lutam contra o precário.
No último capítulo, intitulado “É possível viver uma vida boa em uma vida ruim?”, Butler aborda, a partir da proposta analítica de Adorno, sobre as possibilidades de vida em um mundo marcado pela condição de desigualdade. Para a autora, a luta política e a performance coletiva em assembleia são ações que vão de encontro à lógica da precarização e que podem ser uma alternativa no contexto neoliberal de diminuição de direitos.
O fio que costura toda a argumentação do livro é o da necessidade de criar condições coletivas de existência e de visibilidade de corpos contra as formas de precariedade que limitam a vida de vários sujeitos. A proposta da autora é a criação de alianças políticas que incluam várias pautas e demandas no contexto das democracias neoliberais. Butler revisita alguns conceitos como de performatividade e de precariedade, já utilizados em outras obras, aplicando-os às questões contemporâneas. Nessa obra, Butler extrapola a análise teórica acerca das assembleias contemporâneas e assume uma postura política de incitação à luta por democracia e direitos sociais no contexto de precarização provocada pelo neoliberalismo.
Laura Lene Lima Brandão – Doutoranda/Universidade Federal do Piauí. Teresina/ Piauí/ Brasil. E-mail: [email protected].
BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa da assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. Resenha de: BRANDÃO, Laura Lene Lima. Pelo direito de (r)existir: os corpos nas ruas. Outros Tempos, São Luís, v.17, n.29, p.396-342, 2020. Acessar publicação original. [IF].
Identidades políticas y democracia en la Argentina del siglo XX | Sebastián Giménez, Nicolás Azzolini
Las principales vertientes de la renovada historia política no le han asignado aún un lugar significativo a la gestación y devenir de las distintas formas de pertenencia y solidaridades políticas, salvo que se deriven de organizaciones partidarias (algo señalado en el nº 9 de esta revista con saludable espíritu polémico por Eduardo Míguez para el cambio del siglo XIX al XX). Identidades políticas y democracia en la Argentina del siglo XX constituye una estimulante propuesta de diálogo entre aquellas disciplinas más teóricas dentro de las Ciencias Sociales y la historia política. Desde las páginas iniciales invita a un feed-back que se vuelve necesario, ante el estado de avance de múltiples investigaciones que se encargaron de estos cruces, con notables antecedentes en los análisis sobre el período posterior al derrocamiento de Perón. Leia Mais
Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro | Ariel Goldstein
Ariel Goldstein é um professor e pesquisador argentino que dedica sua vida acadêmica ao estudo da política e da sociedade brasileira. No início de 2019, poucos meses após Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil, Goldstein publicou o livro Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro2. De forma astuciosa, o autor soube aproveitar uma circunstância política que para muitos era inesperada e produziu aquela que foi a primeira análise consistente sobre o novo presidente brasileiro publicada em alguma língua que não a portuguesa. Nas próximas linhas, apresentaremos o referido livro e os principais argumentos nele desenvolvidos.
Um argentino lançando um livro sobre um novo presidente brasileiro, meses após este ter sido eleito, poderia ser um empreitada extremamente artificial e de resultados superficiais, mas não é o caso aqui interpelado. A primeira qualidade perceptível no trabalho de Goldstein é a sua intimidade com a política, a história e as dinâmicas sociais do país analisado. Ao olhar para os artigos, livros e reportagens citados no livro, é fácil reparar que o autor há muito está em contato com os eventos políticos brasileiros, dos mais ordinários aos mais excepcionais. Ademais, nota-se que Goldstein mantem uma relação de proximidade não só com o dia-a-dia da política brasileira, mas também com os mais destacados debates acadêmicos que abordam tal temática. Leia Mais
Gênero e Desigualdades: os limites da democracia no Brasil | Flávia Biroli
Como garantir a maior participação política (nas diferentes esferas) das minorias? De que maneira é possível superar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres (como limitação temporal, causada pelo acúmulo de responsabilidades do trabalho doméstico, cuidado e maternidade) para um maior envolvimento político? Que direitos ainda são negados às mulheres e às pessoas LGBTQI+ pela democracia 1 brasileira? Como os feminismos têm contribuído para uma sociedade mais igualitária no que tange aos direitos e à participação política? Quais foram os avanços, os limites e as desigualdades ao longo das últimas décadas no Brasil? Essas e muitas outras questões foram respondidas por Flávia Biroli no livro Gênero e Desigualdades: os limites da democracia no Brasil, publicado no ano de 2018, no qual enfatiza, como anunciado no título, as limitações, as desigualdades e as relações de gênero presentes na democracia brasileira, a partir de uma análise que entrelaça local/global e as diferentes teorias feministas.
Flávia Milena Biroli Tokarski é formada em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP), e possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ao longo de seus anos de pesquisadora e professora no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), tem se dedicado às temáticas da democracia, política, estudos de gênero e teoria feminista, sobretudo, com enfoque nas áreas de mídia e política. Suas principais publicações, além do livro resenhado aqui, são: Caleidoscópio convexo: mulheres, política e mídia (2011, publicado com Luis Felipe Miguel), Autonomia e desigualdades de gênero: contribuições do feminismo para a crítica democrática (2013), Família: novos conceitos (2014) e Feminismo e Política (2014, também com Luis Felipe Miguel). Leia Mais
Ditadura e Democracia: legados da memória – RAIMUNDO (RTA)
RAIMUNDO, Filipa. Ditadura e Democracia: legados da memória. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. Resenha de: SILVA, Paulo Renato da. Os “cravos” da memória: democracia e passado autoritário em Portugal. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.28, p.546-552. set./dez., 2019.
Ditadura e Democracia: legados da memória, da socióloga Filipa Raimundo, foi publicado em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro é o 87o da coleção “Ensaios da Fundação”, uma das mais importantes coleções portuguesas tendo em vista a publicação de títulos que superem o meio acadêmico.
Escrito em linguagem acessível – mas não simplista –, e bem estruturado, o livro é composto por uma introdução, quatro capítulos e uma conclusão. Na introdução, De que é que trata este livro?, a autora evidencia o propósito do livro, a análise “(…) da relação da democracia portuguesa com o seu passado autoritário e dos elementos que têm contribuído para a construção da memória deste período (…)” (p. 9). No caso de Portugal, o passado autoritário se refere ao Estado Novo (1933-1974), período marcado pelo governo de António de Oliveira Salazar (1889-1970), Presidente do Conselho de Ministros entre 1932 e 1968, quando sofreu um acidente e foi afastado de suas funções. A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, representou o fim da ditadura do Estado Novo1. Para leitores que não sejam de Portugal, é importante acrescentar que o primeiro governo constitucional eleito depois da ditadura se estabeleceu apenas em julho de 1976, informação que ajudará a compreender alguns elementos tratados no livro e críticas feitas à condução da Revolução dos Cravos por diferentes grupos políticos portugueses.
O capítulo 1, Democracia e passado autoritário, destaca como as democracias de cada país se relacionam de modo diferente com os seus respectivos passados autoritários. “A decisão de punir ou não os responsáveis pelo regime deposto é, em larga medida, um produto das condições políticas existentes durante a mudança de regime. (…). Mais tarde, só conjunturas críticas permitem mudar a relação entre um povo e o seu passado autoritário” (p. 17). No capítulo 2, Ajustar contas com o passado, Raimundo passa a focar no caso português; analisa como alguns nomes ligados ao Estado Novo sofreram sanções institucionais e políticas depois da queda da ditadura e como outros foram processados criminalmente pelos atos cometidos. O capítulo 3, Romper com o passado, mas sem o apagar, analisa as novas narrativas sobre o passado promovidas a partir da Revolução dos Cravos, “(…) acções no plano simbólico e museológico [que] permitiram que a democracia se legitimasse tanto por oposição como por rejeição ao regime anterior, mesmo que ela nem sempre tenha sido tão profunda quanto a narrativa revolucionária faria supor” (p. 55). No capítulo 4, O antifascismo como imagem de marca, a autora investiga o tema das reparações econômicas e simbólicas aos perseguidos pela ditadura até os dias atuais. No início, as associações de perseguidos tinham o principal objetivo de libertar os presos políticos e “(…) sua existência foi relativamente efémera, tendo em conta a relativa rapidez com que os presos políticos foram libertados” (p. 77). Atualmente, poucas associações reuniriam ex-membros da oposição e da resistência e as atuais propostas de reconhecimento estariam muito concentradas nas mãos dos partidos políticos. Enquanto as associações primariam pelo reconhecimento simbólico, dos partidos políticos viriam as principais propostas de compensação financeira aos perseguidos. “(…) os beneficiários desses mecanismos parecem ser, em grande medida, os militares e simpatizantes dos partidos que lideram as propostas legislativas” (p. 78). De acordo com Raimundo, a reunião das iniciativas de sucessivos governos e dos principais partidos, sobretudo de esquerda, “(…) mais do que dar resposta a (…) certos sectores da sociedade, poderá ser encarada (…) como uma forma de cultivar uma imagem de marca através da qual podem reforçar as suas credenciais democráticas e chamar a si a herança da luta pela democracia e contra o autoritarismo” (p. 78). Na Conclusão, a autora faz um balanço do tratado em todo o livro e aponta aquilo que ficou de fora2.
Os méritos do livro começam pela própria temática, pois a memória de um passado autoritário é sempre um tema complexo e controverso. Ao abordar o tema, Raimundo sistematiza e analisa as principais ações quanto a esse passado3, destacando as contribuições, limites e contradições das medidas adotadas por governos, partidos e associações de perseguidos pela ditadura. Além disso, a autora evidencia as relações entre esse passado e a política portuguesa contemporânea, indicando como os usos dessa memória variam entre governos e partidos de diferentes vertentes políticas. Já comentamos que, segundo o livro, os usos desse passado estariam relacionados à construção de “credenciais democráticas” para os partidos e governos e a maioria das propostas de reconhecimento dos perseguidos partiria de governos e partidos de esquerda. Entretanto, ainda que não haja reivindicação do passado autoritário pelos atuais partidos portugueses, a autora demonstra que existem divergências sobre o reconhecimento aos perseguidos e a condução do processo revolucionário, o que aponta para diferentes concepções de democracia em Portugal após a Revolução dos Cravos. Para mencionar apenas um exemplo tratado no livro, além de indicar divergências existentes entre os próprios partidos de esquerda, Ditadura e Democracia mostra como o CDS, partido conservador português, procurou estender uma lei que beneficiava os perseguidos pela ditadura aos que sofreram sanções pelo processo revolucionário iniciado em abril de 1974, o qual teria cometido abusos semelhantes aos da ditadura:
Como mostram os registros da Assembleia da República, duas semanas depois da aprovação da Lei 20/97, aquele partido [CDS] apresentou uma proposta de alteração da lei que se baseava no facto de muitos portugueses terem sido “perseguidos e vítimas de repressão em virtude das suas convicções democráticas e anticomunistas [grifo meu]. Foram deste modo prejudicados no exercício das suas profissões, afastados ou saneados dos cargos e funções que desempenhavam, impedidos de ensinar, obrigados a recorrer à clandestinidade ou ao exílio, tendo em alguns casos sido presos por longos períodos. (p. 91) Se na Assembleia existem tensões sobre o tema, na sociedade portuguesa não poderia ser diferente. Raimundo destaca várias reivindicações de António de Oliveira Salazar em Santa Comba Dão, terra natal do ditador, e na imprensa, como o caso do documentário da RTP – uma das principais redes de televisão de Portugal – que apresentou Salazar como o expoente do século XX português (p. 10-14). “Tendo já superado a longevidade do regime autoritário, a democracia portuguesa dificilmente poderá continuar a ser apelidada de ‘jovem’. Ainda assim, estes temas surgem no debate com relativa frequência (…)” (p. 14). Ao apontar para as divergências existentes na Assembleia e na sociedade portuguesa – ainda que pontuais, esporádicas e minoritárias –, o livro nos leva a considerar que existem elementos que poderiam mudar a relação dos portugueses com seu passado autoritário diante de eventuais “conjunturas críticas”, conforme a autora defende no início de Ditadura e Democracia sem mencionar especificamente o caso português.
Ainda sobre a sistematização das ações e medidas tomadas em relação ao passado autoritário português, o livro se destaca pela comparação com o ocorrido em outros países europeus, africanos e latino-americanos, destacando convergências e divergências em relação a Portugal. A autora defende que “(…) o conhecimento sobre a forma como se ajustou contas com o passado noutros países poderá contribuir para mitigar a avaliação negativa que os portugueses fazem do seu próprio processo de ajuste de contas (…)” (p. 53). Raimundo apresenta dados de uma pesquisa que coordenou, na qual 95% de 131 perseguidos pela ditadura responderam que não teria ocorrido justiça no caso português (p. 51). A autora cita que nos casos de Espanha e Brasil, por exemplo, a opção punitiva não esteve nem sequer à disposição da elite política (p. 53). Além desse esforço de História Comparada, é necessário valorizar, ainda, o diálogo multi e interdisciplinar apresentado pelo livro entre áreas como História, Direito, Ciência Política e Sociologia.
Quanto às polêmicas suscitadas pelo livro, uma delas se refere ao termo “ajuste de contas” para se referir às sanções e processos sofridos por nomes ligados ao Estado Novo depois da Revolução dos Cravos. A polêmica, por exemplo, apareceu em 21 de setembro de 2018 no lançamento do livro no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, uma das principais referências quanto à memória do Estado Novo português. O lançamento no Museu do Aljube contou com comentários de Fernando Rosas e Riccardo Marchi. Rosas foi enfático na crítica ao termo “ajuste de contas”: “Ajuste de contas ou responsabilização cívica e criminal de responsáveis da ditadura e dos seus crimes? Ajuste de contas tem um subtexto. É o subtexto da vingança. Não se trata bem de um ajuste de contas. Trata-se de justiça.” (2018, 17m30s).
Para leitores da maioria dos países latino-americanos e em particular do Brasil, como é o caso do que aqui escreve, o livro pode soar deveras crítico quanto à forma como a Revolução dos Cravos lidou e como os governos constitucionais têm lidado com a memória do passado autoritário português. Deveras crítico, pois muitos de nós ainda esperamos ansiosamente por um “ajuste de contas”, ainda que limitado e com imperfeições. Assim, para muitos de nós latino-americanos, ler o livro é experimentar um choque entre a nossa temporalidade e a portuguesa no que se refere à relação com o passado autoritário. Só é possível criticar o “ajuste” com o passado quando o processo foi feito ou pelo menos tentaram fazê-lo.
A crítica feita por Ditadura e Democracia é necessária e muito bem-vinda. Serve de experiência e referência àqueles que ainda esperam por um “ajuste” com o passado. Entretanto, faltou ampliar a contextualização das limitações e contradições apresentadas no caso português. Ressaltamos: os excessos cometidos no pós-25 de Abril de 1974 devem ser lembrados e criticados para (des)construir e historicizar os discursos políticos em Portugal desde então. Devem ser lembrados e criticados, pois, em alguns casos, foram muito graves e resultaram em “(…) diversas prisões arbitrárias, uso de tortura e violenta agressão física” (p. 99-100), conforme apontou comissão constituída para averiguar os excessos. Contudo, esses excessos também estão profundamente relacionados a um estrangulamento do espaço público promovido por décadas pelo Estado Novo. O (re)estabelecimento de princípios legais e constitucionais depois de períodos autoritários não é um processo simples. Por sua vez, que os excessos de Abril sejam “esquecidos” ou silenciados por forças políticas que outrora os promoveram ou defenderam (p. 99-101) também deve ser analisado como um sinal de revisão do passado revolucionário por essas forças e de seu alinhamento – ou submissão – a valores presentes na sociedade portuguesa contemporânea ou em setores expressivos dela. Para além dos interesses imediatos, presentes nos usos que os partidos e governos fazem do passado autoritário, caberia apontar como a experiência democrática transformou as forças políticas portuguesas e provocou mudanças na forma de lidar com a memória da ditadura e da Revolução dos Cravos. Em outras palavras, o “esquecimento” ou o silenciamento dos excessos cometidos por Abril talvez indiquem um aprendizado maior com a democracia do que reivindicações de Salazar em sua terra natal ou em programas de televisão de grande alcance. Enfim, faltou ao livro um equilíbrio entre a crítica à memória de Abril e os legados que a Revolução dos Cravos deixou para a democracia portuguesa, o que implica conceber a democracia para além do seu aspecto institucional.
Em tempos nos quais o passado autoritário brasileiro é minimizado ou mesmo negado por expoentes e setores de nossa política e sociedade – o que se verifica com variações em outros países latino-americanos –, a leitura de Ditadura e Democracia nos conecta com experiências históricas vividas pelos portugueses desde a queda da ditadura. Ajuda-nos a pensar nas particularidades de cada processo, mas também nos problemas e dilemas em comum deixados por governos autoritários e ditatoriais. Quanto às críticas que Filipa Raimundo faz aos usos da memória do passado autoritário português e da Revolução dos Cravos, estas nos servem, sobretudo, para que a sociedade civil seja a grande promotora de nosso “ajuste” e, assim, não fiquemos à mercê das instabilidades que marcam a política partidária e institucional. 1 Entre 1968, quando Salazar se acidentou, e 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, a presidência do Conselho de Ministros foi exercida por Marcello Caetano. 2 “Este livro não teve a pretensão de apresentar uma análise exaustiva das ferramentas e mecanismos usados para lidar com o passado em Portugal. (…). Ficaram de fora desta análise muitos outros aspectos, tais como: o exílio forçado da cúpula do regime, a punição dos funcionários da Legião Portuguesa, o Tribunal Cívico Humberto Delgado, a mudança na toponímia, a proibição de constituição de partidos fascistas, a amnistia aos desertores e refractários, entre outros temas (…)” (p. 98). 3 No que se refere à sistematização, são dignas de nota as tabelas 1 “Funções abrangidas pela restrição de direitos políticos em 1975-76” (p. 31) e 2 “Temas, conteúdos e principais conclusões dos 25 relatórios publicados pelo Livro Negro” (p. 65). O Livro Negro foi uma proposta iniciada em 1977 pelo primeiro governo constitucional depois da queda da ditadura e teve o objetivo de reunir documentos sobre o autoritarismo e a repressão durante o Estado Novo.
Paulo Renato da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foz do Iguaçu, PR – BRASIL. E-mail: [email protected].
African Thought in Comparative Perspective – MAZRUI (HU)
MAZRUI, Ali. African Thought in Comparative Perspective. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013. 369 p. OLIVEIRA, Silvia. Pensamento africano em perspectiva comparada. História Unisinos, 23(3):475-477, Setembro/Dezembro 2019.
Assente no profissionalismo e na crítica científica, a presente obra traz a público, num único volume, uma coletânea de artigos publicados por Ali Mazrui ao longo da sua carreira, onde apresenta não só os resultados das suas pesquisas enquanto historiador, pesquisador, professor, analista e cientista político, mas igualmente as suas ideias e convicções enquanto cidadão africano, como o mesmo faz questão de se identificar. Apesar de ser pouco abordado no espaço lusófono, a sua experiência, o seu intelecto, o seu carisma, a sua defesa do pan-africanismo e a sua dedicação à causa africana fazem dele um “dos mais prolíficos escritores africanos do nosso tempo” (p. xi), assim como uma referência na produção de conhecimento sobre África, nas suas múltiplas dimensões, com destaque para a pesquisa sobre o Islão e os estudos pós-coloniais.
African Thought é um livro realista e, ao mesmo tempo, apaixonante na medida em que, ao lermos, vemos o cenário de África ser descortinado, ampliando, desse modo, a compreensão do leitor em relação ao continente e aos africanos, de um modo geral, mostrando igualmente que, ao contrário da “irrelevância histórica para a qual foi relegado” (Mazrui, 2013, p. 10), este é detentor de um “repertório intelectual riquíssimo” (Mazrui, 2013, p. XII) que precisa de ser explorado, compreendido, explicado e valorizado. A riqueza das temáticas abordadas e analisadas, que vão desde o “legado dos movimentos de libertação, a convergência e a divergência africana, o pensamento islâmico e ocidental, ideologias nacionalistas, o papel da religião na política africana e o impacto da filosofia clássica grega na contemporaneidade” (Mazrui, 2013, p. XI), visa precisamente cumprir estes pressupostos. Dada a complexidade do objeto de estudo, os editores organizaram este volume em cinco secções autónomas, cada uma delas dividida em capítulos.
A primeira secção – Africanidade comparada: identidade e intelecto – apresenta as teorias e os preconceitos “meio-diabólicos” (Mazrui, 2013, p. 4) que alimentaram, durante séculos, a exploração e a colonização do continente e dos africanos, caracterizados como “crianças imaturas” (Mazrui, 2013, p. 5), “pré-históricos” (Mazrui, 2013, p. 8), “cultural e geneticamente retardados” (Mazrui, 2013, p. 10), posicionados como os menos civilizados na escala evolutiva estabelecida pelo próprio ocidente, catalogações que serviram de pretexto e justificativa para o tráfico de escravos e alimentaram ideias e teorias como o darwinismo social e as conhecidas teorias da modernização e da dependência. Segue-se uma abordagem sobre a legitimação e reconhecimento da filosofia africana enquanto fonte de sabedoria, sendo identificadas três escolas filosóficas, nomeadamente a) escola cultural, também conhecida como etnofilosofia, que assenta na tradição oral e é classificada pelo autor como uma escola de massas, abrangendo os períodos pré-colonial, colonial e pós-colonial; b) ideológica, que reúne as ideias dos ativistas políticos e seus líderes, abrangendo sobretudo o período colonial e pós-colonial, cuja caraterística principal passa pela utilização das línguas ocidentais, sendo por isso considerada mais elitista; c) crítica ou racionalista, composta essencialmente pelos filósofos académicos, enquadrados nas universidades.
Posteriormente, Mazrui identifica as cinco maiores tradições do pensamento político em África, nomeadamente, a) conservadora, ou solidariedade tribal, assente na continuidade (da tradição) em detrimento da mudança. Esta engloba três subtradições: the elder tradition (o respeito pelos mais velhos), the warrior tradition (a tradição dos guerreiros) e the sage tradition (a sabedoria); b) nacionalista, que surge parcialmente como resposta à arrogância da colonização branca, podendo assumir diferentes dimensões, nomeadamente, nacionalismo linguístico, religioso, rácico, pan-africanismo, etnicidade (unidade tribal), nacionalismo civilizacional; c) liberal-capitalista, com ênfase no individualismo económico, na iniciativa privada, assim como na liberdade civil; d) socialista, e) internacional ou não alinhamento. O autor salienta ainda o papel e a importância da memória coletiva identificando, para o efeito, quatro funções da mesma, nomeadamente: preservação, seleção, eliminação e invenção, bem como a questão dos arquivos africanos que assentam sobretudo na tradição oral.
Ao alertar para a necessidade de compreensão e distinção entre relativismo histórico (diferença entre épocas históricas) e relativismo cultural (diferença em termos de valores entre sociedades) no início da segunda secção, o autor introduz a temática sobre a presença do Islão no mundo e em África, constituindo este, a par da africanidade e da influência ocidental, uma das suas heranças, denominada pelo autor de triple heritage (tripla herança). Posteriormente, Mazrui apresenta a sua teoria sobre a existência de cinco níveis de pan-africanismo: 1) Subsariano, que congrega a união dos povos negros ao sul do Sara; 2) Trans-Subsariano, a unidade do continente como um todo, tanto ao norte como ao sul do Sara; 3) Transatlântico, que engloba igualmente a sua diáspora pelo mundo; 4) Hemisfério Ocidental, união dos povos descendentes de africanos e que se encontram no ocidente; 5) Global, a conexão de todos os negros e africanos pelo mundo. É feita ainda referência à Negritude como movimento cultural, no qual o autor distingue duas categorias, nomeadamente: a literária, que inclui não só a literatura criativa, mas igualmente aspetos da esfera política e social, e a antropológica que corresponde a um estudo romantizado de uma comunidade tribal africana por um etnógrafo africano.
É a partir da filosofia e da construção do conhecimento que Mazrui reflete sobre a influência que a filosofia ocidental exerce(u) sobre os africanos, sobretudo sobre os nacionalistas. Composta por seis capítulos, a terceira secção é dedicada à construção do nacionalismo africano e às suas diferentes manifestações. O autor defende que a herança greco-romana foi utilizada pelo ocidente com propósitos sombrios, servindo como justificação para a colonização, sendo o exemplo belga na República Democrática do Congo (RDC) o mais pragmático de todos. Assim sendo, o autor defende que a Negritude não é mais do que “a resposta do homem negro à mística greco-romana” (Mazrui, 2013,p. 146). Mas é igualmente essa mesma filosofia que influencia o pensamento africano, em particular os nacionalistas, tornando-se eles próprios, de certa maneira, filósofos, ao beberem e defenderem, posteriormente, as teorias de Hobbes, Rousseau e Lénin, entre outros autores, que estarão na base da luta pela igualdade e libertação do continente, constituindo por isso três formas de resistência, nomeadamente, 1) tradição guerreira: assente na cultura indígena; 2) resistência passiva: técnica utilizada por Gandhi; 3) revolução marxista, tendo como exemplo os casos das ex-colónias portuguesas, nomeadamente, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.
No entanto, a luta não se circunscreveu às fronteiras do continente, sendo que a diáspora também arregaçou as mangas e deu o seu contributo; exemplos dessa luta são Frederick Douglas e Du Bois. Outros aspetos igualmente importantes para a compreensão da dinâmica política contemporânea do continente prendem-se com a questão do religioso, da tradição, da cultura e, consequentemente, da ética, na análise dessas temáticas. E o autor chama a atenção para a sua importância na quarta secção, a mais curta de todas as secções. De uma forma bastante simples, porém, completa, são-nos apresentadas as características do religioso em África, nomeadamente, a) étnicas, b) não expansionistas, c) universalistas, d) ausência das sagradas escrituras, tendo como base a tradição oral, e) língua nacional, f) não separação dos assuntos terrenos e espirituais, ou seja, não se assentam na fé. Outras peculiaridades culturais que fazem do continente aquilo que ele é, como o casamento, os casamentos inter-raciais, a poligamia, entre outras, são igualmente analisadas por Mazrui, que alerta para a exercem no quotidiano dos africanos ainda na contemporaneidade e pelo fato de nos ajudarem a perceber a atual situação do continente, funcionando igualmente como pressupostos de análise do pós-colonial.
Nos seis capítulos que compõem os Ensaios Conclusivos, o autor traz a debate temáticas mais contemporâneas, que têm levado a uma continuidade da ideia periférica que se construiu e se continua a construir sobre o continente, nomeadamente, pós-colonialismo, multiculturalismo, modernidade, democracia, globalização, entre outras. Ao alertar para a necessidade de pensarmos e debatermos o pós-colonial ou o que “Said chamou de orientalismo e Mudimbe chamou otherness” (Mazrui, 2013, p. 287), Mazrui relembra a tripla herança africana e aponta para os diferentes instrumentos de que o ocidente tem feito uso para manipular o discurso que vai contra a visão do mundo implantada pelo próprio ocidente, monopolizando e perpetuando, deste modo, os seus próprios paradigmas em relação ao “Outro” (Mazrui, 2013, p. 288), numa tentativa de continuar a dominar, mostrando a sua supremacia, da qual a globalização se apresenta como o exemplo mais flagrante.
Apesar da obra estar disponível apenas em língua inglesa, o que constitui uma condicionante para os não falantes dessa língua, não podemos deixar de realçar que, pela riqueza de informações e pela crítica científica que serve de base para a sua análise, estamos em presença de material de consulta obrigatória para qualquer ramo do saber, não só direcionado para a área dos estudos sobre África, mas igualmente sobre a temática da produção do conhecimento sobre o pós-colonial, numa perspetiva macro. Com efeito, uma das suas inovações é precisamente a transdisciplinaridade do autor na análise dos diferentes temas com destaque para a sistematização teórica do pensamento político africano, a sociedade africana, filosofia, multiculturalismo, globalização, bem como a visão global que emprega nessa análise, levantando mais questões do que dando respostas às interrogações iniciais. Por outro lado, a sua riqueza bibliográfica dá-nos igualmente pistas para futuras leituras e pesquisas sobre as diferentes temáticas, alimentando desse modo o debate científico e abrindo caminhos futuros de pesquisa.
Pela sua importância, não podemos igualmente deixar de referir aspetos que a podem fragilizar, como o fato do autor não aprofundar o debate sobre a responsabilidade das elites africanas pela atual situação em que se encontra o continente, as falhas no processo de construção da democracia, assim como em relação à realidade que enfrentam os africanos na contemporaneidade, os desafios e expectativas em relação ao futuro. Talvez seja esse o propósito, ou seja, despertar em cada um dos leitores outras interrogações que conduzam à produção de mais conhecimento sobre o continente, desmistificando, deste modo, a ideia preconcebida e obscura que se foi construindo ao longo dos séculos.
Notas
2 A partir dessa parte da resenha, os trechos em itálico são grifos presentes no livro.
Silvia Oliveira – Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Assis, Avenida Dom Antonio, 2100 – Parque Universitário, 19.806-900 Assis, São Paulo, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: [email protected].
L’età del disordine. Storia del mondo attuale 1968-2017 – DETTI; GOZZINI (BC)
DETTI, T.; GOZZINI, G. L’età del disordine. Storia del mondo attuale 1968-2017. Bari-Roma: Laterza, 2018. 210p. Resenha de: PERILLO, Ernesto. Il Bollettino di Clio, n.11/12, p.190-192, giu./nov., 2019.
Cinque anni nel cuore del Novecento trasformano il XX secolo: dal 1968 al 1973 si manifestano o accelerano in modo significativo mutamenti strutturali che, spesso in modo graduale e in parte inavvertito, danno forma al mondo attuale. Questa è la tesi dei due autori: in quegli anni si sono poste le radici di uno stravolgimento economico, sociale e culturale che ha generato un grande disordine planetario, vissuto spesso con ansia e paura; una congiuntura che richiede l’elaborazione di coordinate orientative, al fine di affrontare le sfide globali che ci sovrastano: migrazioni, disuguaglianze, clima, finanza, povertà.
Lo shock petrolifero del ’73 pone per la prima volta in modo drammatico l’Occcidente di fronte al problema delle fonti di energia; il ciclo economico innescato determina un lungo periodo di stagnazione e di inflazione, accelerando processi ancora in atto. La globalizzazione acutizza fenomeni capaci di trasformare radicalmente gli equilibri mondiali. È l’”incubo dei nostri tempi”? Forse sì, se pensiamo alla finanza, quella “bolla di carta” sempre più svincolata e distante dalla ricchezza tangibile. Ma la globalizzazione, scrivono Detti e Gozzini, non è un complotto, è l’insieme dei movimenti internazionali di merci, persone, capitali e informazioni ed è tanto velleitario pensare di annullarla quanto necessario provare a controllarla. Certamente, tra le sue conseguenze ci sono l’approfondirsi del dislivello di ricchezza tra le parti del mondo industrializzato e le altre, così come disoccupazione e sotto-occupazione nei Paesi ricchi, migrazioni, sfruttamento incontrollato e distruzione dell’ambiente in quelli poveri. Tuttavia, i dati evidenziano che è condizione necessaria, anche se non sufficiente, per un possibile processo di convergenza. Riforme agrarie, scolarizzazione di massa, qualificazione, innovazione tecnologica hanno una forte potenzialità nell’aumento del reddito e nell’uscita dalla povertà: in Asia le grandi carestie sono state sconfitte; dal 1980 in poi i poveri di tutto il mondo sono considerevolmente calati. Permangono, però, forti fragilità nell’Africa subsahariana ed equilibri instabili sul piano sociale ed economico sia all’interno di un Paese, sia fra Paesi diversi. Ne sono emergenze ben visibili le tragedie umanitarie del Terzo mondo, la povertà persistente fra gli anziani e nelle famiglie numerose dell’Occidente avanzato, ma anche quel mutamento antropologico, indotto dai media e dai consumi, che si manifesta nell’individualismo acquisitivo di massa e nel prevalere delle ragioni della libertà economica sulla giustizia.
Nel ’68 si accesero i riflettori internazionali sulla prima grande crisi umanitaria nella regione nigeriana del Biafra, a seguito di una guerra civile. Migrazioni, carestie e profughi si sono drammaticamente replicati con andamento altalenante: segno che la politica e la diplomazia possono fare molto per contenerli e per indirizzare verso la pace, ma anche che raramente questa volontà si manifesta in maniera concorde nelle nazioni più potenti.
Le migrazioni sono, infatti, attualmente uno dei maggiori fattori di ‘disordine’ mondiale. Certo, è difficile e fuorviante accordare le tendenze demografiche con i tempi brevi dei cambiamenti economici e politici. Tuttavia, le legislazioni restrittive adottate l’indomani della crisi petrolifera del 1973, finalizzate a fornire risposte a un’opinione pubblica spaventata dalla recessione, hanno inciso sulle caratteristiche e sulla visione pubblica del fenomeno: da arrivo favorito dal bisogno di forza lavoro cento anni fa, a viaggi di fortuna e ingressi illegali e osteggiati, spesso sostenuti dalla delinquenza organizzata. L’andamento ondulatorio dei flussi è un segno che le crisi si possono limitare, se sono coordinate sul piano internazionale e se si elabora la complessità economica e sociale del problema: “Abbiamo di fronte esseri umani non interessati a prendere le nostre terre, ma alla ricerca di un futuro migliore. Ci si può intendere, basta che ci sia una politica con l’intento di farlo”.
Il quinquennio 1968-1973 si apre con un ciclo di mobilitazioni studentesche che, per la prima volta nella storia, assume una dimensione globale; una massa critica di giovani con aspirazioni e speranze molto maggiori di quelle dei genitori si scontra con una realtà che non corrisponde alle loro aspettative: società tradizionalista, strutture universitarie inadeguate, docenti distaccati e retrogradi. I loro sogni spesso si frantumano, ma nello stesso tempo si affermano due processi nuovi correlati: il potenziamento dei media, ancorché inegualmente distribuiti, tendenzialmente al servizio del potere e generatori di conformismo, ma dotati di dirompente potenzialità: “Ci furono foto pubblicate sui giornali che contribuirono a cambiare la storia”; la svolta sui diritti sociali e civili delle donne: sale percentualmente in modo significativo l’occupazione femminile, aumenta l’impiego in settori qualificati, crescono le iscrizioni all’Università. Negli anni Settanta, gli stessi movimenti rivendicano la parità ma chiedono il riconoscimento della differenza tra uomini e donne e la valorizzazione delle specificità. Si avvia così l’elaborazione del concetto di gender, una categoria interpretativa che supera il determinismo biologico di quella di sesso e privilegia gli aspetti sociali e culturali, storicamente variabili nello spazio e nel tempo.
Altri processi toccano il sistema politico democratico. Si afferma, in quegli anni, una forte proliferazione del numero degli Stati, ma si ridimensiona la loro sovranità a seguito dell’avvento di una governance sovranazionale. La speranza che il nuovo sistema riesca ad assicurare definitivamente una diffusione della democrazia, però, si rivela presto un’illusione: la democrazia appare un processo evolutivo, conflittuale e reversibile. Ne sono testimonianza i golpe in Uruguay e Cile, lo stato d’emergenza in India, la primavera di Praga, la rivoluzione dei garofani in Portogallo. Ma lo spirito dei tempi sembra decisamente a suo favore: molti regimi autoritari si rivelano incapaci di legittimarsi come modelli alternativi e migliori. Altrettanto lacerata è l’area mediorientale, dove, a seguito dello shock petrolifero del ’73 che rilancia il ruolo di alcuni Paesi esportatori di petrolio (in particolare l’Arabia Saudita), ha inizio un’era islamista. Nel difficile contesto della decolonizzazione, emergono gravi contraddizioni e si radica il fondamentalismo; l’11 settembre 2001 aprirà lo scenario a una serie di prolungati conflitti nel mondo musulmano, incapace di garantire benessere e libertà, che dimostrano quanto sia difficile la transizione di queste società alla democrazia.
Globalizzazione, disordine, democrazia: la dialettica fra i tre termini lancia numerosi spunti di riflessione e costituisce una buona base di partenza per comprendere il nostro tempo. Certo – scrivono Detti e Gozzini – la globalizzazione contemporanea non è molto diversa da quella di cento anni fa, quando movimenti umani, di merci e informazioni si spostavano in misure altrettanto consistenti. Allora la politica la fermò con i nazionalismi e due guerre mondiali, al prezzo di settanta milioni di morti. Per non ripercorrere quella strada c’è bisogno di una nuova politica che non ceda.
Enrica Dondero Acessar publicação original
[IF]Historiadores pela Democracia – O golpe de 2016: a força do passado | T. Bessone, B. G. Mamigonian e H. Mattos
“A humanidade caminha Atropelando os sinais A história vai repetindo Os erros que o homem traz O mundo segue girando Carente de amor e paz Se cada cabeça é um mundo Cada um é muito mais”.
(Lenine, 2010) Dois mil e dezesseis. Ano marcado por muitas disputas narrativas acerca dos eventos históricos que ganharam relevo nos cenários brasileiro e mundial. Esses eventos se difundiram pela política, pela economia, pela educação, pela cultura; puseram em destaque as tensões que envolvem os três Poderes da República, que se tornaram o epicentro das disputas; expuseram as fragilidades institucionais e de conduta de vários segmentos de nossa sociedade; suas ressonâncias reverberaram no cotidiano de cada um de nós. Fantasmas de diferentes tempos evidenciam sua fertilidade e passam a amedrontar o presente; traumas e lacerações de nossa história irrompem novamente e insistem em doer. A história – ah, a história! Mais uma vez passa a ser responsabilizada pela instabilidade humana! Mas ela própria sabe-se fruto dessa ação e, como tal, traz consigo o germe da luta entre o instável e o perene; entre as tradições e o novo; entre o provisório e o eterno. Isso, por si só, a absolve de qualquer peso que a sobrecarregue.
Essa efervescência, contudo, traduz a inquietude gerada pela onda reacionária que insiste em se alastrar pelo nosso país e pelo planeta. Essa guinada retrógrada parece querer varrer nossa lucidez! A intolerância manifesta-se em diferentes territórios e sob variadas formas. Diferentes posições; variadas narrativas para descrever um enredo de tensões, para traduzir as fraturas na maneira de perceber a história recente. Afinal, a diversidade dos testemunhos acerca da história é quase infinita. Mas há elementos na história que se subvertem contra qualquer amarra ou controle que pretenda direcioná-la para uma interpretação que ameace contradizê-la em sua incontingência. Racionalidade e irracionalidade flertam entre si; ora enamoram-se, ora dilaceram-se em explícito combate. Leia Mais
Feminismo em Comum: Para Todas, Todes e Todos – TIBURI (REF)
TIBURI, Marcia. Feminismo em Comum: Para Todas, Todes e Todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 125pp. Resenha de: LUCENA, Srah Catão. Da teoria às práticas: a epistemologia cotidiana de um feminismo em comunhão. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3, 2019.
Filósofa de formação, a também escritora, artista plástica, professora e militante associada ao Partido dos Trabalhadores Marcia Tiburi publicou seu oitavo livro de ensaios, o qual vem avultar uma produção já robusta desta intelectual que também escreve romances, livros infantis, além de participar de antologias em coautoria com outras autoras de referência no campo da filosofia, como Suzana Albornoz e Jeanne Marie Gagnebin. De maneira geral, Feminismo em Comum amplia o projeto intelectual de Marcia Tiburi ao alinhavar recortes da sua biografia profissional à sua produção escrita, dotada de um estilo perspicaz, porque sabe traduzir filosofia, política e arte em linguagem acessível. Neste volume, a escritora reúne em um total de 125 páginas um debate que conecta seus temas predominantes, filosofia e política, à problemática de gênero. Ao elaborar como a estrutura opressora do patriarcado sistematiza a ordem social e mental brasileiras de maneira a cingir a vida das mulheres, a autora propõe, através de uma dicção prática e por vezes pungente, a perspectiva feminista como uma alternativa à recuperação da democracia para todas, todes e todos.
Organizado em dezessete capítulos, o ensaio inicia com uma chamada, “Feminismo já!”, convocando leitoras e leitores a compreenderem os extremos em que se encontra a questão feminista, separada, de um lado, pelo grupo que teme e rejeita o feminismo e, do outro, pelo que se entrega ao conceito com muita esperança, mas sem necessariamente pensá-lo como prática e, portanto, modo de vivência e atuação na sociedade. A questão da transfiguração da teoria feminista em exercício social é uma preocupação atual do campo de estudos e encontra-se presente em trabalhos de referência do pensamento feminista, a exemplo de Sara Ahmed no seu Living a Feminist Life (2017). Nesse sentido, propor o feminismo como ferramenta de trabalho e modo de estar no mundo é um ponto forte do livro de Tiburi, já que sintoniza a sua discussão a um contexto amplo e universal, mas sem perder de vista a especificidade brasileira que serve como referência direta para quem tem seu livro em mãos. Leia Mais
Democracia, ditadura: memória e justiça política – REZOLA; PIMENTEL (RTA)
REZOLA, Maria Inácia; PIMENTEL, Irene Flunser (Orgs). Democracia, ditadura: memória e justiça política. Lisboa: ed. Tinta da China, 2013. 520 p. Resenha de: NEVES, Hudson Campos; NUNES, Carlos Alberto Lourenço. Justiça política e memória: redemocratização na esfera lusófona. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.26, p.623-629, jan./abr., 2019.
A coletânea “Democracia, Ditadura: memória e justiça política” reúne trabalhos de pesquisadores que participaram do Colóquio Internacional “Legados do autoritarismo em Portugal em perspectiva comparada”, ocorrido na cidade portuguesa de Lisboa, em abril de 2012. O livro foi coordenado pelas pesquisadoras Irene Flunser Pimentel e Maria Inácia Rezola. As organizadoras observam a construção de uma justiça transicional ou de transição que significa “a concepção de justiça associada a períodos de mudança política, caracterizada por respostas legais para confrontar os crimes de repressão de anteriores regimes” (p. 9). As autoras avançam na questão:
As violações básicas dos direitos humanos não podem ser actos legitimados do Estado e têm de ser vistas como actos cometidos por indivíduos; quem comete este tipo de crimes deve ser perseguido criminalmente; e, finalmente, os acusados também têm direitos e merecem um julgamento justo. (p. 9-10) Está situada aí a diferença entre um julgamento no âmbito dos Direitos Humanos e do que seria um julgamento político. A importância dos Direitos Humanos tem sido reafirmada em diferentes ocasiões ao longo do século XX, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, passando pela criação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de 1953, e pela American Convention of Human Rights, de 1978. Um dos fenômenos característicos dos anos 1980 foi a criação de Comissões da Verdade, como por exemplo, na África do Sul, Chile, Argentina, bem como na Europa do leste, procurando responsabilizar os agentes da violência de Estado. Há também a criação de tribunais nacionais, regionais ou internacionais voltados para essas questões como os tribunais organizados na ex-Iugoslávia, em 1993, e em Ruanda, em 1994, bem como o Tribunal Internacional e alguns tribunais híbridos, como o de Kosovo, de 1999, o do Timor Leste, em 2000, além de Serra Leoa e Camboja, ambos de 2003.
A obra está dividida em seis partes, que abordam aspectos ligados aos processos de transição democrática em Portugal e também no Brasil. Na primeira parte, a ênfase é dada ao caso brasileiro. Intitulada de “História da democratização e amnistia no Brasil”, é composta por quatro capítulos, com abordagens de diferentes disciplinas como História, Sociologia e Direito. Maria Celina D’Araújo analisa a questão da anistia no contexto do Cone Sul do continente americano. Por sua vez, Janaína de Almeida Teles estuda o papel dos familiares dos mortos e desaparecidos ao longo da transição democrática. O questionamento sobre até que ponto a Lei de Anistia se constitui em obstáculo para a transição brasileira nos dias atuais é feito por Lauro Swensson Jr. Por fim, Gilberto Calil faz uma releitura a respeito do processo de democratização ocorrido em 1945, salientando a pressão de diferentes organizações e movimentos populares na tomada de decisão do governo Vargas em entrar na luta contra o fascismo, ao lado dos aliados, na Segunda Guerra Mundial.
Intitulada “Justiça política de transição e revolução em Portugal”, a segunda parte traz como destaque no conjunto da obra o capítulo escrito por Irene Flunser Pimentel, “A extinção da polícia política do regime ditatorial português, PIDE/DGS”. No texto, a autora descreve a forma como o Movimento das Forças Armadas (MFA), após a chamada Revolução dos Cravos, em abril de 1974, que derrubou o regime salazarista em Portugal, lidou com a Polícia Internacional de Defesa do Estado/Direção-Geral de Segurança (PIDE/DGS), tanto na metrópole quanto nas colônias do ultramar. Num primeiro momento, algumas frações do MFA cogitaram reaproveitar membros da PIDE no novo governo. Havia pressões internas para que isso ocorresse, o que foi obstado pela mobilização popular. A população pressionou a Junta de Salvação Nacional instalada no poder na sequência da revolução, impedindo a aceitação de membros da PIDE na montagem da nova estrutura governamental portuguesa, além de demandar a punição dos agentes acusados de diferentes atos de violência e repressão durante a ditadura salazarista. Sobre este aspecto, também na segunda parte da obra, o capítulo escrito por Fernando Pereira Marques analisa como o novo poder estabelecido após abril de 1974 se posicionou com relação aos cidadãos que sofreram com a repressão perpetrada pelo Estado Novo e Miguel Cardina, por sua vez, analisa a Associação de Ex-Presos Políticos Antifascistas (AEPPA) e sua luta pelo direito à memória. Já João Madeira estuda a experiência do Tribunal Cívico Humberto Delgado em seu curto período de existência (1977-78).
Ao longo desse processo, que se desdobrou na segunda metade dos anos de 1970, houve avanços e retrocessos. Cabe destacar uma virada à esquerda, ocorrida no MFA, a partir de 11 de março de 1975. Houve uma radicalização para criminalizar a PIDE e seus integrantes. No período que se estendeu até outubro daquele ano, um grande número de processos contra os agentes da polícia política foi apontado por Irene Pimentel. Outra virada no âmbito do MFA ocorreu a partir de 25 de outubro de 1975, quando houve um afrouxamento das ações contra antigos membros da PIDE e “muitos viriam depois a ser absolvidos ou apenas condenados à prisão preventiva já cumprida, sendo libertados de imediato”. No fim das contas, a maioria sofreu condenações com “tempo de prisão já cumprido: em 1982, 98 por cento dos presos já estavam em regime de liberdade plena” (p. 122-126).
Na terceira parte, “As purgas políticas no Portugal revolucionário”, o texto de uma das organizadoras da coletânea, Maria Inácia Rezola, destaca-se pela rica base documental e por apresentar elementos que, como se faz depreender, relativizam uma visão compartilhada por uma parcela expressiva da sociedade portuguesa na qual está presente um ceticismo acerca das reais condições em que se realizaram os afastamentos e punições de membros do regime autoritário na sequência do 25 de abril de 1974. Esse tema também é alvo do capítulo escrito por Pedro Serra, que se debruça especificamente nos assim chamados saneamentos políticos ocorridos na educação. Já Pedro Marques Gomes analisa o processo que deu origem ao afastamento de jornalistas, com destaque para os conflitos internos no “Diário de Notícias”, jornal de grande circulação no país, durante o chamado “verão quente” de 1975, quando aquele órgão tinha dirigentes próximos ao Partido Comunista Português, entre os quais, José Saramago.
Rezola aponta que as chamadas purgas políticas – operacionalizadas no âmbito de um organismo oficial denominado Comissão Interministerial de Saneamento e Reclassificação (CISR) – teriam sido, no olhar de tendências críticas da opinião pública de Portugal, limitadas e temporariamente circunscritas, de forma que seus efeitos pouco teriam contribuído à aplicação da justiça aos colaboradores da ditadura. Segundo a autora, esse descontentamento localiza-se nos poucos resultados concretos apresentados pela CISR, ou seja, dos processos instaurados contra funcionários da ditatura, apenas 2% resultaram em condenações e perdas de cargos públicos. Mas cabe atentar para elementos que são trazidos à tona por Maria Inácia Rezola e que ressaltam a complexidade da matéria. Muitos juízes que haviam colaborado de forma direta ou indireta com a ditadura, tornaram-se alvos das ações da CISR. Essa situação certamente gerou um impasse, afinal, levar a ferro e a fogo as reclassificações e afastamentos levaria à paralisação de diferentes setores do Estado, sobretudo no âmbito do judiciário. Além disso, houve uma série de ações que resultaram na demissão automática de funcionários de extintas agências governamentais, o que ao todo chegou a mais de 12 mil exclusões, mas que não chegaram a ser computadas como parte do processo de saneamento. O texto ainda avança sobre questões que costumam fazer parte de processos de transição, como disputas internas e ambiguidades políticas ao longo da implementação de um regime democrático, dificultando as ações punitivas e reparatórias.
O capítulo “Os dividendos do autoritarismo colonial”, de Augusto Nascimento, abre a quarta parte da coletânea, dedicada ao “legado colonial”. O autor centra suas análises no pós-independência de São Tomé e Príncipe. Demonstra a concomitância da substituição dos símbolos nacionais portugueses por são-tomenses, sugerindo que aspectos das ações dos independentistas pareciam denotar a persistência de métodos e procedimentos do passado colonial. Por sua vez, Roselma Évora examina a transição para formação de uma sociedade independente em Cabo Verde no texto “O peso do legado autoritário na configuração do processo decisório democrático em Cabo Verde”. Segundo sua análise, o legado autoritário afetou o processo decisório do novo regime e interferiu nos níveis de desempenho institucional, fragilizando a atuação dos atores políticos no sistema democrático.
A quinta parte, “Memória da ditadura”, é a que reúne o maior número de capítulos, o que por si só demonstra o quanto este tema continua presente na primeira linha das preocupações de historiadores e historiadoras de tais processos, e ainda destaca como os testemunhos são parte fundamental da escrita de uma história de processos recentes ou mesmo que ainda não se encerraram completamente, ao menos em sociedades recentemente democratizadas. Francesca Blockeel estuda e compara as similaridades entre as ditaduras de Portugal e Espanha. A autora faz um apanhado, em paralelo, do trajeto dos dois países para tratar sobre os sistemas de repressão que ambas as ditaduras construíram e as narrativas predominantes nos dois países acerca da transição para a democracia. As formas repressivas da codificação do crime político e das normas para a punição aos opositores do Estado Novo são a temática de Guya Accornero, enquanto que Jacinto Godinho demonstra a importância da utilização de uma série documental histórica produzida no âmbito das ações da PIDE. João Paulo Nunes analisa como Portugal atual se define e caracteriza tendo em conta as memórias vigentes acerca do Estado Novo. Luciana Soutelo estuda o revisionismo histórico que passou a ter o Estado Novo Português como alvo, as novas interpretações históricas e os desdobramentos do Estado Novo na sociedade portuguesa. O estudo de Flamarion Maués focaliza o “surto” editorial de cunho político a partir do 25 de abril, quando livros que haviam sido proibidos e/ou recolhidos pela ditadura foram publicados e disponibilizados na sociedade lusa pós-ditadura. Por outro lado, o Brasil é o tema dos capítulos escritos por Roberto Vecchi e por Ettore Finazzi-Agrò. No primeiro caso, há uma importante discussão sobre o acobertamento e as dificuldades para acessar documentos relativos à guerrilha do Araguaia, enquanto o segundo trata das obras de Clarice Lispector durante a ditadura militar brasileira, sua militância e o impacto de seus textos.
Por fim, o sexto capítulo nomeado “Memória e revolução”, tem por âmbito o campo da produção cultural e as narrativas em torno de um dos processos políticos mais ricos e ainda indecifrável em grande medida na história recente de um país europeu, qual seja, a revolução portuguesa de 1974. O processo revolucionário e a transição profundamente conflitiva para uma sociedade democrática e integrada ao contexto da Comunidade Europeia ainda hoje suscitam inúmeras controvérsias. A memória social, portanto, segue sob o enquadramento de narrativas que se impuseram ao disputar a produção cultural e as imagens associadas ao novo Portugal, ainda que manejadas por setores que foram alvos da ação revolucionária por serem considerados próximos do regime salazarista. O capítulo de Paula Gomes Ribeiro trata dos padrões de funcionamento do Teatro de São Carlos, principal casa de ópera de Lisboa, no período que sucedeu o 25 de abril, demonstrando as questões relativas à implantação do que se pretendia ser uma democracia cultural, numa tentativa de facilitar o acesso a bens artísticos e culturais ao grande público, o que não deixou de gerar tensões. Por sua vez, o capítulo de Paula Borges Santos, intitulado “A Igreja Católica na transição para a democracia”, estuda o papel da Igreja Católica e suas relações com o Estado Novo e principalmente as estratégias da instituição com vistas a lidar com um passado de colaboração estrita com o regime autoritário, em meio à contestação à hierarquia. Houve uma redefinição do lugar social da Igreja Católica na sociedade portuguesa ao longo do processo de transição para a democracia, inicialmente pelos constrangimentos de justificar o colaboracionismo como o regime deposto e, posteriormente, por “reivindicar a sua participação no exercício das liberdades democráticas reclamadas e apropriadas pelo restante da sociedade” (p. 479). De sua parte, Riccardo Marchi estuda, a partir da imprensa da época, as direitas portuguesas ao longo dos anos de 1976 a 1980, particularmente a influência de tendências de extrema-direita no universo juvenil durante a construção da democracia em Portugal, quando tais posturas e agrupamentos pareciam desafiadores aos partidos e governos de centro-esquerda que então predominavam na composição política daquele país.
Hudson Campos Neves – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: hudsoncn.historia@gmail.
Carlos Alberto Lourenço Nunes – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: [email protected].
O mais natural dos regimes Espinosa e a Democracia – AURÉLIO (CE)
Aurélio, D. P. (2014). O mais natural dos regimes. Espinosa e a Democracia. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores. Resenha de: BRAGA, Luiz Carlos Montans. Uma tese radical: Espinosa e a Democracia. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.40, jan./jun., 2019
O termo radical, tal como ética, democracia, política, e tantos outros, pelo excesso de uso e vulgarização demasiada, ao ser trazido à discussão, merece ser precisado, para que, em meio ao caos semântico, inimigo maior da filosofia, signifique algo claro e distinto. De fato, certo senso comum associa a palavra radical àquele que é fundamentalista em algo; em geral, o indivíduo contrário à boa ordem social, aos bons costumes. Porém, o que a expressão deve significar nesta resenha tem a ver com seu sentido etimológico. Ou seja, radical é o que vai à raiz, ao fundamento.
E por que a tese espinosana acerca da democracia, tema protagonista do livro ora resenhado, é radical? Porque ousa ir à raiz ontológica da política, como o belo ensaio de Diogo Pires Aurélio mostra com cuidado demandado por uma filosofia que, durante aproximadamente três séculos, esteve sob a sombra de uma imagem equivocada que dela se produziu. De panteísta que nega a liberdade do homem a pensador maior da política e do direito – em tempos recentes –, o caminho das teses e textos espinosanos é um labirinto cujas primeiras saídas foram encontradas pelos estudos fundamentais de Antonio Negri (1998) 1 e Alexandre Ma – theron (1988) 2, os quais foram aprofundados por outros comentadores de peso, posteriormente, entre os quais, em terras brasileiras, Marilena Chaui (1999, 2003, 2016). Aurélio, é preciso salientar, compõe esta linhagem.
Uma, entre outras muitas, imagem equivocada que sombreou a compreensão das teses espinosanas está condensada no influente verbete Spinoza, de autoria de Pierre Bayle (1696). No verbete, as teses espinosanas são descritas como as de um panteísta e ateu de sistema, filosofia diabólica precisamente por ser de difícil refutação, dada sua costura com as linhas de aço da geometria. A tradição posterior, raciocinando a partir de premissas exteriores às da filosofia espinosana, só poderia, em uma filosofia em que tudo é necessário, encontrar absurdos e contradições insolúveis. De fato, se há apenas uma substância – Deus ou a natureza –, na qual os homens são modos finitos, isto é, intensidades de potência expressas pela substância em sua causalidade imanente e necessária, onde encontrar a liberdade do homem? Em que fissura da causalidade da substância haveria espaço para a ação livre, para o campo da ética e da política? Pois um dos paradoxos quase insolúveis que a tradição de leituras exponenciaria aos comentadores até muito recentemente 3 seria exatamente este: de que fio puxar a ética e a política em uma filosofia da necessidade? Em uma palavra: se tudo é determinado, resta saber qual a liberdade possível. Ou, de outro ponto de vista, como passar do infinito positivo da substância eterna aos modos finitos das existências dos homens sem compreender estes últimos como meros epifenômenos de Deus? Estas imagens acerca do autor influenciaram, por exemplo, Voltaire, passando por Hegel e, em paragens brasileiras, chegaram a Machado de Assis (2009, p. 242) em seu poema dedicado a Espinosa – e tiveram ainda fôlego largo durante o século 20. Quanto a Machado de Assis, o Espinosa que tinha em mente seria, eis uma hipótese, o do verbete de Bayle, a saber, o panteísta.
O que o belo ensaio de um dos mais eruditos e eminentes estudiosos contemporâneos de Espinosa mostra é precisamente a ligação radical entre ontologia e política. Daí, talvez, a importância maior de Espinosa em tempos opacos como os que se desenham. Se a ciência política de corte formal não diz muito sobre a política atual, talvez seja porque não tenha lentes para tanto. E Espinosa bem pode ser, tantos séculos depois, se bem desvendado e comentado, uma dessas lentes. Permite, por exemplo, para ir ao título do ensaio que ora se resenha, que se possa dizer, acerca da democracia, que não é o “menos mau dos regimes”, mas “o mais natural” (Aurélio, 2014, p. 9). Mudança aparentemente banal, mas que traz à cena algo esquecido das discussões políticas que mais têm mídia, a saber, a natureza humana. Espinosa, pela pena de Aurélio, é trazido à cena para que mostre exatamente sua inovação fundamental no campo da filosofia política, isto é, declarar, a partir de um ponto de visto ontológico, o encaixe preciso entre a natureza humana e este regime político, tão celebrado nos belos discursos de retórica vazia quanto aviltado em seu exercício. A democracia que se proclama como tal em discursos pomposos, com seus formalismos vazios e malandros – pois fintam o conceito para lhe retirar o que tem de substantivo –, não ousa ser radical como a proposta por Espinosa. Não ousa ser ontologicamente fundada.
O livro é uma reunião de ensaios – uns já publicados outros agora republicados com acréscimos e, ainda, alguns inéditos, apresentados, até o momento, apenas sob a forma de conferências –, os quais formam, segundo o autor, não um conjunto esparso de textos, mas um todo coerente, alinhavado (Aurélio, 2014, p. 11). São três as partes do livro, somadas a uma “Introdução”, cujo título aguça a curiosidade: Espinosa, Marx e a democracia . O que haveria de comum entre Marx e Espinosa? Muita coisa, como o leitor poderá ver, e das quais esta resenha adianta uma apenas: a tese de Marx, que ecoa ideias espinosanas, e projeta a democracia “para além da tradicional questão dos regimes políticos” (Aurélio, 2014, p. 34), para afirmá-la como “horizonte de refundação permanente do demos, quer fazendo alastrar o princípio da soberania popular a todas as esferas da sociedade, quer resistindo à tendência do poder para se impor como fecho absoluto e se tomar pela totalidade social” (Aurélio, 2014, p. 34). Eis a iguaria fina que o autor serve ao leitor como entrada ao livro. A primeira das três partes que seguem, por sua vez, é baseada na “Introdução” de Aurélio ao Tratado teológico-político (TTP), por ele traduzido e publicado no Brasil pela editora Martins Fontes (2003). Intitula-se TTP : Genealogia do Poder . Nesta parte, os temas próprios ao TTP são trabalhados com a minúcia de quem estuda Espinosa há muitos anos. Ou seja, a questão da profecia, das leis, do fundamento do Estado, do direito natural e sua permanência no estado civil, da liberdade de expressão como um dos pilares de uma república bem constituída, etc. A segunda parte tem como título “O império das paixões”, composta por Capítulos que tratam de temas especificamente políticos em Espinosa. Uma das teses de Aurélio nesta parte, muito recente e atual, analisada em filigrana, é a da relação imbricada entre afetos e política. A terceira e última parte, nomeada “ TP : Da multidão ao poder”, sistematiza esses temas políticos e lhes dá acabamento. Tal parte foi originalmente publicada como “Introdução”, escrita por Aurélio, à sua tradução do Tratado político (TP) 4, no Brasil publicada também pela editora Martins Fontes (Espinosa, 2009).
O livro traz como questão mais aguda a democracia em Espinosa, isto é, a inovadora visão do filósofo acerca do tema. Curiosamente, ainda que já explícito no TTP como o mais natural dos regimes, por ser aquele que mais satisfaz a natureza humana de potência para perseverar no ser, não pôde ser desdobrado no TP, Capítulo XI, dedicado precisamente à democracia e não concluído pelo autor em razão de sua morte. A questão a democracia em Espinosa, na verdade, ainda é um problema a ser investigado pelos comentadores. Tal problema é levantado por Aurélio no momento em que indaga como seria este regime quanto às instituições. É possível dizer que o essencial da democracia já estaria nos demais textos de Espinosa? Uma passagem do “Prefácio” do livro dá pistas do projeto espinosano quanto ao tema:
Entre governantes e governados há sempre uma brecha, uma feri – da permanente […]. O que distingue a democracia dos outros regimes é o facto de, por definição, ela contrariar a cicatrização dessa ferida, evitar que a desigualdade se instale como natural, mantendo acesa, […] a ideia de um querer da totalidade, que está na origem e é fundamento de todo o poder. Reside aí o projeto de Espinosa. Reside aí, porventura, a sua atualidade (AURÉLIO, 2014, p. 10)
O livro de Aurélio cuidará de desdobrar este projeto, não obstante o não findo Capítulo XI do TP – aliás, quanto a este tema, o autor expõe sua posição, bem como a de outros comentadores, como Antonio Negri (1985) 5 e Étienne Balibar (1985), os quais igualmente transitaram pela questão. Mas onde está, mais precisa e analiticamente, a radicalidade de Espinosa, apontada no início desta resenha? Aurélio a desdobra, e ela consiste no seguinte: a rigor, não há seres isolados, indivíduos – humanos ou não–, isolados. Quanto aos homens, são indivíduos constituídos por outros indivíduos, formando uma totalidade complexa. Nas palavras do autor: “O indivíduo é sempre um ser coletivo e complexo, um aglomerado de partes cujas naturezas se conjugam momentaneamente num todo em que as forças de sinal positivo, que tendem a preservá-lo na existência, são superiores às de sinal negativo, que tendem a desagregá-lo.” (AURÉLIO, 2014, p. 36). Tais indivíduos, humanos ou não, são modificações finitas da substância absolutamente infinita, a qual é o ponto fundante da ontologia espinosana. O que vem a seguir é que amarra a política, que lida com o poder, à ontologia espinosana. Escreve Aurélio, para concluir o desenho da tese que será protagonista de muitas páginas do ensaio: “É esta a ontologia, desenvolvida nas duas primeiras partes da Ética [cujos temas são, respectivamente, De Deus e Da natureza e origem da mente ], que serve de fundamento à antropologia e à política de Espinosa.” (AURÉLIO, 2014, p. 34). Ontologia uma vez que os homens, como modificações da substância única (Deus, ou seja, a natureza), modos finitos do pensamento e da extensão, intensidades parciais de potência advindas da potência absoluta, apenas se constituem como tal em razão e como partes desta potência fundante do real, eterna e infinita, causa sui (causa de si). Tese magistral, com desdobramentos em campos vários, ao amarrar uma teoria do ser à política, à ética e ao direito, sem olvidar as variações de potência próprias aos humanos, a saber, os afetos, derivando daí o fundamento dos corpos políticos e a tese relevante e inovadora do direito natural como prevalecente no estado civil, o qual é criado para preservá-lo. Vários conceitos se apresentarão como importantes à compreensão do mecanismo da política, desvelando e desenvolvendo a tese inicial da democracia como o mais natural dos regimes uma vez que, potência que são, os homens desejam governar e não ser governados.
Em vez de analisar cada passo da longa cadeia argumentativa do autor em cada parte do livro, o que tornaria esta resenha muito longa e talvez enfadonha, opta-se por analisar, a seguir, dois ou três fios que se ligam à tese geral do livro, explicitada nas linhas acima. No interior do tema geral Aurélio introduz uma série de autores cujos conceitos são postos a dialogar com os espinosanos, a se afastar ou se aproximar deles. Eis alguns desses movimentos, a seguir.
Maquiavel é um autor com o qual Espinosa dialoga explicitamente. Chama-o agudíssimo no TP (ESPINOSA, 2009, TP, v, 7, p. 46) 6 e o pressupõe em várias passagens. Este é um tema que Aurélio desdobra com maestria, a saber, o Maquiavel latente, bem como o explícito, que há nas análises da filosofia política espinosana. Há várias e elucidativas páginas acerca das semelhanças e diferenças entre os autores. Dentre as semelhanças, Aurélio chama a atenção para o fato de que ambos dão à multidão uma importância política significativa. Maquiavel teria sido o primeiro autor da filosofia política, e durante séculos o único, a pôr “em causa a imagem negativa vulgarmente associada à multidão” (AURÉLIO, 2014, p. 370). E, ademais, ela é capaz de ser politicamente mais sábia e estável que o príncipe, tese de Maquiavel presente nos Discorsi (MAQUIAVEL, 2007 D, I 58, pp. 66-172) 7 e n’ O Príncipe (MAQUIAVEL, 2017, p. IX, pp. 147-151) 8 . Para Espinosa, por seu turno, a liberdade política dos súditos-cidadãos, no estado civil, para dizer de modo sumário, tem como fiadora a multidão, tese presente em vários momentos do TP.
O Maquiavel dos Discorsi – bem como o de O Príncipe –, afirma Aurélio, explicita a tese da positividade da multidão e Espinosa a recupera e endossa, ao seu modo (AURÉLIO, 2014, p. 370 e seguintes). Não casualmente a multidão terá papel fundamental na argumentação exposta no TP, e o termo aparecerá várias vezes no correr do texto. Ela é o fundamento de uma república bem instituída e, nesse sentido, é a protagonista maior da política.
Há outro ponto de encontro entre os autores, a seguir apenas indicado, o qual é analisado por Aurélio:
Considerar, pois, a natureza como horizonte inultrapassável do político significa integrar o político num horizonte de conflitualidade e contingência, onde não obstante os homens se unem de forma mais ou menos duradoira, consoante os afetos comuns que estabilizam e predominam em dado momento. É aí, nesse preciso horizonte, que Espinosa se encontra com Maquiavel (AURÉLIO, 2014, p. 381).
Não aparece no livro ora resenhado, mas em outro estudo de Aurélio, uma diferença entre ambos que é digna de nota. Trata-se do fato de que em Maquiavel predominam os exemplos históricos que levam às teses políticas, ao passo que em Espinosa existe uma ontologia de fundo que informa e dá sustentação aos conceitos políticos. Tal tema se apresenta quando o autor analisa o conceito de virtude em ambos.Afirma Aurélio:
[…] as ocorrências do termo ‘virtude’ no TP adquirem um alcance completamente diferente do que possuiriam quando encaradas apenas como um reflexo da leitura de Maquiavel. À superfície, haverá, com certeza, alguma coincidência: […]. Tanto Maquiavel como Espinosa rejeitam a tese ciceroniana, geralmente aceite, segundo a qual a conveniência ou utilidade e a rectidão moral seriam inseparáveis [Cícero, De Officiis, II, III, 9, ed. The Loeb Clasical Library, 1970, p. 176 ]. Mas o primeiro chega a essa conclusão com base apenas num cotejo da experiência e da história, chamando a atenção para aqueles a quem a glória bafejou no passado, apesar de se lhe imputarem actos criminosos. […] Espinosa, raciocinando embora a partir de idêntica integração do indivíduo na trama de relações em que os seus actos ganham significado e podem ser valorizados, transfere, no entanto, o problema para a sistematicidade de uma ordem ontológica onde o confronto entre razão moral e razão política é subsumido (AURÉLIO, 2000, pp. 84 – 85).Outro autor que surge no ensaio, em muitos momentos como contraponto às teses espinosanas, é Hobbes. Espinosa possuía um exemplar do De Cive em sua biblioteca pessoal, e Hobbes é um autor cujas ideias foram amplamente debatidas no período maduro de Espinosa. Espinosa o leu, é certo, e na famosa Carta 50 afirma o que o diferenciaria do autor Inglês. Esse é um mote fortíssimo, muito bem analisado por Aurélio precisamente para desdobrar as diferenças entre ambos. Uma hipótese que aqui se levanta é: os conceitos contidos e pressupostos na filosofia política hobbesiana podem ser considerados vencedores na história das ideias, ao passo que os espinosanos ficaram nas sombras por muito tempo. Por exemplo, Aurélio desenvolve muito bem o tema da representação em Hobbes, bem como o do contrato, para mostrar como Espinosa propõe algo muito diverso. Em muitas passagens do ensaio, ambos são comparados para que se possa ver com maior clareza e distinção o que os une – temas comuns – e, especialmente, o muito que os separa.
O Capítulo VIII, constituinte da Segunda Parte do livro, pode dar margem a sadias polêmicas. Nele, Aurélio propõe uma aproximação entre Kelsen e Espinosa, especialmente quanto aos temas da norma jurídica e do Estado. Entre outras passagens ricas e ousadas, o autor escreve: “Se o analisarmos a partir desse seu caráter de absoluta imanência, não é difícil ver no Estado kelseniano um eco do imperium espinosano.” (AURÉLIO, 2014, p. 283). Tese tão ousada quanto, ao ver deste resenhista, de difícil sustentação. Pois se Espinosa propõe uma explicação da política fundada em redes de afetos e de potência – procurando, no limite, a sustentação real do direito natural de cada súdito-cidadão no estado civil –, Kelsen está muito mais preocupado com a fundação de uma ciência do direito que seja autônoma – ao menos é este o projeto de sua Teoria Pura do Direito (1998), obra na qual estão condensadas muitas de suas principais teses acerca do direito. E se é certo, como afirma Aurélio, que Kelsen é um crítico das doutrinas clássicas do jusnaturalismo – o mesmo se poderia dizer de Espinosa –, em nenhum momento, salvo melhor juízo, argumenta a favor de um direito que se identifique a potência. Ao invés, está sempre na chave do direito como dever-ser e na proposta de um direito que possa ser objeto de ciência autônoma, com objeto próprio, a saber, as normas validamente postas e constituintes do ordenamento jurídico. Espinosa parece estar em trilhos muito diversos. Veja-se sua tese da identificação do direito à potência, bem como a de que o direito do Estado tem seu fundamento na potência da multidão – conceito este, o de multidão, em que o tema dos afetos se apresenta como um dos pilares explicativos de sua constituição. Ora, esses temas não são objeto dos textos de Kelsen. Porém, o brilho do ensaísta está precisamente em desenvolver uma argumentação tão cerrada e tão convincente que faz o leitor pensar à revelia de suas convicções, a contrapelo de si mesmo – tarefa da filosofia. Eis um ponto a ser ressaltado, neste e em outros Capítulos: Aurélio ousa levar sua pena e seu talento ensaístico a territórios pouco frequentados.
A discordância acima indicada é bastante pontual e lateral. Com efeito, o fio principal do texto – e as análises de Aurélio – pode ser resumido como um brilhante e erudito ensaio acerca do mais natural dos regimes, a democracia, a tese radical de Espinosa. Neste ensaio de Aurélio, Espinosa é apresentado como filósofo num dos sentidos originais da ex – pressão, ou seja, o que leva à verdade como alétheia [ αλήθεια ], isto é, desvelamento ou desocultamento. Na filosofia política que propõe o autor holandês, e que Aurélio apresenta tão bem, há reviravoltas conceituais que levam à constituição de lentes polidas com extrema precisão. Espinosa faz o leitor que se apropria de seus conceitos enxergar o que antes era opa – cidade. E Aurélio é excelente mapa para o território da filosofia política espinosana – antes que escureça! Uma resenha deve insinuar coisas interessantes sem mostrar o essencial. Espera-se que o intento tenha sido alcançado, ou seja, que este texto seja convite ao leitor para palmilhar com a velocidade lenta da filosofia a bela geografia conceitual criada por Aurélio.
Notas
1 A primeira edição de L’anomalia selvaggia : potere e potenza in Baruch Spinoza é de 1981 .
2 Que é uma reimpressão do texto de 1969 (Matheron, 1988, p. I).
3 Como indicado acima, uma das primeiras leituras que rompe com este estado de coisas é a de Matheron, de 1969 (Matheron,1988), e depois a de Negri, publicada pela primeira vez em 1981 (Negri, 1998) .
4 Agraciada, em 2009, com o prêmio de Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa, atribuído pela União Latina em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal.
5 Traduzido no Brasil em: Negri, A. (2016). Espinosa subversivo e outros escritos. Tradução de Herivelto Pereira de Souza. São Paulo: Autêntica, pp. 46 – 85.
6 Em romano o capítulo, em arábico o parágrafo -Espinosa, 2009.
7 Em romano o Livro, em arábico o Capítulo – Maquiavel, 2007.
8 Em romano o Capítulo – Maquiavel, 2017
Referências
AURÉLIO, D. P. (2000). Imaginação e Poder: Estudo sobre a Filosofia Política de Espinosa. Lisboa: Edições Colibri.
_______. (2014) O mais natural dos regimes. Espinosa e a Democracia. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores.
ASSIS, M. (2009). A poesia completa de Machado de Assis. Rutzkaya dos Reis (Org.). São Paulo: Nankin/Edusp.
BALIBAR, E . (1985) Spinoza et la politique . Paris: puf .
BAYLE, P . (1696) Dictionnaire historique et critique. Article Spinoza . Disponível em: < http://www.spinozaetnous.org/telechargements/Commentaires/ Bayle/Bayle_Spinoza.pdf >. Acesso: 15 dez. 2017.
CHAUI, M . (1999) A nervura do real: Imanência e liberdade em Espinosa. Vol. I : Imanência. São Paulo: Companhia das Letras.
_______. (2003) Política em Espinosa . São Paulo: Companhia das Letras.
_______. (2016) A nervura do real : Imanência e liberdade em Espinosa. Vol. II : Liberdade São Paulo: Companhia das Letras.
ESPINOSA, (2003) Tratado teológico-político .Tradução de Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Martins Fontes.
_______. (2009) Tratado político. Tradução de Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Martins Fontes.
KELSEN, H. (1998) Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes.
MAQUIAVEL, (2007) Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio . Tradução MF . São Paulo: Martins Fontes.
_______. (2017) O Príncipe. Tradução de Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Editora 34.
MATHERON, A. (1988) Individu et communauté chez Spinoza . Paris: Les Édi – tions de Minuit.
NEGRI, A . (1998) L’anomalia selvaggia : potere e potenza in Baruch Spinoza (publicado com Spinoza Sovversivo e Democrazia Ed eternità in Spinoza). Roma: DeriveApprodi.
_______. (1985) Reliquia desiderantur: congettura per una de fi nizione del concetto di democrazia nell’ultimo Spinoza. In: Studia Spinozana I, n. 8, pp. 143-181.
Luiz Carlos Montans Braga – Professor Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: [email protected]
Do socialismo à democracia: tática e estratégia na Reforma Sanitária Brasileira – DANTAS (TES)
DANTAS, André V. Do socialismo à democracia: tática e estratégia na Reforma Sanitária Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2017. 319p. Resenha de: MENDES, Áquilas; CARNUT, Leonardo . Decifra-me ou te devoro! Estado, capital e a urgência do debate crítico na Saúde Coletiva. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.16, n.3, Rio de Janeiro, set./dez. 2018.
Em tempos de tantos embates no movimento do capital contemporâneo, sob o comando do capital fictício, e seus reflexos perversos nas políticas sociais, em geral, e na saúde, em particular, promover uma reflexão crítica radical acerca dos rumos do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) constitui tarefa intelectual e política fundamental para traçar os desafios da Saúde Coletiva. Essa possibilidade certamente é materializada por meio do livro de André Dantas.
A grande contribuição desse autor refere-se à crítica a respeito da estratégia tomada pela Reforma Sanitária a partir da década de 1990. O movimento perdeu sua radicalidade – reivindicando o socialismo – e tentou assegurar os ganhos obtidos nos anos anteriores, insistindo no pleito da cantilena democrática burguesa (Marx, 2012). Porém, esse movimento optou seguir o caminho institucional do reformismo, defendendo um sistema de proteção social, desvinculado dos ideais antagônicos que o forjaram até a década de 1980.
Sobre esta situação, o trabalho de Dantas nos remete a uma indagação que permanece central na contemporaneidade, essencialmente para todos os que defendem a saúde pública no país: é possível apostar na construção institucional, ou seja, promover reformas no Estado Social, 1 como forma de superação da crise atual na saúde?
Historicamente, a esquerda sanitária veio trilhando apenas a institucionalidade das ‘reformas’ por iludirem-se com a ideia de que o Estado social existente possa estar a serviço da produção do ‘bem comum’ (Correia, 2015). Em nossa percepção, aproximada à visão de André Dantas, um passo promissor na constatação dos limites do Estado é reavivar, na memória da Saúde Coletiva, sua ‘intrincada’ relação com o modo de produção capitalista.
Para entender a dinâmica da crise capitalista e seus efeitos na saúde, consideramos importante, antes de tudo, (re)decifrar a natureza do Estado capitalista. Em última, instância, o Estado constitui expressão de uma sociabilidade determinada, assumindo as relações de poder e de exploração nas condições capitalistas. A assunção disso remete à análise do capital como uma relação social de produção – uma ‘forma social’ – e como a ‘forma política’ (estatal) que se associa a essa dinâmica (Hirsch, 2017). Por isso, desconsiderar que o Estado brasileiro, na medida em que é parte integrante das relações capitalistas de produção e sua consonância com a dinâmica mundial do capital, é um deslize crasso e que pôs em risco toda estratégia e tática delineada pelo Movimento da Reforma Sanitária até hoje.
Trata-se, então, de considerar que a relação Estado/capital é orgânica. Neste sentido, não existe separação (nem relativa, que dirá absoluta!) entre o Estado e o capital. Apoia-se aqui na contribuição do debate alemão da derivação do Estado dos anos 1970 que deduz a ‘forma jurídica/política’ (Estado), ou ‘forma contratual’ das contradições da dinâmica do capital. Esta relação atribui ao Estado sua natureza capitalista, assegurando a troca das mercadorias na sua forma-valor e a própria exploração da força de trabalho (Bonnet e Piva, 2017).
Cabe mencionar, nessa reflexão, principalmente a ilusão do processo atravessado pela Reforma Sanitária, a esfinge que os reformistas subestimaram, que nosso autor Dantas se debruçou de forma profícua e que Pachukanis 2 nos ajuda a desmitificar sua essência.
Dantas inicia seu livro explicitando o argumento de Hirsch em que “a maneira pela qual o Estado age para assegurar a reprodução é determinada, em seu conteúdo, pelo movimento do capital e pelas lutas de classe e, em sua forma, pela sua transposição ao nível do aparelho de Estado” (Hirsch apud Dantas, 2017, p. 20). Desse modo, o raio de manobra da burguesia para promover sacrifícios vem se reduzindo, e daí a dificuldade de manter presente a aposta política em relação ao caráter emancipatório da democracia burguesa. É justamente nesse contexto que Dantas indica a retomada do debate tático-estratégico de classe, essencialmente da classe trabalhadora dos anos 1970 para os dias atuais, tendo como central o processo político construído ao redor do Movimento da Reforma Sanitária, no sentido de avaliar os seus desdobramentos.
A tese central do livro polemiza com o que o autor considera o processo de absolutização da democracia no contexto de luta de classes daquele período, compreendida como ‘valor universal’ (Coutinho, 1979), isto é, aspecto nodal da estratégia sanitária e que serviu para que ela fosse ‘devorada’. Dantas adverte que “tal processo em torno da fetichização da democracia” expressa uma divinização ou, sendo fiel a suas palavras, “a absolutização do Estado na consecução da tática do movimento sanitário pela reforma do sistema de saúde” (p. 24). Nessa perspectiva, Dantas não poupa críticas: “a centralidade que crescentemente ganhou a questão democrática deslocou o verdadeiro debate estratégico em nome do socialismo, uma vez que – fosse para promover a autocrítica da esquerda; fosse para lutar contra a ditatura; fosse, enfim, para lutar pelo socialismo – o caminho a percorrer parecia ser o mesmo” (p. 24).
Na primeira parte do livro, o autor concede especial atenção a um panorama teórico-político sobre o Estado e a questão democrática segundo a tradição marxista. De forma geral, nos mostra como Marx e Engels elaboram sua crítica ao Estado burguês, indicando o descaso da burguesia com a questão democrática conforme o avanço das forças produtivas e a imposição de sua dominação no contexto do acirramento da luta de classes. No âmago dessa disputa, Dantas não deixa de ilustrar na base de discussão do papel do Estado, na tradição marxista na virada do século XIX, o debate sobre mais reforma e menos revolução, capitulado pela social-democracia alemã, resvalando em resquícios sobre o pensamento da esquerda marxista, em geral e da esquerda sanitária, em particular.
No segundo capítulo, Dantas se aproxima do debate brasileiro sobre a questão democrática, em sintonia com a temática da revolução. Nessa discussão, percorre o caminho que vai das principais questões ancoradas nas interpretações da formação social brasileira, acerca das quais havia se construído a Estratégia Democrática Nacional (EDN) à elaboração da Estratégia Democrática-Popular (EDP). É dada ênfase a crítica de Caio Prado Jr., Florestan Fernandes e Carlos Nelson Coutinho à primeira Estratégia e, posteriormente, como esse último autor foi privilegiado pelo Movimento da Reforma Sanitária e influenciado nos esboços da nova estratégia das classes trabalhadoras que viria a ter no Partido dos Trabalhadores (PT) a sua mais forte vocalização.
Entre vários aspectos nessa discussão, Dantas nos possibilita a compreensão de que o MRSB abandonou a crítica importante de Florestan Fernandes à reflexão profunda do papel e da função do Estado capitalista brasileiro. Dantas destaca a ideia-síntese de Florestan em seu clássico, A revolução burguesa , de que “o Estado não só era incontornavelmente de classe, capturado precipuamente pelos interesses imperialistas e de suas burguesias locais” (…) “como atuava de fato como comitê executivo da burguesia, sem espaços para concessões, uma vez que sob um registro dependente” (p. 113).
Por sua vez, o MRSB priorizou o ensaio de 1979 de Carlos Nelson Coutinho, intitulado “A democracia como valor universal”, em que para além de fazer a crítica à estratégia etapista democrática-nacional, possibilitava as linhas gerais do que viria a ser a EDP liderada pelo PT – esquerda democrática – na década de 1980 e a mola-mestra da trajetória priorizada pelo movimento sanitário: o caminho institucional das reformas por dentro do Estado.
Na segunda parte do livro, Dantas explora as características estruturais e o sentido mais geral da Reforma Sanitária, desde sua ação nos anos 1970 até a atualidade. Destaque é dado às lutas travadas no campo da saúde em que tiveram prioridade a atuação pelo enfrentamento setorial em relação à luta mais ampla no âmbito da sociabilidade das relações capitalistas. Daí o autor mencionar a prioridade da estratégia sanitária se fazer muito mais pela via da institucionalidade, por um lado, e por outro, pela reclamação constante da ausência da classe trabalhadora na defesa de sua agenda.
Dantas chama a atenção, nessa parte, para o destacado papel do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) – ambas instituições nascidas na década de 1970 – na formulação das concepções e táticas do MRSB. O legado dessas instituições marcou os desafios conjunturais e os posicionamentos estratégicos assumidos pelo movimento. Nesse sentido, Dantas nos lembra, não por coincidência, o famoso documento do Cebes de 1979: “A questão democrática na área da saúde” (p. 182). Assim, o autor nos mostra que, nesse ambiente de ‘programa democrático’, o Estado passa a ser lócus preterido para desempenhar papel decisivo na formulação tático-estratégica que se desenhava no interior do MRSB. Por isso, Dantas insiste na ideia do “empenho dos sanitaristas na tática institucional de ocupação de postos na máquina estatal” (p. 183) nesse período.
Integra, ainda, nesta parte do livro, a importância a respeito da agenda democrática do movimento sanitário, nos anos 1970, por meio da pauta prioritária do Movimento Popular em Saúde (MOPS) e que foi elemento de destaque na 8ª Conferência Nacional de Saúde, na Comissão Nacional da Reforma Sanitária e na Assembleia Nacional Constituinte: a questão da participação social. Essa discussão Dantas desenvolve no capítulo 4, sob a forma de uma indagação provocativa, “Reeducar o Estado?”. O objetivo desse pleito foi o de se enfrentar a herança patrimonialista e clientelista da formação do Estado brasileiro, tendo como diretriz a institucionalização do ‘controle social’ na saúde, por meio dos conselhos de saúde nos três níveis de gestão do SUS. Dantas faz um balanço crítico desse mecanismo de democratização do Estado, evidenciando que o resultado do ‘controle social’, até os dias atuais, se resumiu a um processo altamente institucionalizado, distante da força de luta da classe trabalhadora. O autor chama a atenção para o caráter problemático da atuação desses conselhos.
No quinto e último capítulo, intitulado “Reforma Sanitária, SUS e socialismo: questão de princípios”, Dantas insiste na análise do debate estratégico da Reforma Sanitária, alertando para os riscos de suas formulações estratégicas que, por um lado, valorizavam a democracia burguesa, mas, por outro, se afastavam do reconhecimento do caráter capitalista do Estado. Aqui, o destaque do autor é para o desconhecimento dos fatores limitantes da forma e função dessa estratégia sanitária que acabou reforçando a ideia-síntese, ‘saúde é democracia’ (que até hoje é lema em congressos da Abrasco, por exemplo) e também para o não reconhecimento dos obstáculos de sua realização no interior da lógica do modo de produção capitalista.
Na conclusão, o autor discute alguns aspectos que contribuem para uma reflexão mais geral sobre a crise em que o movimento sanitário se encontra, conjuntamente com a dita ‘esquerda democrática’. Daí o título dessa parte ser extremamente provocador: “Da democracia ao socialismo”. Não resta dúvida, nesta parte, que Dantas reconhece os resultados devastadores que a contraofensiva neoliberal provocou a partir da década de 1990, principalmente contribuindo para o esvaziamento do debate estratégico da esquerda brasileira, mas também não escapa de sua análise a fragilidade dos desafios apontados para a luta por essa ‘esquerda democrática’, especialmente no contexto de pós-participação de seus quadros-chave nos postos de comando do governo federal. Dantas delimita bem sua síntese: “O essencial é o deslocamento que ela promoveu, ou pretendeu promover, da centralidade do socialismo para a centralidade da democracia” (p. 281). Para caminhar no sentido contrário, Dantas nos oferece uma alternativa: “Mais do que nunca é preciso que afirmemos que a democratização burguesa não se constitui como alternativa ao socialismo” (p. 282).
O mais importante para a reflexão acerca dos desafios do movimento sanitário é que Dantas não deixa, em nenhum momento, de articular muito bem a necessidade de um debate estratégico que se apoie firmemente numa crítica ao capital e suas formas de exercício de dominação, mantendo presente o socialismo no discurso e na prática democrática. Sem dúvida, trata-se de um livro essencial para ampliar o horizonte do campo da saúde coletiva e que instiga a autocrítica sem desqualificar o empenho dos sanitaristas na luta política do perverso tempo social em que se encontravam. Contudo, ainda assim, isso não nos exime de repensar as estratégias e táticas sobre o alcance de uma outra sociedade. Portanto, não há como fazer isso sem encarar o Estado como ‘a grande Esfinge’. Se não soubermos decifrá-la politicamente, seremos fatalmente devorados mais uma vez.
Referências
BONNET, Alberto; PIVA, Adrián. Prólogo . In: BONNET, Alberto; PIVA, Adrián. (Compiladores). Estado y capital: el debate alemán sobre la derivación del Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Herramienta, 2017 . [ Links ]
BOSCHETTI, Ivanete. A ssistência social e trabalho no capitalismo. São Paulo: Cortez, 2016 . [ Links ]
CORREIA, Marcus O. G. Por uma crítica imanente sobre os limites das políticas públicas de direitos sociais e o Estado na produção do bem comum no modo de produção capitalista. Saúde e Sociedade , São Paulo, v. 24, n. S1, p. 55-65, 2015 . [ Links ]
COUTINHO, Carlos N. A democracia como valor universal. In: SILVEIRA, Ênio. Encontros com a Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979 . p. 33-47. [ Links ]
HIRSCH, Joachim. Elementos para una teoría materialista del Estado. In: BONNET, A; PIVA, A. (Compiladores). Estado y capital: el debate alemán sobre la derivación del Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Herramienta, 2017 . [ Links ]
KARL, Marx. Crítica ao Programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012 . [ Links ]
PACHUKANIS, Évgueni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). São Paulo: Sundermann, 2017 . [ Links ]
Notas
1 A denominação ‘Estado Social’ se apoia em Boschetti (2016), que busca captar a regulação econômico-social por meio de políticas sociais, atribuindo ao Estado capitalista suas determinações objetivas, explicitando que a incorporação dessas políticas pelo Estado não extrai dele sua característica essencialmente capitalista.
2 Evguiéni B. Pachukanis, jurista soviético, escreveu na década de 1920 seu livro Teoria Geral do Direito e Marxismo, desenvolvendo uma ideia original no interior do pensamento marxista no tocante ao papel do direito e do Estado na sociedade capitalista e pós-capitalista. O autor propõe uma investigação sobre o direito com base no método da obra de maturidade de Marx e que se refere especialmente ao texto de O capital. Para mais informações, ver Pachukanis (2017).
Áquilas Mendes – Universidade de São Paulo , Faculdade de Saúde Pública , São Paulo , SP , Brasil. E-mail: [email protected]
Leonardo Carnut – Universidade Federal de São Paulo , Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde , São Paulo , SP , Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Contribuição à crítica da historiografia revisionista – SENA JÚNIOR (RTF)
SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias de; MELO, Demian Bezerra de; CALIL, Gilberto Grassi (Org.). Contribuição à crítica da historiografia revisionista. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2017. 380 p. Resenha de: CASA GRANDE, Dirceu Junior. “Boa memória” e “conciliação”: a crítica da historiografia revisionista no Brasil. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 11, n. 1, jan.-jul., 2018.
A História e a memória não se equilibram mais entre a lembrança e o esquecimento. Tomadas de assalto nos dias atuais, lutam agora contra um espectro ainda mais obsedante, o silenciamento. O livro organizado por Carlos Zacarias de Sena Júnior, Demian Bezerra de Melo e Gilberto Grassi Calil, Contribuição à crítica da historiografia revisionista, publicado pela Consequência Editora em 2017, é mais um esforço de resistência às tentativas de amordaçar a História. Avessos a ideia de “conciliação” e construção da “boa memória”, o tema do revisionismo historiográfico é abordado por autores que escolheram combater aqueles que trabalham para apropriar-se do ofício de lembrar e impor versões definitivas para fatos e acontecimentos polêmicos e conflituosos.
Esta nova obra é o desdobramento de um trabalho anterior de crítica historiográfica, que reuniu textos de inúmeros historiadores no livro, A miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo contemporâneo, organizado por Demian Bezerra de Melo, publicado 2014. O novo conjunto de textos deu sequência às críticas historiográficas e aos debates em torno das apropriações do passado propostas por “revisões” de caráter meramente apologéticos. Não pode haver “conciliação”, assim como não existe a “boa” ou a “melhor” memória. As “revisões” apologéticas não passam de impulsos ideológicos que tem como objetivo habilitar ou reabilitar versões que não possuem nenhuma base teórico-metodológica viável ou qualquer proposição inovadora. Como alertou Virginia Fontes no prefácio da obra, “vivemos tempos em que se propõe ‘escolas sem partido’, impondo uma pretensa neutralidade para aniquilar o formidável conhecimento sobre a historicidade humana, a democracia e a revolução” (2017, p. 15).
O primeiro artigo do livro, intitulado “Revisão e Revisionismo”, foi escrito pelo historiador italiano Enzo Traverso. Em seu texto, o autor estabeleceu uma tensão entre ambos os conceitos e o ofício do historiador. O objetivo é refutar o perspectivismo, as tendências apologéticas e os usos públicos e inconsequentes das narrativas historiográficas. Conforme avaliou Traverso, o ofício do historiador consiste em criticar os fatos e os acontecimentos e revisar as versões com base na descoberta de novas fontes e documentos desconhecidos ou inexplorados. A crítica avalia o trabalho empreendido pelos pares e a revisão abre novas possibilidades de compreensão da História – com seus métodos e procedimentos – e do passado.
As conclusões das críticas e revisões historiográficas devem contribuir para ampliar os conhecimentos históricos, não silenciá-los. Quando porém, os historiadores relativizam aquilo que sabemos sobre um evento histórico com o objetivo de estabelecer uma nova perspectiva sobre ele ou direcioná-lo para usos públicos específicos como a ação política, ultrapassam os limites da pesquisa e da elaboração do conhecimento histórico-científico, incorrendo naquilo que Traverso denominou “revisionismos”.
Nesses processos, os revisionistas nunca utilizam uma nova fonte ou um documento inédito. Via de regra, promovem uma “viragem étnico-política” (p. 32) nos modos de enxergar e lidar com um fato ou acontecimento e elaboram narrativas com “tendências apologéticas” bem demarcadas. Os objetivos são o convencimento de indivíduos, a formação de públicos cativos, a imposição de versões pretensamente definitivas ou hegemônicas e a desconstrução inadvertida das teses marxistas.
Os revisionistas ignoram que os conhecimentos que possuímos do passado são sempre frágeis e temporários, dadas as características precárias e instáveis da História.
As críticas e revisões historiográficas normalmente suprem essas fragilidades dirimindo conflitos, desfazendo equívocos, esclarecendo e ampliando o conhecimento histórico.
Nesses casos, os trabalhos de revisão dão conta de atender expectativas de conhecimento e abrir novas possibilidades de análise, tornando a História mais fecunda. Na contra mão desses processos, as “revisões” apresentam, em suma, duas características marcantes em relação aos seus “métodos” e “conteúdos”: ou são inteiramente discutíveis ou inevitavelmente nefastos.
Mas, assim como o historiador conhece os limites e as possibilidades do seu trabalho e as implicações que suas teses podem produzir, os “revisionistas” conhecem perfeitamente os objetivos que desejam atingir e os caminhos que precisam percorrer para impor suas perspectivas. O primeiro passo é a afirmação de uma ortodoxia, de uma crença inabalável ou uma ideia fixa sobre um conjunto de fatos e acontecimentos. O segundo passo é a eliminação do diálogo e da discussão mediante o uso deliberado de práticas inquisitoriais ou estratagemas para vencer um debate sem ter razão. O terceiro passo consiste na excomunhão dos divergentes e na eliminação daqueles que defendem o caráter fecundo da História. Esses são os expedientes que dão voz e “razão” tanto aos historiadores oficiais quanto aos revisionistas. Ambos agem ideologicamente para partidarizar a História e polarizar as discussões sem trazer, no entanto, nada de novo para o debate.
As estratégias dos “revisionistas” consistem essencialmente em projetar para o primeiro plano lembranças vagas do passado e introduzir aspectos difusos da memória coletiva como instrumentos de avaliação dos acontecimentos, não de análise. O objetivo é acumular “vantagens” no debate público e obter a primazia do lembrar e do revelar.
Os métodos historiográficos são sumariamente descartados em favor de interpretações ideológicas, partidárias e relativistas. O que prevalece são falas generalizantes e radicalizadas que celebram ficções, reabilitam indivíduos, restituem ações ou validam versões e perspectivas detestáveis. O resultado são versões apologéticas cujas cores revelam os matizes de uma “ordem” falsamente estabelecida e supostamente inquestionável ou “novas verdades”, aparentemente revigorantes e esclarecedoras.
O livro conta com o prefácio de Virginia Fontes e uma introdução redigida pelos organizadores da obra, além de outros dez capítulos. Os três primeiros textos estão agrupados em uma parte denominada, “Ditadura e Democracia”. Outros quatro artigos foram reunidos em uma parte chamada “Revolução e Contrarrevolução”. E finalmente, os três últimos capítulos compõem uma parte que recebeu o título de “Capitalismo e Luta de Classes”. Nos referidos textos, os autores avaliaram as versões revisionistas sobre o golpe de 1964 e o período ditatorial que ele inaugurou, as revoluções portuguesa e russa e as teses do revisionismo conservador sobre o totalitarismo e o fascismo. Na terceira parte, revolução industrial, capitalismo e luta de classes, segregação urbana, criminalidade e banditismo são os temas dos últimos capítulos do livro.
No primeiro capítulo do livro, A “boa memória”: algumas questões sobre o revisionismo na historiografia brasileira contemporânea, Carlos Zacarias de Sena Junior aponta para a existência de uma “guerra de memória” (p. 63). Mais uma vez, as “revisões” apologéticas, ao insistirem na relativização do golpe de 1964, propõem um perspectivismo sutil para discutir temas singularmente polêmicos. Nessa dinâmica, a historiografia sobre o golpe e a ditadura que se seguiu, passaram a figurar entre os objetos preferidos dos “revisionistas”, empenhados na ressignificação dos eventos. Não por acaso, assim como ocorreu com outros temas polêmicos da História, como as revoluções francesa, portuguesa e russa, o resultado das versões seletivas sobre 1964 revelam reminiscências e ideologias políticas, mas não contribuem com a fecundidade do conhecimento histórico. Isso é o que facilita sua absorção pelos leitores desavisados ou pelos ouvintes cativos, bem como, favorece a consequente condenação de todas as teses que contrariam as expectativas dos adeptos das “revisões”.
Para Gilberto Grassi Calil, que escreveu o capítulo intitulado Elio Gaspari e a ditadura brasileira, o jornalista foi capaz de converter conspiradores, golpistas e torturadores em lideranças políticas bem intencionadas e austeras, além de transformar vítimas em culpados. Em uma perspectiva ainda mais apologética e centrada na ação de grandes personagens como o ex-presidente Ernesto Geisel e o General Golbery, o jornalista Elio Gaspari nos revelou uma visão suavizada da ditadura. Sua amizade com os personagens demonstram como a intimidade do autor com os atores de uma trama podem contaminar irremediavelmente a narrativa. Gaspari promoveu um abrandamento descarado da ditadura, restringindo-a temporalmente, absolvendo atores importantes, como o empresariado e os agentes norte-americanos, atribuindo à esquerda parte da culpa pelos rumos que os acontecimentos tomaram, elaborando uma versão parcial dos fatos sem qualquer tipo de apoio documental mais robusto.
Quando a paixão dirige o trabalho historiográfico, os resultados são “vertiginosas piruetas intelectuais” (p. 113), penduradas em tentativas para produzir conciliações e consensos políticos ou justificar atos de violência ostensiva. Eurelino Coelho analisou o trabalho de Ângela Castro Gomes e Jorge Ferreira, O livro de 1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Na tentativa de compreender a vitória dos golpistas civis e militares, os autores utilizaram um tempo verbal estranho ao trabalho do historiador, argumentando que, “se os personagens históricos tivessem se comportado de outra maneira… outra teria sido a história” (p. 117). Como é possível realizar uma revisão historiográfica no futuro do pretérito, questiona Eurelino? Mesmo existindo alternativas à disposição dos atores, eles fazem suas escolhas. Portanto, a história que deve ser contada é essa, centrada nas escolhas dos atores e não em possibilidades remotas do que poderia ter sido, e não foi.
A obra avança e os demais artigos do livro discutem amplamente as ideias e contextos de temas como Revolução e Contrarrevolução. Manuel Loff e Luciana Soutelo descrevem como as revisões sobre esses temas promoveram a suspensão do conceito de revolução e igualaram o fascismo e o comunismo para atribuir aos regimes totalitários um viés exclusivamente de esquerda. O objetivo dessas revisões, esclarecem os autores, é a legitimação do liberalismo ocidental, sua desideologização e naturalização históricas. As ressignificações do fascismo, a negação dos conflitos de classes e o abrandamento das ações da direita conservadora abriram caminho para a permanência dos discursos fascistas na sociedade atual. Ao analisar o que foi escrito pela imprensa nos períodos de transição da ditadura para a democracia, Carla Luciana Silva descreveu as atitudes e práticas totalitárias que resistiram ao fim dos períodos autoritários e permanecem virtualmente cativantes atualmente, tal como ocorreu em Portugal e Espanha pós-Salazar e pós-Franco, respectivamente.
Tatiana Figueiredo, por sua vez, avaliou o “revisionismo” histórico a partir da relativização do conceito de revolução, o qual passou a ser identificado pelos “revisionistas” como um caminho para a servidão e o terror, menosprezando conteúdos políticos, além da vontade e da participação popular nesses eventos. A autora criticou a elaboração de arquétipos e constatou que os movimentos que derrotaram a opressão e o terror, logo foram classificados da mesma forma. Na avaliação de Figueiredo, os revisionistas obscureceram o caráter antiautoritário das revoluções para promover novas formas de organização social e política, justificar atos extremos de violência, isentar de culpa empresários, políticos e intelectuais, além dos grandes monopólios empresariais, tal como ocorreu com os colaboradores do nazismo na Alemanha do pósguerra.
Na última parte do livro, “Capitalismo e Luta de Classes”, os autores destacam que o fortalecimento das teses “revisionistas” não geraram somente prejuízos para historiografia e para o conhecimento histórico. O predomínio dessas perspectivas com seus abrandamentos, reducionismos, generalizações e pregações otimistas sobre os avanços e o desempenho da democracia e da economia de mercado, escondem problemas mais sérios como as desigualdades sociais, a segregação urbana, a criminalidade, o banditismo e a violência. O empenho desses revisionistas, agrupados no que se convencionou chamar de “escola otimista”, reforçou as teses conformistas e a ideologia da sociedade de uma “classe só”, como sublinha Igor Gomes no último capítulo do livro (p. 331). De acordo com os autores do livro, paira sobre a História, suas pesquisas e narrativas, uma imensa nuvem de silêncios, todos discutíveis e nefastos.
Dirceu Junior Casa Grande – Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP-Assis-SP e Docente da área de Ciência Humanas e Sociais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR-Câmpus Cornélio Procópio-PR. Endereço profissional: AV. Alberto Carazzai, 1640 – Cornélio Procópio-PR – CEP-86300-000. E-mail: [email protected].
Democracia e estado de exceção: transição e memória política no Brasil e na África do Sul / Edson Teles
Democracia e Estado de Exceção, livro escrito por Edson Teles, trata da questão do papel da memória, no Brasil e na África do Sul. Seus usos e abusos na assunção das novas democracias no Hemisfério Sul, ante a herança autoritária da ditadura militar brasileira e do apartheid sul-africano. Em específico, a obra discute como esse passado, em tempos democráticos, interfere nas ações políticas do presente e na consolidação dos novos contratos sociais, sob a tensão entre a lembrança e o esquecimento dos tempos de exceção.
A publicação é fruto da tese de doutoramento intitulada: Brasil e África do Sul: paradoxos da democracia, defendida no ano de 2007 pela Universidade de São Paulo. Além disso, é resultado de anos de militância política e engajamento por parte do autor nas questões que envolvem os direitos humanos. A obra sedimenta suas reflexões no campo da filosofia política. Assim, constitui-se como um dos pontos chaves para o entendimento da abordagem do autor, a relação paradoxal entre a certeza do discurso e a insegurança da ação.
Nesse sentido, Democracia e Estado de Exceção, em comparação com outras obras do campo da filosofia, foge de uma perspectiva clássica. O livro não somente investe na densidade do debate filosófico que envolve noções e conceitos de memória, democracia, perdão e ressentimento, mas, por outro lado, busca o entendimento de como essas noções e conceitos foram articulados em realidades históricas específicas – Brasil e África do Sul – através da relação dialética entre lembrança e esquecimento.
De maneira geral, ao autor interessa como o debate filosófico interfere e constrói novos sentidos à esfera pública, ou como, em momentos de transição política, criam-se condições e possibilidades para o forjamento de novas formas de sociabilidade. As novas democracias teriam a difícil missão de criar um novo cenário de reconciliação com o passado, (re)construção do presente e projeção de um futuro para brasileiros e sul-africanos.
Os anos de chumbo da ditadura civil-militar no Brasil e o apartheid na África do Sul violaram o sentido democrático na medida em que a violência fez parte de maneira autorizada na esfera pública. Por consequência, a democracia foi encoberta pela exceção através dos crimes cometidos contra a humanidade: tortura, desaparecimento, assassinato e prisão daqueles que lutaram contra o regime. De certa forma, ambos os países experienciaram a produção da violência como uma política de Estado em tempos de exceção. Portanto, configuram-se como sociedades marcadas pelo ressentimento e trauma.
Em contextos como o de transição, os crimes ditos públicos, tais como casos de corrupção e violações à humanidade, passam a ter cada vez mais visibilidade. O filósofo propõe refletir a questão a partir das novas jurisprudências que foram criadas com o objetivo de julgar tais crimes, como: A Comissão Sul-Africana de Verdade e Reconciliação. Por outro lado, os períodos de transição e assunção de novos modelos políticos que confrontam os regimes de exceção enfrentam um grande dilema no reestabelecimento dos novos contratos sociais: punir ou anistiar; punir ou perdoar?
Para melhor compreender as especificidades de cada caso, Teles recorre ao método comparativo. As novas democracias – brasileira e sul-africana – tiveram que lidar, cada qual à sua maneira, com o passado dos regimes de exceção. Para tanto, o autor compreende que a memória desempenha um papel importante no acesso ao passado – seja enquanto esquecimento através do silêncio, seja enquanto lembrança – com a possibilidade de publicização dos traumas do passado em esfera pública.
A obra está disposta em cinco capítulos, dos quais o primeiro versa sobre as problemáticas da memória. Apesar de possuir um capítulo em específico, as reflexões acerca do papel da memória nas novas democracias são norteadoras para o desenvolvimento e considerações do autor ao longo dos outros quatro capítulos. Teles propõe iniciar suas reflexões a respeito do papel da memória questionando o que se lembra, e quem lembra. O investimento no conteúdo e agente da ação expõe as complexidades do acesso à memória.
Em suas considerações iniciais o autor rejeita a tese de que a memória seja um dado natural. O filósofo compreende que conteúdo e agente podem ser um importante indicativo para o entendimento das ações de recordação, tendo em vista que a coisa lembrada (conteúdo) projeta-se sobre o sujeito que realiza a recordação (agente). Teles pondera que, no campo social, o acesso ao passado através das ações de recordação torna-se mais complexo, pois o discurso dirigido por terceiros – Estado, partidos políticos e ONGs – reconfigura não somente a mensagem (conteúdo), mas o acesso à recordação (agentes e receptores). Para Teles, tais reconfigurações pelas quais passa a memória no campo social, ou as ações de recordação que envolvem conteúdo e agentes possibilitam compreender dois campos de abordagem.
O primeiro diz respeito à participação dos sujeitos nas ações de recordação de forma plural e subjetiva; já o segundo tem por finalidade tratar de forma objetiva e duradoura os elementos do passado. Nesse sentido, o autor considera que na esfera pública – no discurso proferido pelo Estado, partidos políticos e outras entidades – seja impossível compreender as ações de recordação, eu e nós, subjetividade e objetividade de forma distinta. Por consequência, a memória política seria esse espaço de análise das incongruências e conjunções entre o esquecimento e lembrança, singular e plural, subjetivo e objetivo.
Em diálogo com o historiador Peter Burke1, o autor expõe os conflitos e complementaridades da memória objetivada nas placas, monumentos e nos novos nomes das ruas com a subjetividade da memória dos moradores da cidade de Sófia. Teles considera que nos entulhos da objetividade da memória das datas, nomes e livros existem pontos mnemônicos subjetivos pouco acessíveis que fogem da homogeneidade imagética que as sociedades fazem de si mesmas. As memórias dos regimes autoritários seriam momentos de rupturas e de conflitos entre as ações objetivas e a pouca visibilidade às ações de recordações subjetivas.
Apesar do livro não investir em uma divisão em partes ou seções, consigo observar dois eixos centrais a partir do segundo capítulo. Estes configuram-se, também, como eixos espaciais, um estudo de caso do fim dos regimes autoritários e os processos de transição e consolidação das democracias no Brasil e na África do Sul. Esses dois eixos, por assim dizer, articulam as reflexões propostas por Teles. As experiências brasileira e sul-africana vivenciaram o signo da violência, mas lidaram com a memória de maneira distinta. Apesar de certas aproximações, Brasil e África do Sul, parecem divergir nos caminhos percorridos e pelo modo como reconstruíram suas democracias entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90.
Nos capítulos dois e três, o autor se preocupa com o caso brasileiro, mais precisamente, com o processo de transição política negociada entre os representantes da classe política que acabou por negligenciar o povo da esfera pública. Nesse sentido, creio que a experiência brasileira consagra as políticas de silêncio. O consenso, ou memória consensual – no período de transição – produziu silêncios a respeito dos crimes cometidos durante a ditadura militar. Para o autor, a memória objetiva do período limitou-se a datas, comemorações e placas alusivas ao fim do regime. Por outro lado, a impossibilidade do aparecimento de outras narrativas, que pudessem traduzir a subjetividade das experiências traumáticas na dimensão pública, silenciou vários indivíduos produzindo um vácuo entre passado e presente. Em alguns casos, sem a possibilidade de falar, esses mesmos indivíduos optam pelo silêncio reduzindo sua publicidade ao campo privado.
A transição brasileira negligenciou a memória política, ou seja, a nova dimensão pública limitou a presença plural do passado no presente. No capítulo Lembrar e Esquecer, Teles classifica três tipos de memória do período de transição. São elas: a memória dos militares, a memória das vítimas e, por fim, a memória do consenso. Em síntese, a memória dos militares seria a da vitória contra os subversivos, a famigerada ameaça comunista. Em contraste com a versão anterior, a memória das vítimas defende a investigação e punição a todos os culpados pelos crimes cometidos no período da ditadura militar. O esquecimento e passividade estatal perante as denúncias criaram uma zona de inconformismo por parte desses movimentos. E, por fim, a memória do consenso busca uma posição central entre as duas memórias. Sendo assim, esta memória irá expor de forma limitada sua visão sobre os crimes do passado e, em contrapartida, será simpática ao novo governo civil com o fim da ditadura.
Analisando o consenso, enquanto marca da transição brasileira, acredito que seu entendimento cruze as considerações do autor a respeito do conceito de democracia. Para Teles, o processo de transição de forma lenta e gradual ao qual se propôs o acordo entre os militares, lideranças políticas, latifundiários e empresários constituiu-se como uma democracia relativa ou incompleta. O filósofo questiona a eficácia da nova roupagem institucional – assembleias, eleições e direitos individuais – se estes mesmos espaços de ação na esfera pública limitam a área de atuação das subjetividades políticas. Como podemos falar de democracia se os crimes do passado não foram ainda julgados?
No capítulo três, intitulado Políticas do Silêncio, o autor faz algumas considerações sobre os efeitos do silêncio com a consolidação do período democrático no Brasil. Analisando algumas reflexões feitas pelo autor, acredito que a democracia brasileira não tenha se preocupado com o conteúdo do discurso e seu espaço de atuação. Nesse sentido, a memória objetiva peca no revestimento de novos sentidos mnemônicos para os espaços públicos. Ainda é comum no Brasil encontrarmos monumentos, nomes de ruas e escolas que prestam homenagens a presidentes e políticos envolvidos de forma direta com o regime militar. Soma-se, do ponto de vista subjetivo, a ocultação de falas e arquivos públicos. A democracia passa a enrustir e transformar o passado em segredo.
O segundo eixo é composto dos dois últimos capítulos. Neles o autor investiga a experiência sul-africana através da Comissão de Verdade e Reconciliação. A partir deste órgão e de outras ações, a África do Sul promoveu sua política de anistia em troca da confissão dos crimes. A dissonância entre o caso sul-africano e o brasileiro ocorre na opção do primeiro por criar espaços públicos de confissão e perdão, analisando caso a caso. Já o Brasil, através da anistia coletiva, transfigurou a memória ao campo do esquecimento através do silêncio. Por seu turno, a África do Sul optou pela publicização dos traumas e ressentimentos, através de políticas de narrativas. Tais espaços tinham por objetivo consumar luto e recriar novos laços sociais entre os indivíduos.
O período de segregação racial – apartheid – chegou ao fim com a eleição de Nelson Mandela para a presidência do país em 1994. A partir de então, a África do Sul elaborou uma nova constituição e lançou um plano de reconciliação com o objetivo de reconstruir a nação sem as marcas da violência e do preconceito de outrora. Para tanto, seria necessário lidar com o ressentimento e trauma do passado. Segundo o autor, esferas públicas foram criadas, reunindo vítimas e criminosos com o objetivo de apurar e reparar os crimes contra a humanidade. Tais momentos funcionavam mais como espaços de reconciliação do que tribunais cujo único objetivo seria o de punir todos aqueles que estivessem envolvidos em crimes no regime segregacionista.
Edson Teles pondera que a reconciliação sul-africana não ocorreu em um momento único. Na verdade, foi um processo que demandou tempo. Compreendo este momento não somente pelo seu viés institucional e burocrático, mas por sua dimensão simbólica, algo que se assemelha a momentos de ritualização coletiva, com o objetivo de recriar novos espaços de comunhão. Nesse sentido, o conceito ubunto, fortemente enraizado na tradição africana, auxiliou no processo de reconciliação, à medida que a reintegração dos réus à sociedade só era aceita por meio de um pedido de desculpas públicas após a confissão do crime.
Edson Teles, em comparação com o processo brasileiro, vê as narrativas construídas pelos sul-africanos como inovadoras por dois aspectos: primeiro, pela comissão ter ouvido não somente vítimas, mas também aqueles que cometeram os crimes no período; segundo, pela ampla publicidade dada às narrativas criando espaços de pluralidade e construção de subjetividades sobre o passado. Algo que a transição brasileira sempre negligenciou. Contudo, se o caso brasileiro peca pela ausência de memória, Teles critica o excesso de memória da experiência sul-africana como um dos pontos que também dificultam a concretude e o perdão.
Democracia e Estado de Exceção é um importante estudo de caso que recorre ao método comparativo para compreender os sentidos do passado. Para além do campo da filosofia política, em vários momentos, a obra parece estar inserida dentro do campo da História Social das Ideias, devido à análise contextual e atuação dos agentes nos processos de consolidação das novas democracias no hemisfério sul.
Wendell Emmanuel Brito de Souza – Mestre em História Social/UFMA. São Luís/Maranhão/Brasil. E-mail: [email protected].
TELES, Edson. Democracia e estado de exceção: transição e memória política no Brasil e na África do Sul. São Paulo: Editora Fap-Unifesp, 2015. 220 p. Resenha de: SOUZA, Wendell Emmanuel Brito de. Memória política entre silêncios e narrativas: transição democrática no Brasil e na África do Sul. Outros Tempos, São Luís, v.15, n.26, p.250-255, 2018. Acessar publicação original. [IF].
La démocratie contre les experts: les esclaves publics en Grèce ancienne – ISMARD (Tempo)
ISMARD, Paulin. La démocratie contre les experts: les esclaves publics en Grèce ancienne. Paris: Seuil: 2015. 273 p.p. Resenha de: TRABULSI, José Antonio Dabdab. Experts e democracia: uma convivência impossível? Tempo v.23 no.2 Niterói mai./ago. 2017.
Paulin Ismard, maître de conférences em história grega antiga na Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne e nome emergente no campo dos estudos sobre a Grécia antiga, publica um novo livro muito interessante. Desde a apresentação e a contracapa, o autor não deixa pairar qualquer dúvida sobre sua vontade de propor um livro de intervenção cidadã:
Suponhamos por um instante que o diretor do Banco da França, o chefe da polícia nacional e o chefe do Arquivo público sejam escravos, propriedades do povo francês a título coletivo. Imaginemos, em suma, uma República na qual alguns dos maiores dirigentes do Estado fossem escravos. Eles eram arquivistas das leis, policiais, controladores da moeda: todos escravos, apesar de se beneficiarem de uma condição privilegiada, e foram os primeiros funcionários públicos das cidades gregas […]. Que a democracia tenha se construído em sua origem contra a figura do expert que governa, mas também segundo uma concepção do Estado que nos é radicalmente estrangeira, eis o que deveria nos intrigar.
Vemos como o autor atiça desde o início a atenção do leitor, seja ele helenista, seja ele simples cidadão atento aos assuntos coletivos.
Na Introdução (p. 13-30), ele propõe colocar seu estudo no contexto de renovação dos trabalhos sobre a escravidão, e os escravos públicos gregos como um exemplo análogo a outros ao longo da história ocidental, mas também africana ou asiática. Faz uma revisão bibliográfica e observa, com razão, que apenas um livro (Jacob, Oscar. Les esclaves publics à Athènes. Liège: Champion, 1928), já bem antigo e puramente descritivo, existe sobre o tema dos escravos públicos na Grécia antiga. Afirma:
Algumas das tarefas confiadas aos dêmosioi requeriam de facto competências excepcionais. Confiando-as a escravos, a cidade queria colocar fora do campo político alguns saberes especializados, impedindo que seu exercício pudesse vir a legitimar a detenção de um poder. A expertise dos dêmosioi esclarece assim com uma nova luz a questão espinhosa – e tão contemporânea – do status político dos saberes no seio da cidade democrática. (p. 30)
Observemos de passagem sua estimativa do número de escravos públicos na Atenas clássica, entre 1000 e 2000, o que parecerá a certos analistas um pouco excessivo, sobretudo porque ele tende a privilegiar na argumentação o limite mais alto desse intervalo, o que tem implicações importantes para seu ponto de vista, pois ele pensa quase sempre (ou pelo menos deixa o leitor pensar) que as numerosas magistraturas propriamente políticas ficavam fora do campo das competências, quaisquer que fossem. Outra vez, muitos historiadores do período não estarão de acordo com ele. Isso não invalida a constatação de que o livro se apresenta como muito atrativo, com uma abordagem renovada e muito atual.
No Capítulo I (“Gênese”, p. 31-61), Ismard procede a uma arqueologia do dêmosios desde o início do arcaísmo, a partir do dêmiourgos homérico, das figuras de Dolon, de Dédalo, de Spensithios, o Escriba, na Creta do século VI, e de Patrias, na Élis do início do século V. Considera também o papel das tiranias arcaicas na gênese de um aparelho estatal no qual o escravo público encontrará, mais tarde, seu lugar. Tudo resultando, na época clássica, em uma nova configuração:
Abrindo o acesso à participação política ao maior número de cidadãos, os regimes democráticos instauraram enfim novas relações entre saber e poder. A competência herdada de uma longa familiaridade com o poder era doravante imprópria para legitimar a autoridade política. Sem dúvida, em certos campos, a competência permanecia indispensável, mas os valores do regime democrático proibiam que tais funções fossem confiadas a uma categoria restrita de cidadãos. Os atenienses preferiram então, na maior parte das vezes, atribuí-las a escravos, o que resultava em suma em relegar essa expertise para “fora do político”. (p. 60)
Temos aqui um capítulo muito bom, realmente original.
No Capítulo II (“Servidores da cidade”, p. 63-94), o autor procede a um levantamento sistemático das atividades dos escravos públicos na Atenas clássica, mas também na época helenística, em várias cidades, o que abre o campo de observação de forma muito enriquecedora. Ele explica sucessivamente o papel dos dêmosioi na assembleia, no conselho, diante dos tribunais e no ginásio. Seu papel é muito importante nas escrituras públicas, na gestão dos arquivos oficiais, no estabelecimento dos inventários de bens, nas contas dos canteiros de obras ou dos santuários religiosos em Atenas; eles garantiam a autenticidade das moedas e cuidavam da regularidade dos pesos e das medidas. Muitas vezes, em Atenas e em outros locais, eles encarnavam a autoridade pública em sua dimensão repressiva, com um papel de polícia e de manutenção da ordem, auxiliavam os magistrados quando das detenções e cuidavam da prisão da cidade. Em Atenas, os “cítios” (nem sempre provenientes desse povo) tinham papel-chave no funcionamento das instituições (assembleia, conselho, festas, mercado etc.). Outros, menos especializados, trabalhavam em tarefas de interesse coletivo, nas oficinas e canteiros diversos. Por vezes, puderam até ser encarregados de alguns sacerdócios. Em sua maioria comprados nos mercados de escravos, eram numerosos em Atenas, sem que possamos ter um número preciso (ele insiste nos valores entre mil e 2 mil, p. 85). Segundo o autor:
Assegurar com competência o controle da comunidade cívica sobre um dirigente; efetuar no lugar de um cidadão uma tarefa infamante; fornecer força de trabalho indispensável aos grandes canteiros de obras cívicas: não faltam razões para explicar o interesse das cidades gregas em ter a seu serviço escravos. Algumas dessas tarefas conferiam de facto aos dêmosioi um certo poder sobre os membros da comunidade cívica. Entretanto, como afirmava Sócrates o Jovem, a função deles não participava do domínio da arché. Os dêmosioi não eram magistrados da cidade e sua atividade era entendida como estranha ao campo político. (p. 88-89)
Muitos intérpretes viram nos dêmosioi as primícias de um “serviço público” na cidade clássica.
O Capítulo III (“Estranhos escravos”, p. 95-130) é um dos mais importantes para o objetivo do autor e apresenta o interesse de estar “irrigado” por um comparatismo bem-feito com outras sociedades com escravos e outras sociedades escravistas (não apenas o velho sul dos Estados Unidos, o que é frequente na bibliografia, mas também os mundos árabe, otomano, africano, indiano, entre outros, o que é bem mais raro). Ele examina o corpo escravo, os privilégios dos dêmosioi que os distinguiam dos escravos-mercadoria típicos. Por exemplo, eles podiam ser proprietários de bens, e até, talvez, de escravos; beneficiavam-se de um “privilégio de parentesco” (p. 107); em pelo menos um caso bem conhecido (Pittalakos), um escravo público pôde ter acesso aos tribunais, diretamente, como um cidadão; não estavam excluídos de todas as honras públicas, o que revela a delicada questão da timè; se o próprio do escravo é estar privado dela, o caso dos dêmosioi apresenta uma exceção notável. Eles eram um “bem público” em um universo em que o Estado não era um sujeito de direito; e, portanto, seu pertencimento era mais vago, definido pela negação, pelo fato de “não pertencer” a ninguém de forma individualizada. O autor volta às teorizações de juventude de Moses Finley (p. 125-126), para reabilitar o uso da noção de status como um conjunto de direitos, privilégios, imunidades, capacidades etc.; tudo ligado à timè (com mil configurações e contornos):
Neste sentido, a sociedade ateniense não se decompõe em blocos de estatutos homogêneos, superpostos à maneira das ordens. Ela também não é uma sociedade aberta, na qual cada um pode se liberar de suas determinações estatutárias e transitar de um status a outro graças ao mérito ou à sorte. Ela se apresenta como um espaço social multidimensional, atravessado por um caleidoscópio de status. Dêmosios é o nome de um deles. (p. 128)
Trata-se, é preciso observar, de uma muito rara reabilitação de Finley… Estaríamos assistindo aos primórdios de uma reviravolta historiográfica? A questão se apresenta, a tal ponto Finley foi criticado ao longo dos últimos 20 anos.
Em um capítulo que está, em certo sentido, no âmago do argumento do livro (Capítulo IV, “A ordem democrática dos saberes”, p. 131-165), o autor analisa em detalhes certo número de “casos” muito esclarecedores: a função de “verificador” das moedas, uma das funções exigindo um conhecimento técnico dos mais profundos, é confiada a dêmosioi. O caso de Eucles, escrivão e contador de santuários, realizando inventários da maior importância para a cidade; o caso de Nicomachos, o Jurista, filho de dêmosios, encarregado durante vários anos seguidos da tarefa de revisar e republicar as leis de Atenas. Tais exemplos, entre outros, mostram, segundo o autor, que
[…] a experiência ateniense encontra aqui uma das questões mais ardentes do nosso presente democrático. O status político da expertise está, com efeito, no coração do “desencanto” contemporâneo em relação à democracia representativa. Democracia e saber: os dois termos se apresentam o mais das vezes no discurso corrente sob a forma de duas exigências contraditórias. O ideal democrático de participação do maior número de pessoas nos assuntos públicos seria incompatível com a exigência de eficácia que é necessária ao governo dos Estados, coisa forçosamente complexa, e, portanto, especializada: quem não reconheceria aqui um refrão do nosso tempo, que faz da “epistocracia” dos governos o horizonte necessário de qualquer política? (p. 133)Ismard mostra muito bem a que ponto a figura do expert governante é estranha à ideologia democrática antiga. O fato de confiar tarefas muito importantes a escravos não implica nenhum desprezo pelos conhecimentos inerentes à função, que são considerados como muito importantes. Mas a preocupação era manter certos saberes especializados fora do campo político para conservar todo o espaço para o debate político entre não especialistas, na convicção de que desse debate sairia um saber coletivo útil à cidade (p. 134-135). Foi também a razão pela qual a cidade grega privilegiou o recrutamento de seus escravos públicos muito qualificados no mercado externo, para impedir a constituição de um grupo muito hereditário que poderia controlar uma parte do poder social:
Se os escravos públicos da Atenas clássica não vieram a formar um corpo autônomo na cidade, foi também porque a ideologia democrática ateniense, estabelecendo uma barreira entre a ordem da expertise e o campo político, proibia que sua competência própria pudesse resultar no exercício de um poder. Neste sentido, a epistemologia democrática ateniense, ao relegar os saberes especializados para fora dessa nobre atividade reservada aos cidadãos, ou seja, a política, não se apresenta apenas como a defesa de um saber público fundado na prática deliberativa. Ela também tem indiretamente por função legitimar a distinção fundamental que separa o escravo do homem livre e fundar na razão a estrutura escravista da sociedade ateniense. Na Atenas clássica, a ordem democrática dos saberes é também a ordem da sociedade escravista. (p. 165)
Mais uma análise que tem no final uma “sonoridade finleyana”; lembramo-nos imediatamente da célebre expressão da marcha “de mãos dadas”, da democracia e da escravidão, formulada pelo grande historiador. Quanto a mim, se aprovo totalmente a primeira parte do argumento de Ismard, ou seja, a parte relativa à preocupação em preservar a totalidade da soberania popular colocando o conhecimento técnico sob controle político, a segunda parte do argumento me deixa relativamente cético; que as coisas tenham acontecido historicamente como ele diz, é um fato. Que a democracia antiga deva sua existência ao fato escravista, no absoluto, é outro debate, longo demais para ser levado adiante aqui.
Em um Capítulo V mais teórico (“Os mistérios do Estado grego”, p. 167-202), Ismard discute sobre os escravos públicos no quadro mais amplo do debate sobre o Estado e sua existência no mundo grego antigo:
Pois é este o sentido dessa surpreendente instituição: ao mesmo tempo em que confiava funções que atribuíam um poder de facto a escravos, as cidades manchavam essas funções com um déficit irremediável ligado ao status dos que as exerciam […]. Tornando invisíveis os que tinham o encargo de sua administração, a cidade conjurava o aparecimento de um Estado susceptível de se constituir em instância autônoma e, em certas circunstâncias, se voltar contra ela. Podemos formular isso de outra forma: na cidade clássica, o Estado nunca se encarnou de outra forma que não fosse na pura negatividade do corpo-escravo do dêmosios. (p. 176)
O autor examina, então, três casos: os últimos momentos de Sócrates na prisão; a queda de Édipo; o batismo do primeiro dos gentis. Três casos que fazem intervir a figura de um escravo público ou real.
Em sua conclusão, insiste ainda acerca desse aspecto “obscuro” da cidade antiga ao dizer que
[…] a viva luz que ainda brilha a partir das assembleias e dos teatros das cidades talvez nos cegue. A “transparência” do político grego tem, com efeito, a medida do véu de opacidade com o qual a cidade encobre o que permanece nas suas margens e que, portanto, é indispensável ao seu funcionamento. Pois à digna gestualidade das belas palavras dos cidadãos reunidos em assembleia responde, como num teatro de sombras, a cenografia muda de seres anônimos, sem identidade e sem voz. Quase escondidos nos cantos da Acrópole contando e recontando os bens de Palas Ateneia, anotando conscienciosamente as despesas dos estrategos em expedição militar, ou se agitando por todos os lados para orientar os jurados cidadãos e dirigir os espectadores nos tribunais: era preciso que todos esses homens fossem invisíveis para que pudesse se manter a ilusória transparência da comunidade cívica. (p. 205)Ele prolonga sua análise sobre a diferença radical entre a cidade grega e os Estados modernos, falando do “primitivismo” da cidade, “condição intransponível da experiência democrática na Grécia antiga” (p. 213), em um último eco finleyano. A retração dos circuitos do comércio de escravos a partir de meados do século III de nossa era, conjugada com uma nova concepção, agora cristológica, do poder, pôs fim à prática então quase milenar da escravidão pública nas cidades antigas.
Estou de acordo com a maior parte das opiniões do autor, mas uma vez que seu livro toca voluntariamente a questão da política atual, e como eu também sou historiador da antiguidade grega preocupado com a política atual, permito-me não estar de acordo quanto a um ponto importante da análise de Ismard, que podemos ler ao longo de seu texto e especialmente no final: “Nesse sentido também, a democracia direta era paga com o preço da escravidão” (p. 215). Tal posição me parece ligeiramente excessiva no que se refere à política antiga e, sobretudo, muito pesadamente desanimadora para o interesse que podemos ter hoje pela política antiga na intenção de renovar nossa política. Mas isso não muda nada quanto ao interesse do livro; é uma obra cheia de qualidades, um tipo de livro que faz bem aos estudos clássicos e ao debate político contemporâneo ao mesmo tempo. E esses livros não são assim tão numerosos para nos impedir de saudar calorosamente a iniciativa de Paulin Ismard.
José Antonio Dabdab Trabulsi – Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte – Brasil. E-mail: [email protected].
Volver del exilio: Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989) – LASTRA (RH-USP)
LASTRA, María Soledad. Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989). La Plata: Universidad de la Plata, Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, Posadas: Universidad Nacional de Misiones, 2016. Resenha de: BALBINO, Ana Carolina. Os retornos possíveis: história comparada das políticas de recepção ao exílio no pós-ditadura argentino e uruguaio. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Após a parceria com Silvina Jensen na organização de Exilios: militancia y represión,1 a socióloga, doutora em História e pesquisadora do Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) María Soledad Lastra lançou, em 2016, o livro Volver del exílio. Nesta obra, a autora centra o debate nas políticas de recepção aos exilados na Argentina e Uruguai no momento da redemocratização em ambos os países, buscando compreender os sentidos e representações do exílio nos projetos democráticos de Alfonsín (Argentina) e Sanguinetti (Uruguai), além das respostas dos Estados e associações civis a essas imagens, que geraram diferentes políticas de recepção aos exilados no pós-ditadura.
Na primeira parte do livro, debate-se a conjuntura de transição democrática argentina e uruguaia. Trabalhando com a ideia de que a Argentina teve uma redemocratização por colapso, ou seja, na qual os militares não tiveram atuação, e o Uruguai uma transição pactuada, decorrente de uma associação entre militares e sociedade civil, a autora se dedica inicialmente aos perfis dos exilados em ambos os países, dando especial atenção à presença das esquerdas no desterro e mostrando que não houve, em nenhum dos casos, uma opção por retorno em massa. Em seguida, é discutido como as sociedades refletiram o tema do exílio no momento dos retornos. Aqui, Soledad Lastra chama a atenção para as enormes diferenças entre o processo argentino e o uruguaio, já que no primeiro caso se deu uma ênfase maior à imagem do exilado-subversivo, mantendo-se o discurso ditatorial de que aqueles que haviam saído do país era antigos guerrilheiros derrotados pela “guerra suja”.
Já na segunda parte, a autora foca seu olhar nas organizações civis que buscaram colaborar para a reinserção dos exilados nas suas respectivas sociedades. Assim, o leitor é informado sobre o surgimento e as primeiras formas de atuação das principais organizações de direitos humanos voltadas para a temática do exílio na Argentina e no Uruguai. Posteriormente, a autora foca as relações existentes entre as organizações argentinas e uruguaias, já que as primeiras passaram pelo processo de redemocratização e consequente recepção do exílio dois anos antes daquelas instaladas no país vizinho. Aqui o leitor encontra um dos pontos inovadores da obra, que permite, além da familiarização com as trajetórias das principais associações de direitos humanos que se dedicaram ao exílio – como Osea (Oficina de Solidaridad con Exilio Argentino) e a Caref (Comisión Argentina para los Refugiados) na Argentina e a CRU (Comisión para el Reencuentro de Uruguayos), SER (Servicio Ecuménico de Reintegración), Sersoc (Servicio de Rehabilitación Social) e SES (Servicio Ecomunénico Solidario) do Uruguai -, também com as relações mantidas com partidos políticos, demais associações de direitos humanos e com as igrejas. Ainda se pode compreender como, apesar de alguns pontos de preocupação comuns, as políticas de atuação nos dois países foram distintas. Enquanto na Argentina a Osea e a Caref se preocuparam em colocar o exilado no lugar de vítima da repressão, e não de algoz, no Uruguai, a preocupação maior foi em não criar uma hierarquização da dor.
Ao final dessa segunda parte, o leitor se depara com os principais conflitos enfrentados por essas organizações no momento de preparar a recepção, como a temática do “privilégio”, debatida em ambos os países, mas com ênfases diferentes. Enquanto na Argentina a ideia de evitar privilégios aos exilados passava necessariamente por comprovar que não se auxiliavam os “subversivos-guerrilheiros”, seja com ajuda financeira, moradia ou reinserção empregatícia, no Uruguai a questão era conceder ajuda indistintamente a exilados, libertados após anos de prisão e desempregados afetados pela crise econômica grave que se instalara no país nos anos militares.
Na última parte do livro, a pesquisadora preocupa-se com a atuação do Estado em relação às políticas de recepção do exílio e os problemas legais decorrentes desta. Esse ponto foi muito mais presente na Argentina – cuja ideia de justiça passava por não arquivar as causas judiciais abertas pelos militares contra os assim considerados “subversivos” e culpabilizar também a esquerda pela repressão perpetrada. A Lei de Anistia, ditada no Uruguai logo após a subida do presidente Sanguinetti ao poder, permitiu aos uruguaios um retorno mais tranquilo à pátria.
Por fim, a autora trabalha com as comissões oficiais criadas pelos Estados para promover o retorno de exilados. A Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (Cnrae), criada por Alfonsín em 1984, teve pouca atuação efetiva na reincorporação dos desterrados, já que a grande questão a ser enfrentada naquele país era o desaparecimento. Promovendo uma hierarquização do sofrimento e difundindo a imagem do exilado-subversivo, o governo alfonsinista não deu prioridade ao retorno daqueles que viviam no exterior. Por outro lado, a Comisión Nacional de Repatriación, criada no Uruguai junto com a Lei de Anistia em 1985, apesar de não dispor de grandes recursos financeiros, trabalhou intensamente para que todos os uruguaios – exilados políticos e econômicos – encontrassem as condições mais propícias para o seu retorno à nação democrática.
Atuando em um tema candente da América Latina, Soledad Lastra inclui-se em uma série de estudos que buscam lançar luz ao exílio argentino trabalhando-o na chave comparativa e na relação com o restante da América Latina, como nos textos de Pablo Yankelevich, Ráfagas del exilio: argentinos em México,2 e de Silvina Jensen, Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo xx. Los casos de España y Argentina.3 Em Volver del exilio, a autora levanta importantes questões para a compreensão das redemocratizações do subcontinente, mostrando a necessidade de inserir as políticas de recepção ao exílio na ampla conjuntura do debate dos direitos humanos no pós-ditadura e da atuação dos Estados recém-instalados na promoção da justiça e na pacificação. Dessa forma, destaca que sua preocupação não é criar uma ideia maniqueísta de boas ou más políticas, mas inseri-las no contexto de revisão da repressão existente em cada um dos países.
Para a pesquisadora, o enfoque na história comparada evitaria o uso das “excepcionalidades nacionais” na compreensão das políticas de reinserção do exilado e das próprias redemocratizações (p. 29). No entanto, ressaltamos que as explicações dadas para as brutais diferenças entre as políticas de recepção argentinas e uruguaias, mesmo que inseridas no contexto de redemocratizações da América Latina, se encontram exatamente no contexto nacional em que essas se deram. Assim, é impossível entender a maior dificuldade de reinserção do exilado argentino se deixarmos de lado a opção do governo Alfonsín por acusar também a esquerda pela instalação da repressão. Por outro lado, se podemos questionar a impunidade dos militares uruguaios, foi a Lei de Anistia proposta pelo governo Sanguinetti que permitiu às organizações de direitos humanos promover o reingresso maciço dos desterrados naquele país.
A comparação também não pareceu capaz de elucidar as diferenças em relação às imagens do exílio com as quais as organizações tiveram de lidar, que dependeram muito mais do contexto de redemocratização de cada um dos países. Se essa metodologia traz um ganho significativo para o trabalho ao permitir a compreensão das relações mantidas entre as associações argentinas e uruguaias entre os anos de 1984 e 1986, não aclara por completo as dificuldades maiores encontradas no caso argentino pela Osea e pela Caref para reinserirem o exilado.
Com esse livro, Soledad Lastra levanta novos questionamentos sobre as políticas de reinserção dos desterrados, mostrando como a atuação do Estado foi decisiva na imagem criada sobre o desterro e afetou diretamente a atuação dos organismos sociais que buscaram promover o retorno na América Latina. Além disso, o livro ajuda a compreender melhor como a política de direitos humanos instalada no Cone Sul é muito complexa, não podendo ser trabalhada somente a partir do julgamento ou não dos militares que chefiaram as ditaduras. Dessa forma, Volver del exilio amplia o debate sobre as redemocratizações, e questiona alguns paradigmas da ideia de justiça que se instalaram nos pós-ditaduras na América Latina.
Referências
JENSEN, Silvina. Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo xx. Los casos de España y Argentina. Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, dossiê 1, out.-dez. 2011. Disponível em: Disponível em: http://www. pacarinadelsur.com/ediciones/numero-9 . Acesso em: 12/09/2017. [ Links ]
JENSEN, Silvina & LASTRA, María Soledad (ed.). Exilios: militancia y represión: nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. Edulp: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2014. [ Links ]
LASTRA, María Soledad. Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989). La Plata: Universidad de la Plata; Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones, 2016, 301 p. Disponível em e-book em: Disponível em e-book em: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=libros&d=Jpm486 , acessado em 12/09/2017. [ Links ]
YANKELEVICH, Pablo. Ráfagas de un exilio: argentinos en México, 1974-1983. Cidade do México: Colegio De Mexico AC, 2009. [ Links ]
1JENSEN, Silvina & LASTRA, María Soledad (ed.). Exilios: militancia y represión: nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. Universidad Nacional de La Plata: Edulp, 2014.
2YANKELEVICH, Pablo. Ráfagas de un exilio: argentinos en México, 1974-1983. Cidade do México: Colegio de Mexico AC, 2009.
3JENSEN, Silvina. Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo xx. Los casos de España y Argentina. Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, dossiê 1, out.-dez. 2011. Disponível em http://www.pacarinadelsur.com/ediciones/numero-9. Acesso em: 12/09/2017.
Ana Carolina Balbino – Doutoranda na área de Política, Cultura e Cidade, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Autora da dissertação de mestrado O exílio em manchete: O retrato dos exilados na imprensa argentina durante a redemocratização (1982-1984), defendida em 2015 no Programa de pós-graduação da mesma instituição. E-mail: [email protected].
Ditaduras e revolução. Democracia e políticas da memória | Manuel Loff, Filipe Piedade e Luciana Castro Soutelo
O presente trabalho constitui em uma resenha do livro Ditaduras e Revolução. Democracia e Políticas da Memória, publicado pela Edições Almedina em 2015, organizado por Manuel Loff1, Filipe Piedade2 e Luciana Castro Soutelo3 (LOFF, et al., 2015). Ler e refletir sobre o tema dessa obra é de fundamental importância dada a conjuntura em que vivemos. Tanto no Brasil como em diferentes países da Europa, os últimos anos marcam um momento em que revisões históricas sobre o passado de regimes ditatoriais e fascistas ganham espaço e discursos políticos incorporam apologias e mesmo pedidos pela volta de alguns desses regimes. Com o objetivo de lançar um olhar atento a esse tipo de retorno, de lutas e conflitos em torno da memória desses estados de exceção em diferentes países do ocidente, o livro em questão é uma leitura obrigatória.
Halbwachs (2006, p.72) alerta sobre a importância de marcos sociais para memória coletiva, pois, partindo de suas considerações, só conhecemos a história de nosso grupo nacional por meio de outros testemunhos de acontecimentos importantes. Sua concepção de história, baseada na analogia do “cemitério” com os fatos passados imóveis e sepultados, induziu a uma separação radical entre história e memória. Catroga (2001) observa alguns pontos em comum sobre essas duas formas de estabelecer filiações com o passado, bem como a possibilidade de mudanças, revisões e novas interpretações sobre os “fatos”, ou seja, tal como a memória, a história também está sujeita às dinâmicas e aos interesses do presente. Leia Mais
A invenção dos direitos humanos: uma história | Lynn Hunt
A autora de A invenção dos direitos humanos, Lynn Avery Hunt, nasceu em 1945 no Panamá e cresceu no estado de Minnesota nos Estados Unidos da América. Atualmente, leciona História europeia na Universidade da Califórnia e utiliza os pressupostos da História Cultural em suas produções acadêmicas.
Vinculada à História Cultural, em A invenção dos direitos humanos Lynn Hunt salienta a importância de abordar as transformações das mentes individuais ao trabalhar os processos históricos. Sendo assim, nos capítulos iniciais do livro a autora busca elucidar as novas formas de compreensão de mundo surgidas no século XVIII que possibilitaram a construção de pressupostos como os presentes na Declaração de Independência Americana (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ao se desfazer da subordinação política para com a Coroa Britânica, fez uso das idéias iluministas ao declarar verdades auto-evidentes como igualdade de todos os homens e seus direitos inalienáveis: “Vida, liberdade e busca da felicidade”. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adiante e traçou que todos os homens são iguais perante a lei e que todos possuem o mesmo direito independente de sua origem ou nascimento. Pressupôs-se, então, a tolerância religiosa e a liberdade, além da autonomia e da independência dos homens.
Para as declarações, os direitos eram universais e iam além de classe, cor ou religião. No ato da escrita, já se partia da idéia de auto-evidência dos direitos, o que aponta para uma mudança radical nos pensamentos ao longo do século XVIII e insere uma problemática: se os direitos são auto-evidentes por que precisam ser declarados? Ao responder a essa questão Hunt salienta que a construção dos direitos é contínua.
As declarações são a materialização das discussões que haviam interpelado o século XVIII e rompiam com a estrutura tradicional de sociedade. Um novo contrato social foi forjado, centrado nas relações entre os próprios homens sem contar com o intermédio religioso: era o fim do absolutismo e a desconstrução do Direito Divino dos Reis de Jacques Bossuet. O fundamento de toda a autoridade se deslocou de uma estrutura religiosa para uma estrutura humana interior: o novo acordo social se dava entre um homem autônomo e outros indivíduos igualmente autônomos.
A montagem dessa nova estrutura só é possível devido a uma nova visão do homem: agora visto como alguém livre que tem domínio de si, que pode tomar decisões por si e viver em sociedade. A autonomia individual nada mais é do que a aposta na maturidade dos indivíduos. A partir dessa nova visão, nasce-se uma nova vertente educacional: modelada pelas influências de Locke e Rousseau, a teoria educacional deixa de focar na obediência reforçada pelo castigo para o cultivo cuidadoso da razão para formar esse novo homem crítico e independente.
Paralelo a isso, nasce-se uma nova visão de corpo. O corpo passa a ser algo de domínio privado, individual e não mais como algo pertencente ao corpus social ou religioso. Os corpos também se tornaram autônomos, invioláveis, senhores de si e individualizados.
Como um importante mecanismo de transformação, Hunt aponta a popularização dos chamados romances epistolares. As cartas enviadas pelas protagonistas abordam as emoções humanas para todos os leitores. As lutas de Clarissa e Pâmela, criadas por Richardson, além das questões de Júlia, escrita por Rousseau, fizeram com que os leitores reconhecessem que todos tem seus sonhos, almejam tomar suas próprias decisões e dirigir a própria vida. O desenvolvimento de um sentimento de empatia tornou possível a construção de pressupostos básicos como a autonomia, a liberdade e a independência, além da igualdade.
Outro exemplo de transformação social ocorrida no século XVIII foi a campanha contra a tortura. Hunt cita o caso Callas como disparador de um processo que espelhou a nova visão de corpo na sociedade francesa do século XVIII. Para Hunt, ler relatos de tortura ou romances epistolares causou “mudanças cerebrais” que voltaram para o social como uma nova forma de organização.
Houve uma queda na visão do pecado original, na qual todos são pecadores e duvidosos, para a ascensão do modelo de homem rousseauniano que aposta na bondade de cada indivíduo. Essa concepção, aliada ao novo conceito de corpo, agora dentro do limite privado, formulou um posterior novo código penal que gradualmente aboliu a tortura e deu ênfase à ressocialização do indivíduo. O corpo já não era punível com a dor para vingar o social e estabelecer um exemplo ao restante da população. O corpo agora era privado e o foco se tornou a honra social do indivíduo.
Após abordar as transformações que tornaram possíveis as declarações, Lynn Hunt se ateve às aplicações e ao processo de formação das sociedades ao tentarem aplicar esses direitos. Uma assertiva importante que a autora faz nesse capítulo é que declarar é um ato político de alteração da soberania: esta passou a ser nacional, pautada no contrato entre homens iguais perante a lei, sem intermédio da religião. Declarar significava consolidar o processo de mudanças que vinham ocorrendo ao longo do século.
Mesmo dizendo que naquele momento os direitos já eram auto-evidentes, os deputados criaram algo inteiramente novo que era a justificatição de um governo a partir de sua capacidade de garantir os direitos universais. Entretanto, nessa fase encontram-se os problemas inerentes a aplicação desses conceitos generalistas: declarar os direitos universais significava conceder direitos políticos às mais variadas minorias, e proclamar a liberdade colocava em cheque a escravidão colonial.
A partir daí muitos direitos específicos começaram a vir à tona na esteira: liberdade de culto aos protestantes significava direito religioso também aos judeus, bem como participação política; o mesmo acontecia com algumas profissões, além da situação das mulheres, defendida de maneira inovadora por Condorcet e Olympe de Gouges. Os direitos foram sendo concedidos gradualmente, a liberdade religiosa e os direitos políticos iguais às minorias religiosas foram concedidos no prazo de dois anos, bem como a libertação dos escravos.
A discussão da universalidade dos direitos foi caindo ao longo do século XIX. Alguns grupos assumiram as lutas políticas do século seguinte às declarações como os trabalhadores e as mulheres. O nacionalismo foi um protagonista importante da luta por direitos ao longo do século XIX, os pressupostos franceses internacionalizados pela expansão napoleônica surtiram o efeito inverso.
Após a dominação que caracterizou o período napoleônico, nos territórios ocupados se criou uma aversão a tudo que viesse dos franceses em detrimento do que simbolizasse uma identidade nacional. Com o tempo o nacionalismo foi tomando características defensivas e passou a ser xenófobo e racista, baseando-se cada vez mais em inferências de caráter étnico.
Teorias da etnicidade representaram um enorme retrocesso ao ideal de igualdade pois partiam para determinação biológicas da diferença, montando hierarquias e justificando a subordinação, e, por conseguinte, o colonialismo. Houve uma falência do novo modelo educacional, visto que dentro da nova ideologia social só algumas raças poderiam chegar à civilização rompendo também com o ideal de universalidade.
O ápice dessa visão nacionalista e racista foi a Segunda Guerra mundial, que com os milhões de civis mortos representou a falência dos direitos humanos, principalmente com os seis milhões de mortos por intolerância religiosa e discurso de raça. As estatísticas assombrosas e o julgamento de Nuremberg trouxeram à tona a necessidade de um compromisso internacional com os direitos humanos.
Apesar de reconhecimento da urgência desse compromisso, foi preciso estimular as potências aliadas a assinar a Declaração dos Direitos Humanos, visto que havia um receio de perder colônias e áreas de influência. Sendo assim, a Declaração de 1948 só foi assinada porque deixava claro que a Organização das Nações Unidas (ONU), ali criada, não influenciaria nos assuntos internos de cada país. Ao longo do tempo, as Organizações Não-Governamentais foram mais importantes para a manutenção dos direitos humanos ao redor do mundo do que a própria ONU.
A discussão acerca dos direitos humanos feita por Hunt termina por ressaltar o quão paradoxal é esse tópico, além da dificuldade de conter “atos bárbaros” até os dias atuais. Hunt (2009, p. 214) fala de “gêmeos malignos” trazidos pela noção de direitos universais: “A reivindicação de direitos universais iguais e naturais estimulava o crescimento de novas e às vezes até fanáticas ideologias da diferença”. Há uma cascata contínua de direitos repleta de paradoxos como o direito da mãe ao aborto ou o direito do feto ao nascimento.
Para Hunt, a noção de “direitos do homem”, bem como a própria Revolução Francesa, abriu espaço para essa discussão, conflito e mudanças. A promessa de direitos pode ser negada, suprimida ou simplesmente não cumprida, entretanto jamais morre.
Anny Barcelos Mazioli – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo; bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. E-mail: [email protected].
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. Tradução de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 288p. Resenha de: MAZIOLI, Anny Barcelos. Um panorama da história dos direitos humanos: uma construção necessária. Revista Ágora. Vitória, n.25, p.142-145, 2017. Acessar publicação original [IF].
Historiadores pela Democracia – O golpe de 2016: a força do passado | Tânia Bessone, Beatriz G. Mamigonian e Hebe Mattos
O ano de 2016 será para a historiografia brasileira um divisor de águas, profundas e turvas, inscrevendo-se numa dolorosa cronologia do Brasil contemporâneo: 1954, 1955, 1961, 1964, 1968-69 e, agora, 2016. São anos de crise, de tentativas – de sucesso e fracasso, como 1961 e 1964 – de excluir o povo brasileiro do protagonismo da ação política nacional. Se, em 1954, 1955 e 1961 foram tentativas de golpe de Estado fracassadas, 1964 foi, então, sua realização, aprofundada em 1969.
2016: toda a questão, e debate, se dará em torno da caracterização do processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) – iniciado em dezembro de 2015, aprovado pela Câmara dos Deputados em 17 de abril e consumado, em julgamento no Senado Federal, em 13 de maio de 2016. O processo, conduzido no Senado Federal por um juiz-presidente do Supremo Tribunal Federal, acatou regras e dispositivos – maioria já praticados no caso do impedimento de Fernando Collor em 1992. No entanto, ao contrário do impedimento precedente, o caso de Dilma Rousseff foi marcado, ao longo de todo o seu desenrolar, por fortes acusações de “Golpe”, com os ritos jurídicos encobrindo uma vasta coalizão de interesses derrotados nas eleições de 2014. Desde o primeiro momento em que se declarou a reeleição da Presidenta – por uma diferença de três milhões e quinhentos mil votos. É interessante comparar a vitória de Mauricio Macri ou Donald Trump por ínfima, ou mesmo inferior, número de votos, sem o “clamor” que a posição brasileira fez desde a zero hora da vitória de Dilma. Leia Mais
Impasses da democracia no Brasil – AVRITZER (NE-C)
AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. Resenha de: SZWAKO, José; SANTOS, Fabiano. Dos impasses aos desafios de reconstrução da democracia no Brasil. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 35, n.3, Nov., 2016.
O contexto sociopolítico brasileiro pós-2013 colocou dilemas práticos e teóricos incontornáveis para nossas ciências sociais. Como chegamos até aqui? Quais atores, instituições e processos levaram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff? Dispomos ainda de categorias e dimensões de análise adequadas à complexidade desse evento? A sucessão presidencial foi legítima? Foi, ao menos, legal? Olhando para trás, o encanto de parte dos analistas com os protestos de junho de 2013 virou perplexidade, quando não o triste pesadelo, de muitos: haveria, porém, continuidade entre 2013 e 2016? E, mirando-se adiante: quais são os reflexos do Regresso (para lembrar o opúsculo de Wanderley Guilherme dos Santos)1 encarnado no golpe parlamentar de agosto de 2016 em nossa prática política?
Como se vê,não são poucas as questões a serem urgentemente por nós encaradas e respondidas. É no rol desses dilemas que se inscreve Impasses da democracia no Brasil, de Leonardo Avritzer. Escrito no final de 2015, o livro traz a marca das tensões sociais e partidárias, expressas de modo mais evidente no ranço antipetista e antigovernista dos protestos massivos de março, abril e agosto daquele ano; “o governo da presidenta Dilma Rousseff passa por uma forte crise da qual não é possível saber se sobreviverá” (p.109) – como de fato não sobreviveu. Na pequena resenha que se segue,tentaremos tirar proveito do conhecimento prévio do evento.
O ar de análise de conjuntura do livro não faz dele menor porquanto conjuga em estilo acessível política e teoria política. Isto é, visa dar respostas teoricamente adequadas a questões da ordem do dia vis-à-vis alguns dos diagnósticos disponíveis sobre a qualidade da democracia brasileira, especialmente os elaborados por Paulo Arantes e Marcos Nobre,que tendem a enfatizar supostos déficits democráticos.
Impasses é crítico de feição frankfurtiana. Sua postura não se rende às páginas das sempre evocadas insuficiências, sejam elas institucionais ou culturais, brasileiras. Se nosso sistema político tem falhas, e Avritzer tem hipóteses robustas para mostrá-las, cabe ao analista completar sua crítica,quer dizer,fazer o diagnóstico das limitações do sistema vigente impreterivelmente seguido das fissuras e alternativas também por ele trazidas à baila. Destrinchado ao longo do livro, o diagnóstico se distribui em cinco elementos, quais sejam:
i) os limites do presidencialismo de coalizão, isto é, a deslegitimação da forma de fazer alianças, característica da democracia brasileira desde 1994; ii) os limites da participação popular na política, que tem crescido desde 1990 e é bem-vista pela população, mas não logra modificar sua relação com a representação; iii) os paradoxos do combate à corrupção, que avança e revela elementos dramáticos da privatização do setor público no país, os quais terminaram por deslegitimar ainda mais o sistema político; iv) as consequências da perda de status das camadas médias que passaram a estar mais próximas das camadas populares a partir do reordenamento social provocado pela queda de desigualdade; v) por fim, o novo papel do Poder Judiciário na política[p. 9].
Avritzer articula em pente-fino essas dimensões de seu diagnóstico somando,no terceiro capítulo,as causas e efeitos do ciclo de protestos de 2013.Sob risco de simplificar seu argumento,poderíamos dizer que a imbricação de uma dinâmica institucional de alianças (fundamentalmente ambivalente dado que virtuosa e custosa) com a percepção de corrupção (generalizada porém enviesada em desfavor do Partido dos Trabalhadores) opera no sentido de deslegitimar, aos olhos de uma classe média reconfigurada devido às políticas distributivas pós-2003, o sistema político como um todo, mas, mais danosamente, o próprio PT.Ao par presidencialismo de coalizão e corrupção,é somada uma análise da limitação das formas institucionais de participação, que,embora tenham deixado sua marca em parte das políticas sociais, não chegaram a permear áreas estratégicas do Estado brasileiro,levando a uma dupla “ruptura” (p. 66) no campo das mobilizações do país – à esquerda e,como se nota desde 2013,também à direita.Complexo, esse diagnóstico é complementado por uma saída de tom republicano: ampliar, aprofundar e tornar mais eficaz a participação popular – um pacote institucional que, como hipótese e potência, melhoraria tanto um suposto déficit de representação quanto o combate à corrupção. “Assim, a primeira agenda importante de um processo de reorganização do sistema político poderia ser uma extensão da participação social para a área de infraestrutura com o objetivo de democratizar essas obras e torná-las mais transparentes” (p. 121).
Três tópicos nos parecem centrais na argumentação contida no livro, a saber, o presidencialismo de coalizão, a herança de 2013 e os paradoxos resultantes da política de combate à corrupção dos três últimos mandatos democraticamente eleitos.
Sobre o presidencialismo de coalizão, parece-nos que Avritzer adota e reproduz uma definição mais ampla do conceito, definição que acaba por imputar a esse modelo institucional um grande conjunto de vícios do qual a política brasileira seria vítima. Falamos de definição mais ampla porque,em verdade,o termo presidencialismo de coalizão, numa visão mais restrita e, a nosso ver, mais precisa, tal como utilizado na literatura institucionalista stricto sensu, denota tão somente a conjugação da separação de poderes,característica do sistema presidencial, com o multipartidarismo, comumente derivado da adoção do sistema proporcional para o preenchimento das cadeiras no Legislativo.
Aqueles que criticam nosso modelo institucional, chamado de presidencialismo de coalizão, estabelecem uma espécie indevida de relação de causalidade entre a dinâmica de tal modelo e uma prática política que não só corrói os princípios, digamos, programáticos dos partidos que lideram a coalizão governamental como, no limite, compromete a legitimidade do sistema institucional em seu conjunto (ver p. 38 e seguintes). Ora, segundo nosso ponto de vista, e nisso seguindo análises mais recentes sobre o presidencialismo de coalizão,2 nada autorizaria, de uma perspectiva conceitual ou empírica, colocar na conta do modelo fenômenos políticos complexos e reconhecidamente ruins, tais como corrupção, descrença popular e profusão de escândalos aproveitados, e não raro produzidos, pela mídia.
Aqui é fundamental discernir dois elementos que são frequentemente sobrepostos na análise política:atores e instituições.Embora empiricamente e em todos os casos seja difícil identificar onde um ou outro esteja preponderando no desdobramento da conjuntura política, não se pode inferir a legitimidade ou eficiência das instituições a partir do uso que delas fazem os principais atores em cena. Em nossa avaliação, o exemplo brasileiro recente mostra exatamente isto: desde fins de 2014, a cada passo da conjuntura, e à medida que as crises econômica e social se aprofundavam, as cúpulas do PMDB e do PSDB se articulavam e se utilizavam das regras do jogo tendo em vista construir as condições ótimas para a consecução do golpe parlamentar que redundou no impeachment. Nada inerente ao desenho institucional brasileiro permitiria prever um comportamento desestabilizador assim assumido, desde o resultado das eleições daquele ano, por uma oposição até aquele momento leal à democracia e por lideranças de um partido até aquele momento parceiro na coalizão.
Rótulo alternativo para o que vem ocorrendo na política brasileira é amalgamado na ideia de uma suposta crise de representação. É inegável a existência de insatisfação de parte significativa das elites judiciárias, midiáticas, empresariais e de setores importantes das classes médias com os marcos centrais da democracia tal como consagrados na Constituição de 1988. Todavia, concomitantes à expressão de tais sentimentos, a ampliação e a pluralização da capacidade de representação externa ao Congresso,mas no interior do Estado brasileiro,têm sido ressaltadas em diversos trabalhos atinentes às interações Estado-sociedade.3 Se a inclusão de temas e atores da sociedade civil nos processos decisórios é alvo de crítica, como bem mostra Avritzer no livro, isso não infirma o diagnóstico – pouco conhecido, diga-se de passagem – de que as políticas públicas têm sido, desde a redemocratização,cada vez mais interpeladas e modificadas por organizações e movimentos sociais. Em suma, a agenda de pesquisa mais atual sobre os efeitos da institucionalização da participação denota não a limitação, mas antes a indagação sobre a efetividade das instituições participativas no Brasil.4
Enfim, e não obstante a riqueza da análise de Avritzer, entendemos que nada há de conclusivo, seja em torno do diagnóstico da corrosão institucional inerente ao presidencialismo de coalizão e por ele supostamente produzida, diagnóstico de resto conveniente a versões legitimadoras do golpe parlamentar, seja ainda no que tange à existência de uma crise de representação afetando o quadro político institucional brasileiro.
Outro tópico central no ensaio de Avritzer consiste no impacto do ciclo de protestos de 2013 sobre o processo político brasileiro. Quanto a esse tópico, parece-nos fundamental notar, primeiramente, que os significados e raízes da convulsão social experimentada em junho de 2013 ainda estão para ser descobertos e explicados. Nesse quesito, fatores sociais e institucionais, entre os quais destacaríamos a atuação dos agentes repressivos do aparelho de Estado, se misturam, dificultando um diagnóstico claro e consistente do perfil dos manifestantes e, portanto, da manifestação em jogo. A contribuição de Avritzer, aqui, caminha no sentido de mostrar como operou uma espécie de quebra do monopólio exercido pelas forças civis e políticas de esquerda sobre a mobilização de rua em nosso país. O desafio, em nossa visão, é explicitar claramente em que medida aquela profusão de bandeiras e vozes realmente se articula com os vetores recentes e regressivos assumidos pela política institucional. Nesse sentido, Impasses se torna de saída leitura incontornável para quem quiser entender, por exemplo, se e como se entrelaçam 2013, a acirrada disputa presidencial de 2014 e o triste episódio do golpe parlamentar.
Por último, e no que entendemos ser um dos pontos altos de Impasses, a questão do combate à corrupção e dos poderes a ele ligados. A citação é longa, mas necessária e algo premonitória:
A forma como no primeiro semestre de 2015 o Poder Judiciário colocou o Executivo na defensiva com práticas políticas questionáveis, como o vazamento seletivo de informações da Operação Lava-Jato e um abuso de prisões preventivas e de delações que têm como objetivo desestabilizar o campo político,mostra o perigo de uma solução para os impasses que não transite pelos poderes constituídos pelo voto popular [p. 116].
Tal intervenção, politizada e espúria, de agentes e instituições de controle, sejam ou não do Judiciário, frente a órgãos do Executivo e do Legislativo nos remete diretamente ao alerta imprescindível dado por Max Weber5 a seus contemporâneos da República de Weimar: ao funcionário público não cabe a disputa política nem a respectiva convicção. As alçadas do funcionário e do político profissional são distintas, assim como são distintas as responsabilidades estatuídas a cada posto. Que a política de seu país se tornasse refém da burocracia era um dos maiores temores de Weber – essa lição não pode ser hoje olvidada por aqueles que, como nós e Avritzer, entendem o potencial nefasto contido numa instância de poder que,em nome do combate à corrupção, atua de modo ilegal.
Ironicamente, se podemos falar de crise institucional de nosso modelo político, esta não emerge do presidencialismo de coalizão. A leitura de Impasses é mais uma confirmação,a nosso ver,de que graves distorções atingem o desenho mesmo de nossas instituições de controle, tal como inscrito na Constituição de 1988. Nesse particular, as recentes intervenções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),por exemplo, nas regras eleitorais e partidárias, bem como os ataques seletiva e partidariamente orientados do Ministério Público contra lideranças políticas ressoam uma das mais famosas preocupações madisonianas: quem controla os controladores? A ingerência administrativa sobre a disputa política exige não só sua crítica teórica. Exige, antes, a ação política daquele que é, ao fim e a cabo, o principal afetado pela instabilidade do jogo democrático judicialmente instilada e também o único soberano desse mesmo jogo: a vontade popular. Nesse sentido, e aprofundando uma pista dada por Avritzer, dois caminhos necessários e convergentes para a pacificação do Judiciário e das instâncias de controle no Executivo são o aprofundamento de mecanismos de controle tanto institucionalizados como externos às instituições.
A despeito das eventuais discordâncias interpretativas, Impasses se coloca como obra seminal nos projetos de reconstrução da democracia brasileira. A tarefa não será fácil, como não foi fácil a redemocratização consagrada na Carta de 1988. O primeiro desafio, certamente, passa pela responsabilização dos atores que desestabilizaram e usurparam a dinâmica democrática até aqui conquistada. No plano da disputa político-institucional, máscaras de atores que defendem um liberalismo douto requentado, quando não somente neoliberal, deverão ser reconhecidas enquanto tais.Já no plano da cultura política, o fenômeno é ainda mais complexo: o crescente fascismo das classes médias, alimentado não somente pela crise econômica mas também pelo Judiciário e por mídias hegemônicas, é realidade que julgamos imprescindível conhecer e combater. Em verdade, não é outra a questão maior que atravessa, além e aquém de Impasses, toda a obra de Leonardo Avritzer: a cultura política brasileira e sua contribuição para nossa história democrática – ou ainda democrática.
Referências
AVRITZER, Leonardo; Souza, Clóvis (Org.). Conferências nacionais: atores, dinâmicas participativas e efetividade. Brasília: Ipea, 2013. [ Links ]
FREITAS, Andréa. O presidencialismo da coalizão. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2016. [ Links ]
GURZA LAVALLE, Adrian; Szwako, José. “Sociedade civil, Estado e autonomia: argumentos, contra-argumentos e avanços no debate”. Opinião Pública, v. 21, n. 1, pp. 157-187, 2015. [ Links ]
PIRES, Roberto (Org.). Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea , 2011. [ Links ]
POGREBINSCHI, Thamy; Santos, Fabiano. “Participação como representação: o impacto das conferências nacionais de políticas públicas no Congresso Nacional”. Dados, v. 54, n. 3, pp. 259-305, 2011. [ Links ]
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Regresso: máscaras institucionais do liberalismo oligárquico. Rio de Janeiro: Opera Nostra, 1994. [ Links ]
WEBER, Max. Parlamento e governo na Alemanha reordenada: crítica política do funcionalismo e da natureza dos partidos. Petrópolis: Vozes, 1993. [ Links ]
Notas
1 Santos, 1994.
3 Ver, entre outros, Pogrebinschi e Santos, 2011.; Avritzer e Souza, 2013; Gurza Lavalle e Szwako, 2015.
4 Ver Pires, 2011.
5 Weber, 1993.
José Szwako – Professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Fabiano Santos- Professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988 | Daniel Aarão Reis Filho
Daniel Aarão Reis é professor titular de História Contemporânea na UFF. Suas principais pesquisas são sobre a ditadura no Brasil e as experiências das esquerdas no Brasil e no mundo [1]. Além disso, foi ativo na resistência à ditadura civil-militar brasileira, especificamente no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um dos grupos que organizou a captura do embaixador do EUA Charles Burke Elbrick em 1969.
Ditadura e Democracia no Brasil se insere em uma série de obras lançadas em 2014 que, no marco dos 50 anos do golpe de 1964 procuram apresentar novos olhares sobre o período. O livro em questão é constituído por sete capítulos e um posfácio.
O primeiro capítulo serve de introdução ao livro e são as páginas nas quais Reis apresenta alguns dos princípios através do quais ele pretende diferenciar sua obra da historiografia anterior sobre o tema, especialmente aquela produzida nos primeiros anos de redemocratização. Segundo o autor, construiu-se uma memória de que os valores democráticos sempre teriam feito parte da consciência nacional. Assim, o país teria sido
subjugado e reprimido por um regime ditatorial denunciado agora como uma espécie de força estranha e externa […] Assim, em vez de abrir amplo debate sobre as bases sociais da ditadura, escolheu-se um outro caminho, mais tranquilo e seguro, avaliado politicamente mais eficaz, o de valorizar versões memoriais apaziguadoras onde todos possam encontrar um lugar [2].
Essa visão procuraria uma conciliação nacional após a ditadura, como se esta não houvesse contado com apoio de setores civis da sociedade:
Entretanto, essas versões, saturadas de memória, não explicam nem conseguem compreender as raízes, as bases e os fundamentos históricos da ditadura, as complexas relações que se estabeleceram entre ela e a sociedade e, em contraponto, o papel desempenhado pelas esquerdas no período. Também não explicam, nem conseguem compreender, a ditadura no contexto das relações internacionais e na história mais ampla deste país – as tradições em que se apoiou e o legado de seus feitos e realizações que perdura até hoje [3].
Nesse sentido, Reis se insere numa perspectiva que vem ganhando espaço na produção historiográfica, de procurar compreender o regime autoritário observando também as bases sociais que o constituíam. A título de exemplo, a coletânea organizada por Denise Rollemberg e Samantha Quadrat, A construção social dos regimes autoritários [4], é outra obra que procura analisar os mecanismos de legitimação social desses regimes. É nessa direção que também argumenta a defesa de que se chame o período de ditadura civil-militar, e não somente militar.
Nos capítulos seguintes, Reis procura elucidar o desenrolar dos acontecimentos do período. Ele destaca que o período 1945-64 foi de democracia limitada. O autoritarismo se manifestava em muitos aspectos que remontam à primeira república e principalmente à ditadura varguista. É nesta que ele localiza um importante elemento para compreender a ditadura que se seguiu: o nacional-estatismo, caracterizado por um Estado forte tanto no que diz respeito ao desenvolvimento econômico (ainda que não necessariamente na distribuição de renda) como no controle social. Apesar de ter perdido fôlego na década de 1950 o nacional-estatismo ainda tinha adeptos tanto à esquerda como à direita.
Ao assumir o poder, João Goulart “poderia […] numa frente popular que se esboçara na resistência ao golpe [do parlamentarismo], dispor de condições para retomar o nacional-estatismo popular já entrevisto no último governo Vargas” [5]. As greves e movimentações populares que haviam crescido na campanha legalista (movimento para assegurar o direito de Goulart assumir a presidência) incorporavam ao nacional-estatismo uma até então inédita participação popular – o que também radicalizou o discurso, exigindo reformas mais profundas e deixando mais de lado o tom conciliatório varguista.
Reis descreve, contudo, que Jango estava nos primeiros meses de governo apegado à tradição conciliatória, mantendo a desconfiança da direita e ao mesmo tempo decepcionando a esquerda. “Depois de longos meses de hesitação, armadilhando no impasse de uma correlação de forças equilibrada, Jango [em março de 64] resolveu aceitar os conselhos de partir para a ofensiva” [6], em meio ao aumento da pressão pelas reformas de base. A resposta conservadora não tardou com as marchas da Família com Deus pela liberdade e finalmente com o golpe de Estado.
O autor então lança uma ideia polêmica, contestando a tese da inevitabilidade da resistência ao golpe. Segundo ele, Jango era bastante popular e as forças de que dispunham as esquerdas, nas instituições, sindicatos, movimentos populares e nas próprias Forças Armadas não eram desprezíveis. Para ele, a esquerda que apoiava Jango se rendeu por não saber o que fazer quando a tática conciliatória não funcionou mais. No capítulo seguinte, o autor inclusive aponta que essa paralisia poderia ser motivada por até parte das lideranças reformistas estarem contaminadas pelo medo de uma revolução. Por isso também que Reis observa que ainda que de fato tenha havido apoio dos EUA ao golpe, não se deve superestimar sua participação sob risco de minimizar a importância das forças golpistas internas. A influência externa se dava, de acordo com o autor, mais no sentido de um medo por parte das forças golpistas de que os recentes movimentos socialistas e nacionalistas na África, Ásia e principalmente em Cuba pudessem inspirar ações mais radicais dentro do Brasil.
Dando prosseguimento, Reis descreve como nos primeiros anos da ditadura procurou-se romper com o nacional-estatismo, estratégia que fracassou, indicando que este elemento da cultura política perpassava todo o espectro político.
No campo da oposição começaram a se formar três grandes correntes: a moderada, formada pelo MDB, apoiada pelo PCB clandestino e setores golpistas agora insatisfeitos, defendendo uma transição pacífica à democracia nos moldes pré-64; movimento estudantil, mais radical, queria o fim imediato da ditadura, mas sem maiores definições; organizações revolucionárias clandestinas, se entrelaçavam com os estudantes, viam a luta armada como a única saída e não queriam só a derrubada da ditadura, mas do capitalismo.
Porém, Reis destaca que se houve de fato resistência, também houve muita indiferença ou até apoio ao regime, de modo que a oposição não era, para ele, de fato tão poderosa. Ainda assim, para evitar que se organizassem, o governo emitiu em 1968 o AI-5.
Assim, chega-se ao quarto capítulo. Com a repressão a níveis extremos, a esquerda revolucionária considerou que se concretizava o que Reis denominou “utopia do impasse”, chegando a hora de radicalizar a luta. De acordo com essa lógica, o impasse se refere à uma situação na qual políticas conciliatórias não seriam mais uma opção viável, restando às esquerdas somente a revolução – por isso, segundo o autor, muitos desses grupos revolucionários viam até com certo otimismo a conjuntura, pois teria eliminado a via conciliatória. Reis, contudo, apesar de ter sido em sua juventude parte dessas organizações, as critica por estarem distantes da população e se mostrarem incapazes de fazer uma leitura mais precisa da sociedade. Esta “assistiu a todo esse processo como se fosse uma plateia de jogo de futebol” [7]. Podiam até torcer para um ou para outro lado, mas não eram participantes. Efetivamente, o crescimento econômico do que viria a ser o chamado “milagre econômico” aliado a propaganda, fazia do governo muito popular junto a população, especialmente no interior. Por isso ele destaca que, se de fato a primeira metade da década de 1970 pode ser descrita como os “anos de chumbo”, foi para muitos também os “anos de ouro” [8]. Ainda que o crescimento tenha sido desigual, ele agradava a setores médios influentes suficientes para amortecer uma possível insatisfação popular. A maioria da população parecia disposta a ignorar a tortura, desde que que ela atingisse somente àqueles que considerassem marginais e ocorresse longe da vista da sociedade.
Nem todos, certamente, apreciavam a ditadura e seus métodos truculentos, considerados “excessivos”, e muitos deles tomariam parte, em momentos seguintes, da onda oposicionista que varreria as metrópoles. Mas é provável que considerassem uma exigência alta demais arriscar suas posições num enfrentamento de vida ou morte com o regime, como queriam as esquerdas radicais [9].
O quinto capítulo do livro analisa o governo Geisel (1974-79). No plano econômico, apesar da crise do petróleo, não seria ainda o momento do abandono do nacional-estatismo. “Já no plano político, haveria afinidades com os propósitos do primeiro governo castelista, materializadas na perspectiva de restabelecer um estado de direito autoritário. Tratava-se de institucionalizar e superar o estado de exceção, o regime ditatorial vigente”[10], ação tomada também em função da pressão internacional, ainda que “no interior do bloco que sustentava a ditadura, forças conservadoras e sua expressão mais radical, os aparelhos de segurança, não viam com bons olhos a distensão e se prepararam para combatê-la”[11].
Como resultado, foi um período marcado por ambiguidades. A gradual abertura, (a qual culminaria na revogação do AI-5 na passagem de 1978 para 1979) conviveu com uma brutal repressão ao PCB e PC do B e o emblemático assassinato de Vladmir Herzog.
A segunda metade da década de 1970 também marcou o início da rearticulação dos movimentos sociais, ainda que de início tentassem passar a imagem de reivindicações apolíticas. Essa rearticulação também se deve ao fato da economia já não apresentar resultados tão satisfatórios, com inflação e desvalorização salarial.
Ao final deste capítulo, Reis indica outra ideia controversa. Para ele, com o fim do AI-5 estava revogado o estado de exceção, não constituindo-se mais uma ditadura; “conformara-se um estado de direito autoritário”[12]. Assim, para Reis a ditadura iniciada em 1964 termina em 1979, havendo então um período de transição para um regime democrático que se inaugura com a constituição de 1988. Ele explica melhor os motivos para essa escolha no capítulo seguinte, dedicado à essa transição:
formou-se ampla coligação de interesses e vontades a favor da ideia de que a ditadura teria se encerrado em 1985. Na base dessa verdadeira frente social, política e acadêmica, estava uma ideia – força de modo nenhum respaldada pelas evidências – a de que a ditadura fora obra apenas dos militares [13].
Esse marco, 1985, o momento em que um civil assume a presidência, esconderia, portanto, as bases sociais civis da ditadura. Para Reis, a construção dessa memória que procura esconder o caráter civil da ditadura se deu justamente nesse período.
Aparentemente, a transição lenta e sem rupturas levada pela própria ditadura surtiu o efeito por ela desejada. Nas primeiras eleições diretas para governadores, o PDS (originada da ARENA) venceu em mais estados e teve mais deputados eleitos também, seguido do PMDB, que era a oposição consentida pela ditadura. “Depois de longos anos de ditadura, o país tornara-se mais conservador ainda do que antes. Um banho da água fria na fervura dos que imaginavam possível a existência de hipóteses de ruptura revolucionária. Pelo menos a curto prazo elas não se realizariam”[14]. Talvez nada ilustre melhor o caráter conservador da transição e a construção de uma memória que isente as bases civis do que a chegada a presidência de José Sarney (até pouco antes importante quadro do PDS) concorrendo, ainda que como vice, como opositor ao antigo partido da ditadura.
No sétimo capítulo, Reis descreve sucintamente as discussões em torno da constituição de 1988, destacando como, apesar da pressão contrárias de forças liberais-conservadoras, mesmo nela persistiriam muitas características do nacional-estatismo.
Finalmente, no posfácio, Reis retoma uma de suas teses centrais já apresentadas no início do livro: sem minimizar as diferenças que houveram entre os regimes, há no nacional-estatismo, seja de tendência esquerdista ou direitista, um aspecto de continuidade.
Criaram-se na primeira [estado novo] e se consolidaram na segunda [civil-militar]: o Estado hipertrofiado, a cultura política nacional-estatista, o corporativismo estatal, as concepções produtivistas, a tortura como política de Estado. Quanto à tutela das Forças Armadas, vem de antes, desde a gênese da República, mas as ditaduras, sem dúvida, confirmaram e reforçaram.
O livro de Daniel Aarão Reis procura apresentar um novo olhar sobre a ditadura civil-militar brasileira. Cada capítulo da obra poderia ser expandido ele próprio em um livro. De fato, o livro não entra em muitos detalhes. Tampouco se utiliza de muitas fontes primárias como fundamentação, tratando-se mais de uma obra de síntese. Ainda assim, é de grande valia por apresentar ao menos duas ideias centrais que o diferenciam de ao menos parte da historiografia, e certamente da memória socialmente construída para fora da academia. A primeira, por apontar no nacional-estatismo um elemento de continuidade surgido antes do golpe de 1964 e perdurando durante e para além da ditadura. Isso não significa negar que tenha se tratado de um estado de exceção, mas apontar que a ditadura civil-militar infelizmente não foi um desvio num curso “natural” e “positivo” da história do Brasil, mas se insere perfeitamente em aspectos que transcendem esse período específico. A outra ideia é a de observar a importância das bases sociais civis da ditadura. Desde o golpe, o regime autoritário somente pôde sobreviver por que contou com apoio principalmente de setores empresariais, mas também suporte, consentimento ou no mínimo indiferença de amplos setores sociais. Enfrentar a memória construída da natureza democrática da sociedade brasileira é um desafio difícil e que pode soar inconveniente, mas é importantíssimo para poder lidar com as continuidades autoritárias que ainda persistem hoje.
Conforme já salientado, o livro aqui resenhado se trata de uma obra de síntese. Mas talvez justamente por isso tenha um duplo valor, podendo ser utilizado como material introdutório para historiadores ao mesmo tempo em que também se mostra acessível ao grande público.
Notas
1. Entre suas principais obras se encontram A revolução faltou ao encontro – Os comunistas no Brasil; A Aventura Socialista no Século XX; e Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade.
2. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 7-8.
3. Ibid., p. 14
4. ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha (orgs). A Construção Social dos Regimes autoritários: Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
5. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 32.
6. Ibid., p. 39.
7. Ibid., p.77.
8. Ibid., p.91.
9. Ibid., p.88.
10. Ibid., p.98.
11. Ibid., p.101.
12. Ibid., p.123.
13. Ibid., p.127.
14. Ibid., p.140.
Michel Ehrlich – Graduando em História pela UFPR, bolsista do PET-História. E-mail: [email protected]
REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. Resenha de: EHRLICH, Michel. Ditadura e democracia no Brasil. Cantareira. Niterói, n.25, p. 230 – 234, jul./dez., 2016. Acessar publicação original [DR]
Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades – NUSSBAUM (C)
NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: M. Fontes, 2015. Resenha de: CESCON, Everaldo. Conjectura, Caxias do Sul, v. 21, n. 2, p. 461-466, maio/ago, 2016.
Ensinar a ser homens de negócios ou cidadãos responsáveis? Treinar para obter lucros ou educar à cultura do respeito e da igualdade? É preciso saber interpretar o mundo no qual se vive ou bastam técnicos e cientistas capazes de fazê-lo funcionar? Essas são algumas das questões enfrentadas por Nussbaum, filósofa liberal de tendência reformista e progressista com ascendência aristotélica.
A autora aborda a crise do ensino humanista que, vista em escala mundial, parece prejudicial para o futuro da democracia e das novas gerações. A corrida ao lucro no mercado mundial está dissolvendo a capacidade de pensar criticamente, de transcender os localismos e de enfrentar os problemas mundiais como “cidadãos do mundo”. Leia Mais
Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988 | Daniel Arão Reis
Daniel Aarão Reis, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense em “Ditadura e democracia no Brasil”, faz um passeio pela História política do país, dialogando sobre a gênese da ditadura e o frágil processo de construção da democracia, como se fora uma fina camada de gelo, prestes a rachar diante de momentos de impacto ou pressão social.
Seu livro discute as periodizações e memórias utilizados pelo senso comum e por historiadores sobre o período governado por generais, tecendo comentários provocadores e de aguda análise, sobre os diferentes sujeitos relacionados aos processos políticos brasileiros e seu envolvimento em uma multiplicidade de questões, muitas das quais, controversas. Leia Mais
DIctablanda: works, politics and culture | Paul Gillingam e Benjamin Smith
Dictablanda: works, politics and culture (2014) é o novo livro dos mexicanistas Benjamin T. Smith1 (Universidade de Warwick, Coventry, Reino Unido) e Paul Gillingham2 (Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, EUA). Ambos são professores de História da América Latina, mas possuem uma trajetória acadêmica voltada à reflexão das políticas socioculturais do Estado mexicano no período pós-revolução (1940-1988). Sendo assim, no começo de 2013, juntaram-se com o intuito de organizar uma obra cuja premissa fosse a síntese de suas percepções e apreensões sobre o momento mencionado.
A obra recém-publicada pondera, sobretudo, acerca do poder no México após o turbulento estrondo da Revolução Mexicana (1911-1920) e, por essa mesma razão, sua reflexão vai muito além da altercação dicotômica (e também um lugar comum) que envolve as noções de democracia e ditadura. Oferecendo, em seu lugar, uma nova perspectiva aos estudiosos desse período tão complexo: a “dictablanda” (ou, em português, a ditabranda, referindo-se ao longevo regime do Partido Revolucionário Institucional (PRI; 1930-2000) e às suas posturas ditatoriais relativamente brandas). Leia Mais
Apologie de la polémique – AMOSSY (B-RED)
AMOSSY, R. Apologie de la polémique. Paris: Presses Universitaires de France, 2014. 240 p. [Coleção L’interrogation philosophique]. Resenha de: CARLOS, Josely Teixeira. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.10 n.3 São Paulo Sept./Dec. 2015.
O livro Apologie de la polémique (Apologia da polêmica)1 é a mais recente obra em língua francesa de Ruth Amossy, professora emérita do departamento de francês da Universidade de Tel-Aviv e diretora do Grupo de Pesquisa Analyse du discours, Argumentation & Rhétorique (ADARR)2. Resultado de uma pesquisa global sobre o discurso polêmico na esfera democrática, realizada no quadro da Fundação de Ciências Israelense (ISF), foi publicado em março de 2014 pela editora Presses Universitaires de France, na coleção L’interrogation philosophique, dirigida pelo filósofo Michel Meyer, reconhecido pesquisador na área de Retórica e Argumentação e professor da Université libre de Bruxelles.
Fundamentada em um quadro teórico-metodológico preciso e na análise detalhada de casos concretos, e considerando que a polêmica não é de nenhum modo “uma comunicação desordenada”, Amossy mostra que a polêmica pública enquanto modalidade argumentativa, apesar de ser depreciada, desempenha um papel vital nas democracias pluralistas. O livro está organizado em três partes. Em sua Introdução, com relação à presença da polêmica no mundo contemporâneo, a autora enfatiza que os conflitos de opinião ocupam um lugar preponderante na cena política e que os meios de comunicação não param de forjar e de difundir de forma persistente as mais variadas polêmicas, ditas de interesse público. Uma prova disso é o uso constante do próprio termo “polêmica” na imprensa escrita francesa (Le Monde, Libération, etc.)3. Segundo a pesquisadora, essa presença poderia ser explicada duplamente tanto pela incapacidade dos cidadãos e dos políticos em seguir as regras de um debate racional, quanto pela curiosidade perversa do público no que se refere ao espetáculo da violência verbal. Mais do que constatar esse fato, Amossy defende que é necessário investigar em profundidade a natureza (o funcionamento e as funções sociais) dos debates conflituais nos quais se sustenta contemporaneamente a democracia em uma sociedade pluralista. No bojo dos estudos discursivos, das ciências sociais e das reflexões de Habermas, Perelman, Mouffe, dentre outros, para a professora interessa, portanto, verificar como, no âmbito de um espaço público e democrático, a polêmica se constrói no nível discursivo e argumentativo e modela a comunicação. No que toca ao posicionamento do pesquisador e às questões metodológicas na observação de debates polêmicos, ela chama a atenção para o fato de que o analista jamais pode se tornar também um polemista, exigindo deste o exame das controvérsias (seu surgimento, sua regulação, seus papéis sociais), mas nunca a tomada de partido por uma ou outra causa.
A primeira parte da obra apresenta as reflexões teóricas do trabalho e está dividida em dois capítulos. No primeiro – Gerir o desacordo na democracia: por uma retórica do dissensus, Amossy aborda por um lado a insistente busca pelo consenso e a obsessão pelo acordo, que está na base mesma da Retórica e dos estudos de persuasão, da Retórica clássica de Aristóteles à Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca, ao mesmo tempo em que descreve na sociedade contemporânea as condenações do dissensus e da polêmica, desde o Tratado da argumentação 4 de Perelman e Olbrechts-Tyteca, abrangendo as teorias da argumentação que o sucederam, como a lógica informal de Douglas Walton e a pragma-dialética da Escola de Amsterdam e de Van Eemeren.
Também nesse capítulo, a autora evoca a obra de Habermas, na qual é construída a noção de um espaço público gerado pelo discurso argumentativo, ou seja, segundo concebe esse autor, a esfera pública basear-se-ia em um modelo de discussão racional na qual os cidadãos alcançariam o acordo através da troca discursiva. A seguir, Amossy discorre sobre outro papel do dissensus (ou da divergência), apresentando um quadro teórico diverso do anterior, no qual existe uma revalorização do dissensus em diferentes domínios, particularmente no da Sociologia e da Ciência Política. Assim, a autora, partindo das reflexões advindas das ciências sociais, feitas por Lewis A. Coser, George Simmel, Chantal Mouffe e Pierre-André Taguieff, coloca a seguinte questão à página 37: “Estas perspectivas sociopolíticas podem ser traduzidas em termos de retórica para autorizar a consideração da polêmica e suas funções construtivas?”. Amossy sustenta que, se em uma democracia pluralista o conflito é inevitável e o acordo utópico, é necessário então o desenvolvimento de uma retórica do dissensus, na qual a confrontação polêmica seja vista como incontornável e útil na gestão dos conflitos.
No capítulo seguinte – O que é a polêmica? Questões de definição, a analista retoma categorias como debate, discussão, disputa, querela, altercação, controvérsia, interessando-se sobretudo por apresentar as especificidades da polêmica. Para tanto, fundamenta-se em três fontes diferentes: as definições lexicográficas dos dicionários, o discurso corrente e as conceitualizações dos pesquisadores em ciências da linguagem. A professora analisa aqui dois exemplos de polêmicas: uma em torno de uma foto “politicamente incorreta”, que exibe um homem de costas utilizando a bandeira da França no lugar do papel higiênico; e a outra acerca do exílio fiscal do ator Gerard Depardieu, após o projeto de reforma dos impostos lançado pelo presidente François Hollande em 2012. A partir da análise, constata que a polêmica é de fato um debate em torno de uma questão atual e de interesse público, que perpassa variados gêneros (panfleto, artigo de opinião etc.) e tipos de discurso (jornalístico, político etc.) e que deve ser distinguida de uma deliberação ordinária.
Na continuação do capítulo, Amossy avalia a polêmica de interesse público como modalidade argumentativa, compreendida em um continuum que passa pela dicotomização (choque de opiniões antagônicas, uma excluindo a outra), polarização (dois antagonistas diametralmente opostos polemizam diante dos espectadores da polêmica, que também devem se posicionar) e desqualificação do adversário (depreciação do ethos dos sujeitos, grupos, ideologias e instituições concorrentes). Na sequência da obra, todos os capítulos permitirão a visualização dessas modalidades em variados gêneros de texto5, investigados em sua materialidade discursiva e configuração argumentativa, bem como o esclarecimento das seguintes questões específicas: como funciona o discurso polêmico; como se constrói uma polêmica pública; qual a atuação da racionalidade nessas polêmicas; como se pode compreender, nelas, o papel e limites da violência.
É por esse prisma que a segunda parte do livro abordará as modalidades da polêmica, materializadas nos meios de comunicação, a partir do exemplo do estatuto das mulheres em dois espaços públicos diferentes: na França e em Israel. Antes de iniciar a análise, a professora evidencia que é necessário distinguir uma polêmica do discurso polêmico e da interação polêmica. “Uma polêmica” se refere ao conjunto das intervenções antagonistas sobre uma dada questão em um momento específico. Já o “discurso polêmico” define a produção discursiva de cada uma das partes antagonistas, nas quais necessariamente se inscreve o discurso do outro, como classifica Kerbrat-Orecchioni. A “interação polêmica”, por outro lado, corresponde à interação, face a face ou não, na qual dois ou mais adversários se engajam em uma discussão oral ou escrita, sempre se reportando um ao outro. Enquanto o discurso polêmicoé constitutivamente dialógico, mas não dialogal, a interação polêmica é por definição dialogal.
Com base, portanto, nessa distinção teórica, Amossy se debruça, no capítulo 3, na análise do discurso e interação polêmicos, entre junho de 2009 e outubro de 2010, no contexto do projeto de lei que pretendia proibir o uso da burca no espaço público francês. A autora exemplifica, assim, o discurso polêmico, analisando um artigo de opinião, assinado por Bénédicte Charles, da revista de esquerda Marianne (de junho de 2009), no qual examina os seguintes aspectos: a estrutura actancial e o jogo das dicotomias, o plano de enunciação e a responsabilidade jornalística, a polêmica como evento midiático, a polarização na imprensa escrita, a jornalista como polemista. Já a interação polêmica é explorada em dois exemplos: uma interação face a face no debate televisionado entre o político Jean-François Copé e uma mulher com véu; e dois posts de um fórum de discussão eletrônico que respondem ao artigo de Marianne. Qualificando a polêmica como polílogo, para muito além do diálogo, Amossy destaca então que tanto o discurso quanto a interação polêmicos desempenham funções importantes, dentre as quais a da denúncia, a do protesto, a da chamada à ação, bem como a do entretenimento.
No capítulo 4, a autora exemplifica a polêmica pública em torno da fórmula “a exclusão das mulheres” em Israel, analisando o caso da jovem Tanya Rozenblit, que em dezembro de 2011, ao subir em um ônibus da linha Ashdod-Jerusalém, sentou-se na parte da frente do transporte público, quando a prática consuetudinária estabelecia que as mulheres devem sentar-se na parte de trás, para que os homens não possam olhá-la. O episódio ganhou, a partir daí, grande repercussão pública, fortemente alimentada pela imprensa (meios de comunicação pró ultra-ortodoxos e contra os ultra-ortodoxos), convertendo-se em um debate de ordem ideológica e identitária.
Amossy afirma que essa polêmica, protagonizada por discursos laicos, de um lado, e por discursos religiosos tanto moderados quanto ultra-ortodoxos, de outro, além de transformar a jovem Rozenblit em um símbolo da resistência contra o fanatismo religioso, mostra que mesmo que as posições antagônicas não se falem diretamente, não se entendam e não cheguem a um acordo com relação às noções de espaço público, do respeito ao direito das mulheres, do lugar da religião no Estado e da liberdade individual em uma democracia, de uma certa forma elas se comunicam, na medida em que tratam dos mesmos referentes e concordam sobre o fato de que é preciso discutir. Por essa perspectiva aparentemente contraditória, é justamente a polêmica pública, enquanto interação agônica, que permite a coexistência no dissensus, através de suas funções sociais que reúnem indivíduos de opinião radicalmente opostas.
Na terceira e última parte da obra, igualmente dividida em dois capítulos, Amossy analisa o lugar da razão, da paixão e da violência nos debates polêmicos. No capítulo 5 – Racionalidade e/ou paixão, questionando se o pathos é um traço distintivo da e indispensável à polêmica, a pesquisadora se volta para a observação do debate polêmico ocorrido na França, em pleno momento de eclosão da crise financeira de 2008, acerca das formas de remuneração bonus e stock-options, distribuídos pelo Estado aos dirigentes dos bancos e das grandes empresas que declarassem estar em situação precária. Ao longo da análise, ela elucida que os debates polêmicos não se manifestam necessariamente por marcas discursivas de emoção e de paixão, esta última compreendida, no sentido retórico, como tentativa de suscitar afetos no auditório e como sentimento expresso com veemência por um locutor extremamente implicado em seu propósito. No entanto, no que concerne à presença da paixão na polêmica, a autora julga que dois fatos são inegáveis: a paixão não produz a polêmica, mas ela exacerba as dicotomias, a polarização e o descrédito ao outro; a paixão e a razão aparecem como dois componentes que só podem ser entendidos em uma imbricação e nunca dissociados. É com esse olhar que Amossy propõe a seguir a consideração de uma racionalidade da paixão e das razões das emoções. Por esse viés, no que concerne à referência ao outro, paixão e razão se manifestariam através de três modalidades do discurso polêmico: a acusação (emoções fortes centradas na indignação e na cólera, com o uso de argumentos que revelam indiretamente as razões da emoção), a injunção (emoções fortes de maneira menos marcada, apresentando argumentos que as justificam) e a instigação(denúncia velada que recorre a argumentos racionais e mostra o pathosde modo superficial).
No capítulo 6 – A violência verbal: funções e limites, a pesquisadora investiga o papel da violência na polêmica, lançando luz para o fato de que esta é fundada pelo conflito, e não pela agressividade verbal. Baseada na análise de conversas digitais, mais particularmente do fórum de discussões na internet do jornal Libération sobre os bonus e stock-options distribuídos em período de crise, Amossy assegura que a violência verbal não é nem uma condição suficiente, nem necessária para a polêmica, configurando-se mais como um acessório do que como um traço definidor dos embates públicos. Por essa ótica, a violência verbal pode ser compreendida como um registro discursivo, e não como uma modalidade argumentativa. Como o pathos, ela igualmente amplifica a dicotomização, a polarização e o descrédito. Dentro desse quadro, a professora demonstra que a violência verbal não é de nenhum modo selvagem ou descontrolada, mas, pelo contrário, é regulada a partir de certas funções e limites, agindo diferentemente a depender do gênero do discurso na qual se manifesta (um debate na TV, uma carta aberta, uma discussão política entre amigos).
Na conclusão do livro – A coexistência no dissensus. As funções da polêmica pública, Amossy consolida e expande pontos centrais tratados no decorrer das análises, dentre os quais o fato de a polêmica pública não poder ser medida em termos de diálogo e o papel da mídia na construção da polêmica. A autora resume que a polêmica desempenha funções sociais e discursivas relevantes exatamente por aquilo em que nela é reprovado: a gestão verbal do conflito operada através do desconsentimento. Apesar de esta afirmação parecer paradoxal, a analista reforça que fazer uma apologia da polêmica ou defender a coexistência no dissensus é permitir a preservação do pluralismo e da diversidade no espaço social, na medida em que a polêmica pública ou a coexistência entre posições e interesses divergentes procura um meio de lutar por uma causa e de protestar contra as intolerâncias, de efetuar reagrupamentos identitários que provoquem interações mais ou menos diretas com os adversários, de gerar os desacordos, mesmo os profundos. Assim, a polêmica nos debates públicos é entendida como fundamento indispensável da vida democrática e contemporânea.
Importa notar que a publicação do livro Apologie de la polémique surge em um momento sensível da história da França, tendo antecipado um quadro de reflexões logo a seguir visíveis, em janeiro de 2015, no contexto do atentado terrorista ao jornal Charlie Hebdo, no qual a violência física e o ato desleal de um “antagonista” pulveriza a possibilidade de construção de um espaço democrático, produzido e mantido pela divergência de posicionamentos. Se a obra de Amossy evoca uma apologia da polêmica, não posso deixar de ressaltar que a polêmica tratada pela pesquisadora se constitui em uma guerra de plumas, em uma guerra verbal 6, pois, quando a divergência de posições e a discussão verbal dão lugar à agressão física, podem ser comprovados aí os verdadeiros riscos da atividade polêmica, como chama a atenção Mesnard7. Amossy admite, similarmente, que a violência verbal sob suas diferentes formas possa combater o outro simbolicamente, mas salienta que ela jamais pode servir de passarela a uma ação que inscreva a violência no corpo.
Em um mundo digital ao alcance das mãos, no qual a expressão e difusão de posicionamentos discursivos é tão intensa quanto imensa, Apologie de la polémique se configura como obra de referência não apenas para os estudiosos da linguagem verbal, da argumentação e da análise do discurso polêmico, mas para todos aqueles que defendem a necessidade de se cultivar diuturnamente o respeito ao outro, a liberdade de pensamento e de expressão, a tolerância e a convivência pacífica com as diferenças.
1A tradução para o português dos textos em língua francesa são de minha responsabilidade.
2Obras de sua autoria: L’argumentation dans le discours. Paris: Nathan, 2000; Paris: Armand Colin, 2012 [A argumentação no discurso]; La présentation de soi: Ethos et identité verbale. Paris: PUF, 2010; em português: Imagens de si no discurso: a construção do ethos. Trad. D. F. da Cruz et al. São Paulo: Contexto, 2005. Amossy também é editora-chefe da revista on-line Argumentation et analyse du discours.
3Comprovando que o discurso polêmico está presente em variadas esferas discursivas, analiso em minha tese de doutorado a atuação da polêmica no campo das Artes, mais especificamente no da música brasileira do século XX (CARLOS, J. T. Fosse um Chico, um Gil, um Caetano: uma análise retórico-discursiva das relações polêmicas na construção da identidade do cancionista Belchior686 p. Tese de Doutorado – área de concentração Análise do Discurso – Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014).
4PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. O. Tratado da argumentação. A nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Original: Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. 6. ed. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2008. (1. ed. 1958).
5Amossy afirma que as particularidades de cada um desses textos manifestam traços gerais, esclarecedores da natureza e das funções do fenômeno global discurso polêmico.
6Confrontar o texto de Kerbrat-Orecchioni La polémique et ses définitions. In: KERBRAT-ORECCHIONI, C.; GELAS, N. (Orgs.). Le discours polémique. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1980. p.03-40.
7Para o autor, “ofensiva ou defensiva, a polêmica implica riscos, quando a paixão aumenta, chegando ao confronto armado, ou até mesmo ao mínimo ataque físico”. In: COLLECTIF. Cahiers V. L. Saulnier 2. Traditions polémiques, n° 27, Université Paris-Sorbonne, 1985. p.127-129. [Collection de L’École Normale Supérieure de Jeunes Filles].
Josely Teixeira Carlos – Université Paris Ouest Nanterre La Défense – Paris Ouest, Nanterre, Hauts-de-Seine, France; [email protected].
O ódio à democracia – RANCIÈRE (RH-USP)
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014. Resenha de: GAVIÃO, Leandro. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
Nascido em Argel, no ano de 1940, Jacques Rancière formou-se em filosofia pela École Normale Supérieure e lecionou no Centre Universitaire Expérimental de Vincennes – atual Universidade de Paris VIII – entre 1969 e 2000, quando se aposentou. Foi um dos discípulos de Luis Althusser, embora tenha rompido com seu mentor a partir do desenrolar dos movimentos parisienses de maio de 1968.
No que concerne à sua mais recente obra, objeto desta resenha, dificilmente haveria título mais autoexplicativo. Em O ódio à democracia (tradução literal do original: La haine de la démocratie), o autor consegue a proeza de analisar com maestria interdisciplinar temas de elevada complexidade envolvendo as sociedades democráticas da atualidade. À luz de uma abordagem que reúne História, Sociologia, Filosofia e clássicos do pensamento universal, Rancière realiza uma verdadeira façanha ao lograr tal feito em pouco mais de 120 páginas, produzindo um texto de teor ensaístico de rara competência, sem abdicar da elegância acadêmica e, simultaneamente, aderindo a uma linguagem acessível ao público amplo.
O livro é fracionado em quatro capítulos que versam sobre: (i) o surgimento da democracia, (ii) as suas peculiaridades em face dos regimes estruturados na filiação, (iii) as suas relações com os sistemas representativo e republicano e, por fim, (iv) as razões hodiernas do ódio à democracia.
Na visão de Jacques Rancière, a essência da democracia é a pressuposição da igualdade, atributo a partir do qual se desdobram as mais ferrenhas reações de seus adversários. Longe de ser uma idiossincrasia restrita à contemporaneidade, o ódio à democracia é um fenômeno que se inscreve na longa duração, haja vista que os setores privilegiados da sociedade nunca aceitaram de bom grado a principal implicação prática do regime democrático na esfera da política: a ausência de títulos para ingressar nas classes dirigentes.
Todos os sistemas políticos pretéritos lastreavam a legitimidade dos governantes em dois tipos de títulos: a filiação humana ou divina – associadas à superioridade de nascença – e a riqueza. A democracia grega emprega o princípio do sorteio, subvertendo a lógica vigente ao deslocar para o âmbito da aleatoriedade a responsabilidade de legislar e de governar, agora ao alcance de qualquer cidadão da polis, independente de suas posses ou do nome de sua família.
Isto posto, Rancière questiona os princípios do modelo democrático representativo, invenção moderna que se vale de uma nomenclatura considerada paradoxal pelo autor, haja vista seu distanciamento em relação à democracia dos antigos. O sistema assentado na representação nada mais seria do que um regime de funcionamento do Estado com base parlamentar-constitucional, mas fundamentado primordialmente no privilégio das elites que temiam o “governo da multidão” e pretendiam governar em nome do povo, mas sem a participação direta deste. “A representação nunca foi um sistema inventado para amenizar o impacto do crescimento das populações” (p. 69), mas sim para assegurar aos privilegiados os mais altos graus de representatividade. Rancière é enfático ao afirmar que os pais da Revolução Francesa e Norte-Americana sabiam exatamente o que estavam fazendo.
O termo “democracia representativa” vivenciou um verdadeiro giro semântico, deixando de significar um oximoro para ganhar o status de pleonasmo. Além de ofuscar o princípio do “governo de qualquer um”, ao substituí-lo pelo “governo da maioria”, o sistema representativo criado pelos legisladores e intelectuais modernos era excludente ao apresentar a solução da cidadania censitária, num claro intento de priorizar a participação das classes proprietárias, embora reconhecendo a inevitabilidade do advento de determinados preceitos da democracia.
Esta última só experimenta um processo de ampliação após uma sequência de exigências populares e de lutas travadas nos mais variados âmbitos, permitindo sua gradual expansão para outros segmentos sociais. O sufrágio universal nunca foi decorrência natural da democracia. A sangrenta história da reforma eleitoral na Inglaterra é apenas um dos exemplos capazes de denunciar o idílio de uma tradição liberal-democrata e de expor a hipocrisia por trás do conceito de igualdade para as elites, que apenas a defendem enquanto o beneficiário é ela própria.
Por outro lado, a igualdade não é uma ficção, mas, sim, a mais banal das realidades. A tese de Rancière sobre a pressuposição da igualdade apresenta as relações de privilégio como constructos históricos cuja origem está sempre situada numa relação que a princípio é igualitária, no sentido de ser travada entre entes que a priori são iguais. As vantagens que geram a desigualdade são fabricadas e precisam se legitimar socialmente para operar, tendo por base leis, instituições e costumes aceitos ou tolerados pela comunidade. Para o sábio ditar as regras, é preciso que os demais compreendam seus ditames, reconheçam sua autoridade ou ao menos tenham interesse em obedecê-lo.
Após se consolidarem no poder, os governos e suas elites tendem a separar as esferas pública e privada, estreitando a primeira e impelindo os atores não estatais para a segunda. A tensão intrínseca ao processo democrático consiste justamente na ação pela reconfiguração das distribuições desta díade, assim como do universal e do particular, com os agentes não estatais reivindicando a ampliação da esfera pública em detrimento da privatização da mesma, que redunda na exclusão política e na privação da cidadania.
A mulher, historicamente dotada de um papel social confinado à vida privada, é quem melhor representa a longa duração da exclusão da participação na vida pública. No mesmo sentido, o debate em torno da questão salarial, por exemplo, girava em torno da desprivatização da relação capital-trabalho, até então fundada na alegação falaciosa de que o trato entre o empregador e o empregado se dá meramente entre entes privados, ao passo que, ao contrário, reside ali uma inexorável essência coletiva, dependente da discussão pública, da norma legislativa e da ação conjunta. A exigência por direitos tende a ocorrer por intermédio de identidades de grupo construídas com a intenção de reconhecer suas demandas e inseri-las na dimensão pública.
Portanto, este combate contra a divisão do público e do privado, que assegura uma dupla dominação das minorias oligárquicas no Estado e na sociedade, não consiste no aumento da intervenção do Estado, como argumentam os liberais. Implica, sim, em garantir o reconhecimento universal da cidadania, modificar a representação como lógica destinada ao consentimento com os interesses dominantes e assegurar o caráter público de determinados espaços, instituições e relações outrora acessíveis apenas aos mais abastados.
A democracia não é uma forma de Estado, mas um fundamento de natureza igualitária cuja atividade pública contraria a tendência de todo Estado de monopolizar a esfera pública e despolitizar – no sentido lato – a população. O ceticismo de Rancière se traduz na afirmação de que vivemos em “Estados de direito oligárquicos”, onde predomina uma aliança entre a oligarquia estatal e a econômica. As limitações impostas ao poder dos governantes ocorrem apenas no reconhecimento mínimo da soberania popular e das liberdades individuais. Ambas devem ser encaradas não como concessões, mas como conquistas obtidas e perpetuadas por meio da ação democrática, ou seja, pela participação cidadã na esfera pública.
Ademais, o enfraquecimento do Estado-nação, em face da contingência histórica do capitalismo liberal, seria apenas um mito. Ocorre, de fato, um recuo da plataforma social, especialmente no que tange ao desmonte do welfare State. Mas, por outro lado, há um fortalecimento de outras instâncias estatais, que beneficiam as oligarquias e sua sede por poder. O fetiche da intelligentsia liberal por um arquétipo iluminista de progresso linear é surpreendentemente análogo ao estilo de fé que levava os marxistas vulgares de outrora a acreditarem num movimento mundial rumo ao socialismo. As similaridades são evidentes: o movimento das ações humanas é tido como racional e o progresso como unidirecional. A única ruptura relevante é o alvo da crença: o triunfo e a eficiência inconteste do mercado.
Com base na retórica liberal, artificiosamente alçada à condição de lei histórica inelutável, à qual seria inútil se opor, pretende-se governar sem povo, sem divergências de ideias e sem a interferência de “ignorantes” questionadores do discurso pseudocientífico apresentado pelos asseclas do liberalismo. Assim, a autoridade dos governantes imerge numa contradição: ela precisa ser legitimada pela escolha popular, mas as decisões políticas e econômicas supostamente certas derivam do conhecimento “objetivo” de especialistas intolerantes com heréticos. Daí que as manifestações filiadas a outras propostas ideológicas ou mesmo o questionamento pontual à plataforma liberal – que atualmente detém o “monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social”, conforme definição de Pierre Bourdieu2 – são atos que incutem em seus locutores os rótulos sumários de “atrasados”, “ignorantes” ou “apegados ao passado”.
O cenário torna-se ainda mais complexo devido a outros problemas, tal como a atual ambivalência da democracia, manifestada no tratamento díspar que a mesma recebe quando se observam as dinâmicas dirigidas para o plano doméstico e para o plano externo. Internamente, as elites consideram-na “doente” quando os desejos das massas ultrapassam os limites impostos ao povo e este passa a exigir maior igualdade e respeito às diferenças, deixando assim de ser um agente passivo para converter-se em sujeito político atuante e, por decorrência, “perigoso”. Simultaneamente, as mesmas lideranças consideram a democracia “sadia” quando logram mobilizar indivíduos apáticos para esforços de guerra em nome dos mesmos valores que supõem defender com afinco.
A contradição que permeia as campanhas militares supostamente orientadas para disseminar a democracia é justamente a existência de dois adversários opostos: o governo autoritário e a ameaça da intensidade da vida democrática. O qualificativo “universal” que imprimem à democracia justifica a sua imposição à força e a violação da soberania alheia, mas essa mesma democracia é limitada no país que a exporta e será igualmente limitada naquele que virá a recebê-la.
Em suma, a paradoxal tese dos que odeiam a democracia pode ser sintetizada na seguinte sentença: somente reprimindo a catástrofe da civilização democrática é que se pode vivenciar a boa democracia. Rancière resgata as conclusões de Karl Marx sobre a burguesia, categoria social cuja única liberdade sem escrúpulos a ser defendida é a liberdade de mercado – origem da reificação do mundo e dos homens – e a única igualdade reconhecida é a mercantil – que repousa sobre a exploração e a desigualdade entre aquele que vende sua força de trabalho e aquele que a compra.
Os juízos outrora direcionados com maior intensidade contra os totalitarismos – que se autodenominavam “democracias populares” – tornam-se obsoletos após a implosão do bloco soviético. Doravante, intensifica-se a crítica ao excesso de democracia ao estilo ocidental, exatamente como a Comissão Trilateral já havia alertado na década de 1970:
[A democracia] significa o aumento irresistível de demandas que pressiona os governos, acarreta o declínio da autoridade e torna os indivíduos e os grupos rebeldes à disciplina e aos sacrifícios exigidos pelo interesse comum (p. 15).Por fim, a democracia sofre de outra ambivalência inata: a sua existência se equilibra na ausência de legitimidade. Isto é, títulos. O ódio à democracia decorre de sua própria natureza, haja vista que o “governo de qualquer um” está permanentemente sob a mira rancorosa daqueles munidos de títulos, seja o nascimento, a riqueza ou o conhecimento.
Conquanto sua definição de democracia difira de outros autores clássicos, tais como Norberto Bobbio3 e Jean-Marie Guéhenno,4 é praticamente impossível não se inquietar com as questões complexas e atuais elencadas por Jacques Rancière.
O diagnóstico apresentado pelo autor certamente provoca desassossego naqueles que ainda se preocupam com a manutenção da democracia e o seu aperfeiçoamento, mormente numa época em que o vínculo entre o grande capital e a oligarquia estatal é cada vez mais simbiótico e as alternativas à nova “necessidade histórica” representada na retórica liberal da ilimitação da riqueza engendra efeitos deletérios tanto nas relações entre os homens como na relação destes com o meio ambiente. Por outro lado, as oposições a esta imposição programática acabam por ocorrer na forma do crescimento da extrema-direita, dos fundamentalismos religiosos e dos movimentos identitários que resgatam o antidemocrático princípio da filiação para reagirem ao consenso oligárquico vigente.
A concepção de democracia como um valor desvinculado de instituições governamentais específicas, sua peculiar situação de perpétua vicissitude, seu caráter inconcluso e sua urgente necessidade de ampliação e de retomada da esfera pública pelos sujeitos políticos são apenas algumas das relevantes contribuições que Jacques Rancière expõe com inteligência e clareza em um de seus livros mais instigantes. Isso se enfatiza em uma época sombria como a nossa, quando indivíduos politicamente passivos se ocupam de suas paixões egoístas em detrimento do bem comum e um simulacro de alternância de poder entre agrupamentos políticos semelhantes satisfaz o gosto democrático por mudança, não obstante as similaridades de agenda política daqueles que se revezam nas instâncias governamentais.
2BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Bertand Brasil, 1989.
3Ver: BOBBIO, Norberto. Qual democracia?. 2ª edição. São Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 2013.
4Ver: GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia: um ensaio profundo e visionário sobre o próximo milênio. 2ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
Leandro Gavião – Doutorando em História Política no Programa de Pós-Graduação em História, no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina (NEIBA-UERJ) e bolsista da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected].
1964: do golpe à democracia | Ângela Alonso e Miriam Dolhnikoff
Em 2014, como é sabido, o Golpe Civil-Militar completou 50 anos e um número grande de eventos debateu os 21 anos em que o Brasil viveu sob a tutela militar. Diferentes áreas do conhecimento produziram significativas reflexões. Na esteira de rememorações, o Centro Brasileiro de Análise de Planejamento (Cebrap) promoveu, em março do mesmo ano, o seminário “1964: do golpe à democracia”. O encontro deu origem à publicação de livro de igual nome, lançado em 2015 e organizado por Ângela Alonso e Miriam Dolhnikoff. Reunindo doze artigos e oito depoimentos, o volumoso livro promove de maneira original o diálogo entre trabalhos clássicos e recentes desenvolvidos por integrantes do Centro e especialistas de outras instituições, além da memória de destacados personagens que passaram pelo Cebrap. Dois grandes blocos compõem o volume, o primeiro trata múltiplos aspectos da crise política de 1964 e do Regime Militar e o segundo aborda por diferentes ângulos o processo de redemocratização.2
Detentor de respeitável produção acadêmica, o Cebrap foi criado em 1969 por um grupo multidisciplinar de professores e pesquisadores ligados à Universidade de São Paulo, e, em sua maioria, afastados da universidade pelo regime. Consolidado como um centro de pesquisa em humanidades dedicado à análise de questões nacionais e à intervenção na realidade brasileira, seus pesquisadores se propuseram à compreensão da dinâmica política, social, econômica e cultural da sociedade. Atualmente o Centro abriga grupos que pesquisam desde temas clássicos, como democracia e cidadania, a assuntos bastante atuais, como meio ambiente e cultura digital.3 Leia Mais
1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil | Ângela de Castro Gomes
Os historiadores Ângela de Castro Gomes e Jorge Ferreira trazem a publico um livro emblemático, 1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil, no ano em que meio século se passou daquele 31 de março. Por meio de uma escrita que captura o leitor desde as primeiras páginas, rapidamente se é tomado por uma curiosidade crescente sobre o relato seguinte, o passo seguinte, a negociação, o cenário. Como a mirar um caleidoscópio, os eventos são narrados alternando temporalidades e espacialidades articulados a um grande domínio das informações bibliográficas e documentais. E não poderia ser diferente, a obra é resultado de uma vida de pesquisa e escritas de livros e artigos, de dois historiadores que muito produziram sobre essa temática e esse período. O enorme conhecimento sobre a documentação e a bibliografia relacionada à temática e ao período é elemento decisivo que potencializa essa capacidade de pensar a arquitetura da escrita em seus múltiplos vórtices de efeitos de verdade.
O livro narra um curto período da história política do Brasil: da crise da renúncia de Janio Quadros, em agosto de 1961, até o golpe civil militar de 1964. No entanto, as dimensões sociais, econômicas e culturais se entrelaçam à narrativa quer no detalhamento das lutas sindicais e de setores da sociedade civil, quer nas tensas negociações das estratégias econômicas, quer nas campanhas da UNE e de defensores de uma reforma educacional ampla, entre outros aspectos abordados. Leia Mais
The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State | John Micklethwait e Adrian Wooldridge
John Micklethwait and Adrian Wooldridge are categorical: Democracy is at crisis. Governments are overloaded and bloated. The average share of government spending in thirteen rich countries has climbed from 10% at the beginning of the XX century to around 47% nowadays. People have unreal expectations and contradictory demands. To win elections, politicians act irresponsibly by making false promises or by offering more benefits. The vicious circle is quite clear. The more responsibilities the state assumes, the worse it performs and the angrier people get. And they react with even more demands. The same mechanism that allows democracy to function is leading it to a collapse. By listening to the general public and trying to cope with their expectation of what should be done, politicians are increasing spending, overstretching regulations and turning opposition ever more radical in the process. The combination of state’s inefficiency, political paralysis and people’s dissatisfaction feeds disbelief. For a political system that bases its legitimacy in representation and trust, that’s a very bad sign.
According to the authors, the Western world is living an apparent paradox. The state is on a mission to give people evermore of what they want. Yet, no one seems happier. America has gotten into a fiscal mess. The debt is rising while the government is stuck with gridlocks. Democracy everywhere faces cynicism. No one trusts politicians anymore. Just 17% of Americans say they trust the federal government and Congress has only 10% of approval rating. By contrast, 85% of the Chinese people approve their government’s decisions. Europe is also in trouble. As predicted by Milton Friedman, the monetary union is leading to political disunion. European Union accounts for 7% of the world’s population and 50% of its social spending. The moderates’ inability to solve problems is making the extremists gain popularity. Besides all, demography is against everybody. The aging of the populations will be an additional weight on overloaded societies. In short, the welfare fantasy is coming to an end and the state is going to start to take things away. Leia Mais
El Ágora compartida: democracia y asociacionismo de inmigrantes – MAYORAL et al (I-DCSGH)
MAYORAL, D.; MOLINA, F.; SANVICÉN, F. El Ágora compartida: democracia y asociacionismo de inmigrantes. Lleida: Milenio, 2011. 442p. Resenha de: BARRIGA UBED, Elvira. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.73, p.107-108, abr. 2013.
El libro El ágora compartida es el resultado de dos investigaciones centradas una en la integración y otra en el asociacionismo de inmigrantes.
Se ha realizado en la ciudad de Lleida, durante el periodo 2008-2009. Los autores son tres sociólogos: Dolors Mayoral, Fidel Molina y Paquita Sanvicén. Analizan la situación local mediante entrevistas a inmigrantes que se encuentran en diferentes etapas del proceso de adaptación en el territorio de acogida. Testigos que son fielmente tratados y que, posteriormente, ayudan a ejemplificar la teoría reflexiva expuesta.
La obra se abre con el prólogo del investigador y teórico de referencia Salvador Giner. El estudio está organizado en cuatro capítulos que, a su vez, están divididos en otros temas más específicos.
En el primer capítulo, tal como expone su título, se nos explica «el difícil camino hacia la convivencia» que el extranjero sufre viviendo una situación permanente por su condición de inmigrante, sintiendo no pertenecer «a los nuestros». Se nos pone de manifiesto, desde el punto de vista de los protagonistas, los principales elementos que afectan a la sociabilización e integración en la que será su nueva sociedad de acogida. En los primeros temas se tratan los problemas fundamentales que tienen a la llegada a un territorio que no conocen: las dificultades para establecerse, relacionarse y encontrar una ocupación que les permita habitar, sobrevivir. En los últimos temas, se sentencia a Cataluña como «una comunidad poco interesada en otras culturas, más allá de una mirada superficial». Se evidencia la falta de momentos y lugares que aproximan los autóctonos con los recién llegados, o incluso de aquellos que ya no lo son tanto porque hace años que están establecidos.
De la representación simple de la realidad compleja, que emiten los omnipotentes medios de comunicación, perpetuando estereotipos y prejuicios de las experiencias de los inmigrantes.
El segundo capítulo se abre explicando la vital importancia de la participación activa de una sociedad civil fuerte para la preservación de la democracia. Una participación que pasa por crear un tejido asociativo que garantice las libertades. Los autores analizan la escasa participación política, cultural, asociativa y colectiva de los inmigrantes vinculada con los ciudadanos autóctonos. El texto se centra en el papel del asociacionismo de los inmigrantes para los inmigrantes explicando su complejidad y diversidad de origen, evolución, funciones, liderajes y apertura con el mundo exterior. Asociaciones que cada vez tienen una mayor relevancia y visibilidad, un reconocimiento que poco a poco las consolidará en el futuro. Estas asociaciones surgen como respuesta a las diferentes necesidades de los recién llegados. Son redes comunitarias de amigos y conocidos que aparecen voluntariamente como única solución a la distancia que los separan de ese nuevo mundo en el que acaban de aterrizar y con el que tratan de favorecer la comunicación.
Durante el tercer apartado los autores dan respuesta a las dificultadas descritas en los dos primeros capítulos en forma de propuestas. Existen unas demandas fruto de las vivencias personales de los inmigrantes y, como consecuencia, los autores tienen el objetivo de mejorar la «supervivencia, aceptación y superación individual y grupal en el territorio ajeno». Se hace patente la falta de información y preparación por parte de todos antes de llegar al nuevo territorio y durante la acogida en éste. Por una parte, la desorientación e indefensión de los inmigrantes; por la otra, la incomprensión y desigualdad en el trato por parte de los autóctonos. Por lo tanto, sería necesario facilitar la formación cultural y lingüística, además de proceder a simplificar la burocracia en todos los ámbitos para todos: inmigrantes y autóctonos. Finalmente, se hace evidente la responsabilidad que los inmigrantes asentados sienten respecto a los que acaban de llegar y el esfuerzo que deben realizar para colaborar y encontrar espacios comunes con los autóctonos.
Con el cuarto y último capítulo, los autores nos sitúan desde su punto de vista en una sociedad igualitaria en derechos y libertades, libre e integradora para todos independientemente de los orígenes y diferencias entre los individuos que la acaban formando. Nos animan a poner en práctica el concepto más amplio de ciudadanía donde las personas que la forman participarían con responsabilidad democrática y actuarían proporcionando informaciones veraces. Tal como muestra el título del libro se apuesta por el fortalecimiento en el ágora compartida donde el consenso de las partes nos permitiría avanzar en bienestar social.
De la obra se extraen conclusiones que pueden darse de forma generalizada en el comportamiento de otras ciudades con estructuras similares que ofrecen facilidades de asentamiento para los inmigrantes. Una obra indispensable para hacer llegar y hacer comprender al lector otro pedazo de realidad, muchas veces oculto. Los autores apuestan por ofrecer y divulgar las voces que menos oportunidades tienen de ser escuchadas transmitiendo el mensaje de los inmigrantes entrevistados y causando, a su vez, la reflexión en los lectores. A pesar de haber transcurrido más de una década desde los primeros desplazamientos de personas extranjeras, sigue siendo latente una percepción social, por parte de los autóctonos, cada vez más negativa respecto a aquellos considerados inmigrantes. Tal como se preguntan los autores de esta obra: ¿para cuándo la aceptación de los otros? ¿Para cuándo sociedades incluyentes y cohesionadas originadas desde las diferencias?
Elvira Barriga Ubed
[IF]A Primavera Árabe: entre a democracia e a geopolítica do petróleo | Paulo Fagundes Visentini
A Primavera Árabe tornou-se, a partir de 2010, tema recorrente nos grandes debates das Relações Internacionais. O movimento tem início cronológico marcado pelo ato desesperado de um jovem de 26 anos que, enquanto vendia legumes na rua, foi humilhado e impedido de realizar sua atividade, ateou fogo ao próprio corpo no dia 17 de dezembro de 2010, falecendo em 4 de janeiro de 2011. Tal fato desencadeou uma onda de protestos e manifestações contrárias aos regimes autoritários existentes na região do Oriente Médio.
O que move Paulo Visentini é apresentar ao leitor desapercebido que a Primavera Árabe não consiste em uma reação a um ato isolado, mas sim, consequência de um processo histórico longo que envolve relações de poder, uma geopolítica norteada por estratégias de manutenção de áreas de influencia e o poder econômico gerado pela disponibilidade (ou não) de petróleo na cena internacional. Leia Mais
Not fot Profit: Why Democracy Needs the Humanities – NUSSBAUM (RA)
NUSSBAUM, Martha. Not fot Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press, 2010. Resenha de: FAVERSANI, Fábio. Revista Archai, Brasília, n.8, p.145-148, jan., 2012.
Martha Nussbaum, professora de filosofia da Universidade de Chicago, e helenista de formação, reuniu neste livro muitos elementos importantes para uma reflexão sobre as sociedades que estamos construindo e o papel que a educação tem tido neste processo. Ela se volta sobretudo para um problema importante e que está no centro dos debates: a educação tem se voltado por demais para produzir pessoas que possam gerar lucros, mas sem se preocupar com a capacidade delas atuarem em sociedade; as escolas estão se voltando para ter excelentes notas em testes padronizados, mesmo que isto signifique formar alunos sem nenhuma capacidade de pensar criticamente ou formular um saber original. O ideal é que os alunos estejam ajustados ao mercado e sejam tremendamente competitivos, que se saiam bem nos testes reproduzindo fórmulas prontas e se exercitando em como dar a resposta certa. Para estes propósitos, a autora chama a atenção, as humanidades têm parecido ter pouca serventia. Ainda mais, como ela também ressalta, na atual onde de corte de despesas por parte do Estado pelo mundo afora, as humanidades são as primeiras a serem eliminadas nas esferas da educação pública. As consequências disto é que as humanidades têm feito falta a “fazedores-de-lucro”e têm produzido sociedades menos saudáveis, menos democráticas. O alerta que a autora faz é pertinente e merece reflexão. Ela afirma, já no final do livro: “Desviados para a busca da riqueza, nós pedimos cada vez mais para nossas escolas para nos darem úteis fazedores-de-lucro (profit-makers) mais do que cidadãos reflexivos. Sob a pressão de cortar custos, botamos fora exatamente aquelas partes dos esforços educacionais que são cruciais para a preservação de uma sociedade saudável”(pp. 141-2)
Trata-se de uma reflexão importante e muito bem organizada. Ainda que a autora deixe claro que não se trata de um estudo empírico, percebe-se uma boa pesquisa para sustentar os argumentos, sendo os exemplos concretos apresentados bastante numerosos e diversificados. O livro se organiza em sete capítulos, antecedidos por uma apresentação escrita por Ruth O’Brien. No primeiro capítulo ela trata do que qualifica como “uma crise silenciosa”. Tipifica muito bem como a educação tem passado por uma mudança progressiva e geral nos Estudos Unidos e na Índia (mas o mesmo quadro poderia com certeza ser pensado com certeza para outros países, como por exemplo o Brasil), em que uma educação orientada por princípios humanistas e liberais, preocupados em dar uma formação geral e educar cidadãos, cada vez mais está deixando de existir. O diagnóstico da autora é claro: a educação tem piorado. No capítulo 2 ela indica dois modelos de educação, um voltado para a construção de sociedades mais democráticas e outra devotada ao aumento da lucratividade. Nos capítulos 3 a 6 a autora mostra quais as características deste modelo de uma educação para as sociedades democráticas, enfatizando alguns valores e resultados que ela acredita que devam dar corpo a este tipo de educação, sempre indicando como as humanidades, incluídas com bastante ênfase as artes, são centrais a este tipo de educação. As humanidades são aparentemente desnecessárias para o aumento da lucratividade através da educação, mas se a educação se volta para a formação de cidadãos que construirão e vivenciarão uma experiência democrática plena, elas são centrais e indispensáveis. É através das humanidades que se constroem várias das habilidades necessárias ao exercício da cidadania em sociedades democráticas. Sem elas, ao contrário, é impossível ter estes resultados e, em decorrência, o corte do ensino de humanidades pode ser traduzido na inviabilização de sociedades democráticas. No capítulo 7 a autora evidencia que educação democrática está nas cordas (“on the ropes”). As humanidades estão sendo atacada e a ponto de ser nocauteada. O capítulo conclusivo reforça assim o caráter sensível e importante de apelo deste trabalho, talvez até mesmo de manifesto, mais do que de estudo empírico – que a obra não pretende ser.
Parece-nos ter a força de uma constatação os aspectos principais que Nussbaum salienta. As mudanças na educação, que se afasta mais e mais do que poderia se chamar de ideias humanistas ou democráticos (seja lá que sentido se queira dar a estas palavras), voltando-se apenas para a formação de mão-de-obra por processos que cada vez mais se aproximam de um adestramento, são ruins para a sociedade pensada como uma experiência democrática e de realização humana e também parecem ruins para formar mão-de-obra para uma produção cada vez mais complexa e que exige que os trabalhadores tomem decisões de forma independente. A autora aponta para estes pontos fundamentais no debate atual. Outro aspecto central da obra é deixar claro que os cortes de recursos na educação são especialmente perniciosos porque atingem diferentemente as áreas do conhecimento, com as restrições praticamente eliminando as possibilidades de uma educação rica e plural em humanidades e fazendo com que desapareçam por completo sinais de educação em artes. O livro aponta com clareza para problemas que temos no cenário atual e que reclamam uma resposta da sociedade. As mudanças em curso são ruins para a sociedade e são ruins para as pessoas. Nussbaum tem toda razão em seu apelo: isto precisa parar. Mas creio que seja importante pensar para os caminhos que ela aponta para chamar a atenção também para o dato de que a construção de alternativas exige muita reflexão.
Nussbaum contrapõe a educação para o cresci- mento econômico que é cada vez mais predominante, a uma educação para a democracia, que foi vivida nos melhores exemplos da educação liberal clássica estadunidense e no modelo construído pelo educador indiano Rabindranath Tagore. A análise da autora se concentra na experiência dos Estados Unidos e Índia. A educação para a democracia se volta para o desenvolvimento do pensamento crítico, da compaixão, da imaginação, da simpatia e da criatividade. Por outro lado, a educação para o crescimento econômico se devota a estimular a obediência, a competitividade, levando à instrumentalização dos outros seres e, como meio para tanto, sua submissão. Na maior parte do livro a autora procura opor estes dois propósitos como antitéticos, mas em outros ela defende que as humanidades servem aos propósitos de uma educação para o crescimento econômico. Ela busca convencer o leitor de que não faz sentido uma disputa entre projetos: “Se o nosso único objetivo é o crescimento econômico nacional, ainda assim devemos proteger a educação liberal em artes e humanidades”(p. 112). Ela faz parecer que bastaria que todos sentassem na mesma mesa e, conversando com calma, todos se convenceriam de que o que ela propõe é o melhor para todos, sob todos os pontos de vista. Adotando este ponto de vista, a autora deixa de problematizar quais são os projetos e interesses que estão levando às atuais mudanças na educação e como eles são incompatíveis e irreconciliáveis com os interesses da maioria da população. As mudanças atuais parecem à autora apenas o resultado de uma má compreensão da realidade e que podem ser reformuladas explicando aos gestores desta mudança que eles estão errados. O mesmo ponto aparece quando ela trata do corte dos recursos que financiam a educação. O apelo dela é para que os gestores percebam que as humanidades não custam tão caro assim e faz elogios às iniciativas do terceiro setor que cobrem os espaços deixados pela ausência do financiamento do Estado (este ponto se faz especialmente claro no capítulo IV). Os adversários das humanidades na educação pública em específico, e do financiamento da educação pública em patamares razoáveis, de um ponto de vista mais geral, simplesmente não são tipificados, qualificados. A autora parece pensar que todos podem entrar em uma grande e positivo acordo sobre isto se sentarem em uma mesa e conversarem com calma. Claramente, não é o caso.
A autora é professora da Universidade de Chicago e se orgulha de não precisar buscar recursos do Estado, uma vez que, segundo ela, ex-alunos orgulhosos da educação que receberam sempre estão dispostos a doar para os projetos de humanidades da Universidade de Chicago, propiciando às novas gerações a mesma educação humanista que tiveram (p. 132). Este visão do lugar de onde fala é que talvez a faça tão otimista. Mas seria importante que ela percebesse que nem só de bondosos momentos de seus ex-alunos é que se faz a gestão da educação e que os alunos oriundos das maiores e melhores universidades do mundo é que são os formuladores e gestores das políticas educacionais que ela critica. Estes alunos receberam a melhor educação humanista, que ela recomenda. O livro não trata, como se vê por este exemplo, deste problema em todas as suas consequências.
Um problema na abordagem da autora, a meu ver, é que ela é tão prescritiva e normativa quanto a atual hegemonia que ela critica. Já na apresentação, escrita por Ruth O’Brien, lemos na p. x. que a arte e as humanidades seriam importantes para gerar pessoas “como tanto a democracia quanto a cidadania global exigem”“Mas quem responde à pergunta: o que é requerido da educação pela democracia e cidadania global? A resposta não é simples e, se ela é única, já não é uma boa resposta a meu ver. Os excessos desta fórmula que inspira a autora têm gerado condutas que beiram a censura mais esdrúxula. Para lembrar aqui um caso recente – e nos esquivarmos das críticas ao insosso domínio do “politicamente correto”–, recordamos da polêmica decisão do Conselho Nacional de Educação que restringia a leitura das obras de Monteiro Lobato nas escolas por conta de seu conteúdo “racista”(http://www1.folha.uol.com.br/saber/822230-conselho-de-educacao-quer- -vetar-livro-de-monteiro-lobato-em-escolas.shtml). Mais recente ainda é a solicitação do Ministério Público de Minas Gerais para que o dicionário Houaiss fosse retirado de circulação. A fundamentação indica que o verbete “cigano”contém “expressões pejorativas e preconceituosas”contra esta população, como “aquele que trapaceia, velhaco, burlador”. (Cf. Folha de São Paulo, n. 30.284, de 2 de março de 2012, p. A2.)
O problema que se pode apontar aqui, contrariamente ao que defende a autora, é que não se pode defender que as humanidades devem estar a serviço de um projeto político instrumental dado, mesmo que seja o da defesa da democracia, voltando-se primevamente para agendas que interessem a certos setores políticos que vejam como importante os debates sobre raça, gênero e sexualidade, por exemplo. Esta instrumentalização das humanidades para ensinar os alunos o que alguém específico acha que todos eles devem saber para serem bons cidadãos tem feito mais mal do que bem à defesa das humanidades nas escolas.
Trata-se de um livro, portanto, cuja leitura recomendamos fortemente, uma vez que aponta para um tema central de nossa época, através de uma reflexão bastante sofisticada que propicia ao leitor refletir acerca do problema tendo a frente horizontes bastante amplos que são descortinados pela autora.
Fábio Faversani – Universidade Federal de Ouro Preto.
Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional / Eduardo T. Medrano
“Guerra y Democracia” do historiador peruano Eduardo Toche Medrano, foi escrito após a conclusão dos trabalhos da Comissão da Verdade e Reconciliação (CVR) que investigou os crimes cometidos durante os vinte anos de combate às guerrilhas no Peru (1980-2000). A inquietação que moveu sua pesquisa foi compreender como se constituiu a relação entre as Forças Armadas e a sociedade civil peruana, que culminou na morte de milhares de camponeses indígenas que vivam em regiões onde atuavam grupos guerrilheiros.
Assim como o Brasil, o Peru contém uma população heterogênea, e há uma grande distância entre esta população e as instituições governamentais, incluindo as militares, o que, durante períodos de regimes autoritários, foi um dos fatores que influenciou o comportamento dos militares diante da população civil. Esta obra de Toche Medrano nos interessa especialmente por mostrar como foi construída dentro das instituições militares certa leitura da sociedade onde as figuras do “índio” e do “camponês” foram paulatinamente aproximadas a do “subversivo”, “terrorista” e finalmente do “narcoterrorista”.
O livro é dividido em três partes: “os inícios (a formação de critérios institucionais)”, “a sistematização da experiência” e a “ação no vazio (o esgotamento da doutrina militar peruana)”. Em cada uma das partes o autor, através de rica documentação, mostrou como as forças armadas se tornou o setor mais especializado e organizado do Estado e como se relacionou com outros setores da máquina estatal e da sociedade.
Na primeira parte, Toche Medrano valeu-se principalmente da Revista Militar Peruana, para mostrar que logo após o fim da ocupação do território peruano pelos militares chilenos (Guerra do Pacífico 1879-83), havia uma forte desconfiança entre elites civis e militares: culpavam-se mutuamente pela derrota e consequente perda de territórios para o vizinho do sul. Contudo, os dois grupos concordavam em responsabilizar pela derrota a falta de sentimento nacionalista dos indígenas, que eram a maioria da população, e não se engajaram contra os chilenos.
Deste modo, entre o final do século XIX e primeira metade do XX o discurso indigenista foi o grande mote nos meios intelectuais peruanos, fosse para criticar ou apoiar a ação do Estado oligárquico. Como a constituição de 1895 atribuiu às forças armadas o papel de: “defender o Estado das agressões externas, assegurar a integridade das fronteiras, a ordem interna e o cumprimento da Constituição” (TOCHE MEDRANO: 2008:37) os militares eram, nos rincões do país, muitas vezes a única manifestação da existência do Estado em meio a uma população indígena que em muitos casos sequer falava espanhol, o que fez com que se identificassem como a própria presença da “civilização”.
Toche Medrano mostra através da análise dos textos publicados pelos militares um amálgama entre o indigenismo e o positivismo que resultou na forma paternalista e autoritária como os militares, principalmente o exército, concebiam seu papel perante a população: deveriam educá-los, torná-los cidadãos, apesar de seus “vícios” típicos da “raça”. A função civilizatória das forças armadas era exercida através do cumprimento do serviço militar obrigatório, onde os recrutas além de marchar e cantar o hino nacional eram alfabetizados, além de aprenderem noções de trabalhos manuais. A ideia era que o recruta se tornasse um disseminador dos valores aprendidos no quartel entre sua comunidade.
Um dos objetivos do serviço militar obrigatório era promover a integração da população dentro dos valores que os militares acreditavam ser nacionais, porém, segundo o autor, o resultado foi que as condições de implementação acabaram reforçando preconceitos e dificultaram a almejada integração da população na “civilização”. Um exemplo interessante são as qualidades que os militares destacaram nos recrutas indígenas: “sua resistência a fadiga, sua adaptabilidade às condições rigorosas, o desprezo pela morte e sua docilidade ante às ordens” (TOCHE MEDRANO: 2008:68). O autor destacou também o movimento inverso: o governo estabeleceu entre 1943 e 1974 a instrução militar obrigatória nas escolas, demonstrando que uma parcela dirigente sociedade civil entendia que reforçar o nacionalismo era sinônimo de militarismo, pois as forças armadas eram portadoras por excelência do espírito da Nação.
Um segundo personagem importante cuja construção encerra primeira parte da obra é o “subversivo”. O surgimento do “personagem” está intimamente relacionado ao contexto internacional dos anos 1920–1930: o fortalecimento do movimento comunista internacional pós Revolução Russa. Especificamente no Peru, o Partido Comunista tinha pouca expressão, pois a maior parte dos trabalhadores estava na zona rural, portanto fora do apelo discursivo dirigido ao proletariado. O movimento que canalizou as reivindicações e a insatisfação da população com a exploração econômica e a falta de canais de participação política foi o indigenista foi o grande mote nos meios intelectuais peruanos, fosse para criticar ou apoiar a ação do Estado oligárquico. Como a constituição de 1895 atribuiu às forças armadas o papel de: “defender o Estado das agressões externas, assegurar a integridade das fronteiras, a ordem interna e o cumprimento da Constituição” (TOCHE MEDRANO: 2008:37) os militares eram, nos rincões do país, muitas vezes a única manifestação da existência do Estado em meio a uma população indígena que em muitos casos sequer falava espanhol, o que fez com que se identificassem como a própria presença da “civilização”.
Toche Medrano mostra através da análise dos textos publicados pelos militares um amálgama entre o indigenismo e o positivismo que resultou na forma paternalista e autoritária como os militares, principalmente o exército, concebiam seu papel perante a população: deveriam educá-los, torná-los cidadãos, apesar de seus “vícios” típicos da “raça”. A função civilizatória das forças armadas era exercida através do cumprimento do serviço militar obrigatório, onde os recrutas além de marchar e cantar o hino nacional eram alfabetizados, além de aprenderem noções de trabalhos manuais. A ideia era que o recruta se tornasse um disseminador dos valores aprendidos no quartel entre sua comunidade.
Um dos objetivos do serviço militar obrigatório era promover a integração da população dentro dos valores que os militares acreditavam ser nacionais, porém, segundo o autor, o resultado foi que as condições de implementação acabaram reforçando preconceitos e dificultaram a almejada integração da população na “civilização”. Um exemplo interessante são as qualidades que os militares destacaram nos recrutas indígenas: “sua resistência a fadiga, sua adaptabilidade às condições rigorosas, o desprezo pela morte e sua docilidade ante às ordens” (TOCHE MEDRANO: 2008:68). O autor destacou também o movimento inverso: o governo estabeleceu entre 1943 e 1974 a instrução militar obrigatória nas escolas, demonstrando que uma parcela dirigente sociedade civil entendia que reforçar o nacionalismo era sinônimo de militarismo, pois as forças armadas eram portadoras por excelência do espírito da Nação.
Um segundo personagem importante cuja construção encerra primeira parte da obra é o “subversivo”. O surgimento do “personagem” está intimamente relacionado ao contexto internacional dos anos 1920–1930: o fortalecimento do movimento comunista internacional pós Revolução Russa. Especificamente no Peru, o Partido Comunista tinha pouca expressão, pois a maior parte dos trabalhadores estava na zona rural, portanto fora do apelo discursivo dirigido ao proletariado. O movimento que canalizou as reivindicações e a insatisfação da população com a exploração econômica e a falta de canais de participação política foi o época, foi fundada a Escola Superior de Guerra (ESG), não nos moldes franceses, mas estadunidenses, curiosamente, desta instituição saíram quadros que nos anos 1970 se radicalizaram na proposta de que cabia ao Estado planejar a economia e desenvolver o país. O autor mostra que tais institutos foram fundamentais para a elaboração de um planejamento de desenvolvimento nacional, no entanto os critica porque na doutrina que elaboraram não reservaram espaço para a atuação política independente da sociedade civil.
Cabe aqui nos questionarmos se cabia às forças armadas, como defende o autor, delimitar em sua doutrina o espaço para a participação política dos civis, ou se, cabia a esta conquistar seu espaço. O fato dos militares ignorarem esta “concessão de espaço”, e do autor criticá-los por isso evidencia a fragmentação e a exclusão da sociedade civil peruana pela fraqueza da classe média, desprovida de um projeto político para o país, dirigido por uma oligarquia que impedia qualquer tipo de reforma e pelo alijamento da grande população indígena de qualquer participação.
Esta doutrina de segurança pautada pelo desenvolvimento foi experimentada logo no início dos anos 1960 durante o primeiro enfrentamento entre militares e as guerrilhas surgidas no Valle de la Convención, Cusco. Alí, ao exercerem a repressão contra a população se convenceram que o abandono desta pelo governo era a causa da guerrilha. Gradualmente, os militares entraram no jogo político, primeiro apoiando o candidato a presidência em 1963 Fernando Belaúnde, que defendia reformas. Logo, em 1968, em meio a uma forte crise, liderados pelo Gal. .Velasco Alvarado os militares tomaram as rédeas do país: nacionalizaram empresas estrangeiras, fizeram a reforma agrária, criaram estatais e tomaram outras medidas que visavam a industrialização e a criação de um mercado interno no Peru.
O governo reformista do Gal. Velasco foi apoiado por parte daqueles que militaram em movimentos de esquerda pelas suas propostas desenvolvimentistas e por sua política externa independente em plena Guerra Fria. Apesar de ter criado um órgão para canalizar a participação popular SINAMOS (Sistema Nacional de Mobilização Social), não conseguiu lidar com as manifestações de insatisfação, pois, apesar de suas medidas, o governo militar não conteve o aumento do custo de vida e, as importações requeridas pela indústria levou à falta de divisas e a uma grave crise. O projeto de desenvolvimento nacional militar aplicado entre 1968 e 1975 apesar de ter melhorado sensivelmente a distribuição de renda, foi insuficiente tamanho o era o abismo social, além disso não conseguiu integrar agricultura e indústria para o abastecimento interno.
A última parte do livro, “ação no vazio (o esgotamento da doutrina militar peruana)”, aborda desde a volta dos civis ao poder em 1980 até o final do regime fujimorista em 2000. Foi neste período em que, especialmente as regiões de Ayacucho e Junin, sofreram os efeitos perversos da guerra contra as guerrilhas especialmente o Sendero Luminoso. Nesta parte da obra o autor apoiou-se principalmente no relatório da Comissão de Verdade e Reconciliação e na imprensa.
Segundo Toche Medrano, ao mesmo tempo que se esgotaram as possibilidades do desenvolvimentismo militar, as teses neoliberais difundidas a partir do Consenso de Washington foram respaldadas pelas elites, confluíram de forma que a a violência foi a única resposta do Estado para os protestos sociais contra o desmonte do aparato de intervenção estatal e distribuição de renda montado durante o regime militar e contra a guerrilha. Assim guerrilha e oposição ao neoliberalismo foram tratados como se fossem um só fenômeno. Como agravante, um novo ator entrou em cena: os narcotraficantes interessados na tradicional produção cocaleira andina.
Toche Medrano mostra que os militares somente pacificaram o país quando separaram guerrilha, população camponesa e narcotraficantes: para combater os primeiros tiveram que superar a desconfiança dos segundos, e incorporar camponeses como recrutas em suas regiões de origem, organizá-los e armá-los, originando os comitês de autodefesa. Por esta atitude independente foram acusados pelos estadunidenses de apoiar as guerrilhas. Quanto ao narcotráfico, um dos motivos da queda do regime fujimorista foram denúncias de corrupção contra altas esferas militares que recebiam dinheiro para facilitar suas ações, comprovadas pela existência de bases militares próximas a pistas clandestinas de narcotraficantes.
O autor referiu-se à ausência de punição a muitos crimes denunciados pela Comissão da Verdade e Reconciliação, como os massacres de camponeses, e atos de corrupção, especialmente o envolvimento entre militares e narcotraficantes; tal impunidade foi explicada devido ao corporativismo das Forças Armadas. Toche Medrano conclui apontando a necessidade urgente na promoção de mudanças na relação de todo aparato estatal, com a população civil, porque muitos dos problemas sociais que levaram à explosão de violência continuam insolúveis como o acesso à justiça e a cidadania.
A pesquisa de Eduardo Toche Medrano contribui para elucidar uma relação complexa entre umas das instituições que fundam o conceito de Estado e seus habitantes, que no caso dos rincões do Peru e das barriadas (favelas) da capital, estão muitas desprovidos de qualquer garantia de cidadania. A Comissão da Verdade e Reconciliação que em nosso vizinho do noroeste investigou os crimes cometidos por agentes do Estado e por guerrilheiros contra a população civil, não resultou em punição para os primeiros, unicamente para segundos, apesar do parecer responsabilizar o Estado pelo clima de violência, deve-se salientar que, a apuração dos fatos consiste num primeiro passo, nada desprezível, rumo ao fortalecimento de instituições democráticas. Aqui no Brasil, o historiador José Murilo de Carvalho lançou em 2005 a coletânea de artigos que tocam, de alguma forma, as relações entre militares e civis, Forças Armadas e política no Brasil (Jorge Zahar, 2005) contudo ainda não são muitos aqueles que se aventuram pela história militar numa abordagem cronológica relativamente ampla (aproximadamente dois séculos) e levantando questões tão importantes.
Referências
CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas e Política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
Êça Pereira da Silva –Doutoranda do Programa de História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Minha pesquisa consiste numa comparação entre as doutrinas militares brasileira e peruana nos anos 1950 e conta com o apoio CNPq. E-mail: [email protected].
TOCHE MEDRANO, Eduardo. Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional. Lima: DESCO/ CLACSO, 2008. Resenha de: SILVA, Êça Pereira da. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.20, p.177-182, jan./jul., 2012. Acessar publicação original. [IF].
Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil – CORDEIRO (EH)
CORDEIRO, Janaína Martins. Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Resenha de: PAULA, Christiane Jalles de. Memória, história e mulheres de direita na ditadura no Brasil. Estudos Históricos, v.25 n.49 Rio de Janeiro Jan./June 2012.
Há uma corrente na historiografia brasileira que propõe a revisão das interpretações sobre o regime militar, e especialmente a da memória construída da resistência da sociedade brasileira à ditadura. Esse movimento tem trazido novos ângulos, fontes e objetos para a compreensão do Brasil no período de 1964 a 1985. O trabalho de Janaína Martins Cordeiro, originalmente dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), alia-se a essa corrente. Como bem realçou Denise Rollemberg no prefácio, um dos seus méritos é que avança ao propor uma interpretação original sobre a atuação de um grupo manifestamente a favor do regime instaurado em 1964: a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde). Por isso mesmo, não surpreende que o trabalho tenha sido agraciado com o Prêmio Pronex/UFF em 2009, que subsidiou sua publicação.
O livro Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil assume dois objetivos. O primeiro é a recuperação da memória das mulheres da Camde, buscando, ao fazê-lo, desmistificar a memória da resistência da sociedade brasileira, uma vez que é inegável a ressonância que os discursos anticomunistas dos grupos de mulheres tiveram em 1964. O outro é entender como esses grupos apoiaram e legitimaram o golpe e a ditadura. Este é o ponto que considero mais instigante e original, uma vez que compartilho da ideia de que só podemos entender um determinado período se nos debruçarmos sobre o jogo social, político e cultural jogado pelos segmentos sociais. O livro nos permite entrever o dinamismo do jogo do qual participaram as mulheres da Camde, embora, é preciso reconhecer, nem sempre as ambiguidades tenham sido sublinhadas, e se tenha tentado, antes, encontrar as coerências do grupo. De toda forma, o livro nos leva a entender, como diz Rosanvallon (2010: 76), “o modo por que os indivíduos e os grupos elaboraram a compreensão de suas situações; os rechaços e as adesões a partir dos quais eles formularam seus objetivos; a maneira pela qual suas visões de mundo limitaram e organizaram o campo de suas ações”.
Organizado em três capítulos, além da introdução e das considerações finais, o livro traz a história da Camde, os valores que forjaram a militância da entidade e, finalmente, a memória elaborada pelas militantes do grupo.
O primeiro capítulo retrata a história da Camde. Nele, a narrativa cronológica é subsumida ao tema da cultura política, o que enriquece a argumentação. Por isso mesmo, o capítulo trata das formas de organização política e das ações empreendidas pelo grupo. Há uma dupla intenção no estudo desses aspectos: compreender a ditadura e o universo simbólico do grupo. A autora nos persuade de que o grupo compartilhava uma cultura política caracteristicamente elitista, udenista, assistencialista e católica.
No capítulo 2 são apresentados os valores que nortearam a organização e a atuação da Camde. Chamando a atenção para como as mulheres do grupo fizeram uso das categorias da esfera privada (mães, esposas e donas de casa) na construção de seus discursos públicos, a autora nos traz um retrato das relações de gênero no Brasil, que mostram ser um elemento fundamental para a compreensão da participação do grupo na cena pública brasileira entre 1962 e 1974.
No capítulo 3 são analisadas as memórias elaboradas pelas militantes da Camde. Seus silêncios, suas recusas e as dificuldades para conseguir entrevistá-las – de 17 mulheres que foram encontradas e contactadas, só quatro se dispuseram a prestar depoimento à autora – expõem a força da construção da memória do silêncio. Partindo da elaboração de Pierre Laborie, para quem o silêncio sobre determinado evento pode estar relacionado à incompreensão no presente de um comportamento do passado, a autora, ao tratar os depoimentos, constrói a teia de adesões e rechaços que marcam a memória e a história de militância das mulheres que estiveram ligadas à Camde.
O trabalho de Janaína Martins Cordeiro suscita muitas questões. Nesta resenha quero chamar atenção para três em especial.
Primeira: como tratar de um grupo de militantes católicos sem considerar a centralidade do catolicismo como “visão de mundo” (Karl Mannheim, 1982), ou seja, entender que o catolicismo estrutura uma série de vivências ou de experiências que, por sua vez, constitui-se como base comum das experiências que perpassam a vida de múltiplos indivíduos. No trabalho, embora inúmeras vezes o catolicismo seja mencionado, acabou sendo pouco explorado enquanto base comum das vivências e experiências das mulheres da Camde.
Segunda: a democracia é um conceito polissêmico. Então, não seria preciso explicitar o conceito de democracia usado pela Camde? Vale lembrar que o catolicismo, já no século XIX, adotara politicamente a si mesmo como terceira via à democracia liberal e ao socialismo, que, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, passou a ser chamada de “democracia cristã”. Além disso, a “democracia” no catolicismo tem significado diverso daquele difundido pela democracia liberal-representativa. Não é por acaso que tanto o anticomunismo como o antiliberalismo são bases importantes do pensamento político católico.
Terceira: em vários momentos do trabalho o grupo é caracterizado como conservador. Por que não matizar este qualificativo, mostrando que, em algumas conjunturas, o grupo assumiu feição tradicionalista e, em outras, reacionária? Um investimento maior nas diferenças destes conceitos poderia nos dar indícios mais robustos dos porquês de algumas das escolhas e, principalmente, poderia realçar ainda mais as ambiguidades das mulheres da Camde.
Gostaria de finalizar ressaltando que estas considerações só reforçam a qualidade e a originalidade da interpretação. Trata-se de um livro que muito contribui para o atual debate sobre a ditadura no Brasil e que merece leitura atenta.
Referências
MANNHEIM, Karl. Structures of thinking. Collected Works Volume Ten. London: Routledge + Kegan Paul, 1982. [ Links ]
ROSANVALLON, P. Por uma história conceitual do político. In: Por uma história do político. Tradução de Christian Edward Cyrill Lynch. São Paulo: Alameda, 2010.
Christiane Jalles de Paula – Doutora em ciência política pelo IUPERJ, professora e pesquisadora do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil ([email protected]).
L’etica della democrazia – Attualità della filosofia del diritto di Hegel – CORTELLA (V)
CORTELLA, Lucio. L’etica della democrazia – Attualità della filosofia del diritto di Hegel. Genova/Milão: Casa Editrice Marietti, 2011. 270 p. Resenha de: COSTA, Danilo Vaz- Curado R. M. Veritas, Porto Alegre v. 57 n. 1, p. 180-190, jan./abr. 2012.
A democracia tem necessidade de uma ética? É com uma pergunta que percorre todo o prefácio que se inicia o livro do professor Lucio Cortella, o qual se desenvolve em torno de uma introdução – Moralidade e eticidade: dois conceitos chaves para aceder à concepção hegeliana da política – e quatro capítulos: 1. A liberdade e o absoluto; 2. A época da liberdade universal; 3. A eticidade realizada: a esfera do Estado e, por fim, 4. Linhas de uma eticidade pós-idealística: uma democratização da filosofia política de Hegel.
Ocorre que bem ao estilo hegeliano, o prefácio do livro possui independência e quiçá assume a tarefa de fazer o leitor dar-se conta de que é possível a pergunta de uma democracia em Hegel, algo um tanto e num primeiro olhar paradoxal, e que é também pertinente uma demanda acerca de um ethos próprio aos processos de organização política de viés democrático oriundo desde a vazante hegeliana. Estas duas indagações percorrerão, ora em maior e ora em menor medida, todo o desenvolvimento do livro.
Metodologicamente nossa resenha se dividirá em dois grandes blocos. O primeiro bloco reconstruirá a estrutura argumentativa apresentada pelo professor Lucio Cortella, expondo sua tematização, tendo sempre em vista seu objeto acerca de uma ética da democracia e como este ethos democrático pode ser exposto desde a Filosofia do Direito de Hegel. O segundo bloco de análise do livro se prenderá apresentar criticamente se o livro, que ora se resenha, realiza seu objetivo (uma ética da democracia) através de seu objeto (a filosofia do direito hegeliana).
Assim, esperamos apresentar a resenha ao mesmo tempo de forma informativa e crítica, expondo o desenvolvimento dos conceitos e meditando sobre sua pertinência ou não. Outro ponto que nos motivou a elaboração da presente resenha é suprir uma lacuna no português acerca da obra de Lucio Cortella.
Lucio Cortella é professor do Departamento de Filosofia e Bens Culturais da Università Ca’ Foscari, de Veneza, Itália, e mesmo sendo um reconhecido estudioso, na Europa, da tradição dialética, especial daquela oriunda da Escola de Frankfurt e desta à Hegel, o autor é um ilustre desconhecido entre nós.
1 Desvelando a estrutura do texto A ética da democracia: atualidade da Filosofia do Direito de Hegel
a) Há na democracia necessidade de uma ética? O autor inicia seu prefácio (p. 9) com uma constatação: Hegel não pertence à tradição do pensamento democrático. Contudo, sua reflexão conduz às mesmas aporias do pensamento democrático, que se resume a uma dicotomia a responder se: (i) as normas jurídicas são capazes de por si só regularem os processos políticos nas sociedades ou (ii) é preciso apelar a um sistema de valores compartilhado por todos no sentido de uma ética comum? As tendências democrático-liberais, segundo a análise de Cortella (p. 9-10), claramente afirmarão que é desnecessária uma ética como base da convivência social e reprocharão que tal perspectiva repousa numa indistinção entre o público e o privado, assinalando que o caráter privado dos bens não pode ser confundido com o caráter público da justiça e que a clareza nesta separação é o fundamento estável de um Estado democrático, ao mesmo tempo justo individual e socialmente sem a ocorrência da subsunção de uma esfera pela outra.
Uma outra não menos importante corrente do pensamento político democrático contemporâneo, os comunitaristas, argumentarão que as normas jurídicas são frágeis para serem tomadas em si mesmo e sem o suporte de uma ideia comum de bem e um conjunto de valores, que confiram identidade ao social, poderem constituir a estrutura político-social de uma comunidade jurídica, concluindo pela insuficiência do sistema normativo como modelo para a regulação dos processos sociais. Nesta perspectiva, qualquer compreensão da sociabilização para ser coerente deve apelar simultaneamente a normas e valores.
Lucio Cortella aponta os déficits de ambas às perspectivas, seja a dos liberais e do consequente esgarçamento social provocado pela perspectiva jurídico-abstrata, seja a comunitarista e o sempre iminente
risco de apropriação da liberdade individual pelo Estado, e aponta uma alternativa ancorada na perspectiva institucionalista, afirmando que para tanto “[…] basta individuar e tornar explícita qual ética está já incorporada e operante nas instituições do Estado democrático e por este motivo está já na base do vínculo social entre os cidadãos” (Cortella,p. 11). E é na eleição da perspectiva institucionalista de análise do fenô-meno político democrático contemporâneo por oposição tanto a liberais como a comunitaristas que Cortella (p. 12) consegue conectar o status pós-tradicional do pensamento democrático hodierno com Hegel, articulando o pano de fundo para o desenvolvimento da paradoxal tese de uma ética democrática desde Hegel.
Mas, como afirmar um institucionalismo em Hegel? Para tal tarefa, Cortella (p. 12) defende que
A eticidade hegeliana não é constituída por um sistema particular de valores, nem pretende impor ao Estado uma específica identidade histórica, nem significa a re-proposição dos vínculos comunitários. […] A ideia de Hegel é, porém, que a liberdade, uma vez dissolvida as velhas tradições e o ethos dos pais, se seja feita por sua vez ethos, isto é, tenha plantado raízes, objetivando-se num sistema jurídico, numa práxis social, em instituições políticas e civis.
Cortella postula (p. 13) que foi Hegel quem compreendeu que na Modernidade os processos de emancipação conduzem a uma tradição da liberdade, onde ser livre e reconhecer o outro como livre a partir de vínculos que são ao mesmo tempo individuais e supraindividuais, ou seja, institucionais nos permitem assumirmo-nos como humanos, e por isto, portadores de uma segunda natureza.
Para o autor, “a solução está num ethos comum e compartilhado, que seja ao mesmo tempo universal, participado por todos em linha de princípio, e concreto, isto é, já operante historicamente na prática das instituições políticas.
b) Moralidade e eticidade: dois conceitos chaves para aceder à concepção hegeliana da política Lucio Cortella (p. 19-20) inicia a introdução demarcando a impor-tância da compreensão do conceito de Sittlichkeit por oposição ao de Moralität, enfatizando que já entre os próprios gregos havia a existência no próprio ethos da distinção entre êthos (costume) e éthos (hábito). Cortella acentua, contudo, que o próprio Hegel em nota ao parágrafo 33 assinala que entre os gregos há preponderância no ethos do aspecto da morada, afastando-se os gregos de nossa compreensão da mora-lidade.
Ocorre que o próprio Cortella recoloca o papel da distinção hegeliana entre Sittlichkeit e Moralität, por ser esta aparente distinção etimológica a base de toda a reflexão hegeliana acerca da vida ética, em suas dimensões individual e política.
Esta ligação entre eticidade e a morada, bem presente em Aristóteles e após retomada por Hegel, indica uma conexão da vida ética bem diversa daquela que nós comumentemente atribuímos à esfera moral e é a verdadeira chave para compreendermos o sentido da distinção hegeliana (Cortella, p. 20).
O jogo entre a eticidade e a moralidade desempenha, na filosofia hegeliana, primeiro uma distinção semântica que demarcará as esferas de estruturação no espírito do subjetivo e do objetivo, e em seguida, na própria diferenciação das esferas o ligame que exige que a compreensão tanto do espírito subjetivo, como a do espírito objetivo, seja realizada em estreita conexão entre ambos, pois o moral e o ético são como que faces do mesmo processo de autodesenvolvimento da sociabilidade, o primeiro em sua dimensão individual e o segundo em sua perspectiva pública e social.
Cortella (p. 23) assinala, ademais, que na perspectiva desta distinção, Hegel se coloca na posição de suprassumir a perspectiva kantiana esboçada na Metafísica dos Costumes, que dividia a sociabilidade em apenas dois níveis, aqueles das relações exteriores entre os indivíduos, o direito, e aquele outro das relações interiores dos indivíduos, a virtude. Ao estabelecer que moralidade e eticidade não se opõem, mas se autopõem, Hegel eleva-se para uma perspectiva na qual as relações exteriores, o direito abstrato, pudessem junto com as relações interiores, a moralidade, se desenvolver sob a base de relações nas quais a distinção entre exterior e interior estivessem guardadas e elevadas, pois suportadas pelo movimento da cultura, coroando a sua Filosofia do Direito com a esfera da eticidade.
Neste sentido, o direito para Hegel assume a função não apenas de cuidar de questões jurídicas, mas de ser a explicitação da liberdade num mundo exterior. Cortella (p. 23) enfatiza que A noção hegeliana de direito pode-se legitimamente compreender como aquele mundo complexivo da normatividade que se eleva a partir da específica pretensão de validade indagáveis sob a base dos critérios de justiça.
E dentro desta específica distinção entre eticidade e moralidade, uma diferenciação na qual o diverso se preserva no distinto de si, que
será possível, na leitura que Cortella elabora desde Hegel, a diferença da liberdade dos antigos face à dos modernos. Modernos os quais, nós, devemos nos incluir na perspectiva posta por Cortella ao término do presente capítulo as páginas 30-31.
2 A liberdade e o absoluto
A abertura do capítulo já nos coloca face a tese forte do autor de que, em Hegel, há uma concepção coerentista da liberdade. Tal concepção rompe com as leituras que compreendiam a herança hegeliana nos quadros da Modernidade e de seu ancoramento da liberdade no primado do sujeito por oposição à natureza.
Cortella ressalta que tal oposição, própria dos modernos, entre um mundo pautado por leis mecânicas de causa e efeito, em verdade não se opõe a este outro mundo da liberdade, e que foi Hegel que, ao desenvolver “[…] a liberdade não mais pensada apenas como uma propriedade da interioridade humana e signo da sua superioridade sob a natureza, mas como lógica última do real” (p. 33), colocou as bases de uma compreensão de liberdade ampla, não restrita a compreensão de oposição entre a natureza e sua privação da liberdade e o espírito como reino da liberdade.
Em Hegel, a liberdade perpassa todas as esferas do real, pois ela é seu elemento intrínseco e constitutivo, para tanto e de modo a dar razões desta sua perspectiva, Cortella (p. 34) desenvolve como em Hegel se relacionam liberdade e ontologia.
A seção liberdade e ontologia é a reconstrução da refutação hegeliana do espinosismo, como alternativa para a compreensão desta postulada liberdade coerentista, que Cortella aponta presente em Hegel. Mas, em que consiste refutar o espinosismo e qual o papel de tal refutação? Espinosa compreende a essência como substância e necessidade. Dentro deste horizonte, a liberdade cede lugar à cega necessidade e em havendo Espinosa razão, Hegel estaria equivocado ao colocar o espírito como a verdade da natureza, pois seria a substância a sua verdade. Hegel, ao compreender, segundo Cortella (p. 35), a liberdade como o autoconhecimento do espírito, tem que refutar o espinosismo, demonstrando que a verdade da substância é o sujeito mediante a elevação da natureza ao espírito.
Cortella (p. 35) afirma, inclusive, que, em Hegel, a fundação da liberdade equivale a uma verdadeira fundação do idealismo. Uma tal identidade entre a liberdade e o idealismo em Hegel se manifesta na própria superação do espinosismo, tal qual apresentada, segundo Cortella, por Hegel na seção relação absoluta da Ciência da Lógica
através da noção de ação recíproca, a qual demonstra como a substância se autocondiciona num movimento reciprocamente ativo-passivo.
A superação da cisão entre natura naturans e natura naturata, enquanto divisão do movimento substancialmente entre o ponente e o posto, e o reconhecimento de que a verdade da substancialidade ontológica é o pensar, ou o pensamento em seu movimento reflexivo sobre si é consoante, segundo Cortella (p. 37), com a novidade do idealismo hegeliano da liberdade.
Cortella (p. 38), portanto, defende a tese de que a lógica se manifesta como o sistema categorial da liberdade, e assim é o absoluto liberdade porque suprassumiu a totalidade das determinações finitas do pensamento. O absoluto hegeliano é o próprio movimento da totalidade das determinações compreendidas em sua unidade como manifestando-se a si mesmo.
Neste horizonte epistêmico, Cortella (p. 39) afirma que “em definitivo: a liberdade (como o pensar) não é uma unidade indistinta, mas é um processo, uma multiplicidade, um percurso, no qual o êxito final mantém em si a totalidade das categorias que percorre”.
Cortella (p. 42 e s.) afirma que a primeira característica desta novaconcepção coerentista de liberdade, apresentada por Hegel, é a autorre-flexividade, a qual consiste “naquela especial relação que o pensamento tem consigo mesmo, graças a qual, referindo-se a si, determina a si mesmo e se faz independente de tudo o que não coincide consigo” (p. 42).
Este primeiro nível da liberdade se coloca na condição de ser fiel tanto à concepção aristotélica de homem livre como aquele que detém sua finalidade em si, como à noção moderna e kantiana de autonomia, segundo a qual livre é o homem que se determina de modo independente de qualquer móvil externo à razão prática.
O segundo momento da liberdade hegeliana, na interpretação de Cortella (p. 44), é a negatividade da liberdade, a qual o autor divide em negatividade absoluta e determinada. O uso de absoluto agora, neste contexto, corresponde à universalização ilimitada da negatividade, revelando sua destrutividade inerente. Contudo, a liberdade em sua absolutidade revela-se autodestrutiva; este movimento é a indução à sua determinação. O movimento da liberdade não se limita a ser a destruição de toda a exterioridade, mas sim o movimento de afirmação de si como possuído da propriedade de dar-se leis.
Neste percurso, a liberdade hegeliana se apresenta como liberdade relacional, na qual o dar-se a lei e não se determinar por nada que lhe seja exterior não implica a afirmação da autorreflexividade, mas exatamente sua suspensão, posto que o outro não é mais o que retira ou limita a liberdade, mas a liberdade mesma, em sua plenitude.
Acerca destas conclusões a que chega, Cortella (p. 56) afirma que “se Hegel corrigi os modernos e Kant negando que a liberdade seja uma propriedade do sujeito ou uma faculdade, colocando-a como uma realidade relacional e objetiva, por outro lado, também radicaliza o aspecto subjetivo dela”.
3 A época da liberdade universal
No cotejo da obra hegeliana, Cortella (p 59) identifica as raízes teológicas da concepção hegeliana de liberdade, explicitando que, em Hegel, a encarnação de Cristo implica a assunção e o ingresso no mundo histórico da liberdade de Deus, uma liberdade não apenas como ideia, pois esta não é exterior aos homens, pois estes são ideia.
Segundo Cortella (p. 60), a liberdade universal, oriunda deste evento teológico e realizada na Modernidade é um “mundo complexo de relações e práticas objetivas da qual a liberdade individual é o sustento e a alimentação”. Este complexo de relações que compõe a liberdade universal se realiza mediante três incursões no espírito objetivo: como liberdade jurídica, como liberdade interior e como liberdade social, ou liberdade externa à pessoa, consciência interna da autonomia do sujeito e liberdade do homem econômico e do indivíduo abstrato da sociedade civil.
Dentro deste contexto, toda a exposição do capítulo acerca da liberdade universal recompõe os passos dos três níveis de exercício e efetivação da liberdade num verdadeiro debate com os principais expoentes alemães da Hegel-Forschung, como Theunissen, Bubner, Horstmann, Ritter, Angehrn, Fulda, entre outros, no sentido de demonstrar o equilíbrio em Hegel e nas suas conclusões da unidade entre o descritivo e o normativo, da exposição e da crítica, do ser e da validade.
A busca desta unidade, segundo Cortella, é o que torna possível a compreensão da liberdade universal em Hegel, sem cair nos lugares comuns do quietismo ou do progressismo, entre outros chavões a que se impõe ao texto da Filosofia do Direito de Hegel.
Cortella (p. 120), no cotejo da interpretação de Theunissen, exposta em Sein und Schein, de uma proto-teoria da liberdade comunicativa em Hegel, propõe um modelo de liberdade relacional, na qual os níveis da família, sociedade civil e Estado representariam os graus da relação intersubjetiva da imediatidade, do estranhamento e alienação e da relação propriamente dita, onde assimetria e simetria se colocariam numa permanente tensão constitutiva.
Dentro deste escopo de apreensão da liberdade universal desde Hegel, Cortella (p. 128) se coloca a demanda de apresentar como a passagem da liberdade universal ao Estado, tal como por ele reconstituída
à luz da Filosofia do Direito em Hegel, é capaz de fazer jus à tensão entre liberdade individual, relacional e à própria noção de universalidade, sem cair numa eticidade perdida em seus extremos, tal como descrita, como alerta, pelo próprio Hegel, no § 1841 de sua Filosofia do Direito.
4 A eticidade efetiva: a esfera do Estado
Em Hegel, desenvolve-se uma compreensão de eticidade em termos estritamente próprios e inauditos, pois Hegel não concebe o conceito de eticidade, segundo Cortella (p. 129), “[…] fazendo o retorno ou fazendo retornar a constelação ontológica antiga, na qual ética e política fundavam-se sob a natureza e a tradição”, nem tampouco colocando em xeque os ganhos da Modernidade, os quais Cortella enuncia como sendo: a separação da ideia do bem da natureza e sua compreensão em termos da liberdade, a conexão entre bem, liberdade, e a subjetividade individual.
Todo o terceiro capítulo do livro de Cortella, que ora se prefacia é este intento de demonstrar a gênese da eticidade moderna, que Hegel apresenta na sua filosofia e que se coroa com sua apreensão conceitual da realidade, tal como exposta na Filosofia do Direito. Segundo Cortella, a eticidade seria uma espécie de metatema que perpassa toda a for-mação teológica e filosófica de Hegel, e a prova de seu argumento ele pretende demonstrar reconstruindo, em cada momento, seu percurso formativo.
Para Cortella (p. 130), na juventude, Hegel assume uma eticidade como sustentáculo à crítica do paradigma subjetivístico e à concepção kantiana baseada na universalidade da liberdade, sendo a eticidade o conceito hábil, neste período, a superar as cisões entre o indivíduo e o Estado, a liberdade e a natureza, etc. Em Iena, Cortella pondera que Hegel, ao assumir a perspectiva política aristotélica exposta na obra Política, torna-se capaz de desenvolver a eticidade como habilitada à compreensão de princípios como a natureza da polis, a prioridade do Estado com relação ao indivíduo, desenvolvendo uma perspectiva nitidamente comunitária.
Ainda em Iena, Cortella (p. 131) identifica uma mudança no paradigma da Sittlichkeit hegeliana, o qual na sua leitura consiste no abandono da perspectiva ontológica, herança da influência de Schelling e Espinosa, e que se pode identificar no próprio prefácio da Fenomenologia do Espírito e sua predileção pelo sujeito em detrimento da substância. Esta passagem
de uma perspectiva ontológica para uma perspectiva lógico-subjetiva se põe em Hegel pelo papel que desempenhará o conceito [Begriff] na economia da posterior reflexão hegeliana.
Cortella (p. 131) afirma que “a noção de conceito, a partir deste momento em diante se tornará uma das noções chaves de toda a filosofia hegeliana, possui um significado preciso mesmo nas relações da esfera político-jurídica”. Na estruturação desta nova concepção de eticidade, tal como desenvolvida por Hegel, Cortella é bastante tributário das pesquisas de Manfred Riedel, especialmente de Studien zu Hegels Rechtsphilosophie, e do famoso artigo de Riedel, Natur und Freiheit in Hegels Rechtsphilosophie.
A eticidade é apresentada se expressando como (i) a unidade entre liberdade e natureza (p. 131), (ii) unidade entre liberdade e história (p. 137), (iii) a conciliação entre universalidade e ethos (p. 144), (iv) a eticidade como uma segunda natureza (p. 146), (v) a condição de recomposição das rupturas da modernidade (p. 153), (vi) unidade prática entre sujeito e objeto (p. 160).
Não obstante este aparente caráter omnicompreensivo da eticidade, Cortella (p. 189) apresenta aquilo que ele designa como a acidentalidade do ético, o qual consiste no caráter de unidade da eticidade apenas nos limites internos ao Estado, ou seja, a eticidade se desenvolveria como um conceito intraestatal, sem condições hermenêuticas de apreender e compreender os processos externos à constituição interna doEstado.
Cortella demarca que a eticidade, tal como a compreende na Filosofia do Direito, fora dos limites do Estado, atua por recíproca exclusão, num verdadeiro fechamento nacionalístico do ethos (p. 194).
Em vista destas colocações e conclusões a que chegara, Cortella (p. 205) se coloca a tarefa de desenvolver uma alternativa de bases ainda hegeliana, mas com nítidas influências da teoria crítica de Frankfurt, à eticidade, e para tanto apresentará, no último capítulo do seu livro, as bases de uma eticidade pós-idealista.
5 As linhas de uma eticidade pós-idealística: uma democratização da filosofia política de Hegel
Para Cortella (p. 207), todo o percurso de constituição da eticidade e do complexo conceitual que ela comporta traduz-se numa verdadeira fratura da liberdade. Tal ruptura reside exatamente nos limites da compreensão hegeliana de liberdade, a qual possui como escopo os limites do Estado nacional por oposição e recíproca exclusão dos demais Estados nacionais.
Na leitura desenvolvida no citado livro, a eticidade hegeliana se mostra por demais singularística, ao reduzir-se ao estabelecimento de nexos hermenêuticos intraestatais, impossibilitando uma compreensão mais universalista da liberdade em contextos, por exemplo: supranacionais, de direitos internacionais e mesmo de demandas acerca dos direito humanos, etc.
A tese surpreendente de Cortella (p. 235) para este dilema é a compreensão da democracia como ethos, e para tanto o autor propõe que se deve Ao invés de considerar a democracia como a mais refinada técnica de distribuição do poder e da obtenção do consenso, tratar-se em verdade de repensá-la como aquela nova comunidade que é a saída do cenário das velhas comunidades tradicionais, àquelas ligadas a ponto específicos, como às memórias de grupos, aos usos e costumes […] (p. 235).
Para Cortella, é falso que inexistam no homem contemporâneo laços comunitários, pois da dissolução do ethos se seguiu a constituição de uma nova eticidade baseada em regras universais e impessoais, com as quais os cidadãos se identificam. Ainda segundo Cortella, O homem contemporâneo faz das regras impessoais do Estado de Direito o seu novo habitat, a sua nova casa. E se habituou à legalidade, à responsabilidade jurídica, à participação ativa numa esfera pública que vai para muito além dos velhos confins que caracterizam a sua casa, sua família e sua cidade (p. 235).
Para Cortella, deve-se assumir que, neste novo momento, vive-se uma espécie de eticidade democrática no seio da qual, habituada a comportamentos liberais e democráticos, se internalizam práticas e regras como virtudes republicanas. Dentro deste contexto de reapropriação das teorizações ético-políticas de Albrecht Welmmer, Cortella (p. 242) afirma que é possível democratizar Hegel e responder a estas novas demandas da contemporaneidade.
Para Cortella, a configuração político democrática não pode admitir a imunização das instituições da tomada de distância crítica dos cidadãos e da sua possível transformação, ou seja, é preciso pensar a compatibilidade entre os comportamentos democráticos com a inexistência de uma substância ética, subtraída das condições da crítica, e é este ponto do modelo hegeliano que deve ser reconsiderado. Pois, segundo Cortella, “o ponto de ruptura fundamental entre a ideia de um ethos democrático e a concepção hegeliana do Estado reside naquela caracterização substancialística da esfera ética que em Hegel desempenha uma função central” (p. 243).
Para Cortella, este novo ethos, constituído após a queda daquele baseado numa concepção naturalística e substancial da tradição, se configura pela primazia do ser construído e pela sua artificialidade, resultante dos processos culturais de formação, logo esta segunda natureza, não é mais natureza, mas convenção. Nisto resulta o caráter pós-tradicional deste novo ethos.
Para tanto, Cortella constrói sua perspectiva pós-tradicional do ethos pela assunção das seguintes notas como lhe sendo constitutivas:a) formalidade, b) pluralismo, c) universalidade e d) deflacionamento da dimensão político estatal. Em tal perspectiva, o ethos pós-tradicional seria capaz de efetivar tanto a autenticidade individual como a justiça universal.
Todavia, nos diz Cortella com Christoph Menke2 que os conflitos entre autonomia e autenticidade à luz das escolhas individuais deve ser resolvido de modo plural e diferenciado, em certa medida assumindo individualmente a Ideia moral de bem como critério de orientação das escolhas.
Cortella assume, para tanto, uma concepção de comunidade de valores (Wertgemeinschaft) pós-tradicional, fundada sobre a liberdade dos singulares, na qual estes acedem livremente, bem como na qual a escolha dos valores e dos planos de vida aos quais querem aderir também o são livres.
Neste contexto, a democracia é menos um modo de organização política e mais uma cultura de valores consensualmente estatuídos e livremente aceitos e reconhecidos.
À guisa de conclusão
A presente obra, que se apresentou em formato de resenha, estabelece a instigante tese de apropriação de Hegel, sem contudo querer atualizá-lo, mas partindo de algumas de suas intuições e desenvolvimentos, assim como de várias de suas conclusões, a fim estabelecer um marco de compreensão razoável para complexos fenômenos da contemporaneidade, mais especificamente a possibilidade de se estabelecer uma ética da democracia em bases não substancialistas.
Apenas por este motivo, a obra possui méritos que lhe irão garantir, por longo período, a sua permanência nos debates políticos e filosóficos acerca das tão conflituosas relações entre o indivíduo, o Estado e a comunidade.
Notas
1. HEGEL. Filosofia do Direito, § 184: “Es ist das System der in ihre Extreme verlorenen Sittlichkeit”.
2. MENKE, Christoph. Tragödie in Sittlichkeit (1996) e, também, Liberalismus in Konflikt (1993).
Danilo Vaz-Curado R. M. Costa – Professor da UNICAP. Doutorando em Filosofia na UFRGS. E-mail: [email protected] ou [email protected]
Militares/ Democracia e Desenvolvimento: Brasil e América do Su | Maria Celina D’Araújo
O papel dos militares na política do Brasil e dos demais países da América Latina, ao longo do século XX, é amplamente estudado, embora exista predominância do período compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o da Guerra Fria, quando estiveram à frente do poder da maior parte dos países do subcontinente. Conquanto tenham sido um dos principais atores políticos dos países sul-americanos até meados da década de 1980, quando as ditaduras da região começaram a ser substituídas por governos civis, não perderam a grande relevância no cenário político interno e externo dessas nações. No livro “Militares, Democracia e Desenvolvimento: Brasil e América do Sul”, Maria Celina D’Araújo1 analisa o papel contemporâneo das forças armadas no Brasil e nos demais países da América do Sul, com foco nas atuações em defesa dos regimes democráticos de direito, nas cooperações militares regionais, nos aspectos hodiernos da corporação. O supramencionado livro é dividido em duas partes principais, que tratam, separadamente, da América do Sul como um conjunto e do Brasil, individualmente, em oito capítulos. Leia Mais
Contextos da justiça: Filosofia política para além de liberalismo e comunitarismo – FORS (NC-C)
FORST, Rainer. Contextos da justiça: Filosofia política para além de liberalismo e comunitarismo. Trad. Denilson Luis Werle. São Paulo: Boitempo, 2010. Resenha de: MELO, Rúrion. Automonia, justiça e democracia. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.88, Dez, 2010.
Um dos traços mais característicos da “renovação” da teoria crítica hoje é o enfrentamento dessa tradição de pensamento com o problema da legitimidade e da dimensão normativa das instituições políticas1. Cada vez menos os temas considerados pelas teorias críticas da sociedade permitem que se conclua pela “impossibilidade da democracia”2, levando antes à formulação de novos diagnósticos vinculados a uma concepção de crítica social mais radicalmente política e pluralista. Quando Seyla Benhabib alerta que “a negligência quanto a uma tal teoria política e democrática é um dos principais pontos cegos da teoria crítica da Escola de Frankfurt”3 e Jean Cohen e Andrew Arato chamam atenção insistentemente para o fato de que “a teoria crítica não pode mais manter seus propósitos práticos sem uma teoria política”, uma vez que “a crítica da razão funcionalista precisa ser complementada por uma teoria da democracia”4, esses autores sintetizam uma mudança fundamental na relação entre teoria social e filosofia política partilhada por diversos autores explicitamente filiados à tradição de pensamento que, desde Theodor Adorno e Max Horkheimer, se tornou conhecida como teoria crítica da sociedade5. Essa mudança teórica no projeto original esteve orientada, em linhas gerais, à investigação das “bases normativas da teoria crítica”6, ao vínculo entre o “potencial radical da democracia” e o “legado da Escola de Frankfurt”7, à retradução do núcleo crítico-emancipatório no interior da “programática democrática”8.
Para entendermos melhor o que estaria em jogo nessa mudança de projeto teórico, podemos recorrer brevemente à caracterização do que Axel Honneth chamou de “fraqueza teórica” da primeira geração da teoria crítica, ou seja, àquela formulação ligada principalmente aos nomes de Horkheimer e Adorno. Embora ambos tivessem recusado a referência de Marx à categoria do “trabalho” como conceito determinante da análise crítica da sociedade e da respectiva orientação emancipatória, os principais representantes da primeira geração permaneceram fechados diante de “todas as tentativas de considerar o processo histórico de um ponto de vista outro que não o do desenvolvimento do trabalho social”9. Esse fechamento acabou levando à desconsideração da dimensão da ação social, na qual convicções morais e intuições político-normativas se constituem independentemente, e priorizou, na interpretação dos processos sociais, as funções de expansão e reprodução do trabalho social. Em suma, subsistiria um “reducionismo funcionalista”, já presente em Marx, responsável por restringir a história humana a uma concepção instrumental de ação. A segunda geração começou a questionar decisivamente os déficits teóricos nos fundamentos normativos da primeira teoria crítica, lançando mão, sobretudo, de outro tipo de ação social que pudesse ao menos ser concebido ao lado do trabalho, e assim abrir caminho à análise da integração social e da dimensão normativa da interação social.
Jürgen Habermas foi o autor dessa tradição que primeiro trouxe à consciência teórica o diagnóstico de que “se esgotou a utopia da sociedade do trabalho”10 e pensou explicitamente o projeto futuro da teoria crítica segundo a necessidade de “superar o paradigma produtivista, sem abrir mão das intenções do marxismo ocidental”11. Representante mais importante da segunda geração da teoria crítica, Habermas desenvolveu diagnósticos significativos sobre a esfera pública e temas da moral, do direito e da democracia, buscando eliminar o que entendeu ser o déficit nos fundamentos normativos da crítica social. Também Axel Honneth, não obstante procurasse superar vários aspectos da teoria habermasiana, seguiu explicitamente a crítica ao paradigma produtivista, estabelecendo, agora na terceira geração, uma rica articulação entre crítica e filosofia social. Sua teoria do reconhecimento pretende compreender as formas de reivindicação política assim como a natureza específica dos conflitos e das lutas existentes nas sociedades contemporâneas. Uma das preocupações centrais de seu principal livro,Luta por reconhecimento, consistiu em investigar a lógica dos conflitos sociais, insistindo na necessidade de apresentar a dinâmica de tais conflitos a partir de sua gramática moral implícita12.
A renovação representada pelas segunda e terceira gerações da teoria crítica implicou, portanto, a inclusão de categorias que permitissem explicar mais adequadamente as novas formas de luta política e de mobilização cultural que ampliaram os sentidos da emancipação e configuraram atualmente os dilemas e os desafios da democracia contemporânea. Abandonaram-se necessariamente as orientações emancipatórias presas ao paradigma produtivista e se estabeleceu um rico diálogo entre a crítica da sociedade e concepções normativas preocupadas com questões de justiça política e social, com a dinâmica política de esferas públicas autônomas, com a participação da sociedade civil e com as lutas por reconhecimento (em que estão envolvidos os dilemas criados por diferenças culturais, orientação sexual, gênero, raça etc.) , ou seja, âmbitos de conflitos sociais que requerem uma reflexão renovada sobre a moral, a política e o direito.
Essa rápida e esquemática referência à história da teoria crítica tem o intuito de posicionar o livro de Rainer Forst, Contextos da justiça, no interior dessa mesma tradição teórica. Podendo ser considerado membro de uma “quarta geração” da teoria crítica, Forst voltou-se essencialmente para as questões do pensamento político contemporâneo e foi responsável por uma rigorosa reconstrução de um dos mais importantes debates filosóficos da atualidade no campo das teorias normativas. Suas preocupações teóricas giram em torno da articulação entre crítica social e filosofia normativa, da reconstrução dos temas clássicos do pensamento político moderno e do enfrentamento dos dilemas contemporâneos ligados às questões de justiça, tolerância, cidadania e direitos humanos13. Esse rico estoque de problemas indica de certo modo que aquele ponto cego denunciado por muitos autores entre a filosofia política e a tradição da teoria crítica vem sendo superado desde a segunda geração14. O passo inicial mais significativo de Forst resultou no exaustivo estudo sobre a justiça política e social a partir de uma visão sistemática e crítica do conhecido debate entre liberais e comunitaristas.
Contextos da justiça, que acabada de ser publicado no Brasil em rigorosa tradução de Denilson Luis Werle, procura analisar criticamente as respostas oferecidas à questão da justificação das normas que tornam legítimas relações jurídicas, políticas e sociais no interior de uma comunidade política. Além de contribuir para o esclarecimento dos conceitos fundamentais das teorias da justiça, Forst pretende também superar a oposição consolidada entre liberalismo e comunitarismo, apresentando uma proposta de solução conceitual própria. Seguindo uma rígida oposição entre os dois polos que compõem o debate analisado, os liberais procuraram fundamentar moralmente uma teoria da justiça abstraindo os contextos sociais concretos e priorizando as liberdades individuais em face de concepções substantivas do bem. Os comunitaristas, por sua vez, criticaram essa tese liberal da prioridade do justo perante o bem e enfatizaram o enraizamento da justificação normativa de concepções de justiça em autocompreensões e tradições constitutivas das comunidades políticas, de modo que só poderiam ser considerados justos aqueles princípios que resultam de um determinado contexto comunitário, e somente ali podem pretender validade. Todas as teorias que sublinham a prioridade do justo diante do bem acabam se mostrando “indiferentes ao contexto”, ao passo que a teoria comunitarista reforça uma posição “obcecada pelo contexto” (p. 11). Forst, indo além dessa oposição, acredita ser necessário formular uma teoria crítica da justiça capaz de justificar o ancoramento dos princípios normativos nos valores, nas práticas e nas instituições da comunidade política, compatibilizando dessa maneira os aspectos universalistas com a reivindicação de validade daqueles princípios para a autocompreensão e instituições sociais específicas.
A solução conceitual de Forst para os dilemas criados no interior do debate sobre a justiça leva em consideração quatro “contextos de problemas teóricos” em que aspectos da justificação normativa oferecidos por liberais ou comunitaristas podem se mostrar mais ou menos adequados. O próprio conteúdo do livro, portanto, divide-se nesses quatro planos conceituais críticos. Primeiramente, abordam-se criticamente a constituição do self e os pressupostos de uma concepção atomista de pessoa, típicos da formulação liberal; em segundo lugar, Forst critica a neutralidade do direito diante de visões de mundo e concepções sobre a vida boa que caracteriza a tese liberal da prioridade do justo sobre o bem; em seguida, o texto apresenta uma análise crítica da aposta comunitarista na força eticamente integradora da comunidade política; em quarto lugar, por fim, analisa criticamente a teoria moral universalista e seu vínculo a contextos concretos de justificação. Em cada um desses planos se esclarecem as posições antagônicas de justificação da justiça, as quais permaneceriam, numa “perspectiva horizontal”, meramente excludentes.
Forst pretende mostrar a possibilidade de “superar” tais oposições tradicionais segundo uma “perspectiva vertical” a partir de sua tese dos “contextos da justiça”. Uma teoria crítica da justiça precisa antes considerar as necessidades que podem surgir no contexto de socialização dos indivíduos e serem justificadas publicamente em dimensões ao mesmo tempo diferenciadas e interrelacionadas. Argumentos universalistas, pretensões de neutralidade jurídica e dimensões axiológicas compõem os contextos de reconhecimento e de justificação pública nos âmbitos da moral, do direito, da ética e da política. “Eles formam”, comenta Forst,
[…] quatro “contextos” de reconhecimento recíproco – como pessoa ética, pessoa do direito, cidadão(ã ) com plenos direitos, pessoa moral – que correspondem a diferentes modos de justificação normativa de valores e de normas em diferentes “comunidades de justificação”. A análise do debate entre teorias deontológico-liberais “que se esquecem dos contextos” e teorias comunitaristas “obcecadas pelo contexto” levou, com isso, a uma diferenciação de quatro contextos normativos nos quais as pessoas estão “situadas” (p. 275).
Desse modo, aquelas clássicas oposições entre “eticidade” e “moralidade”, bem e justiça, são vinculadas a processos de justificação da normatividade em que formas de vida culturais e políticas e determinações substantivas da justiça encontram-se atreladas a direitos e procedimentos imparciais. “Portanto”, segue o autor, “princípios de justiça são aqueles que são justificados de modo universal e imparcial na medida em que correspondem, de maneira apropriada, aos interesses, necessidades e valores concretos daqueles atingidos por eles” (p. 276). Pretende-se assim evitar uma “cegueira” em face dos contextos, bem como apontar os limites das orientações contextualistas que desconhecem o núcleo universalista das reivindicações por justiça. A harmonização desses diferentes contextos requer uma teoria da justiça que possa reuni-los de um modo mais adequado.
A reconstrução do debate entre liberais e comunitaristas apresentada no livro evita, por conseguinte, a mera defesa de uma ou outra posição, privilegiando avaliá -los como abordagens parciais para o problema da justiça. Para que seja suficientemente abstrata e concreta ao mesmo tempo, uma teoria crítica da justiça assume o vínculo essencial entre pessoas e comunidades e parte do ancoramento dos princípios de justiça a toda comunidade política. A oposição normativa entre universalismo e contextualismo só pode ser superada se trouxermos para o centro da discussão a questão de quais conceitos de pessoa e comunidade estão em jogo. A solução conceitual de Forst complementa criticamente as proposições globais tradicionais ao distinguir quatro conceitos de pessoa (pessoa ética, pessoa de direito, cidadão e pessoa moral) e de comunidade (ética, jurídica, política e moral) que correspondem a quatro contextos normativos diferentes e entrelaçados de modo complexo:
A identidade ética das pessoas é reconhecida e protegida juridicamente numa sociedade e, na verdade, por meio do direito estatuído de modo político autônomo no interior de uma comunidade política de membros com plenos direitos – direito esse que possui um conteúdo moral em seu cerne, que respeita a integridade de pessoas morais (p. 276).
O propósito crítico da diferenciação e da articulação dos diversos contextos consiste menos na separação entre o plano ético, jurídico, político e moral, do que na possibilidade de “comprovar a compatibilidade dos direitos individuais com o bem da comunidade, da universalidade política com a diferença ética, do universalismo moral com o contextualismo”, permitindo desse modo “evitar oposições falsas” (p. 13).
Podemos chegar às diferenciações internas que compõem os contextos aludidos considerando as relações entre pessoa e comunidade. A teoria liberal tendeu a desvincular o indivíduo de seus contextos de socialização ao priorizar uma concepção abstrata de pessoa como portadora de direitos ou como pessoa moral. As críticas republicanas e comunitaristas mostraram, ao contrário, que toda pessoa se individualiza nas comunidades em que são integradas. Porém, não sabemos ainda a quais comunidades pertencem as pessoas e quais são as normas e os valores que as integram. Se para o liberal a justiça está fundada num conceito abstrato de pessoa de direito – como portadora de direitos subjetivos e como sujeito de direito -, para o defensor do contextualismo toda pessoa está integrada eticamente a uma determinada comunidade de valores. Embora Forst também não acredite ser necessário reduzir um âmbito ao outro, “verticalmente” é possível justapô -los de acordo com contextos de justificação diferentes e igualmente legítimos: enquanto considero a comunidade político-jurídica e sua integração normativa segundo uma concepção política e pública de justiça, compreendo os indivíduos como pessoas que portam direitos; já as comunidades éticas se integram por diferentes tipos de concepções do bem – e não com base na imagem abstrata e universal da pessoa de direito -, de modo que a pessoa ética se torna, dessa perspectiva, membro de determinadas comunidades com as quais a identidade do self está vinculada. As relações éticas (constituídas por visões de mundo e concepções de bem ) não substituem relações jurídicas (em que se trata de atentar para direitos e deveres que formam a estrutura de relações reguladas juridicamente). Como diz Forst, “uma coisa é reconhecer uma pessoa como igual portador de direitos; outra coisa é reconhecê -la em todas as suas qualidades” (p. 40). O direito igual justifica-se segundo normas e princípios que pretendem ser universalmente válidos sem que recorramos a concepções de bem e valores particulares. Não importa quais concepções éticas e valores estão em jogo, normas jurídicas (bem como normas morais) têm de valer “para todos”: no caso do direito, as normas jurídicas valem para todos os parceiros do direito considerados membros de uma comunidade jurídica; normas morais, por sua vez, valem para todas as pessoas morais consideradas membros da comunidade dos seres humanos. A validade de normas éticas, contudo, depende da identificação dos indivíduos com determinados valores que formam suas identidades do ponto de vista de sua história de vida.
Um dos principais conceitos utilizados por Forst nas quatro dimensões como mediação para redefinir os conceitos de pessoa de direito, cidadania ou de uma moral universalista em contextos intersubjetivos diferenciados é o de autonomia. “Segundo esse conceito”, afirma Forst,
[…] as pessoas como agentes são, no sentido prático, seres “autônomos” autodeterminantes quando agem de forma consciente e fundamentada. Como tais são responsáveis por suas ações: podem ser questionadas acerca das razões pelas quais agiram. Como pessoas responsáveis, são aquelas “que se justificam” e esperamos que tenham considerado suas razões para agir, sendo capazes de justificá -las. Nesse sentido, as pessoas autônomas são razoáveis em termos de razão prática: possuem razões para agir que podem ser justificadas para elas mesmas e comunicadas e defendidas diante de outras, de modo que essas razões […] possam ser compartilhadas (p. 305).
Contudo, também uma diferenciação nos “contextos da autonomia” poderá nos mostrar quais questões práticas e quais respostas autônomas podem se apoiar em razões capazes de ser publicamente reconhecidas. A “autonomia ética” está ligada à validade de valores éticos e à autorealização da pessoa; a “autonomia jurídica” é característica de pessoas de direito e é assegurada a todos os destinatários do direito; a “autonomia política” é exercida pelo cidadão considerado autor dos direitos; e a “autonomia moral” é pressuposta nas pessoas como autoras e destinatárias de normas morais. A justificação normativa exercida nos distintos contextos pode validar argumentos e princípios de justiça em referência à autorealização ética, à liberdade pessoal de ação, à autolegislação política ou à autodeterminação moral. Em tais contextos novamente a própria constituição do self (em que a pessoa ética é considerada membro de uma comunidade constitutiva da identidade) pode se distinguir da pessoa de direito (membro de uma comunidade de direito), bem como o cidadão (que pertence à comunidade política) desempenha um papel diferente daquele da pessoa moral (pertencente à comunidade moral de agentes moralmente autônomos). Liberais e comunitaristas não compreenderam justamente que nenhuma dessas concepções de autonomia pode pretender ser a única válida como base da justiça. Por essa razão, a tarefa da análise crítica é saber como integrá-las, compatibilizá-las e perceber quando entram em conflito “de modo que uma dimensão não seja sacrificada em nome das outras” (p. 306).
O livro não se limita à analise crítica dos argumentos normativos sobre a justiça. Há também um importante balanço sobre os princípios de legitimação do poder político em sociedades complexas e pluralistas. Forst amplia o quadro de discussão analisando princípios de justificação pública ao debater com as correntes deliberativas da democracia, com a crítica feminista do liberalismo, dilemas multiculturais e com a literatura sobre a sociedade civil. Sua intenção é pensar criticamente os pressupostos socioculturais das sociedades democráticas, ou seja, entender como os cidadãos se compreendem como membros de uma comunidade política e sob quais condições justificam publicamente normas que retiram sua legitimidade de discursos democráticos. A crítica de Forst implica pensar a relação entre cidadania e justiça social a partir de um ethos democrático constitutivo das práticas de justificação da normatividade sem cair, contudo, na oposição liberal/comunitarista. Mesmo que os próprios cidadãos precisem se compreender como participantes e responsáveis na regulação e na ação políticas, não são os valores éticos compartilhados que orientam legitimamente suas pretensões por reconhecimento e realização de direitos. Orientam-se antes pelo ideal de cidadania ativa, de modo que ethos da democracia não consiste senão na realização das dimensões da própria autonomia do cidadão.
Forst mantém, assim, uma atitude crítica diante das teorias normativas existentes. Na verdade, Contextos da justiça não pretende ir além dessa análise exaustiva das justificações normativas contidas nos discursos teóricos que compõem o amplo debate entre liberais e comunitaristas, ficando para seu outro livro a tarefa de compatibilizar uma reconstrução teórica com a dimensão histórica, como no caso, por exemplo, dos fenômenos da tolerância15. De todo modo, não há teoria crítica sem que se enfrente as teorias capazes de representar da melhor maneira os problemas de nossa época. Assim como fez Marx em seu tempo ao empreender uma “crítica da economia política”, a tarefa atual implica necessariamente uma crítica das mais importantes correntes teóricas vigentes – embora não mais da economia política, mas sim da filosofia política contemporânea com sua pauta de problemas e desafios ligados à moral, ao direito e à democracia.16 E para tanto, a análise crítica não oferece uma “nova” teoria da justiça, apenas acusa a parcialidade das oposições vigentes, reconstruindo seu sentido. Nessa relação com a filosofia política, a teoria crítica também não precisa abrir mão dos fundamentos normativos em que se apoiam tais teorias, bastando justificá -los de forma mais adequada em face dos complexos contextos da justiça.
Notas
1 Cf. NOBRE, M. “Teoria crítica hoje”. In: KEINERT, M. e outros (orgs.). Tensões e passagens: filosofia crítica e modernidade. São Paulo: Singular/Esfera Pública, 2008, pp. 265-83.
2 AVRITZER, L. “Teoria crítica e teoria democrática”. Novos Estudos Cebrap, nº 53, 1999, pp. 167-188. [Links]
3 BENHABIB, S. Critique, norm, and utopia: a study of the foundations of critical theory. Nova York: Columbia University Press, 1986, p. 347. [Links]
4 ARATO, A. eCohen, J. “Politicsand the reconstruction of the concept of civil society”. In: HONNETH, A. e outros (orgs.) .Zwischenbetrachtungen: Im Prozess der Aufklärung. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1989, p. 493. [Links]
5 Cf. HONNETH, A. “Teoria crítica”. In: GIDDENS, A. e TURNER, J. (orgs.) . Teoria social hoje. São Paulo: Editora da Unesp, 1999, pp. 503-52. Ver também Nobre, M. A teoria crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
6 BENHABIB, op. cit., p. ix. [Links] Ver também BAYNES, K.The normative grounds of social criticism: Kant, Rawls, Habermas. Nova York: Albany, 1991. [Links]
7 BOHMAN, J. Public deliberation: pluralism, complexity, and democracy. Massachussetts: MIT, 1996, p. 20. [Links]
8 WELLMER, A. “Bedeutet das Ende des’realenSozialismus’auchdasEnde des Marxschen Humanismus?”. In: Endspiele: Die unversöhnliche Moderne. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1993, p. 91. [Links]
9 HONNETH, op. cit., p. 517. [Links]
10 Cf. HABERMAS, J. “Volkssouveränität als Verfahren”. In:Faktizität und Geltung. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1998, p. 602.
[11] Ibidem. “Ein Interview mit der New Left Review“. In: Die Neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1985, p. 217.
12 Cf. HONNETH. A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003.
13 Cf. FORST, R. Toleranz im Konflikt. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2003; Ibidem. “Os limites da tolerância”. Trad. Mauro Soares. Novos Estudos Cebrap, nº 84, 2009, pp. 15-29; Ibidem. Das Recht auf Rechtfertigung. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2007; Forst e outros (org). Sozialphilosophie und Kritik. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2009. Ver também seu programa de pesquisa social desenvolvido ao lado de Klaus Günther, “Innenansichten: Über die Dynamik normativer Konflikte”. In: Forschung Frankfurt 2/2009. O subtítulo de seu próximo livro (no prelo) remete a uma junção explícita entre filosofia política e teoria crítica, a saber, “perspectivas de uma teoria crítica da política”. Cf. Forst. Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse: Perspektiven einer kritischen Theorie der Politik. Frankfurt/M: Suhrkamp (no prelo).
14 Os limites existentes nessa “virada normativa” não foram desconsiderados mesmo por aqueles que se preocupam com uma renovação da tradição da teoria crítica. Cf. Honneth. “Das Gewebe der Gerechtigkeit. Über die Grenzen des zeitgenössischen Prozeduralismus”. In: Das Ich im Wir: Studien zur Anerkennungstheorie. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2010, pp. 51-77.
15 Cf. FORST, R. Toleranz im Konflikt, op. cit.
16 Cf. o programa de pesquisa apresentado em Forst e Günther, op. cit.
Rúrion Melo – Professor de Teoria Política do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp e pesquisador do Núcleo Direito e Democracia do Cebrap.
Globalização, Democracia e Terrorismo – HOBSBAWM (CTP)
HOBSBAWM, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Tradução de José Viégas. Resenha de: SILVA, Karla Karine de. Sobre a Globalização, a Democracia e o Terrorismo. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 01 – Outubro de 2010.
Em seu mais recente livro, Globalização, Democracia e Terrorismo (Tradução José Viegas. São Paulo: Companhia das Letras Ed. 2007, R$ 36,00), o historiador egípcio Eric Hobsbawm reúne uma coletânea de palestras e conferências pautadas em alguns dos temas mais atuais da contemporaneidade. Dividida em dez capítulos, sua obra analisa fatos e situações focadas principalmente nos séculos XX e XXI. Hobsbawm aborda diferentes e relevantes problemas, como os impérios hegemônicos estabelecidos por Estados Unidos e Grã-Bretanha e suas diferenças; o fim da Guerra Fria e suas conseqüências; a democracia em suas diversas particularidades; o terrorismo, esta novidade apenas aparente na geopolítica, a crescente violência e seus deslocamentos de eixos; a expansão do Império norte-americano. Todos os escritos são permeados por discussões sobre guerra, paz, segurança, nacionalismo, globalização, economia e ordem pública. Há também considerações significativas sobre o futebol, relacionado com criatividade a alguns dos temas mencionados.
Eric Hobsbawm nasceu em Alexandria, em 1917, e educou-se na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra. Historiador contemporâneo, recebeu o título de doutor honoris causa em universidades de diversos países. Lecionou até se aposentar no Birkbeck College, da Universidade de Londres, e posteriormente na New School for Social Research, de Nova York. Publicou no Brasil obras como Era dos Extremos (1995), Ecos da Marselhesa (1996), Sobre História (1998), O Novo Século (2000) e Tempos Interessantes (2002).
Embora não deixe de mencionar exemplos sobre guerra, globalização e terrorismo em um punhado variado de países nos cinco continentes, as conferências selecionadas para o livro concentram-se nas políticas norte-americana e britânica. Hobsbawm deixa claro sua crítica e contrariedade ao expansionismo do governo de George W. Bush (2000-2008). O historiador põe em perspectiva comparada os fenômenos que fizeram desses países – EUA e Inglaterra – grandes impérios, ao mesmo tempo em que apresenta suas diferenças. Tratando-se da Grã-Bretanha, centro da economia mundial no século XIX, Hobsbawm explica que suas pretensões expansionistas eram, e são, sobretudo comerciais. Dos anos 1800 até a primeira metade do século XX, o império britânico era o maior exportador de produtos manufaturados, ainda detentor de uma força naval incomparável e, embora tenha encontrado um forte concorrente tecno-industrial (EUA) no século seguinte, reestruturou-se no mercado investindo ainda mais em instituições financeiras, bancos e exportação de capitais.
Os EUA também têm um vasto mercado-mundo tecno-industrial e sua frota aérea não enxerga concorrentes. Entretanto, sua política externa expansionista pautada em parte na exportação do chamado “modelo americano de ser”, e mais incisivamente pela ocupação militar de países mais fracos, valendo-se da ideologia que Hobsbawm classifica de “uma missão imperial (…) a implicação messiânica da convicção fundamental de que sua sociedade livre é superior a todas as demais e está destinada a tornar-se o modelo global”, difere em muito dos ideais britânicos de superioridade. O reconhecimento de seus limites e da não interferência nas políticas internas dos países “ocupados” economicamente pela Grã-Bretanha, impedem-na de cair na megalomania messiânica americana.
A ênfase que Hobsbawm confere às discussões sobre as hegemonias norte-americana e britânica se justifica pelo fato de que, diante das crises mundiais, – principalmente as que emergiram com o fim da “Guerra Fria” – apareceram pequenos Estados independentes e internamente conflituosos. Isto facilitou o acesso de grupos terroristas a armamentos mais sofisticados, aumentou da violência e inflacionou as guerras civis (as guerras larvais em “países sem importância” para os falcões do exército americano são o melhor exemplo disto). O mundo Pós-Guerra Fria experimentou histerias diante de catástrofes (aquecimento global), pandemias (AIDS, gripe aviária) e viu, pela TV e Internet, a ascensão da propaganda do terrorismo. Por isto, o historiador afirma que é urgente a necessidade que os povos têm de um sistema governamental que interfira positivamente como agente promotor da ordem global. Seriam os EUA, potência mundial militar e tecnológica, tal agente? Esta questão permeia toda a obra do autor, especialmente os capítulos seis a oito.
O conceito atual de democracia-liberal, muito distante dos seus ideais originais, tem sido desculpa para as “intenções” messiânicas americanas. O autor ressalta que esta proposta estadunidense não resolve os problemas, tampouco está ali o modelo de governo a ser seguido pelas nações do mundo. As diferenças culturais, as necessidades de cada povo e as variadas concepções de mundo dentro das culturas, elegem qual modelo de governo adéqua-se melhor aos problemas das diversas sociedades.Neste sentido, a ânsia de um governo adequado às necessidades de um grupo ou a resposta a algum tipo de imperialismo, tem alimentado a crescente onda de terrorismo. A análise de Hobsbawm sobre os agentes do terror e os elementos que lhe dão embasamento é provocativa. Ele considera que este não se concentra em grupos ativistas específicos como, por exemplo, ETA, IRA, Al-Qaeda, Hamas, Al Fatah, Jihad Islâmica da Palestina, Hezbollah, Tigres Tâmeis, Partido dos Trabalhadores do Curdistão etc., mas acentuadamente está presente em Estados (autoritários ou liberais), nas suas táticas de coerção e “controle”.
Em suma, Globalização, Democracia e Terrorismo traça vividamente um painel do cenário político internacional analisando a situação mundial e os problemas mais agudos com que nos confrontamos atualmente. Mais do que uma mera apresentação da situação mundial, o autor deixa claro sua oposição às intervenções armadas como desculpa para resolver questões internacionais. Condena fortemente as pretensões imperialistas e hegemônicas, aceleradoras da violência e, sobretudo, demonstra sua preocupação com o colapso no qual o mundo se encontra atualmente. Em época de guerras, falências e forte crise econômica, uma obra como esta pode nos auxiliar a observar de maneira crítica as ondas rápidas dos acontecimentos no tempo presente.
Karla Karine de Jesus Silva – Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe. Bolsista PIBIC/CNPq. Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente – GET.
A gramática do tempo: para uma nova cultura política – SANTOS (RF)
SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma nova teoria política crítica: reinventar o estado, a democracia e os direitos humanos. In: ______. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. Resenha de: TENÓRIO, Camila Muritiba. Da inevitabilidade da crise da modernidade à criação de um novo contrato social. Revista FACED, Salvador, n.18, p.103-110, jul./dez. 2010.
Boaventura de Sousa Santos é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale e professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na qual exerce também a função de diretor do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Documentação 25 de Abril. O autor nasceu em Coimbra, em 1940, e possui hoje uma extensa bibliografia, composta de ensaios, artigos, livros e até mesmo poemas, que constituem embasamento para profissionais de diversas áreas. São algumas de suas obras mais importantes os livros Introdução a uma ciência pós-moderna, publicado em 1989; Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, datado de 1994; e A gramática do tempo: para uma nova cultura política, de 2006, o qual constitui objeto deste estudo.
Neste volume da coleção Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a politica na transição para digmática, Santos discorre sobre o Estado moderno ocidental e a crise que sofre este contrato social que, ao mesmo tempo em que busca gerir as desigualdades e exclusões, é responsável por sua expansão. A obra A gramática do tempo: para uma nova cultura política observa o colapso da modernidade para o qual a única solução seria uma transformação social capaz de inventar uma nova democracia e, consequentemente, um novo modelo de Estado.
Na terceira parte da supracitada obra, o autor se ocupa de uma das contradições que caracterizam a sociedade moderna, isto é, a antinomia existente entre os princípios de emancipação – que correspondem à igualdade e à inclusão social – e os princípios de regulação – que se referem à desigualdade e à exclusão.
O sociólogo aborda as particularidades que envolvem os termos desigualdade e exclusão, cujo significado aparece de forma distinta conforme o momento histórico e a sociedade em que se desenvolve. Tanto a desigualdade como a exclusão são sistemas de pertença hierarquizada, mas enquanto na primeira a pertença se dá pela subordinação, na segunda ocorre pela não-pertença.
A desigualdade é um fenômeno socioeconômico assentado na integração social, de forma que os desiguais compreendem parte indispensável da sociedade, contudo ocupantes do setor mais baixo. Seu grande teorizador é Karl Marx, que enfatizou a desigualdade entre capital e trabalho. Já a exclusão tem sua base na segregação, configurando-se como fenômeno sociocultural profundamente desenvolvido por Michel Foucault. A estes sistemas de hierarquização somam-se o racismo e o sexismo, figuras híbridas que combinam desigualdade e exclusão.
A gestão controlada das desigualdades e da exclusão tem sua base ideológica no universalismo, seja pela homogeneização e consequente descaracterização das diferenças – universalismo antidi-ferencialista –, seja pela absolutização das diferenças, tornando-as incomparáveis – universalismo diferencialista.
Conforme Boaventura de Sousa Santos, esse tipo de gestão passou a ser, devido às pressões sociais, uma preocupação do Estado, cuja proposta, longe de buscar eliminar esses elementos, corresponde à manutenção da desigualdade dentro de níveis toleráveis, por meio de políticas sociais, e à relativização da exclusão, a partir da distinção entre as formas aceitáveis e aquelas não aceitáveis socialmente. O Estado Moderno vive, então, um modelo de regulação social que produz a desigualdade e a exclusão, mas procura mantê-las dentro de limites funcionais.
A aplicação desse formato de gestão ocorreu por intermédio da social-democracia e do Estado-Providência, isto é, pela própria negociação entre capital e trabalho, com o Estado promovendo o pleno emprego e uma política fiscal redistributiva.
O autor afirma a necessidade de se rever o modelo moderno de regulação social, já que o pilar “comunidade” parece ter sido olvidado. Há, assim, não dois, mas três pilares básicos: Estado, mercado e comunidade, estando os dois últimos compreendidos no que se intitula sociedade civil. É com base nesse terceiro pilar que se observará a reinvenção do Estado-Providência, de modo que as áreas sociais não regulamentadas pelo Estado não precisariam seguir uma lógica mercadológica, sendo organizadas por meio do elemento comunidade.
A intensificação do processo de globalização econômica e cultural tem acarretado alterações no sistema de desigualdade e exclusão. Economicamente, tem-se a revolução tecnológica que levou a um aumento do desemprego estrutural que, por sua vez, torna precária a integração hierarquizada garantida pelo trabalho, passando este a constituir mais um elemento de exclusão que de desigualdade. Por outro lado, culturalmente, o que se percebe é a eliminação das culturas locais por meio da imposição de uma cultura dominante, um modelo de massa e uma ideologia do consumo.
Se a globalização da economia ocasiona a mutação do sistema de desigualdade em sistema de exclusão, a globalização da cultura opera em sentido inverso, ocorrendo, assim, uma metamorfose no sistema de desigualdade e exclusão. Esta metamorfose, aliada a uma insuficiência de recursos para manter as políticas redistributivas, evidenciam uma crise no Estado Moderno. Diante deste contexto, o autor encontra na articulação entre as políticas de igualdade e de identidade uma orientação para a criação de novas formas democráticas multiculturais e consequente reinvenção do Estado.
O sociólogo pondera sobre o contrato social, o qual se funda na permanente tensão existente entre regulação e emancipação, isto é, entre o interesse público por um Estado capaz efetivamente de gerir a sociedade e o interesse particular por liberdade.
Percebe-se que o contrato social encontra-se embasado em três critérios de inclusão e exclusão: 1- inclui apenas o ser humano, excluindo a natureza; 2- inclui os cidadãos e exclui os não-cidadãos; 3- inclui o espaço público, excluindo a esfera privada. A gestão dessas tensões ocorre por meio dos princípios de interação – o regime geral de valores –, dos indicadores quantitativos, escalas e perspectivas – o sistema comum de medidas – e do espaço de deliberação nacional – o espaço tempo privilegiado.
O objetivo da contratualização é garantir a legitimação do governo, o bem-estar econômico e social, a segurança e a identidade cultural nacional. A persecução destas metas levou à politização do Estado, que vem expandindo a sua capacidade de regulação, e à socialização da economia por meio do reconhecimento da luta de classes, destacando-se neste processo a atuação dos sindicatos. Outra implicação da implementação do contrato social é a nacionalização da identidade cultural nacional, o que tem reforçado os critérios de exclusão e inclusão.
Hodiernamente, contudo, o contrato social está em crise, o que pode ser observado em seus pressupostos. O regime geral de valores não tem resistido à fragmentação da sociedade, de modo que grupos sociais distintos possuem significados distintos para os mesmos valores. O sistema comum de medidas encontra-se em momento de agitação, afetando a estabilidade das escalas.
O espaço-tempo nacional desaparece para dar lugar ao global e ao local. Essas mudanças evidenciam um aumento da exclusão e das desigualdades, afetando a estrutura moderna de Estado.
Boaventura de Sousa Santos afirma que o maior risco para a sociedade é a insurreição de um regime fascista, que pode assumir quatro diferentes formas: 1- apartheid social, isto é, uma divisão dentro das cidades entre zonas selvagens e zonas civilizadas; 2- fascismo paraestatal, em que atores sociais se sobrepõem ao Estado nas tarefas de coerção e regulação; 3- fascismo da insegurança, no qual há disseminação do medo e da ilusão de que apenas grupos privados podem propiciar a segurança que o Estado não é capaz de oferecer; 4- fascismo financeiro, em que os mercados financeiros passam a influenciar e regular outros setores da sociedade.
A necessidade de se evitar a iminente crise que o contrato social exige, consoante o sociólogo, que sejam obedecidos três princípios: pensamento alternativo de alternativas, ação-com-clinamen (ações rebeldes) e espaços-tempo de deliberação democrática.
Enfim, o autor discute a construção de um novo contrato social, com a reinvenção solidária e participativa do Estado. A transformação social possui dois paradigmas: a revolução e o reformismo. Enquanto este traz o Estado como agente capaz de solucionar os problemas da sociedade civil, aquele trata da necessidade de re¬forma no próprio Estado.
O paradigma do reformismo prevaleceu no sistema mundial com a criação do Estado-Providência, cuja atuação se desenrola seguindo estratégias de acumulação de capital, hegemonia e con¬fiança. Foi a partir da desarticulação das duas últimas estratégias e decorrente ascensão da estratégia de acumulação que, em 1980, começou a crise deste paradigma.
Após o reformismo, inaugurou-se a fase do Estado mínimo, em que o Estado era considerado irreformável e, portanto, deveria interferir o mínimo possível na sociedade civil, confirmando a ideologia neoliberalista. Somente com a superação desta fase foi possível assimilar a questão da reforma, disseminando o paradig¬ma da revolução. É neste ponto que Santos começa a pensar uma reinvenção que não observe a concepção dominante de Estado¬-empresário – que prega a privatização e a adoção dos critérios de produtividade importados da esfera privada na administração pública –, mas, sim, empregando a concepção de Estado-novíssimo¬-movimento-social.
A reinvenção do contrato social, assim, passa pela articulação do terceiro setor, o qual deve sofrer uma reforma simultânea com o Estado, em que sejam coordenadas a democracia representativa e a democracia participativa.
Neste contexto, torna-se essencial a redescoberta democrática do trabalho, com redução da jornada laboral, estabelecimento de padrões salariais mínimos, reforço na qualificação profissional e, finalmente, reinvenção do movimento sindical com participação direta dos trabalhadores.
A democratização do trabalho, a participação popular nas decisões de Estado, bem como a reconstrução dos direitos humanos e o reconhecimento da diferença são pontos chaves de discussão nesta obra, constituindo-se a base para a criação de um novo pacto social.
Diante dos argumentos expostos por Boaventura de Sousa San¬tos, percebe-se que o autor, partindo da noção de contrato social, trata da tensão existente entre regulação social e emancipação social. Esta parece ser uma questão recorrente sempre que se discute a contratualização, com a irreversível transição do homem do estado de natureza para o estado civilizado.
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) já discorria sobre a dificuldade de se manter a liberdade individual, direito natural do homem, apesar da necessária sujeição à vontade do Estado.
O problema, então, seria “trouver une forme d’association qui défende et protège de toute da force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’a lui-même et reste aussi libre qu’auparavant1”. (ROUSSEAU, 1978, p.178) A solução seria a contratação de um pacto não orientado pela violência e coerção, mas sim pela vontade geral, de forma que cada constituísse parte indissociável do Estado, de forma que a obediência a este não fosse mais que a obediência à própria vontade.
O pacto social rousseauniano funda-se, destarte, no conceito de vontade geral, isto é, na noção de comunidade. Santos recupera a ideia de comunidade do contratualista, identificando-a como um novo pilar que representa, junto ao Estado e ao mercado, a tríade que sustenta o contrato social. A ação da comunidade desenvolveria uma democracia participativa e retiraria do mercado a regulação das áreas sociais privatizadas.
A comunidade em Santos representa o terceiro setor privado e não fundamentado na lógica mercadológica. A inclusão deste terceiro pilar na modernidade levaria à criação de um novo modelo de regulação, no qual, por meio da luta social, seria alcançado um equilíbrio entre regulação e emancipação, tal como apresentado no séc. XVIII por Rousseau.
Conquanto Boaventura de Sousa Santos desenvolva seus argumentos com base no conceito de comunidade fundado por Rousseau, suas ideias são bastante atuais e inovadoras, já que evidenciam a crise do Estado moderno e sugerem uma reforma que validaria um modelo contemporâneo de regulação social.
Neste sentido, observam-se ainda as discussões desenvolvidas por autores como Wampler e Avritzer (2004), que também buscam, por meio da participação e deliberação pública, uma mudança social substancial que possa impulsionar a democracia. Afirma-se a importância da sociedade civil no processo de decisões, especialmente do envolvimento da comunidade.
A diferença basilar na obra de Santos, quando comparada à de Wampler e Avritzer (2004) reside no fato de que, enquanto estes mostram-se confiantes no modelo de participação adotado hoje no Brasil, aquele não percebe ainda alterações significativas no Estado atual, que ainda vive a crise em seu modelo de regulação. As perspectivas de Santos, entretanto, são positivas – embora um tanto utópicas, como designadas pelo próprio autor – quanto à possibilidade real de reforma social e política do Estado.
A importância do consenso para garantir a legitimidade de um Estado é ressaltada por Carlos Nelson Coutinho (1995), trazendo novamente a ideia aristotélica de interesse comum em oposição à visão liberal de John Locke de que o bom governo é aquele que assegura os interesses e direitos individuais. As exclusões e desigual¬ades constantemente evidenciadas na modernidade por Santos representam a marca do séc. XIX, na vigência do Estado Liberal.
Contrariando as afirmações de Santos, Coutinho (1995) não acredita na reforma do Estado sob a égide do capitalismo, já que este modo de produção não se coaduna com a plena cidadania política e social, que apontaria para a instauração do socialismo.
Os dois autores, todavia, reconhecem que se está diante de uma crise que exige um reordenamento da sociedade, mas diferem quanto ao meio que deve ser empregado para solucioná-la.
Santos não adota uma abordagem institucionalista, pois afirma ser imperativa a atuação da comunidade na regulação do Estado, contudo, defende posicionamentos que remetem ao institucionalismo de Marta Arretche (2007) quando afirma que a criação do terceiro setor, ao qual se atribui a tarefa de democratizar o Estado, depende da promoção de políticas estatais. Arretche (2007) destaca a importância de se estudar as instituições políticas, já que elas têm o condão de influenciar no comportamento dos atores políticos, e, como resultado, podem garantir a representatividade, a estabilidade e a democracia.
É o Estado que deve tomar a iniciativa, por meio de suas políticas, para desenvolver um terceiro setor forte. No entanto, é a partir da colaboração entre comunidade e Estado que se garante a natureza democrática dessas políticas públicas. A resposta, en¬tão, não estaria numa visão institucionalista, nem numa teoria da sociedade civil, mas naquilo que os autores Wampler e Avritzer (2004) denominam de públicos participativos, isto é, uma esfera de deliberação que surge da conexão entre Estado e sociedade.
Poder e comunidade apresentam-se, segundo Francis Wolff (2003), como as duas instâncias da política, remetendo mais uma vez à tensão entre regulação e emancipação que está no centro das discussões em Santos. Ao mesmo tempo em que o homem busca a vida em sociedade para garantir a igualdade, a liberdade e a paz, ele precisa de um poder central – o Estado – para regular e agir coercitivamente sobre esta mesma sociedade. Mais uma vez depara-se com a crise do contrato social e a emergência do contrato rousseauniano como resposta a essas tensões.
Boaventura de Sousa Santos revela que a solução para a crise da modernidade estaria, então, na criação de um novo pacto social que pudesse equilibrar as tensões entre regulação e emancipação, o que somente pode ser logrado a partir do fortalecimento do terceiro setor e democratização do Estado, unindo sociedade civil e sociedade política, comunidade e Estado.
Notas
1 Tradução da autora: encontrar uma forma de associação que defende e protege de todas as forças comuns a personalidade e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, entretanto, a ninguém outro que a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes.
Referências
ARRETCHE, Marta. A agenda institucional. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 64, jun. 2007.
COUTINHO, Carlos Nelson. Representação de interesses, formulação de políticas e hegemonia. In : TEIXEIRA, Sonia (Org.). Reforma sanitária: em busca de uma teoria. São Paulo: Cortez, 1995. p. 47-60.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Du contrat social. Paris: Librairie Générale Française, 1978.
WAMPLER, Brian; AVRITZER, Leonardo. Públicos participativos: sociedade civil e novas instituições no Brasil democrático. In: COELHO, Vera; NOBRE, Marcos (Org.). Participação de deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004. p. 210-238.
WOLFF, Francis. A invenção da política. In: NOVAES, Adauto (Org.). A crise do Estado-Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 23-54.
Camila Muritiba Tenório – Analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Email:[email protected]
La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina | Emilio Crenzel
Apenas dos palabras conforman la frase más emblemática de la lucha por los derechos humanos en Argentina, frase que sintetizaba el deseo compartido de clausurar definitivamente un pasado traumático: nunca más. Ese fue el nombre elegido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para dar a conocer su informe acerca de las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar argentina. El informe Nunca más, publicado en 1984, generó un gran impacto entonces y años después. Por un lado, contribuyó a sentar las bases del acuerdo social sobre el cual se estableció la restauración democrática. Por el otro, configuró la interpretación de la memoria colectiva sobre el pasado reciente.
Sin embargo es llamativa la ausencia de estudios sobre la historia política de ese informe, considerando el amplio consenso que la memoria del Nunca más logró construir en los años de la transición hacia la democracia. En La historia política del Nunca más el sociólogo Emilio Crenzel explora los procesos que signaron la elaboración de dicho informe, así como los usos y resignificaciones de los que fue objeto con el transcurso del tiempo. En su libro analiza cómo la interpretación del pasado del Nunca Más se fue convirtiendo en la memoria hegemónica, asociada a la estrategia de legitimación del incipiente gobierno constitucional tendiente a clausurar un ciclo e inaugurar una nueva etapa democrática. Es que el informe Nunca más cristaliza la “teoría de los dos demonios”, que afirma que en Argentina existió una guerra entre dos “demonios” (la “guerrilla” y las Fuerzas Armadas) en la que la sociedad, como víctima inocente, quedó atrapada por la violencia desatada entre ellos. Desde esta perspectiva los jefes de ambas organizaciones eran los únicos responsables y culpables por lo acontecido. Esta interpretación, institucionalizada además con el juicio a la cúpula militar en 1985, ofreció una visión del pasado cercano acorde con las necesidades y expectativas del momento. Leia Mais
Cinco memórias sobre a instrução pública – CONDORCET (ES)
CONDORCET, Marques de. Cinco memórias sobre a instrução pública. São Paulo: Editora da Unesp, 2008. Resenha de: PIOZZI, Patrizia. Ensino laico e democracia na época das Luzes: as “memórias” de Condorcet para a instrução pública. Educação & Sociedade, Campinas, v.30 no.108 Out. 2009.
Lançado pela Editora da UNESP, com belo texto de apresentação da tradutora, a filósofa Maria das Graças de Souza, chegou às livrarias, em meados de 2008, Cinco memórias sobre a instrução pública, de Condorcet, um clássico do pensamento das Luzes, disponibilizando ao leitor brasileiro um dos projetos pioneiros para a implantação de sistemas nacionais de educação. Referência obrigatória no debate travado pelos iluministas e pelos revolucionários franceses sobre o papel do conhecimento na construção de uma convivência humana mais justa e feliz, “as memórias” circularam pela primeira vez, em Paris, em 1791, em quatro números do jornal Biblioteca do Homem Público, em meio às lutas e confrontos que dilaceravam as várias tendências atuantes na Assembléia Nacional Constituinte. Alguns anos mais tarde, poucos meses antes de sua misteriosa morte na prisão, no período jacobino, ao examinar os caminhos e descaminhos que marcam a história dos “progressos dos espíritos humanos” (Condorcet, 1993), o filósofo pressentia o advento próximo da época de ouro da humanidade, em que a razão e a justiça irradiariam de luz todos os cantos da terra. Os sinais dos novos tempos evidenciavam-se nas descobertas e novas concepções florescidas no âmbito das ciências naturais e da investigação filosófica ao longo dos séculos XVII e XVIII, cujo impacto contribuía sobremaneira para as transformações econômicas e políticas em curso no mundo ocidental.
Dando origem a uma auspiciosa simbiose, as perspectivas de maior prosperidade para todos, abertas pela mecanização do trabalho e pela universalização do comércio, se aliavam ao grande avanço das ideias de igualdade e liberdade, seja no debate intelectual, seja no movimento histórico concreto, inaugurando a “era das revoluções”. Neste contexto amplo, a longa luta das Luzes em prol da liberdade política e da justiça social vivia uma conjuntura extraordinariamente propícia na França revolucionária, onde, pela primeira vez na história da humanidade, a revolta das massas populares contra a miséria e a opressão se fundia ao ideário emancipatório dos “philosophes”. No entanto, o exame atento dos fatos recentes e do passado mais longínquo indicava ao filósofo que nem o progresso das ciências e artes, nem o estabelecimento da democracia política impediriam o surgimento de novas formas de domínio e desigualdade, se os povos não fossem esclarecidos em torno das leis e regras que governam o “cosmos” das coisas e dos homens, aprendendo a aplicá-las, corrigi-las, inová-las de forma inteligente e criativa. Apenas uma pedagogia empenhada em “ilustrar” todos os seres humanos, independentemente de seu país e religião, poderia assegurar a vitória universal e o exercício efetivo dos direitos políticos e sociais conquistados pelas revoluções e fixados nas leis.
Prioridade máxima no programa de reforma social e política das Luzes, a batalha pela popularização do conhecimento, desdobrando-se entre a intervenção direta no campo da cultura e a elaboração de projetos para a renovação educacional, produzia um amplo leque, e embate, de propostas entre os que se posicionavam a favor de uma instrução universal, porém não única, reservando aos filhos do povo um percurso escolar mais curto, fácil e de caráter “instrumental”, e aqueles que advogavam a legitimidade, e necessidade, de um ensino igual para todos. Na esteira dos projetos mais arrojados e libertários dos enciclopedistas, as “memórias” de Condorcet expõem seu ideal de uma instrução pública radicalmente laica, unificada, aberta a todos, explicitando os princípios e fundamentos filosóficos que iriam nortear, um ano mais tarde, o plano de reforma das instituições educacionais francesas, por ele redigido e apresentado à Convenção em nome da comissão encarregada de sua elaboração (Condorcet, 2000).
A publicação desta obra no Brasil é de grande relevância, não só por se tratar de um marco clássico na história do pensamento pedagógico moderno, mas, também, por sua candente atualidade em nosso país, em uma conjuntura em que as questões da qualidade, conteúdo e natureza laica do ensino público ocupam grande espaço nos debates da área, empenhados em definir os alcances e limites efetivos do direito universal à educação garantido na letra da lei.
Em contraste com toda forma dual de instrução, em que os trabalhadores pobres, privados do tempo necessário ao cultivo da mente, ficam aprisionados a um ensino operativo, mero treinamento para executar tarefas, enquanto os caminhos das ciências e artes são destinados àqueles agraciados pela riqueza ou por um talento extraordinário, seu projeto situa-se na perspectiva da formação intelectual, orientada pelo pressuposto de que todos os homens são seres dotados de sensibilidade e aptidão para formar raciocínios complexos e ideias morais. A progressão escolar, cujo sentido e objetivos gerais são apresentados na Primeira Memória, consta de três níveis. A educação comum, correspondente à nossa escola básica, objeto da Segunda e Terceira Memórias, destinase a transmitir as verdades já descobertas para sua aplicação inteligente e criativa na vida social e política; o Quarto Memorial, dedicado à educação profissional, correlato de nosso ensino superior e técnico, trata dos conteúdos específicos, extraídos do universo científico e artístico, adequados a uma “prática ilustrada” das profissões; enfim, o Quinto Memorial discorre sobre o estudo “acadêmico”, aprofundado, nas várias áreas do conhecimento, preparando os alunos para empreender a viagem por sendas inexploradas, na perspectiva de novas descobertas.
Muito além da garantia formal do acesso e permanência sem custos, o caráter democrático da progressão escolar aí imaginada consiste no fato de que, independentemente da diferente complexidade dos métodos e conteúdos, o ensino dirige-se, em todos os seus níveis, a estimular as dimensões analítica, crítica e inventiva da mente humana. Adotando por diretriz a certeza do vínculo essencial entre teoria e prática e tendo em sua base um letramento que privilegia a análise rigorosa de fatos e “verdades”, conduzida por uma argumentação clara, simples e enxuta, a pedagogia proposta pretende propiciar a “autonomia”, entendida como capacidade de julgar e corrigir as leis, regras e fatos que tecem as relações dos homens com a natureza e entre si. Para a consecução desses objetivos, centra-se, desde a fase mais elementar, no ensino das ciências físicas e morais, consideradas mais úteis e adequadas à intervenção prática no mundo. No entanto, não subestima, em momento algum, a importância da fruição artística e literária para o refinamento do gosto e o alimento dos espíritos: o teatro popular figura no texto ao lado das conferências dominicais para adultos, festas cívicas e outras modalidades culturais, instrumentos essenciais para combater o embotamento da sensibilidade e do intelecto resultante das atividades manuais e mecânicas, predominantes na vida dos trabalhadores pobres.
O empenho permanente em potenciar os atributos racionais e sensitivos comuns a todos os membros da cidade humana desvenda ao leitor o amplo sentido emancipatório do ensino radicalmente laico aí proposto: não se trata apenas de proibir o ensino religioso, nas instituições educacionais financiadas pelo Estado, por seu caráter excludente, potencial viveiro de intolerância e fanatismo, mas de fortalecer as mais altas faculdades humanas, dirigindo-as ao questionamento de todas as certezas estabelecidas, inclusive as científicas e filosóficas, zelando para que não se tornem doutrinas, novos objetos de culto. A adesão cega e imediata a mitos, preceitos e “conceitos”, responsável por estagnar o incessante movimento expansivo dos corações e mentes dos homens, encontra seu terreno mais fértil na ignorância e obtusidade permanentemente repostas pela exclusão do universo da cultura e do conhecimento a que são condenados os que vivem prisioneiros do “reino da necessidade”. Nesta ótica, a defesa do ensino laico está essencialmente vinculada à garantia da independência intelectual dos professores, seja da religião dominante, seja da doutrina política dos governantes. A liberdade de ensino, não apenas nas salas de aula, mas, também, nas escolhas do corpo docente, na forma de sua remuneração, na seleção dos livros didáticos, é imprescindível para garantir aos alunos a conquista da “faculdade” de julgar e agir autonomamente.
Um fio condutor une aqueles que, no nível básico, aprendem a aplicar as verdades já descobertas nos trabalhos e negócios cotidianos e no exercício da cidadania, aos que chegam a se apropriar dos conteúdos específicos necessários à atuação mais esclarecida nas profissões e, enfim, àqueles que iniciam a viagem ao mundo desconhecido das descobertas futuras: todos aprendem a analisar, criticar e inventar, contribuindo, de forma diferente, ao avanço das ciências e das artes e ao crescimento do bem estar coletivo.
A relevância e atualidade deste texto para a área da educação consistem em explicitar uma proposta de instrução pública que, na estrutura, nos conteúdos e métodos, tende a superar os limites da meritocracia liberal, projetando-se como uma crítica radical, e utópica, da sociedade competitiva e mercantil então nascente. Sem omitir a importância da implementação de políticas públicas de estímulo ao esforço e aos talentos, exigindo do Estado a sustentação dos estudos para os pobres promissores, o eixo do projeto encontra-se muito mais na mobilização da cultura e do conhecimento, com a finalidade de contrarrestar os efeitos degradantes da divisão entre trabalho manual e intelectual, pela qual se cria um abismo intransponível entre os homens presos às engrenagens do mecanismo produtivo e os que flutuam livremente nos “espaços celestes” da investigação científica e filosófica e das belas artes. Na construção de uma escola que atingiria todas as regiões do país, acolhendo homens e mulheres, ricos e pobres, crianças e adultos que se dispusessem a procurá-la, a recusa de todo tipo de treinamento se une à luta pela divulgação de um conhecimento laico e “esclarecedor”, atribuindo à instrução pública o papel de combater a redução da riqueza, multiplicidade e potência das faculdades humanas a instrumentos automáticos de perpétua reprodução do mesmo, subordinados aos desígnios dos poderosos.
Nos dias de hoje, a hipertrofia do espírito mercantil e competitivo, aliada ao recrudescimento da intolerância étnica e religiosa, predominante no panorama mundial nas últimas décadas, começa a ser solapada por novas ideias e lutas emancipatórias, encontrando expressão, inclusive em instâncias governamentais e parlamentares, na intensificação do debate em torno de políticas públicas voltadas a ampliar os direitos sociais e as liberdades civis. No campo da educação, evidencia-se, recentemente, no Brasil, o crescimento de movimentos intelectuais e políticos, resistindo aos ataques ao ensino humanista, independente e laico, vindos de fora ou do próprio interior das instituições estatais.
A leitura desta obra magnífica, que traz ao leitor um exemplo lúcido e vibrante dos sonhos reformadores florescidos no palco da mais importante luta revolucionária da modernidade, pode indicar caminhos e alimentar esperanças para aqueles que, na perspectiva de uma escola pública democrática, estão em busca de alternativas às mesquinhas orientações produtivistas e individualistas dominantes, responsáveis por reproduzir, sob nova roupagem, a heteronomia do pensar e do sentir, sempre imbricada às formas mais obscurantistas e perversas de insensibilidade social.
Referências
CONDORCET, Marquês de. Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. [ Links ]
CONDORCET, Marquês de. Rapport sur l’instruction publique. In: BACZKO, B. (Org.). Une éducation pour la democratie. Genebra: Librairie Droz, 2000. p. 181-258. (Trad. port. Instrução pública e organização do ensino. Porto: Livraria Educação Nacional, 1943). [ Links ]
Patrizia Piozzi – Doutora em Filosofia e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: [email protected]
Escola e democracia (edição comemorativa) – SAVIANI (TES)
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia (edição comemorativa). Campinas: Autores Associados, 2008, 164 p. Resenha de: RAMOS, Marise. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.7, n.1, mar./jun. 2009.
O leitor poderia se perguntar sobre o valor da iniciativa de se lançar uma edição comemorativa do livro Escola e democracia, de Dermeval Saviani, considerado um clássico na área da Educação. Para aqueles que não conhecem a obra, a resposta seria óbvia. Já os que a conhecem encontrarão a resposta para além do significado simbólico – que sustenta, a princípio, o caráter comemorativo da edição – vindo a se motivar pelo valor que os prefácios a oito edições, inclusive à presente, assim como o apêndice – o texto Setenta anos do ‘Manifesto’ e vinte anos de Escola e democracia: balanço de uma polêmica – acrescem à obra.
Os prefácios e o apêndice reiteram o estilo do autor de dialogar com os leitores, especialmente quando provocado, tornando públicas as motivações que subjazem à sua obra, mediante uma franca disposição de revisitá-la a partir das interpretações. No caso de Escola e democracia, a interpretação da obra original por pesquisadores dedicados ao estudo da História da Educação como um trabalho de natureza historiográfica levou Saviani a explicitar que se tratava, ao contrário, de uma obra de natureza polêmica. É a diferença entre ambas as abordagens que serve de fio condutor ao apêndice, dirigido, segundo o autor, aos historiadores da educação, constituindo-se, porém, num texto de referência teórico-metodológica para os estudiosos da educação em geral.
Primeiramente, dele depreendemos a necessidade de que a leitura de um texto não o desvie de sua origem ‘literária’ e de contexto. Nesse sentido, assim como o autor explica que Escola e democracia, um conjunto de textos que, valendo-se da metáfora da ‘teoria da curvatura da vara’, procurava polemizar com a visão apologética sobre a Escola Nova que mobilizou os educadores nas décadas de 1970 e 1980 – contexto em que reside e que justifica seu estilo polêmico – ele demonstra o quanto o Manifesto dos pioneiros da educação nova, documento cuja interpretação levou a tal apologia, era um instrumento político. Nesse sentido, o recurso em que se apóia toda a obra – a teoria da curvatura da vara – enunciada por Lênin ao ser criticado por assumir posições extremistas e radicais, foi amplamente utilizado pelos apologetas da Escola Nova. Porém, alerta o autor, diferentemente do uso por ele feito, o escolanovismo se valeu dessa metáfora como um dispositivo instaurador da própria verdade, o que exigiu a crítica formulada no livro em questão.
Demonstrado que o conteúdo de qualquer publicação escapa ao controle de seus autores, compreende-se, com o autor, que a natureza do Manifesto levou a “versões ‘popularizadas'” – “modo como esse ideário se fixou na cabeça dos professores” (p. 97) – sobre as quais incidiu a crítica formulada em Escola e democracia. Reitera o autor que em nenhum momento esteve em causa as elaborações dos Pioneiros, principalmente porque, como um documento de política educacional, essas versavam mais sobre a defesa da escola pública. Os esclarecimentos reaparecem neste texto, mas foram expostos no prefácio à 34ª edição que acompanha também a presente. Com argumentos cristalinos, o autor demonstra que, embora a Escola Nova tenha sido posta no centro da polêmica, o livro não se colocava contra o seu ideário em si, menos ainda à formulação contida no Manifesto, embora o reconhecimento de seu caráter progressista só tenha sido explicitado posteriormente, junto com os esclarecimentos. Mas a denúncia da Escola Nova teria sido uma estratégia visando a demarcar mais precisamente o âmbito da pedagogia dominante, então caracterizada como a pedagogia burguesa de inspiração liberal.
Com esse texto e em outras passagens dessa edição comemorativa, aprendemos também o quanto repetir uma ideia de diferentes formas pode ser necessário para que seu conteúdo filosófico – a concepção de mundo que a sustenta – possa ser compreendido e, talvez, compartilhado. Foi o que levou o autor a esclarecer a relação entre as ideias expostas em Escola e democracia e a visão marxista, tal como fez no prefácio à 20ª e na atual edição da obra. É nessa perspectiva que os capítulos três e quatro do livro devem ser lidos, posto que neles o leitor (re)encontrará os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, como contraposição à pedagogia burguesa de inspiração liberal que esteve na base da Escola Nova.
No prefácio à 34ª edição, o leitor encontrará uma posição mais contundente do autor nesse sentido. Ao negar que o livro tenha se proposto a ser um ‘antiManifesto de 1932‘, ele nos convida a lê-lo sim como um manifesto, mas de lançamento da pedagogia histórico-crítica. A maneira como ele mesmo enuncia a estrutura do livro qualifica o convite e ajuda a responder às perguntas iniciais deste texto, posto que, antes de tratar, no capítulo dois, da denúncia das visões apologéticas da Escola Nova – o que é feito mediante a apresentação de três teses que, pela via polêmica, curvam a vara para o outro lado – o leitor é brindado com um completo diagnóstico das principais teorias pedagógicas, cotejadas com as contribuições e os limites de cada uma delas. Se nesse capítulo a necessidade de uma nova teoria é anunciada, seus fundamentos teórico-metodológicos e sua proposição como uma pedagogia histórico-crítica é formulada, assim como se esclarecem, no último capítulo, as condições de sua produção e operação em sociedades como a brasileira.
Se o caráter didático dessas exposições justifica a pertinência de mais uma edição da obra, como bibliografia básica para os estudantes dos cursos de graduação em pedagogia e de pós-graduação em Educação; seus fundamentos filosóficos, demonstrados pela apropriação das categorias do método histórico-dialético para a formulação de uma teoria pedagógica, demonstram sua atualidade, por manter-se na contracorrente do pensamento hegemônico. Em tempos quando o velho se traveste de novo, tal como se vê com as pseudoteorias pedagógicas (neo)pragmatistas e (neo)construtivistas, a reafirmação da validade histórica da filosofia materialista histórico-dialética como referencial teórico-metodológico e ético-político é revolucionário.
É esta a referência que leva o autor a dialogar, de forma franca, clara e contundente, com seus críticos historiadores da educação, particularmente Clarice Nunes e Zaia Brandão. Isto ele faz reiterando que o equívoco de seus críticos foi não diferenciar a abordagem polêmica da historiográfica, posto que suas três polêmicas teses, a saber: a) do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência; b) do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos; e c) de como quando menos se falou em democracia no interior da escola mais ela foi democrática e quando mais se falou em democracia menos ela foi democrática, foram tomadas como resultado de uma investigação historiográfica e não como exercício de um procedimento expresso na metáfora da teoria da curvatura da vara. Ainda que enunciadas como teses, na linha do método dialético essas ideias tratavam-se mais de antíteses que, postas em contradição com as primeiras, potencializariam a síntese que seria uma nova teoria pedagógica. Mas com esse exercício, alerta o autor, ele se situava no âmbito do debate ideológico e não no plano da discussão historiográfica. Isto não foi reconhecido por seus críticos, dentre os quais Clarice Nunes.
O deslocamento dessas ideias do plano ideológico para o historiográfico também estaria na origem da interpretação de Zaia Brandão de que, pela sua análise, ter-se-iam apagado as diferenças, ambiguidades e contradições que atravessaram a história do movimento da escola nova. A memória do próprio marxismo ou de marxistas que nela estiveram ter-se-ia, então, silenciado. Ao contrário, o que os críticos historiadores chamam de silenciamento do marxismo o autor explica como a compatibilidade que houve entre marxistas e liberais em torno do objetivo modernizador que o ideário da Escola Nova propunha. Tal compatibilidade talvez tenha se reforçado pela hegemonia do Partido Comunista, para o qual era necessário, primeiro, realizar a revolução democrático-burguesa como condição para se colocar, posteriormente, a revolução socialista.
Esses argumentos que o autor agora traz a público, porém, não estavam dados na obra original. Neste momento, ele se vale de outro de seus estudos, qual seja, o texto O pensamento de esquerda e a educação na República brasileira. Um estudo que, segundo o próprio, não sendo historiográfico, mas tendo um certo caráter analítico sem o objetivo de polemizar, procura compreender o processo histórico, apresentando um enunciado na condição de hipótese a ser mais bem investigada. A ocupar o primeiro plano de uma análise, um assunto dessa complexidade histórica e política não seria simplesmente tematizado para contrapor a uma crítica, tal como é o propósito do autor nesse texto. Por isto, o respeito aos limites com que é tratado. Sua abordagem, porém, não deixa de nos convidar a um estudo mais aprofundado, reiterando, então, o mérito do diálogo travado com o autor com seus críticos.
É o diálogo, portanto, o ponto forte dessa edição comemorativa de Escola e democracia. A carta de Zaia Brandão enviada ao autor em resposta a tais considerações é expressiva. Ao reconhecer a impropriedade de se ter tomado o texto como historiográfico, reitera-se, porém, o impacto que o mesmo provocou na historiografia da educação. A tal consequência não prevista, porém científica e politicamente tão relevante, somente uma obra da envergadura de Escola e democracia poderia levar. Tornar público esse debate, “rompendo o silêncio em torno das interpretações produzidas no âmbito da historiografia da educação brasileira” sobre o seu trabalho, “tão somente com o espírito de somar esforços no fortalecimento de nossa área de investigação” (p. 100), é digno de um intelectual como Dermeval Saviani. Quanto ao valor da iniciativa de se lançar uma edição comemorativa do livro Escola e democracia, com a ampliação que se quis retratar aqui, esperamos que o leitor possa se posicionar com a oportunidade de (re)visitá-la.
Marise Ramos – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Forjando a democracia – a história da esquerda na Europa. 1850-2000 – ELEY (AN)
ELEY, Geoff. Forjando a democracia – a história da esquerda na Europa. 1850-2000. São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 2005. Resenha de: AGGIO, Alberto. Anos 90, Porto Alegre, v.13, n.23/24, p.353-360, 2006.
Embora não integralmente identificáveis, os vínculos entre esquerda e socialismo são historicamente incontestáveis. O socialismo foi um programa de mudança social e um movimento político que mobilizou milhões de pessoas na Europa durante os séculos XIX e XX. Ele marcou profundamente a história da esquerda européia e é praticamente impossível referir-se a ela sem levá-lo em consideração. O socialismo foi, pelo menos até a década de 1990, a referência central da esquerda européia e os partidos socialistas e comunistas a hegemonizaram de maneira integral.
Pode-se argumentar que aquilo que se entende por socialismo também variou desde o século XIX e hoje o seu significado é, sem dúvida, bastante diferente daquele que se postulava no passado.
Nos últimos 20 anos, a hegemonia de comunistas e socialistas também se desvaneceu e hoje a esquerda européia vem buscando novos caminhos. Assim, narrar, analisar e refletir a respeito da história da esquerda e do socialismo europeu – uma tarefa cada vez mais monumental para qualquer investigador – implica mobilizar e estabelecer um domínio suficientemente claro tanto dessa dinâmica de largo prazo quanto das muitas outras referências que permeiam as históricas relações entre socialismo e esquerda na Europa.
É essa a trilha que segue Geoff Eley no seu livro Forjando a democracia, cujo propósito é o de explicar a potência, as virtudes, os caminhos e descaminhos, as vicissitudes e os desafios históricos e atuais que marcam a esquerda européia. Ainda hoje a palavra “socialismo” continua a ser empregada para se fazer referência ao conjunto de partidos políticos oriundos historicamente do movimento operário europeu que emergiu e ganhou força na segunda metade do século XIX, mesmo que se reconheça que esse conjunto seja formado mais por diferenciações de seus componentes do que por uma homogeneidade clara. Como Geoff Eley afirma logo no início do seu livro, o socialismo é antes de tudo um referente histórico da esquerda européia, na verdade, o “núcleo da esquerda européia”, ainda que esta tenha sido “sempre maior do que o socialismo” (p. 28-29).
Mas há uma referência maior em toda essa história e que Geoff Eley assume como central em seu trabalho. Procurando sintetizar o argumento nuclear do livro se poderia dizer que a democracia européia – e não um regime de tipo socialista – representa a grande construção histórica do socialismo e da esquerda naquele continente. A partir desse argumento central – que se expressa inclusive no título do livro –, Eley procura compreender o socialismo não como uma doutrina abstrata ou metafísica e sim como um movimento histórico que buscou permanentemente construir a democracia, tornando-a cada vez mais social e, portanto, ampliando seguidamente o seu escopo. Essa mesma perspectiva o faz analisar o papel da esquerda na luta e na construção de consensos democráticos nas diversas conjunturas que marcaram dramaticamente a história européia, especialmente no desenrolar do século XX. Eley evidencia uma visão precisa da situação histórica da democracia na Europa: ela não é uma “dádiva” e nem está “assegurada”. No passado e no presente, a democracia “exige conflito, a saber, o desafio corajoso da autoridade, a assunção de riscos e atos de coragem temerária, o testemunho ético, confrontações violentas e crises gerais em que se rompe a ordem políticosocial dada” (p. 24). Na Europa, o seu advento não representou, portanto, um fato natural nem derivou da prosperidade econômica, não sendo tampouco um “subproduto inevitável do individualismo ou do mercado”. Para Eley, a democracia estabeleceu-se e se consolidou “porque uma grande quantidade de pessoas se organizou coletivamente para reivindicá-la” (p. 24). Somente depois de 1945 é que a democracia na Europa conseguiu se sustentar com base em um consenso amplo e profundo capaz de garantir uma lealdade popular à ordem instituída no pós-guerra.
Forjando a democracia insere-se, portanto, na linha historiográfica que procura analisar as práticas e a cultura política do socialismo europeu a partir dos seus significados concretos, assumidos no embate político de cada momento. Essa linha historiográfica tem gerado contribuições significativas para a história do socialismo e da esquerda, sempre a partir de questionamentos que antes eram desprezados ou sequer levantados.
Forjando a democracia expressa, assim, uma espécie de visão reformista da história da esquerda, extremamente valorizadora da trajetória de conflitos e de lutas do socialismo europeu.
Nesse sentido, seria importante refletir brevemente aqui a partir do fato de que, na sua construção política, o socialismo não nasce como um ato teórico iluminado e sim como um movimento sociopolítico e cultural que assimilou concepções e valores de outros movimentos e concepções de mundo, além de ter desenvolvido uma concepção própria. O socialismo havia nascido com o capitalismo industrial e teve suas origens nos estratos mais profundos da sociedade européia. Compartilhou com liberais, radicais e cristãos conservadores a visão de que o proletariado industrial era o setor social mais prejudicado pelo capitalismo e que este lhe roubava a possibilidade de viver o que havia de positivo na existência humana. Como uma faceta já reconhecida por inúmeros historiadores, o socialismo obtém sua força motora espiritual tanto na razão do Iluminismo quanto na paixão do Romantismo.
Se este engendrava visões revolucionárias nascidas de um mundo cheio de energia, sentimento e liberdade, aquele trazia ao socialismo, além das idéias, dois exemplos concretos de revolução: a Revolução de Independência norte-americana e a Revolução Francesa de 1789. Desta última, os socialistas consideravamse os herdeiros mais legitimados por defenderem intransigentemente a consigna Liberdade, Igualdade e Fraternidade, não apenas do ponto de vista coletivo e público como também do ponto de vista privado e cotidiano.
Como se sabe, o socialismo combinou uma concepção de liberdade nascida do Iluminismo com as demandas da igualdade nascidas do mundo do trabalhador pobre do século XIX, que pode ser traduzida pela idéia de emancipação presente tanto no seu discurso quanto nos seus movimentos sociais. Marx havia registrado, com imensa agudeza de raciocínio, que a Revolução Francesa havia criado um novo ser histórico expresso na figura do citoyen, e que caberia ao movimento operário a tarefa histórica de criar um novo homem. Esse viria a ser um desafio crítico ao socialismo. A Revolução Francesa havia estabelecido a luta frontal contra a loi civil vigente, tanto no plano de uma loi politique que dava base ao Antigo Regime absolutista quanto no de uma loi de famille que o sustentava no plano privado, perpetuando o domínio patriarcal. A enquanto a dimensão privada da família trazia à tona a questão da fraternidade entre os homens. No século XIX, essas duas dimensões distanciaram-se e se desencontraram. O socialismo do século XIX, de acordo com um outro autor (Doménech, 2004), não soube avançar pela trilha da fraternidade e isso acabou tolhendo a ampliação da sua perspectiva emancipadora. A avaliação de que entre a consigna da Revolução Francesa e o socialismo não existe apenas continuidade e desdobramentos evolutivos, mas também uma certa descontinuidade introduz um elemento crítico na análise que demandaria dos estudiosos uma “revisão republicana da tradição socialista”, para usarmos aqui uma expressão de Doménech. O que devemos registrar como altamente interessante é que, num certo sentido, há um reconhecimento implícito de Eley a respeito dessa ponderação no momento em que ele enfatiza que, no século XX, a fixação dos socialistas no terreno da “política de classes” parece ter mantido o problema nos mesmos termos, afastando parcelas importantes da população, especialmente as mulheres, da área de influência do socialismo (p. 29). Em outras palavras, o socialismo perdia sua integridade no sentido de um programa radicalmente moderno em troca de uma ação cada vez mais concentrada nos interesses do mundo do trabalho que encontravam ressonância especialmente na noção de igualdade social.
Não se tratou objetivamente de um “erro teórico”, mas sim de limites de uma prática contingente, de uma opção na ação que redundaria mais direta e facilmente em apoios para o movimento e eventualmente para os partidos do socialismo.
Este é apenas um dos planos que aqui lançamos mão para expressar que, além do livro de Eley, existe um conjunto de investigações que assume e justifica plenamente uma releitura crítica da história do socialismo, uma vez que os limites, as restrições e as exclusões conformavam-se como a outra face das opções estratégicas adotadas pelo socialismo europeu. Em outras palavras, a voltado para fins de poder e de transformação. Como afirma Eley, “se as transformações contemporâneas expuseram as fraquezas do socialismo no presente, especialmente as conseqüências excludentes de concentrar a estratégia democrática na ação progressista da classe operária, então essas idéias têm muito a nos ensinar sobre as limitações do socialismo também em épocas anteriores” (p. 28).
Contudo, a política não foi apenas negativa e ensinou algo de positivo aos socialistas. Eley confirma que estes, desde os primórdios, evitaram levar uma política de isolacionismo no interior das sociedades onde atuaram e encontraram, especialmente nos liberais e nos radicais de outros segmentos sociais, aliados para suas ações. Os socialistas sempre precisaram de aliados e nunca alcançaram seus objetivos por si mesmos quer fosse para difundir suas idéias publicamente, fazerem suas agitações, quer para se afirmarem institucionalmente, organizando greves, concorrendo às eleições ou mesmo formando governos. Em sua trajetória de afirmação política, o socialismo possibilitou às massas uma integração ao sistema da ordem que, após a grande guerra civil européia de 1914 a 1945, acabaria por produzir aquilo que certa vez J. Habermas chegou a qualificar como a grande construção da modernidade ocidental: o Estado de Bem-Estar social.
Muito já se escreveu sobre o Estado de Bem-Estar social e as críticas a este parecem respeitáveis. Contudo, é importante levar em conta que, apesar de não ter elaborado um projeto de emancipação coerente, o Estado de Bem-Estar social produziu, de fato, os cidadãos autônomos e críticos que o socialismo pretendia gerar.
Mais do que isso, foi a partir da sua construção que o socialismo vinculou-se direta e profundamente à democracia oferecendo à sociedade européia um sentido de futuro. Somente a partir desse momento, afirma Eley, “a democracia iria se tornar genuinamente universal, porque finalmente as mulheres teriam o direito de votar” (p. 560).
Entretanto, o tempo não passou em vão. As três últimas décadas do século XX produziram mudanças de tal ordem na estrutura do mundo que as bases de referência do socialismo ruíram integralmente: a estrutura produtiva foi alterada de maneira drástica, reduzindo muito a necessidade de mão-de-obra; um cenário pós-fordista foi se estabelecendo, ao mesmo tempo em que diminuíam a auto-organização coletiva, a vida associativa e diversas dimensões que davam sustentação ética à cultura política do socialismo.
Essas mudanças, de acordo com Eley, proporcionariam a destruição do “entorno que a tradição socialista havia necessitado para crescer” (p. 560) e talvez tenham sido mais profundas e decisivas, assim como seus efeitos mais desmoralizantes, do que o colapso final do comunismo (p. 549).
O resultado foi o estabelecimento de uma situação crítica para o socialismo e para a esquerda, o que acabou por colocar em questionamento profundo alguns aspectos da sua tradição, dentre estes a própria concepção que os socialistas construíram da história.
Como um dileto filho do Ocidente – que levou ao paroxismo a busca de uma sociedade diferente que funcionasse com base no planejamento –, o socialismo se pensou como uma utopia. Hoje, resta muito pouca coisa a propósito da noção de que o socialismo poderia ser concebido como uma sociedade cujos fundamentos estariam assentados na direção que tomava o avanço progressista da história bem como na crença de que se poderia não apenas conhecer como controlar o mecanismo e a dinâmica dessa história.
Se, como afirma Eley, “o socialismo começou com a ambição de abolir o capitalismo, de construir uma democracia igualitária a partir da riqueza que o capitalismo oferecia”, no final do século XX, “o socialismo havia se transformado num ideal ainda mais difuso, numa ética política abstrata baseada na justiça social” (p.
549). Eley não considera o seu livro um epitáfio à esquerda e ao ponto crítico: “se o socialismo foi essencial para as melhores conquistas da democracia, insisto, o fato é que as possibilidades da democracia sempre superaram o alcance do socialismo” (p. 571- 2).
O capítulo conclusivo de Forjando a democracia tem como epígrafe um fragmento de um texto de Stuart Hall, de 1989, que vale a pena ser aqui reproduzido: “Gramsci disse: ‘volte violentamente o rosto na direção das coisas que existem hoje’. Não como você gostaria que elas fossem, nem como você imagina que elas eram dez anos atrás, não como são descritas nos textos sagrados, mas como realmente são: o terreno contraditório e pedregoso da conjuntura atual” (p. 559).
É cristalino o fato de que hoje o socialismo não se configura mais como um programa de ação revolucionária tal como pretendeu ser ou, de fato, foi nos séculos XIX e XX. Não se sustenta tampouco como uma tradição. Ao socialismo não parece haver futuro a ser buscado no passado. Resta a ele encontrar a melhor maneira de colher os frutos de uma necessária e real contaminação cultural que poderá lhe dar um novo sentido histórico. Ler criticamente o livro de Eley ajuda a refletir nessa direção.
Referências
DOMÉNECH, Antoni. El eclipse de la fraternidad. Barcelona: Crítica, 2004.
Alberto Aggio – Professor Livre docente de História da UNESP/Franca.
[IF]
As esquinas perigosas da História: Situações revolucionárias em perspectiva marxista | Valério Arcary
Em nossos dias, o tema da revolução socialista é capaz de provocar constrangimento em boa parcela da intelectualidade e das organizações políticas da esquerda brasileira. Vivemos em um período no qual a maioria das organizações de esquerda reduziu as expectativas de transformações políticas e sociais e decidiu seguir o conselho que sugere “contrair o horizonte utópico”.
Para Valério Arcary, no entanto, o tema da revolução social continua atual. Ele julga que a democracia, mesmo assentada no sufrágio universal, é incapaz de esgotar as possibilidades e as necessidades, sentidas pelo proletariado, de promover transformações sociais e políticas. Leia Mais
Os gregos, os historiadores, a democracia, o grande desvio | Pierre Vidal-Naquet
Resenhista
Pedro Paulo Abreu Funari – Professor Titular de História Antiga, Coordenador-Associado do Núcleo de Estudos Estratégicos, Universidade Estadual de Campinas.
Referências desta Resenha
VIDAL-NAQUET, Pierre. Os gregos, os historiadores, a democracia, o grande desvio. Trad. Jônatas Batista Neto. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Resenha de FUNARI, Pedro Paulo A. História Revista. Goiânia, v.10, n.1, 2005. Acessar publicação original.
O espírito da dádiva | Jacques Godbout
O espírito da dádiva, obra do sociólogo canadense Jacques T. Godbout, veio esquentar ainda mais o caloroso debate acerca de questões vitais às ciências sociais. Ao seguir uma linha lévi-straussiana, em que a dádiva não encontra existência concreta, mas tão-somente efeitos disseminados na sociedade, o autor desenvolve convincentes argumentos sobre problemas modernos relacionados ao egoísmo, ao altruísmo, à violência, ao totalitarismo, à democracia e, sobretudo, às políticas públicas.
Godbout não só segue a trilha deixada por Marcel Mauss em Ensaio sobre a dádiva como também a renova, sugere uma nova interpretação. O ponto de partida de ambos os autores é justamente a premissa antro-pológica de que a vida social necessita e é constituída por mecanismos de troca. Em Mauss, essas trocas ocorrem em sintonia com uma natureza distinta das sociedades modernas, embora reconheça que determinados traços “primitivos” sobrevivam nas atuais sociedades industriais. Em Godbout, a experiência da troca se universaliza. Há, em certo sentido, uma radicalização do argumento central de seu antecessor. Leia Mais
Saúde e democracia: a luta do Cebes | Sonia Fleury
Lançada há pouco mais de um ano, durante as comemorações dos 21 anos de fundação do Cebes, esta coletânea reúne um conjunto de artigos que nos permitem uma aproximação da gradativa especialização que vem se processando no campo da saúde pública nestes últimos anos. Enfoca diferentes aspectos relativos à reforma sanitária, ao processo de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a temas como: gestão em saúde, determinantes epidemiológicos, recursos humanos, assistência hospitalar, saúde mental e produção farmacêutica e de imunobiológicos, entre outros.
Apesar da diversidade temática, a preocupação de articular as especificidades da saúde pública ao tema da democracia na sociedade brasileira se define como a questão central do livro, presente ao longo dos diferentes artigos. É evidente o claro objetivo de retomar o debate acerca do papel do Estado na esfera das políticas públicas de saúde, considerando as recentes transformações ocorridas neste campo, e este deve ser considerado o principal mérito da publicação, ou seja, sua intenção de articular os problemas recentes enfrentados pela saúde aos princípios que propiciaram movimentos transformadores nesta área. Leia Mais
A miragem da pós- modernidade: democracia e políticas sociais no contexto da globalização | Silvia Gerschman e Maria Lúcia Werneck Vianna
Este livro é uma coletânea de 12 ensaios apresentados originalmente num seminário realizado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em julho de 1995. O livro inovou ao ressaltar os efeitos políticos e sociais da globalização econômica, rompendo com a tradição economicista predominante nesta área. Os artigos convergiram para três preocupações: o futuro da democracia, os rumos do setor público e a natureza das políticas sociais na época da globalização. Cada tema aglutinou quatro artigos em uma média de 15 páginas.
O primeiro bloco, intitulado ‘Globalização, democracia e questão social’, inclui os artigos teóricos de Schmitter, Reis, Gerschman e Viola. Phillippe Schmitter ressalta a consolidação do sistema político democrático como o fato mais conclusivo da globalização. O mundo aderiu à democracia e assumiu seus mecanismos de representação. Schmitter acredita que o futuro desta sociedade “será incrivelmente tumultuado, incerto e muito acidentado”. Surpreendentemente, o grande desafio à globalização viria das “democracias liberais consolidadas” (DLCs). Países recém-democratizados, ou “neodemocracias recentes” (NDRs), são seguidores de modelos e, naturalmente, não dispõem de condições objetivas para mudar os rumos. Muitas das NDRs são ordenações políticas oligárquicas que se aproveitam do sistema democrático para manter seu domínio. O retrato dado pelo autor é de pioneiros democratas, de um lado, e de seguidores autoritários, de outro, forçados a assumir o sistema de representação por acidente do destino. A verdadeira mudança social sempre acontecerá nos países pioneiros, enquanto os países em desenvolvimento estarão confinados às “democraduras”. Leia Mais








