Posts com a Tag ‘Segunda Guerra Mundial’
80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial: aspectos políticos, econômicos, culturais e regionais | Revista Maracanan | 2022
Destroços de baleeira no litoral de Estância (SE), próximo ao local do ataque ao Baependi pelos submarinos alemães (1942) | Imagem: Agência O Globo
O ano de 2022 demarca oito décadas de uma importante efeméride da história do Brasil contemporâneo: a entrada do país na Segunda Guerra Mundial, em 22 de agosto de 1942, com a declaração de guerra aos países do Eixo. Embora tal participação tenha sido modesta quando comparada à empreendida pelas potências beligerantes daquele conflito mundial, ela foi, sem dúvida, relevante. A princípio, a política externa brasileira, durante os anos 1930, caracterizouse por uma “equidistância pragmática”, conforme definida por Gerson Moura. Significava que o governo Vargas havia evitado estabelecer alianças comerciais rígidas com qualquer uma das potências internacionais, em busca de, com isso, obter vantagens comerciais. Assim, poderia explorar as oportunidades econômicas trazidas pela disputa entre Alemanha e Estados Unidos por influência na América do Sul (MOURA, 1986, p. 28).
Esse direcionamento foi seguido mesmo após o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, quando a nação brasileira optou pela neutralidade em relação a tal conflito. Contudo, o ataque japonês à base de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, e a consequente declaração de guerra dos Estados Unidos ao Eixo provocaram uma pressão norte-americana para que o Brasil estreitasse mais as relações com tal país e alterasse a linha de política externa que vinha então adotando. A partir daí, estabeleceram-se negociações entre as duas nações, que não foram fáceis, pois muitos dos integrantes do governo Vargas simpatizavam com o Eixo, como Góis Monteiro, chefe do Estado Maior, e Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra. Leia Mais
Em busca do Submarino U-513. Uma incrível aventura nos mares do sul | Vilfredo Schürmann
Vilfredo Schurmann | Foto: Maria Muina/Veja
A localização do Submarino alemão U-513 está entre os maiores feitos da Arqueologia Subaquática no Brasil, considerando a complexidade para encontrar um casco soçobrado a 130 metros de profundidade, a 83 km da costa, no través da Ilha do Arvoredo, litoral de Santa Catarina. Também é uma importante contribuição à História Naval, pois encontrar barcos da Segunda Guerra Mundial que causaram tantas perdas humanas e materiais pode ter muitos significados e abrir novas linhas de investigação. A localização foi em tempo recorde, cerca de dois anos desde o início efetivo do projeto, considerando a imprecisão da coordenada registrada pelo avião da Marinha norte-americana que afundou o submarino alemão, em julho de 1943. Ou seja, não era conhecido o local exato do afundamento, daí a importância teórica e metodológica do projeto e seus caminhos para descobrir uma posição oceânica! Para dar a compreender a complexidade desta expedição científica, o livro destaca as palavras do oceanógrafo Thomáz Tessler, um dos membros da equipe: “para entendermos o quanto a área de busca é importante no planejamento”, ele fez a seguinte analogia: “é como encontrar metade de uma ervilha em um campo de futebol… você só pode enxergá-la um centímetro à sua frente, isso porque a distância entre o sensor do magnetômetro e o objeto que estamos procurando não pode ser grande”. Leia Mais
Las pacifistas en un mundo de catástrofes (1914-1945) | Ivette Trochon
Ivette Trochon | Foto: Fernando Pena/Brecha
Esta obra de Yvette Trochon ofrece la posibilidad de incursionar en un tema escasamente tratado por la historiografía regional y menos aún por la uruguaya: el pacifismo femenino. La autora nos introduce en el mundo de la guerra y la paz, rescatando el rol de las «pacifistas», aquellas mujeres «que hicieron públicas sus inclinaciones por la paz a través de la literatura, el periodismo, el arte o la militancia en organizaciones creadas específicamente para tales fines» (16). El hilo conductor de la obra es el análisis de las reflexiones femeninas sobre la paz y las prácticas concretas que llevaron a cabo para alcanzarla o defenderla. Sin dejar de lado, a las voces masculinas que también abogaron por la paz, desde diversas perspectivas: filosóficas, jurídicas, historiográficas, socialistas. Si bien el pacifismo no surge en este período, fue en estas décadas que adquirió un carácter masivo, por la emergencia de asociaciones con marcados discursos antimilitaristas, opuestas al servicio militar obligatorio y promotoras de la objeción de consciencia. Leia Mais
Los trotskistas bajo el terror nazi. Una historia de la IV Internacional durante la Segunda Guerra Mundial | Velia Luparello
El libro Los trotskistas bajo el terror nazi. Una historia de la IV Internacional durante la Segunda Guerra Mundial de Velia Luparello es un gran aporte en el descubrimiento de un período histórico poco investigado y una contribución al estudio del convulsionado origen del trotskismo. Ha compartido trabajos sobre esta misma temática junto a Daniel Gaido, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. La autora pudo recabar fuentes primarias, como los boletines internos que se encuentran en el International Institute of Social History (IISH) de Ámsterdam. Restauró así el debate sobre la cuestión nacional (desde 1940), entre las dos organizaciones más importantes de Francia: el Partido Obrero Internacionalista (POI) y el Comité Comunista Internacionalista (CCI), y los diálogos con secciones nacionales de Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Grecia. El libro llega hasta el segundo congreso de la IV Internacional (1948), antes del cisma del “pablismo” (1951-1953). La importancia del trabajo es que compendia las estrategias del trotskismo internacional en un período de enormes desafíos históricos que puso a prueba a la IV Internacional.
Los trotskistas… se estructura en siete capítulos, desde los primeros esbozos programáticos del trotskismo internacional sobre la guerra, luego que quedara “huérfano” por el asesinato de Trotsky en 1940. Los trotskistas tratan de interpretar la “línea de militarización” de Trotsky presente en el “Manifiesto de Alarma” de mayo de 1940, y la defensa del “patriotismo de los oprimidos” del Programa de transición de 1938. Derivado de esto, el debate sobre la cuestión nacional es tratado en los dos primeros capítulos. Leia Mais
De Hollywood a Aracaju: antinazismo e cinema durante a Segunda Guerra Mundial | Andreza Maynard
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) é um tema bastante explorado pelas produções cinematográficas. Filmes sobre as batalhas contra o nazismo, os horrores dos campos de concentração e histórias de sobreviventes e personagens importantes do período são lançados, constantemente, conquistando o público e premiações como o Oscar e o Globo de Ouro. II O fato é que o cinema tem a capacidade de transportar os telespectadores para diferentes tempos e espaços, servindo como divertimento, fonte de informação e despertando a curiosidade e os sentidos.
Tais características estiveram presentes ao longo da história do cinema, destacadamente, durante a Segunda Guerra Mundial, quando inúmeras películas foram produzidas para retratar o horror da guerra e combater o nazismo. E é justamente disso que trata o livro De Hollywood a Aracaju (2021) da historiadora Andreza Maynard. III Fruto da sua tese de doutorado, a obra analisa a recepção dos filmes antinazistas em Aracaju durante a Segunda Guerra, discutindo “o processo de construção de sentido a respeito do conflito e dos inimigos do Brasil, os nazistas, durante os anos da Guerra” IV Leia Mais
De Hollywood a Aracaju: antinazismo e cinema durante a Segunda Guerra Mundial | Andreza Santos Cruz Maynard
Andreza Santos Cruz Maynard | Foto: Laís Cruz
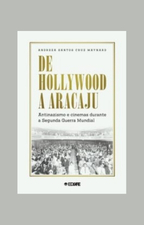
Tais possibilidades, somadas às potencialidades apresentadas por essa interação, ajudam a explicar o crescente interesse dos historiadores pelo campo e, consequentemente, o aumento no número de publicações sobre a temática. Na historiografia brasileira, de forma mais específica, uma obra recém-lançada que se coloca como mais uma contribuição para os estudos nessa área é De Hollywood a Aracaju: antinazismo e cinemas durante a Segunda Guerra Mundial, da historiadora Andreza Santos Cruz Maynard. Leia Mais
O triunfo da persuasão: Brasil/ Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial / Alexandre B. Valim
Bandeiras – Brasil x EUA
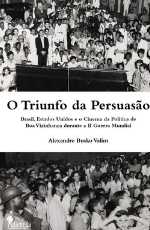
O objetivo de Valim, possuindo como base teórico-metodológica a História Social do Cinema, é analisar os usos do cinema que objetivava o estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Uma das originalidades do livro é a abordagem escolhida pelo autor para tratar do tema; ele não busca fazer uma análise dos filmes produzidos, ou seja, reconhecer seus significados e representações, que é o comum dentro da bibliografia que trata do cinema na Política de Boa-Vizinhança. Indo além, busca se explicitar como se deu a estruturação da OCIAA (Office of the Coordinator of Interamerican Affairs) e a implantação das regionais no Brasil, e mais a frente à fundação da Brazilian Division (a sessão brasileira do Office). Abrangendo a parte burocrática da ação, analisando também o papel do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) no período. Focando sua discussão em apresentar como se deu a criação e o planejamento das atividades do Office no Brasil, analisando como os grupos dirigentes se decidiam, quais eram seus objetivos e suas ações, mais que isso, quais foram os entraves burocráticos encontrados no Brasil e quais foram as soluções realizadas. Chama atenção para a necessidade de se conhecer os processos de concretização do Office para dessa forma não colocarmos o período como uma mera consequência do imperialismo onipotente norte-americano.
Outro ponto original da obra se remete as fontes utilizadas pelo autor, sendo elas documentos depositados na National Archives em College Park, nos Estados Unidos (NARA II).
Essas fontes são um conjunto de memorandos, relatórios, cartas que circulavam entre as instituições (regionais, Brazilian Division, Office). O conteúdo delas variavam, desde aviso sobre decisões tomadas, relatórios qualitativos e quantitativos, preocupações compartilhadas pelos grupos, demandas, interesses, impasses e etc. Sendo assim, essas fontes são cruciais para se entender como se deu a idealização, organização e ação das atividades do Office no Brasil.
Utilizando o conceito de “zona de contato”, Valim também contribui originalmente ao propor uma análise onde observa os conflitos culturais existentes nos espaços sociais conjuntos construídos durante o contexto estudado. Dirigindo atenção a atores sociais que não possuíam destaque dentro das instituições oficiais, atores esses que foram peças chaves dentro da estruturação do Office e realização de suas atividades. Dessa forma, ele coloca sob o holofote estes que por muito foram ignorados pela historiografia do tema, mas que tiveram papel essencial no período.
Partindo para a estruturação da obra, tirando a introdução e as considerações finais, o livro apresenta seis capítulos no total, e em cada um deles os argumentos são articulados para com sua ideia principal. Na introdução são apresentados os objetivos gerais do livro, como também é explicitada qual metodologia será utilizada e qual documentação foi acessada para construção da obra. Em linhas gerais é abordado o contexto da Política da Boa-Vizinhança, suas bases e seus ideais, e também é apresentado um breve debate historiográfico sobre as produções que abordam esse período. Um breve histórico da criação do Office e da Motion Picture Division é exposto, além de apontar o porquê do interesse dos Estados Unidos na América Latina, em específico o Brasil. O autor segue e explicita os conceitos de persuasão e propaganda, e argumenta do porquê da escolha do cinema como instrumento de aproximação entre os países. Outro ponto importante abordado é sobre os entraves causados pelo governo brasileiro, no âmbito do DIP, que serão mais bem analisados nos capítulos seguintes.
No primeiro capítulo, intitulado “The Brazilian Division: a chegada do Office no Brasil”, o autor foca em apresentar como se deu a estruturação do Office no Brasil e a criação da Brazilian Division. Aponta as limitações legais encontradas no país e as ações tomadas para burlar o governo varguista que era lido possuindo um teor “muito nacionalista”, que não agradava o Office. Seguindo, é apresentado dados sobre quem seriam os responsáveis do Office, da Brazilian Division e das regionais instaladas. O capitulo é uma extensa explicação sobre a estrutura política do Office, suas divisões, cargos e tarefas; é a apresentação da parte técnica e burocrática do mesmo. O segundo capítulo, “Aliados precisam ter atitudes amigáveis: propaganda, oportunidade e lucro”, é desenvolvido a parte do embate entre a legislação brasileira e os desejos do Office, nesse caso, em relação à taxação dos filmes estrangeiros. São elencados quais eram as obrigatoriedades da Brazilian Division em relação à produção e divulgação dos filmes. Discorre-se sobre os esforços de se extinguir os filmes do Eixo. Por fim, ele pincela um pouco sobre a tentativa de se conseguir ajuda da Motion Picture Division para produzir filmes nacionais, e também sobre os esforços da Brazilian Division em treinar com eficácia os técnicos para produção e divulgação dos filmes.
Já o terceiro capítulo, intitulado “O show precisa continuar: o cinema da boa-vizinhança adentra o país” é focado em discutir sobre as dificuldades de expansão das exibições para o interior do Brasil. É explicada as dificuldades técnicas que envolviam disponibilidade de material, equipe treinada e transporte, por exemplo. Para, além disso, o capítulo aborda a recepção dos filmes no interior a partir de relatórios das equipes envolvidas. Aponta algumas situações onde ocorreram impasses com as autoridades locais no que tange permissão para as exibições, e debate sobre como esses embates eram retirados dos relatórios que eram enviados ao Offiice, numa tentativa de não manchar a atuação do mesmo no país o que poderia pôr em risco a continuação das suas atividades.
A argumentação sobre a recepção dos filmes pelo interior segue no quarto capítulo, “Acenando as cabeças para filmes extraordinários: os maiores hits do cinema da boavizinhança”.
É abordada a preocupação no quesito mensagem do filme vs. receptor, ou seja, a atenção dispendida em relação aos efeitos que as histórias dos filmes causavam no público, onde houve casos que não eram agradáveis porque não se identificavam com a realidade apresentada nas obras. Ainda nesse capitulo, é discutido sobre alguns requisitos relacionados a filmagens realizadas no Brasil, como por exemplo, o ponto de evitar pobres e negros nas cenas gravadas. Um pouco mais a frente, é abordado um pouco sobre a relação de Disney e a política da boa-vizinhança, abordando alguns filmes que o mesmo realizou no período diretamente relacionado a política de aproximação. Por fim, discute também a censura realizada pelo DIP aos filmes que seriam exibidos no país, as diretrizes para o cinema no Brasil, e elenca filmes proibidos que eram considerados simpáticos aos alemães e a URSS.
O quinto capítulo, “Caçando com os melhores cães: os projetos de cinema do Office”, a partir de três projetos chamados: William Murray Project, John Ford Project e o Production of 16mm in Brazil, o autor aborda as ideias do Office no que tange exibição e produção cinematográfica em âmbito nacional. Analisa toda a parte burocrática, que seria o orçamento, equipe técnica, parcerias privadas e públicas que permeavam essa empreitada de se investir na produção cinematográfica brasileira. Aponta também os argumentos daqueles que foram a favor e contra ao investimento estadunidense na indústria cinematográfica local e quais foram os desfechos. O sexto e último capítulo, chamado “Mais dramático que qualquer ficção as múltiplas fronteiras exploradas pelo cinema da boa-vizinhança”, analisa as ações para incentivar a produção da borracha para os esforços de guerra a partir da relação entre cinema e a “batalha da borracha”, além disso, também discute os estereótipos que associavam o Brasil a um local exótico e selvagem, e por último aborda novamente a discussão sobre a construção de uma indústria cinematográfica nacional a partir de investimentos norte-americanos.
Como é possível ver a partir das sínteses dos capítulos, o autor desenvolveu sua ideia principal de acordo com a evolução da obra. Utilizando as fontes da NARA II, Valim destrincha uma parte que até então não recebia muita atenção da bibliografia, que é a idealização e estabelecimento do Office no Brasil. As questões burocráticas que se desenrolaram, os impasses entre governo estadunidense e brasileiro. Salienta o embate entre ideais do governo varguista e os ideais propagados do ‘american way of life’, de liberdade e democracia pelos estadunidenses.
Para, além disso, destrincha a imagem estereotipada e até mesmo idealizada produzida sobre o Brasil, ressaltando inclusive o interesse do governo nacional nessa retratação que ignorava as desigualdades e mazelas sociais. Um fator interessante levantado na obra é sobre como em alguns casos funcionários estadunidenses se compadeceram mais pela causa brasileira e passaram então defendê-las, como por exemplo, dentro do projeto John Ford, onde os funcionários possuíam interesse de produzir filmes sobre a cultura do Brasil, sobre as músicas, o samba, mas foram inibidos porque isso ia de encontro com os interesses do Office.
A obra de Valim, lançada em 2017, se posiciona em um momento onde se faz muito necessário reconhecer a força e influência que os canais de comunicação possuem sobre a formulação da opinião pública. Como dito anteriormente, a obra não foca em analisar os signos representados nos filmes da época, mas se propõe a um estudo mais aprofundado sobre a natureza das atividades do Office e da sua relação com os grupos dirigentes do país. A partir de sua argumentação, é possível perceber como a Política da Boa-Vizinhança aprimorou os métodos de controle e dominação. “O Triunfo da Persuasão” não se mostra original apenas nos documentos que utiliza como fontes primárias, mas na abordagem que busca observar a relação entre dois países com poderes assimétricos, conseguindo, dessa forma, demonstrar as limitações da suposta onipotência norte-americana no contexto. Este livro se coloca enquanto leitura essencial para aqueles interessados em História Social do Cinema, sobre uso do cinema no contexto da aproximação do Brasil e dos Estados Unidos durante a Política da Boa- Vizinhança, além de abrir inúmeras possibilidades de pesquisas dentro da temática que aborda.
Carolina Machado dos Santos – Graduanda pela Universidade Federal Fluminense no curso de História (Licenciatura).
VALIM, Alexandre Busko. “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial”. 1. Ed. São Paulo: Alameda, 2017.Resenha de: SANTOS, Carolina Machado dos. Cinema e política da boa-vizinhança. Cantareira. [Niterói], v.34, p.675-678, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial | Svetlana Aleksiévitch
Introdução
A obra intitulada “As Últimas Testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial” trata-se de um livro traduzido do russo em sua 1° edição no ano de 2018, pela editora Schwarcz S.A, São Paulo e publicado pela Companhia das Letras. A autora, Svetla Aleksivitch, jornalista, nasceu em 1948, na Ucrânia, dedicando a sua vida literária/profissional de forma única à observação, escuta e transcrição de relatos a respeito de momentos factuais da história. Momentos dos quais teve forte vínculo afetivo: após a desmobilização de seu pai do exército, a família retornou à sua cidade natal, na Bielorrússia. Aleksievich, estudou na Universidade de Minsk, entre 1967 e 1972. Por causa de sua crítica ao regime, viveu periodicamente no exterior. Em 2015, recebeu o prêmio Nobel de literatura, mesmo escrevendo originalmente em língua russa. Desde então, algumas de suas obras emblemáticas: “Vozes de Tchernóbil (2016)”, “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher (2016)”, “Fim do Homem Soviético (2016)” e o mais atual “Meninos de Zinco (2020)” passaram a ser traduzidas para diversas línguas, dentre elas o português (THE NOBEL PRIZE, 2015).
A obra em questão é o resultado de um trabalho com cerca de cem entrevistas realizadas entre os anos de 1978 e 2004. O que esses adultos tinham em comum? Sobreviventes, com memórias do horror da Segunda Guerra Mundial, afinal, eram “apenas crianças”. Particularmente, crianças são afetadas de maneiras diferentes na Guerra. Fisicamente: quando há falta de comida ou água. Psicologicamente: quando expostas a grandes cenas de horror da guerra, como bombardeios, brigas e deixar suas próprias casas. Emocionalmente: quando pode estar diretamente na guerra, como membro servindo, ou tendo outra ocupação nas forças (MOCHMANN, 2008). Leia Mais
Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial – Flávia Pedreira
Da esquerda para direita: autores Armando Siqueira, Gabriella Cordeiro e Luiz Gustavo; Flávia Sá (organizadora) e convidados /
PEDREIRA, Flávia de Sá. Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: LCTE Editorial, 2019. 340 p. Resenha de: VAINFAS, Ronaldo. Nordeste flagelado pelos nazistas. Varia História. Belo Horizonte, v. 36, no. 71, Mai./ Ago. 2020.
A Segunda Guerra Mundial terminou há 75 anos. Terminou na Europa em maio de 1945, com a rendição alemã aos soviéticos após o suicídio de Hitler e no Japão em setembro, após as bombas lançadas pelos EUA, em agosto, sobre Hiroshima e Nagasaki. O Brasil passou por tudo isso. Viveu a crise da democracia liberal nos anos 1930, tempo do Estado Novo; participou da Segunda Guerra, enviando tropas para a Itália.
Mas o que aqui nos interessa é o Brasil no tempo da Segunda Guerra Mundial. Memórias de combatentes e pesquisa historiográfica reconstruíram a atuação brasileira na Itália. Elogio do alto comando dos aliados à bravura dos soldados brasileiros. Risco alto que alguns enfrentaram, depois da guerra, desmontando minas em diversos países ocupados pela Alemanha. Heróis de guerra, foram desprezados na volta ao Brasil, sobretudo a soldadesca, porque os oficiais foram condecoradíssimos. A maioria dos “pracinhas” que lutaram na Itália foram recrutados nas regiões Norte e Nordeste do país. A região foi sistematicamente atacada pelos submarinos alemães em 1942.
O livro organizado pela historiadora Flávia de Sá Pedreira, Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, publicado pela LCTE Editorial em 2019, não deixa dúvida a respeito. Os ataques começaram no Sergipe, em agosto de 1942, quando o submarino U-507 afundou seis cargueiros brasileiros de diversas tonelagens que, acrescente-se, também faziam transporte de passageiros. Luiz Pinto Cruz e Lina Aras abrem o livro com texto bem documentado sobre tais ataques. Eles ocorreram entre 15 e 17 de agosto, afundando os navios Baependy, por ironia de fabricação alemã, o Araraquara, o Aníbal Benévolo, o Itagiba e o Arará. A cada navio torpedeado, pânico total na capital e até no interior. Parentes desesperados à procura de sobreviventes. Corpos despedaçados nas praias. Medo de uma iminente invasão alemã. Blackouts.
Dilton Maynard nos conta como o medo assolou Aracajú naqueles dias, com a explosão do Baependy. Os ataques prosseguiram na costa baiana, onde os alemães torpedearam outros quatro navios brasileiros. Total de desaparecidos no Sergipe e na Bahia: 612. Luana Quadros Carvalho analisa as consequências dos ataques ao litoral de Salvador: crises de abastecimento, inflação, mercado paralelo, o que atingiu sobretudo a população pobre da cidade.
É sabido que o número de navios mercantes brasileiros afundados por submarinos alemães – e também italianos – foi muito maior do que os torpedeados na costa nordestina. Mas a Segunda Guerra alcançou o Nordeste de forma implacável, antes de tudo porque os ataques ocorreram em mar brasileiro. O impacto social dos eventos foi tremendo. Como a censura do DIP levou dias para permitir a divulgação das notícias, o Nordeste vivenciou uma autêntica caça às bruxas nos primeiros dias da tragédia. Casas e lojas de estrangeiros, suspeitos de espionagem, foram vandalizadas. Quando a imprensa é censurada, predomina o boca-a boca e todo abuso se torna banal.
Seja como for, havia uma rede de espionagem alemã espalhada pelo Brasil e por outros países sul-americanos, como a Argentina e o Chile. Juliana Leite reconstrói a rede de espionagem nazista, que contava com cerca de dez células ramificadas em vários estados do país. A autora particulariza o caso pernambucano, onde empresas alemãs instaladas no Recife funcionavam como locais de recrutamento, a exemplo da Siemens Schukert S.A e a Dreschler & Cia. Os grandes espiões, porém, provinham da diplomacia alemã instalada no país, e não era desconhecida das autoridades brasileiras, com sua DIP sempre atenta.
A obra em foco inclui estudos sobre várias cidades nordestinas, examinando a reação popular aos afundamentos de cargueiros brasileiros e outros aspectos da entrada do Brasil na guerra. Osias Santos Filho analisa o impulso que a guerra mundial deu à indústria têxtil maranhense. Mas, a partir de 1942, algumas atividades refluíram, como a exportação de babaçu, cujo principal importador era a Alemanha, além da carestia, inflação, racionamentos e falta de combustível. No vizinho Piauí, Clarice Lira analisa a grande mobilização popular em 1942. Não faltaram perseguições a alemães, italianos e japoneses residentes em Teresina.
A Paraíba, como expõe Daviana da Silva, foi estado dos mais destacados na mobilização do Brasil, com passeatas e comícios em Campina Grande e João Pessoa. O jornal A União publicou fotografias de paraibanos que viajavam nos navios afundados, incluindo notícia sobre a vida de cada um. A autora sugere que tais eventos despertaram não apenas um surto de brasilidade como a emergência de um sentimento de paraibanidade, assunto caro à história regional, como a de outros estados que por séculos gravitaram na órbita pernambucana. Sérgio Conceição estuda o caso de Alagoas e concentra o capítulo na história socioeconômica da região, analisando a ascensão da produção de borracha, incentivada pelo regime Vargas, vista com grande entusiasmo por algumas lideranças, criticada por outros apegados à produção de cana e de algodão.
Antônio Silva Filho examina o cotidiano de Fortaleza nos anos 1940, cidade que também abrigou base militar dos EUA, discorrendo sobre os primórdios da “americanização” de certos costumes locais. Na abertura do capítulo, uma alusão ao carnaval de rua na capital, em 1946, em especial a formação de um bloco chamado “Cordão das Coca-Colas”, formado por sargentos brasileiros da FAB, que satirizava “as moças da sociedade local que haviam namorado soldados norte-americanos” (p.37). O autor é cauteloso na análise do tal desprezo pelas moças que “namoravam ianques”, citando mesmo uma crônica de Raquel de Queiroz, datada de 1944, para quem “só os rapazes são um pouco contra os nossos aliados, rosnam bastante, falam em mentalidade colonial (das mulheres cearenses)” (p.38). Por minha conta, digo que esse bloco era tremendamente misógino e machista, conforme sugeriu, com elegância, a grande escritora brasileira.
Em obra com tal recorte regional, é certo que não poderia faltar capítulos sobre o Rio Grande do Norte, antes de tudo por causa do famoso Parnamirim Field, então distrito de Natal, hoje município autônomo, que abrigou duas bases norte-americanas nos anos 1940. Parnamirim Field não foi a única base aeronaval dos EUA no Brasil, como muitos sabem, mas era a principal, designada em mapas militares dos EUA como Trampoline of Victory porque estava na rota ofensiva dos norte-americanos nas campanhas da África e do sul da Itália. Foi nela que ocorreram os contatos mais intensos entre a população brasileira e os norte-americanos, tema que já foi objeto de estudos sérios e documentados.
A obra contém três capítulos sobre a terra potiguar. Anna Cordeiro estuda o bairro da Ribeira, em Natal, favorecido pelo boom populacional ocorrido na cidade; Luiz Gustavo Costa contribui com biografia de um natural do Rio Grande do Norte, veterano da FEB na Itália; e enfim, Flávia Pedreira contribui com trabalho sobre os intelectuais potiguares em face da base norte-americana erigida em Natal. Entre eles, Câmara Cascudo, que se mostrou ambivalente, segundo Flávia, diante da influência de Paranamirim Field sobre a cultura local: ora reconhecia o valor da “boa música” tocada pelas orquestras norte-americanas nas praças natalenses, ora depreciava a difusão de artigos como a “borracha açucarada”: os chicletes.
As balizas teórico-metodológicas do livro aparecem na apresentação da organizadora. Em primeiro lugar, uma alusão ao clássico de Hannah Arendt, Origens do totalitarismo (2000), para realçar que as atrocidades do nazismo contaram com o apoio das massas. Isso é válido para a Alemanha hitlerista, e o seria para a Itália fascista e para a o regime stalinista na URSS. Para o Brasil não, apesar de que o regime liderado por Getúlio Vargas, após 1937, aspirava a ser um Estado fascista, do tipo definido por Mussolini: “Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”.
A historiografia brasileira, porém, com a exceção da produzida em São Paulo, qualifica o Estado brasileiro entre 1937 e 1945 como autoritário, mas não fascista, muito menos totalitário. A própria aliança do Brasil com os EUA, em 1942, contribui, factualmente, para relativizar, ou mesmo negar, a vocação fascista do Brasil na ditadura de Getúlio Vargas. Com a eclosão da guerra, em 1939, o governo permaneceu no attentisme, atento ao desenrolar do conflito, como diria o historiador francês Pierre Laborie (2010), ao caracterizar a atitude dos franceses em face da ocupação alemã. A maioria não resistiu à ocupação nazista, tampouco foi colaboracionista, senão agiu conforme as circunstâncias, transitando no que chama, com acuidade, de zona cinzenta.
Getúlio Vargas parece ter esposado o attentisme, atuando em uma zona cinzenta no campo diplomático. Muitos historiadores brasileiros preferem tratar o Estado Novo como berço do Trabalhismo, com seu viés nacionalista e popular, ao invés de assimilá-lo aos totalitarismos alemão e italiano. Nesse ponto, o paradigma teórico adotado no livro é um tanto anódino, em especial porque a imensa maioria dos textos da coletânea descreve experiências de ataques alemães ao Nordeste e sua repercussão, sem operar com o conceito. O totalitarismo funciona, antes de tudo, como pano de fundo histórico, em geral atribuído ao regime nazista. Mas vale dizer que, em todos os textos, os autores apontam, de várias maneiras, a contradição visceral do Estado Novo, uma ditadura inspirada nos regimes autoritários europeus, que depois se alia aos EUA na luta pela democracia no mundo.
Por outro lado, a alusão de Flávia Pedreira a Paul Ricoeur (2008) parece-me exata para exprimir as pesquisas que dão corpo ao livro. Nas palavras da organizadora, “faz-se a inclusão de entrevistas orais com aqueles que vivenciaram a época e/ou seus descendentes, trazendo à tona um verdadeiro exercício de memória que muito tem a esclarecer os fatos e personagens envolvidos” (Pedreira, 2019, p.8). Uma opção metodológica que atravessa todos os ensaios e nisso acerta em cheio o seu propósito.
Mas penso que não vale a pena alongar tais considerações teórico-metodológicas, por vezes nominalistas, a propósito de livro tão relevante. A história não deve, a meu ver, demonstrar teorias, senão valer-se delas para reconstruir o passado. O livro em causa faz isso à perfeição, malgrado o que afirmei acima. Vista no conjunto, a obra conta uma história do Nordeste para além das secas e da exploração da miséria, desafiando mitologias. Mostra ao vivo o Nordeste atacado pelo nazismo em 1942. Assunto fascinante e obra à altura do tema.
Referências
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
LABORIE, Pierre. 1940-1944. Os franceses do pensar-duplo. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (org.). A construção social dos regimes autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX, vol. 1: Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. [ Links ]
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008. [ Links ]
Ronaldo Vainfas – Universidade Federal Fluminense Departamento de História Campus de Gragoatá, Niteroi, RJ, 24220-900, Brasil. [email protected].
Si je reviens un jour… Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky – TROUILLARD; LAMBERT (APHG)
TROUILLARD, Stéphanie, LAMBERT, Thibaut. Si je reviens un jour… Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky. Paris: Des Ronds dans l’O, 2020. Resenha de: CHANOIR, Yohann. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 30 avr. 2020. Disponível em: <https://www.aphg.fr/Si-je-reviens-un-jour-Les-lettres-retrouvees-de-Louise-Pikovsky-4019> Consultado em 11 jan. 2021.
Un livre, une histoire, l’Histoire
Tout livre, même dessiné, a une histoire. Celui-ci encore plus que les autres. En 2010, dans un lycée parisien, sont retrouvées des lettres et des photographies appartenant à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Arrêtée le 22 janvier 1944, transférée à Drancy avec ses parents, elle est déportée à Auschwitz, d’où elle ne reviendra pas. Le destin de Louise et de sa correspondance épistolaire avec sa professeure de latin-grec est en soi déjà émouvant. Mais il l’est davantage encore par la suite. Retrouvées, les lettres sont lues, mises en valeur dans le lycée de Louise, où une plaque commémorative sur les élèves déportés a pu être posée. Elles ont servi ensuite à nourrir un webdocumentaire réalisé par Stéphanie Trouillard en 2017, auteure que nos lecteurs connaissent bien avec son très beau livre Mon oncle de l’ombre, sur son grand-oncle exécuté en 1944 par les Allemands. Elles sont devenues aujourd’hui une bande dessinée. On retrouvera d’ailleurs quelques-unes de ces lettres et photos à la fin de l’album.
La vie d’une jeune lycéenne parisienne
Née en 1932, Louise est une élève dont la maturité surprendra plus d’un lecteur. Non seulement par la beauté de son raisonnement, par son souci des autres, mais aussi par sa prescience en 1944 que son destin est scellé et qu’elle accepte avec une incroyable résolution. Louise est cependant une jeune fille, comme bien d’autres, avec ses amitiés, ses inimitiés. Elle est aussi une de ces élèves, toujours trop rares, qui saisissent la beauté d’un texte, qui s’accaparent l’enseignement donné, le questionnent, le transforment et lui donnent une plus-value. De fait cet album est aussi celui d’une rencontre, entre une élève et son enseignante. La classe n’épuise pas évidemment la vie de Louise. On plonge dans son quotidien, les repas avec la famille, les chamailleries avec les sœurs et son frère. Le dessinateur a su rendre le caractère spartiate du logement par les couleurs plutôt ternes (seuls les rideaux rouges sous l’évier cassent la palette chromatique). Il a su également l’enrichir par une foule de petits détails, ces « effets de réel » dont parlait Roland Barthes : le torchon qui enveloppe le pain (p. 23), le seau pour les détritus (p. 19) etc. Le sérieux du propos n’exclut pas l’humour. Nos lecteurs attentifs retrouveront le clin d’œil à Hergé et aux aventures de Tintin, une allusion référentielle typique de l’école belge.
La guerre en arrière-plan
Drame singulier en même temps qu’expérience collective subie par des millions de personnes, le destin de Louise n’est pas décontextualisé. Par petites touches, à la manière d’un impressionniste, le dessinateur place des éléments de contexte dans les planches. On y découvre un Paris bien sûr occupé, avec la présence de soldats allemands, un Paris déjà martyrisé par les bombardements (p. 49) mais aussi une capitale où la mort sociale de la population juive est mise en œuvre, avec le dessin bien connu d’une pancarte dressée devant un parc à jeux réservé aux enfants mais interdit aux Juifs (p. 34). L’album offre ainsi un résumé saisissant de la politique de collaboration des autorités avec les nazis : policiers français qui saluent, au détour d’une rue, une patrouille allemande, policiers français qui viennent arrêter Louise et sa famille pour les emmener à Drancy, antichambre de la mort, policiers enfin qui livrent les familles aux nazis. En quelques images, sans le renfort de cartouches, tout est montré, tout est dit. Ces images sont d’autant plus poignantes que les grands-parents de Louise avaient quitté la Russie pour échapper aux pogroms et qu’ils pensaient être libres, heureux, en sécurité. Le destin de Louise est aussi la mort d’une certaine idée de la République.
Un album à lire et à faire lire
Si l’intérêt de cette bande dessinée est naturellement d’ordre mémoriel, il nous semble que l’album joue un rôle tout aussi déterminant dans la pédagogie de la Shoah. Expliquer à des élèves aujourd’hui ce qu’est cet assassinant industriel de masse, n’est pas simple. Cela ne peut se réduire à une collection de mesures et de chiffres. Il est nécessaire d’incarner la « Solution finale », par des exemples précis. Comme le cinéma ou les séries télévisées, la bande dessinée dispose du pouvoir de l’image. À ce titre, en raison de sa richesse, cet album doit s’inviter dans nos pratiques.
Il y a d’abord l’empathie pour une jeune fille de leur âge. Il y a ensuite l’explication sobre et efficace de la mécanique implacable de la Shoah, de l’exclusion à l’arrestation puis à la déportation. La bande dessinée souligne également l’héroïsme au quotidien d’une enseignante, qui fait retirer à Louise pour la photo de classe, sa veste avec l’étoile jaune, car elle est « une élève comme les autres » (p. 45). On imagine la tranquille résolution de notre collègue qui, elle, n’a pas démérité de la haute idée que l’immense majorité du corps enseignant, hier comme aujourd’hui, se fait de la République.
Les larmes de notre collègue s’expliquent ainsi sans doute, pour ne pas avoir pu sauver une jeune vie si prometteuse et par là tout un monde. Qu’elle soit toutefois assurée et rassurée, grâce à elle, et grâce au travail des auteurs de cet album, au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Louise ne sera plus oubliée.
Yohann Chanoir – Agrégé d’histoire, professeur en classe européenne allemand au Lycée Jean Jaurès de Reims, rédacteur en chef adjoint d’Historiens & Géographes.
[IF]
They Called Us Enemy – TAKEI (TH-JM)
TAKEI, George et al. They Called Us Enemy. Marietta, GA: Top Shelf Productions, 2019. 205p. Resenha de: HUGHES, Richard. Teaching History – A Journal of Methods, v.45, n.2, p.62-65, 2020.
In 1946, Miné Okubo, a Japanese American from California who spent much of World War II in the Topaz Relocation Center, an internment camp in Utah, published Citizen 13660. An accomplished artist, Okubo included almost 200 black line drawings in her memoir which she described as a rare glimpse of daily life inside an internment camp. Citizen 13660 debuted just 12 months after Japan’s surrender and, while many American readers may not have been ready to face the disturbing realities of American wartime decisions, the book review in the New York Times described the memoir as an “objective and vivid” account of the impact of “hysteria that finally led the Federal Government into acceptance of racial discrimination as an instrument of national policy.”
George Takei, most well-known as an actor on the television show Star Trek, was only four years old when Japan attacked Pearl Harbor. Seventy-eight years later, Takei, along with Justin Eisinger, Steven Scott, and artist Harmony Becker, provides a comparable visual memoir to Citizen 13660 in the form of a powerful graphic novel entitled, They Called Us Enemy. While Takei struggled as a young man to find any information about Japanese internment in his formal education, much has changed since Okubo’s memoir. The last fifty years have included a growing historiography on internment, the creation of the Japanese American museum in Los Angeles, and the inclusion of the history of Japanese Americans during the war in textbooks, content standards, documentary films, art exhibits, and even children’s literature. In 1988 the same federal government that enforced Executive Order 9066 in 1942 formally apologized for the internment camps through the Civil Liberties Act which included minimal restitution to surviving victims such as Okubo and Takei.
Despite the age of its author during the war, They Called Us Enemy provides a surprisingly comprehensive account of the experiences of Japanese Americans during the period. Takei’s father was an Issei, born in Japan before immigrating to California, while his mother was a Kibei, a Japanese American born in the United States but, in part due to the realities of racial discrimination in California at the time, educated in Japan. Born in Los Angeles, George and his younger brother and most individuals sent to camps were Nisei and therefore American citizens. Takei’s accessible family history takes the reader from life in Los Angeles in the 1930s, a feature often missing from wartime narratives, to temporary housing at a makeshift assembly center at the Santa Anita racetrack, where George started first grade in 1942. After a long train ride across the West that thrilled the children while their parents and other adults remained terrified, the Takei family arrived in Camp Rowher in Arkansas only to return to California in 1944 as inmates at the Tule Lake War Relocation Center. Along the way Takei illustrates some of the period’s unique cultural conflicts through families who faced additional challenges because family members taught Japanese language or served as a Buddhist minister.
Two specific aspects of They Called Us Enemy are especially valuable to students in understanding how Japanese Americans navigated the dangers and unknowns of war, race, and persecution. First, George’s parents were labeled “No-Nos” in 1944 because they refused to volunteer for U.S. military service or to renounce any allegiance to the Japanese emperor. This decision led to the family’s forced reassignment to Tule Lake in northern California and a community that included an array of political positions ranging from principled nonviolent resistance in the face of American hypocrisy to the dramatic role of protesters, some of whom completely rejected the United States and Takei describes as “radicals.” Fearful of postwar violence, George’s mother even renounced her American citizenship in the hope of keeping the family relatively safe in the camps and, after deportations started, joined other internment survivors in successfully reversing the decision and reclaiming their American citizenship. All of these and other features of the graphic novel provide students with a more diverse portrait of the many ways Japanese Americans navigated the period.
Second, not unlike Art Spiegelman’s groundbreaking graphic novel Maus which explored the history and legacy of the Holocaust, Takei’s family history sheds light on enduring generational conflicts within Japanese American communities. In contrast to many histories that focus exclusively on the war years, Takei’s narrative, not unlike the documentary film Rabbit in the Moon (1999), includes important later discussions between George and his father as the family attempts to deal with the trauma of internment. George’s father dealt with personal guilt over his relative passivity during the ordeal while George used his formative experiences to shape a larger activism that included sharing the stage with Reverend Martin Luther King, Jr. at a civil rights rally in 1961. George and his family’s struggles with cultural assimilation, identity, and social change in the years after 1945 provide an accessible complement to both Citizen 13660 and many of the issues raised in Greg Robinson’s After Camp: Portrait in Midcentury Japanese American Life and Politics (2012).
Of course, Takei’s memoir is incapable of addressing all the issues that have emerged in the historiography. There is no hint of the important political discussions from California to Washington, D.C. between Pearl Harbor and February 1942, nor does Takei address the significant political divisions associated with the Japanese American Citizens League. Although the graphic novel includes brief references to historic documents such as Executive Order 9066, evacuation posters from California, and the controversial loyalty oath in 1944, failing to fully include these seminal primary sources in the book is a lost opportunity for students and teachers. Elsewhere, readers may find themselves wishing for more historical context in such as areas as the larger history of conscientious objectors or, because They Called Us Enemy includes an intriguing image of African Americans sitting near the railroad tracks in Arkansas, a broader discussion of internment and race that includes the Jim Crow South. Regardless, They Called Us Enemy succeeds in providing a compelling graphic narrative of life in the internment camps and the ongoing journey, of both Takei and his nation, to make sense of the complex intersection of race, public policy, and historical memory.
Richard Hughes – Illinois State University.
[IF]Os brasileiros e a Segunda Guerra Mundial | Francisco César Ferraz
Após 77 anos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, a obra de Francisco César Ferraz – Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina – nos mostra como foi intenso, impreciso e incerto enviar cidadãos brasileiros à guerra. Apesar de pouco valorizada, a atuação direta desses homens através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e do grupo de caça brasileiro conhecido como “Senta Pua”, foram determinantes no cenário de guerra dos campos de batalha italianos, em vitórias como a tomada do Monte Castelo e Montese.
O livro é dividido em dez capítulos, além da cronologia, referências, fontes – como o ensaio de Francisco Ruas Santos, Fontes para a história da FEB, e o livro de Cesar Campiani Maximiano, Onde estão os nossos heróis? Uma breve história dos brasileiros na 2ª Guerra – sugestões de leitura e o último sobre o leitor. As divisões são feitas de forma cronológica onde o autor retrata os motivos e a preparação que culminaram na presença brasileira. Leia Mais
As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial | Svetlana Aleksiévitch
No livro As últimas testemunhas, Svetlana Aleksiévitch, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015, apresenta uma centena de relatos de adultos que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial durante a infância. Com apenas duas pequenas citações “Em lugar de prefácio…”, o restante do livro é todo marcado pelas vozes dos entrevistados, e as conclusões da leitura ficam a cargo de cada leitor.
Os relatos, coletados entre os anos de 1978 e 2004 e somente traduzidos para o português em 2018, trazem o modo como cada adulto, na época criança, viu, sentiu e viveu a guerra. Tratava-se, na maioria, de crianças de 2 a 14 anos, com exceção de algumas que nasceram a partir de 1941, e de um garoto que nasceu no ano em que o conflito acabou (1945), mas que parece ter vivido a guerra tão intensamente quanto os demais, quando afirma: “Nasci em 1945, mas lembro da guerra. Conheço a guerra”, nos remetendo ao conceito de “acontecimento vivido por tabela” (Pollak, 1992). Leia Mais
Nordeste do Brasil na II Guerra Mundial | Flávia de Sá Pedreira
Nordeste do Brasil na II Guerra Mundial, obra organizada pela historiadora Flávia de Sá Pedreira, é escrita por diversos pesquisadores-autores que se organizaram em torno de um eixo de debate, voltado para pensar o Nordeste do Brasil e suas variadas relações com diferentes eventos e acontecimentos oriundos da Segunda Guerra Mundial. A organizadora, na Apresentação da obra, como quem convida para tomar um café na sala de estar ou no escritório, explica um pouco da trajetória da construção do livro, quando decidiu convidar outros historiadores para o debate/reflexão sobre o tema. Em suas palavras, “Um período tão rico da nossa história, que muitas vezes é negligenciado por se pensar que a guerra foi bem longe daqui…Ledo engano, pois se o front ocorreu do outro lado do Oceano, aqui também se fez presente, atingindo as mentes e os corações tupiniquins, especialmente os que habitam esta região do país” (p. 09). Movida por esse desejo de ampliar, unir e socializar pesquisas, foi que a presente coletânea teve sua origem.
O livro Nordeste do Brasil na II Guerra Mundial, além da sincera e pertinente Apresentação assinada pela organizadora, é composto por quatorze capítulos, todos debatendo sobre o conflito mundial e suas vinculações com alguma cidade ou capital do Nordeste. São dois capítulos ambientados em Sergipe, dois em Pernambuco, dois na Bahia, três no Rio Grande do Norte, um no Piauí, um na Paraíba, um no Ceará, um no Maranhão, um em Alagoas. A disposição dos capítulos não segue uma “lógica” específica, nem de recorte temporal e nem de agrupamento dos estados, tendo o tema da Segunda Guerra como único elemento aglutinador. Isso, ao contrário do que se possa pensar inicialmente, atribui mais leveza e fluidez à leitura, pois promove dinâmica na exposição dos objetos selecionados. Ao final, somos apresentados aos autores dos capítulos, com um breve resumo biográfico, com suas titulações e filiações acadêmicas.
Mais que uma coletânea de artigos produzidos eximiamente por estudiosos e especialistas na temática. É um referencial para e na historiografia, sobretudo no que tange ao capricho teórico-metodológico. Não se trata de um esforço de “encaixar” o Nordeste brasileiro em um episódio ou em acontecimentos, ou ainda, de “fazer” o Nordeste parte daquele momento beligerante da História mundial. Os estudos que integram a coletânea transitam, conscientemente, entre os limites e possibilidades das questões plurais de fronteira. São autores estão compromissados em “fazer” História, que, por sua vez, está imersa em temporalidades e espacialidades que ora se cruzam, ora se distanciam. Essa alternância se justifica, em grande medida, em decorrência das escolhas e recortes que os pesquisadores fazem. Isso é inerente ao campo científico da História. A percepção desse contraditório limite/expansão do termo “fronteira” é, também, uma tentativa de desnaturalizar o regional, o nacional ou o global como conceitos essenciais, prontos e imutáveis.
O esmero da obra, de fato, já se apresenta no excelente projeto gráfico da capa, que não faz o papel unicamente de adornar o livro. A capa em si já é o compromisso com o despertar e o refletir sobre o que, de forma direta e concisa, aponta o próprio título da obra. Imagens de espaços, sujeitos, momentos e ações diferentes, agrupadas como recortes que compõem uma colagem, isso tudo leva o leitor a pensar no caráter lacunar da história e na posição indelével do historiador, sobretudo no levantamento, na interpretação e na síntese que faz com e sobre as fontes. Fontes escritas, orais e audiovisuais, somadas a mapas, dados numéricos e gráficos, são exemplos da diversificação de olhares sobre os quais os autores se debruçaram para imprimirem suas análises, na presente obra coletiva. As fontes são lidas, problematizadas e interpretadas cuidadosamente à luz da teoria e da historiografia sobre a História da Guerra, a História nacional e das particularidades locais e regionais. Por essa razão, é que, de certa forma, os capítulos travam diálogos com múltiplas especialidades da História, como a história econômica, a história política, a história urbana, a história do cotidiano, a história cultural. No tocante à História Oral, Luiz Gustavo Costa sintetiza bem o seu uso nesta coletânea, ao afirmar que “não se buscou construir ou reconstruir conceitos historiográficos, mas abordagens que permitissem contornar caminhos alternativos embasados em critérios na busca constante em pesquisar determinadas entrelinhas” (p. 272). Cada capítulo aborda entrelinhas que, até então, ainda eram carentes de pesquisa e de conhecimento de um público mais amplo.
São artigos que transitam por variadas possibilidades de interconexões do fazer historiográfico. Por se tratar de um conjunto de pesquisas sobre uma das mais impactantes desventuras do mundo moderno, a Segunda Guerra Mundial, os textos podem ser lidos e interpretados a partir de alguns vieses de entendimento, como a História Política, no esteio daquilo que René Remónd (1997), e seus colaboradores, propunham pensar o mundo da vida política em seus muitos horizontes. Nesse sentido, os artigos que compõem o Nordeste do Brasil na II Guerra Mundial apontam para como, em diferentes configurações culturais, econômicas, sociais e culturais, as políticas de atuação naquele episódio beligerante eram encaminhadas. Quando se fala de atuação, aqui, fala-se em convocação, participação, resistência, apoio, negação, medo, expectativa, imaginário, representações e demais alcances da Guerra no cenário nordestino.
O espaço e as suas subjetividades, corroborando a ideia de que os limites e fronteiras devem ser percebidos e problematizados em diferentes configurações, são, também, uma perspectiva potencial com a qual o leitor vai se deparar. As inúmeras bifurcações, ou melhor, os múltiplos veios entre o global, o nacional e o regional ganham ainda mais complexidade e viabilidade quando, em meio a tantos artigos, é possível se deparar com estudos que abordam o tema tomando um bairro como recorte espacial e se constitui como objeto.
Os gatilhos para a construção de um objeto de estudo são praticamente ilimitados. O leitor vai se surpreender como os autores aqui reunidos buscaram, em diferentes fontes e matrizes teóricas, a maneira particular de analisar e de apresentar seus olhares sobre a Guerra. O cotidiano, em variadas expressões foi tomado por alguns dos autores, como o fio que os levassem à problematização e construção de suas narrativas.
O desconhecido, o conflito, o medo, a força, a violência, o sonho, a esperança são alguns dos sentimentos que, em boa medida, podem ser percebidos nos textos agrupados. Ataques por mar e terra, espionagem, censura, representações, imprensa, discursos, morte, pobreza e precarização das condições de vida são tópicos e temas analisados ao longo da coletânea, como pode ser notado nos capítulos de autoria de Luana Carvalho, de Juliana Campos Leite, de Armando Siqueira. Episódios sangrentos e violentos, como aqueles do “Pearl Harbor brasileiro”, em Sergipe, discutido por Dilton Cândido Maynard, são revisitados para compreender os alcances simbólicos, imaginários, diplomáticos e políticos e políticos daquele conflito bélico de escala mundial. O mesmo terror é analisado no capítulo assinado em coautoria por Luiz Pinto Cruz e Lina de Aras, ao abordar os ataques empreendidos dos submarinos alemães no litoral sergipano. As relações diretas e indiretas entre os norte-americanos e alguns políticos e lideranças brasileiros são discutidas em diferentes abordagens, como é abordado pelos capítulos de autoria de Anna Cordeiro e de Raquel Silva. Os impactos sociais e urbanos também são analisados nos textos de Osias Santos Filho e de Sérgio Lima Conceição.
Nesse entremeio de textos e análises, é possível historicizar a Segunda Guerra Mundial a partir das críticas e sátiras que blocos de carnaval faziam, após a Guerra, sobre como a sociedade se comportava e representava aquele momento. O carnaval pós-guerra é tomado, então, como um sinalizador para as ranhuras, relações e sociabilidades que o contato, direto ou indireto com a Guerra, causou. Esse é o caso de Fortaleza, com o bloco dos CocaColas. Tal bloco, como discute o historiador Antônio Luiz Macêdo e Silva Filho. Diversão, irreverência e crítica, como têm sido as maiores marcas do carnaval ao longo dos tempos, se encontram para pensar sobre aquele período e sobre a sociedade. O Carnaval é também mencionado por Flávia de Sá Pedreira, em capítulo de sua autoria, quando a autora sobre os discursos acerca da produção artístico-cultural da cidade de Natal, sobretudo a partir do posicionamento de intelectuais, como Luís da Câmara Cascudo. A Segunda Guerra foi uma experiência com proporções quase imensuráveis e, como afirma Antônio Luiz Silva Filho, “as marcas dessa experiência seguem convidando a novas investigações” (p. 60).
A interseção entre cotidiano e guerra é ampliada em artigos como o de Daviana Granjeiro da Silva, que aborda aspectos da identidade para pensar o cotidiano em João Pessoa no período de guerra. Assim como as noções de fronteira devem ser desnaturalizadas, a historiadora apresenta, consciente e sutil, a discussão de que as identidades são importantes para as manifestações, mobilizações, acordos e resistências. Além disso, de que, lembrando aqui das identidades plurais propostas por Stuart Hall (2006), os sentidos ou sentimentos de pertencimento perpassam pelas construções e disputas de identidades. Por esse diapasão, Daviana da Silva conclui que “os desdobramentos de um conflito como foi a Segunda Guerra Mundial trazem efeitos para além dos campos de batalhas e do tempo cronológico de duração oficial do confronto, pois alteram modos de vida e visões de mundo de milhares de pessoas, mesmo em lugares tão distantes do front, o que ratifica a relevância de continuarmos estudando e refletindo sobre este momento peculiar de nossa história” (p. 184).
Da mesma maneira que as identidades, as memórias estão afloradas e debatidas ao longo dos textos da presente coletânea. Em alguns, de forma mais evidente e direta, em outros, de maneira mais diluída em subtemas ou na maneira com o trato com as fontes. Em relação a essas, é indispensável mencionar que todos os capítulos lidam com um leque amplo, desde documentos oficiais ligados à Força Expedicionária Brasileira (FEB), bem como depoimentos escritos de intelectuais e literatos, em sua fricção com depoimentos orais. É assim que, por exemplo, a historiadora Clarice Helena Santiago Lira constrói sua narrativa, promovendo o confronto entre diferentes fontes escritas e orais, para falar sobre o processo de mobilização de guerra na sociedade piauiense, utilizando a noção de front interno como mote de reflexão. A autora concluiu seu texto, afirmando que “a memória social sobre o processo de mobilização de guerra na cidade de Teresina não se faz presente, o que também é constatado por pesquisadores que estudam outras cidades brasileiras nessa configuração” (p. 133).
O repertório e manancial teórico e historiográfico são plurais e utilizados com maestria pelos autores da coletânea. A maioria não fugiu do contato inicial com os ensinamentos de referência de Roney Cytrynowicz (2000) e de Marlene de Fáveri (2002), sobretudo no que se refere ao trabalho de mobilização de guerra no Brasil. Além desses, estudiosos como Gerson Moura (1980; 19930), Silvana Goulart (1990), Vágner Alves (2002), Luiz Muniz Bandeira (2007) e Maria Capelato (2009) foram constantemente revisitados pelos historiadores que colaboraram com a presente coletânea. O diálogo empreendido é fluente, fazendo com que historiografia, teoria e empiria sejam colocadas de forma conexa.
No campo estritamente teórico, os capítulos estão ligados pelos meandros da memória, pois, em certa escala, abordam comunidades de memória ou grupos de memória. Essa concepção de memória, no lastro do que sugere Paul Connerton (1993), em que grupo assume tanto dimensões mais particulares de pequenas sociedades, quanto as dimensões mais complexas e, territorialmente falando, mais extensas. Nesse sentido, os grupos de pessoas de um bairro, de uma cidade, de um agrupamento militar, de lideranças políticas e intelectuais estão imersos nesse deslizamento entre o particular e geral do grupo, constituindo memórias singulares e plurais sobre a Guerra, seus agentes, sobre os espaços e temporalidades. De forma mais abrangente, ainda é viável ler toda a coletânea a partir dos conceitos de sistemas denominados de finalidade e causalidade, como propostos por Jean Baptiste Duroselle (2000), pois desde a movimentação política dos Estados até as reverberações sociais e cotidianas da população, tais sistemas estão manifestados.
Grande parte da riqueza e da importância desta coletânea está no fato de que, conforme a organizadora da obra, a historiadora Flávia de Sá Pedreira, “a indiscutível posição geográfica desta região do país muito contribuiu para o desfecho vitorioso dos países Aliados. A discussão a sobre a necessidade de se construir bases aéreas norte-americanas aqui demorou cerca de três anos, com intensas negociações entre os governos brasileiro e estadunidense. Com a instalação das bases, a partir de dezembro de 1941, o contato entre a população local e os estrangeiros fez-se de forma nem sempre harmoniosa, passando de uma convivência inicialmente cordial à confrontação explícita, principalmente na fase de racionamento em prol do ‘esforço da guerra’” (p. 08). A presente coletânea é um convite ao leitor, para que histórias antes silenciadas ou pouco conhecidas sejam retiradas das trincheiras do esquecimento. É um esforço coletivo em levar para o front da historiografia sujeitos e histórias responsáveis por inúmeras experiências urbanas da Guerra do outro lado do Oceano, do lado brasileiro, do lado nordestino. É importante frisar que, mesmo que cada autor presente nesta obra já tenha publicado inúmeros artigos em periódicos especializados e ter os apresentado em muitos eventos acadêmico-científicos, este livro se materializa como um símbolo e um norte para que novos pesquisadores e estudiosos sintam-se cada vez mais impelidos ao combate, no sentido amplo defendido por Lucien Febvre (1989). Mais que uma obra cujo público seria formado exclusivamente os especialistas e estudiosos das e nas universidades. A obra tem um alcance além, pois as narrativas, mesmo atendendo ao rigor científico e metodológico, não se distanciam da facilidade de compreensão por parte de qualquer público leitor interessado. Movidos pelo dever e pela responsabilidade de (re)escrever a História, em seus múltiplos vieses e horizontes.
Referências
PEDREIRA, Flávia de Sá (Org.). Nordeste do Brasil na II Guerra Mundial. São Paulo: LCTE, 2019, 340p.
CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo. São Paulo: EDUNESP, 2009.
CONNERTON, Paul. Como as sociedades recordam. Portugal: Celta, 1993.
DUROSELLE, Jean Baptiste. Todo império perecerá. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
FEBVRE, Lucien. Combates pela História. 2. ed. Lisboa: Editora Presença, 1989.
GOULART, Silvana. Sob a verdade oficial: ideologia, propaganda e censura no Estado Novo. CNPq/Marco Zero, 1990.
HALL, Stuart. O Global, o local e o retorno da etnia. In: HALL, Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
MOURA, Gerson. Autonomia na dependência: a política externa brasileira de 1935 a 1942. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
______. Neutralidade dependente: o caso do Brasil, 1939-1942. Estudos Históricos, v. 6, n. 12, Rio de Janeiro, 1993.
MUNIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Presença dos Estados Unidos no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
REMOND, René (Org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Fundação Getúlio Vargas, 1997.
Pedro Pio Fontineles Filho – Doutor em História Social (UFC). Mestre e Especialista em História do Brasil (UFPI). Graduado em História (UESPI). Graduado em Letras-Inglês (UFPI). Professor do Programa de Pós-Graduação em História (UFPI). Professor do Mestrado Profissional – PROFHISTÓRIA (UESPI). Professor do Curso de História (UESPI/CCM). E-mail: [email protected]
PEDREIRA, Flávia de Sá (Org.). Nordeste do Brasil na II Guerra Mundial. São Paulo: LCTE, 2019. Resenha de: FONTINELES FILHO, Pedro Pio. Além das Trincheiras e do Front: escritas sobre o Nordeste brasileiro e a Segunda Guerra Mundial. Vozes, Pretérito & Devir. Piauí, v.10, n.1, p. 269- 275, 2019. Acessar publicação original [DR]
O Triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial – VALIM (RTA)
VALIM, Alexandre Busko. O Triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial. São Paulo: Ed. Alameda, 2017. Resenha de: CARNEIRO, Ana Marília. Cinematógrafos de guerra: cinema e propaganda estadunidense no Brasil durante a II Guerra Mundial. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.26, p.635-640, jan./abr., 2019.
A obra que temos em mãos trata de um tema caro às experiências bélicas do século XX: a propaganda como arma de guerra e instrumento de persuasão na formação de consenso em torno da hegemonia estadunidense na América Latina. Em contraste com a barbárie e a violência emergentes dos confrontos da II Guerra Mundial, a máquina de guerra mobilizada para conquistar mentes, corações e aliados em meio ao campo de batalha consistiu em uma das expressões mais extraordinárias e fascinantes da cultura contemporânea: o cinema.
O livro de Alexandre Busko Valim, O Triunfo da persuasão. Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial, publicado em 2017, dedica-se ao estudo da dinâmica da produção e difusão da propaganda estadunidense por meio do cinema no Brasil, alvo estratégico e privilegiado da campanha dos aliados em meio ao turbulento cenário da II Guerra Mundial. Resultado de uma pesquisa de fôlego, a obra é amparada no valioso e robusto acervo de fontes documentais referentes ao Office of the Coordinator of Inter-American Affairs – Office, consultadas no National Archives dos Estados Unidos. Ainda pouco exploradas pela literatura dedicada às relações interamericanas, as fontes — e, sem dúvida, a habilidade do autor aliada a um fecundo diálogo com a bibliografia especializada — permitiram a construção de uma narrativa potente, permeada de relatos surpreendentes e informações impactantes.
Um dos importantes diferenciais do estudo de Alexandre Valim é sua perspectiva de análise: o autor se esquiva de uma abordagem mais tradicional fundamentada na análise fílmica e pensa o cinema — e a problemática histórica — munido de uma visão mais ampla, como um fenômeno que envolve diversas dimensões. Ou seja, o cinema, como objeto de estudo, deve ser compreendido como um conjunto de práticas sociais que escapa à simples análise das fontes visuais, conduzindo o pesquisador em direção a um tratamento mais abrangente da visualidade como uma dimensão importante da vida social e dos processos sociais (MENESES, 2003, p. 11).
Para além da compreensão do cinema como mero entretenimento e obra estética, um estudo mais denso do âmbito cinematográfico exige que o investigador esteja atento à capacidade de influência, persuasão e encantamento do público através do cinema, ao uso de filmes como veículos de difusão de determinadas políticas, valores e culturas, à análise das suas condições de produção, exibição e distribuição, além da complexa rede de sociabilidades e relações de poder envolvidas na sua realização. Todas essas questões estão presentes no texto de Alexandre Valim, que situa a análise da propaganda estadunidense por meio do cinema atrelada a uma contraofensiva de guerra na qual estava em jogo, para os Estados Unidos, a conquista de parceiros econômicos e aliados políticos na América Latina.
Criado em 1940, por determinação do presidente Franklin Roosevelt, para coordenar as relações comerciais e culturais entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, o Office representou, de maneira emblemática, o notável esforço de mobilização da nascente indústria cultural em favor da manutenção da posição hegemônica dos Estados Unidos na América Latina durante a II Guerra Mundial. Dentre os múltiplos âmbitos de atuação do Office, Valim se debruça sobre as atividades de propaganda difundidas através do cinema, um empreendimento posto em marcha pela Divisão de Cinema do Office e pela primeira unidade do Office na América Latina, a Brazilian Division.
Os atores envolvidos nessa trama não pertencem somente ao quadro de funcionários da agência governamental estadunidense; ao longo das páginas, nos deparamos com sujeitos de alta performance como Walt Disney, Nelson Rockefeller, Carmen Miranda, Orson Welles, empresários dos grandes estúdios de cinema de Hollywood, embaixadores dos Estados Unidos e agentes do Departamento de Imprensa e Propaganda do presidente Getúlio Vargas. No entanto, é fundamental recordar: a propaganda possui um alvo privilegiado; nesse caso específico, a plateia. Essa é a audiência que deve ser persuadida.
Um dos plot points da obra é justamente o capítulo intitulado O Show Precisa Continuar: o cinema da boa vizinhança adentra o país. Nesta parte do texto são retratadas as diversas dificuldades e obstáculos enfrentados pelas equipes da Brazilian Division para realizar exibições de filmes nas pequenas cidades do interior do país. As incursões consistiam em verdadeiras sagas, e envolviam o deslocamento dos projetistas e seus pesados equipamentos através de estradas precárias, muitas vezes empregando o transporte de tração animal ou mesmo em lombos de mula, além de pequenos barcos e canoas. Às dificuldades de transporte em um país com as dimensões territoriais do Brasil somavam-se a falta de energia elétrica em muitas localidades, a inutilização dos filmes e projetores devido aos danos causados durante o transporte, às elevadas temperaturas ou à alta umidade, à impossibilidade de reposição de peças eventualmente danificadas durante as exibições, como lâmpadas, cabos, válvulas, transformadores. Todas essas adversidades de logística e transporte enfrentadas pela equipe da Brazilian Division nos ajudam a vislumbrar a dimensão da importância do projeto de disseminação em larga escala da propaganda estadunidense por meio do cinema.
A linguagem visual explorada neste capítulo é evocada de maneira recorrente: a partir de um dos projetos mais ousados experimentados no Brasil, as sessões de cinema realizadas em vagões de trens ou mesmo através dos Unit Mobiles, uma parceria com empresas do ramo farmacêutico que proporcionava automóveis adaptados com telas para exibir filmes, cinejornais e desenhos animados selecionados pela Brazilian Division e, ao mesmo tempo, comercializava, para o público, medicamentos como Leite de Magnésia, Melhoral e Pílulas de Vida do Dr. Ross. As impressionantes imagens fotográficas que acompanham o livro eternizaram as sessões de cinema a céu aberto realizadas em praças públicas de cidades do interior, penitenciárias, escolas, quartéis e até mesmo hospitais psiquiátricos. As exibições — sempre gratuitas — atingiam um amplo público espectador, proveniente não apenas da elite e da classe média, mas também das classes populares, composta muitas vezes por indivíduos que nunca haviam experimentado uma sessão de cinema e que permaneciam encantados por verem pela primeira vez um bombardeio de imagens em movimento.
E se o alvorecer do século XX foi iluminado por uma nova forma de linguagem visual, imagens em movimento difundidas pelos cinematográfos em escala mundial, é necessário refletir sobre o poder desse novo suporte e artefato cultural de gerar imaginários sociais e práticas representacionais. A pesquisa de Alexandre Valim não se debruça diretamente sobre o campo de recepção das películas estadunidenses entre o público brasileiro, entretanto, revela importantes aspectos: o primeiro, a existência de um pesado investimento em propaganda e na produção cinematográfica por parte do governo dos EUA; a grande capilaridade atingida no interior do Brasil através do projeto de popularização das exibições e a larga audiência alcançada, em grande medida formada por um público analfabeto. Certamente, não se deve tomar a esfera de influência do público, provocada pelos filmes de propaganda, de maneira mecânica e em via de mão única, afinal, a consciência não é uma tela em branco, e o campo da cultura é um campo de batalha, permeado por lutas e resistências. No entanto, como afirma Stuart Hall (2003, p. 240), as operações culturais estão ligadas aos mecanismos de hegemonia cultural em jogo, e há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas. E, como adverte Alexandre Valim (2017, p. 313), embora uma avaliação precisa sobre o cinema de propaganda no Brasil seja uma tarefa extremamente difícil de ser realizada, “o imenso v.de fontes produzidas pelas agências governamentais estadunidenses atuando em território brasileiro sugerem fortemente que esse impacto foi profundo e duradouro”.
Vale ressaltar: o cinema “não é somente um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”1. O sucesso de público nas exibições e o grande alcance do projeto propagandístico era fruto de um intenso esforço por parte do pessoal da Brazilian Division, que envolvia a mobilização de uma complexa rede de contatos, negociações e acordos entre autoridades locais, políticos, militares, funcionários do DIP e mesmo entre a alta cúpula do Office, uma vez que “o intenso contato com a realidade brasileira por estadunidenses que estiveram no país fez com que, frequentemente, estes flexibilizassem diretrizes elaboradas em Washington em prol de perspectivas mais humanistas e solidárias” (VALIM, 2017, p. 312).
Se, por um lado, o autor destaca a importância de compreender a diversidade dessas relações, representações e práticas estabelecidas entre os segmentos estadunidenses e latino-americanos, por vezes contraditórias e divergentes, por outro, não hesita em ratificar o imperialismo midiático presente no programa de propaganda estadunidense para a América Latina que perpassa os vários circuitos de relações de poder, reproduzindo e atualizando antigos métodos de controle e dominação. uso do cinema como recurso de aproximação entre os Estados Unidos e o Brasil durante a II Guerra Mundial teve um impacto sem precedentes, e não serviu apenas como instrumento de convencimento e persuasão no campo político-ideológico ou no controle de um estratégico mercado fornecedor de matérias-primas. O American Way of Life difundido através da propaganda no cinema vendia também novos hábitos, estilos, modas, costumes e comportamentos que transformaram de maneira decisiva a sociedade brasileira. Através de uma linguagem simples, o livro de Alexandre Valim traz uma análise sofisticada envolvendo propaganda, cinema e guerra, uma tríade de elementos importantes para a compreensão do poder de persuasão que serve de munição à indústria cinematográfica até os dias de hoje.
Referências
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, 2003.
VALIM, Alexandre Busko. O Triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial. São Paulo: Ed. Alameda, 2017. 1 A associação cinema-espetáculo foi apropriada de Guy Debord, para quem o espetáculo “não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”. Cf. DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997, p. 12.
Ana Marília Carneiro – Doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte, MG – BRASIL E-mail: [email protected].
La guerre de ecrivains (1940-1953) – SAPIRO (RBHE)
SAPIRO, G. La guerre de ecrivains (1940-1953). Paris: Fayard, 1999. Resenha de: CAMPOS, N. de. La guerre des écrivains. Revista Brasileira de História da Educação, 19, 2019.
Esse livro, escrito pela socióloga francesa Gisèle Sapiro, foi publicado em 1999. Ele é decorrente de sua tese de doutorado, defendida em 1994, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (Paris), sob a orientação de Pierre Bourdieu. Essa obra tem 807 páginas, contando introdução, nove capítulos, conclusão, anexos, agradecimentos, bibliografia, índice de nomes e sumário. Ela se organiza em três partes: lógicas literárias do engajamento (primeira parte), constituída com três capítulos; instituições literárias e crise nacional (segunda parte), formada por quatro capítulos; a justiça literária (terceira parte), contendo dois capítulos. A delimitação temporal inicial tem relação com a Ocupação da França pela Alemanha e a assinatura do armistício; já o período final está associado à segunda Lei de Anistia, “[…] após o que, sem desaparecer, as questões literárias, nascidas na crise, cessam de dominar a vida literária” (Sapiro, 1999, p. 17).
A investigação dessa socióloga tem como principal preocupação “[…] por em evidência a especificidade da conduta dos escritores no contexto da Ocupação, à luz das representações e das práticas próprias dos meios literários” (Sapiro, 1999, p. 9). De acordo com ela (1999, p. 9), “[…] a questão importante é por que e como os escritores respondem a essa demanda?” Assim, sua abordagem é diferente de outros estudos que explicam o engajamento dos escritores a partir de uma perspectiva centrada na política. Nas palavras da autora (1999, p. 10), “[…] contra a tendência a dissociar essas duas dimensões, este livro entende que se esclarece uma pela outra, ao inscrevê-las em uma abordagem mais global dos ambientes literários e de seus modos de funcionamento naquela época”. Conforme Gisèle Sapiro (1999, p. 12), “[…] durante a Ocupação, o campo literário viu serem abolidas as condições que lhe asseguravam uma relativa independência, em particular a liberdade de expressão”. Os escritores, na avaliação de Sapiro (1999, p. 11), “[…] não escapam à lógica das lutas. Mas a guerra dos escritores não é o puro reflexo da guerra civil. Como todo universo profissional, o mundo literário tem seus códigos, suas preferências, suas regras do jogo e seus princípios de divisão próprios”. Diante disso, indaga essa pesquisadora (1999, p. 12): “[…] que ocorre com a autonomia literária em período de crise? Sob que forma sobrevive e que resistência se opõe às pressões externas?”.
A partir de muitos textos publicados nos jornais da França, de correspondências e entrevistas, assim como em interlocução com extensa literatura das ciências humanas, em particular da sociologia dos intelectuais e da história intelectual, a autora mostra como os escritores engajaram-se e tomaram posições políticas. Ela descreve que havia quatro tipos de lógicas sociais que coexistiam no campo literário e que induziam relações diferentes entre literatura e política. A primeira é denominada de lógica estatal, em que estavam as frações detentoras do poder econômico e do poder político. A segunda lógica coincide com o polo de grande produção, próxima do jornalismo, lugar da lógica mediática. Em seguida, aparece a lógica estética, em que estariam os escritores com forte poder simbólico. Esse grupo tende “[…] a se distanciar da política e da moral” (Sapiro, 1999, p. 13). Por fim, existiria o polo dos escritores de vanguarda, grupo formado a partir do interesse em produzir uma literatura subversiva, engajada. Essas quatro lógicas são tipos ideais. Logo, como bem destaca a socióloga (1999, p. 13), “[…] essas diferenças lógicas, inexistentes em estado puro, encarnam-se mais ou menos nas práticas e nas instituições”. Essas lógicas são associadas às quatro instituições analisadas nesse livro: Academia Francesa (lógica estatal); Academia Goncourt (lógica mediática); Nova Revista Francesa – NRF (lógica estética); Comitê Nacional dos Escritores (lógica subversiva/política).
A primeira parte tem como preocupação explicar as lógicas literárias eos engajamentos dos escritores. A parte seguinte mostra como as quatro lógicas encarnam-se nas quatro instituições estudadas (Academia Francesa, Academia Goncourt, NRF e Comitê Nacional dos Escritores). De acordo com Sapiro (1999, p. 16), “[…] dotadas de uma razão social e de uma identidade, essas quatro instâncias ilustram as lógicas estatal, mediática, estética e política”. Por fim, na terceira parte, o livro discorre sobre os efeitos da crise após o período de Ocupação, pois “[…] eles determinam largamente os modos de reestruturação do campo literário” (Sapiro, 1999, p. 17). Essa descrição é estrutural, como bem reconhece essa socióloga. Porém, essas tendências podem ser observadas nas especificidades dos diversos níveis e na encarnação das lutas onde se confrontam as diferentes concepções de literatura e as diversas compreensões do papel social do escritor.
Em termos mais precisos, a primeira parte trata do debate entre os escritores a respeito do papel social do intelectual. A partir da discussão em torno do ‘gênio francês’ e dos ‘maus mestres’, a autora reconstitui um profundo e complexo debate entre os escritores para defender diferentes posições do intelectual. Conforme assinala Sapiro (1999, p. 106, grifo do autor), “[…] é em nome do ‘gênio francês’ que são conduzidas as lutas que estruturam o campo literário na primeira metade do século XX”. Cada um desses elementos serve de pano de fundo para a socióloga mapear as posições dos mais diferentes escritores, em específico, o confronto entre a politização do campo cultural e a luta pela sua autonomia frente aos interesses da política e da moral. Ao final dessa parte, ela destaca duas trajetórias exemplares (François Mauriac e Henry Bordeaux) que “[…] ilustram a articulação entre a clivagem geracional, a oposição entre autonomia/heteronomia e as divergências ideológicas” (Sapiro, 1999, p. 207). Essas individualidades, pertencentes à Academia Francesa e com origens sociais e religiosas semelhantes, tomaram posições distintas. Mauriac tornou-se um defensor dos escritores denominados de ‘maus mestres’, situação considerada atípica ou improvável por Sapiro. De outra parte, Bordeaux promovia a campanha contra os escritores classificados de ‘maus mestres’.
A segunda parte do livro indica como esse debate inscreveu-se em cada uma das quatro instituições francesas. Ela elege um capítulo para cada instituição, trazendo riqueza de detalhes. Embora as análises estejam divididas em partes, não há abordagens isoladas de cada uma das instituições. A autora sintetiza uma tendência predominante em cada espaço, a saber, o senso do dever (Academia Francesa); o senso do escândalo (Academia Goncourt); o senso da distinção (NRF); o senso da subversão (Comitê Nacional dos Escritores). Antes de analisar cada uma dessas instituições, Sapiro sintetiza a ideia dessa parte do livro em duas páginas e meia. Ali, ela anota que busca mostrar como, no seio desses espaços literários, os escritores se confrontavam na luta pela definição da identidade da instituição e do papel que ela deveria exercer no período de crise nacional.
Desse modo, essa parte mostra como esses espaços institucionais definiram as posições individuais. Ao mesmo tempo evidencia as mudanças das instituições, particularmente a movimentação da NRF, fundada em 1909. Posteriormente, essa revista passou a aproximar-se do grupo da literatura engajada, cuja expressão contundente é a trajetória de André Gide. Apesar disso, o livro mostra a permanência da posição da Academia Francesa, muito embora trate do caso atípico de François Mauriac que aderiu à literatura subversiva. Já no início, Sapiro (1999, p. 249) afirma que, “[…] das quatro instituições que nós estudamos, a Academia Francesa é a que participa mais diretamente, por meio de seus membros, da vida política oficial”. Essa instituição, criada em 1635, agrupa as frações dominantes da classe dominante, donde se exerce o controle sobre o campo literário. Assim sendo, as lutas políticas dessa comunidade estavam associadas ao combate aos escritores que se posicionavam no polo altamente politizado, aqueles que pretendiam transformar a literatura em luta política (grupo do Comitê Nacional dos Escritores).
A Academia Goncourt, criada em 1903, expressa o modelo de senso do escândalo, pois, nascida com interesse em salvaguardar certa autonomia do campo literário e contrapondo-se ao modelo mais tradicional de literatura da Academia Francesa, logo se vê no permanente jogo entre as forças dos diferentes campos sociais. As trajetórias de seus integrantes e as premiações concedidas evidenciam forte presença de autores oriundos da imprensa francesa. Ao longo do texto, Sapiro mostra as alterações da própria instituição, especialmente nos momentos mais críticos, como a Ocupação, quando esse espaço do campo literário não deixou de pronunciar-se e tomar posição no campo intelectual. A autora identifica uma tendência dessa instituição, um tipo ideal, sem deixar de historicizar as disputas internas, os posicionamentos conflitantes entre os seus integrantes, assim como o imiscuir-se nas disputas do campo político. Ela procura demonstrar como a ideia de autonomia/heteronomia do campo literário é o mote da discussão na instituição, ganhando ares peculiares no momento crítico da história francesa dos anos de 1940.
Na sequência, Sapiro centra sua análise no movimento da NRF, criada em 1909. Embora, o recorte de sua análise seja o contexto da Ocupação alemã e o período da Liberação, sua escrita retrata a pretensão de André Gide no momento de criação dessa revista, bem como os anos seguintes à Primeira Guerra Mundial. Apesar de o senso de distinção constituir o horizonte de identidade dessa instituição, os casos exemplares de Gide (rumou à resistência literária) e Drieu La Rochelle (aderiu ao grupo colaboracionista) evidenciam como o problema da autonomia/heteronomia conformava as representações e as práticas da instituição e de seus integrantes.
Por fim, a partir da tipologia – senso de subversão -, a autora descreve e explica a ação do Comitê Nacional dos Escritores. Nesse grupo, constituído por integrantes de diversos subgrupos, encontrava-se o principal espaço de resistência literária. A partir de um conjunto de escritos, seus integrantes promoviam intervenções no âmbito da política, destacando-se seus posicionamentos de combate à literatura não engajada que era reivindicada pela Academia Francesa, pela Academia Goncourt e pela NRF. A partir dos anos de 1930, esse comitê tornou-se um espaço de congregação de grupos distintos, como, por exemplo, comunistas, católicos progressistas (François Mauriac, Jacques Maritain), confrontando-se aos valores nacionalistas que já estavam presentes no contexto do caso Dreyfus (final do século XIX), mas que ganharam ares mais dramáticos com a ascensão de Hitler e o avanço das bandeiras defendidas pela extrema-direita. Enfim, ao longo da obra, Sapiro descortina em detalhes como o comitê ofereceu “[…] aos escritores os meios de lutar com suas armas próprias, reativando a dimensão subversiva da literatura e assegurando à Resistência intelectual o seu prestígio” (Sapiro, 1999, p. 467).
Se nas primeiras partes há intensa exposição para explicar os posicionamentos das quatro instituições e mostrar ‘a guerra dos escritores’, a última retrata o período posterior a agosto de 1944, quando Paris foi libertada. A autora identifica que essa condição redundou na recomposição do campo intelectual, sobressaindo-se o problema do papel da literatura e do escritor. É sintomático daquele momento o fato de a revista Tempos Modernos ocupar o lugar da NRF, cujo mote seria a defesa da literatura engajada em oposição à literatura pura. Sapiro mostra que essa disputa inscrevia-se na concorrência entre gerações de escritores, na oposição entre moralistas e defensores da literatura pura e na clivagem ideológica esquerda e direita. Aqui está presente a disputa pelo controle do próprio campo dos escritores. O comitê é oficialmente institucionalizado, incorporando todo capital simbólico do período de Resistência na clandestinidade. Assim, esse espaço procura constituir-se como o lugar autorizado para dizer o que é a literatura e qual deve ser o papel do escritor. E, mais do que isso, dizer que ao escritor está atribuída a missão de reconstrução da própria França.
Depois da derrota da Alemanha, conforme atesta Sapiro (1999, p. 17, grifo do autor),
A noção de ‘responsabilidade do escritor’ está no coração das lutas. Saído da sombra do Comitê Nacional dos Escritores pretendia-se instaurar uma nova deontologia do ofício do escritor. Mas seu poder de excomunhão é rapidamente contestado. Abalados por divisões internas, as instâncias nascidas da Resistência se encontram confrontadas às instâncias tradicionais, entendendo que devem reencontrar seus lugares e tomar parte na reconstrução nacional.
Porém, como bem mostra esse livro, as primeiras fissuras internas desse comitê ocorreram entre comunistas e não comunistas. Além disso, as divisões internas foram demarcadas por outras divergências, como, por exemplo: entre membros oriundos da zona Norte (região ocupada pela Alemanha) e zona Sul (região ‘livre’, governada por Pétain); entre antigos e novos integrantes; a controversa ‘lista negra’ – publicação dos nomes dos escritores apoiadores da Ocupação e do regime Vichy. Ao final dessa parte, a narrativa mostra como as instituições literárias se reconfiguraram no novo momento da França, em particular, no contexto de reconstrução nacional. Ou seja, como se estabeleceram as disputas entre Academia Francesa, Academia Goncourt e Comitê dos Escritores para definir o papel social da literatura e do escritor, sem deixar de indicar as clivagens internas, em específico, do comitê. Embora o recorte final da obra seja 1953, Sapiro não deixa de indicar que os efeitos dos debates da Ocupação e da Liberação ganharam sentidos diferenciados no contexto da Guerra Fria, reinserindo o problema da posição do escritor e das instituições literárias no âmbito das questões políticas, isto é, reapareceria o problema da autonomia/heteronomia do campo cultural.
Por fim, é importante ressaltar que esta síntese apresenta a ideia geral da obra e os elementos centrais de cada parte. Esse livro que se inscreve no âmbito da sociologia dos Intelectuais é fecundo ao campo de pesquisa das ciências humanas. Ademais, merecem destaque as possibilidades de diálogo com áreas mais específicas, particularmente, com a história intelectual. O campo intelectual (sociologia dos Intelectuais) é um dos temas principais de Giséle Sapiro que já tem algumas produções traduzidas e publicadas no Brasil. O problema dos intelectuais ou do campo intelectual é objeto bastante revisitado, nos últimos anos, por diversos pesquisadores brasileiros. Assim, espera-se que esta resenha tenha sintetizado o conjunto das principais ideias dessa obra de fôlego e estimulado o leitor a acessá-la, pois ela poderá ser bastante útil para ampliar os horizontes de pesquisa nas ciências humanas, especificamente, na história intelectual e história dos Intelectuais.
Referências
Sapiro, G. (1999). La guerre des écrivains (1940-1953). Paris, FR: Fayard.
Névio de Campos – Pós-doutorando (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris); Pós-doutor em História (UFPR); Doutor em Educação (UFPR); Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Pesquisador Produtividade CNPq. E-mail: [email protected]
Holocaust und Vernichtungskrieg. Die Darstellung der deutschen Gesellschaft und Wehrmacht in Geschichtsschulbüchern für die Sekundarstufe I und II – SCHINKEL (ZG)
SCHINKEL, Etienne. Holocaust und Vernichtungskrieg. Die Darstellung der deutschen Gesellschaft und Wehrmacht in Geschichtsschulbüchern für die Sekundarstufe I und II. Göttingen : V&R unipress , 2018. Resenha de: MITTNIK, Philipp. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, v.18, p. 221-222, 2019.
[IF]Guerra Civil. Super Heróis: Terrorismo e Contraterrorismo nas Histórias em Quadrinhos | Victor Callari
Pouco explorada pelos historiadores, as fontes iconográficas ganharam nesses últimos anos um espaço de destaque no cenário historiográfico. As mudanças de perspectivas desenvolvidas no decorrer do século XX e também no início do XXI possibilitaram uma ruptura com leituras tradicionais que restringiam o trabalho do historiador aos arquivos e seus documentos considerados oficiais, e abriram espaços para novos questionamentos, abordagens e metodologias que ampliaram significativamente as possibilidades de compreensão de eventos passados e da contemporaneidade. A entrada dos historiadores nesse ramo diversificou ainda mais as produções acadêmicas. Autores conhecidos do grande público, como Peter Burke, Ivan Gaskell, Carlo Ginzburg, entre outros, se aventuraram em obras com essa abordagem, e se tornaram referências no âmbito acadêmico. Por outro lado, pesquisadores em início de carreira também vêm se aventurando e promovendo, mediante suas pesquisas, uma expansão significativa nesses estudos, muitos deles partindo de objetos até então pouco explorados pela historiografia.
Foi nesse novo cenário que a Editora Criativo publicou a obra “Guerra Civil. Super Heróis: Terrorismo e Contraterrorismo nas Histórias em Quadrinhos” (2016), resultado da dissertação de mestrado realizada dentro do Programa de Pós-Graduação em História e Historiografia da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, sob orientação da professora Drª Ana Nemi, escrita por Victor Callari professor da rede particular tanto no Ensino Superior quanto na Educação Básica. Callari possui publicações em periódicos acadêmicos nacionais e participações em eventos internacionais, em temas relacionados às histórias em quadrinhos, memória, holocausto, terrorismo, entre outros assuntos pertinentes a sua área. Leia Mais
A estranha derrota – BLOCH (MB-P)
BLOCH, Marc. A estranha derrota. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. Resenha de: [Autoria não identificada]. O desmoronamento francês frente ao inimigo alemão no século XX. Marinha do Brasil/Proleitura, 2016/2017.
O autor desta obra, Marc Léopold Benjamin Bloch nasceu no dia 6 de julho de 1886 em Lyon, França. Estudou na Sorbonne, onde formou-se em História. Participou das duas grandes guerras do século XX. A frente dessas duas batalhas reuniu, com sua visão de historiador, memórias de guerra, transformadas em livro e publicadas após a sua morte. As obras de Marc Bloch desencadearam uma verdadeira “Revolução da historiografia francesa”, influenciando gerações de historiadores. Na obra em análise (A estranha derrota), mesmo em condições desfavoráveis, utilizou da experiência particular das duas guerras para observar e debruçar-se sobre a derrota francesa. Longe de abordar uma história política e nacionalista, Bloch analisa a história em sua totalidade, não permitindo que os males do momento contaminassem sua capacidade de reflexão.
Marc Bloch participou dos acontecimentos que culminaram na ocupação da França pela Alemanha de Hitler, em maio de 1940. Com olhar totalmente crítico e reflexivo, peculiar a todo historiador, este autor analisa os aspectos da derrota francesa e sua rendição. O principal argumento desenvolvido por Bloch para explicar a derrota é que as classes dirigentes, Estado- Maior do Exército, sociedade morosa e forças políticas, não se preparam adequadamente para fazer frente à Blitzkrieg (guerra relâmpago alemã). Os generais franceses ainda se pegavam a táticas e ao compasso de 1918, enquanto Hittler ao contrário, utilizava seus tanques Panzer como ponta de lança na guerra, além de intensa utilização do poderio aéreo. Os franceses negligenciarem, também, a tecnologia alemã e sua tática de guerra, depositaram confiança demais na linha Maginot, linha de fortificações e de defesa construída pela França.
Uma das principais teses desenvolvidas pelo autor é a critica à ortodoxia militar francesa, presente em 1940. A forma como as ações de guerra eram traçadas sofria de certa letargia intelectual na execução, não permitindo uma eficiente organização das forças em campo de batalha, sendo frequente às tropas serem surpreendidas pelos avanços das forças inimigas. Além disso, observava os estados-maiores mal organizados com seus serviços de informação, e constituído por militares longevos. Outro ponto de vista do autor para explicar a derrota encontrava-se na política econômica permeada pela burguesia que se via ameaçada pela ofensiva das novas camadas sociais que, de certa forma, ameaçava esse grupo político e econômico acostumado a comandar. Logo, Marc Bloch denuncia a derrota intelectual como um mal presente, não só no alto-comando militar, mas que permeou toda civilização francesa e que levou à derrota frente ao poder de Hitler. As ações dos chefes militares ou os que agiam sob seus nomes, não pensaram a guerra, em outros termos: o triunfo dos alemães foi, essencialmente, uma vitória intelectual e talvez este seja o motivo mais grave desta derrota.
2 Cumpre registrar como o autor fez valer sua experiência no campo de batalha para registrar os fatos, mostrando que a história é filha de seu tempo. Para ele, não haveria descontinuidade entre passado e presente, mas um tempo contínuo, em que o passado ajudava a compreender o presente e o presente, por sua vez, ajudava a compreender o passado. E aí está o ponto fulcral que deixou de ser observado pela sociedade francesa frente ao inimigo. Era preciso problematizar esta nova guerra e aprender com o passado, como por exemplo, concepções de novas estratégias militares para suplantar o inimigo alemão. Duas guerras jamais serão iguais! Faz-se apenas uma crítica a esta obra, no qual o historiador dá ênfase à morosidade militar, sendo, também, as estruturas políticas e econômicas responsáveis por regular o uso da força na defesa dos interesses de um país. A História e os fatos são múltiplos em suas estruturas, em suas causas e sem determinismos, ou seja, multifacetadas.
Portanto, o autor faz um apanhado de toda sua experiência militar e de maior historiador do século XX para analisar a capitulação francesa frente ao poderio de guerra alemão.
Testemunha ocular, tratou do caótico cotidiano do conflito e da responsabilidade da sociedade francesa na vitória do nazismo. Lições do passado coadunadas com ações contemporâneas poderiam ditar um destino diferente daquele que foi registrado durante a Segunda Guerra Mundial para o povo francês, comprovando a frase do filósofo grego Heráclito de Efeso: “Ninguém se banha duas vezes na água do mesmo rio.”
Autoria não identificada
A guerra não tem rosto de mulher | Svetlana Aleksiévitch
A primeira versão do livro da bielorrussa Svetlana Aleksiévitch foi publicada em sua língua original na década de 1980 e, no Brasil, em 2016. A publicação brasileira foi, muito provavelmente, uma pronta resposta de nosso mercado editorial ao potencial de vendas atrelado a uma autora agraciada com o Prêmio Nobel, que Svetlana recebera em 2015: com o selo no Nobel estampado na capa, o livro percorreu, rapidamente, as livrarias do país e tornou-se um objeto de interesse para quem pouco (ou nada) sabia sobre a participação feminina na Segunda Guerra Mundial. “A Guerra não tem rosto de mulher” reúne, ao longo de seus dezessete capítulos, relatos de mulheres soviéticas que participaram dos teatros de operação contra a Alemanha Nazista. Trata-se de uma antologia polifônica, construída ao longo de um périplo no qual Svetlana percorreu mais de cem cidades da então União Soviética. Embora seja uma obra que atingiu o grande público, está longe de apresentar uma análise superficial sobre a Segunda Guerra. Pelo contrário, o livro de Aleksiévitch oferece interessantes perspectivas aos estudos das guerras, sobretudo na intersecção com os estudos de gênero. Leia Mais
O Cinema Vai à Guerra – TEIXEIRA DA SILVA; SHURSTER (DSSC)
TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos; LEÃO, Karl Shurster Sousa; LAPSKY, Igor (Org). O Cinema Vai à Guerra. Rio de Janeiro: Campus, 2015, 274 pp. Resenha de SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas. Studi di Storia Contemporanea, n. 26, v. 2, 2016.
O Cinema vai à Guerra, libro curato da Francisco Carlos T. da Silva, Karl Schurster Leão e Igor Lapsky si inserisce nel solco della tradizione storiografica brasiliana attenta alla relazione fra storia e cinema. È importante contestualizzare il libro nel quadro degli studi storiografici sul cinema degli ultimi decenni. In Brasile, la storiografia si è approcciata al cinema a partire dal manuale A pesquisa histórica no Brasil, di José Honório Rodrigues, pubblicato nel 19521. Tuttavia, è stato solo a seguito della traduzione, nel 1976, del celebre testo di Marc Ferro, Cinema: uma contra análise da sociedade? nella raccolta collettanea História: novos problemas, curata da Jacques Le Goff e Pierre Nora, che ha preso avvio un movimento volto a dare maggior risalto ai film2. Nel 1988, il lavoro pionieristico Cinema e História do Brasil: propostas para uma história, scritto da Jean-Claude Bernardet e Alcides Freire Ramos, operò un’analisi di pellicole di fiction e documentari brasiliani, spesso alla luce della “storia del tempo presente” francese e prendendo in considerazione la proposta di Marc Ferro nel saggio già menzionato: l’uso del film come fonte storica; il film come rappresentazione della storia; il film come agente della storia3.
Negli anni Novanta il cinema, nella produzione accademica brasiliana, venne definitivamente considerato alla stregua di un oggetto storiografico. In quel decennio videro la luce le prime tesi specialistiche e di dottorato su questo tema e vennero pubblicate alcune traduzioni in lingua portoghese dei testi degli storici pionieri nello studio della relazione cinema-storia, come Marc Ferro, Pierre Sorlin e Robert Rosenstone. Tre gruppi di ricerca storiografica risultarono decisivi in questa rielaborazione: nelle università statali di San Paolo vennero realizzati i primi studi, tra cui spiccavano quelli di Alcides Freire Ramos, Cláudio Aguilar, Eduardo Morettin e Cristina Meneguello; dalle università di Rio de Janeiro vennero prodotti testi dedicati ai film storici e alle relazioni tra cinema e ideologie politiche nel XX secolo: qui si distinsero Mariza de Carvalho e Francisco Carlos T. da Silva; a Bahia, il laboratorio “Occhio della storia”, all’interno dell’Universidade Federal di Bahia, organizzò traduzioni e lavori di ricerca indirizzati allo studio dei film e alla realizzazione di recensioni di pellicole storiche, attribuendo una particolare attenzione alla rappresentazione cinematografica del passato, e qui si distinsero storici come Cristiane Nova e Jorge Nóvoa. Nel 1997, in un’importante raccolta collettanea venne pubblicato il testo História e imagem: os casos do cinema e da fotografia, scritto da Ciro Cardoso e Ana Maria Mauad, che in qualche modo ufficializzava il cinema come oggetto storiografico brasiliano4, concetto che venne riaffermato nel 2001, quando un gruppo di storici pubblicò la collettanea A história vai ao cinema5, curato da Jorge Ferreira e Mariza de Carvalho, dedicata esclusivamente a indagare la rappresentazione del passato nel cinema brasiliano6.
Il tema della guerra nel cinema non è nuovo né nello scenario internazionale, né in Brasile, non essendo, peraltro, monopolio della ricerca storica. La maggior parte delle monografie precedenti, infatti, sono state scritte – in ambito brasiliano – da studiosi o critici cinematografici. Nel caso degli studi storici in Brasile, il tema è stato considerato principalmente come una forma di rappresentazione del passato, dal momento che era spesso legato anche con l’affermazione della storia del tempo presente come campo di ricerca per gli storici. L’interesse per il tema si è esplicitato attraverso le principali raccolte miscellanee pubblicate nel primo decennio del secondo millennio: História e cinema: dimensões históricas do audiovisual, del 2005, che presenta una delle cinque sezioni del libro dedicata al tema, che comprende un articolo di Wagner Pinheiro Pereira presente anche in O cinema vai à guerra, e Cinematógrafo: um olhar sobre a história, del 2009, che dedica una delle sue tre parti alla traduzione di testi sulla Seconda guerra mondiale al cinema di ricercatori francesi del calibro di Silvye Lindperg e Jean-Pierre Bertin-Maghit7. Spicca il testo pionieristico di Francisco Carlos T. da Silva, Guerras e cinema: um encontro no tempo presente, pubblicato nel 20048. Quest’ultimo autore ha riunito assieme a Igor Lapsky e Karl Schurtzer una serie di ricercatori legati Laboratório de Estudos do Tempo Presente, la cui sede originaria era presso l’Universidade Federal di Rio de Janeiro, oltre ad altri centri accademici di tutto il Brasile, per comporre la raccolta miscellanea O cinema vai à guerra, dando continuità a una riflessione sull’appropriazione dell’esperienza storica della guerra da parte del cinema e potendo contare sull’infoltirsi delle fila degli storici studiosi di cinema, che dimostrano interesse nei confronti della costruzione visuale del passato, così come della nuova generazione di ricercatori dediti principalmente all’analisi della relazione tra cinema e storia, le cui tesi di dottorato sono state discusse dal 2000 in avanti.
O cinema vai à guerra è organizzato a partire dalla guerra intesa come topos della storia del tempo presente e della rappresentazione del passato (lontano e prossimo). Dal momento che i film su cui si concentrano i ricercatori sono legati a molteplici cinematografie nazionali (tra cui spicca quella nordamericana, ma anche quella francese, tedesca, spagnola, russa…), molti conflitti sono ricorrenti, principalmente quelli che hanno marcato il XX e il XXI secolo come la Prima e la Seconda guerra mondiale, la Guerra del Vietnam, oltre alla Guerra fredda e alla Guerra al terrorismo. Vengono discusse anche le guerre che hanno acquisito un carattere di (ri)fondazione nazionale, come la Guerra di secessione nordamericana e la Guerra civile spagnola.
Nella prospettiva secondo cui la narrazione cinematografica sarebbe «la principale concorrente della narrazione storica»9, i testi del volume riconoscono il ruolo del cinema nell’elaborazione visiva della coscienza storica dei secoli XX e XXI e del suo funzionamento come produttore di immagini del presente e del passato che finiscono per comporre la memoria delle comunità nazionali. Il cinema è un media all’interno sul quale si sviluppano dispute culturali e ideologiche dal momento che il film è «una modalità di rappresentazione, avallata dalla sua ampia ricezione popolare, della storia, uno dei molti modi di narrarla»10.
Si tratta, in totale di dodici capitoli: Gracilda Alves discute della relazione tra occidentalismo e orientalismo nel cinema in Cinema, guerra, civilização e barbárie; Rafael Araújo e Karl Schurster riflettono sulla rappresentazione delle guerre coloniali in Imperialismo e cinema; Carlos Leonardo Bahiense da Silva indaga come i traumi della guerra siano stati inseriti nelle trame dei film tedeschi degli anni Sessanta e nel cinema inglese dello stesso decennio in A grande guerra (1914-1918) no espelho in cui si tratta di shell shocks; il testo Guerra civil espanhola: o cinema do general Franco, di Wagner Pinheiro Pereira discute l’eredità del conflitto spagnolo così come l’uso franchista del cinema; Karl Schurster e Francisco Carlos T. da Silva in A segunda guerra mundial (1939-1945): heroísmo e tragédia trattano delle «narrazioni del disagio»11 a partire dalle pellicole contemporanee e successive al conflitto; il concetto di genocidio/sterminio e le sue rappresentazioni al cinema vengono discusse nel testo Cinema e genocídio no século XX: a análise dos grandes massacres étnicos, religiosos e sociais, di Carlos Leonard da Silva e Ricardo Pinto dos Santos; l’impegno del cinema nello sviluppo del pacifismo nel corso del XX secolo viene trattato nel capitolo Guerra e paz: pacifismo, gênero e identidade na tela di Francisco T. Carlos da Silva; l’inserimento della Guerra fredda nella vita quotidiana da parte delle cinematografie nordamericane e sovietica viene affrontato da Alexandre Busko Valim in Cinema e guerra fria: entre Hollywood e Moscou; la traumatica esperienza sociale del Vietnam per la società nordamericana trovo in A guerra do Vietnã (1965-1975): o trauma de uma geração, di Carlos Leonardo da Silva e Igor Lapsky un luogo di dibattito; infine, le rappresentazioni del terrorismo nel cinema americano sono oggetto del saggio A Guerra ao terror: o pós-guerra fria, di Igor Lapsky. La collettanea introduce tematiche eterodosse nel dibattito su guerra e cinema: il combattimento contro gli alieni nel capitolo A guerra entre mundos: não estamos sozinhos!, di Dilton e Andreza Maynard e il fallimento della società contemporanea negli immaginari post-bellici intesi come futuri distopici in Cinema e distopias: as guerras do futuro, di José Maria Gomes de Souza Neto.
Alcune problematiche-concetti percorrono molti o quasi tutti i testi: tra queste spiccano identità, allegoria e conflitto/guerra. Quest’ultimo permette di accostare alla dimensione bellica degli eventi storici canonici (le guerre mondiali, la Guerra fredda, la Guerra del Vietnam, la Guerra civile spagnola, etc.) prospettive di guerre sociali e civili immaginarie (distopie, guerre contro invasori spaziali) evidenziando un aspetto fondamentale della raccolta di saggi: la guerra è tanto la rappresentazione in film d’ambito definito, ad esempio Apocalipse Now12 o Va’ e vedi13, quanto un’esperienza immaginaria proiettata in film inaspettati come Blade Runner14. La raccolta rifugge dall’approccio più prevedibile del dibattito sui “film di guerra” – genere oltremodo presente nelle trattazione – e si sofferma sui molteplici usi simbolici della guerra fatti nelle pellicole. In quest’ottica, i testi non sistematizzano gli aspetti legati al fenomeno di istituzionalizzazione storica della guerra come tema e genere nelle diverse cinematografie nazionali analizzate. Da un lato questo denota un approccio trasversale al problema storico (la guerra) che dimostra come le pellicole furono, nei diversi contesti sociali, armi, mezzi catartici, forme di protesta, strumenti di propaganda, proiezioni delle inquietudini collettive e di altre sensibilità, allegorie politiche e così via. Si comprende perciò come la maggior parte dei capitoli non segua le tradizionali partizioni della cinematografia nazionale (sebbene gli Stati Uniti siano distinti), già oggetto di critica da parte di storici come Michelle Lagny15.
L’identità è un altro problema centrale, dal momento che permette di capire come le rappresentazioni della guerra siano connesse con processi storici come il colonialismo, l’imperialismo, il genocidio… La distinzione noi/loro ossia attraverso le categoria antitetiche di alleato/nemico, indigeno/straniero, fedele/traditore, terrestre/extraterrestre è una costante che permette di comprendere come le immagini della guerra mutino con il tempo. In alcuni passaggi emerge il riferimento a Edward Said, dal momento che l’intera raccolta di saggi è permeata da una problematizzazione dell’identità come esperienza storica legata ai giochi di potere prodotti dall’interazione dei centri capitalisti con le proprie periferie, dal momento che entrambi sono stati toccati dall’esperienza del colonialismo e dell’imperialismo. Questo permette molteplici interpretazioni della guerra al cinema, che diventa una finestra per indagare la cultura politica del XX e XXI secolo, facendo del ricorso alla lettura allegorica una delle principali chiavi analitiche degli autori – anche se metodologicamente non viene dichiarata o problematizzata –, che interpretano una serie di film ora come sintomi, ora come cause dei processi politici in cui si trovano compresi. Evidentemente, negli scenari politici caratterizzati dalla tensione politica, molti cineasti impiegarono l’allegoria nella narrazione cinematografica, espediente comune al cinema moderno, dal momento che permetteva la costruzione di «segni di una nuova coscienza storica»16 tipica della contemporaneità. In molti casi gli autori del libro seguono queste indicazioni (quando il film si presenta come allegorico); in altri considerano le pellicole come sintomatiche di altre situazioni che non gli sono proprie, la cui dimensione e il cui impatto storico possono essere comprese solamente quando le si inserisca nella prospettiva dell’interscambio fra il cinema e le comunità politiche in cui questo si è sviluppato.
Notas
1 RODRIGUES, José Honório, A Pesquisa histórica no Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1978.
2 FERRO, Marc, O filme: uma contra-análise da sociedade, in LE GOFF, Jacques, NORA, Pierre (org.), História: novos objetos, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1995, pp. 199-215.
3 RAMOS, Alcides Freire, BERNARDET, Jean-Claude, Cinema e história do Brasil, São Paulo, Contexto/EDUSP, 1988.
4 CARDOSO, Ciro, MAUAD, Ana Maria, História e imagem: os casos do cinema e da fotografia, in CARDOSO, Ciro, VAINFAS, Ronaldo (org.), Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1997.
5 CARVALHO, Mariza, FERREIRA, Jorge (org.), A história vai ao cinema: vinte filmes brasileiros comentados por historiadores, Rio de Janeiro, Record, 2001.
6 Per approfondire la nascita e il consolidamento della ricerca sul cinema nella storiografia brasiliana, si veda: SANTIAGO JR., Francisco das C. F., «Cinema e historiografia: trajetória de um objeto metodológico (1971-2010)», in História da historiografia, 8, 1/2012, pp. 151-173, URL: < http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/270/261 > [consultato il 3 marzo 2016]
7 CAPELATO, Maria Helena, MORETTIN, Eduardo, NAPOLITANO, Marcos, SALIBA, Elias (a cura di), História e cinema: dimensões históricas do audiovisual, São Paulo, Alameda, 2007; NÓVOA, Jorge, FRESSATO, Soleni Biscouto, FEIGELSON, Kristian (a cura di), Cinematógrafo: um olhar sobre a história, Salvador-São Paulo, EDUFBA -Editora UNESP, 2009.
8 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, «Guerras e cinema: um conto do tempo presente», in Tempo, 16, 1/2004, pp. 93-114, URL: <http://www.historia.uff.br/tempo/site/?cat=44> [consultato il 3 marzo 2016.
9 SILVA, Francisco Carlos Teixeira, LEÃO, Karl Shurster Sousa, LAPSKY Igor (org.), O Cinema Vai à Guerra, Rio de Janeiro, Campus, 2015, p. XI.
10 Ibidem, p. XII.
11 Ibidem, p. 91.
12 COPPOLA, Francis F., Apocalypse Now, United Artists, Stati Uniti, 1979, 150’.
13 KLIMOV, Elem, Иди и смотри, Mosfilm-Belarusfilm, Unione Sovietica, 1985, 145’.
14 SCOTT, Ridley, Blade Runner, Warner Bros, Stati Uniti, 1982, 117’.
15 LAGNY, Michelle, Cine y historia: problemas y métodos en la investigación cinematográfica, Barcelona, Bosch, 1997.
16 XAVIER, Ismail, A alegoria histórica, in RAMOS, Fernão Pessoa (a cura di), Teoria contemporânea do cinema: pós- estruturalismo e filosofia analítica, São Paulo, SENAC, 2005, pp. 339-379, p. 362.
Francisco das Chagas F. Santiago Júnior si è addottorato in storia presso l’Universidade Federal Fluminense, Niterói/Brasil con una tesi sull’appropriazione delle religioni afro-brasiliane nel cinema del periodo del regime dittatoriale degli anni Settanta. Lavora sulla relazione fra storia e cinema a partire da differenti assi di ricerca: il cinema e l’afro-brasilianità, la negoziazione del patrimonio culturale all’interno del cinema brasiliano, l’uso del passato nel cinema nazionale. Ha pubblicato numerosi articoli sulla cultura visuale, la teoria dell’immagine e la metodologia della ricerca multimediale.
Le médicament qui devait sauver l’Afrique: un scandale pharmaceutique aux colonies – LACHENAL (HCS-M)
LACHENAL, Guillaume. Le médicament qui devait sauver l’Afrique: un scandale pharmaceutique aux colonies. Paris: La Découverte, 2014. 283pp. Resenha de: CORREA, Sílvio Marcus. Uma chave para a África. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 supl. Rio de Janeiro Dec. 2015.
Desde o início do século XX, a chamada doença do sono era um grande desafio à medicina tropical.1 Durante a Partilha da África, a doença tomou proporções alarmantes. Na década de 1920, a Alemanha já tinha perdido as suas colônias no continente africano, quando a imprensa deu notícias sobre uma nova wonder drug, considerada a “chave para África” (A key…, 1 set. 1922). O Bayer 205 foi tido como um medicamento promissor no combate à tripanossomíase africana. Estariam os alemães aptos a reaver suas colônias? (Das deutsche…, 22 set. 1922).
A Segunda Guerra Mundial poria fim a qualquer projeto colonial do Terceiro Reich. Quanto ao Bayer 205, sua eficácia foi superada por outro medicamento da indústria farmacêutica: a Lomidina®. A história da Lomidina corresponde a uma fase pouco conhecida, mas capital, da luta colonial contra a doença do sono. Sobre ela, tem-se, agora, o livro de Guillaume Lachenal, mestre de conferências junto ao departamento de história e filosofia das ciências na Universidade Paris-Diderot.
O “medicamento que deveria salvar a África” suscitou uma série de dúvidas e incertezas quanto à sua eficácia, à sua posologia etc. Apesar disso, o medicamento foi usado na quimioprofilaxia contra uma doença tropical que debilitava a saúde dos trabalhadores.2 Na África portuguesa, as campanhas de vacinação se intensificaram até os últimos anos do colonialismo.3 Em Angola, algumas sociedades de capital privado tinham o seu próprio serviço de saúde. Na Companhia de Diamantes de Angola (Diamang), por exemplo, havia uma sessão autônoma chamada Missões de Profilaxia Contra a Doença do Sono (Varanda, 2014).
Mas, durante a euforia da utopia higienista colonial, houve uma hecatombe em Yokadouma, um vilarejo na parte oriental dos Camarões, então sob domínio colonial francês. Em meados de novembro de 1954, dezenas de pessoas morreram depois de terem sido vacinadas por uma equipe do serviço de higiene e de profilaxia responsável pela aplicação da Lomidina. O acidente de Yokadouma se inscreve numa história da medicina tropical que revela o lado falível, presunçoso e geralmente encoberto pela grandiloquência do discurso colonial. Para tratar disso, o autor evoca o valor heurístico da noção de “besteira colonial”. Para Lachenal, a besteira não remete a uma deficiência da razão, mas a uma possibilidade intrínseca à razão. Pela confiança desmesurada nos procedimentos científicos, a razão pode tornar-se uma obstinação. A besteira não raro se confunde com arrogância. Por isso, ela se caracteriza pelo excesso e não pela falta de razão. A obstinação em erradicar a doença do sono e os métodos empregados como as campanhas de lodiminização preventiva fazem parte daquilo que o autor chamou de “besteira colonial”.
No entanto, diante da morte de dezenas de pessoas e dos graves ferimentos de centenas de outras, além dos traumas, humilhações e coerções a que foram submetidos milhares de indivíduos durante as campanhas periódicas de lomidinização, a “besteira” pode vir a significar muito pouco e não passar de mero eufemismo.
Embora a análise do autor tenha ficado circunscrita aos (ab)usos da Lomidina, cabe informar que outras “besteiras” como o desmatamento e mesmo a matança de animais selvagens foram práticas largamente adotadas nas campanhas de controle ou erradicação da tripanossomíase africana (Correa, 2014).
O “império da besteira” não se restringiu às fronteiras africanas. Enquanto Aníbal Bettencourt, Aldo Castellani, David Bruce, Robert Koch e outros buscavam decifrar a doença do sono, outras enfermidades preocupavam as autoridades sanitárias e de higiene nos trópicos. Suas técnicas e métodos no combate a certas epidemias não foram diferentes. Uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola levou a uma revolta no Rio de Janeiro em 1904 (Chalhoub, 1996). No Brasil meridional, campanhas sanitárias para erradicação da malária tiveram por alvo algumas bromeliáceas, reservatórios naturais à proliferação dos mosquitos anofelinos (Oliveira, 2011). Ou seja, a presunção ou arrogância de uma razão médica, o autoritarismo e a violência de certas medidas de higiene, sanitárias ou profiláticas não foram apanágios do colonialismo em África. Dito de outro modo, a “besteira colonial” teve suas similares em contextos pós-coloniais.
Ao tratar de um medicamento considerado “a chave para África”, Guillaume Lachenal brinda com uma abordagem inovadora, em termos teóricos e metodológicos, a historiografia da medicina tropical.
Referências
A KEY…A key to Africa. Rhodesia Herald. 1 set. 1922. [ Links ]
BETTENCOURT, Aníbal.La maladie du sommeil: rapport présenté au Ministère de la Marine et des Colonies par la Mission envoyée en Afrique Occidentale Portugaise. Lisboa: Libanio da Silva. 1903. [ Links ]
CHALHOUB, Sidney.Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras. 1996. [ Links ]
CORREA, Silvio M. de Souza. Evicção da fauna bravia: medida radical de saneamento na África colonial. Revista de Ciências Humanas, v.14, n.2, p.410-422. 2014. [ Links ]
DAS DEUTSCHE….Das deutsche Schlafkrankheitsmittel: der Schlüssel zu Afrika in deutscher Hand. Lüderitztbuchter Zeitung. 22 set. 1922. [ Links ]
OLIVEIRA, Eveli S. D’Ávila. O combate à malária em Florianópolis e suas implicações ambientais. Tempos Históricos, v.15, p.405-429. 2011. [ Links ]
PICOTO, José. Assistência médico-cirúrgica na Luanda pelo serviço de saúde da Diamang. Anais do Instituto de Medicina Tropical, v.10, n.4. (separata). 1953. [ Links ]
VARANDA, Jorge. Cuidados biomédicos de saúde em Angola e na Companhia de Diamantes de Angola, c. 1910-1970. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.21, n.2, p.587-608. 2014. [ Links ]
VINTE ANOS DE LUTA…Vinte anos de luta contra a doença do sono, 1946-1965. O Médico, n.792, p.17. (separata). 1966. [ Links ]
Notas
1 Angola, por exemplo, acolheu uma das primeiras expedições científicas para o estudo da doença do sono (Bettencourt, 1903).
2 Para ficar num exemplo, ao elogiar a assistência médico-cirúrgica do serviço de saúde da Diamang, o doutor Fernando Correia afirmou que a referida sociedade mineradora acabava também “por lucrar economicamente, visto que a economia de saúde e de vidas se repercute sempre, mais cedo ou mais tarde, direta ou indiretamente, sobre a produção” (citado em Picoto, 1953, p.2703).
3 Em 1963, pelo decreto n.45.177, foi criada a Missão de Combate às Tripanossomíases (MCT) que, no ano seguinte, entrou em ação. O escopo da nova organização era “a luta total, em todos os campos, contra as tripanossomíases consideradas nos múltiplos aspectos-médico, veterinário, entomológico, agronômico, etc.” (Vinte anos de luta…, 1966, p.17). Entre outras atividades da MCT, a campanha de pentamidinização em Angola foi reconhecida do outro lado do Atlântico. Em 20 de agosto de 1970, em sessão realizada na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, o médico brasileiro Olympio da Fonseca Filho fez elogios à obra de Portugal no combate à doença do sono.
Sílvio Marcus de Souza Correa – Professor, Programa de Pós-graduação em História/Universidade Federal de Santa Catarina. [email protected]
In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region – GARFIELD (HCS-M)
GARFIELD, Seth. In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region. Durham; London: Duke University Press, 2013. 368p. Resenha de: VITAL, André Vasques. Associações de agentes humanos e não humanos em perspectiva global na construção da Amazônia brasileira. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 n.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2015.
Lançado nos EUA em 2013, In search of the Amazon é o segundo livro do historiador Seth W. Garfield, professor do departamento de história da University of Texas at Austin. Garfield possui vários artigos lançados sobre temas que envolvem a Amazônia e a política indigenista brasileira na Era Vargas (1930-1945). Seu livro anterior foi traduzido para o português e lançado no Brasil em 2011 pela editora da Unesp com o título A luta indígena no coração do Brasil: política indigenista, a marcha para o oeste e os índios Xavante (1937-1988). O livro ora resenhado, no entanto, ainda não tem previsão de lançamento em português no Brasil.
In search of the Amazon analisa as redes constituídas por instituições, indivíduos, objetos e fenômenos no Brasil e EUA durante a Segunda Guerra Mundial que favoreceram uma série de processos que conformaram a paisagem amazônica e os modos de vida na região. Natureza e política não estão separadas nessa análise, que se constitui tanto como trabalho de história política quanto de história ambiental, embora o autor enfatize o seu afastamento em relação a referenciais teóricos da história ambiental. O aporte teórico-metodológico da obra baseia-se na noção de mediadores e redes compostas pela associação de humanos e não humanos, coprodutores de naturezas e sociedades. Trata-se do conceito de agência dissolvida entre humanos e não humanos do sociólogo da ciência Bruno Latour. Ao longo de cinco capítulos, seguidos de um epílogo, seringueiros, seringalistas, políticos brasileiros, produtos manufaturados de borracha, flagelados da grande seca na região Nordeste de 1941-1943, agências estatais brasileiras e norte-americanas, indústrias de borracha sintética dos EUA, políticos em Washington e outros emergem na obra enquanto protagonistas das transformações sociais e ambientais na Amazônia durante a Batalha da Borracha (1942-1945).
No primeiro capítulo é analisada uma conjunção de fatores de ordem interna e externa, que levaram o Estado brasileiro a realizar investimentos na Amazônia e adotar medidas visando à colonização e ao desenvolvimento econômico da região durante o Estado Novo (1937-1945). O aumento da demanda interna e externa por borracha devido ao estabelecimento de indústrias multinacionais de pneus em São Paulo e pela entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial foi entendido como uma nova oportunidade para a integração nacional da Amazônia. Longe de ser um objetivo novo, o autor aponta que a preocupação com o domínio estatal da região amazônica e sua transformação (de terra “selvagem” e abandonada para “civilizada” e fonte de riquezas para a nação) era uma questão antiga, já pensada e tentada ao longo dos séculos, desde o período colonial português. As principais diferenças das políticas implementadas pelo Estado Novo estavam na ênfase desenvolvimentista, que pregava a conquista da terra, o domínio das águas, a subjugação da floresta, ou seja, uma intervenção em larga escala para a reconstrução socioambiental da Amazônia.
Ainda no mesmo capítulo é destacado o papel de diversos agentes mobilizados pelo Estado visando à reconstrução da paisagem amazônica durante o Segundo Ciclo da Borracha. Oficiais militares, médicos sanitaristas, engenheiros, agrônomos, biólogos, geógrafos, literatos, cineastas e a máquina de propaganda do Estado Novo voltaram-se para a Amazônia, buscando sua remodelação material e imagética, dando caráter nacionalista à missão de seu desenvolvimento. O autor também destaca o papel das elites seringalistas no pacto oligárquico que, na prática, conformou os limites das políticas de Estado na Amazônia. Conhecedores do ecossistema local e associando essa condição à legitimidade política, as elites locais foram parte ativa no processo de transformação da paisagem amazônica.
O capítulo dois parte dos desdobramentos da drástica perda de suprimento de borracha dos EUA, com a invasão japonesa à península da Malásia, para analisar o histórico aumento da dependência social e política norte-americana a objetos feitos com látex. Essa dependência gerou a busca pela borracha da Amazônia e, ao mesmo tempo, intensificou diversos debates sobre modernidade e identidade nacional nos EUA. Contendo em torno de três mil peças de borracha, os automóveis ganharam cada vez mais espaço nos EUA ao longo das primeiras décadas do século XX, transformando as comunicações, a produção, o comércio, a saúde e a sexualidade dos indivíduos. A borracha, por meio do seu uso nos automóveis, tornou-se parte da vida humana, símbolo da modernidade e do progresso, além de ter fundamental importância na produção de material bélico. O início da Segunda Guerra Mundial gerou uma corrida pela estocagem de borracha por parte do governo norte-americano e da iniciativa privada das grandes empresas de borracha manufaturada, provocando tensões entre esses agentes. Diante da falta de suprimentos, as discussões no Congresso americano culminaram com a decisão de investir na importação de borracha vinda da Amazônia e no incentivo ao desenvolvimento de borracha sintética a partir de derivados do petróleo, de modo a acabar com a dependência externa. Em março de 1942, Brasil e EUA assinaram os “Acordos de Washington”, prevendo diversos investimentos em infraestrutura, suporte técnico, sanitário e militar no país e em especial na Amazônia, em troca de suprir a demanda norte-americana e de apoio contra a Alemanha. Os acordos previam também reestruturar o sistema de trabalho nos seringais, buscando promover bem-estar social aos seringueiros, mas Garfield enfatiza como as elites amazônicas, além de políticos e empresários conservadores dos EUA buscaram frear quaisquer intervenções estatais nos meios de produção.
O terceiro capítulo analisa o esforço binacional de prover a mão de obra necessária para a extração de borracha na Amazônia e modificar qualitativamente o perfil do seringueiro e sua relação com o meio ambiente, de modo a aumentar a produtividade nos seringais. Apontada como indolente e fisicamente degenerada, a população da Amazônia era vista como inapta para maximizar a produtividade. Após debates e propostas entre o governo brasileiro e o norte-americano, optou-se mesmo pelo incentivo à migração de pessoas vindas do interior dos estados do Nordeste brasileiro, como aconteceu no Primeiro Ciclo da Borracha. O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para Amazônia (Semta) ficou encarregado de promover a migração, selecionando os trabalhadores de acordo com o biótipo e as condições de saúde, dando assistência aos migrantes durante o trânsito. O autor analisa as estratégias de mobilização com o uso das mídias (jornais, revistas ilustradas, cinema e rádio), o apoio dado pela Igreja católica e o surgimento da expressão “soldado da borracha”, com a associação do seringueiro à defesa nacional brasileira e à liberdade do mundo diante da ameaça hitlerista. Garfield também analisa nesse capítulo o fracasso das tentativas dos governos brasileiro e norte-americano em padronizar as relações de trabalho nos seringais, que, na prática, mantiveram-se da mesma forma como ocorriam no Primeiro Ciclo da Borracha, por força das elites locais.
O capítulo quatro analisa, a partir das perspectivas política, social, econômica e cultural, as condições dos migrantes e famílias do interior do estado do Ceará e suas estratégias frente à grande seca de 1941-1943 e aos incentivos estatais de ida para a Amazônia. O autor destaca a crise econômica que se abateu sobre a região, as políticas públicas destinadas a minorar as condições de miséria das populações do interior, a ida de cearenses para a Amazônia, Minas Gerais e São Paulo, além do papel tanto dos incentivos estatais quanto das redes de transporte e informação na escolha dos migrantes pelo trabalho nos seringais. Cartas trocadas entre amigos e familiares, histórias de riquezas conquistadas e mortes trágicas durante o Primeiro Ciclo da Borracha, além da literatura de cordel, ajudaram na conformação do imaginário cearense sobre a floresta, levando muitos a optar pela longa travessia rumo aos seringais.
O último capítulo analisa como as autoridades brasileiras e norte-americanas, seringalistas e seringueiros, cada um com suas visões e projetos de poder, conformaram populações e paisagens na Amazônia. O Segundo Ciclo da Borracha favoreceu investimentos norte-americanos e brasileiros na região, dotando-a de infraestrutura, como aeroportos, rede de assistência à saúde nas principais cidades e políticas de bem-estar social. No entanto, os prejuízos advindos da suspensão dos trabalhos de extração no período de cheia dos rios, o fortalecimento das indústrias de borracha sintética e a própria dificuldade de intervir nos meios de produção na Amazônia levaram ao gradual rompimento dos acordos de cooperação por parte do governo dos EUA a partir de fins de 1943. Os seringalistas, remanescentes do Primeiro Ciclo da Borracha, economicamente conservadores e descrentes em relação ao discurso nacionalista do governo brasileiro, esforçaram-se por manter o antigo sistema de aviamentos, promoveram fraudes no sistema de crédito e contrabando, e desrespeitaram os contratos de trabalho assinados entre os seringueiros e órgãos do governo federal. Céticos de que o novo boom da borracha duraria, trabalharam para potencializar seus lucros, desafiando os ditames dos Estados e do mercado com o poder político advindo do controle da força de trabalho e do conhecimento que tinham do ambiente amazônico. Coube aos seringueiros desenvolver suas próprias estratégias individuais na floresta, o que incluiu o engajamento em outras atividades, a cobrança de indenizações na justiça e o uso do termo “soldado da borracha” na luta por reconhecimento e pensão na condição de ex-combatentes.
O epílogo analisa como o espaço amazônico foi sendo reconstruído em termos materiais e políticos nas décadas seguintes, especialmente durante o regime militar até a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Garfield analisa brevemente como a Amazônia, novamente palco de projetos desenvolvimentistas durante o regime militar, virou alvo de atenção transnacional devido à emergência dos movimentos ambientalistas e da percepção de necessidade de conservação da floresta para evitar drásticas mudanças climáticas globais. Frente a esses movimentos transnacionais, os seringueiros tiveram a oportunidade de repensar suas identidades e formas de representação, aliando-as a práticas tradicionais que preservavam a floresta, em contraposição ao avanço da fronteira agrícola, que promovia a devastação, potencializando a violência e a marginalização dos extrativistas remanescentes.
Não é difícil para o pesquisador que trabalha com história da Amazônia e deseja utilizar a noção de agência dissolvida ou agenciamento recíproco entre humanos e não humanos conseguir empreender de fato esse modelo de análise. Trabalhar com história da Amazônia é vantajoso nesse sentido por ser difícil separar cultura e natureza nesse extenso espaço aquático e florestal (Leonardi, 1999, p.15). Nesse sentido, a obra de Garfield tem êxito em empreender uma análise que efetivamente combina associações que transgridem fronteiras entre o local, o nacional e o global, bem como o arcaico e o moderno, o social e o natural, seguindo os conselhos de Latour (1994) e lançando interessante contribuição para uma história ambiental transnacional (White, 1999). Justamente pelo esforço do autor em agregar diversos agentes conformadores das transformações da Amazônia durante o Segundo Ciclo da Borracha, emerge na leitura a pouca visibilidade dos povos indígenas em sua análise. As experiências desses povos foram fundamentais para o conhecimento que os seringalistas adquiriram do ambiente amazônico, possuindo intensa presença na sua conformação socioambiental (Ranzi, 2008, p.71-98).
O livro, no entanto, torna-se referência importante para pesquisadores que analisam tanto o Segundo Ciclo da Borracha quanto o primeiro, já que lança luz sobre as continuidades entre esses dois ciclos. De agradável e fácil leitura, também tem potencial de ser apreciado por leitores em geral, que se interessem pela história da Amazônia.
Referências
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34. 1994. [ Links ]
LEONARDI, Victor. Os historiadores e os rios: natureza e cultura na Amazônia brasileira. Brasília: Paralelo 15; Editora UNB. 1999. [ Links ]
RANZI, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre. Rio Branco: Edufac. 2008. [ Links ]
WHITE, Richard. The nationalization of nature. The Journal of American History, v.83, n.3, p.976-986. 1999. [ Links ]
André Vasques Vital – Doutorando, Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. [email protected]
Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 19311938) – HEIDEGGER (C-FA)
HEIDEGGER, Martin. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 19311938) Vol. 94. Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014. Resenha de: HOEPFNER, Soraya Guimarães. Começo e fim da filosofia. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 19 n.2 Jul-Dez, 2014.
O primeiro volume dos Cadernos Pretos de Martin Heidegger, Überlegungen II-IV (Schwarze Hefte 1931-38), inaugura um último capítulo no processo de publicação das obras completas do filósofo, conforme cuidadosamente planejado por ele. Com o lançamento do presente livro, tornaram-se públicos os primeiros cinco cadernos da série, muito provavelmente organizados por Heidegger de modo a alinhá-los a uma determinada cronologia de eventos mundiais. Os anos cobertos pelo volume 94, do qual trata a presente resenha, coincidem justamente com aqueles decisivos, que antecedem a 2ª Guerra Mundial.
Por diferentes razões, a seguir explicitadas, a publicação dos Cadernos poderia ser vista como uma espécie de “o começo do fim”. Primeiramente, ela abre a possibilidade de pôr fim à pergunta fechada, não-filosófica, que há décadas se ocupa de buscar indícios concretos de uma postura comprovadamente antissemita de Heidegger. Visto que o presente volume e os subsequentes respondem categoricamente a essa questão com um sim, abre-se, por sua vez, a possibilidade de colocarmos um ponto final nessa pergunta, ou seja, a possibilidade de libertação para que nos voltemos a uma discussão eminentemente filosófica. Este “sim” como resposta à primeira pergunta, no entanto, não é fácil de ser assimilado, aceito, de modo que a publicação dos Cadernos também pode representar para os estudos heideggerianos um fim, duradouro, ocasionado pelo ofuscamento completo da discussão filosófica. Essa espécie de desvirtuamento é em parte alimentada pela hipótese de “contaminação” 1 do projeto filosófico de Heidegger por ideias fascistas e racistas, as quais, por razões óbvias, não queremos e não devemos nós mesmos jamais nos associar.
Para aqueles que se decidirem pela questão filosófica, considerando que seja possível para nós encontrarmos uma postura adequada diante do conteúdo polêmico das declarações, defendemos uma leitura dos Cadernos centrada na discussão de um outro tipo de começo e fim. Para quem tem familiaridade com a obra heideggeriana, esse tópico não é necessariamente novidade, trata-se mais precisamente do pensamento sobre o começo da filosofia – com os gregos – e sobre o fim da filosofia no Ocidente, no berço do nascimento da ciência e da técnica moderna. Desse modo, como pretendemos demonstrar, o primeiro volume dos Cadernos Pretos se apresenta como uma dramática narrativa filosófica sobre o começo e o fim da filosofia, enquanto também um começo e fim de mundo em tempos de guerra; uma discussão diante da qual, se compararmos o atual jogo de forças e atores nos bastidores da academia para salvar ou sepultar a filosofia de Heidegger, não passaria de mero prosaísmo.
Assim, os Cadernos Pretos, com seu “estilo único” 2, conforme observado pelo editor Peter Trawny em seu epílogo, colocam o leitor em contato com uma espécie de genealogia do pensamento heideggeriano; uma cuidadosa cartografia de suas inspirações, palavras-guia, intuições filosóficas de mundo, que parecem pontuar meticulosamente seus insights filosóficos ao longo dos anos de vida, ensino, filosofia. Em seu conjunto, as notas, que têm um tom extremamente pessoal, carregado de agressividade e inquietação com seu tempo, ilustram uma espécie de bastidores inéditos de uma filosofia que já tão bem conhecemos. No entanto, é importante observar que, nesses bastidores, o filósofo também está em atuação: as notas não foram escritas “no calor do momento”, mas, sim, devidamente revisadas, trabalhadas, meticulosamente organizadas pelo próprio filósofo. Nessa perspectiva, as Considerações se mostram como elucubrações, bem ao sentido da palavra latina lucubratione, “estudos noturnos, à luz da lamparina” 3, que mais tarde ganhou o sentido de referir-se a algo “penosamente trabalhado” (com grande esforço mental). Assim, enquanto elucubrações, as considerações do primeiro volume mostram se como notas escritas à sombra da razão que encobriu o mundo naqueles anos 30. Teriam esses tempos sombrios, de pouca claridade, também embaçado a visão do pensador de Ser e Tempo ? Para além de defesa ou acusação, podemos dizer, contudo, que foram tempos difíceis, que exigiram do filósofo uma resposta à qual ele não se furtou à tentativa de elaborar (isso basta?). Desse modo, quer sejam as notas delírios, estreitamento de visão, megalomania ou desespero, ou todos estes atributos juntos, elas são ainda assim um testemunho de uma filosofia lidando com o seu tempo – e que por isso de seu tempo, daquele hoje, não podem ser isolados, nem mais exatamente alcança dos. Todo olhar hoje resta uma aproximação
Nossa leitura dos Cadernos parte então da necessidade de se levar em conta o seu caráter de ser uma obra que dá conta de uma obra; um estilo que, embora ainda precise ser melhor compreendido, não deixa dúvidas de que não se trata de anotações de diários secretos que por alguma razão vieram à tona à revelia do seu autor. Além disso, não obstante o esoterismo, misticismo, devemos igualmente levar em conta que somos nós os principais destinatários dessa filosofia; justa mente nós (sociedade, acadêmicos, povo, senso comum), a quem o pensador impiedosamente se dirige com desprezo, ira, consternação. É nessa perspectiva filosófica, que todavia não pretende minimizar a delicada questão histórico-pessoal, que fazemos e propomos uma leitura dos Cadernos II-IV : como o registro do pensamento da filosofia sobre seu tempo, que nos atinge e nos diz respeito no hoje
Com relação a uma metodologia de leitura do primeiro volume, observamos a necessidade de ter em mente diferentes planos de relações lógico-filosóficas, necessárias para uma tentativa de compreensão do lugar dos Cadernos na obra de Heidegger. O primeiro plano é interno: diz respeito à interrelação dos cadernos, no contexto particular de seu estilo inédito de filosofar. O volume 94 foi imediatamente seguido pela publicação de outros nove cadernos, respectivamente organizados nos volumes 95 4 e 96 5. Juntos, os primeiros três livros reúnem dez anos de considerações filosóficas que, se não totalmente escritas naquele momento, foram definitivamente organizadas pelo próprio Heidegger para constarem entre os anos de 1931 a 1941. Mas isso não é tudo: esse conjunto inicial de 14 cadernos ainda será segui do por 20 outros, agrupados em diferentes volumes, intitulados respectivamente “Notas”, “Quatro Cadernos”, “Vigilliae”, “Notturno”, “Indícios” e “Considerações Preliminares”, a serem publicados nos próximos anos. Em suma, aquilo que chamamos de Cadernos Pretos é o registro de 40 anos de considerações filosóficas. Sugere-se, portanto, prudência, de modo que ao nos ocuparmos da leitura do primeiro volume, é preciso que mantenhamos essa visão do todo, para podermos assim dar a devida medida e proporção de representatividade esse volume, que é apenas o primeiro contato com uma obra dentro da obra de Heidegger.
Também é precisamente por esse caráter parentético dos Cadernos que sua leitura requer que estabeleçamos ainda um segundo plano de relação: o alinhamento externo entre o conteúdo dos Cadernos e os volumes publicados das Obras Completas que lhe são contemporâneos. Em nosso caso particular de leitura do Vol. 94, isso quer dizer deixar ecoar diversos outros escritos, a saber: os cursos ministrados naquele período, como o primeiro volume do curso sobre Nietzsche 6 e outros estudos nietzschianos dos quais Heidegger se ocupava na época; os cursos dedicados aos antigos e pré-socráticos no início dos anos 30 7 ; e os diversos cursos em torno da questão de Ser e verdade 8, linguagem e lógica 9 ; metafísica 10 ; além dos seminários sobre Hegel, Kant, Schelling 11 e, não menos importante para o contexto dos Cadernos II-IV, o curso sobre os poemas “Germânia” e “O Reno”, de Hölderlin 12. Vale ainda salientar que os cadernos desse período, 1931-38, além de con temporâneos dos diversos cursos resumidamente citados acima, estão diretamente ligados a duas importantes obras desse mesmo período: as Contribuições à Filosofia 13 e Meditação 14, ambas escritas entre os anos de 1936 e 38. Somam-se aos seminários, ainda, inúmeras conferências proferidas em diferentes ocasiões ao longo desses nove anos retratados no primeiro volume, todos extremamente conectados entre si – ainda que não possamos precisar exatamente de que forma, que não a óbvia relação cronológica
Os Cadernos têm ainda outra particularidade. Neles, como talvez em nenhuma outra obra publicada na filosofia, se encontram, de maneira exemplar, ainda mais fortemente borrados os limites entre a ideia que fazemos da figura do filósofo e do homem por trás da filosofia. Essa linha divisória imaginária, que estabelecemos ao entrar em contato com o pensamento filosófico (de um filósofo), aparece ainda mais tênue, por conta do estilo. Em proporção inversa, se torna ainda mais vivo o grifo de um conflito entre a ideia que fazemos de uma obra filosófica como “produto de seu autor” (no limite, produto editorial) e a ideia da filosofia como algo que reclama para si o pensamento do pensador. Esta última é a que mais se aproximaria do pensamento heideggeriano, se considerarmos o que significa para Heidegger o evento do que é, o misterioso jogo para além da causalidade na qual algo existe (como produzido). É precisamente a nossa dificuldade em lidar com as coisas fora do âmbito da produtividade, exequibilidade, que nos desafia na leitura dos Cadernos
Assim, eles são uma condensação icônica de vida e obra – homem e filósofo, de modo que, ou bem partimos de uma intepretação que toma ao pé da letra, e letra por letra, o dito de um pensador-autor e lemos essas notas em primeira pessoa como sendo a opinião de Heidegger. Ou bem procuramos entender como realmente possível que a linguagem da filosofia venha à sua fala, que deixe-ver por entre o que está escrito, o ato próprio do pensamento filosófico enquanto correspondência. Apesar da forte impressão causada pelo personalismo das notas, devemos nos esforçar para não perder de vista o seu caráter filosófico, qual seja, o de ser uma resposta do filósofo ao seu tempo, e isto somente na medida em que, sobretudo e primeiramente, este é um corresponder a um tempo de mundo. Nunca é demais frisar que, naquele momento, o tempo de mundo se anunciava em um contexto de revolução, dominação, guerra
Nessa perspectiva, abre-se então um terceiro plano de relação, igualmente crítico para uma metodologia adequada de leitura dos Cadernos. Trata-se de alinhar as notas à sua pertença de mundo. Esse terceiro plano não quer dizer somente estabelecer uma relação histórica com os eventos aos quais as notas, implícita ou explicitamente, se referem. Trata-se de observar um co-pertencimento que é característico do instante filosófico em seu espelhamento do presente, ou seja, de um momento de mundo. Devemos, portanto, para além da factualidade, perceber o caráter fatídico, destinal dos eventos que, no caso deste primeiro volume, representam os anos de triunfo do que começou como o Programa Nacional-Socialista, sua bandeira patriótica de unificação e expansão da Grande Alemanha, e que culminou com a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933. Os anos que se seguem dispensam apresentação, são cinco anos de tensão entre forças mundiais que têm como desfecho o início da 2ª Guerra Mundial. É nesse contexto, no olho do furacão, que se encontrava Heidegger: e também que se encontrava a tarefa da filosofia, enquanto correspondência direta ao apelo do que é – mundo. Desse modo, sugerimos uma leitura do Vol. 94 que, antes de tudo, tenha em perspectiva esses três planos, quais sejam, a sua interrelação com os outros 29 cadernos, observando-se que a grande maioria permanece inédita; sua relação com todo o conjunto de obras escritas em paralelo; sua relação lógica (histórica) e filosófica (historial) com o tempo de mundo no qual eles aparecem. Nessa perspectiva, os Cadernos ganham um outro contorno, mais distante da ideia de notas pessoais, e igualmente mais distante da ideia de um tratado filosófico convencional. Ambas as visões, nas quais somos inclinados a tentar apressadamente encaixar os Cadernos, não são fortuitas. Reconhecemos que este é o resultado da forte impressão deixada, por um lado, pelo tom íntimo, agressivo e direto das notas e, por outro, o tom aforístico e fragmentário das considerações filosóficas nelas contidas.
No tocante aos Cadernos II – IV 15 presentes neste volume, obser vamos inicialmente a peculiaridade do estilo, conforme já menciona do, sobretudo porque ele nos dá uma primeira – e provavelmente falsa – impressão de intimidade com o pensador; de estarmos, durante a experiência da leitura, mais diante do homem que diretamente nos fala do que da (sua) filosofia. Assim, ao lermos as Considerações, temos a impressão de estarmos finalmente diante do “verdadeiro” Heidegger, o homem desnudado do personagem. Nesse caso, entramos em contato com um homem visivelmente desiludido, perturbado, cheio de ira e de desprezo por uma determinada conjuntura de mundo representada pela “crítica cultural”, “visão de mundo”, “nova ciência”, “filosofia da cultura” 16, etc. É essa conjuntura que Heidegger representa categoricamente como começo de um longo fim da filosofia. Esse fim, no entanto, não é encarado de maneira derrotista, embora definitivamente de maneira apocalíptica. Trata-se de um fim conquistado. Com ele, se abre, paradoxalmente, um momento único de tudo ou nada, de possibilidade de um novo começo. Diante desse fim, o filósofo é “o filósofo como criatura solitária; porém, não sozinho com o seu pequeno ‘si mesmo’ – mas, sim com o mundo, e esse acima de tudo ‘um com o outro’” 17. O filósofo, portanto, atende a uma convocação destinal, repetidamente referida como um momento de “empodera mento de Ser” 18, de modo que vemos que não se trata, para Heidegger, de uma cruzada pessoal, mas de uma decisão historial
Assim, o destino da filosofia alinha-se, confunde-se com o destino do mundo. Trata-se de fins e começos que Heidegger parece jamais ver dissociados. Esse momento decisivo no contexto histórico-político, aparece nos Cadernos como um momento de decisão historial do Dasein. Aquilo que está em xeque, portanto, no seu ver, é muito maior que o jogo de forças de poder territorial e racial, de um povo (alemão) sobre outros povos. Trata-se da possibilidade de consagração de um modo de ser. Somente nesse modo de ser “ideal”, que curiosamente deveria ser almejado e desejado pelo povo alemão, a filosofia heideggeriana – obviamente, para Heidegger, a filosofia per si – é possível. Se abrirmos espaço para conjugar esse jogo de espelhos entre os planos ôntico e ontológico, sem contudo ignorar sua natureza problemática, podemos de certo modo compreender de antemão, guardadas todas as reservas, aquilo que explicitamente transparece, em especial no Caderno III : a esperança de Heidegger na promessa da Revolução Nacional-Socialista, sua crença no privilégio do povo alemão, sua quase fobia pela cientificização e tecnificação do mundo. Heidegger parece mergulhar em uma situação de extremos para tentar salvar a filosofia da nova forma dominante da ciência e institucionalização da vida que, na sua visão, promoviam a “escolarização” da universidade e, com isso “a perturbação de todo saber verdadeiro, o sufocamento de todo originário e contínuo desejo de saber, o impedimento de qualquer tentativa de abertura de Ser espiritual.” 19. O contra-ataque é então pensado como uma esperança na Revolução Nacional-Socialista, na forma de uma “metapolítica” 20 que, na prática, trata-se também de uma reforma universitária, que depende sobretudo de um pensamento profundo de transformação no seio do povo alemão. “O fim da ‘filosofia’. – Devemos por um fim nela e com isso preparar uma – Metapolítica – completamente diferente. E, de acordo com ela, igualmente a transformação da ciência.” 21.Esse crescendo dramático ilustra a vinculação clara do projeto filosófico de Heidegger aos acontecimentos de mundo naquele momento. Obviamente, a esperança é passageira, o Nacional-Socialismo não consegue manter a expectativa de Heidegger de ter outro objetivo maior por trás do seu “fazer e dizer” 22. Mais tarde, por ocasião da entrega de seu cargo de reitor da Universidade de Freiburg, o filósofo expressa: “Viva à mediocridade e à zoadaria!” 23, um dos muitos exemplos do tom particularmente ácido das notas dessa época.
A questão do triunfo dessa mediocridade, da “mera teoria”, da “ciência politizada” sobre a filosofia não surge, porém, do nada, no contexto iminente da revolução. Este é um inimigo anunciado, presente desde as primeiras notas e também em escritos mais antigos.
Ainda no Caderno II nos deparamos com esse cenário polarizado (típico de uma situação de guerra), no qual Heidegger articula um pensa mento de ataque à técnica e à ciência moderna, ao jornalismo, ao biologismo, aos colegas, ao senso comum. Por diversas vezes, ele se refere a “um mundo em reformas” 24 e descreve o homem em sua “estranheza e estranhamento da essência de Ser” (p. 43)” 25, entregue à “escrevinhação” 26, à falsa pergunta, que somente pode ser combatida por uma obstinada retomada da pergunta original, aquela do “grande começo”, interposta pelos gregos – antes da ciência moderna.
Especialmente com relação aos gregos, é necessário que façamos um parêntese: não obstante reconheçamos a força e autoridade do argumento defendido com propriedade pelo editor dos Cadernos, optamos por enfatizar um outro aspecto na questão chave da conexão entre alemães e gregos, que se apresenta insistentemente em todos os cinco cadernos deste primeiro volume, e também nos volumes posteriores. Para resumir brevemente o argumento de Trawny apresentado em seu livro 27, o autor elabora a forte hipótese de existência de um único projeto filosófico heideggeriano pós Ser e Tempo, esse aquele que consiste na tarefa de demonstrar o vínculo historial entre o pensamento principial dos gregos e aquele que, na visão de Heidegger, seria a sua continuação imediata: o pensamento alemão, mais precisamente o pensamento de Hölderlin e Nietzsche, culminando com o seu próprio pensamento heideggeriano, este conclamado a ser decisivo naquele momento histórico de revolução. Reconhecidamente, são muitas as passagens que descrevem os gregos como o “grande começo”, e que igualmente se referem à proposta heideggeriana como o “outro começo” ou “segundo começo”, como a que se segue: “A filosofia se tornou difícil, mais difícil talvez que seu grande primeiro começo – porque trata-se do segundo.” 28. Nesse contexto decisivo, está evidente como Heidegger atribui à filosofia – e ao povo alemão – a tarefa de conduzir o projeto de reinstauração da pergunta por Ser.
Não obstante a propriedade dessa interpretação, defendemos que também é possível dar uma outra ênfase à motivação para essa conexão greco-teutônica que seja diferente da questão racial (de povos) e sobretudo da questão racista. Assim, preferimos seguir a linha de raciocínio análogo àquela em que se investiga e até mesmo se legitima a autoria de um crime: é necessário um motivo. Desse modo, observamos como outro possível motivo nessa relação não necessariamente a questão dos gregos x alemães per si, mas a configuração de um fenômeno em particular, qual seja: o pensar, antes da ciência moderna, e o fim do pensar (na visão de Heidegger), advindo a consagração da ciência moderna. Tratar-se-ia, portanto, de uma vinculação desses dois momentos, uma tentativa de reencenar um modo de ser particularmente contra-científico, o qual a historicidade do Ser [Seinsgechichtlichkeit] demonstra ter sido certa vez possível – justamente com os gregos.Nesse sentido, defendemos que uma via de compreensão da vinculação desses dois momentos historiais pode também se dar através do foco na importância que tem a questão da nova ciência (técnica moderna) naquele momento de mundo e na filosofia de Heidegger. Assim, a ciência moderna, “o novo slogan” 29 ou a ciência política, a qual ele compara com um “botar o carro diante dos bois” 30, surge assim como o seu grande inimigo (da filosofia) de modo constante e insistente em todos os cinco cadernos. De modo geral, a ciência é descrita com desprezo, como transformada em algo ao qual seu nome não mais corresponde, como aquela que aniquila o pensamento, que impede toda e qualquer possibilidade de acesso ao pensamento do sentido de Ser, às coisas em si; um tempo onde “conhecemos tanto e sabemos tão pouco” 31. A pergunta “Por que agora nenhuma coisa pode mais descansar em si mesma e em sua essência?” 32 iconiza essa inquietação diante do aviltamento da possibilidades do pensar filosófico, assolado pelo avanço da nova configuração da ciência.
Tendo a conjuntura na qual se dá o fenômeno da ciência moderna um papel tão importante, parece então plausível pensar que Heidegger tenha buscado observar e compreender nos gregos como se dava o mundo pré-ciência e, a partir daí, pensar como seria possível um mundo pós-ciência – o fim da filosofia para o começo de um “novo saber” 33, e esse saber, engendrado como em oposição ao mero conhecer. O tempo dos gregos é, portanto, citado com admiração como um tempo de um mundo “inteiramente sem ‘ciência’” 34 e que fez nascer a filosofia. Como narrado nos Cadernos, os gregos ainda não haviam caído no “criticismo da ‘mera especulação’” da ciência, esse no qual a filosofia é “desencorajada e se torna constantemente suspeita” 35. Assim, torna-se clara uma motivação por ensejar e conduzir um novo momento pós-ciência, de “fim da universidade e começo do novo saber” 36, que anseia se espelhar em um momento parecido com aquele ocorrido no berço da filosofia. A questão, portanto, se dá circunstancialmente pelo povo (grego, alemão), tratando-se mais de uma questão de afirmação da filosofia diante de seu fim iminente; não de mera nostalgia ou mero racismo.
Essa linha de pensamento, no entanto, não diminui a gravidade ética de um pensamento que se articula com base nos privilégios entre determinados povos, tampouco torna menos espantosa a constatação de seu caráter problemático do ponto de vista filosófico. Aquele presente vivido por Heidegger não poderia jamais representar um marco divisório a partir do qual se consolidaria um hiato – com vistas a colocar entre parênteses quase dois mil anos de história. O instante filosófico que Heidegger ensejou inaugurar jamais poderia ser bem -sucedido em seu objetivo de demarcar, naquele presente, a instauração de um momento pós-ciência. Como bem sabemos, e isso de acordo com a própria filosofia heideggeriana, aquele tempo presente dos anos 30 é também um presente que herdamos dos gregos, talvez mais um “presente de grego”, mas de todo modo algo que o próprio Heidegger claramente aborda em pelo menos uma de suas obras contemporâneas a estes cadernos, aqui nos referimos ao curso sobre Aristóteles 37, de 1931.
Nele também está clara a constatação de uma condição especial de aproximação dos gregos com o que é, com as coisas, que também já se mostra como um lançar-se do Dasein, como o início de um estranhamento. A saber, essa condição, enquanto historial, desde sempre existiu, e Heidegger está todo o tempo, embora contraditoriamente, ciente dela, como nessa passagem onde expressa sua consternação: “Como, nos Antigos, o desdobramento de Ser morreu e paralisou tão rápida e completamente.” 38. Assim, de acordo com o próprio filósofo, também os gregos foram um povo ao modo de uma “queda”; aliás, com o próprio filósofo aprendemos que só é possível ser povo (em primeira instância, Dasein ) ao modo dessa queda, desse lançar-se. Portanto, é no mínimo curioso pensar como Heidegger poderia defender veementemente a possibilidade de uma outra – e nova – condição de aproximação com as coisas que comece onde deva acabar a ciência moderna. É possível e plausível um projeto como tal? Quereria Heidegger, sobretudo, negar o inevitável, qual seja, a transformação gradativa e a consumação da filosofia em um outro tipo de saber, esse que vivemos hoje? Aparentemente indiferente a essa impossibilidade existencial, ele insiste: “Nós devemos nos reposicionar no grande começo”39 Sobretudo, é ainda mais desconcertante pensar que esse projeto de recondução tenha sido gestado, naquele momento, em termos de uma relação de mútua dependência com a Revolução Nacional-Socialista.
Igualmente problemático é pensar o que de fato significa a sua ira contra o “homem que vai toda semana ao cinema” 40, o que significa propriamente, fora da perspectiva comportamental/cultural que, aliás, ele veementemente refuta, o seu advogar por um modo de ser no qual haja espaço – e que esse seja o único espaço – para as grandes questões da filosofia, sobretudo para a pergunta pelo sentido de Ser.
A depreciação da filosofia contra a qual Heidegger luta furiosamente é encarada como “uma guerra contra a desenssencialização da essência” 41, da qual o filósofo parece querer salvar o homem comum, que contraditoriamente parece ser ao mesmo tempo o principal agente desta desgraça.
Por essa e muitas outras razões, a questão do povo não se deixa elucidar facilmente. É preciso uma análise cuidadosa dos Cadernos III e IV, na qual, para entendermos como os alemães podem ser “os protetores e executores do empoderamento de Ser” 42, precisamos levar em conta as diferentes gradações entre as ideias de povo, do alemão, das diferentes instâncias de raça que o filósofo articula. Essa é, aliás, uma discussão que também não é inédita, mas extensivamente abordada de maneira mais didática em uma outra obra contemporânea a esses Cadernos, o curso sobre Lógica 43. Nele, há uma detalhada tentativa de responder à pergunta sobre quem somos “nós” conduzida a partir de uma reflexão sobre conceitos caros à antropologia, como “ser humano”, “si mesmo”, “comunidade” e, consequentemente, “raça” e “povo”. De modo geral, o que fica claro nos Cadernos é que a questão do povo para Heidegger não se dá primeiramente em um viés cultural, biológico, tão pouco meramente historiográfico – o que em princípio também pode ser usado como um argumento de refutação para o seu alegado racismo. A questão está atrelada, primeiramente, ao reconhecimento do caráter múltiplo da essência do povo, da qual se sobressai a ideia de povo como “incorporado no Ser” 44.
A essa altura, denotamos que, passada a euforia com o regime Nacional-Socialista, Heidegger intensifica e concentra suas observações sobre o caráter maquínico da técnica, em sua extrema relação inclusive com a própria concepção de povo, sendo por fim o Caderno VI uma busca pela compreensão desta destinação historial, que culmina na ainda mais extrema tecnificação, a “queda” (p. 485) do povo, da academia, na compreensão calculadora de mundo. Esse “acabamento” dos tempos modernos tem apenas como saída a possibilidade da filosofia de reencontrar sua essência, manifesta na retomada e sustentação do exercício da pergunta por Ser: “Começar o outro começo… Se voltar para o âmbito do que é digno de ser questionado.” (p. 514).Entra em cena um jogo de proporções: o “imenso”, “grande”, “pequeno”, de medidas contra a cultura, tida como “uma forma de barbarismo” (p.515), em favor do pensar o sentido [Besinnung], contra a “maquinação” e o pensamento “calculador”. Esse jogo de medidas e desmesuras encerra-se, curiosamente de maneira megalômana, em uma comparação de momentos chave na história do Pensamento Ocidental, marcados pelo aparecimento e desaparecimento de Hölderlin, Wagner, Nietzsche, e culminando com a chegada ao mundo do próprio Heidegger !).
A desmesura das Considerações é desconcertante, mas como tentamos denotar anteriormente, proporcional em intensidade àquele momento. A correspondência com aquele momento, como também tentamos evidenciar, se dá não apenas circunstancialmente, mas no âmbito de uma temporalidade especial que é a do instante filosófico.
Compreender ou julgar o teor dos Cadernos, nesse caso, é uma tarefa que precisa partir do conjugar diversas esferas superpostas, do político e do filosófico, do público e do privado. Sobretudo para um filósofo que naquele momento atribui especial importância ao “silenciar”.
A eloquência vociferante de Heidegger nos atinge em nosso hoje como algo fora de proporção, e é quase impossível equalizar seu tom.
Assim, na leitura dos Cadernos II-VI e provavelmente na leitura de todos os outros que se seguem, nos damos conta que nos cabe lidar ainda com uma última e quarta relação, essa que é extemporânea, e que trata de dar conta da significação daqueles escritos – se o considerarmos filosóficos – com o nosso presente. Como o próprio Heidegger parece ter antecipado: “Porque uma filosofia não se deixa jamais refutar ! Porque ela não contém nada de refutável, pois o que há nela é filosofia, ou seja, abertura de Ser…” 45. Se somos nós, do futuro e de hoje, os destinatários dessas Considerações, o desafio de encontrar uma perspectiva que não seja nem apologética nem persecutória talvez comece, justamente, pela compreensão temporal dos limites, de fim e de começo, do dizer da filosofia.
Agradecimentos
A autora torna público seu agradecimento à Prof. Dra. Marcia Cavalcante Sá Schuback, cujos diálogos contribuíram em muito para as impressões ensaiadas nesta resenha.
Notas
1 TRAWNY, P. Heidegger e o mito da conjuração judaica mundial. Rio de Janeiro: Mauad X (No Prelo).
2 TRAWNY, P. Nachwort des Herausgebers. In: HEIDEGGER, M. Überlegungen II-IV, p. 530. (Tradução nossa e em todas as passagens a seguir).
3 VARRO. On the Latin Language. Vol. I. Translated by Roland G. Kent. London: William Heinemann, 1938. p. 269.
4 HEIDEGGER, M. Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014
5HEIDEGGER, M. Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1933/41). Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014
6 HEIDEGGER, M. Nietzsche. Vol. I. Tradução de Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2007. Também os inéditos Vol. 43 (vontade de poder como arte); o vol. 44 (eterno retorno do mesmo);
7 São, respectivamente, vol. 33 (Aristóteles); vol. 34 (Platão); Vol 35 (Anaximandro e Parmênides)
8 HEIDEGGER, M. Ser e Verdade. Tradução de Emmanuel C. Leão. Petrópolis: Vozes, 2007.
9 HEIDEGGER, M. Über Logik als Frage nach dem Wesen der Sprache. Ed. Günther Seubold. Frankfurt: V. Klostermann, 1998; IDEM. Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte „Probleme“ der „Logik“ Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Frankfurt, 1992.
10 HEIDEGGER, M. Introdução à metafísica. Tradução de Emmanuel C. Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999
11 Respectivamente, vol. 32 (Hegel); vol. 41 (Kant); vol. 42 (Schelling)
12 HEIDEGGER, M. Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“. Ed. Susanne Ziegler. Franfkurt: V. Klostermann, 1999
13 HEIDEGGER, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Franfkurt: V. Klostermann, 2003
14 HEIDEGGER, M. Meditação. Tradução de Marco A. Casanova. Petrópolis: Vozes, 2010.
15 Como esclarece o editor do volume em seu epílogo, cogita-se que um Caderno I jamais tenha existido (a série inicia-se com o número II) ou, se existiu, teria sido destruído por Heidegger. De acordo com Trawny, não há registros ou menção a um primeiro volume. Também não há uma explicação plausível para a sua inexistência. Especulativamente, cogito que tenha sido intenção de Heidegger iniciar com o número dois, fazendo assim uma alusão implícita ao ‘segundo começo’ em relação ao ‘primeiro começo’ com os gregos, questão tratada mais adiante nesta resenha. Ao final de janeiro deste ano, o professor emérito Silvio Vietta anunciou ter em sua posse um outro volume ausente da série, aquele que justamente registra os anos 1945/46 (ver. CAMMAN, A., SOBOCZYNSKI, A.; Eine grundlegende Entwurzelung. Gespräch mit Silvio Vietta. Die Zeit. 30 Jan. 2014).
16 HEIDEGGER, M Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 346.
17 Idem, p. 56 (grifo do autor)
18 Idem, p. 40-41
19 Idem, p. 183
20 Idem, p. 115
21.Idem, ibidem (grifo do autor).
22.Idem, p. 114.
23 Idem, p. 162.
24.Idem, p. 31.
25.Idem, p. 43.
26 Idem, p. 19.
27.TRAWNY, P.Heidegger e o mito da conjuração mundial.
- HEIDEGGER, M. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 244.
29.Idem, p. 175
30.Idem, p. 191.
31.Idem, p. 232.
32.Idem, p. 340.
33.Idem, p. 128.
34.Idem, p. 41.
35.Idem, ibidem.
36.Idem, p.128.
37.HEIDEGGER, M.Metafísica de Aristóteles 1-3. S obre a essência e a realidade da força. Tradução de Enio P Giachini. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.
38.HEIDEGGER, M. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 29
39.Idem, p. 53.
40.Idem, p. 302.
41.Idem, p. 85.
42.Idem, p. 98.
43.HEIDEGGER, M.Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. Ed. G. Seubold.
Franfkurt: V. Klostermann, 1998.
44.HEIDEGGER, M. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 521
45.Idem, p. 239 (grifo do autor).
Referências
CAMMAN, A., SOBOCZYNSKI, A.; Eine grundlegende Entwurzelung. Gespräch mit Silvio Vietta Die Zeit. 30 Jan. 2014.
HEIDEGGER, M.Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Vol. 65. Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Franfkurt: V. Klostermann, 2003.
______.Der Anfang der abendländischen Philosophie. Vol. 35. Ed. Peter Trawny. Frankfurt: V. Klostermann, 2012.
______.Die Frage nach dem Ding. Vol. 41. Frankfurt: V. Klostermann. (no prelo) ______.Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte „Probleme“ der „Logik“. Vol.45. Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Frankfurt: V. Klostermann, 1992.
______.Hegels Phänomenologie des Geistes. Vol. 32. Ed. Ingtraud Görland. Frankfurt: V. Klostermann, 1997.
_ _____. Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“. Ed. Susanne Ziegler.Franfkurt: V. Klostermann, 1999.
______. Introdução à metafísica. Tradução de Emmanuel C. Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999.
___ ___.Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. Vol. 38. Ed. G.Seubold. Franfkurt: V. Klostermann, 1998.
_ _____ Metafísica de Aristóteles 1-3. S obre a essência e a realidade da força. Tradução de Enio P. Giachini. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.
______.Meditação. Tradução de Marco A. Casanova. Petrópolis: Vozes, 2010.
______.Nietzsche. Vol. I. Tradução de Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2007.
_ _____.Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst. Vol. 43. Frankfurt: V. Klostermann. (no prelo)
___ ___.Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. Vol.43. Frankfurt: V. Klostermann. (não publicado)
______.Ser e Verdade. Tradução de Emmanuel C. Leão. Petrópolis: Vozes, 2007.
____ __.Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Vol. 42. Frankfurt: V. Klostermann. (não publicado)
___ ___.Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938)Vol. 94. Ed. Peter Trawny. Franfkurt: Vittorio Klostermann, 2014.
___ ___.Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). Vol. 95. Ed. Peter Trawny. Franfkurt: Vittorio Klostermann, 2014.
__ ____ Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1933/41). Vol. 96. Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014.
______.Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet. Vol.34. Ed. Hermann Mörchen. Frankfurt: V. Klostermann, 1997.
TRAWNY, P.Heidegger e o mito da conjuração judaica mundial. Trad. Soraya Guimarães Hoepfner. Rio de Janeiro: Mauad X, (No Prelo).
VARRO. On the Latin Language. Vol. I. Translated by Roland G. Kent.
London: William Heinemann, 1938. P. 269.
Soraya Guimarães Hoepfner – Doutora em Filosofia pela Universidade federal do Rio Grande do Norte. E-mail: [email protected]
A estranha derrota – BLOCH (P-HMP)
BLOCH, Marc. A estranha derrota. Tradução de E. Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2011. 170 p. Resenha de: MARTINEZ, Paulo Henrique. Perseu – História, Memória, Política, n.9, p.332-333, maio 2013.
A história do tempo presente vai crescendo dia após dia no interesse do público leitor, de editores de livros, da mídia e, claro, da produção de pesquisas nas universidades. A sua avaliação crítica nasce com ela e também vai se impondo como necessidade inescapável. A edição brasileira de A estranha derrota deriva dessa demanda de conhecimento do passado.
O autor do livro, o historiador francês Marc Bloch (1886-1944), foi combatente nas duas guerras mundiais e com os olhos atônitos pela derrota francesa diante da máquina de guerra nazista, em maio de 1940, procurou mobilizar a experiência pessoal nos campos de batalha e as habilidades de professor e investigador da história social e econômica europeia na explicação desse acontecimento traumático para muitas gerações: a derrota fulminante que as tropas alemãs impuseram ao exército francês.
O livro revela mais do que a história do tempo presente, hoje buscada e propagada pela historiografia. Escrito em 1940, vemos o historiador do imediato, imerso no acontecimento que pretende estudar com criteriosos métodos investigativos e a segurança de suas habilidades profissionais. Marc Bloch fez do episódio uma porta de entrada para conhecer todas as fissuras sociais da sociedade, das instituições culturais francesas e da organização do Estado. Todas elas compõem o mosaico de causas profundas cristalizadas nessa derrota militar.
Não se trata apenas de um livro de história da Segunda Guerra Mundial, em um dos seus fatos mais decisivos.
Não se trata também de uma narrativa da derrota, naquelas circunstâncias, fragmentada em suas possibilidades, mas, sim, do relato de uma experiência pessoal amarga, descrita no trecho denominado “O depoimento de um vencido”.
As ambições do autor são grandes e também modestas quando afirma, na “Apresentação do testemunho”: “ninguém poderia pretender tudo ter observado ou conhecido. Que cada um diga francamente o que tem a dizer. A verdade nascerá dessas sinceridades convergentes”.
O que esse livro nos oferece é uma análise da fragilidade e do esboroamento de uma sociedade imersa em ilusórias autoconfiança e percepção de si e do seu tempo. Eis aqui a matéria-prima do historiador, as dificuldades na compreensão do momento em que se vive e os riscos que tal incompreensão carrega em um ventre escuro. A observação atenta e a composição surgida na análise de diferentes registros, reunidos no calor dos acontecimentos, sustentam o estudo do fato militar e de seu significado cultural e político. A trajetória pessoal do autor jogou papel decisivo. O historiador meticuloso era pesquisador de variada documentação da história da vida rural europeia e da França, sobretudo nas Idades Média e Moderna. O historiador meticuloso, repito, foi apanhado no turbilhão das ocorrências que, simultaneamente, se sucedem na frente de batalha, na retaguarda – na qual ele atua com desesperada dedicação – do alto comando militar e das conveniências da política internacional que pairam sobre o continente europeu e que se projetam para além dele. O profissional habituado ao exame de diversificados registros de informação e da organização do território – elementos estratégicos na guerra – viu-se, estupefato, na contingência de cuidar do próprio destino, ao lado de seus companheiros de farda e da população civil: evadir-se, impedir a captura, aceitar a inutilidade e a ausência de qualquer resistência, buscar recomporse, rapidamente, atuar onde fosse esperado e necessário. Uma experiência melancólica para o indivíduo e para o seu país.
O relato e a análise dos dias de combate, da debandada das tropas e da capitulação ocupam a maior parte das páginas. Tudo derivado da causa direta e profunda, a incapacidade do comando militar francês, um grupo humano como qualquer outro, passível de educação, de crítica e de responsabilidades.
O autor logo nos adverte: “em nenhum grupo humano os indivíduos são tudo”. As peculiaridades individuais acentuam-se no momento em que o grupo está integrado a “uma comunidade fortemente constituída”, o exército e a nação francesa. O foco do problema desloca-se prontamente para a dimensão social e cultural da vida francesa na primeira metade do século XX. É a derrota intelectual o fato grave e não a derrota militar. Esta, diz Bloch, ocorreu diante da incapacidade dos chefes e comandantes que “não souberam pensar a guerra”. Eis a razão de o livro não conter uma “história crítica da guerra” ou Nº 9, Ano 7, 2013 334 da campanha no norte da França. É “toda uma formação intelectual que deve ser recriminada”, aquela das escolas superiores e das instituições, guardiãs de tradições retransmitidas e da autoconfiança dos franceses.
A crítica incide sobre a incompreensão que a França tinha da época em que vivia e não sobre indivíduos e instituições que lhe davam sustentação. As mudanças tecnológicas acumuladas nos últimos 50 anos, antes que estalasse o conflito na Europa, haviam mudado radicalmente o ritmo e a noção de tempo e das distâncias. Os alemães guerrearam sob o signo da velocidade e da potência de seus armamentos notáveis, como tanques, aviões, motocicletas e caminhões.
O efeito psicológico dos bombardeios aéreos, disseminando o pânico e a insegurança entre comandantes e comandados. Técnicas e psicologia, dois campos de estudo que a sensibilidade analítica e a obra do historiador Marc Bloch incorporaram com argúcia na fundamentação crítica da história rural e da história das mentalidades. Um profundo conhecedor da tecnologia rural e da vida camponesa não poderia deixar de atentar para o contraste com as conquistas técnicas da sociedade industrial. Um profundo conhecedor dos efeitos psicológicos na vida social não poderia deixar de atentar para o significado dos novos ritmos inscritos no tempo histórico, como exemplifica a observação de que as tropas alemãs “não marchavam a pé”.
Na incompreensão brotariam o despreparo, a lentidão e a inação. Estas contagiaram os comandos e as tropas da França, incapazes de efetivo planejamento e de reação. Foi uma “guerra acelerada”, de movimentos rápidos, transpondo com agilidade e facilidade as posições fixas no solo francês, como a linha Maginot, cujo componente psicológico foi a sensação de desordem e de medo que a todos dominou. Enfim, a consequência de “uma cândida ignorância da verdadeira análise social” e das dificuldades de lidar com a surpresa. O conhecimento histórico exibe aqui todo o seu potencial, o da ciência da mudança, das mudanças estruturais, sociais, psíquicas, econômicas, tecnológicas que introduzem novos fatores na vida das sociedades. E não foram as duas guerras mundiais distintas entre si, na duração e no ritmo dos conflitos? A ocupação da Polônia em poucas semanas não demonstrara isso? Os bombardeios aéreos na Espanha não foram um prenúncio do que poderia ocorrer? E qual é a razão dessa incompreensão, que subsistiu nos oito meses seguintes? Diz Bloch: o falso culto da experiência do passado, a reparação de erros e a reedição de métodos de 1914-1918 não poderiam desaguar em “boa interpretação do presente”. A derrota intelectual desencadearia as sucessivas derrotas seguintes: política, psicológica, militar, o armistício, Vichy e, por fim, a ocupação alemã.
Menos extenso é o “Exame de Consciência de um francês”, a terceira e última parte do testemunho. Nela encontramos o prolongamento do teste335 munho do soldado no exame de consciência do cidadão, esses dois pilares do Estado nacional e da organização das nações. Aos sentimentos nacionais, Bloch agrega o exercício consciente do ofício do historiador e faz despontar uma “nova ordem de problemas: aqueles do próprio pensamento” e da preparação mental da sociedade. Marc Bloch rende tributo à sua geração, a da III República francesa, e a coesão social e moral são evocadas como fator de compreensão do presente pela instrução para a ação coletiva e da nação. Foi alguma “preguiça de saber” a responsável por uma funesta complacência da França para consigo mesma, leal aos modos de vida do passado. Segundo Bloch, tratava-se, agora, de restabelecer a coerência entre pensamento e ação política, ajustando-se à nova era, a da máquina e do progresso técnico. Ele vaticina: “E para fazer o novo é preciso, antes de mais nada, instruir-se”. O foco da crítica volta-se para a educação que lançou os homens da França na estranha derrota: de um lado, o culto excessivo do patriotismo, do civismo e do militarismo e, de outro, a ausência da análise social nos programas escolares, impregnados pela política. Reformar a preparação intelectual do país, a tarefa para o pós-guerra, um desafio para as jovens gerações de franceses.
Diante do espírito do soldado alemão, nutrido nas grandes celebrações coletivas da nação, na Alemanha de Hitler, Bloch sugere a “boa preparação mental para lutar” e para compreender os antagonismos. O conhecimento histórico adquire relevância social e política, como tomada de consciência das coletividades humanas. Não pode haver bons cidadãos sem boa história. E esta não pode existir sem o compromisso e a dedicação profissional dos seus artífices: os historiadores e os professores de História.
É lamentável que a edição brasileira de A estranha derrota não tenha acompanhado as edições francesa e espanhola. Estas trazem, além do texto publicado pela primeira vez em 1946, uma reunião de “Escritos clandestinos”, fruto do período da França ocupada e o movimento de resistência, no qual Bloch militou até sua prisão, seguida do fuzilamento, pelos invasores, em 1944. Ali figura um escrito sobre a reforma do ensino, estimulante diálogo com A estranha derrota. Dos anexos, os editores reproduziram os elogios militares recebidos por Marc Bloch, entre 1915 e 1940, as epígrafes que o autor selecionara para o livro inacabado, e que não esperava póstumo, e o poema que encarnou sua angústia na guerra: “O general que perdeu seu exército”. O livro publicado por Jorge Zahar Editor traz ainda o “Testamento” espiritual que Bloch escreveu em março de 1941.
A estranha derrota amargou o ostracismo, mesmo entre historiadores.
Foi na década de 1970 que o colaboracionismo francês durante a Segunda Guerra deixou de ser tabu político e intelectual. O intervalo entre a terceira (1961) e a quarta edição (1990), de onde provém a edição brasileira, é revelaN º 9, Ano 7, 2013 336 dor do alcance dessa interdição crítica. Curiosamente, o fato remete à citação de Pascal, presente no livro: “O silêncio é a maior perseguição”. As gerações do pós-guerra tardariam em acolher o retorno de Marc Bloch.
Paulo Henrique Martinez – Professor no Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis − Universidade Estadual Paulista. Contato do autor: [email protected].
A estranha derrota – BLOCH (RTA)
BLOCH, Marc Leopold Benjamim. A estranha derrota. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. Resenha de: OLIVEIRA, Marlíbia Raquel. Vencidos pelo mofo: Marc Bloch e a França derrotada. Revista Tempo Amazônico, Macapá, v.1, n.1, p.98-100, jan./jun., 2013.
Um dos acontecimentos mais extraordinários durante a Segunda Guerra (1939-1945) foi a derrota da França frente ao exército de Hitler em 1940. Sem duvida, a rápida capitulação daquele país foi por muito tempo alvo de críticas e espantos e, ainda hoje, é vista por muitos franceses como algo insuportável, vergonhoso.
Por que a França, detentora de um respeitado corpo militar, que havia saído vitorioso da Primeira Grande Guerra (1914-1918) sofreu tão duro e humilhante golpe? Quem nos responde a este e a outros questionamentos é Marc Bloch em sua obra A Estranha Derrota. Contemporâneo ao fato, o autor reunia as características e motivos necessários para redigir a história que se desenrolava diante dos seus olhos. Bloch escreveu baseando-se na sua experiência como historiador, militar e, acima de tudo, como um “bom e autêntico cidadão francês”.
Como historiador profissional era consciente de seu ofício e, portanto, da importância de registrar tal fato histórico. Neste sentido, preocupou-se severamente em não impregnar sua análise por um subjetivismo nacionalista. Como militar, mostrou-se comprometido com os deveres para com a sua pátria. Seu discurso era sustentado pela realidade vivida nas duas guerras, pois ele havia atuado no conflito desencadeado em 1914 e a partir de 1939 voluntariou-se para servir nas tropas francesas mesmo possuindo argumentos suficientes que poderiam livrá-lo das obrigações para com o exército nacional. Sendo um cidadão francês, fato do qual muito se orgulhava, Bloch demonstrou a tristeza de um povo vencido que, absurdamente, parecia conformado com a ocupação do seu território e submissão ao regime nazista.
A Estranha Derrota trata-se de um testemunho escrito entre julho e setembro de 1940 por Bloch em uma casa de campo depois da rendição francesa à Alemanha. Os manuscritos que dariam origem ao livro ficaram cuidadosamente escondidos até o final da guerra. A obra foi publicada pela primeira vez em 1946, mas só veio a alcançar sucesso editorial na década de 1990. Nela, o autor fez uma pertinente análise sobre os motivos que fizeram os franceses perderem a guerra. Ele, que junto com Lucien Febvre, fundou a Revista Annales, ousou historiograficamente ao escrever quase em tempo real uma história dos seus próprios dias cujo final ainda era desconhecido. Marc Bloch nasceu em 1886 e morreu fuzilado pela Gestapo em 1944. Nessa época ele estava vinculado ao movimento clandestino que visava libertar a França.
A versão brasileira publicada em 2009 está dividida em três partes somadas a quatro outros documentos relevantes. A primeira parte traz a “Apresentação do Testemunho”, onde o autor justifica o seu relato sobre a derrota. Na segunda, apreciamos “O depoimento de um vencido” em que é descrito o difícil dia-a-dia na guerra e, por último, temos o “Exame de consciência de um francês” onde são apontas as falhas conjuntas cometidos pela população da França. É interessante resaltar que em nenhum momento Bloch eximiu os vários setores da sociedade francesa da responsabilidade que culminou na derrota do seu país. Segundo ele, o povo francês de modo geral, ou seja, civis e militares, possuíam sua parcela de culpa na tragédia e ele, humildemente assume que também não era uma exceção diante de tal regra.
Bloch apresenta ao leitor uma serie de fatores que levaram ao colapso da França. Entre eles podemos destacar, o excesso de burocracia exigido pelo exército francês, a precariedade dos serviços de inteligência e informação que prejudicavam significativamente o contato entre as várias divisões militares bem como a tomada de decisões a tempo suficiente de serem executadas e, a apatia da população francesa frente a guerra. O país não estava preparado nem de forma bélica tão pouco psicologicamente. Os franceses não desejavam a guerra e diante dela faltou heroísmo, compromisso com a nação que de forma pouco honrosa assistiu a rápida desistência no campo de batalha e a traição de muitos dos seus filhos. Os franceses pareciam terem sido atacados de surpresa quando na verdade não foram.
Outro fator apontado como contribuinte para a derrota foi a falta de “camaradagem” entre o exército francês e inglês. Sobre isto, o autor de certa maneira defende os ingleses, afinal, como eles poderiam confiar na França tendo ela um exército tal mal organizado?
Essa realidade seria para Bloch, aquela que mais afetou negativamente a França durante toda a guerra. A desorganização do exército, percebida desde os mais altos comandos e que se estendeu até entre os soldados mais rasos, o indignava.
Em seu texto, ele enfatizou as falhas nas ações tomadas pelo alto comando. Este era formado por militares com idade avançada, veteranos da Primeira Guerra Mundial advindos da Escola de Guerra francesa, ainda arraigados às antigas doutrinas militares das primeiras décadas do século XX. No dito grupo, em menor número, podíamos encontrar jovens comandantes que por terem sido formados na mesma academia militar, infelizmente também carregavam consigo um pensamento estratégico-militar atrasado, “cheio de mofo”.
O exército francês demorou a entender que as armas e medidas adotadas em 1914 já não seriam suficientes para garantir uma vitória em 1940, afinal, lutavam contra as inovações tecnológicas já adotadas pelo exército do Terceiro Reich. Os tempos eram outros, as noções de tempo, espaço e as armas de guerra haviam mudado. Enquanto a França fazia uma guerra “velha” os alemães utilizavam a mais recente tecnologia bélica desenvolvida. Sendo assim, fica claro para nós que faltou inovação por parte dos franceses.
A estranha derrota, escrita em primeira pessoa por um dos maiores historiadores franceses, possui uma narrativa por vezes comovente de alguém que participou de forma ativa da guerra. O fato de Marc Bloch estar refugiado sem poder ter acesso a fontes documentais não desmerece a grande relevância dessa obra. Tampouco um certo sentimentalismo em sua análise não fez com que ele deixasse de lado o trabalho crítico do historiador.
Bloch deixou registrado o seu desejo e esperança de ver a França libertada. Infelizmente ele não sobreviveu para assistir a esse acontecimento, mas lutou até a morte acreditando nisso. Sem dúvida, trata-se de um incrível testemunho desse francês que nas entrelinhas do seu tempo deixou evidente uma personalidade forte e admirável caráter.
Referências
BLOCH, Marc Leopold Benjamim. A estranha derrota. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
Marlíbia Raquel de Oliveira – Graduanda em História pela UFS. Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET/História/UFS. Integrante do Grupo de Estudo do Tempo Presente – GET/CNPq/UFS. Email: [email protected]. Colabora no Projeto “Memórias da Segunda Guerra em Sergipe” coordenado pelo Prof.Dr. Dilton Maynard (PROHIS/PPGHC).
[IF]Barbudos, sujos e fatigados: soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial – MAXIMIANO (CTP)
MAXIMIANO, César Campiani. Barbudos, sujos e fatigados: soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Grua, 2010. Resenha de: OLIVEIRA, Marlíbia Raquel de. A saga da FEB em Barbudos, sujos e fatigados. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 08 – 08 de julho 2012.
Desde a década de 1980 o historiador paulista César Campiani Maximiano vem realizando pesquisas sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Um interesse surgido da dificuldade em encontrar leituras sobre o tema naquela época, somado ao subjetivismo de ter em sua família um veterano dessa guerra. Maximiano tornou-se professor pela PUC/SP e é doutor em História pela USP. Atualmente leciona História Contemporânea e História das Relações Internacionais em universidades públicas e privadas. É também membro do Núcleo de Estudos de Política, História e Cultura (POLITHICULT) da PUC/SP. Entre as obras do autor podemos citar Onde Estão nossos Heróis?, de 1995, Irmãos de Armas, de 2005,The Brazilian Expeditionary Force, de 2011. Além dessas obras, escreveu vários artigos sobre história militar para periódicos brasileiros, americanos, britânicos e italianos. Nesta resenha, analisaremos a penúltima obra de Maximiano, Barbudos, sujos e fatigados: soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, de 2010.
Barbudos, sujos e fatigados, obra cujo título explicita características físicas comuns em soldados atuantes no front de uma guerra, traz em suas páginas um vasto acervo de fontes históricas,adquiridas durante mais de uma década de estudo. São fotos, entrevistas, trechos de jornais, correspondências, documentos oficiais, livro de memórias, diários, entre outros. Esse material foi consultado em arquivos nacionais e internacionais, em instituições de memória da Segunda Guerra e/ou cedidos cordialmente por ex combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), importantes colaboradores, hoje quase todos já mortos.
Dividido em sete capítulos, o livro possui ainda epílogo, apêndice, sendo demarcado por vários subtítulos e notas, mas com uma linguagem acessível. A obra retrata com detalhes a atuação dos expedicionários brasileiros enviados a Europa para lutar ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, de modo especial, a rotina experienciada pelos combatentes dos Regimentos de Infantaria, seguidos por unidades de reconhecimento e observadores avançados de artilharia. A escolha de soldados de linha de frente é justificada a partir do pressuposto que: “Os homens alocados nessas funções são os que geralmente vivenciaram as situações de maior risco e que foram mais profundamente marcados pelas percepções registradas na guerra.” (p.24).
No decorrer da narrativa são discutidas problemáticas pertinentes a respeito de relações estabelecidas pelos combatentes brasileiros, e situações comuns vividas no dia a dia do conflito, no pré e no pós-guerra. Inicialmente é descrita a formação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em 1943, após a entrada do Brasil no conflito mundial, as dificuldades impostas ao então Ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra e o chefe do Estado-maior do Exército Pedro Aurélio de Góis Monteiro para organizar a tropa, assim como a precariedade do treinamento oferecido aqueles jovens, que quase unanimemente não possuíam qualquer experiência militar.
Em solo italiano os recrutas ficaram admirados frente ao poderio do equipamento militar americano e alemão. Receberam dos nossos “irmãos do norte” instruções sobre armadilhas, o combate e o manejo de armas. De todo modo, a inexperiência logo seria substituída pela forma prática de aprendizagem, o campo de batalha. Nele os febianos foram batizados com sangue. Precisaram criar antipatia, enfrentar o inimigo “tedesco”, como ficou conhecido entre brasileiros e italianos os alemães, o frio europeu, o perigo e a lama das trincheiras, buracos, os Foxholes, onde ficavam vigiando o terreno, as precárias condições de higiene, ferimentos, o cansaço de meses sem dormir direito, a monotonia da solidão e do barulho ininterrupto. Como se não bastasse, tiveram ainda que vencer o próprio inimigo psicológico, o sentimento de culpa, impotência, e o terrível medo da morte. Infelizmente, os expedicionários se viram obrigados a conviver com essa dura realidade e suas vítimas, muitas vezes desamparadas nos campos de cada nova e constante batalha.
Adiante, Maximiano descreve a relação de camaradagem entre militares brasileiros e americanos, traduzida principalmente em vestuário, cigarros e alimentação. Aponta paradoxos do governo Vargas, e defende a ideia que houve uma ajuda mútua entre as duas nações não só no campo político-econômico, mas principalmente no social. Ousa quando afirma a hipótese de que o movimento dos direitos civis dos negros americanos tomou como referência para sua luta o Exército brasileiro e sua não segregação racial, diferente daquela extremamente arraigada no Exército norte-americano. No caso do Brasil, segundo o autor, a participação do país no conflito mundial e o reconhecimento da sociedade dos motivos pelos quais se lutava representaram o fim do Estado Novo.
A obra oferece contribuições ao estudo de uma temática que por longos anos ficou restrita ao interesse de um pequeno grupo de pesquisadores, colecionadores, veteranos e seus familiares.
A participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial parece não estar na memória coletiva do país, quando do contrário, muitas vezes é abordada de modo pejorativo, irônico. Com o objetivo de amenizar esta realidade, César Campiani se empenhou na desmistificação de estereótipos sobre a FEB amplamente difundidos no Brasil, tais como a falsa idéia de que seus membros “viajaram para a Europa a passeio”, eram todos “analfabetos, raquíticos e desdentados”, protagonizavam “lindos romances” com as italianas, e o “jeitinho brasileiro” foi o responsável pelo bom desempenho da tropa durante os combates. Através de documentação e relatos de expedicionários comprovou-se que tais afirmações não possuem fundamento, tabelas e relatórios descrevem o bom estado de saúde dos nossos rapazes, maioria provenientes das cidades do sul e sudeste do país. O expressivo número de correspondências e jornais confeccionados pelos regimentos, a título de ilustração,“…E a Cobra Fumou!”e o“Cruzeiro do Sul”, são provas de que sabiam ler. Quanto aos momentos de lazer, estes eram raríssimos, assim como o contato com o sexo oposto, além disso, as particularidades culturais brasileiros tão enaltecidas pelos ufanistas patriotas, por vezes prejudicaram o combatente que insistia em aplicar métodos de crença popular ao invés de seguir as recomendações da medicina, já bastante avançada no período. Um exemplo claro para tal conjuntura seria o caso do “pé de trincheira”, moléstia comum aos combatentes durante o inverno, e que atingiu severamente a tropa brasileira em comparação a outras (p.176-177).
Outros fatores apresentam-se como positivos, como o excelente trabalho realizado com as variadas fontes, convidando o leitor a todo instante a entender a história por meio de diferentes narradores. O cuidado com a utilização da História oral. As entrevistas apresentadas em fragmentos nos permitindo compreender como era para o soldado o universo da guerra, sem dúvida muito mais cruel e violento do que aquele criado pelo cinema holywoodiano.
Terminado o conflito, veio a difícil readaptação a sociedade civil, e a tentativa de superação dos traumas, os planos assistencialistas nem sempre concedidos pelo governo, a revolta, o silenciar do assunto. Uma situação constrangedora, injusta com milhares de brasileiros que deixaram seus lares em nome da pátria e após cumprir seu papel foram colocados de lado e não tiveram seus sacrifícios minimamente reconhecidos. Assim, reunindo registros diversos, oferecendo uma abordagem que procura atualizar o debate e estabelece uma proposta de linguagem visando um leitor não-especialista, a obra Barbudos, sujos e fatigados torna-se essencial e prazerosa para os estudiosos desse marcante conflito ocorrido o século XX.
Notas
* Esta resenha integra atividades desenvolvidas com o apoio Edital CNPq/CAPES Nº 07/2011.
Referência
MAXIMIANO, César Campiani. Barbudos, sujos e fatigados: soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Grua, 2010.
Marlíbia Raquel de Oliveira – Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET/História/UFS Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente – GET/CNPq/UFS E-mail: [email protected] Orientador: Prof. Drº. Dilton C. Santos Maynard (DHI-UFS).
A Estranha Derrota – BLOCH (CCRH)
Juarez José Tuchinski dos Anjos
BLOCH, Marc. A Estranha Derrota. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. (167p.) Resenha de: ANJOS, Juarez José Tuchinski dos. Pela história e pela França. Cadernos do CRH, Salvador, v.25 n.64 Jan./Apr. 2012.
PELA HISTÓRIA E PELA FRANÇA: o testemunho de Marc Bloch
Ler Marc Bloch está entre os exercícios intelectuais que mais renovam o desejo de ser historiador. Por outro lado, é atividade que propõe constantemente um problema inerente ao ofício: o da responsabilidade que temos com os homens e mulheres do nosso tempo, junto dos quais, somos também atores do que um dia será, para outros historiadores, a história que buscarão compreender. Poucas vezes pensamos nisso. Num momento de crise, Marc Bloch pensou, com extraordinária sobriedade. Sua reflexão sobre a questão – ou antes, seu testemunho, como ele próprio preferiu chamá-lo – está agora disponível para os leitores brasileiros que acolhem a primeira tradução de A Estranha Derrota. Diferentemente da maioria das obras de Bloch, essa, a princípio, não é uma pesquisa historiográfica. Ao menos, no sentido de Os Reis Taumaturgos ou A Sociedade Feudal. Mas, sob outro prisma, toda ela é um escrito de história, na qual o autor é também ator, o historiador é, ao mesmo tempo, testemunha que pensa e interroga o próprio testemunho, por força da prática de um ofício onde aprendeu e ensinou a realizar a “triagem entre o verdadeiro e o falso; a olhar e observar muito” (p. 11). Como todo testemunho, esse teve também um contexto de produção que precisa ser visitado.
Entre julho e setembro de 1940, no começo do Regime de Vichy na França (o período em que o país esteve ocupado pelo exército alemão, com um “governo fantoche” centralizado na cidade de Vichy), Marc Bloch escreveu um testemunho sobre os eventos ocorridos nos meses anteriores: a guerra na França e a rendição de sua nação às tropas de Hitler. Embora ainda não estivesse sob ameaça direta, sentia – e isso se lê nas entrelinhas – que poderia ser uma das vítimas em potencial do poder contra o qual seu escrito era uma forma de reação. O manuscrito foi entregue a amigos seus, um dos quais precisou enterrá-lo no quintal de casa, para que não fosse destruído. Um ano depois de Bloch ter sido fuzilado, o texto foi, literalmente, desenterrado e entregue à sua família. A exemplo da Apologia da História, foi também transformado em livro, embora só tenha alcançado sucesso na década de 1990.
A edição brasileira consta de cinco partes. Além do escrito que lhe dá o título, contém outros três do punho de Bloch: o seu Testamento, redigido em 1941; as possíveis epígrafes por ele escolhidas para o prefácio de A Estranha Derrota e uma crítica em versos intitulada O General que perdeu seu exército. O texto que completa a obra é sobre Marc Bloch. Trata-se dos seus Elogios Militares¸ que pediu para serem lidos em seu funeral.
Sua preocupação, no primeiro capítulo, foi realizar a “Apresentação do Testemunho”, onde oferece elementos para a crítica do seu relato. Creio que tais elementos podem ser resumidos em quatro. Em primeiro lugar, trata-se do testemunho de um historiador que sabe que, em toda experiência histórica, e particularmente nessa em que foi ator, ninguém pode “pretender tudo ter observado ou conhecido. Que cada um diga francamente o que tem a dizer. A verdade nascerá dessas sinceridades convergentes.” (p. 31). Em segundo lugar, é o testemunho de um judeu “se não pela religião, que não pratico, aliás, como nenhuma outra, ao menos por nascimento” (p. 12). E prossegue, no mesmo momento em que o governo de Vichy se comprometia a entregar os judeus que viviam na França: “Só reivindico minha origem num único caso: diante de um antissemita.” (idem). A terceira credencial que o autoriza a testemunhar a derrocada da França está no fato de ser, também ele, francês, apaixonado por seu povo e seu país. “Nasci aqui, bebi na fonte de sua cultura, fiz do seu passado o meu, só respiro bem sob seu céu e tenho me esforçado, por meu lado, para defendê-la o melhor que puder.” (p. 14). Por fim, a credencial que lhe permitiu ser testemunha ocular, estar no front e nos bureaux: ser capitão do exército que, na guerra anterior, lutara por seu país e que, na Segunda, mesmo podendo ser dispensado pela idade, resolveu continuar (idem). Essas são, no seu conjunto, o que ele designa como “as delimitações de minha experiência”, onde, não obstante, pôde “observar no cotidiano os métodos e os homens” (p. 31). E é sobre esses homens e seus métodos que ele se propõe, nas duas partes seguintes, a testemunhar.
O segundo capítulo – O Depoimento de Um Vencido – faz análise incisiva das causas que levaram a França à derrota. De quem é a culpa? Do comando. Mas, como historiador, Marc Bloch delimita o que se esconde sob essa designação abstrata: “os erros de comando foram, fundamentalmente, os de um grupo humano” (p. 34). E esse grupo de homens foi cometendo uma série de erros e equívocos: escolha inadequada da estratégia de defesa (p. 44), má organização dos serviços de informação (p. 48), “pensamento em atraso” (p. 51), desperdício de forças humanas (p. 60), a aliança com a Inglaterra, frustrada pelo sentimento da anglofobia (p. 68), e o desânimo dos chefes (p. 104). Essas causas, no conjunto, têm origem no que ele define como uma grande crise de gerações que levou França a pensar que venceria a Segunda Guerra com as mesmas táticas e técnicas da Primeira, enquanto os alemães viviam a guerra servindo-se dos meios e recursos do próprio tempo. Assim, Bloch “testemunha”, reafirma aquilo que tantas vezes, como historiador, foi alvo de seus combates: o desconhecimento do passado e a incorreta compreensão da História como receita para o presente (contra a qual ele e Lucien Febvre lutaram durante suas trajetórias acadêmicas), impedem de viver e agir adequadamente nesse mesmo presente, “pois a História é, por essência, ciência da mudança. Ela sabe e ensina que dois eventos nunca se repetem de modo absolutamente igual, pois as condições nunca coincidem exatamente.” (p. 110). E arremata afirmando que o historiador “do mesmo modo, sabe muito bem que, se no intervalo de duas guerras seguidas, a estrutura social, as técnicas, a mentalidade se modificaram, as duas guerras jamais serão iguais”. (p. 111) Compreender o passado, assim, poderia ter ajudado os líderes da França a agirem de modo diferente, naquele presente. E terem, quem sabe, mais chances de êxito na guerra que precisaram travar.
O terceiro capítulo – “Exame de Consciência de um Francês” – trata daquilo que Marc Bloch considera “raízes de um mal-entendido grande demais para não ser incluído entre as principais razões do desastre” (p. 116). Ele passa a tratar da apatia do povo francês em face de um inimigo e de uma guerra que, desde o início, esteve fadada ao fracasso, pela falta de engajamento dos franceses, um mal entendido amor à Pátria (p. 129) – alicerçado na crença de que as cidades abertas seriam preservadas, as crianças seriam poupadas, as cidades patrimônio seriam preservadas, a paz seria alcançada se, simplesmente se rendessem – que apressou o fim de uma luta que mal começara. Bloch, que morreria vítima da guerra, não faz apologia da Guerra. Antes, mostra que ela, indesejada, deveria ter sido assumida para evitar o mal maior que a ocupação representou na França, situação em que “a sorte da França deixou de depender dos Franceses. (p. 156). E conclui: “Depois que as armas que não empunhamos com a necessária firmeza caíram de nossas mãos, o futuro de nosso país e de nossa civilização constitui exatamente o que está em jogo nesta luta, na qual não somos, na maioria, mais do que expectadores um pouco humilhados.” (idem).
Bloch lamentava, sobretudo, a humilhação de uma guerra que, agora, parecia-lhe, de fato, uma estranha derrota.
Como todo testemunho histórico, o texto de Bloch precisa ser relativizado no que diz respeito a uma visão bastante marcada pela experiência militar que o leva a ser tão exigente com os outros como, por hábito, o era consigo mesmo. Entretanto, A Estranha Derrota ainda conserva o vigor que motivou sua escrita: denunciar como, muitas vezes, a preguiça, a falta de comprometimento com as realidades nas quais estamos imersos, que produzimos e podemos modificar, podem ser o maior mal para a vida daqueles que amamos. A condição de ator histórico, que Marc Bloch destaca e propõe, é um desafio para todo historiador, que tem, por característica fundamental, se “interessar pela vida” (p. 11).
Recebido para publicação em 14 de julho de 2011
Aceito em 05 de outubro de 2011
Juarez José Tuchinski dos Anjos – Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, na linha de História e Historiografia da Educação. Doutorando em Educação pela mesma universidade. Desenvolve pesquisas em torno das seguintes temáticas: História da Educação, História da Infância e da Criança, História das Práticas de Educação não escolarizadas. [email protected]
Hiroshima – The Word’s Bomb – ROTTER (LH)
ROTTER, Andrew J. Hiroshima – The Word’s Bomb. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008. 371 pp. Resenha de: PINTO, André. Ler História, n.62, p.210-215, 2012.
1 O livro Hiroshima – The world’s bomb de Andrew J. Rotter descreve, sob várias perspetivas, um dos incidentes mais marcantes do século XX. O alcance das bombas atómicas lançadas sobre o Japão deu a conhecer ao mundo uma arma com um poder destrutivo de tal ordem que Estados em guerra se poderiam destruir mutuamente em segundos. A ameaça atómica esteve no centro de um dos conflitos mais longos do século XX – a Guerra Fria – e está, ainda hoje, no centro de vários conflitos entre potências regionais. É então uma obra relevante para a coleção Making of the Modern World, da Oxford University Press. O objetivo desta coleção é juntar narrativas de momentos chave na história do século XX, explorando o seu significado para o desenvolvimento do mundo moderno.
2 Andrew J. Rotter, professor de História na Colgate University e Presidente da Society for Historians of American Foreign Relations, apresenta a tese principal da obra no seu subtítulo. Rotter tenta concretizar dois objetivos: o primeiro é mostrar a relevância da bomba atómica para a construção do mundo moderno – o objetivo da coleção onde está inserido; o segundo é globalizar o advento do lançamento da bomba atómica, tanto na sua produção, como na sua evolução no pós-guerra. No entanto, Rotter inclui mais uma análise globalizante na sua narrativa.
3 Uma tese secundária é a do declínio da moral dos bombardeamentos feitos pelos vários países envolvidos na II Guerra Mundial, culminando no lançamento da bomba atómica pelos Estados Unidos. Rotter descreve como, de ambos os lados da contenda, a ofensiva superou a filosofia de ataques a alvos militares e a moral associada ao ataque a populações civis foi esquecida, suplantada por objetivos quantitativos e pela falta de exatidão das armas utilizadas. Esta tese, tal como a anterior, é bastante clara na narrativa de Rotter.
4 No entanto existem mais dois pontos de interesse na construção da obra. O primeiro ponto de interesse é o relevo dado à assumption theory, segundo a qual a bomba, a partir do momento em que a decisão do seu fabrico foi tomada, seria sempre utilizada. Rotter não subvaloriza nenhuma das razões da bibliografia tradicional – militares, diplomáticas e culturais – no entanto, dá enfoque a uma razão burocrática, mostrando como o decisor último, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, foi confrontado com uma decisão de Roosevelt à qual vai apenas dar continuidade. O segundo ponto pode ser representado pela dicotomia entre «guerra justa» e «justiça na guerra». Esta dicotomia tem interesse na narrativa, pois Rotter coloca-a na experiência do homem da ciência, traçando o caminho da ação científica desde a sua tradição universalista pré-guerra, até ao serviço do estado-nação característico da II Guerra Mundial. Este quarto ponto conclui a divisão da obra em quatro vetores analíticos, horizontais a toda a obra.
5 Na narrativa podem ser identificados os pontos de vista militar, diplomático, político, científico, tecnológico e cultural. Como qualquer obra abrangente, este livro não satisfará por completo o especialista de cada um dos campos, mas sim um público geral que se interesse pela matéria, objetivo da coleção onde a obra é incluída. A narrativa está organizada em oito capítulos, cada um composto por vários subcapítulos.
6 No primeiro capítulo o autor descreve a «república científica» transnacional do pré-guerra e desenvolve o tema da ética científica associada ao possível poder destruidor dos avanços científicos. Para ilustrar este desenvolvimento, Rotter recorre ao exemplo da utilização do gás como arma na I Guerra Mundial, fazendo a ponte com a moral militar na utilização de armas insidiosas, traçando um paralelo entre o gás e a radiação.
7 O segundo capítulo é dedicado ao Reino Unido. Aqui é apresentado o laboratório de Cavendish como instituição-mãe da bomba atómica. Sob a orientação de Rutherford, cientistas de vários países desenvolvem a parte teórica que permitirá a construção da bomba. Rotter fomenta a globalidade da origem científica da bomba descrevendo as nacionalidades dos vários intervenientes e apresenta as motivações científicas por detrás do trabalho desenvolvido – o poder bélico, o poder dissuasor e o avanço científico em si, com todas as utilizações possíveis.
8 No terceiro capítulo, dedicado à Alemanha e ao Japão, Rotter define os pontos chave no sucesso da construção da bomba. O acesso à matéria-prima – urânio e rádio –, a liberdade de produção científica interdisciplinar e a coordenação dos vários projetos multidisciplinares. Descrevendo os falhanços da Alemanha e Japão nestes fatores-chave, Rotter deixa a narrativa aberta para a explicação dos fatores de sucesso na produção da bomba pelos Estados Unidos.
9 Os quarto e quinto capítulo dedicam-se ao desenvolvimento da bomba pelos Estados Unidos e à sua utilização. O autor identifica a origem britânica do relatório MAUD – onde, pela primeira vez, é apresentada a viabilidade da construção da bomba atómica e elencadas as condições necessárias ao seu fabrico. No quinto capítulo, Rotter utiliza os pontos de vista militar, político e diplomático para descrever o contexto e promover a discussão sobre lançamento da bomba. Um dos pontos principais da obra está na descrição de três pontos de vista de decisores relevantes, dois presidentes americanos e o secretário de Guerra da altura. São as análises de Truman – logo após o lançamento da bomba indicando como motivação a vingança pelo ataque a Pearl Harbour –, Eisenhower – perante o contexto da época, considerava não ser necessário o bombardeamento – e Stimson – indicando, como motivos para o uso da bomba, a razão militar e a poupança de vidas de ambos os lados, considerando a alternativa de uma invasão terrestre. A estas análises, Rotter acrescenta vários fatores, tais como a preocupação em evitar a intervenção russa no Pacífico, a vontade expressa da sociedade norte-americana e a razão burocrática. Um outro fator relevante nestes capítulos é a descrição do bombardeamento incendiário de Tóquio que, sendo prévio ao lançamento de bomba atómica, é equivalente no grau de destruição descrito na obra.
10 O sexto capítulo descreve o contexto militar japonês mostrando, por um lado, a fragilidade da posição japonesa no Pacífico e a existência de uma elite que procurava a rendição condicionada e, por outro, a irredutibilidade dos militares japoneses e o poder que exerciam sobre o Imperador japonês.
11 O sétimo capítulo debruça-se sobre a União Soviética, num ponto de vista pós Hiroshima. Rotter analisa o poderio diplomático desta arma, desenhando-se o conflito latente das próximas quatro décadas e o papel que as armas de destruição maciça representarão, tanto na alimentação do conflito, como elemento dissuasor de concretização da guerra. Ao mesmo tempo que descreve o processo de decisão russo e as suas componentes, Rotter abre caminho para o oitavo capítulo, onde descreve os esforços de Reino Unido, França, Israel, África do Sul, China, e Índia para obter a bomba atómica.
12 Rotter apresenta uma narrativa multidisciplinar para um público-alvo generalista, ou uma narrativa bem construída para o início de um curso de História sobre o tema. Do ponto de vista científico, não perde tempo explicando o mecanismos de reações nucleares. No entanto, os conceitos utilizados permitem ao público-alvo procurar mais informação e ao autor complementar a narrativa. Dos pontos de vista militar, político e diplomático, recorre tanto a fontes primárias como secundárias, de uma forma expositiva e crítica, o que faz com parcimónia, enriquecendo a sua narrativa. Do ponto de vista cultural, não estudando a fundo os efeitos do bombardeamento na psique japonesa, não deixa de exemplificar os efeitos aos níveis de produção cultural e comportamental.
13 Pode resumir-se a relevância da obra na referência ao doomsday clock. Este mecanismo de monitorização, divulgado pela publicação de Chicago Bulletim of the Atomic Scientists, em 1947, apresenta o perigo de um desastre mundial como inversamente proporcional aos minutos em falta para a meia-noite. Observando os valores que o relógio já registou, durante a guerra-fria o valor esteve entre 2 e 12 minutos, registando o valor máximo de 17 minutos no início dos anos 90. Em 2012, o relógio apresenta 5 minutos para a meia-noite, sendo este valor justificado pelo perigo da queda de armas atómicas nas mãos de organizações terroristas transnacionais, pelo conflito regional entre as Coreias e pela facilidade das potências nucleares em provocar destruição maciça com o toque num botão.
14 Rotter distribui a narrativa ao longo de quatro linhas de análise. Três com um objetivo definido – mundialização do processo de produção atómica; queda generalizada da moralidade associada ao bombardeamento de civis no período anterior ao lançamento da bomba; e descrição das razões que levam ao lançamento da bomba – e uma linha analítica aberta – a moralidade científica na dicotomia entre «guerra justa» e «justiça na guerra». Sendo Rotter norte-americano é muito provável que o leitor identifique, nos dois primeiros eixos de análise, uma manobra para incluir o resto do mundo numa ação unilateral norte-americana. Aceitando essa intenção, o leitor notará também que o autor é claro na responsabilização norte-americana, «Americans, of course, did finally imagine and build and use the atomic bomb. There is no point denying that fact, no point in shifting responsibility for these decisions onto anyone else» (p. 95).
15 Na sua primeira linha de análise, Rotter apresenta três argumentos principais: as várias nacionalidades dos cientistas, a corrida das nações envolvidas na II Guerra Mundial para a produção da bomba e a disseminação do poder atómico do pós-guerra. Enquanto os dois últimos são argumentos fortes e bem construídos, a inclusão do avanço científico internacional contribui mais para o enfoque no Estado individual do que na comunidade mundial. Isto porque tanto os meios necessários e a construção da multidisciplinariedade, como a decisão da sua utilização, não são atributos da comunidade científica. Este argumento só poderá visto em função do dilema ético do cientista que constrói a bomba e não como fator globalizante da produção da bomba atómica.
16 Na segunda linha de análise, os argumentos mais fortes são as várias descrições da violência sobre civis dos bombardeamentos de ambas as partes até à bomba atómica. Rotter é claro ao afirmar que «The atomic bombs provided an exclamation point at the end of a continuous narrative of atrocity» (p. 147). O efeito da radiação é discutido na obra, tendo Rotter a consciência de que é o ponto fraco desta linha argumentativa, pois nenhuma arma anteriormente utilizada se lhe assemelha nesse aspeto. Se, por um lado, recorre a fontes primárias, afirmando que o efeito seria desconhecido dos decisores militares e da comunidade científica, é também perentório ao duvidar que fosse de facto assim. Para este leitor, é muito difícil encaixar a bomba atómica no contínuo escalar de violência da II Guerra Mundial, tanto pelo seu poder destruidor duradouro, como pelo efeito que teve, e continua a ter, em todos os seres humanos de todas as nações. napalm e a bomba atómica pertencem a duas categorias muito diferentes de armamento.
17 Na sua terceira linha de análise, Rotter descreve em pormenor as razões militares, diplomáticas e culturais apresentadas pela historiografia para o lançamento da bomba. Rotter dá então relevo à razão burocrática: «What mattered more was the assumption, inherited by Truman from Roosevelt and never fundamentally questioned after 1942, that the atomic bomb was a weapon of war, built, at considerable expense, to be used against a fanatical Axis enemy» (p. 170). Entenda-se este relevo como corajoso pela parte Rotter. Ao fazê-lo, indica que no processo de decisão do governo americano, a burocracia, foi tão relevante que a produção de uma arma pode tornar-se razão da sua própria utilização, por si só, ignorando-se os efeitos da mesma. Rotter é inteligente na junção de todos estes fatores, não eliminando ou criticando nenhum, já que todos explicam, de alguma forma, a utilização da bomba atómica.
18 A quarta linha argumentativa pode ser resumida numa única questão, já repetida em cursos de ética científica: se um cientista, no lugar de Oppenheimer, aceitaria construir a bomba atómica? Esta questão, que é a chave do dilema apresentado por Rotter, encontra na narrativa uma resposta parcial. Se, por um lado, Rotter se dedica a analisar a equipa de cientistas que participou na produção da bomba, por outro, deixa de fora os que foram convidados e não aceitaram. É compreensível que o faça, pois a bibliografia não é clara e, apesar de haver referências a convites a Einstein e Bohr, a participação destes foi limitada, ambivalente e pouco clara. Einstein é o melhor exemplo. Apesar de escrever uma carta a Roosevelt para que a bomba seja produzida e de ter uma participação de dois dias no projeto Manhattan, sempre condenou a utilização da bomba, escrevendo a Niels Bohr em 1944: «when the war is over, then there will be in all countries a pursuit of secret war preparations with technological means which will lead inevitably to preventative wars and to destruction even more terrible than the present destruction of life»1.
19 A questão moral na evolução científica é resolvida facilmente pelas definições de ser humano e pela natureza que nos rodeia. A natureza dos avanços científicos é, na maioria dos casos, benévola. Os avanços que permitiram a bomba atómica destinavam-se, e são hoje usados, na medicina, produção de energia e telecomunicações. O fator que provoca desequilíbrio é a apropriação pelos Estados, e hoje pelas empresas, dos avanços científicos. É o ponto em que o avanço científico deixa de ser uma resposta e passa a ter impacto na vida humana. Neste ponto, a moralidade do homem de ciência é tão relevante como a de qualquer outro homem.
20 Sabendo o que se sabia em 1941, eu, que sou engenheiro químico, teria aceite produzir a bomba. Caso a questão fosse posta após o lançamento da bomba, não teria aceite. É esta a natureza e o resultado de um dos principais acontecimentos do século XX, da qual a obra de Rotter é uma excelente narrativa.
Notas
1 Clark, Ronald W. Einstein: The life and times (1974), Nova Iorque, Avon Books, p. 698.
André Pinto – Engenheiro químico. Doutorando em Ciência Política no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. [email protected]
O Brasil e a Segunda Guerra Mundial | Francisco Carlos Teixeira da Silva, Karl Schuster, Ricardo Cabral e Jorge Ferrer
O livro O Brasil e a Segunda Guerra Mundial aborda, a partir da comparação, as novas pesquisas sobre a participação do país no conflito. Com mais de 30 artigos, o trabalho é dividido em 8 partes, com o objetivo de comportar os diferentes objetos de estudo, das relações internacionais até o cotidiano da sociedade brasileira na guerra.
A primeira parte do livro possui debates teóricos fundantes para a compreensão não somente do conflito mundial, mas dos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais que nortearam a participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial, seja através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) ou a partir do cotidiano de jornais das cidades brasileiras. Esta parte do livro também analisa a historiografia brasileira sobre a 2ª Guerra, procurando avaliar suas diferentes perspectivas ao longo do século XX. Há, igualmente, um profundo debate sobre a economia brasileira e mundial no período. Leia Mais
A Grande Tentação. Os Planos de Franco para Invadir Portugal – AGUDO (LH)
AGUDO, Manuel Ros. A Grande Tentação. Os Planos de Franco para Invadir Portugal. Alfragide: Casa das Letras, 2009. Resenha de: MARCOS, Daniel. Ler História, n.58, p. 228-231, 2010.
1 Um dos livros que mais fez vibrar os escaparates das livrarias portuguesas durante o ano de 2009 foi, sem dúvida, o mais recente livro do historiador espanhol Manuel Ros Agudo, intitulado A Grande Tentação. Os Planos de Franco para invadir Portugal. Talvez por uma escolha da linha editorial, esta obra foi dada à estampa com um subtítulo que pode induzir o leitor a pensar tratar-se de um livro unicamente sobre um conjunto de planos imperialistas levados a cabo por Francisco Franco, líder do regime autoritário espanhol a partir de 1936, para tomar Portugal. Tal não é verdade. Como mostra a sub-capa da edição portuguesa, A Grande Tentação aborda o tema mais geral de Franco, o Império Colonial e o projecto de intervenção espanhola na Segunda Guerra Mundial, em que a invasão do território continental português era, somente, um pequeno passo estratégico para alcançar objectivos mais importantes para o regime espanhol: Gibraltar e a expansão territorial de Espanha no Norte de África (p. 224-225). Este é o primeiro e, praticamente único, reparo que se pode fazer à edição desta obra, já que a tradução da mesma parece de grande qualidade.
2 Mas mais importante do que a questão do título do livro trata-se do tema da obra em si. Como o próprio autor afirma logo no prólogo, o seu objectivo central é contribuir para o desenvolvimento de uma nova historiografia espanhola, pondo-se à margem das tradicionais visões polémicas sobre o regime franquista que, na opinião do historiador, procuram usar a História como «arma política para esmagar o opositor» (p. 11). Ros Agudo nem sempre consegue este objectivo, já que ao longo do texto usa recorrentemente expressões qualificativas que acabam por reflectir uma qualquer tomada de posição sobre o assunto. Por exemplo, ao qualificar de «errónea» a crença do Caudilho de que a guerra seria curta e vitoriosa para o Eixo (p. 110), o autor não está a ter em conta que, na realidade, poucos eram os líderes políticos daquela época que não pensavam o mesmo. Mais adiante, ao classificar a propaganda colonialista da Junta de Defesa Nacional espanhola como «disparates linguísticos»
(p. 117), Ros Agudo não está a contribuir para a explicação do que foi a retórica imperialista europeia do período de entre as guerras e que só mudaria com a entrada em cena dos Estados Unidos na política mundial.
3 Quem estiver a seguir esta recensão pode estar inclinado a duvidar da qualidade deste livro. Desta forma, há que fazer um alerta importante. A Grande Tentação é, sem dúvida um importantíssimo trabalho para quem se interessa pela história colonial em geral e pela história espanhola em particular. Por duas grandes razões: em primeiro lugar, porque se debruça sobre um dos menos trabalhados impérios coloniais europeus do século XIX e XX, isto é, o império espanhol em África. Na verdade, a historiografia internacional pouca relevância dá ao esforço colonial desenvolvido pelos regimes espanhóis desde os finais do século XIX. Em especial, se nos centrarmos nas questões da descolonização, um tema tão em voga na historiografia actual, são praticamente inexistentes as análises feitas ao colonialismo espanhol. Este, apesar de breve e tardio, não deixou de marcar a história do século XX e com consequências que ainda hoje se fazem repercutir na cena internacional, como por exemplo na questão do Sara Ocidental. Em segundo lugar, esta obra de Manuel Ros Agudo aborda de forma relevante a história do franquismo e todas as tentativas expansionistas que este regime procurou delinear no início da II Guerra Mundial. Desta forma, torna-se num livro fundamental para compreendermos o regime autoritário espanhol à luz da história dos regimes totalitários e autoritários de direita que surgiram na Europa após a I Guerra Mundial.
4 Ao longo do texto, o autor leva-nos a compreender de que forma as aspirações territoriais espanholas modelaram a política externa de Espanha durante o conflito de 1939 a 1945. Torna-se claro que o ditador espanhol procurou, por via diplomática – sem descurar o recurso ao uso da força – aumentar o espólio imperial da Espanha no Norte de África, incorporando o Marrocos francês no protectorado espanhol, expandindo a sua jurisdição sobre a região em torno da cidade de Orão, na Argélia e aumentando a dimensão da Guiné espanhola. Estas exigências territoriais procuravam rectificar, de acordo com o general Franco e com a cúpula africanista do seu regime, o erro histórico que tinha sido a constante usurpação feita pela França (com o apoio da potência marítima, isto é, da Inglaterra) das aspirações territoriais de Espanha no Norte de África. Como demonstra o autor na primeira parte de A Grande Tentação, desde a Conferência de Algeciras em 1906 até ao estabelecimento do Marrocos espanhol no Tratado de Fez em 1912, os africanistas espanhóis sentiram estes acordos diplomáticos como um vexame para os interesses de Espanha. A acrescentar a este sentimento, em 1923 deu-se a criação do enclave internacional em Tânger, dentro do protectorado espanhol de Marrocos, numa acção que beneficiava mais os interesses do Reino Unido e da França e que demonstrava que as principais potências coloniais não queriam Tânger sob controlo da Espanha. De resto, desde 1921, a monarquia espanhola demonstrava dificuldades em controlar as rebeliões nacionalistas – que custaram a vida a cerca de 8 mil espanhóis – lideradas por Abd-el-Krim. O prestígio de Espanha como potência protectora decaía e contribuiu para que Primo da Rivera não tenha conseguido ganhar a sua autoridade sobre aquela área.
5 Assim, apesar da governação internacional, a França manteve uma hegemonia sobre a cidade portuária de Tânger. Esta situação fazia com que os apoiantes do império, em Espanha, nomeadamente algumas facções do exército, vissem o Protectorado internacional como «um espaço estranho, como uma espinha sob administração internacional encravada no meio do Protectorado espanhol». Era um enclave que «não só comprometia a homogeneidade de conjunto da zona espanhola, como podia colocar em perigo a sua própria segurança e defesa». Era uma verdadeira «humilhação» das potências internacionais sob a Espanha e que contribuiu decisivamente para atear os desejos africanistas da elite política em torno de Franco (p. 37). Dividida entre irredentistas – os que desejavam, apenas, a rectificação das fronteiras espanholas em Marrocos, argumentando o direito espanhol à colonização – e imperialistas – com o início da II Guerra e a derrota da França, defendiam a anexação do Marrocos francês, o departamento de Orão na Argélia e uma ampliação substancial da Guiné espanhola – ambas as opções se traduziram numa acção diplomática seguida pelo governo de Franco: conversações diplomáticas com Londres e Vichy, a propósito das exigências mínimas ou irredentistas, e negociação com Berlim das exigências máximas ou imperialistas. Como demonstra Manuel Ros Agudo, se a primeira exigia somente que Franco permanecesse neutral, a segunda obrigava-o a entrar no conflito, do lado das forças do Eixo (182-183).
6 Do ponto de vista militar, as Forças Armadas espanholas não desdenharam a segunda solução. Com Adolf Hitler a desejar a entrada de Espanha no conflito para, em conjunto com a Alemanha, invadirem Gibraltar e controlarem a passagem do Atlântico para o Mediterrâneo, o alto comando militar espanhol desenhou pormenorizadamente, com a autorização do Caudilho, um conjunto de operações militares de grande envergadura contra o rochedo. Fica, assim, demonstrado que Franco estava verdadeiramente decidido a entrar na guerra como terceiro parceiro do Eixo, sendo que apenas a falta de garantias de Hitler em relação à cedência à Espanha dos territórios franceses do Norte de África mantiveram o governo espanhol fora da II Guerra Mundial.
7 Por último, não podemos deixar de fazer uma referência mais detalhada sobre as referências a Portugal ao longo do livro. Ros Agudo demonstra que Portugal pouco interessava para os planos de Franco. A invasão fazia-se unicamente para evitar que Portugal fosse usado como uma cabeça-de-ponte da Inglaterra para invadir a Península, após o ataque das forças do Eixo a Gibraltar. Os próprios planos militares espanhóis afirmavam isso: «A conquista de Portugal não deve ser considerada uma acção isolada, mas [por estar] intimamente ligada com a Inglaterra, representa um aspecto da luta contra a última nação» (p. 225). Desta forma, pouco importava ao Caudilho o Pacto de Amizade e Não Agressão luso-espanhol de 17 de Março de 1939 e o protocolo adicional de 30 de Julho de 1940. Na nossa opinião, a análise da questão portuguesa necessitava de mais profundidade. Independentemente do pouco interesse que Franco dava a Portugal, a utilização de fontes e bibliografia portuguesa contribuía para o enriquecimento da obra e para uma melhor contextualização da posição de Espanha no sistema internacional. Nomeadamente no período em análise na obra de Ros Agudo, ao longo dos anos 30 e 40 do século XX, Portugal desenvolveu uma intensa actividade diplomática, por vezes pouco visível, com vista a isolar os sectores intervencionistas e germanófilos da Falange e do Exército, que mal conseguiam disfarçar os desígnios anexionistas relativamente a Portugal. Na delicada conjuntura do Verão de 1940, a assinatura do Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade e Não Agressão em 29 de Julho de 1949, não pode ser, portanto, completamente desvalorizado. Em parte, a par da recusa de Hitler em garantir o aumento do território colonial no Norte de África, a acção do governo português muito contribuiu para que Franco pusesse de lado os seus desejos de intervenção e optasse pela neutralidade na II Guerra Mundial.
Daniel Marcos – CEHC-ISCTE-IUL
Um médico brasileiro no front: diário de Massaki Udihara na Segunda Guerra Mundial | Massaki Udihara
É inverno. Um jovem de óculos, sentado em frente a uma lareira, escreve. Fora, cai neve nas montanhas da Itália. Esta imagem pareceria romântica, não fossem as condições em que o jovem de óculos escreve. Ele é Massaki Udihara, primeiro-tenente das Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, durante a campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial. Durante toda a sua participação na guerra, o jovem escreveu um diário, que começa no dia 29 de junho de 1944 e vai até o dia de seu retorno a São Paulo, 16 de junho de 1945.
O que é um diário senão as anotações mais íntimas daquele que escreve? É na realidade um monólogo consigo mesmo, uma forma de expressão daquilo que está ao seu redor, são observações, impressões, julgamentos que têm o centro no autor, sem a preocupação de ser avaliados por leitores ou críticos. O diário é uma forma de extravasar aquilo que se tem dentro de si através de palavras. Leia Mais
O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra | Antônio Pedro Tota || Guerra sem guerra: a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial | Roney Cytrynowicz
Os trabalhos de Roney Cytrynowicz e Antônio Pedro Tota têm em comum o fato de analisarem a história brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, suas abordagens e enfoques são bastante diversos, refletindo também preocupações temáticas e conceituais e, naturalmente, escolha de fontes e bibliografia.
O livro de Antônio Tota aborda um tema fascinante e, ao mesmo tempo, pouco estudado pelos historiadores nacionais: a ofensiva cultural realizada pelo governo americano no Brasil, dentro do espírito da ‘política da boa vizinhança’. São poucos os trabalhos sobre o tema — a começar pelo já clássico livro de Gerson Moura Tio Sam chega ao Brasil (1984). Este fato torna-se ainda mais evidente quando comparamos a produção nacional com o grande número de trabalhos americanos sobre o tema: basta conferirmos a própria bibliografia utilizada por Tota. O autor, além de trabalhar com uma vasta bibliografia norte-americana sobre seu tema, utilizou fontes textuais, sonoras e iconográficas, tiradas de arquivos norte-americanos e brasileiros. Suas fontes são, principalmente, governamentais, o que naturalmente reflete o recorte de seu objeto: a ação do Office of Coordinatior of Inter-American Affairs (OCIIA) no Brasil, com o objetivo de “seduzir” os brasileiros para uma aliança com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da inexistência de referências explícitas, a linguagem e a estrutura do livro nos fazem acreditar que se trata originalmente de uma tese de doutoramento. Leia Mais







