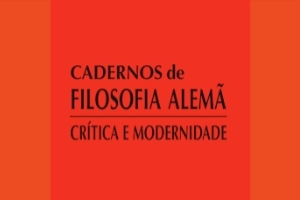Posts com a Tag ‘Cadernos de Filosofia Alemã (CFA)’
Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica – FRASER; JAEGGI (C-FA)
FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica. São Paulo: Boitempo, 2020. Resenha de: FILHO, José Ivan Rodrigues de Sousa. “A turbulência que se aprofunda ao nosso redor”. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 25 n.1 Jan./Jun, 2020.
“A turbulência que se aprofunda ao nosso redor” *.
Capitalismo em debate é, acima de tudo, uma obra filosófica sintomática do tempo presente. E o é porque o capitalismo se encontra em discussão na esfera pública, em especial nos Estados Unidos, onde o livro, há dois anos, viera a lume e onde Bernie Sanders, neste ano, conduziu uma pré-candidatura presidencial declaradamente socialista que angariou intenso apoio e provocou acalorado debate. Essa recente problematização política do capitalismo tem lugar sob uma constelação de graves desenvolvimentos econômicos, políticos e culturais que remontam ao ocaso dos anos 2000: a crise financeira mundial de 2007-2009, o imediato resgate estatal de graúdos bancos privados à beira da falência, o consequente agravamento da crise das finanças públicas, a política de austeridade fiscal então renovadamente receitada e imposta, o duradouro refreamento do crescimento econômico, os protestos massivos que proliferaram por todo o mundo em indignada reação a esse plexo de crises econômicas, os movimentos políticos regressivos que também emergiram mundo afora, as políticas públicas econômicas e culturais promovidas por novos governos de extrema-direita hiper-reacionária que se instalaram com o apoio de tais movimentos e que tanto mantêm como aprofundam a mesma diretriz neoliberal de distribuição regressiva da riqueza social pela qual se nortearam prévios governos de centrodireita e centro-esquerda, além de intensificarem o escangalhamento do Estado de bem-estar social, denegarem as profundas mudanças socioeconômicas necessárias para evitarmos ou enfrentarmos a iminente crise ecológica global, insuflarem o etnonacionalismo e o racismo, reforçarem o machismo e a homofobia e minarem o Estado de direito e a democracia liberal. É sob a opaca radiação dessa constelação capitalista que se gesta o livro de Nancy Fraser e Rahel Jaeggi, e é a tal constelação que ele responde diretamente, sintomatizando o nosso tempo em três sentidos: ele reflete (sobre) um complexo temático discutido publicamente, um complexo de crises distintas e interligadas de alcance global e um complexo heterogêneo de movimentos e lutas sociais.
Vertida para o nosso português por Nathalie Bressiani, filósofa notoriamente versada nas teorias críticas das duas autoras, a obra se torna muito mais acessível no Brasil, onde tanto Fraser como Jaeggi, embora sejam filósofas preeminentes com diversas obras de imenso peso teórico, ainda são pouco traduzidas: justamente as mais importantes obras de ambas (por exemplo: de Fraser, Fortunes of feminism: from state-managed capitalismo neoliberal crisis ; de Jaeggi, Kritik von Lebensformen ) ainda não o foram. Também nesse sentido, Capitalismo em debate é uma novidade muitíssimo bem-vinda: pela precisão e pela consistência teórica do trabalho de tradução e por difundir entre nós o que mais recentemente teorizaram a filósofa estadunidense e a suíça.
É na tentativa de fazer jus à obra (bem como à sua tradução brasileira) que, a seguir, se elabora um panorama interpretativo dela, e se esboçam algumas observações críticas gerais.
À guisa de conversa
O que mais dá nas vistas quando se abre, pela primeira vez, o livro de Fraser e Jaeggi e até provoca um leve estranhamento durante os primeiros progressos da leitura é a peculiar forma discursiva em que o livro se apresenta. Trata-se mesmo de uma “conversa”, conforme advertido pelas autoras já no subtítulo do livro. Mas se trata de uma conversa apenas entre aspas, pois o debate entre elas não se configura, de fato, como uma conversa propriamente dita: falada e espontânea, informal e cotidiana.
Trata-se, antes, de uma conversa escrita (não só transcrita): e escrita com a intenção de constituir um livro, não um livro qualquer, mas um livro plenamente teórico, um livro de teorização crítica da sociedade capitalista. Uma conversa, portanto, minuciosamente organizada em quatro aspectos básicos. Em primeiro lugar, ela põe em foco uma temática ampla e complexa, mas bem demarcada e sistematicamente abordada, abarcando o capitalismo, a própria teorização crítica do capitalismo e, ademais, a práxis política anticapitalista. Em segundo lugar, o livro se desenrola num nível de profundidade teórica deliberadamente restringido, ainda que elevado, pois, mesmo que pretenda ser plenamente teórico, não pretende esgotar a teorização que empreende, nem aprofundá-la tanto que se torne acessível exclusivamente a acadêmicos familiarizados com esse tipo de teorização, inacessível, porém, para grande parte do público potencial. Em terceiro lugar, a “conversa” se caracteriza por uma intencional e constante moderação do seu nível de polemização, considerando que as duas autoras ostentam e mantêm entre si muitas divergências fortes, inclusive divergências de saída (dentre as quais se destaca a divergência quanto a conceber o capitalismo como ordem social institucionalizada, como defende Fraser, ou como forma de vida, como defende Jaeggi 1 ), mas não querem travar a “conversa”, nem a espichar exageradamente, nem a tornar árida com a multiplicação de ressalvas, objeções e encruzilhadas teóricas. E, em quarto lugar, o livro apresenta uma exposição cujo desenvolvimento é articulado em quatro grandes blocos, ou capítulos, bem delimitados e estreitamente justapostos na seguinte sequência: conceituação – historicização – crítica teórica – contestação política (sempre do capitalismo).
Intentando constituir um livro teórico e organizadíssima nos seus aspectos básicos, a “conversa” se faz, então, altamente formal e inteiramente acadêmica.
Por isso, o seu público potencial é formado, sobretudo, por acadêmicos, intelectuais e outros leitores excepcionais, mas não só pelos que já têm alguma intimidade com a teorização crítica do capitalismo. Não se trata, em todo caso, de obra dirigida prioritariamente a “leigos”: inclusive nesse aspecto, a ligação da teoria com a práxis não é, aqui, concebida como imediata; há certo hiato entre o terceiro e o quarto capítulo, entre a crítica teórica e a contestação política, hiato que não é intransponível, mas não pode ser suprimido nem ignorado, de modo que os destinatários preferenciais de Capitalismo em debate são os que transitam em palcos e plateias de debates teóricos.
Retomada de produções acadêmicas individuais anteriores
A maior parte da obra reapresenta, de maneira resumida, mas consideravelmente detalhada, os principais conceitos, explicações, teses e pressuposições de ambas as produções acadêmicas. Assim, quem ainda não travou contato com o que Fraser e Jaeggi, cada uma individualmente, já haviam publicado relativamente à crítica do capitalismo encontra, em Capitalismo em debate, um acesso adequado, amplo e instigante à particular crítica do capitalismo de cada uma das autoras.
No entanto, a obra não se circunscreve a uma reapresentação do já apresentado por cada uma delas alhures. Capitalismo em debate mescla a essa reapresentação, aqui e acolá e até em abundância, novos aprofundamentos, desdobramentos e esclarecimentos teóricos. Justamente a forma de “conversa” que tem a obra possibilita e convida a isso: cada uma das duas interlocutoras, recorrentemente, pressiona a outra a mais bem elaborar alguns aspectos da sua própria crítica do capitalismo, o que conduz, então, a alguns ganhos teóricos de reflexividade, abrangência e clareza.2 Há, ainda, inovações teóricas na obra em relação ao que as autoras haviam teorizado até então 3 Assim, proporciona-se, a quem já havia travado contato com a crítica do capitalismo de Fraser e/ou com a de Jaeggi, a possibilidade de retomar as suas leituras anteriores, levantar novamente questões que essas leituras lhe suscitaram e colocá-las perante a nova obra, tentando encontrar na última respostas para as primeiras, ainda que, nesse movimento, possa, com muita probabilidade, confrontarse com uma segunda onda de questões.
Outra vantagem da forma de “conversa” da obra é que se produz permanentemente a possibilidade de diversas comparações entre as duas críticas. Podem-se comparar os conceitos-chave empregados por cada uma das autoras. Podem-se comparar as explicações fundamentais que cada uma delas dá sobre: ontologia social do capitalismo; desenvolvimento temporal e diversificação espacial do capitalismo; distinção e articulação das dimensões específicas de uma crítica abrangente do capitalismo; análise das lutas sociais anticapitalistas hodiernas. Podem-se comparar, ainda, as teses centrais que cada uma delas articula quando se põem a explorar os terrenos da teoria social, da economia política, da metacrítica social e da análise empírica. E se podem comparar as mais importantes pressuposições subjacentes a cada uma das duas críticas do capitalismo, pressuposições metodicamente trazidas à tona e bastante discutidas em Capitalismo em debate. Além da diversidade do que pode ser submetido à comparação, também são diversos os critérios que podem ser utilizados para comparar: pode-se comparar à luz, por exemplo, dos critérios de fecundidade teórica, capacidade elucidativa, agudeza crítica e conectividade com a práxis política atual. Aliás, as próprias autoras usam, com frequência, os mencionados critérios para exigirem, uma da outra, respostas satisfatórias a várias questões abordadas no livro.
Retomando as suas próprias produções acadêmicas, Fraser e Jaeggi procedem, além do mais, a uma relativa sistematização das suas críticas do capitalismo, as quais se encontravam, até então, dispersas numa vasta lista de artigos e livros. E isso diz respeito principalmente a Fraser, que tem uma carreira acadêmica mais extensa e mais numerosas publicações que Jaeggi e, além disso, está mergulhada, já há uns bons dez anos, num processo de elaboração de uma nova crítica do capitalismo, publicando os seus resultados parciais de modo intermitente e numa prolífica sequência cumulativa, o que lhes impõe o aspecto de partes formadoras de um complexo mosaico ainda inconcluso. Trata-se de uma crítica do capitalismo nova, inclusive, em relação àquela que a mesma Fraser, até então, elaborara 4 e que não era, como a de agora, centrada: (a) nas divisões institucionais axiais que estruturam a sociedade capitalista em diversas esferas funcional, ontológica e normativamente específicas, mas interdependentes; (b) nas várias tendências de crise do capitalismo produzidas pelas incompatibilidades fundamentais e irredutíveis da lógica própria da economia capitalista, de um lado, com as lógicas próprias do poder público, da reprodução social e da natureza não humana, de outro; (c) nas lutas sociais travadas nas fronteiras entre a economia capitalista e os seus imprescindíveis planos de fundo político, sociorreprodutivo e natural. Esse ambicioso projeto teórico de Fraser, no entanto, não havia sido, até agora, realizado de modo concentrado (num grande livro) e rigorosamente sistemático, mas numa comprida fieira de artigos distribuídos entre diferentes revistas e livros, 5 de maneira que, em razão da própria forma artigo, ela não havia conseguido, até agora, conferir à sua nova crítica do capitalismo uma exposição completa e unificada. Apesar do seu currículo acadêmico menos volumoso, também Jaeggi se caracteriza pela mesma dispersão da sua interlocutora – uma dispersão, vale notar, nem errática, nem inconsciente, nem insuscetível à síntese. De fato, também Jaeggi elaborou a sua crítica do capitalismo de modo fragmentário. Num primeiro livro, ela elaborou o seu critério ético para a crítica do capitalismo, a saber, a alienação. Depois, num artigo, elaborou o arcabouço conceitual e explicativo da sua crítica da ideologia. Noutro artigo, veio a elaborar a sua metacrítica, que propõe uma teorização do capitalismo que indissoluvelmente entremeie análise e crítica e seja, ao mesmo tempo, funcional e ética. Elaborou, num terceiro artigo, um conceito funcional e ético de trabalho. Em seguida, noutro livro, elaborou a sua teoria social, centrada nas formas de vida. Elaborou, ainda, num quarto artigo, um conceito amplo de economia, economia como conjunto de práticas sociais específicas, mas inseparavelmente atreladas a outros tipos de práticas sociais e, enquanto conjunto, completamente partes, fundamentalmente características e parcialmente constitutivas de uma forma de vida específica; e assim por diante.6 Portanto, também à crítica do capitalismo de Jaeggi, faltava uma exposição completa e unificada.
Isso ocasionava, para o público leitor, uma expressiva dificuldade para compreender, de modo sistemático, ambas as críticas do capitalismo, já que elas mesmas foram elaboradas pelas suas autoras de maneira paulatina e fragmentária (mas não incoerente).Capitalismo em debate, não obstante, concede a ambas uma significativa chance de se fazerem sistemáticas enquanto teóricas críticas do capitalismo. Essa chance, contudo, é limitada, pois a sistematização não pode, nesse tipo de livro, escrito à guisa de conversa, ser exaustiva, nem definitiva, no que tange a aprofundamento, desdobramento e clarificação do previamente publicado.
A sistematização alcançada é, nesse sentido, relativa: trata-se de alinhavar o já publicado, recuperando explicitamente a sua coerência interna, indo, de vez em quando, um pouco além do já escrito anteriormente, sempre na medida do permitido pela forma “conversa”.
O pronunciado protagonismo de Fraser
A chance de sistematizar as suas dispersas contribuições anteriores para a crítica do capitalismo foi, de fato, aproveitada pelas duas autoras, mas Fraser, visivelmente, a aproveitou muitíssimo mais que Jaeggi. Talvez haja uma razão genética, editorial, para isso: o livro fora encomendado pelo editor estadunidense, ao que tudo indica, como uma homenagem à longeva, profícua e influente carreira acadêmica de Fraser, por ocasião do seu septuagésimo aniversário, em 2017. Ainda que as autoras tenham decidido alterar o propósito do livro proposto pelo editor, dedicando-o, então, ao estágio atual das suas pesquisas, cujo foco é justamente o capitalismo, é nítido que Jaeggi desempenha, predominantemente, o papel de uma entrevistadora, embora saia uma entrevistadora bastante erudita, perspicaz e crítica. Mesmo quando seria esperado que fosse dela a fala principal, o impulso do protagonismo de Fraser, rapidamente, desponta, se imiscui e se instala.
Nos capítulos I e II, que versam, respectivamente, sobre a conceituação e a historicização do capitalismo, o palco é quase unicamente de Fraser. Jaeggi se restringe, quase completamente, a estimular a sua interlocutora a reapresentar (e, aqui e ali, aprofundar, desenvolver e clarificar) duas grandes propostas suas (da própria Fraser): (a) a proposta de conceituação do capitalismo como uma ordem social cuja especificidade histórica reside na institucionalização de uma esfera econômica que é separada das esferas da reprodução social, do poder público e da natureza não humana, mas que é, ao mesmo tempo, dependente dessas três esferas “não econômicas”, ainda que denegue a imprescindível importância econômica que elas possuem e ainda que denegue a parasitação, o esgotamento e a devastação que impõe a elas; (b) a proposta de historicização do capitalismo como uma sequência (retrospectivamente reconstruível como sendo direcional) de regimes de acumulação privada de capital que não se circunscrevem à esfera econômica, mas são, ao mesmo tempo, regimes socio-rreprodutivos, políticos, socioecológicos e racializadores, quer dizer, os regimes de acumulação mercantil, liberal, administrado pelo Estado e financeirizado/neoliberal também abrangem, como componentes “não econômicos” essenciais, mas mantidos no plano de fundo, formas específicas de feminilização do “cuidado” e de seguridade social, formas específicas de configuração das relações entre os poderes privados econômicos e os poderes públicos políticos (nacionais e transnacionais), formas específicas de “natureza histórica” e formas específicas de subjetivação/sujeição política e de expropriação econômica.
Já o capítulo III seria, supostamente, o capítulo em que Jaeggi tomaria o protagonismo na “conversa”, já que se trata de um capítulo dedicado à metacrítica do capitalismo, ou seja, à reflexão sobre os critérios fundamentais com base nos quais se critica o capitalismo e sobre os tipos gerais de crítica do capitalismo. Enquanto Fraser, até então, na sua produção acadêmica anterior, havia se abstido largamente de escrever sobre a crítica do capitalismo, tendo se concentrado em escrever diretamente sobre o próprio objeto da crítica do capitalismo, é de Jaeggi, possivelmente, a principal elaboração da Teoria Crítica recente em termos de metacrítica do capitalismo. Seria, pois, esperado que, nesse capítulo, a voz preponderante fosse a de Jaeggi. Jaeggi chega a retomar a sua metacrítica do capitalismo já no início do capítulo, definindo, assim, os termos da discussão, de modo que a discussão passa, então, a girar em torno de três tipos gerais de crítica do capitalismo, distinguidos uns dos outros pela adoção de um de três critérios fundamentais: a crítica funcional põe em foco as tendências de crise do capitalismo; a crítica moral, a exploração e/ou a injustiça impostas pelo capitalismo; e a crítica ética, a alienação que o capitalismo produz.Definidos desse modo os termos da discussão, Fraser passa, no entanto, a fazer preponderar a sua voz. Primeiro, Fraser concorda com Jaeggi em que não é possível uma crítica puramente funcional do capitalismo, em que toda crítica funcional está ligada, explícita ou implicitamente, a algum ponto de vista normativo e, portanto, a algum tipo de crítica moral e/ou ética, ainda que o desenvolvimento teórico da crítica propriamente normativa se apresente como tímido e fugaz. A partir daí, no entanto, começam a mostrar-se divergências e diferenças entre as duas autoras. Por exemplo, Jaeggi defende que Marx não procedeu a uma crítica diretamente moral do capitalismo, mas Fraser sustenta que há, em Marx, uma dimensão moral explícita, relacionada à justiça política, ou a uma injusta (pois classista) destinação institucionalizada do excedente social. A obstinada oposição que Jaeggi faz a uma crítica moral é, então, contrastada com a insistência de Fraser numa crítica moral centrada nas dominações estruturais não só de classe, mas também de gênero e raça. Além disso (e muito mais importante), Fraser passa a apresentar a sua própria concepção de crítica ética do capitalismo, contrapondo-a abertamente à particular concepção de Jaeggi. E isso leva Fraser a retomar tanto a sua própria conceituação como a sua própria historicização do capitalismo, já desenvolvidas nos dois capítulos anteriores, para salientar-lhes as nuanças propriamente éticas.
Não obstante, é no capítulo III, sem dúvida, que Jaeggi é mais bem-sucedida em expor a sua própria crítica do capitalismo, ao menos nos seus traços gerais: uma crítica baseada em dois critérios entrelaçados, o critério funcional das contradições imanentes e tendências objetivas de crise e o critério ético não essencialista e não substantivo, mas antes processual e formal, da alienação – alienação como obstáculo à liberdade social. Trata-se de uma crítica que, em última análise, põe em relevo a irracionalidade inerente ao capitalismo como uma ordem social que sistematicamente bloqueia experiências sociais e processos de aprendizagem e, assim, distorce profundamente as reações sociais às suas próprias crises, o que acaba por causar e proliferar relações sociais alienadas e fenômenos de estranhamento. Nessa medida, o capítulo III é o capítulo de Jaeggi, ainda que, nele, o desempenho discursivo de Fraser não fique atrás do da sua interlocutora. No capítulo IV, Fraser reassume mais enfaticamente o seu protagonismo no livro. Isso ocorre porque a crítica do capitalismo de Fraser dispõe de uma elaboração acerca das lutas sociais que é muito mais rica e clarificadora do que a de Jaeggi. Essa elaboração se desenvolve em três vertentes diferentes e, não obstante, interligadas. A primeira vertente é a da ressignificação e ampliação do conceito clássico de “lutas de classe” através do conceito novo de “lutas de fronteira” – o que representa uma contribuição original de Fraser para a renovação do marxismo e da Teoria Crítica. Na “A turbulência que se aprofunda ao nosso redor” Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo | Jan./Jun..2020 129 segunda vertente, Fraser realiza uma apropriação crítica do conceito de “movimento duplo” de Karl Polanyi que o transforma num “movimento triplo”, constituído de três amplas tendências de desenvolvimento que atravessam toda a história do capitalismo e se relacionam umas com as outras de maneiras diferentes ao longo dessa história, a saber, as tendências de mercadorização, proteção social e emancipação. Já na terceira vertente, Fraser elabora o diagnóstico acerca do “neoliberalismo progressista” como a corrente política neoliberal hegemônica até há pouco, bem como acerca do recente arruinamento da hegemonia neoliberal sob a pressão geral de movimentos regressivos e emancipatórios, os primeiros alimentando o “populismo reacionário” de extrema-direita, os últimos nutrindo o “populismo progressista” de uma esquerda da qual se espera que possa unir toda a classe trabalhadora em sentido amplo, abarcando todos os expropriados e explorados num bloco contra-hegemônico que vise a uma transformação estrutural da ordem social capitalista. Jaeggi levanta importantes discordâncias e ressalvas a essa tripla elaboração de Fraser. Por exemplo, ela parece adotar uma compreensão mais aguda e mais dramática do racismo, do sexismo e da homofobia que caracterizam os atuais movimentos regressivos e os seus porta-vozes partidários de extrema-direita, em contraposição à proposta de Fraser de compreender essas gravíssimas atitudes sociopolíticas como reações reacionárias à crise da hegemonia neoliberal, suscetíveis, em princípio, ao esclarecimento e à mudança. Além disso, Jaeggi ressalta a necessidade de uma crítica da ideologia hoje, em contraposição à proposta de Fraser de recuperar o conceito de “hegemonia” de Antonio Gramsci. Em todo caso, nesse capítulo final, Jaeggi acaba por restringir-se a comentar as vastas propostas de Fraser.
Uma explicação do predomínio discursivo de Fraser
É possível explicar, com uma combinação de razões filosóficas e razões relativas à peculiar forma discursiva de Capitalismo em debate, a precedência que a crítica do capitalismo de Fraser exerce continuadamente sobre a de Jaeggi ao longo do livro. Ao conceituar o capitalismo como uma ordem social institucionalizada, Fraser monta um quadro conceitual que lhe rende algumas expressivas vantagens em relação a Jaeggi. Em primeiro lugar, o quadro conceitual de Fraser é consideravelmente menos abstrato que o de Jaeggi, o qual tem como cerne os conceitos de forma de vida, prática social, problema e processo de aprendizagem. Em segundo lugar, o quadro conceitual de Fraser é não só aberto à historicização – o de Jaeggi também o é –, mas também inerentemente dependente dela, ou seja, somente pode ser desdobrado teoricamente (e, assim, elucidar o seu próprio objeto) mediante uma narrativa abrangente do desenvolvimento histórico do capitalismo – o que não ocorre com o quadro conceitual de Jaeggi, cujo desdobramento teórico é significativamente independente de narrativas históricas, precisamente porque é de uma abstração elevadíssima. Em terceiro lugar, o quadro conceitual de Fraser tem como critérios da crítica a estabilidade estrutural (ou a sustentabilidade funcional), a não dominação de classe, gênero e raça e a autodeterminação coletiva socioeconômica, critérios com os quais Fraser consegue criticar o capitalismo de modo, ao mesmo tempo, mais simples, mais fértil e mais convincente do que Jaeggi com os seus critérios de êxito na compreensão e resolução de problemas e não alienação (ou apropriação). E, em quarto lugar, o quadro conceitual de Fraser é capaz de esclarecer imanentemente as lutas sociais de outrora e de hoje de modo abrangente e nuançado, quer dizer, oferece um panorama sistemático delas ao longo de toda a história capitalista, tanto no centro como na periferia do capitalismo mundial e em cada um dos períodos específicos dessa história; e oferece, ainda, um discernimento criterioso daquelas lutas conforme se posicionem em relação à mercantilização da sociedade, à proteção da sociedade contra a mercantilização e à emancipação de grupos sociais que permanecem estruturalmente dominados na sociedade capitalista.
Justamente em virtude dessas características do seu quadro conceitual, a crítica do capitalismo de Fraser se sobressai à de Jaeggi na “conversa”. Efetivamente, numa conversa (ainda que seja uma conversa só entre aspas), tende a perder espaço quem discursa muito abstratamente: discursos muito abstratos são mais adequadamente desdobrados em formas de escrever não dialógicas nem inclinadas à altercação oral, quer dizer, em formas de escrever mais monográficas, ensaísticas ou tratadísticas. Nesse sentido, é razoável supor que o quadro conceitual menos abstrato de Fraser tenda a ser propício ao desdobramento do seu particular discurso em Capitalismo em debate, enquanto o quadro conceitual muito mais abstrato de Jaeggi tenda ao contrário. Mesmo no capítulo I e no III, os mais abstratos do livro, a menor abstração do quadro conceitual de Fraser lhe proporciona bastante espaço discursivo. Além disso, as temáticas às quais se dedicam os dois outros capítulos do livro são francamente favoráveis a Fraser: no capítulo II e no IV, dedicados, respectivamente, à história do capitalismo e às lutas anticapitalistas atuais, é quase óbvio que Fraser se destaque muito mais que Jaeggi, dado que, entre as duas, é apenas Fraser que oferece uma crítica do capitalismo eminentemente histórica e explícita e sistematicamente ligada à práxis política anticapitalista.
Estamos conversados?
A forma de “conversa” que as autoras deram ao seu livro lhes permite sempre abrir e abordar uma gama formidável de temas e problemas, ao mesmo tempo que nem sempre lhes permite dar vazão à sua veia teórica na medida necessária. Essa constrição formal da reflexão teórica impõe a Capitalismo em debate três importantes limitações: a primeira diz respeito à relação da teorização que as autoras oferecem com a economia política e, em particular, com a teorização de Karl Marx; a segunda, à clarificação da religião nas suas (perigosas) relações com o capitalismo; e a terceira, à elucidação dos supostos populismos hodiernos. Tais limitações podem ser formuladas através das seguintes questões, que, no livro, ficam intocadas: Que traços fundamentais teria uma nova economia política que levasse a sério seja a concepção expandida de capitalismo de Fraser, seja a concepção alargada de economia de Jaeggi? Permaneceriam sustentáveis as bases do edifício teórico da crítica marxiana da economia política ante as novas, mais profundas e mais complexas concepções de trabalho, natureza, acumulação, contradição, crise, classe, luta de classes, democracia, sociedade e socialismo de Fraser? Como precisamente essas concepções de Fraser impactam as centrais conceituações marxianas de valor e mais-valor? Que lugar a religião ocupa na sociedade capitalista? Ela chegaria a constituir, para Fraser, uma esfera social própria com a qual a economia, assim como com a reprodução social, a política e a ecologia, manteria uma relação de separação, dependência e denegação; ou, para Jaeggi, uma forma de vida de escopo limitado, mas de forte resistência, sob a modernidade como uma abrangente forma de vida secularizada? Ou se circunscreveria ela a um resíduo de eticidade pré-moderna que, embora essencialmente incompatível com a secularidade moderna, pode ser e, de fato, é reaproveitado na sociedade capitalista para fins hegemônicos (diria Fraser, quiçá) ou ideológicos (talvez dissesse Jaeggi)? E que é populismo? Os atuais presidentes estadunidense e brasileiro (Donald Trump e Jair Bolsonaro), por exemplo, são mesmo populistas? Não seria mais adequado caracterizá-los como autoritários ou até fascistas? O que diferiria, hoje, o populismo do autoritarismo e do fascismo? Sem embargo dessas limitações gerais, Capitalismo em debate tem como virtude principal a de ser um livro tempestivo, um livro que liga estreita e profundamente a reflexão teórica ao seu contexto social, um livro que cabe ler justamente em meio à “turbulência que se aprofunda ao nosso redor” (p. 9). Ao final da leitura, permanecem ressoando as palavras de Fraser: “a crise não será resolvida com o ajuste desta nem daquela política. O caminho para a sua resolução só pode ser o da transformação estrutural profunda dessa ordem social”; palavras, aliás, reverberadas por Jaeggi: “sem um projeto emancipatório para além das alternativas às quais as pessoas parecem presas agora, as coisas podem ficar feias” (pp. 241-242).
Referências
FRASER, N. (2013).Fortunes of feminism : from state-managed capitalism to neoliberal crisis. London; New York: Verso.
FRASER, N. (2014). Behind Marx’s hidden abode: for an expanded conception of capitalism.New Left Review, 86, pp.141-159.
FRASER, N. (2016). Contradictions of capital and care.New Left Review, 100, pp.99117.
FRASER, N. (2018a).Crise de legitimação? Sobre as contradições políticas do capitalismo financeirizado. Tradução de José Ivan Rodrigues de Sousa Filho.Cadernos de Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade, 23 (2), pp.153-188.
FRASER, N. (2018b). Do neoliberalismo progressista a Trump – e além. Tradução de Paulo S. C. Neves.Política & Sociedade: Revista de Sociologia Política, 17 (40), pp.43-64.
FRASER, N. (2018c). From exploitation to expropriation: historic geographies of racialized capitalism.Economic Geographic, 94 (1), pp.1-17.
FRASER, N. (2020). What should socialism mean in the twenty-first century? Socialist Register, 56, pp.282-294.
FRASER, N., & Honneth, A. (2003). Redistribution or recognition? A politicalphilosophical exchange. Translated by Joel Golb, James Ingram, and Christiane Wilke.London; New York: Verso.
JAEGGI, R. (2008). Repensando a ideologia. Tradução de Emil Sobottka e Giovani Saavedra.Civitas, 8 (1), pp.137-165.
JAEGGI, R. (2014).Alienation. Translated by Frederick Neuhouser and Alan E. Smith.New York: Columbia University Press.
JAEGGI, R. (2015). O que há (se de fato há algo) de errado com o capitalismo? Três vias de crítica do capitalismo. Tradução de Nathalie Bressiani.Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo: Crítica e Modernidade, 20 (2), pp.13-36.
JAEGGI, R. (2017).Pathologies of work.Women’s Studies Quarterly, 45 (3-4), pp.5976.
JAEGGI, R. (2018a).Critique of forms of life. Translated by Ciaran Cronin. Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard University Press.
JAEGGI, R. (2018b). Um conceito amplo de economia: economia como prática social e a crítica ao capitalismo. Tradução de Alessandro Pinzani.Civitas, 18 (3), pp.503522.
* Trata-se de uma citação da obra resenhada, situada na página 9.
Notas
1 Há outras três divergências centrais entre as autoras, a saber: primeiro, ao passo que Jaeggi parece manter uma considerável abertura para uma teoria da modernidade, ainda que não desenvolva uma, Fraser parece ater-se completamente à teorização do capitalismo, sem preocupar-se em caracterizálo como formação social moderna e em distingui-lo de formações sociais pré-modernas. Segundo, enquanto Jaeggi abraça uma crítica ética do capitalismo que, malgrado formal, é enfática, já que focada na alienação, Fraser assume uma crítica ética do capitalismo que é bastante tímida e parece ser mais política que ética, já que enfoca a autodeterminação coletiva quanto às mais importantes questões econômicas. Terceiro, se Fraser não hesita em conceber os movimentos sociais hodiernos, inclusive os regressivos, como reações diferentes ao neoliberalismo hegemônico, Jaeggi reluta em aceitar tal concepção e não descarta hipóteses que explicam os movimentos sociais regressivos por prismas predominantemente simbólicos, real ç ando, por exemplo, o racismo inveterado, a misoginia visceral, a homofobia entranhada e o ressentimento social que os impulsionaria
2 Por exemplo, quanto à conceituação do capitalismo, Fraser aprofunda reflexivamente a sua própria concepção ao explicitar que ela emprega duas metodologias distintas e que, no entanto, não correspondem a duas, mas a uma única ontologia social, ainda que diversificada para dar conta das diversas esferas sociais em que se divide estruturalmente a sociedade capitalista. Trata-se de uma metodologia estrutural-institucional e de uma metodologia de teoria da ação. Já quanto à historicização do capitalismo, Fraser desdobra a sua concepção, tornando-a mais abrangente, ao apontar um novo regime de acumulação capitalista, vigente do século XVI ao XVIII, anterior ao capitalismo liberal e concorrencial do século XIX, a saber, o capitalismo mercantil. Ademais, Fraser clarifica, quanto à conceituação do capitalismo, que a sua concepção não é meramente funcionalista, mas é também normativa; além do mais, clarifica, quanto à historicização do capitalismo, que o ideal seria elaborá-la de modo conjunto e sistemático, mostrando como as relações profundamente instáveis que a economia capitalista, de um lado, mantém com o poder público, a reprodução social e a natureza não humana, de outro, desenvolvem-se, ao mesmo tempo, distinta e combinadamente.
3 Por exemplo, em relação à crítica teórica do capitalismo, Fraser inova ao afirmar que a sua crítica do capitalismo tem não só uma dimensão funcionalista (focada em contradições estruturais e tendências de crise) e uma dimensão moral (focada em dominações institucionalizadas de classe, gênero e raça), mas também uma dimensão ético-estrutural que diz respeito à falta de autodeterminação coletiva no que se refere a questões econômicas centrais que moldam profundamente a forma de vida abrangente, sobretudo a questão do controle e do emprego do excedente social. E, em relação à contestação política do capitalismo, Fraser também inova ao afirmar que há uma crise de legitimação em curso, uma crise da hegemonia (do senso comum político) neoliberal, sendo que, em artigo publicado três anos antes, afirmara que faltava precisamente tal crise de legitimação.
4 As obras mais emblemáticas da fase anterior da crítica do capitalismo de Fraser são: Fraser & Honneth (2003) e Fraser (2013).
5 Ver, por exemplo, os seguintes artigos: Fraser (2014), Fraser (2018a), Fraser (2016), Fraser (2018b), Fraser (2018c), Fraser (2020).
6 Ver Jaeggi (2014), Jaeggi (2008), Jaeggi (2015), Jaeggi (2018a), Jaeggi (2018b), Jaeggi (2017).
José Ivan Rodrigues de Sousa Filho – Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: [email protected]
Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático – STREECK (C-FA)
STREECK, Wolfgang. Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático. São Paulo: Boitempo Editorial, 2018. Crise e neoliberalismo no capitalismo setentrional. Resenha de: MARINO, Rafael; COSTANZO, Daniela. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 25 n.1 Jan-Jun, 2020.
A partir de uma longa visada, o livro de Wolfgang Streeck, Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático, pretende explorar as determinações essenciais da passagem, em meio a crises fiscais e financeiras, de um capitalismo democrático, baseado em um Welfare State e instituições políticas keynesianas, para um capitalismo neoliberal, no qual um regime econômico neo-hayekiano – caracterizado essencialmente por uma máxima desregulamentação econômica e pela proteção frente a qualquer normatização ou correções políticas de massa – impõe um mercado que se pretende imune a qualquer tipo de intervenção democrática. Nesse sentido, uma das teses mais fortes do economista alemão é a de que a crise de 2008 marcaria o possível fim dos adiamentos de conflitos decorrentes da crise do capitalismo democrático, ocorrida na década de 1970. Falamos em longa visada, pois o seu estudo abarca, pelo menos, as transformações do capitalismo e a marcha do capital desde os fins da década de 1960 até a década de 2010. O que acaba por tornar-se um respiro benfazejo em meio às análises políticas e econômicas presentes no mercado das ideias, fortemente pautadas por certo imediatismo e por estudos de curto fôlego.
A base material com que Streeck lida é a do capitalismo de países ricos notadamente nações europeias, como Alemanha e França, além de nações de outros continentes, como Estados Unidos da América e Japão “como unidade multifacetada, constituída pela interdependência, em meio à dependência coletiva dos Estados Unidos, quanto pelas peculiaridades dos conflitos internos e dos problemas de integração sistêmica” (Streeck, 2018, p. 12).1 A fundamentação teórica que lança mão para cuidar deste material é um amálgama entre marxismo, renovado pela assim chamada novas leituras de Marx (Elbe, 2013), teoria crítica frankfurtiana das crises e as formulações de Michal Kalecki e Karl Polanyi. O que não deixa de também chamar a atenção, dada a preponderância de pesquisas e trabalhos fortemente especializados e centrados em particularismos formais e subjetivos, seja de atores ou mesmo de instituições políticas, nas ciências sociais, principalmente na economia e na ciência política. Não obstante a sua aproximação destas teorizações amalgamadas, Streeck não deixa de ver nelas algumas limitações frente ao material por ele enfrentando, o que serve, sobretudo, para o aperfeiçoamento daquele instrumental e não seu abandono.
Quanto às suas divisões internas, o livro é composto por seis partes, sendo quatro capítulos, um prefácio à segunda edição, de 2015, e uma introdução, os quais procuraremos explorar, mesmo que sumariamente e sem necessariamente seguir a sua ordenação.
No prefácio, Streeck volta-se para a discussão de seus pressupostos teóricos, suas escolhas de caminhos durante a apresentação de seu argumento e a exposição sucinta de alguns de seus achados de maior relevância. Quanto ao primeiro elemento, o referido amálgama crítico e neomarxista permite que o economista alemão veja o capitalismo como uma sequência de crises imanentes ao processo de valorização do valor; o mercado como algo reposto empiricamente a partir do entrecruzamento entre ação estratégica e as lutas distributivas coletivas “nos mercados expandidos, impulsionado por uma dinâmica relação de troca entre espaços de classes e de interesses, de um lado, e de grupo organizados e instituições políticas, de outro, com particular consideração do problema da reprodução financeira do Estado” (Streeck , 2018, p. 9) e o capital como uma espécie de sujeito capaz de assumir estratégias complexas para levar a bom termo sua valorização e expansão. Estratégias as quais operam, por exemplo, via greve de investimentos, como as antevistas por Kalecki (1943), para quem os capitalistas, vendo o pleno emprego e o poderio da classe trabalhadora aumentado, utilizariam-se daquele expediente para o enfraquecimento dos trabalhadores e para a extenuação do poder do Estado. Nesse bojo, o mercado e suas estratégias políticas, deixados por eles mesmos, sem a resistência da classe trabalhadora e de políticas voltadas para desmercadorização, poderiam, tendencialmente, tornar-se um moinho satânico com potencial para destruir a civilidade e a sociedade (cf. Polanyi, 2000).
Já em relação às trilhas percorridas por Streeck, três parecem ser os elementos essenciais. Em primeiro lugar, o capitalismo democrático dos países ricos a que se refere é visto pelo economista como um período de excepcional e específica estabilidade, construída politicamente a partir de uma elite tecnocrática, frustrada com os anos 1930 e “fundada em uma economia de guerra (…) centrada no Estado, que tinha uma coisa em comum com todas as linhas partidárias: profunda e experimentada dúvida sobre a viabilidade e sustentabilidade do livre mercado capitalista” (Streeck, 2018, p. 16). Havia, portanto, uma crise de legitimidade capitalista que exigiu que os capitalistas aceitassem um regime social democrata. Em segundo lugar, esse casamento entre capitalismo e democracia não é natural, pois, dentre outras coisas, ambos operam com formas contrárias de justiça. O capitalismo pratica uma justiça de mercado baseada no desempenho individual, enquanto a democracia se baseia na universalidade de direitos a partir da justiça social. Há, além disso, uma assimetria entre as duas justiças, já que o capital tem mais condições de reagir, podendo impor crises ao conjunto da população e justificar suas reivindicações como condições para o funcionamento do sistema como um todo. Já as reivindicações dos trabalhadores são vistas como perturbações e não como necessidades ao funcionamento do sistema.
Como último elemento distintivo da pista sob a qual o argumento de Streeck se desenvolve, vê-se a ideia de que, a partir do final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, esse casamento forçado entre capitalismo e democracia começou a mostrar suas contradições através de crises que foram seguidamente adiadas de formas distintas até o momento atual. Com, principalmente, três fatores: a) a diminuição do crescimento econômico, antes constante e crescente; b) o clima político desenvolvido a partir das revoltas de 1968, a partir do qual alguns atores políticos, organizações de classe e intelectuais passaram a falar até mesmo na superação do mercado e do capitalismo; e c) a uma revalorização grande do mercado como instância de satisfação e gestão das mais diversas esferas da sociedade. Nesse período, a burguesia, acossada principalmente pelos dois primeiros fatores elencados acima e legitimada pelo terceiro fator, inicia a quebra do que fora duramente acordado por décadas e deixa de financiar essa forma de organização estatal voltada ao bem estar social. Desta feita, criticando a visão de autores como James Buchanan, Gordon Tullock e outros teóricos da chamada public choice, o Estado de Bem-estar social não teria chegado ao fim pela irresponsabilidade fiscal de trabalhadores que votariam pela maximização de seus bens e serviços de seu interesse, mas sim por uma escolha política deliberada dos capitalistas em geral.
Na sua introdução, intitulada “Teoria da crise no passado e no presente”, Streeck enuncia mais fortemente a sua filiação às teorizações da crise vindas da assim chamada Escola de Frankfurt, passando, de forma inespecífica, por Theodor Adorno, Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Jürgen Habermas e Claus Offe. O essencial desta formulação sobre a crise, para o autor alemão, gira em torno de dois aspectos: i) o seu fundamento heurístico, desde o qual é possível ver uma tensão essencial entre a vida social civilizada e suas esferas e uma economia dirigida pelo imperativo de valorização do capital, que tende ao infinito e não possui freios normativos contra a barbarização; ii) o pressuposto de que o mais importante a ser estudado são os processos, em sua historicidade e em suas determinações basilares, e não os estados e momentos; de modo que aí as instituições sociais seriam vistas como engendradas pelo processo social, isto é, seriam provisórias, em permanente debate entre orientações políticas contraditórias e instáveis. Isso, a nosso ver, possibilitou um ponto de arrimo crítico interessante para Streeck, dado que, a partir dessa visão complexificada sobre a totalidade social em movimento, não caiu nas armadilhas da economia e da ciência política mainstream, confinadas ao individualismo metodológico e a uma operacionalização que isola o econômico e o político de outras esferas da vida (cf. Sartori, 2004; cf. Paulani, 2005). Não obstante, Streeck também faz críticas às teorizações frankfurtianas, pois, a seu ver, teriam acreditado demais na capacidade política de legitimação e planejamento do Estado e subestimado o poder do capital enquanto agente político e força social apta a desmobilizar e destroçar formas estatais específicas. Algo que, apesar de nosso acordo quanto a Habermas e Offe, é injusto com os frankfurtianos da chamada primeira geração, como mostraremos ao fim de nosso exercício de leitura crítica.
Já no primeiro capítulo do livro, Streeck repisa a sua crítica apesar de reafirmar sua filiação à teoria crítica frankfurtiana das crises, argumentando que esta teria se transformado em teorias da cultura, do Estado e da democracia, deixando de lado a crítica da economia política, achado essencial de Karl Marx e boa parte de suas teorizações sobre, por exemplo, crescimento, subconsumo e superprodução. Contra isto, o autor alemão propõe que voltemos a olhar o capital como um agente econômico e político voltado à sua autovalorização constante e dotado de forte capacidade estratégica contra o que acha ser uma barreira contra seu desígnio maior: a acumulação. Deste modo, a construção de um capitalismo democrático, durante as chamadas três décadas de ouro após a Segunda Guerra Mundial, deveria ser vista como um momento muito específico no qual o capitalismo e os capitalistas estavam em baixa e aceitaram a fusão, tensa, com a democracia e com a melhoria constante do nível civilizacional da classe trabalhadora. Tudo isso fora aceito pelos agentes do capital como uma forma de reestruturação de sua legitimidade, bem como uma espécie de imposição pela luta entre as classes e não como mudança do ímpeto acumulativo do capital.
Esta crítica de Streeck às ideias de crise de legitimação frankfurtiana deságua num diagnóstico bastante instigante a respeito da crise desta forma de capitalismo democrático em meados da década de 1970, a saber: “não foram as massas que se recusaram a seguir o capitalismo do pós-guerra, acabando com ele, mas, sim, o capital sob a forma de organizações, organizadores e proprietários” (Streeck , 2018, p. 65). Porém, por que essa recusa se deu? Sobre este ponto, as explicações dadas pelo autor aparecem em momentos distintos do texto, o que pode causar certa confusão no(a) leitor(a); além disso, duas delas, ao menos aparentemente, são contraditórias – conforme exploraremos mais adiante. Todavia, Streeck aponta que três seriam as causas. Em primeiro lugar, teria ocorrido o início de certo achatamento da lucratividade do capital, devido, principalmente, aos custos com mão de obra, cada vez mais valorizada, e com os chamados encargos do Welfare State. Em segundo lugar, com as revoltas da década de 1960, mais especificamente, as de 1968, instaura-se um clima político entre segmentos específicos de forças sociais, políticas e intelectuais supostamente voltados à negação e superação do mercado e da mercadoria, deixando os capitalistas extremamente assustados. Em terceiro lugar, nessa mesma década de 1960, assiste-se a uma elevação inédita da legitimidade, em várias camadas da sociedade, das forças do mercado vistas, neste período, como as melhores gestoras de diversas esferas da vida e da política e ao aumento exponencial do consumismo e sua ideologia, conquistando novos domínios da vida social. Essa nova onda de legitimidade do mercado deu-se, num primeiro momento, a despeito das revoltas de 1968. Todavia, posteriormente, ela se deu utilizando-se, também, das pretensões emancipatórias dos manifestantes quanto à maior autonomia, à criatividade e à possibilidade de novas formas de vida distintas da família de classe média europeia e estadunidense. Deste modo, o desejo de autorrealização e flexibilidade comportamental e libidinal dos revoltosos de 1968 fora capturado por formas de trabalho e ocupação que embaralhavam termos opostos como independência e precariedade, conforme os diagnósticos de Boltanski e Chiapello (2009).
Outro lance argumentativo interessante de Streeck é quando liga a crise adiada do capitalismo democrático de 1970 aos dias de hoje. De acordo com o nosso economista, tendo em vista os três elementos anteriores, pode-se notar o abandono dos capitalistas (ou dos dependentes do capital) do capitalismo democrático. Não obstante, esse abandono foi algo processual e não peremptório, dado que, ao mesmo tempo em que deveriam lograr a liberalização total da economia e de outras esferas da sociedade, não poderiam perder a sua legitimidade frente aos dependentes de salário em geral. Até porque, sem nenhum tipo de distribuição aos de baixo, o caminho para revoltas de todos os tipos estaria pavimentado. Streeck nota que, andando próximo àquela tendência de desacoplamento frente à regulação democrática, vê-se, entre as décadas de 1970 e 2010, uma contínua diminuição do crescimento econômico das economias centrais cada vez mais estagnadas. Tal diminuição do crescimento econômico fica sem maiores explicações e explicitações causais e de gênese por parte de Streeck – o que também criticamos ao final da resenha.
De toda forma, três seriam as formas de adiamento dos conflitos decorrentes da crise dos anos de 1970: i) inflação; ii) endividamento do Estado e iii) endividamento privado por meio da expansão dos mercados de créditos privados. Todos esses adiamentos, de um modo ou de outro, marcaram derrotas importantes para os assalariados e serão explorados por nós rapidamente juntamente com as suas consequências para o povo dependente de salários e para a tentativa autoritária do mercado em se livrar de qualquer constrição da democracia.
A primeira forma de adiamento da crise se deu entre as décadas de 1970 e 1980 e foi materializada por meio da inflação. Isso se deu porque já nos anos de 1970 o pleno emprego, pedra angular da democracia no pós-guerra, passa a ser de difícil manutenção, dado que o crescimento econômico resultante do trabalho e do capital deixou de ser sistemático e ascensional. Assim, para evitar uma insatisfação popular generalizada com a não redistribuição dos lucros vindos da produção, o aumento salarial acima do aumento da produtividade fora sustentando por meio de uma política monetária de introdução “de recursos adicionais, que, no entanto, não estavam disponíveis senão sob a forma de dinheiro, não ou ainda não como algo real” (Streeck, 2018, p. 80). Gerando-se, desta feita, inflação. Mas não só. Essa ilusão monetária fora uma miragem de curto prazo, cujo fim fez com que investimentos diminuíssem ou fossem canalizados para outras moedas fora da zona econômica do atlântico norte. Já na metade da década de 1970, os agentes do capital, vendo tal situação de estagnação e inflação, colocaram na ordem do dia, sob a liderança de Reagan, nos Estados Unidos da América, e Thatcher, na Inglaterra, medidas de estabilização neoliberal drásticas. As quais foram um duro golpe nos dependentes de salários, visto que a deflação da economia foi decisiva para recessão e desemprego constantes. Condições importantes para a perda de poder dos sindicatos e da classe trabalhadora. Por conseguinte, a arena da disputa de classes, a partir deste momento, passa a se deslocar do mercado de trabalho e das fábricas, para lugares cada vez mais “abstratos” e inacessíveis ao cidadão comuns.
Essa política econômica “estabilizadora”, localizada no final dos anos 1970 e ao longo da década de 1980, mostrou-se uma porta de entrada importante, a um só tempo, para uma nova configuração estatal. Com a deflação anterior e o decréscimo no nível de vida, viu-se novamente o perigo da não legitimação do capitalismo tardio frente às camadas médias e populares, fazendo com que Estados e agentes econômicos fossem atrás de outra fonte de adiamento e legitimação, qual seja: o endividamento público. Ao modo da inflação, o endividamento público permite ao governo utilizar recursos financeiros provenientes do sistema monetário, mais especificamente do pré-financiamento de futuras receitas fiscais do Estado via instituições privada de crédito. Recursos que serão de suma importância para pacificação de conflitos sociais provenientes do crescente fosso entre as promessas do capitalismo e sua realização efetiva para a maioria da população. Outro movimento a que se assistiu, juntamente com esse endividamento do Estado, foi o de aumento dos créditos sobre os sistemas de seguridade social, em função, principalmente, da elevada taxa de desemprego e pelo fato de a moderação salarial da classe trabalhadora ter tido como termo de negociação o aumento de parcelas. Ou seja, politicamente, os governos não podiam nem cortar mais direitos do Estado Social nem aumentar impostos, dado que uma ou outra alternativa poderia cutucar onças com varas curtas; fazendo com que recorresse ao endividamento público.
Essa forma de adiamento fora tão sensível que se constitui como um pilar essencial da passagem do que Max Weber, Adolph Wagner, Richard Musgrave e Rudolf Goldscheide concebiam como Estado Fiscal, que expropriou sistematicamente e soberanamente os cidadãos em geral da sociedade civil, a fim de financiar o cumprimento de suas tarefas como interferir no crescimento econômico, redistribuir riqueza e cobrir externalidades negativas do mercado -, para o Estado endividado.Este, para cumprir as suas tarefas e obrigações, passa a contrair empréstimos e deixa de cobrar uma taxa mais elevada de impostos daqueles que se apropriam da maior parte da riqueza socialmente produzida, os chamados dependentes do capital. Assim, Streeck pode afirmar, com dados e fatos, que a crise financeira não foi gerada pelas massas e suas demandas de civilidade, mas sim pelo andar de cima, que, década após década, viu seus rendimentos e propriedades, cada vez mais aumentados, serem cada vez menos taxados. Ou seja, numa movimentação unilateral de classe, deixaram de financiar o Estado social e o capitalismo democrático em prol da valorização do capital. Nesse bojo, a luta entre as classes também ganha outro contorno, passando a ser disputada dentro dos Estados de bem-estar social e não mais na produção, como anteriormente, girando em torno de disputas intraburocráticas e ainda mais distantes dos cidadãos dependentes do trabalho.
Nessa forma de Estado endividado, Streeck identifica propriamente uma nova fase de relação entre capitalismo e democracia. Isso se dá pelo fato de que, como o Estado passa a dever para instituições privadas de crédito, há sempre a desconfiança por parte destas de que o aparato estatal não honre as suas dívidas apesar de ser um devedor deveras lucrativo e seguro -, o que faz com que os agentes do mercado passem cada vez mais a influenciar a política estatal com o intuito de assegurar seus lucros. Por conseguinte, os credores passam a ser uma espécie de segunda raiz constitutiva do Estado, de sorte que as políticas devem responder a dois setores ou povos distintos, a saber: a) o povo do Estado, composto por cidadãos nacionais, portadores de direitos civis, dependentes de serviços públicos, formadores da opinião pública e que expressam sua vontade eleitoral periodicamente tudo isso em troca de lealdade ao Estado e ao pagamento de impostos; b) o povo do Mercado, formado por investidores – e não cidadãos – internacionalmente integrados, que visam exclusivamente a maximização de seus lucros e que se ligam ao primeiro povo apenas por contratos.
À vista deste quadro, o nosso autor tira algumas consequências importantes da relação entre capitalismo e democracia. Primeiro, o capital ou o povo do mercado deixou de influenciar a política apenas indiretamente, via investimento na economia, e passou para uma ação direta na política nacional ao escolher ou não financiar todo o Estado. Segundo, o povo do Estado, principalmente as camadas mais pobres, por resignação, comparecem cada vez menos às eleições, pois já não veem o que esperar de mudança do partido no governo, visto que a agenda política e econômica da esquerda e da direita pouco se diferenciam e passam a sofrer constrições decisivas do povo do mercado. Com isto, cada vez mais o capitalismo vai se blindando em relação à democracia e suas decisões e a transição neoliberal vai se estabilizando e se alastrando.
Na passagem da segunda para a terceira forma de adiamento da crise vê-se, além de uma nova forma de preterir a crise (o endividamento privado), a constituição de outra configuração estatal, ainda mais voltada aos interesses do capital e para consolidação do neoliberalismo. Já ao final dos anos 1980 e começo da década de 1990, iniciou-se um movimento dúplice: os governos passaram a se preocupar cada dia mais com o aumento do peso do serviço da dívida no orçamento e os credores, a cada dia que passava, desconfiavam da capacidade estatal para o pagamento das dívidas. Nesse período, sendo os EUA de Clinton a vanguarda do atraso, começaram cortes nos gastos sociais e tentativas de “equilibrar” o orçamento, prática seguida por várias outras nações e incentivada diretamente por organizações como Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Apesar desse processo de liberalização radical dos mercados já vir de duas décadas anteriores, o capitalismo ainda precisava de uma forma de legitimação que, de uma só vez, mobilizasse recursos adicionais para evitar revoltas populares e não permitisse que a procura de capitais pelos países diminuísse, isto é, que a varinha de condão da confiança burguesa não deixasse de tocar as nações centrais. Para cumprir essas duas demandas, a saída da vez fora o endividamento privado, ou o que Colin Crouch chamou de “keynesianismo privado” (Crouch, 2009), injetando uma solvência antecipada no mercado numa segunda onda de liberalização dos mercados de capitais. Deste modo, substitui-se o endividamento público pelo endividamento privado como uma forma de aumentar as reservas disponíveis de recursos para distribuição. Nesse contexto, o papel do Estado mudou novamente, via liberalização do mercado de capitais no sentido de permitir o endividamento irrestrito dos agregados familiares, os quais tentam compensar tanto as perdas salariais de décadas, quanto a destruição das políticas estatais de desmercadorização.
Essa nova forma de adiamento forjou as bases para duas mudanças políticas e ideológicas importantes. Politicamente, vê-se a harmonização total entre a saída política encontrada e os desejos dos agentes do capitalismo neoliberal, harmonizando as necessidades e expectativas de ambos; até porque a desregulamentação das esferas da vida e dos mercados de capitais atingiu ali um nível nunca antes visto. Ideologicamente, operou-se um movimento dúplice: ao mesmo tempo em que surgiram novas teorizações a respeito da eficiência dos mercados desregulados, os quais contariam com agentes racionais que deteriam todas as informações necessárias para agir desde que o Estado não interferisse e desestabilizasse essa dinâmica, foram reabilitadas ideias de autores como o austríaco Friedrich Hayek, cuja proposição da transfiguração de todas as esferas da sociedade em empresas fora importante para imantar a prática de agentes capitalistas.
Nesse mesmo período, a formação estatal ganha outra conformação: passasse do Estado endividado nacional para o Estado de consolidação internacional. Por consolidação, Streeck entende o crescente processo de consolidação do orçamento e das finanças públicas no sentido de restringir direitos e parcelas do Welfare State à população e permitir um ambiente seguro para as movimentações políticas e econômicas do povo do mercado. Desta feita, essa consolidação está intrinsecamente ligada a três outros movimentos importantes: i) redução do Estado ao mínimo funcional à expansão dos mercados, impedindo a intervenção estatal ativa no sentido de regular e mitigar a justiça de mercado; ii) institucionalização de uma economia política internacionalizada e a transformação dos Estados nacionais em entidades não soberanas ajustadas a uma política fiscal decidida por uma diplomacia internacional do capital, cujo ponto de fuga não é a civilidade e sim o da valorização do capital e iii) restrição da capacidade de ação e regulação democrática do povo do Estado, de forma a colocar na ordem do dia uma democracia desdemocratizada e domesticada pelas forças do mercado e não o contrário. Como o Estado de consolidação é um regime internacional, a própria luta distributiva atinge o seu maior nível de abstração e inacessibilidade aos estratos médios e popular, já que o poder passa a se concentrar numa diplomacia financeira internacional e em mercados de capitais blindados à intervenção democrática e política.
Não obstante, em 2008, o keynesianismo privado veio abaixo. Essa forma de endividamento sustentou uma prosperidade enorme do setor financeiro e uma economia afluente, tudo isso sustentado pelo endividamento inaudito e colossal dos agregados familiares. Porém, a estrutura de crédito que permitia esse novo adiamento foi para os ares e o motivo era que todo aquele crédito liberado de modo algum poderia ser efetivamente saldado e boa parte do dinheiro em circulação, na forma de crédito, era fictício e lastreado em nada. Desta feita, os recursos para o adiamento da crise do capitalismo foram, um a um, testados e fracassaram, tornando qualquer saída cara demais para a diplomacia financeira internacional. À vista disto, o economista alemão vê duas alternativas possíveis: ou instaura-se realmente uma ordenação estatal neoliberal internacionalizada e pós-democrática, na qual o totalitarismo do mercado único sobrepujaria totalmente o povo do Estado, ou, a partir das mais variadas resistências populares – como o movimento global Occupy dos 99% –, volta-se a pensar na reconsolidação de democracias nacionais capazes de reinstaurar instituições promotoras de uma justiça social não redutível à justiça do mercado, a exemplo do praticado durante o chamado consenso socialdemocrata, além da repactuação de um Bretton Woods necessário à manutenção da soberania e democracia nacionais. Desta feita, a alternativa pensada por Streeck passaria, necessariamente, pelas seguintes medidas: a) reaproveitamento e revitalização de instituições nacionais, ao modo de parlamentos, bancos centrais, canais de representações popular e instituições de seguridade social socialdemocratas, as quais representariam as diferenças entre os povos e as nações; b) o aumento do espaço de autonomia dos Estados nacionais frente às instituições globais de governança do povo do mercado e c) a reformulação de um acordo econômico europeu, feito Bretton Woods, desde o qual se repactuassem regras para relações econômicas, as quais resistissem ao avanço desenfreado da desregulamentação mercantil. Tendo isso em vista, poder-se-ia argumentar que isto é muito pouco perto do diagnóstico feito pelo próprio economista alemão. Todavia, o próprio Streeck nos adverte que todas essas medidas são formas de ganhar tempo contra a expansão capitalista desmedida e que soluções melhores e mais radicais de ação contra a desdemocratização neoliberal devem ser pensadas com urgência.
Apesar de ser um estudo com elementos e argumentos indispensáveis para compreensão do capitalismo contemporâneo, articulando de modo exemplar a relação entre economia, política e sociedade, algumas críticas podem ser tecidas ao estudo de Streeck, as quais div idimos em teóricas, geopolíticas e de encadeamento interno da exposição.
No primeiro grupo, nota-se uma leitura generalizante a respeito da chamada Escola de Frankfurt ou da teoria crítica, 2 por dois motivos. Em primeiro lugar, a ideia de confiabilidade no caráter controlável do capitalismo, a partir da intervenção estatal e da democracia, é bem mais aplicável ao pensamento de Habermas e, em menor medida, ao de Offe -, para quem o Estado democrático de direito teria plenas condições de domesticar o crescimento capitalista, de modo que os cidadãos teriam aí direitos políticos para tomar parte e direitos sociais de ter parte nos processos decisórios e redistributivos da sociedade (Habermas, 2015). Deste modo, o problema essencial a ser enfrentado é o da continuidade da legitimidade do compromisso em torno deste Estado e os possíveis problemas da intervenção estatal na vida das pessoas; assim, a saída seria apenas a repactuação em torno de arenas políticas e discursivas, para que o princípio da solidariedade e o mundo da vida tivessem condições de sobrepujar os imperativos sistêmicos. Em Adorno e Horkheimer, como podemos ver em vários momentos de suas obras, o poder de mudança regressiva do capital e da forma mercadoria não são deixados de lado em prol de “análises culturais”. Mas sim que, partindo do diagnóstico pollockiano, poderíamos ver outros tipos de dominação menos imediatas determinadas não em sentido fatalista pela lógica da mercadoria (Fleck, 2016; Cook, 1998). Desta feita, a análise que fazem dos rackets não deixa dúvidas sobre a atenção que davam ao econômico e ao político (Adorno, 2003; Horkheimer, 2016). Ademais, se for permitido um reparo adorniano ao trabalho de Streeck, muito mais interessante que o uso da vaga ideia de ideologia do consumismo, seria lançar mão da noção de indústria cultural, dado que ela deveria ser entendida como uma continuação específica e crítica das teorizações sobre fetichismo e reificação de Marx e Lukács, de acordo com Adorno e Horkheimer (2006).Isso se dá porque o caráter de sistema da indústria cultural – composta pelo cinema, rádio, jazz, revistas, esporte, moda e livros de alta vendagem –, seria explicável justamente pela imposição do processo de reificação ao lazer e à cultura, impondo-lhes sua forma mercantil e tornando-as prolongamento do trabalho reificado. Forma reificada que condicionaria fortemente a apreensão da realidade, que passa a ser entendida agora como sistema imutável de leis especializadas e apreendida apenas pela contemplação, conformando uma individuação integrada à totalidade do capital e aos seus desígnios de consumo e manutenção do sistema.
Em segundo lugar, a teorização de Pollock surgiu em contraposição a outras duas. Uma, de origem social-democrata, propugnava a ideia de que as transformações do capitalismo no início do século XX apontavam para a sua estabilização; outra, aventada por figuras do comunismo ocidental, acreditava que estas transformações aprofundavam as contradições internas do capitalismo, apontando para seu colapso ou crise definitiva (Rugitsky, 2015). Contra ambas, Pollock (1973;1982) propõe que inexiste qualquer tendência inelutável de mudança ou colapso automático do capitalismo e que ele não estava passando por uma estabilização, mas sim por uma reestruturação na qual a primazia deixa de ser dos mecanismos do mercado e passa a ser do Estado, cuja política garante a reprodução da vida econômica.
À vista disto, pode-se entender a crítica de Streeck a certa “confiança” no planejamento mediante as reviravoltas do capital, porém é interessante que o economista alemão fale em greve de investimentos, em ação política das classes e na ideia de que as relações econômicas possuem uma fundamentação política, visto que isto não destoa de uma parte importante do diagnóstico de Pollock a respeito da politização do quadro institucional do capitalismo. E mais: o economista alemão havia pensado em duas possibilidades organizacionais para o capitalismo de Estado, o democrático e o autoritário; desta feita não poderíamos estar assistindo, na verdade, a passagem não para um Estado de consolidação, mas sim para um capitalismo de Estado autoritário? É preciso lembrar que o fato de a economia sofrer menos intervenções da democracia não quer dizer que a política saiu de cena, mas sim um tipo de política: a democracia de massas. Podendo restar aquilo que já era antevisto por Pollock, a saber: a força abismal dos dirigentes de grandes conglomerados e empresas, que, na esteira da monopolização acentuada decisivamente nos primórdios do século XX, passam a ser essenciais na vida social, política e econômica da população, pois, de um lado, o seu poder passa a se confundir com o poder estatal e, de outro, os seus prejuízos passam a ser socializados, dado que a sua falência causaria enorme impacto em toda a economia (Rugitsky, 2015, p. 63). Algo que, salvo engano, foi visto sistematicamente após a crise de 2008 em relação a variadas empresas e bancos, como Goldman Sachs e General Motors. Aspecto que poderia andar muito bem de mãos dadas com o processo de “ desdemocratização do capitalismo por meio da deseconomização da democracia ” (Streeck, 2018, p. 55).
Em relação à geopolítica, há duas ausências importantes na argumentação de Streeck: a primeira é a força da União Soviética e o contexto de Guerra Fria, a segunda são os processos de descolonização que assolaram o capitalismo central. Em relação ao primeiro fator, é possível dizer que a URSS, nas primeiras décadas do século XX, mostrou-se independentemente de se gostar disto ou não como uma alternativa de organização produtiva e social para a forte e organizada classe trabalhadora do centro e da periferia capitalista. Destarte, esses dois fatores um proletariado empoderado e dotado de uma alternativa de poder produziram condições muito importantes para a consolidação de uma série de direitos sociais voltados para o bem-estar e para desmercadorização da população (Esping-Anderser, 1991), ou, como dizia Francisco de Oliveira, os direitos do antivalor (1998). Tanto é que Buci-Glucksmann e Therborn (1981) chegaram mesmo a entender o Welfare State como uma espécie de revolução passiva, na qual as classes dominantes passam a acolher uma série de demandas dos trabalhadores, dado que estão pressionadas política e socialmente pela possibilidade real de uma Revolução.
Já quanto ao segundo elemento elencado, desde o final da Segunda Guerra Mundial e se arrastando pelas décadas de 1950 e 1970, é possível notar um importante processo de descolonização pelo mundo, o que necessariamente implicou na perda relativa de poder político e econômico sobre a periferia do capitalismo mundial, deixando os dependentes do capital nos países centrais preocupados com uma diminuição da lucratividade de atividades organizadas em torno de matérias primas das ex-colônias (Jameson, 1999; Visentini, 2012). Nesse bojo, é notável o caso da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que passou a nacionalizar as reservas petrolíferas e regular seus preços, e que produziu em represália ao apoio dos EUA a Israel na guerra do Yom Kippur a chamada primeira crise do petróleo (Hobsbawn, 1995, p. 421-447). Com a qual, a partir do aumento proposital dos preços dos barris da referida commodity, a OPEP produziu consequências profundas nas economias centrais, cujos índices inflacionários bateram recordes, e que pode ter ajudado a acender o sinal amarelo das elites nacionais sobre os caminhos que o capitalismo democrático poderia traçar contra seus interesses de acumulação.
Ainda nessa seara, outro fato geopolítico importante, e que não aparece na explicação de Streeck, é a concorrência do que Araujo e Bresser-Pereira (2018) chamam de porções não-ocidentais do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. De acordo com estes autores, na esteira dos processos de globalização e descolonização, o que ocorreu não foi a destruição da forma política Estado-nação soberano, mas sim a sua dispersão e depuração mundial. Com isto, tais países alcançaram condições políticas e técnicas suficientes para controlar os recursos minerais de seus territórios e para dispor de um contingente enorme de mão de obra. Fatores que, combinados, passaram a exercer uma profunda pressão sobre os países desenvolvidos do centro ocidental do capitalismo, a qual “acabou afetando, a partir da década de 1970, o modo de legitimação dos Estados sob o chamado ‘consenso socialdemocrata’ dos anos dourados do capitalismo, os quais, após a Segunda Guerra Mundial, puderam oferecer cada vez melhores condições de vida às suas classes médias e populares” (Araujo; Bresser-Pereira, 2018, p. 556).
Desde o começo, salientou-se que a base sobre a qual o estudo de Streeck se concentra são os países desenvolvidos do centro do capitalismo, não obstante o fato de que considerações de economia geopolítica, como as que expomos, não fazerem parte de sua exposição acaba enfraquecendo seu argumento, dado que não se consegue explicar satisfatoriamente as determinações essenciais da estagnação do crescimento dos países centrais, por exemplo. À vista disso, partiremos para a exposição do que consideramos ser problemático no encadeamento expositivo interno do trabalho do economista alemão.
Conforme dissemos anteriormente, os anos de 1970 são chave para a passagem ao início de um adiamento tríplice da crise do capitalismo democrático e para o baixo crescimento econômico do que era antes o centro dinâmico do capitalismo no atlântico norte. No entanto, apesar da centralidade destes dois processos para o livro de Streeck, há três elementos que tornam essas passagens expositivas insatisfatórias.
Em primeiro lugar, como já dissemos no início deste exercício de leitura, as três causas do início da crise adiada a saber, o achatamento do lucro do capital no centro do capitalismo, a radicalização de alguns setores importantes contra a lógica mercantil e o prestígio da ideologia consumista são expostas de forma disparatada no texto, sem maior imbricamento e coesão entre elas, obrigando o(a) leitor(a) a caçar estas explicações ao longo do livro. Prova disto é que, ao longo dos capítulos um e dois, nos quais ele se debruça sobre os momentos de passagem de um capitalismo democrática mais consolidado para os adiamentos de sua crise, poucas são as vezes em que, ao menos, duas das causas expostas acima sejam apresentadas conjuntamente, de modo que durante quase cinquenta páginas é necessário pinça-las no texto. Ademais, a sua apresentação conjunta e imbricada não se dá durante a argumentação do economista alemão.
Em segundo lugar, apesar de Streeck concentrar-se propositalmente nos países desenvolvidos do capitalismo, algumas determinações de seus insucessos econômicos e políticos devem ser buscadas fora deles. Isso não se coaduna com a ideia de que Streeck seria etnocêntrico ou coisa do gênero (cf. Cariello, 2019), mas, tão somente, pretende-se chamar atenção para uma das lições da crítica da economia política de Marx (1983) reivindicada por Streeck contra as teorizações que esquecem das reviravoltas do capital: o fato de que o capitalismo é um sistema totalizante e que impõe a forma mercadoria e sua lógica em todos os cantos do globo e em todas as esferas da vida. Consequentemente, a exposição, mesmo concentrando-se nos países do centro do capitalismo, deveria prestar atenção em determinações que estão fora dele, pois, de acordo com outro ensinamento dos dialéticos, a primazia do método deve estar no objeto e suas implicações, as quais, no caso do capitalismo, são mundiais, queira-se ou não.
Em terceiro lugar, o economista alemão argumenta que haveria, em meados das décadas de 1960 e 1970, uma tendência contrária ao capitalismo e uma tendência que alargaria a sua legitimidade. À princípio, isto não seria em si problemático, porém a exposição do autor não deixa claro como esses dois termos se apresentam na realidade. A partir do que Streeck escreve, mas não desenvolve satisfatoriamente, poderíamos desdobrar a seguinte linha de raciocínio: ao mesmo tempo que segmentos específicos da sociedade, como parte dos trabalhadores, intelectuais e frações jovem e estudantis, tentavam colocar em xeque o sistema, gestou-se uma hegemonia ainda mais forte de legitimação mercantil, a qual enraizou-se de forma mais eficaz na sociedade. Ademais, essa tendência pró-capitalista pôde, ainda, apropriar-se de boa parte das bandeiras levantadas nos movimentos radicais de 1960 e 1970, convertendo-as aos dogmas do capital, apesar de sua aparência libertária. Desta feita, a luta por formas de vida autônomas e contrárias ao poder da mercadoria, fora funcionalizada como engrenagem de um capitalismo mais, aparentemente, flexível e hype.
Notas
1 À vista disto, não há base para Cariello (2019) chamá-lo de eurocêntrico, como se Streeck, espertamente, não tivesse revelado a base a partir da qual estuda mudanças importantes do capitalismo. Na verdade, Cariello é que nitidamente procura uma forma de atacar as posições de Streeck para elogiar as pretensas qualidades distributivas e civilizatórias do capitalismo. Que as pessoas tenham mais alguns dólares hoje do que o que ganhavam três décadas atrás, qualquer estudo empírico revela, mas Cariello esquece de dizer que as jornadas de trabalho no mundo voltaram a ter um nível de destrutividade poucas vezes visto e que, apesar de ganhos miseravelmente maiores, as desigualdades continuam aumentando de maneira gritante (Cf. Streeck, 2018, p.100; Piketty, 2014).
2 À primeira vista, esta crítica a Streeck pode parecer não essencial. Contudo, de acordo com argumento explorado posteriormente, caso o economista alemão tivesse dado maior consequência aos textos de Adorno e Horkheimer, poderia ter chegado a um diagnóstico e a uma crítica mais contundentes ao capitalismo contemporâneo e ao imbricamento ainda mais acentuado da tendência à reificação das subjetividades e ao poder destrutivo do capital, cujo cerne depõe contra o caráter facilmente controlável do capitalismo.
Referências
ADORNO, T. (2003). “Reflections on Class Theory”. In: Tiedemann, Rolf (org.).Can One Live After Auschwitz? A Philosophical Reader. Stanford: Stanford University Press.
ADORNO, T.; Horkheimer, M. (2006). Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
ARAUJO, C.; Bresser-Pereira, L. C. (2018). Para além do capitalismo neoliberal: as alternativas políticas. Dados, 61 (3), pp. 551-579.
BOLTANSKI, L. e Chiapello, È. (2009).O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes.
BUCI-GLUCKSMANN, C. e Therborn, G. (1981).Le défi social-démocrate. Paris: Maspero.
CARIELLO, R. (2019). Eurocentrismo à esquerda.Quatro cinco um: a revista dos livros.1 (20), pp 18.
COOK, D. (1998). Adorno on late capitalism. Totalitarianism and the Welfare State.Radical Philosophy, 1 (89), pp. 16-26.
CROUCH, C. (2009). Privatized Keynesianism: an unacknowledged policy regime.British Journal of Politics and International Relations, 1 (11), pp. 382-399.
ELBE, I. (2013). Between Marx, Marxism, and Marxisms – ways of reading Marx’s theory. Viewpoint Magazine, 21 out. 2013.
http://viewpointmag.com/2013/10/21/ between-marx-marxism-and-marxisms-ways-of-reading-marxstheory [acesso em 04.06.2020].
ESPING-ANDERSEN, G. (1991).As três economias políticas do Welfare State.Lua Nova, 2 (24), pp. 85-116.
FLECK, A. (2016). Necessária, mas não suficiente: sobre a função da crítica da economia na teoria crítica tardia de Theodor W. Adorno.Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, 21 (2), pp. 13-29.
JAMESON, F. Periodizando os anos 60. (1999). In: Hollanda, H. B.Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco.
Kalecki, M. (1943), Political Aspects of Full Employment. Political Quartely, 1 (14), pp. 322-331.
HOBSBAWN, E. (1995). A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras.
HORKHEIMER, M. (2016). On the Sociology of Class Relations. 2016.https://nonsite.org/the-tank/max-horkheimer-and-the-sociology-of-class-relations [acesso em 05.06.2020].
MARX, K. (1983).O capital: crítica da economia política, vol.1, tomo 1. São Paulo: Abril Cultural.
OLIVEIRA, F. de. (1988). O surgimento do antivalor.Novos estudos, 3 (22), pp. 8-28.
PAULANI, L. (2005).Modernidade e discurso econômico. São Paulo: Boitempo editorial.
PIKETTY, R. (2014).O capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca.
POLANYI, K. (2000).A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus.
RUGITSKY, F. (2008). “Friedrich Pollock: limites e possibilidades”. In: Nobre, Marcos (org.).Curso Livre de Teoria Crítica. Campinas: Papirus.
SARTORI, G. (2004). Where Is Political Science Going? Ps: Political Science and Politics, Cambridge, 37 (4), pp. 785-787.
STREECK, W. (2018).Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático São Paulo: Boitempo.Visentini, P. F. (2012).
As revoluções africanas: Angola, Moçambique e Etiópia. São Paulo: UNESP.
DanielaCostanzo – Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
Rafael Marino – Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
Justificação e crítica: Perspectivas de uma teoria crítica da política – FORST (C-FA)
FORST, Rainer. Justificação e crítica: Perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Unesp, 2018. Resenha de: MORALLES e MORAES, Felipe. O que é mais importante vem primeiro. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 24 n 1 Jan-Jun, 2019.
Rainer Forst é um dos mais proeminentes representantes contemporâneos da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Em seu dizer – oportunamente reproduzido na contracapa da edição brasileira publicada recentemente pela Unesp e cuidadosamente traduzida por Denilson Luis Werle –, a filosofia crítica começa com uma tentativa de evitar os “becos sem saída” nos quais a própria filosofia política vem se metendo.
A tarefa que se coloca esse discípulo de Habermas é, como explicado no prefácio, desfazer os dualismos enganadores. À primeira vista, o livro Justificação e crítica consiste em uma reunião de artigos publicados anteriormente, em diferentes locais e sem sistematicidade, como os três capítulos finais que discutem a obra de Henrik Ibsen, Hannah Arendt e a literatura utópica. Há um fio condutor dos artigos reunidos, porém, que é enfrentar falsas oposições, como entre imanência e transcendência; dominação e liberdade; igualitarismo e suficientarianismo; paz e justiça; iluminismo e pós-colonialismo; redistribuição e reconhecimento; a fim de defender que, por trás delas, há algo mais importante, que é o direito fundamental à justificação.
A linhagem kantiana da crítica de Forst é notável. À sua época, Kant tinha por alvo a oposição entre, por um lado, o ceticismo, com sua tese da impossibilidade do conhecimento universal e necessário sobre o mundo; e, por outro lado, o dogmatismo metafísico, com sua pretensão de decifrar o mundo a partir da razão pura. É conhecida a solução kantiana de rejeitar o tribunal tanto da natureza sensível (empirismo), quanto de um ser, bem ou valor superior ao sujeito (racionalismo dogmático), para alçar a razão como o tribunal do uso legítimo e ilegítimo de suas faculdades (racionalismo crítico). A filosofia crítica continua merecendo seu nome na medida em que denuncia as ilusões para as quais é arrastada a razão no interesse emancipatório de conhecer o mundo e agir corretamente.
A tarefa kantiana de Forst não se limita, contudo, a desmascarar essas ciladas da razão, como também faziam, cada um a seu modo, Marx e as primeiras gerações da Escola de Frankfurt. Há um objetivo maior em comparação com esses críticos da modernidade: colocar a razão ao abrigo dos ataques céticos e dogmáticos. Por isso, uma segunda tarefa filosófica que permeia Justificação e crítica é a de fundamentação dos direitos humanos e da justiça. A obra complementa análises precedentes de Forst, nas quais o autor reconstrói e busca superar as aporias do debate entre liberalismo e comunitarismo, em Contextos da justiça, com edição brasileira pela editora Boitempo (2010 [1994]), ou apresenta uma concepção construtivista moral e política da justiça e dos direitos humanos, em Direito à justificação, ainda sem tradução (2012[2007]). Nesta resenha, contento-me em apresentar (1) a resolução forstiana de dois impasses internos à teoria crítica e (2) a fundamentação trazida em Justificação e crítica (daqui em diante JC), para depois tecer (3) alguns comentários sobre a tradução e (4) levantar quatro possíveis objeções ao modelo de teoria crítica em questão.
- O primeiro impasse enfrentado por Forst diz respeito à ideia de crítica imanente da sociedade, que os teóricos críticos tradicionalmente contrastaram com o que seriam críticas transcendentes, platônicas ou idealizadas. O argumento do autor é que essa contraposição mostra-se ilusória, porque ninguém está totalmente inserido em um contexto ou prática social, havendo sempre possibilidade de questionar e criticar reflexivamente essa prática. Os conflitos sociais surgem, com efeito, com um “não” às formas de justificação da dominação existente. Eles estão sempre questionando e transcendendo costumes, relações econômicas e instituições.
Assim, se consideramos os seres humanos como seres que participam ativamente na definição das relações e ordens sociais válidas, estamos diante de um padrão a um só tempo imanente e transcendente. A recusa às justificações vigentes pode ser traduzida como uma pretensão de que as relações sociais não sejam arbitrárias, isto é, que sejam justificadas recíproca e universalmente. Segundo Forst, a razão é, ao mesmo tempo, a mais imanente e a mais transcendente das capacidades humanas: a capacidade de se orientar por justificações. A crítica da sociedade precisa se orientar pelo critério da reciprocidade e da universalidade das justificações, em lugar da divisão artificial entre imanência e transcendência (JC, p. 17-8).1
Outro impasse na teoria crítica que merece destaque está na discussão entre duas gramáticas internas às lutas sociais: redistribuição ou reconhecimento. Trata-se de uma disputa em vários níveis, encabeçada por Nancy Fraser e Axel Honneth.
Ambas gramáticas são indeterminadas do ponto de vista de quais lutas sociais são justificáveis – argumenta Forst. Antes da pretensão por paridade de participação, no modelo de Fraser (duplipartido em redistribuição e reconhecimento), ou da pretensão por reconhecimento, no modelo de Honneth (tripartido nas esferas do amor, da igualdade jurídica e da estima social), é preciso uma gramática normativa que diferencie as pretensões justificáveis das injustificáveis, isto é, aquelas que podem, ou não, ser justificadas de modo recíproco e universal aos que participam nos respectivos contextos de justiça (JC, p. 185 e 192). É certo que, conforme o contexto, surgirão pretensões legítimas de igualdade econômica e política ou de valorização social; primeiro, porém, vem a instância da possibilidade de produzir e questionar essas pretensões. A gramática normativa é a das condições para que os sujeitos se justifiquem e demandem justificações: o direito básico à justificação. A abordagem de Forst é denominada, por isso, “o que é mais importante vem primeiro” – na feliz tradução de das Wichtigste zuerst ou first-things-first da edição inglesa (2014). Ele afirma dar uma “guinada política” diante das abordagens antecedentes, ao colocar em primeiro plano exercício e distribuição social do poder de justificação (JC, p. 196).
Daí repetir Forst nos artigos que a tarefa primeira de uma teoria crítica da justiça é visar ao estabelecimento de uma estrutura básica de justificação na qual as pessoas possuam procedimentos e condições materiais de exigir, produzir e questionar justificações – o que não se confunde, nem exclui, a perspectiva mais utópica de uma estrutura básica justificada, na qual todos os procedimentos e condições materiais foram justificados universal e reciprocamente. Isso lhe permite dar um passo atrás nas disputas entre modelos de justiça distributiva (pois o poder de justificação sobre as estruturas de produção e distribuição antecede a discussão sobre o que será distribuído – recursos, bem-estar ou capabilities ); na tensão entre paz e direitos humanos (porque ambos estão subordinados a um princípio de justiça, que reivindica a entrada no domínio das justificações recíprocas e se contrapõe às injustiças que acompanham conflitos violentos); nas críticas feministas, negras e pós-coloniais contra machismo, etnocentrismo e iluminismo (que se apoiam na exigência de uma justificação aceitável para todos, de modo que é a própria justiça a tornar visível sua realização imperfeita).2
- A fundamentação forstiana do direito fundamental à justificação diferencia-se da fundamentação kantiana, porque se baseia, em lugar de uma razão prática pura, em uma razão que se efetiva contextualmente na forma de justificações. Ela pode ser resumida do seguinte modo. Toda crítica pressupõe a recusa à arbitrariedade. E entende-se como arbitrária qualquer relação que não possa ser razoavelmente aceita por todos os concernidos. Acontece que interesses básicos humanos podem sempre abrigar arbitrariedades. Vínculos afetivos, sentimentos de pertença ou concepções de vida boa (como as emergentes em uma cultura machista, racista, eurocêntrica, por exemplo) podem ser razoavelmente recusados por outras pessoas. Logo, uma perspectiva crítica da sociedade não consegue fundamento racional em interesses humanos básicos. Para Forst, a razão deveria ser compreendida não como um interesse humano básico, mas pura e simplesmente como justificação discursiva. Uma relação deixa de ser arbitrária, então, se ela pode ser justificada discursivamente para todos os concernidos. Logo, a crítica da sociedade pressupõe um poder de todos de exigir, produzir e questionar justificações na sociedade: um direito universal à justificação. A justiça (entendida como negação da arbitrariedade) e os direitos humanos (entendidos como direitos de não se sujeitar ao arbítrio de outrem) têm fundamento nesse direito básico à justificação.
Com essa fundamentação, Forst sublinha que os seres humanos não são seres passivos, necessitados e sofredores, mas sim reivindicam reconhecimento como sujeitos reflexivos e autônomos. Eles não somente participam de relações sociais, normas e instituições que constantemente reivindicam validade, mas também examinam suas justificações, as rejeitam e redefinem. Daí falar de relações sociais como ordens de justificação. A justificação efetiva que legitima e constitui as relações de poder é comparada, em meio aos conflitos sociais, com a justificação devida – que tem a qualidade de ser recíproca e universal. Essa vinculação entre justificações dadas e devidas; entre ordens produzidas por justificações e obstáculos ao direito fundamental à justificação; em suma, entre descrição e normatividade dá-se por meio (i) da descoberta das relações sociais que não podem ser justificadas recíproca e universalmente, (ii) da crítica às justificações falsas ou ideológicas, no sentido de um bloqueio ao direito à justificação, e (iii) da explicação do fracasso ou ausência de estruturas efetivas de justificação (JC, p. 195-6). Nesse sentido, permanece ele no interior da “velha questão de por que a sociedade moderna não está em condições de produzir formas racionais de ordem social”, ou seja, da investigação de por que as ordens de justificação se tornam dominações arbitrárias (JC, p. 20-1).
- Antes de adentrar nas possíveis críticas, três breves questões sobre a tradução.
Werle conserva a tradição da sociologia weberiana de traduzir Herrschaft como “dominação”, a qual aproxima as noções de dominação e legitimidade. Toda forma de dominação é legítima, na medida em que se entenda o conceito de legitimidade em um sentido estritamente descritivo, sem sobrepor um sentido normativo e crítico, como prioriza Forst: a qualidade de uma ordem normativa de explicar e justificar seu poder vinculativo geral aos seus subordinados (2015a, p. 189). Diferentemente da tradição weberiana, porém, Forst distingue a forma neutra (e possivelmente justa) Herrschaft da forma injusta Beherrschung (JC, p. 27). Para reproduzir no português, seria necessário algo como a distinção entre “domínio” e “dominação”, não tão intuitiva ao leitor e que pouco contribuiria para a clareza da argumentação.
Andou bem o tradutor, pois, em se manter fiel à tradição e traduzir Herrschaft e Beherrschung respectivamente como “dominação” e “dominação arbitrária”.
Uma opção que também merece comentário é a tradução da necessidade de um consentimento baseado em procedimentos de justificação institucionalizados e, ao mesmo tempo, em um sentido contrafactual, de modo recíproco e universal, com a expressão “no modo subjuntivo” (JC, p. 51 e 141). Diferente dos equiparáveis im Konjunktiv e konjunktivisch utilizados por Forst, que remetem mais diretamente, na língua alemã, à situação irreal, o subjuntivo da língua portuguesa é um modo verbal que tem vários tempos, dos quais só o pretérito representa um modo contrafactual.
Acredito que, novamente se distanciando do original, mais clara seria a expressão “no modo contrafactual”, como na tradução inglesa (2014, p. 34 e 83). O consentimento é contrafactual porque a pretensão normativa mostra-se válida moralmente na medida em que não lhe podem ser opostas justificações gerais e recíprocas. A pretensão normativa não é rejeitável, o que independe de um consenso ou aceitação efetiva (2012[2007], p. 21).
Uma opção mais polêmica é a tradução da concepção de pessoa de Forst als begründendes, rechtfertigendes Wesen, isto é, como um ser fundamentador e justificador, em termos menos carregados: “como sujeito que fundamenta e justifica” (JC, p. 159). Essa opção oferece mais consistência à argumentação, ao custo de minimizar a pretensão antropológica de Forst, como se verá a seguir.
- O aspecto desconcertante da obra – ou “irritante” para usar a tradução preferida nessa edição (JC, p. 135) – é sua vinculação ao individualismo metodológico: a argumentação parte de conceitos a priori, do “a priori da justificação” (JC, p. 192), em detrimento da análise social e histórica das relações de justificação. Essa análise até aparece no texto, mas só a título de ilustração. Tal ponto foi levantado por Rúrion Melo em sua crítica ao construtivismo moral de Forst: a praxis da justificação funda-se em pressupostos morais que independem da gênese histórica e política e que não oferecem um diagnóstico de época de como as reivindicações por justiça tornam-se reivindicações por respeito aos sujeitos de justificação (2013, p. 26-8). O aspecto metodológico não desmerece, no entanto, os objetivos traçados por Forst de afastar dualismos enganadores e de fundamentar o projeto de uma teoria crítica da justiça.
Na dimensão da ontologia social reside um problema mais grave para a teoria crítica defendida pelo autor. A teoria do direito à justificação não contém só uma tese sobre o domínio da teoria crítica da política (devemos investigar a distribuição do poder de justificação na sociedade), mas também uma tese ontológica (as esferas sociais são ordens de justificação). A questão que se coloca é se não bastaria, em lugar da tese ontológica, uma tese, por assim dizer, sociológica (há uma relação necessária entre esferas sociais e relações de justificação). Soa bastante implausível, com efeito, que todos os fenômenos de dominação operem no interior de ordens de justificação. Ainda que tais ordens existam, estão envolvidas por poderes anônimos – como autovalorização do capital, incremento da técnica, massificação social –, que conservariam sua intensidade mesmo diante de uma estrutura básica de justificação. O que sempre causou perplexidade na modernidade foi por que tantas pessoas se identificam com a desigualdade e a dominação arbitrária e deixam de questioná-las. Seus grilhões não são de ferro, mas imaginários. Que todos tivessem garantias de exigir justificativas dos demais não significa que os poderes sistêmicos seriam amplamente questionados. Se a justificação permanecesse potencialmente aberta, esses poderes ainda não desmoronariam como tais, não ficariam vulneráveis, nem seriam desmascarados como injustificáveis, porque continuariam produzindo, de modo massivo e duradouro, bloqueios à atividade crítica. Daí a dificuldade de pensar em uma primazia ontológica da justificação.
A questão acerca da ontologia social surge sempre e novamente diante das tentativas de compreender a sociedade com base em um eixo único – como acontece comumente em relação ao sistema capitalista (cf. Dardot & Laval, 2016, p. 31 e 3845; Jaeggi, 2015, p. 15) ou à ideia de liberdade (cf.
Honneth, 2011, p. 9 e 35-40). Não é preciso supor metafisicamente, como ainda é comum entre os teóricos críticos, que todas esferas sociais e todos valores da sociedade moderna estejam fundidos em uma lógica, valor ou razão. No caso da teoria crítica de Forst, não é possível ignorar que há ordens que não se estabelecem por justificações, senão por seu bloqueio sistemático. Mais plausível parece supor uma relação necessária entre as esferas sociais e as justificações, mas sem excluir a relação concomitante com estruturas que impedem que as esferas sociais sejam planejadas, controladas ou direcionadas por razões. É o que sinaliza Forst ao mencionar os complexos de justificação ideológica, que naturalizam a dominação e se esquivam de questionamento crítico (JC, p.170). Poderes sistêmicos parecem ser ordens que dependem necessariamente de justificações, mas que dependem delas de uma forma necessariamente preconfigurada e entravada, o que impede a abolição, ou mesmo reforma dessas ordens. Por isso, a dominação sistêmica antes determina justificações do que é por elas determinada.3
Ao responder a críticas contra seu conceito de poder, Forst vai admitir a necessidade de distinguir a dominação relacional da estrutural, insistindo, então, na conexão que existe entre essas estruturas e a produção de justificações e ações dos que se beneficiam delas ou dos que poderiam modificá-las: “nós devíamos nos livrar da oposição não-dialética entre considerações de poder estruturais ou entre agentes [inter-agential], porque claramente precisamos de ambas” (2018, p. 303).4 A sociedade moderna parece estruturada tanto em ordens de justificação, quanto em ordens sistêmicas, mesmo que entre elas subsista uma relação necessária, que se poderia chamar, mais convincentemente, liames de justificação, muito mais frágeis. Isso significa recusar a ontologia social monista de Forst e retornar a uma relação dualista, entre mundo da vida e sistema, como desenvolvido por Habermas (1995[1981]).
Essa crítica à pretensão ontológica da teoria de Forst não afeta, contudo, a abordagem defendida. A preocupação do filósofo alemão é que o direito à justificação precisa considerar o que há de racional na história e manter a distinção entre lutas sociais emancipatórias e não-emancipatórias, entre justificações boas e ideológicas, que é a pressão pela reciprocidade e universalidade adentrando todas esferas sociais, aí compreendidas as esferas de dominação sistêmica (2015c, p. 52-3). O direito à justificação não requer a tese extravagante de que todas as esferas sociais são realmente ordens de justificação. Em suas palavras:
Isso é uma razão importante para separar a análise, primeiro, sobre o exercício de poder entre agentes da análise, segundo, sobre formas estruturais de poder que expressam, constrangem e permitem tais formas de poder e, terceiro, do caráter e formação de recursos inteligíveis [ noumenal ] ou condições de fundo que levam e suportam essas estruturas, especialmente as narrativas de justificação em que se apoiam (2018, p. 306).
Além da crítica ao sentido ontológico da teoria do direito à justificação, é preciso acrescentar uma crítica à sua pretensão antropológica (os seres humanos são seres justificadores), a qual está no centro do argumento da obra Direito à Justificação (cf. 2007, p. 13 e 38-9) e é reproduzida nos trabalhos mais recentes (cf. 2018, p.317-8). Não que a imagem de uma sociedade plenamente transparente e baseada em conteúdos e razões não rejeitáveis razoavelmente entre indivíduos dotados de um direito igual à justificação seja vaga e idealista, que ela abstraia das relações sociais ou que tome os sujeitos como unidades atomizadas. Nada disso. Afinal, as justificações dadas são sempre aqui e agora, conforme a situação e os conflitos reais, envoltas e obscurecidas por emoções, ideologias, ameaças; e as justificações devidas são aquelas voltadas pragmaticamente ao estabelecimento de uma estrutura básica de justificação (JC, p. 143).5 A questão que se coloca é se a ideia normativa de um direito individual à justificação volta a ser escorada em um interesse básico humano.
Em vez de o direito fundamental à justificação ser apresentado somente como condição de possibilidade para qualquer discurso crítico, cai-se na tentação de justificar a justificação. Forst invoca a natureza humana para justificar o dever de reconhecer os outros como seres justificadores, em outras palavras, como seres que usam e necessitam de justificações (JC, p. 159). A carência por justificações e a capacidade de as produzir, exigir e questionar são convertidas em um direito moral, embora possam ser tão arbitrárias quanto qualquer outra carência ou capacidade. A questão é saber se a argumentação forstiana prescinde desse fundamento. De fato, não é necessário vincular o direito à justificação a uma antropologia. Em Justificação e crítica, Forst parte de que não uma capacidade ou carência humana, mas um princípio moral representa o critério último para julgar sobre a legitimidade das relações sociais. A tradução brasileira tem razões, pois, para minimizar o apelo ao ser justificador. Evita-se confundir o fundamento moral do direito à justificação seja com o fundamento em capacidades e carências humanas, seja com o fundamento em uma concepção de vida boa (a vida autônoma e reflexiva), do qual Forst busca se distanciar (JC, p. 90 e 105).
A maneira de conectar a dimensão moral da justificação aos demais contextos da justiça vem a reboque, ainda assim, das pretensões ontológica e antropológica, das quais se tentou resguardar até aqui a teoria crítica de Forst. O direito de recusar razões não-recíprocas e não-universais tem como objeto “toda ação ou norma que pretende ser legítima”, em uma “teoria abrangente dos direitos humanos” (JC, p.111). Acontece que, salvo a dimensão moral, as razões para agir não são recíprocas e universais. A justificação das ações individuais é incapaz, na maioria dos casos, de generalização, pois depende de premissas éticas, econômicas, jurídicas ou políticas compartilhadas, sem as quais não há ação justificada. Nesse aspecto, Seyla Benhabib tem razão em apontar que reciprocidade e universalidade funcionam para justificar deveres perfeitos, em uma estrutura básica de justificação, não deveres imperfeitos.
É incompreensível como tais critérios poderiam guiar agentes individuais na justificação discursiva de suas ações éticas, políticas, jurídicas e econômicas (2015, p. 5-7). Respondendo, Forst exemplifica que a reciprocidade exclui o apelo a verdades religiosas ou à vontade da maioria para proibir a construção de minaretes ou o uso de vestes religiosas pelas mulheres (2015b, p. 50), o que está correto; todavia, a reciprocidade nada esclarece se o patrimônio urbanístico deve ter preferência à construção de templos, se certas vestes devem ter primazia à igualdade de gênero, quer dizer, acerca de conflitos entre valores e razões diferentes e irreconciliáveis. As dificuldades emergem na medida em que o direito à justificação seja alçado a uma teoria moral abrangente, capaz de regular todas as ações que tocam outras pessoas, em vez de uma teoria política, no sentido rawlsiano do termo (2005[1993], I, §2).
Nenhuma dessas críticas obscurece o que se pode reconhecer como avanços importantes na teoria crítica contemporânea, em razão do esforço de Forst de “limpar o terreno” dos “entulhos conceituais” acumulados nas controvérsias sobre esse modo de fazer filosofia. Trata-se de uma obra incontornável para todos que se engajam na tarefa de fazer um diagnóstico das sociedades contemporâneas do ponto de vista emancipatório, isso quer dizer, da justiça.
Notas
1 Essa questão vai ser retomada na obra mais recente de Forst (2015a, p. 13-5).
2 Sobre esse último ponto, ver especialmente os argumentos de Forst contra as críticas feministas à ideia de pessoa de direito e às linguagens políticas universalistas (1994, p. 117-123 e 199-209).
3 Devo essa ideia de poder sistêmico a conversa com José Ivan Rodrigues de Sousa Filho.
4 Sobre isso, ver respostas a Steven Lukes, Clarissa Hayward e Albena Azmanova (2018).
5 Forst insiste nesses pontos ao responder às críticas de que sua teoria seria ingênua e racionalista quanto às motivações humanas, ou excessivamente vaga e abstrata quanto à determinação dos direitos humanos, como acusam Seyla Benhabib (2015b), Simone Chambers (2015c), Simon Susen, Steven Lukes, Mark Haugaard e Matthias Kettner (2018).
Referências
BENHABIB, S. (2015). The uses and abuses of Kantian rigorism. On Rainer Forst’s moral and political philosophy.Political Theory, 43 ( 6 ), pp. 1-16.
DARDOT, P., & Laval, C. (2016).A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal [2009]. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo, SP: Boitempo.
FORST, R. (1994).Kontexte der Gerechtigkeit: Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
____________. (2010).Contextos da justiça: Filosofia política para além de liberalismo e comunitarismo [1994]. Tradução de Denilson Luis Werle. São Paulo, SP: Boitempo.
____________. (2012).The right to justification: Elements of a constructivist theory of justice.Translated by Jeffrey Flynn [2007]. New York: Columbia University Press.
____________. (2011).Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse: Perspektiven einer kritischen Theorie der Politik.Berlin: Suhrkamp.
____________. (2014).Justification and critique: Towards a critical theory of politics.Translated by Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press.
____________. (2015a). Normativität und Macht: zur Analyse sozialer Rechtfertigungsordnungen.Berlin: Suhrkamp.
____________. (2015b). The right to justification: Moral and political, transcendental and historical: reply to Seyla Benhabib, Jeffrey Flynn and Matthias Fritsch.Political Theory, 43 ( 6 ), pp. 46-61.
____________. (2015c). A critical theory of politics: Grounds, method and aims. Reply to Simone Chambers, Stephen White and Lea Ypi. Philosophy and Social Criticism, 41 ( 3 ), pp. 225–34.
____________. (2018). Noumenal power revisited: Reply to critics. Journal of Political Power, 11 ( 3 ), pp. 294-321.
HABERMAS. J. (1995).Theorie des kommunikativen Handelns: zur Kritik der funktionalistischen Vernunft [1981]. Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
HONNETH, A. (2011). Das Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit Frankfurt am Main: Suhrkamp.
JAEGGI, R. (2015). O que há (se de fato há algo) de errado com o capitalismo? Três vias de crítica do capitalismo [2013].Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, 20 (2), pp.13-36.
MELO, R. (2013). Crítica e justificação em Rainer Forst. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, 22, pp. 11-30.
RAWLS, J. (2005).Political liberalism [1993]. Expanded edition. New York: Columbia University Press.
Felipe Moralles e Moraes – Universidade Federal de Santa Catarina E-mail: [email protected],
Como nasce o novo: Experiência e diagnóstico de tempo na Fenomenologia do espírito de Hegel – NOBRE (C-FA)
NOBRE, Marcos. Como nasce o novo: Experiência e diagnóstico de tempo na Fenomenologia do espírito de Hegel. São Paulo: Todavia, 2018. Resenha de: CAUX, Luiz Philipe de. Sobre jovens e velhos: Marcos Nobre entre Fenomenologia e Sistema. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 23 n.2 Jul-Dez, 2018.
Tornou-se comum no último meio século – pense-se paradigmaticamente em Honneth – narrar filosoficamente a história da teoria crítica da sociedade como uma trama de sucessivas oportunidades vislumbradas, porém perdidas, para uma adequada crítica da dominação.2 Numa das variantes desse verdadeiro paradigma narrativo estabelecido, caberia a cada vez recuperar as intuições de juventude não desenvolvidas por filósofos sociais que, em vez de amadurecê-las, delas se extraviaram, se tornando velhos incapazes de ver a emergência da novidade. Em sendo prima facie “apenas” uma (excepcional, diga-se de passagem) leitura estrutural da Introdução da Fenomenologia do espírito, o recente livro de Marcos Nobre, Como nasce o novo, esboça praticamente uma teoria geral desse suposto enrijecimento da crítica e vai buscar de modo metacrítico no jovem Hegel um antídoto contra esse envelhecimento. Seu empreendimento levanta hipóteses fecundas e mostra, sem dúvida, um caminho para escapar do estado há anos estacionado e estéril da teoria crítica neofrankfurtiana. Sugiro aqui, no entanto, uma avaliação de até que ponto o próprio Nobre responde satisfatoriamente a suas pretensões e propósitos. Trata-se de objetivos que o resenhista acredita compartilhar com o autor, de modo que o sentido dessas considerações é o de um debate franco sobre o melhor modo de alcançar certos objetivos comuns.
A ligação entre os dois planos tão díspares do livro, a leitura estrutural de um texto clássico e a metacrítica da (pré-)história da teoria crítica, é feita pela mediação de uma chave de interpretação do texto hegeliano como aquilo que Nobre chama de “modelo filosófico”, isto é, uma interpretação que postula a sua autonomia e subsistência como obra fechada e apartável de uma consideração sistematizante da obra de Hegel como um todo, levando em conta ainda a sua relação não com as intenções subjetivas do filósofo, mas com a experiência objetiva do tempo à qual o livro responde, ou, na expressão reiterada por Nobre, com as suas condições de produção intelectual. Numa palavra, a tese central de Nobre é que a Introdução da Fenomenologia absorveria e registraria na forma de um programa de método filosófico a eufórica experiência da emergência do novo vivida nos tempos de sua redação (a entrada da modernização a cavalo na Prússia), servindo como que de arquétipo de um modo “jovem” de se fazer teoria crítica que deveria ser recuperado. Nobre divide sua exposição em duas partes principais, o “trabalho de análise e comentário do texto da Introdução” e a sua própria “tomada de posição” em relação a ele.
3 Na ordem da apresentação, esta vem antes daquele, com o próprio texto de Hegel intercalado, vertido novamente para o português pelo próprio Nobre. Inverterei aqui esta ordem, passando, entretanto, apenas brevemente pelo comentário ao texto hegeliano e dirigindo o interesse sobretudo à posição de Nobre sobre “a importância desse modelo de pensamento para o momento presente” (p. 9).
A sempre mais estreita especialização imposta pelo modo de operação das universidades e sua distribuição de recursos inibe entre nós a produção de trabalhos como o de Nobre. Reconhecido como um “especialista” nas tradições frankfurtianas, o autor realiza uma exegese de Hegel que não fica aquém da primeira linha de obras de hegelianos brasileiros – o que não surpreende em vista da notória competência transdisciplinar de um filósofo que se destacou nos últimos anos como um dos mais importantes analistas da conjuntura política. O texto é informado em particular pela literatura secundária clássica e mais recente alemã, francesa, estadunidense e brasileira e oferece amparos sólidos para suas teses interpretativas centrais em substanciosas notas de rodapé, entregando ao leitor ainda um panorama das interpretações divergentes encontráveis. Estas teses, para ir logo ao ponto, dizem respeito aos momentos de início e de conclusão da Fenomenologia. Trata-se para Nobre de descerrar o texto desses limites iniciais e finais e mostrar que o livro não começa nem termina onde se costuma fazê-lo começar e terminar. Essa reabertura do texto é justificada ainda extratextualmente pela remissão a dois fatos contextuais: o de que Hegel escreveu a Fenomenologia e, em particular, a sua Introdução, como introdução a um sistema ainda inconcluso (isto é, como a entrada em um sistema fechado ainda aberto ); e isso no exato momento em que os exércitos franceses e, junto com eles, a ordem político-econômica burguesa, conquistavam a Prússia e aceleravam a dissolução da ordem feudal ali vigente (entenda-se: no momento histórico em que um potencial revolucionário se atualiza sem que se saiba ainda aonde vai dar). É como se, na Fenomenologia, Hegel tivesse cristalizado o próprio processo aberto, produzido algo que ainda não sabe o que é, trazendo a abertura de seu próprio tempo ao conceito.4
Intratextualmente, isso significa sustentar, por um lado, que no livro de 1807 o movimento da experiência não tem início, como em geral se sustenta e como a própria obra induz a ser lida, com o momento da certeza sensível, mas já antes na Introdução. Em outras palavras, na Introdução, já estaríamos no interior da experiência fenomenológica, que pega o bonde em movimento no seu exato tempo presente e o toma como pressuposto para poder negá-lo de modo determinado.
Esse pressuposto atual inescapável, no qual a experiência começa apenas a fim de negá-lo, é uma concepção representativa de conhecimento que Nobre, na esteira da primeira frase da Introdução, chama de “representação natural” (correspondente em certa medida, mas não de modo tão determinado, à concepção kantiana de conhecimento). Essa “representação natural” é levada às suas últimas consequências e o resultado é uma concepção “apresentativa” de conhecimento (concepção que se revela, num nível “meta”, como a que acabara de estar em ação nessa apresentação da passagem da representação à apresentação). Tendo entendido a si mesma, vindo a saber que não tem nenhuma “fixidez ontológica” e retirado o entrave da concepção representativa de conhecimento do caminho fenomenológico, a experiência precisa então retornar à certeza sensível como modo de recuperar a história de como se prendeu às positividades prévias e de como delas se desprendeu, e assim reabrir no presente o caminho para o novo. A outra tese interpretativa central é a de que a passagem da razão ao espírito no meio do livro não representa uma ultrapassagem do ponto de vista da experiência, que na verdade caminha até o saber absoluto na conclusão do livro. Também o saber absoluto é, para Nobre (apoiado parcialmente em Hans Friedrich Fulda), experiência da consciência, e não recai, portanto, num ponto de vista de Deus que seria aquele típico do sistema enciclopédico. A tese de Fulda é que o saber absoluto ainda é um saber experimentado, finito, de modo que também ele precisa ainda se pôr em movimento (p. 45). Mesmo que em formulações distintas, essa é por excelência a compreensão “jovem-hegeliana de esquerda” (à qual Nobre se filia (p. 220)), para a qual o sistema pronto e acabado de Hegel, justamente ao ser levado a sério em seu teor de verdade, entrava novamente em contradição na experiência com a realidade irreconciliada, exigindo a emergência de uma nova suprassunção, dessa vez prática.
As duas teses interpretativas de Nobre sobre o início e o fim da Fenomenologia – a) a de que o movimento dialético da experiência tem início já na Introdução e, nesse sentido, inicia sua dança lá onde se encontra a rosa, em sua experiência histórico-filosófica presente, e b) a de que esse movimento não termina onde parece terminar, mas projeta-se para além de si mesmo, uma vez que permanece finito –, essas duas teses convergem para a definição de “modelo filosófico” como obra que responde a seu tempo e que se sustenta sem recurso aos demais momentos da obra do autor. A ideia é que a Fenomenologia, ao contrário do estabelecido hegemonicamente na literatura secundária, não pressuporia o sistema pronto e acabado. Ela é “simplesmente” um engajamento filosófico crítico com o estado de coisas presente, sem ancoramento numa verdade definitiva atemporal (o sistema, do qual Hegel ainda não dispunha), e que começa sua ação partindo não de uma abstrata experiência imediata em geral (certeza sensível), mas sim da sua própria experiência imediata concreta (a concepção representativa de conhecimento), a fim de eliminar os entraves para a emergência de um novo que, de resto, já marchava ao seu encontro. A Introdução da Fenomenologia se destacaria então como texto paradigmático para a determinação da tarefa da crítica em geral porque, no corpus da obra de Hegel, é o local inaugural onde o filósofo se dirige precisamente aos “entraves autoimpostos” de seu tempo, a fim de eliminá-los e de liberar o automovimento do conceito.
Mas a caracterização da Fenomenologia como “modelo” possui ainda um aspecto decisivo para o horizonte do trabalho de Nobre. Não se trata apenas de dizer que o texto de 1807 para em pé sem o escoro da Lógica ou da Enciclopédia, isto é, do sistema em geral. Se a Fenomenologia é um “modelo” que responde a um diagnóstico de tempo específico, o programa filosófico da Enciclopédia, no qual se encaixam, por exemplo, a Lógica e a Filosofia do Direito, é, por sua vez, um “modelo” distinto que só emerge pela necessidade de reagir a um outro diagnóstico. “Mudanças na posição de Hegel estão necessariamente vinculadas a mudanças de diagnóstico de tempo”, diz Nobre (p. 23).5 O autor não é obviamente o primeiro a constatar essa relação, mas sua originalidade está nas consequências teórico-programáticas que deseja dela derivar. Para Nobre, trata-se buscar as “afinidades desse modelo filosófico [da Fenomenologia ] com o momento atual e suas condições de produção intelectual” e “projetar Hegel para além de 1807” (p. 10). A fim de verificar a plausibilidade desse programa hoje, é preciso entender melhor que passagem foi aquela que teria levado Hegel à necessidade de formular um novo “modelo”.
A Fenomenologia se distinguiria enquanto “modelo” por dar conta de uma transformação epocal em curso, a invasão napoleônica na Prússia e a consequente modernização das suas relações políticas, econômicas e sociais, da qual Hegel era, todavia, partidário. O “nascimento do novo” ao qual Hegel quis fazer jus em seu texto corria em paralelo com as transformações radicais que vinham do outro lado do Reno. Em registro filosófico, Hegel deveria dar conta do fato de que “o nascimento do novo se dá em uma situação de descompasso entre uma consciência que ainda não está à altura da real novidade do seu tempo (que corresponderia ao que Hegel chama de consciência ‘natural’) e aquela forma de consciência (chamada de ‘filosófica’ pela bibliografia hegeliana) que alcançou uma compreensão de seu tempo em todos os seus potenciais” (p. 18). A “real novidade” é, obviamente, a deposição do Antigo Regime e a instauração de uma ordem burguesa.
É como se se tratasse então de elevar a filosofia ao nível de racionalidade já atingido pelas relações sociais reais.
Mas há algo de incomodamente delicado nessa tese: o nascimento do novo de Hegel é então não mais do que a atualização do (aqui) atrasado à altura de um novo (alhures) já surgido? Se não quisermos enfraquecer o argumento a tal ponto, é preciso antes compreender que espécie de “novo” Hegel pretende de fato estar vendo emergir, um novo que não apenas acertasse os ponteiros com o fuso francês, mas lhe fizesse avançar mais um grau do relógio histórico. Mas este é o momento em que Nobre diverge e prefere não acompanhar o envelhecimento do filósofo.
Ora, o “novo” que emerge após a Fenomenologia e a ocupação francesa é justamente a Restauração e aquilo que, para Nobre, é seu correlato filosófico: o sistema. Trata-se, aos olhos da obra de maturidade de Hegel, ou, se se quiser, de seu novo “modelo”, efetivamente de uma nova figura do espírito do mundo na qual a própria negatividade que girava em falso e jacobinamente é institucionalizada e pode operar de modo “seguro”, preenchido por “relações éticas”. Em outras palavras, trata-se daquele momento “alemão” do desenvolvimento do espírito, no qual a liberdade sabe a si mesma como fundamento das ordens sociais e assim finalmente se reconcilia consigo mesma e forma sistema. “A modernidade” – e cabe acrescentar, em particular a “modernidade normalizada” após o Congresso de Viena – “é a primeira época a comportar e suportar o negativo dentro de si, a primeira época capaz de ir além de si mesma sem sair de si mesma” (p. 61).
Mas, se assim é, então não tanto a interpretação de Nobre da Fenomenologia, mas sua ideia de recuperá-la como “modelo” para o presente, se encontra diante de um dilema. Pois se a noção de “modelo” associa conteúdos filosóficos às experiências históricas objetivas com as quais tiveram de lidar, é em face de cada diagnóstico que os “modelos” podem ser julgados como “bons” ou “ruins”, se não se quiser recair em um historicismo no qual todos os “modelos” são igualmente bons porque são sempre adequados a seus respectivos presentes.
O próprio Hegel parece ter entendido que o sistema filosófico enciclopédico fechado e a nova organização social alemã “normativamente autocertificada” (para usar uma expressão de Habermas cara a Nobre) correspondem de fato àquele “novo” que deveria ser desbloqueado para perseguir e levar adiante a trilha de transformação reaberta com a Revolução Francesa (como Nobre mostra em pp. 52-61). Cada “modelo” hegeliano seria então igualmente bom, pois encontraria seu critério de avaliação na respectiva experiência histórica. Mesmo que se admita, portanto, que a Fenomenologia é um “modelo” no sentido de não carregar o sistema dentro de si como seu pressuposto, o que faz dela um modelo a ser “atualizado” hoje (p. 61)? Também essa pretensão não é contraditória? Se se trata sempre de modelos e se modelos são dependentes de diagnósticos, que sentido há em projetar um modelo para além de seu diagnóstico? A não ser que se sustente uma analogia de diagnósticos entre o Brasil de 2018 e a Prússia de duzentos anos antes, como essa “atualização” é possível? Qual é a experiência de emergência do novo hoje à qual a filosofia teria de fazer jus? O caminho de atualização de Nobre, no entanto, não passa por um diagnóstico, embora poucos filósofos entre nós estejam tão atentos ao presente e bem preparados para oferecer um quanto ele ( vide sua inteira atividade como intelectual público).6 Em vez disso, Nobre percorre outra vez algumas estações da história do hegelianismo de esquerda a fim de mostrar como alguns dos filósofos dessa tradição (em particular Marx, Lukács e Honneth) apresentariam um modo semelhante de “envelhecer”, passando, como Hegel, de uma fase “fenomenológica” a uma fase “sistêmica” ou “enciclopédica”. A analogia soa apressada e demandaria de Nobre mais material de convencimento.7 Em todo caso, ela se dá pela tradução daquele modo jovem, fenomenológico e aberto ao novo de se fazer teoria social pela chave da “visada da subjetivação da dominação”. Cada um destes autores teria privilegiado em sua obra de juventude a análise de como a dominação social tem vez junto ao próprio processo de formação da subjetividade, mas teria sentido a necessidade de formular outros modelos em razão de seus respectivos diagnósticos ulteriores (Marx, com sua revolução que nunca chega; Lukács, com a redução dos potenciais emancipatórios liberados na Revolução Russa com a burocratização e o socialismo de um só país da União Soviética; Honneth, com a colocação em risco e a necessidade de salvaguardar os “progressos” morais da geração de 68). Obras tão díspares como O Capital, Ontologia do ser social e O direito da liberdade teriam em comum serem obras “enciclopédicas”, cuja compreensão sistemática pronta e acabada do mundo recalcaria o momento fenomenológico, que, na definição do autor, “concede um lugar de destaque aos processos de subjetivação da dominação em toda a sua complexidade e sem a unilateralidade da primazia de uma determinação da subjetividade pelas estruturas de dominação” (p. 63).
Pois bem, se o propósito de “atualizar” o “modelo” da Fenomenologia não é justificado, como parecia necessário, por uma analogia dos diagnósticos de tempo de outrora e de hoje, 8 ele parece sê-lo, então, por essa tomada de partido de Nobre pela prioridade da tarefa de investigação da subjetivação da dominação e das formas de resistência à integração total. Ao cabo, Nobre advoga que a Introdução da Fenomenologia é hoje o modelo que, devidamente “atualizado”, poderia abrir caminho para a teoria crítica escapar do “reconstrutivismo” (velhohegeliano) em que se encontra. Em vez de “reconstruir” critérios da crítica lá onde estão institucionalmente estabelecidos, a teoria deveria se voltar, se leio bem as entrelinhas do texto de Nobre, a uma normatividade reprimida ou que vigora às margens, abafada e refugiada, enquanto mera ideia, na subjetividade de grupos oprimidos. Verificar como a dominação é introjetada seria ao mesmo tempo verificar como ela poderia não o ser. Em conclusão, caberia apenas perguntar se o que Nobre quer recuperar então não seria antes o jovem Honneth que o jovem Hegel.
A formulação sintética dada por Nobre para a caracterização dos modelos “de extração fenomenológica” (a “visada da subjetivação da dominação”) parece, ao fim da leitura da Introdução da Fenomenologia, na verdade mais próxima dos primeiros trabalhos de Honneth do que do dialético Hegel9 Não é claro no texto de Hegel lido por Nobre de que modo o complexo programa de (não-)método desenvolvido pelo filósofo pode ser reduzido a uma consideração teórica das lacunas e falhas da integração social tendencialmente total representadas por aquilo que, nos sujeitos, recalcitra à subsunção no universal. Se a Fenomenologia representa de fato, como sustenta Nobre, um modelo para a crítica radical que visa desbloquear o movimento do seu objeto através da recepção ativa de sua própria negatividade, então a ideia de que a transformação do objeto ocorre pela oposição a ele dos restos e falhas nas quais ele não se efetivou plenamente já é uma projeção subjetiva da teoria sobre o objeto e representa exatamente aquilo que Hegel deseja superar, aquela concepção que Nobre chama de “representação natural”. Isso porque opera implicitamente com a ideia restrita de que a negatividade a ser acolhida pela teoria está localizada nos excessos de subjetividade não integrada. Essa concepção parece confundir, no conceito hegeliano de “experiência”, a subjetividade da consciência que experimenta o movimento do objeto (i.e., a subjetividade do teórico) com a subjetividade do indivíduo não completamente integrado, que só pode aparecer, de fato, como objeto da experiência do teórico. Significa, ademais, tomar as lacunas de integração (as “práticas de resistência e contestação à dominação em suas múltiplas dimensões” (p. 71)) como ponto de ancoragem da crítica e esperar que a superação de um estado atual venha justamente do seu “lado de fora”, daquilo que não está subsumido à sua lógica.10 O objeto é cindido num universal a ser negado e num particular afirmado e a crítica perde a imanência ao objeto, a sociedade, – pois não há crítica imanente onde o seu objeto não pode ser sintetizado especulativamente como um objeto único em movimento (e este sim me parece ser o sentido da Introdução e sua lição para a teoria crítica). O próprio Honneth, que iniciou sua proposta de reformulação da teoria crítica nos termos ora repropostos por Nobre, não a abandonou porque se tornou um velho saudosista de 68, mas porque percebeu as aporias a que aquela posição conduzia: a aparente recalcitrância à integração na ordem de dominação não faz por si só da subjetividade marginal um ponto de ancoramento para a crítica, o que deveria ser claro em tempo de eleitores de Trump, da Alternative für Deutschland ou de Bolsonaro. Na teoria, a subjetividade antagônica apenas posterga o momento em que é preciso diferenciar entre a “boa” oposição e a “ruim”, e nesse caso o critério é extrassubjetivo. Assim, o Lukács de História e Consciência de Classe (que comparece em Nobre como exemplo de autor “jovem”) teve de se apoiar numa análise de crítica da economia política para indicar o proletariado como aquele que poderia se subjetivar em acordo com sua própria essência; e, mais tarde, Honneth teve de buscar nas expressões conceituais das regularidades da integração social funcional o critério das reivindicações de reconhecimento boas e ruins. Se ser “jovem” em filosofia é dedicar-se à análise da subjetivação da dominação, os jovens deixaram de ser jovens justamente quando levaram esse problema a sério e enxergaram que ele não se resolve na subjetividade; ou que a subjetividade é porta de acesso e obviamente não pode ser desprezada, mas precisa passar a uma análise mais aprofundada da pré-constituição objetiva da subjetividade. Em outras palavras, os “velhos” tiveram muitas vezes seus bons motivos para envelhecerem, e fizeram sim, em parte, justiça ao mundo em se tornando sistemáticos, porque a estruturação social possui sim um caráter tendencialmente sistemático. Justamente por o possuir, ela determina a subjetivação até mesmo lá onde parece não determinar, e a subjetividade antagônica é ela mesma também marcada por ser subjetividade antagônica à ordem de dominação e estar, portanto, determinada por essa ordem de dominação, não ser a ela externa e não poder ser tomada por critério de sua crítica.
Por isso compra-se sempre o risco, ao privilegiar a subjetividade já encontrada dada na realidade, de se estar sendo afirmativo do mundo, mas com a aparência de se o estar negando. Adorno disse uma vez que “apenas quem reconhece o mais novo como o mesmo serve àquilo que seria distinto” (Adorno, 2003, p. 376). A proposta de Nobre arrisca-se a, em vez de instigar e participar do “nascimento do novo”, afirmar nostalgicamente o “bom e velho” que ainda não cedeu ao universal e representa assim antes um resquício de uma figura anterior do q ue um anúncio de uma que surge.
Notas
1 O autor agradece o acolhimento gentil do prof. Marcos Nobre na leitura da resenha.
2 Esta espécie de romance de “deformação” dos filósofos-lidos (espelhado numa implícita história da formação do filósofo-leitor) é a estrutura da narrativa conceitual, por exemplo, de Crítica do Poder (Honneth, 1989 [1985]) em geral e de Luta por Reconhecimento (Honneth, 2003 [1992]), no que diz respeito à leitura de Hegel.
3 “E, no entanto, realizar essa necessária tomada de posição juntamente com um trabalho de análise e comentário do texto da Introdução prejudicaria consideravelmente a exposição. A solução foi expor essa tomada de posição separadamente” (p. 9). A opção de exposição/método de Nobre contrasta notavelmente com aquela, todavia de elevadas pretensões, da própria Fenomenologia : “O mais fácil é julgar o que possui um teor e uma solidez, mais difícil do que isso é apreendê-lo, e o mais difícil é produzir a sua exposição, o que unifica a ambos” (Hegel, 1986 [1807], p. 13).
4 “O modelo teórico legado pela Fenomenologia tem, portanto, pelo menos dois aspectos característicos: o de um work in progress em sentido mais restrito, que resultou no próprio livro publicado, e o de um work in progress em que um Sistema da ciência a ser produzido permanece como horizonte, configurado em um diagnóstico de tempo de intenção sistemática” (p. 47).
5 Cf. a distinção útil feita por Nobre entre “diagnóstico de época” e “diagnóstico do tempo presente” (p. 280-1, n. 28).
6 E embora sugira ainda que “a Teoria Crítica poderia deixar para trás o fardo da ‘melhor teoria’ em que se embrenhou nas últimas décadas, voltando a conceder ao diagnóstico de tempo presente a primazia que sempre teve na melhor tradição marxista” (p. 80).
7 Cf. afirmações como a seguinte: “Se História e consciência de classe pode ser entendido como a Fenomenologia de O Capital, a Ontologia do ser social pode ser lida, analogamente, em termos de uma versão materialista da Enciclopédia de Hegel” (p. 64).
8 “Atualização” significa aqui antes um update ao “estado da arte” da filosofia do que uma verificação da sua relação com a situação história presente: “assim como uma atualização do projeto da Fenomenologia teria hoje de proceder a uma reconstrução em termos comunicativos da noção de ‘espírito’ (a ser realizada segundo a noção de ‘experiência’), a ideia de ‘formação’ teria de ser ela mesma reconstruída nesses termos, de maneira a libertá-la do macrossujeito que pressupõe” (p323, n. 95).
9 Trata-se de uma filiação expressa: “É desse ponto de vista que se pretende jogar nova luz sobre um modelo de renoção da Teoria Crítica considerado aqui de extração fenomenológica como o oferecido por Luta por reconhecimento – ou, talvez, mais precisamente, aquele veio de atualização aberto por Crítica do Poder ” (p. 81). Cf. ainda, ilustrativamente, a semelhança quase parafrástica do penúltimo parágrafo de Nobre (“E a crítica dessa invisibilidade é o que faz desse livro [a Fenomenologia ] um modelo filosófico ainda hoje um ponto de partida talvez incontornável para uma Teoria Crítica da sociedade que tenha por objetivo não apenas investigar a cunhagem da subjetividade pelas estruturas de dominação, mas igualmente os processos de subjetivação em que surgem os potenciais não só de resistência, mas também de superação da própria dominação” (p. 238)) e o modo como Honneth define a tarefa da teoria crítica no posfácio de Crítica do poder (“hoje um problema-chave da teoria crítica da sociedade é representado pela questão de como pode ser obtido o quadro categorial de uma análise que seja ao mesmo tempo capaz de abarcar, com as estruturas de dominação social, também os recursos sociais para sua superação prática” (Honneth, 1989 [1985], p. 382).
10 Em termos semelhantes, Nobre se refere a uma passagem de Adorno, na qual este estaria a dizer, na sua intepretação, que “integração” e “resistência” se relacionariam “como água e óleo” (p.75). Tanto a interpretação da passagem parece estar equivocada (o que infelizmente não pode ser discutido aqui), quanto, como dito, essa parece ser antes uma implicação do programa de Nobre
Referências
ADORNO, T. W. (2003 [1942]). „Reflexionen zur Klassentheorie“. In: ________.Soziologische Schriften I (= Gesammelte Schriften, 8 ) (pp.373-391). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
HONNETH, A. (1989 [1985]).Kritik der Macht: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Mit einem Nachwort zur Taschenbuchausgabe. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
____________.(2003 [1992]).Luta por reconhecimento : A gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz Repa. São Paulo: Editora 34.
Hegel, G.W.F. (1986 [1807]).Phänomenologie des Geistes (= Werke 3). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Luiz Philipe de Caux – Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: [email protected]
Filogênese na metapsicologia freudiana – CORRÊA (C-FA)
CORRÊA, Fernanda Silveira. Filogênese na metapsicologia freudiana. Campinas: Editora Unicamp, 2015. Resenha: SILVEIRA, Léa. Freud e o peso do gelo. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v.22, n.1, jan./jun., 2017.
Su, straniero, ti sbianca la paura!
E ti senti perduto!
Su, straniero, il gelo che dà foco,
che cos’è?
(Turandot, ópera de G. Puccini, libreto de G. Adami e R. Simoni)
Conhecemos bem a advertência com que V. Goldschmidt encerra seu ensaio sobre o tempo na interpretação de sistemas filosóficos, aquela que se refere ao recurso a textos póstumos no estudo da história da filosofia. Para se situar no tempo lógico e assim pretender alcançar o movimento e a estrutura do pensamento, o intérprete deve privilegiar a “obra assumida” e se precaver contra o perigo de camuflar a obra publicada a partir de argumentos apenas manuscritos. “Notas preparatórias, onde o pensamento se experimenta e se lança sem ainda determinarse”, ele escreve, “são léxeis sem crença e, filosoficamente, irresponsáveis; elas não podem prevalecer contra a obra, para corrigi-la, prolongá-la, ou coroá-la, e desse modo, falseá-la” (Goldschmidt, 1970, p.147). Ora, nenhum preceito poderia talvez ser mais equivocado, em termos de método de leitura, quando se trata de ler Freud. Se bem que seja controversa a possibilidade de aplicação de uma metodologia estrutural stricto sensu à obra freudiana, certo é que, concordando-se ou não com tal possibilidade, ninguém negaria hoje a importância de se considerar o famoso Projeto de uma psicologia, seja qual for o viés de leitura que se imprima ao lugar dessa consideração, para a compreensão do pensamento de Freud. Quer se trate de traçar a gênese dos conceitos da metapsicologia, de recuperar o movimento pelo qual Freud direcionou seus esforços iniciais para conferir inteligibilidade à neurose, ou mesmo de compreender algumas das diretrizes implicadas em sua ontologia do psíquico, nenhuma dessas discussões filosóficas maiores relativas à psicanálise poderia hoje, é seguro dizer, passar ao largo desse rascunho de 1895, descoberto na correspondência endereçada a W. Fliess e publicado pela primeira vez apenas em 1950, mais de dez anos após a morte de Freud. Muito provavelmente essa afirmação seja tomada como algo bastante trivial. O que talvez não seja trivial ou muito veiculado é que temos desde 1985 acesso a um segundo rascunho póstumo de Freud (1987). Ou, à guisa de afirmação menos inflada, talvez não seja muito conhecido o alcance do conteúdo desse segundo rascunho em sua obra, o que coloca, por si só, uma questão curiosa e bem legítima: será que há algo nele que incomoda os leitores de Freud? Conteria ele elementos de um pensamento que não se quer reconhecer como freudiano? Não pretendo responder a essa pergunta aqui, mas fato é que não é comum ver as pesquisas sobre a teoria freudiana, mesmo aquelas empreendidas no âmbito da filosofia, enfrentarem a tão espinhosa hipótese filogenética exposta sistematicamente neste que seria o décimo segundo artigo metapsicológico, mas presente de um modo mais ou menos fragmentado ao longo de toda a obra.
Insisto no ponto. Freud é um pensador célebre, entre tantas coisas, por ter escrito obras ousadas. Apesar disso, por vezes nos esquecemos do que deve ter sido, para um neurologista formado no século XIX no modelo anátomo-patológico da Universidade de Viena, publicar um livro voltado para a defesa da existência de um sentido nos sonhos e para a apresentação de um método que permitiria alcançá-lo. Ou, para alguém que tentava instaurar e consolidar um novo campo de saber e de prática, apresentar em 1905 não apenas uma defesa da existência da sexualidade infantil (o que já não era original), mas a defesa de que as características dessa sexualidade seriam distintas da sexualidade adulta, sustentando que os comportamentos sexuais desviantes – chamados à época “perversos”, listados e classificados na Psychopathia sexualis, de Krafft-Ebing 1 – seriam, não uma degenerescência, mas nossa condição de partida. O que dizer então da defesa de que a origem da cultura residiria no assassinato do pai de agrupamentos humanos arcaicos e, por essa via, de que o sentimento de culpa estaria instalado no cerne daquilo que somos hoje e desde sempre como civilização? Reconhecido o caráter prima facie insólito destas e de tantas outras formulações freudianas, esse reconhecimento não nos impede de dizer que aquela dentre as teses de Freud que tem todos os pré-requisitos para ser qualificada com o virtuosismo desse apanágio, o da ousadia, e que está profundamente vinculada a esta última pergunta (sobre a origem da cultura), permanece pouco debatida.
A hipótese filogenética é todavia onipresente em sua obra, como uma espécie de novelo cujo fio poderia nos ajudar a sair do labirinto ou fazer com que nos percamos ainda mais nele.
Isso não significa, obviamente, que não haja uma bibliografia relevante sobre o tema. Ela apenas não deixa de soar marginal quando temos em vista o vigor e a amplitude da pesquisa que se faz sobre a psicanálise freudiana. No próprio momento em que o rascunho veio à luz, I. Grubrich-Simitis, que o descobriu 2, transcreveu e editou, o fez ser acompanhado de um importante ensaio (1985), mais de apresentação e contextualização do que de interpretação. Em datas anteriores à descoberta do manuscrito, J. Laplanche e J.-B. Pontalis (1988) dedicaram à questão das fantasias originárias, que é uma questão vinculada à hipótese filogenética, um comentário que está no centro de toda uma compreensão da reflexão freudiana e F. Sulloway (1992) trouxe um encaminhamento que se distancia bastante da leitura dos psicanalistas franceses numa tentativa de fortalecer a defesa de que Freud seria, antes de tudo, um biólogo. Entre nós, o texto de L. R. Monzani (1991) é um elemento incontornável do debate e o monumental Freud, pensador da cultura, de Renato Mezan (1985), apresenta elementos e análises que convergem para a tese de que a hipótese filogenética deve ser compreendida, antes de mais nada, como uma fantasia de Freud, fantasia que seria, de seu ponto de vista, prescindível para a teoria psicanalítica.
Mas a nenhum desses textos pode ser atribuído o objetivo de explorá-la até o fim e de uma maneira interna – isto é, considerando-se as premissas e as elaborações que encontramos na própria pena de Freud. Esse é, a meu ver, o principal mérito do livro A filogênese na metapsicologia freudiana : a autora, Fernanda Silveira Corrêa, enfrenta essa questão e o faz até extrair as últimas consequências das teses assumidas por Freud a esse respeito, sem deixar de vinculá-las a um contexto teórico mais vasto.
O que é a hipótese filogenética? Grosso modo, trata-se do lugar para onde converge a ideia de que as neuroses testemunham o desenvolvimento psíquico da espécie humana, ou, da raiz e fundamento, para emprestar uma expressão do breve ensaio sobre Totem e tabu de G. Lebrun, da seguinte ideia: “o primitivo é o arquivista do original, o neuropata é o seu hermeneuta ” (Lebrun, 1983, p.98). No manuscrito encontrado em 1983, ela é chamada a responder pela origem da fixação da libido, a qual constitui uma disposição que contribui decisivamente para a determinação da neurose. Ocorre que Freud sustenta que essa fixação tanto pode ser contingente, resultante de uma história específica e individual, quanto inata. A necessidade de considerar a possibilidade de a fixação ser inata pode ser compreendida lendo-se outro texto de Freud, que é o relato do caso clínico do Homem dos Lobos. Tratase ali, entre outras coisas, da tentativa de sustentar que o coito entre os pais fora observado pela criança, tentativa que Freud arremata com um non liquet ao qual se sucede a afirmação de que ela, a observação, caso não tenha tido lugar na vida do indivíduo, foi, certamente, herdada3 Mas, então, indaga-se Freud, se a fixação pode ser inata, seria porventura possível perguntar-se pelo modo como ela se constitui exatamente como herança? Por motivos que precisariam ser considerados em outro lugar, Freud quer mostrar que o próprio inato é adquirido – se não pelo indivíduo, então pela espécie. Eis como ele apresenta esse ponto:
Onde se leva em consideração o elemento constitucional de fixação não se afasta o adquirido: ele retroage para um passado ainda mais remoto, já que se pode justamente afirmar que disposições herdadas são restos de aquisições dos antepassados. Com isso, chega-se ao problema da disposição filogenética atrás da individual, ou ontogenética, e não há contradição quando o indivíduo adiciona às suas disposições herdadas, baseadas em vivência anterior, as disposições recentes derivadas de vivências próprias (Freud, 1987, p.71).
Partindo dessa ideia, ele tenta estabelecer um paralelo entre duas séries, que são a sequência cronológica conforme a qual as neuroses surgem na vida individual (algumas eclodem caracteristicamente na primeira infância, outras na puberdade, por exemplo) e uma sequência filogenética que instalaria aquelas fixações constitutivas das disposições e que, por sua vez, seria dividida em duas gerações de indivíduos: uma que teria vivido o advento da 4 era glacial e outra posterior que teria se organizado psiquicamente por referência ao pai opressor da horda primitiva. Seriam tais os momentos desta sequência filogenética: 1a era glacial que interrompe a convivência amistosa com o meio ambiente, produzindo-se a angústia; 2a limitação da procriação decorrente da escassez de alimentos; 3o desenvolvimento da inteligência e da linguagem e a convergência dessas novas capacidades para o pai opressor; 4a efetiva castração dos filhos pelo pai; 5o estabelecimento de um laço erótico homossexual entre os filhos que teriam conseguido escapar ao domínio paterno; 6o assassinato do pai. Esses acontecimentos, vividos por nossos antepassados mais distantes, teriam sido transmitidos, como traços de memória (Freud, 2008, p.96), ao longo das gerações (sem que se encontrem, aliás, nem em Darwin nem tampouco em Lamarck, argumentos em favor da possibilidade dessa herança). Nossa neurose de cada dia seria o signo mais palpável dessa improvável transmissão.
- S. Corrêa mostra em seu livro que Freud associa aspectos centrais de sua teoria às heranças filogenéticas, tais como a vinculação entre prazer sexual e angústia, o caráter perverso-polimorfo da sexualidade humana, a erotização da dor e a disposição libidinal passivo-masoquista, o amor homossexual e o narcisismo masculino, a disposição para a mania e a melancolia. A serviço dessa investigação, a análise de cada fase filogenética exige que a autora confronte o rascunho com diversos outros textos de Freud dedicados às problemáticas que são centralizadas a cada vez, o que resulta na argumentação geral de que ele é coerente com o restante da obra, ou, dito de outro modo, de que o manuscrito não está nela como um corpo estranho. No desenvolvimento dessa conexão, a autora constrói diversas soluções próprias, que transcendem a letra de Freud sem transcenderem o espírito de seu pensamento. Vale-se em muitos momentos para isso de uma aproximação entre Freud e Nietzsche. É interessante acompanhar o modo pelo qual ela recorre à perspectiva genealógica para pensar a tensão entre a psicologia do pai primitivo e a da segunda geração, situando a psicologia dos filhos, estruturante da vida coletiva, como uma psicologia de ressentidos.
Destaco outro feito importante alcançado pelo livro de F. Corrêa. Além de indicar consistentemente a relevância do manuscrito sobre a filogênese para a compreensão de teses freudianas centrais, ele traça um vínculo teórico entre este rascunho e aquele outro de 1895, o rascunho do Projeto…
O caminho que permite à autora fazer isso passa pelo seguinte. Para sustentar que no ser humano a libido se transforma em angústia conforme um processo que, em larga medida, barra a satisfação sexual, será necessário, do ponto de vista da teoria do aparelho psíquico, supor um caminho de esforço de retomada da própria possibilidade dessa satisfação.
Quando Freud monta no Projeto…
um aparelho determinado empiricamente pelas próprias representações, isso corresponderia a uma forma de pensar o que poderia ser esse caminho, considerando-se que ele não pode ser determinado a partir de uma dimensão biológica da qual a sexualidade humana exatamente se afastou. O livro de F. S. Corrêa encontra uma articulação engenhosa – tanto mais que em 1895 a sexualidade infantil não está presente no horizonte teórico de Freud – entre, de um lado, esse processo de passagem de uma sexualidade passiva (pré-humana) que seria dada biologicamente e uma sexualidade objeto de uma construção representacional, e, de outro lado, o processo de construção ontogenética do aparelho psíquico que está no centro das preocupações do Projeto…
e que é um processo de acordo com o qual a alucinação (passiva) envolvida nas vivências originárias de satisfação e de dor deve ceder espaço para a ação. Escreve a autora, nesse sentido:
Freud então supõe duas coisas: um aparelho, por um lado, determinado por suas experiências de satisfação, passivo, no sentido de que se satisfaz com suas marcas das experiências; por outro, que tem de resgatar sua atividade, agora, não mais determinada pela ação biológica, mas pelas próprias representações. (Corrêa, 2015, p.148)
A percepção dessas relações permite à autora enveredar seu comentário para a exploração das semelhanças entre as duas fases da “história” 5 filogenética e as teorias da vivência de satisfação e da vivência de dor, bem como as consequências de se projetar retroativamente a sexualidade infantil perversa – e então o próprio conceito de fantasia – sobre as teses do Projeto…
Tudo isso lhe permite problematizar uma leitura mais convencional da teoria freudiana da cultura (muito pautada em O mal-estar na cultura ) na medida em que temos aí elementos para compreender que, para Freud, não é a cultura que conduz à inibição da sexualidade infantil, mas o contrário: “é a inibição da sexualidade infantil que propicia a energia para a civilização” (Corrêa, 2015, p.150). Essa inibição é pensada como algo determinado filogeneticamente. Isso significa que, na perspectiva freudiana, o ato sexual genital só é possível do ponto de vista psíquico como resultado da incidência dos poderes reativos (herdados) da vergonha e da repugnância. Sem eles, a sexualidade humana – na medida em que se encontrasse um caminho, para nós hoje insondável, para a reprodução da espécie – teria permanecido perversa polimorfa, tal como exigido pela era glacial.
Não apenas a inibição da sexualidade infantil teria origem filogenética, mas a própria sexualidade infantil em sua peculiaridade. Na primeira fase da sequência filogenética, explica a autora, a era glacial dá origem à angústia de anseio.6 “O eu, ameaçado em sua existência (…) absteve-se do investimento dos objetos sexuais e transformou a libido sexual em angústia, temendo ainda mais o real. Não se trata de uma perda do objeto, mas sim da abstenção do investimento deste” (Corrêa, 2015, p.110). Freud se referiria aqui, desse modo, a uma perda que seria anterior à própria vivência de satisfação e diria respeito a uma ruptura inaugural do ser humano com a função sexual biológica, estabelecendo-se um laço intrínseco entre pulsão 7 sexual e angústia. Essa ruptura inicial, filogenética, teria condicionado as fases subsequentes na história da espécie e possibilitado o próprio desenvolvimento psíquico, aí incluída a inscrição psíquica de objetos aos quais a libido viria se vincular. O que está em jogo aqui é, evidentemente, uma ruptura radical com a ideia de instinto. Mas a autora afirma que, por ter dado lugar a novas formações, a disposição produzida nos tempos glaciais teria se tornado permanente e, de uma disposição temporária, então contextualizada na era glacial, teria se tornado uma disposição herdada: o afastamento da ordem biológica “possibilitou novas formações (…) que serão descritas nas próximas fases da história filogenética, e que, por isso, de temporário se tornou permanente, se tornou disposição herdada, inata, presente em todos os seres humanos.” (Corrêa, 2015, p.125). A meu ver, isso parece trazer três dificuldades: 1Ora, o fato de x dar lugar a y não constitui, por si só, argumento para a defesa da permanência de x. Certamente, a construção é feita de modo retroativo: se as neuroses são tais e tais, as disposições que se tornaram permanentes foram estas.
Mas o raciocínio de Freud não parece fornecer uma justificativa para a transformação de algo temporário em algo permanente. 2Em se assumindo os pressupostos que Freud assumiu, por que a herança não teria, por sua vez, se alterado ao longo da própria história da espécie? Por que as disposições teriam permanecido as mesmas ao longo de dezenas de milhares de anos? Especialmente, por que teriam permanecido as mesmas após o término da glaciação? 3-A tese da herança não retorna à biologia? Como a herança poderia, ela mesma, não ser um fato biológico? Aquilo que se tratava aqui de alijar não retorna na posição mesma de fundamento? Se toda a questão é o afastamento da sexualidade humana da biologia, a hipótese filogenética não acaba exigindo um retorno a ela? Tudo indica que nos deparamos, ademais, com um jogo de recuos na argumentação de Freud. Se as disposições são herdadas, se todas elas estão presentes em todos os indivíduos divergindo entre eles apenas por uma questão de intensidade, se é a intensidade que, por sua vez, determina a escolha da neurose, obviamente torna-se necessário perguntar o que determinaria a intensidade da disposição.
Lebrun sugere em sua leitura, aliás também inspirada em Nietzsche, que a repetição da filogênese pela ontogênese – “herdada” por Freud de E. Haeckel e então traduzida pelo primeiro para disposições libidinais e traços psíquicos – nunca passa, na reflexão do psicanalista, de um pressuposto, por maior que seja sua potência heurística. Um pressuposto que precisa ser explicitado enquanto tal. Porque reconhecê-lo assim nos permite bem situar uma questão como a seguinte: em que medida a hipótese filogenética freudiana (assim como a argumentação de Totem e tabu ) constitui uma estratégia pretensa e explicitamente natural e tacitamente metafísica para a reprodução desse paralelo constitutivo da história do Ocidente entre, de um lado, masculino, pensamento e cultura, e de outro lado, feminino, afeto e natureza? Freud não opera aqui de fato, como sustenta Lebrun, uma sobreposição entre valores sócioculturais e normas vitais? Todos os pontos aqui ligeiramente levantados convocam a uma reflexão filosófica sobre a obra de Freud (e com ela). Sua discussão exige uma leitura adequada do rascunho do décimo segundo artigo metapsicológico. Para tal tarefa, encontramos, de uma maneira muito viva, elementos cruciais no livro de F. S. Corrêa, livro que contribui com brilho para a continuidade de uma tradição brasileira de estudos localizados na interseção entre filosofia e psicanálise. Ele é ferramenta sofisticada da qual o leitor brasileiro pode se valer, de modo privilegiado, para medir por si mesmo o peso que Freud atribui ao gelo na determinação e na compreensão dos fenômenos psíquicos.
Notas
1 Obra publicada em 1886.
2 Em 1983, na correspondência de Freud com S. Ferenczi, que foi quem sugeriu inicialmente os pressupostos da hipótese filogenética
3 Lemos: “As cenas de observação do ato sexual entre os pais, de sedução na infância e de ameaça de castração são indubitavelmente patrimônio herdado, herança filogenética, mas podem também ser aquisição da vivência individual. (…) O que vemos na história primitiva da neurose é que a criança recorre a essa vivência filogenética quando sua própria vivência não basta. Ela preenche as lacunas da verdade individual com verdade pré-histórica, põe a experiência dos ancestrais no lugar da própria experiência” (Freud, 2010, pp.129-30).
4 Freud parece supor apenas uma.
5 O início do livro traz uma discussão voltada para justificar a escolha de caracterizar a hipótese filogenética como história, em vez de mito.
6 É a tradução da autora para Sehnsuchtangst.
7 F. S. Corrêa prefere “impulso” para verter Trieb, embora empregue por vezes o adjetivo “pulsional
Referências
FREUD, S. (1987). Neuroses de transferência: Uma síntese (manuscrito recémdescoberto) ([1915]1985). Tradução de A. Eksterman. Rio de Janeiro: Imago.
____________. (2008). “Moisés y la religión monoteísta” (1939 [1934-38]) In: Obras completas, volume XXIII. Traducción de J. L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu.
____________. (2010). “História de uma neurose infantil (‘O homem dos lobos’, 1918 [1914])”. In: Obras completas, volume 14. São Paulo: Companhia das Letras.
GOLDSCHMIDT, V. (1970). “Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas filosóficos”. In: A religião de Platão (1949). São Paulo: Difusão Europeia do Livro.
GRUBRICH-SIMITIS, I. (1987). “Metapsychology and metabiology – On Sigmund Freud’s draft Overview of the transference neuroses”. In: Freud, S. A phylogenetic fantasy – Overview of the transference neuroses. ([1915]1985). Translated by A.Hoffer and P. T. Hoffer. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
LAPLANCHE, J. & Pontalis, J.-B. (1988). Fantasia Originária, Fantasias das Origens, Origens da Fantasia (1964). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
LEBRUN, G. (1983) “O selvagem e o neurótico”. In: Passeios ao léu. São Paulo: Brasiliense.
Mezan, R. (1985).Freud, pensador da cultura. São Paulo: Brasiliense.
Monzani, L. R. (1991). “A fantasia freudiana”. In: B. Prado Jr. (ed.). Filosofia da psicanálise. São Paulo: Brasiliense.
SULLOWAY, F. (1992).Freud biologist of the mind – Beyond the psychoanalytic legend. Cambridge, Massachusetts/London: Harvard University Press.
Léa Silveira – Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. E-mail: [email protected]
Introdução à Tragédia de Sófocles – NIETZSCHE (C-FA)
NIETZSCHE, Friedrich. Introdução à Tragédia de Sófocles. Tradução de Marcos Sinésio Pereira Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 2014. Resenha de: SOUZA, Ronaldo Tadeu de Souza. A Estrutura Filológica da Tragédia Grega: a propósito da “ Introdução à tragédia de Sófocles ”de Nietzsche. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v.21, n.2 jul./dez., 2016.
Karl Marx escreveu um dos pontos mais significativos de sua Introdução para a crítica da economia política que:
a dificuldade não está em compreender que a arte grega e a epopéia estão ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade reside no fato de nos proporcionarem ainda prazer estético e de terem ainda para nós, em certos aspectos, o valor de normas e de modelos inacessíveis (Marx, [1857] 1974, p.131).
É certo que devemos aceitar na sua completude a afirmação de Marx acerca do “prazer estético” que a arte grega nos oferece ainda em nossos dias, mas é certo também que devemos nos esforçar para negar Marx ao dizer-nos que a arte grega porta “modelos inacessíveis”. A questão aqui envolve a possibilidade ou não de compreendermos aquela que talvez tenha sido a principal expressão artística do mundo grego antigo, a saber: a tragédia. Quanto mais compreensíveis forem as obras de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, mais estaremos em condições de acessarmos o estatuto da cultura grega clássica para a história das sociedades humanas.
Introdução à tragédia de Sófocles, de Nietzsche, recentemente publicado pela editora Martins Fontes (fim de 2014 / início de 2015), nos apresenta esta possibilidade. Assim, quais são os pontos a serem destacados no escrito introdutório de Nietzsche sobre o drama antigo? Uma observação inicial que é preciso ser feita sobre Introdução à tragédia de Sófocles é a respeito da edição do livro. É um trabalho cioso e esmerado que a erudição de Marcos Sinésio Pereira Fernandes e André Luis Muniz Garcia apresenta aos leitores brasileiros – sobretudo na organização das notas explicativas que percorrem todo o texto de Nietzsche. André Luiz Muniz Garcia, referindo-se ao seu companheiro de tradução e preparação do texto, diz que o trabalho de Marcos Sinésio “é resultado de (…) profundo trabalho de tradução, mas também de pesquisa filosófica e filológica” (Garcia, [Apresentação] 2014, p.XV) que o erudito da Universidade Federal do Maranhão oferece ao nosso público. Em tempo de especialização e profissionalização empobrecedora da universidade, Marcos Sinésio desejou ofertar “tradução e comentários [que] chegassem às mãos não apenas do público acadêmico, mas, principalmente, do leitor não especializado, daquele [não iniciado em] pensamentoschave de nossa cultura” (idem, ibidem). Ao estilo de Fichte: a erudição, aqui, serve à humanidade 1.
Se o esforço de Marcos Sinésio Pereira Fernandes e de André Luis Muniz Garcia foi o de empreender rigorosa pesquisa filológica na tradução de Introdução à tragédia de Sófocles, é porque o próprio estudo de Nietzsche emoldura-se pela filologia. Assim, mais do que um estudo introdutório sobre o sentido da tragédia no mundo grego antigo, e, mais especificamente, sobre a obra de Sófocles, o trabalho de Nietzsche nos apresenta a estruturação filológica da arte trágica. Resultado de um curso proferido por Nietzsche na Universidade da Basileia em 1870, Introdução à tragédia de Sófocles é composta por 20 lições nas quais o filósofo alemão expõe detalhadamente cada composição estética e narrativa que forma a estrutura filológica da tragédia na Grécia clássica. Ao longo das lições, Nietzsche analisa a configuração de significados que a tragédia procura representar na cultura grega antiga. Esta é uma das virtudes do estudo: posicionar os lineamentos narrativos de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes com os momentos constitutivos do mundo da Grécia clássica. É claro que Nietzsche não faz trabalho de historiador arranjando linearmente os trágicos nos pontos mais sensíveis e de maior relevância daquela sociedade. Com efeito, a arte esquiliana, sofocleana e euripideana são perscrutadas como documentos literários que expressam as tensões sobre o sentido da vida e da existência de toda uma civilização. Não é ocasional e de menor importância o fato de Nietzsche iniciar seu curso comparando “a antiga forma da tragédia [com] a moderna” (Nietzsche, 2014, p.3), pois, para esta última, Édipo Rei “é pura e simplesmente uma má tragédia, porque nela a antinomia entre destino absoluto e culpa fica insolúvel” (idem, ibidem). O núcleo substantivo da tragédia antiga na leitura de Nietzsche é a oposição de ânimos que conformam o significado estético da narrativa; vale dizer, é aquilo sobre o que o homem grego procurou se equilibrar: “o sentimento de triunfo do homem justo, comedido e isento de paixão” (idem, p.5) com o “instinto [ hybris ] (…), o enigma no destino do indivíduo, a culpa sem consciência, o sofrimento imerecido [e] sua musa trágica [que leva à] idealidade da infelicidade” (idem, pp.7-8). É este núcleo que Nietzsche procura emoldurar com a estrutura filológica de suas lições. Quais são os aspectos mais significativos destas lições que compõem a Introdução à tragédia de Sófocles ?
Se hoje nós compreendemos todas as artes dramáticas como artes da visibilidade, do ver a performance de grupo de indivíduos inseridos em espaços construídos especialmente para isto, na sua origem a arte dramática, que emerge da tragédia grega, é a arte do ouvir. É a arte da palavra que se apresenta como característica primeva de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Assim, a “intuição íntima através da palavra induzindo à fantasia é o que vem primeiro, a visibilidade do quadro da fantasia na ação é algo mais tardio” (Nietzsche, 2014, p.10). Podemos perceber, deste modo, que um dos esforços de Nietzsche em seu curso é entender a tragédia antiga como símbolo do humor: da disposição de ânimo que tensiona a existência dos homens. Não é mero exercício de retórica a afirmação de Nietzsche acerca do fato de que a beleza da lírica, seus componentes filológicos sublimes, seja também a “expressão da dor diante da desarmonia entre mundo desejado e o real” (idem, ibidem). Ele procurou representar em suas lições sobre Sófocles na Basileia o sentimento existencial da cultura grega antiga. Mas vamos acompanhar o estudo introdutório nietzschiano um pouco mais nesta abordagem sobre a tragédia como arte do ânimo musicalizado.
O significado da tragédia concernente à linguagem da cultura grega surpreende àqueles educados na estética do idealismo pós-kantiano – aqui é o belo, a formação mesma da educação sentimental pela beleza que estrutura o entendimento da arte 2 ; em Nietzsche, é a filologia do instinto que deve ser compreendida na tragédia como um dos documentos constitutivos da cultura dos gregos. O que estes enfrentavam, e que a arte de Ésquilo, Sófocles e Eurípides procurou dramatizar pela lírica musical, era o sentir da vida como “elemento (…) perigoso (…) dos poderes mais perigosos da natureza” (Nietzsche, 2014, p.13) que fornece o suporte necessário para os gregos entenderem e, também apreciarem, que a transcendência se faz igualmente na existência terrificante (idem, ibidem). Diz Nietzsche:
Culpa e destino são apenas tais meios, (…) tais [ mekhanaí ]: o grego queria absoluta fuga para fora desse mundo da culpa e do mundo do destino: sua tragédia não consolava, algo como um mundo após a morte. Mas, momentaneamente, abriu-se ao grego a intuição de uma ordem das coisas inteiramente transfigurada (…) os atenienses fizeram isso abertamente quando não coroaram o Oedipus rex : eles ouviram tão somente os golpes de timbale, o selvagem circulozinho das Mênades, mas queriam também que Sófocles lhes dissesse que tinha visto Dioniso. O velho Sófocles exprimiu-se em Édipo em Colono (como Eurípides nas Bacantes ) sobre o elemento libertador-do-mundo da tragédia: Eurípides, com uma espécie de palinódia, na medida em que se deixou despedaçar como Penteu, como o sensato e racionalista opositor do culto de Dioniso (Nietzsche, 2014, pp.13-4).
Mas Nietzsche ainda insiste na musicalidade como elemento distintivo da tragédia grega. Esta é uma das contribuições de Introdução à tragédia de Sófocles para o entendimento desta arte tão particular – e da cultura que organizava o universo simbólico e filológico da Grécia antiga. Com efeito, “a tragédia [nasceu] da lírica musical das Dionisíacas” (idem, p.21), de sorte a estabelecer os lineamentos sentimentais de toda a subjetividade do povo grego. A tragédia como arte dionisíaca despertava nos populares um profundo sentimento de embriaguez musical possibilitando aos que a ouvissem a percepção plácida da transcendência. Importa dizer acerca das lições de Nietzsche sobre Ésquilo, Sófocles e Eurípides o caráter inteiramente popular da tragédia. Assim, a extensão da linguagem da lírica dramática “abrange a vida social” (idem, p.23) dos Gregos. E a “música popular subjetiva (…), a poesia popular da massa, nas fascinantes e demoníacas Dionisíacas (…), [a] impetuosa lírica das massas” (idem, p.24) irrompia na cena cultural como expressão do ímpeto de ânimo do homem grego na existência. Não foi fortuito que no “predomínio da reflexão e do socratismo, começa uma degeneração do dionisíaco na tragédia” 3 (idem, p.27).
Na sequência de seu curso na Universidade da Basileia, Nietzsche estuda com seus alunos (e nos oferece) dois elementos fundamentais na estrutura filológica da tragédia: “a construção do drama” e o “coro”. No que consiste a construção do drama na tragédia antiga? Pode-se dizer que, para a Introdução à tragédia de Sófocles, o edifício estético posto de pé por Sófocles e seus iguais objetivava à realização de “um ato” (idem, p.32); isto é, o drama grego potencializava o “ pathos [da] cena” (idem, ibidem), de modo que a construção daquele tinha como exigência a figuração do ato mesmo no curso da temporalidade existencial de quem a assistisse. Isto fica mais claro quando Nietzsche propõe em suas lições uma comparação entre a construção do drama moderno de Shakespeare e a tragédia de Ésquilo e Sófocles. O encadeamento da sequência no drama shakespeariano foi forjado para intensificar o movimento da fantasia; o que significa dizer que a linguagem da “tragédia” moderna necessitava para sua melhor exploração artística de espaço adequado no qual aquela pudesse ser representada. Por isso a configuração da cena “contém um palco mais elevado e menor; diante dele, degraus; ao lado, pilares; em cima, um balcão cujas escadas descem até o proscênio” (Nietzsche, 2014, p.33). Esta construção tensionava a fantasia (idem, p.34) de quem a assistisse como fatura do jogo entre o “palco” e seus “degraus”, entre as “escadas” e o “proscênio”, a “pausa” temporal (obrigando à atividade da fantasia) e os personagens que surgem dos “pilares” – é que tudo no drama de Shakespeare era para ser visto e depois imaginado. Em Ésquilo e Sófocles, a construção do drama buscava outros fins: aquela fantasia impulsionada pelas imagens “o grego não conhecia em sua tragédia” (idem, ibidem). Era a interiorização do pathos musical que o drama antigo objetivava; o que importava era (e é) o “ Tá apóskenês ” 4, o a partir da cena… Daí que a construção do drama antigo e, sobretudo, o sofocleano, estruturou-se pela disposição filológica do coro. De sorte que o efeito do cântico na tragédia conformava o “antagonismo” entre “o espectador idealizado (…) representante dos pontos de vista gerais” (idem, ibidem) e o coro dramáticolírico enquanto tal. Diz Nietzsche a esse respeito:
as canções do coro tinham que assumir um pathos interior: para não tornar a representação do coro inconsequente. Eurípides conduzia com consciência o coro em regiões sentimentais mais brandas e empregava também uma música mais suave em correspondência (…) Em Ésquilo e Sófocles, há por vezes incongruência entre o coro dos grandes cantica e os dos diálogos. A situação dos cantica é deslocada (…) o coro e a música coral já são (…) [ hedýsmata ] (Nietzsche, 2014, pp.34-5).
Assim, é no coro que podemos encontrar o real sentido da tragédia como documento cultural do mundo grego antigo. Nietzsche deixa entrever isto nos quatro pontos que estruturam a articulação interna da linguagem do coro. Ele, então, afirma que os pesquisadores devem atentar para os seguintes elementos: (1) o coro representa a construção filológica do novo momento do mundo antigo, ele é a expressão artística da apropriação pelo povo sensível dos negócios do palácio, ou seja, é como se o ânimo musical dos deuses se voltasse agora para o peito dos homens (Nietzsche, 2014, p.41) na intervenção do coro na estrutura da tragédia; (2) pode-se dizer com isto que com o coro a tragédia adquire aspectos reflexivos acerca dos conflitos da vida e do pensamento, de modo que a “liberdade lírica [com] todo o poder sensível do ritmo e da música” (idem, ibidem) presente no coro conduz à ação refletida, mas com “força poética” (idem, ibidem); (3) isto, inevitavelmente, de acordo com Nietzsche, faz do coro na arquitetura filológico-narrativa da tragédia o ponto de inflexão entre a simples exposição organizada de diálogos existenciais e a grandeza trágica; (4) quer dizer, o coro é a possibilidade de alcançar a exuberância dos afetos, é a capacidade que a arte de Ésquilo, Sófocles e Eurípides tem de transformar o “ânimo do espectador” (idem, ibidem) em um ensaio para a liberdade de e na ação existencial. Com efeito, “o coro é o idealizante da tragédia: sem ele, temos uma imitação naturalística da realidade [n]a tragédia, sem coro, (…) os homens falam e andam” (idem, p.42).
Nietzsche chega assim ao fim de sua Introdução à tragédia de Sófocles, e nós, deste breve ensaio. As leituras e hipóteses dele se voltam agora diretamente para a obra de Sófocles – o ponto mais elevado da tragédia antiga. Como Nietzsche procede aqui? A comparação no espaço mesmo da tragédia grega foi o procedimento utilizado por ele: o que Nietzsche pretende com isto é ressaltar os elementos distintivos das peças sofocleanas. Sendo a tragédia de Sófocles o ápice da arte dramática antiga, ela se posiciona a meio caminho entre o puro instinto esquiliano e a construção racionalizada – a destruição do instinto – de Eurípides. De sorte que em Sófocles “o pensamento é acrescido”, só que aqui “o pensamento está em harmonia com o instinto” (Nietzsche, 2014, p.63). Mas é na estruturação filológica que Sófocles se põe em patamar superior ao do drama de Ésquilo e Eurípedes. Assim, a obra do autor de Édipo Rei preconiza não certas unilateralidades que atravessam as peças de Ésquilo e de Eurípides, sobretudo acerca da interpretação (e utilização) da forma e do pensamento na fatura da tragédia – a grandeza artística de Sófocles foi dada pela unidade da forma com o pensamento, da fusão tensa e motivada pelo existencial e seu significado na cultura grega entre a feição exterior (a disposição enquanto tal das partes constitutivas da tragédia) e os momentos de reflexão do ser pela linguagem do drama (a irrupção decisiva, de acordo com Nietzsche, do coro…). A ocorrência deste posicionamento superior de Sófocles em face a Ésquilo e Eurípides se dá porque ele “ressuscita o ponto de vista do povo” (idem, p.68). Enquanto a tragédia esquiliana é épica e a euripideana socrática, o drama antigo em Sófocles representa a massa trágica, “o enigma na vida do homem”, quer dizer, o sentido da tragédia sofocleana é a transformação do sofrimento humano em algo “santificante” e virtuoso – é a busca do entendimento de que, uma vez o povo lançado na existência incerta e incomensurável, o sentido da vida frente ao destino, “o abismo infinito” (idem, ibidem), não resulta em culpa passiva, mas na musicalidade lírica da humanidade heroica. Terminemos com as próprias lições de Nietzsche:
agora, sabemos certamente que Sófocles no primeiro período imitava Ésquilo (…) A tragédia de Eurípides é a medida do pensamento ético-político-estético daquele tempo: em oposição ao instintivo desenvolvimento da arte mais antiga, que, com Sófocles nele, chega ao seu fim. Sófocles é a figura de transição; o pensamento movese ainda no caminho do impulso [ Trieb ], por isso ele é continuador de Ésquilo (…) [Pois] Sófocles havia comprimido a reflexão no coro, para purificar o poema dramático, (…) [para] distribuir felicidade e infelicidade [a]os povos, ou [a] humanidade [e as] pessoas individuais (Nietzsche, 2014, pp.74,76,79).
Por isso Sócrates não preferiu esta construção e estruturação filológica sofocleana. Sócrates como sábio de si mesmo e dos poucos: ele “assiste à tragédia de Eurípides.Sócrates o mais sábio junto com Eurípides” (idem, ibidem) preferiu a arte racionalizada e filosófica. É que com Eurípides, ao contrário de Sófocles, o autor trágico de Nietzsche por excelência, que a tragédia deixa de ser elemento “bombástico” (idem, p.80) na cultura grega antiga e passa a ser componente da ordem filosofante. Resta-nos aqui investigarmos (talvez na trilha de Marx), em que medida esta disputa trágicofilológica entre Ésquilo, Sófocles e Eurípides ainda guarda beleza – e possibilidade de deleite e reflexão de nossa existência. Introdução à tragédia de Sófocles ora recebido pela nossa cultura pode ser a primeira lição sobre isto.
Notas
1 Sobre a relação entre a erudição (e os eruditos) e a humanidade, ver: Fichte, 2014.
2 Ver sobre o idealismo alemão e a arte: Werle, 2005 e Videira, 2009.
3 Gostaria de chamar a atenção do leitor para as páginas 27, 28, 29, 30 e 31 do livro que ora estamos estudando. As passagens que constam nestas páginas são de importância seminal para a compreensão ofertada por Nietzsche sobre a relação da arte trágica antiga com os cidadãos atenienses – entendendo estes como os populares da cidade.
4 Ver nota 79 em que consta a tradução da expressão e seu significado filosófico e filológico
Referências
FICHTE, J. G. (2014).O Destino do Erudito. São Paulo: Hedra.
MARX, K. (1974). Introdução à Crítica da Economia Política. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural.
Nietzsche, F. (2014). Introdução à Tragédia de Sófocles. São Paulo: Martins Fontes.
Videira, M. (2009). Resenha de Arte e Filosofia no Idealismo Alemão, organizado por Marco Aurélio Werle e Pedro Fernandes Galé. São Paulo: Barcarolla, 2009.Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, 14, pp.147-151
Werle, M. A. (2005). O Lugar de Kant na Fundamentação da Estética como Disciplina Filosófica. Revista Dois Pontos, 2 (2), pp.129-143.
Ronaldo Tadeu de Souza – Universidade de São Paulo. [email protected]
Arte e técnica em Heidegger – BORGES DUARTE (C-FA)
BORGES DUARTE, Irene. Arte e técnica em Heidegger. Lisboa: Documenta, 2014. Resenha de: PASQUALIN, Chiara, Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v .21, n.1, Jan./Jun., 2016.
O livro de Borges-Duarte propõe uma investigação límpida e rica sobre as questões entrelaçadas de arte e técnica, consideradas como fios condutores da reflexão heideggeriana posterior à Ontologia Fundamental. A contribuição original da autora não se endereça apenas aos especialistas de Heidegger, mas se apresenta também como uma imprescindível introdução ao pensamento do filósofo, pelo menos no que diz respeito ao período que vai desde inícios dos anos 1930 até o final dos anos 1960. Excluindo o primeiro capítulo, que oferece uma visão geral e introdutiva dos conteúdos apresentados, o volume reúne sete ensaios, concebidos originariamente como trabalhos autônomos, mas coesos em seus objetivos. Enfeitam o volume tanto a tradução inédita de alguns textos menos conhecidos de Heidegger, quanto a inserção de reproduções das obras de arte mais significativas a que Heidegger se refere nos seus escritos. Entramos, dessa maneira, não somente no processo genético da elaboração de algumas ideias centrais do filósofo, mas, especialmente, no seu “imaginário” íntimo, que é assim desvelado ao leitor.
O segundo capítulo se dedica à análise da entrevista concedida por Heidegger à revista alemã Der Spiegel em 1966, publicada postumamente. A autora lê esse breve texto não tanto como documento biográfico, mas como uma via de acesso preferencial aos densos assuntos do pensamento heideggeriano. Baseando-se no comentário da famosa afirmação heideggeriana “já só um deus nos pode ainda salvar”, a análise se concentra sobretudo na questão de qual salvação é ainda possível na época do atual domínio da técnica. Segundo a leitura proposta, o deus mencionado por Heidegger não deve ser confundido com qualquer representação histórico-religiosa de deus, mas circunscreve a dimensão do divino que sempre escapa ao controle e à manipulação do homem, não obstante o envolva na profundidade da sua essência. De acordo com a autora, não é, contudo, o próprio deus quem salva o homem. Uma tal perspectiva só iria reiterar a imagem tradicional de um deus todo-poderoso, invocado, como ex machina, para restaurar a ordem no caos produzido pelos homens. Pelo contrário, o que salva é o cultivo da recordação de deus, a saudade de nosso vínculo com algo que transcende o âmbito ôntico e o horizonte do manipulável. Nessa perspectiva, tornase claro o convite de Heidegger, sugerido pela entrevista, a colocar em prática um “outro pensar”, depois do fim da filosofia, que seja capaz de despertar o homem para aquela dimensão ulterior que permanece escondida no febril planejamento técnico.
O terceiro capítulo aborda a reflexão heideggeriana sobre a arte e pretende mostrar a sua importância para uma plena compreensão do ser humano. A esse respeito, a autora propõe uma reformulação do conceito de “ser-aí”, tradução corrente do termo alemão Dasein, que nos ajuda explicar o papel da arte na realização existencial: o Da-sein é o “aí-do-ser”, ou seja, o lugar em que o ser se manifesta e ilumina. A arte constitui uma modalidade exemplar por meio da qual o Dasein realiza esse seu posicionamento essencial, na medida em que, criando a obra, funda um espaço, um “aí”, para o descobrir-se do ser. Ao cumprir essa função, a arte tem, de acordo com a autora, uma vantagem sobre o pensamento. Se o pensar só raramente seria capaz de ser mais do que uma preparação da possibilidade do encontro homem-ser, na arte, diversamente, essa reunião se daria de maneira direta e imediata. Partindo dessas coordenadas gerais, o terceiro capítulo segue a evolução da longa reflexão heideggeriana sobre a arte, esclarecendo, em particular, o contexto especulativo – a exploração da verdade e do seu acontecer histórico-epocal – que leva Heidegger a focalizar a arte no começo dos anos 1930. A autora se afasta da tese de Pöggeler, segundo a qual a abordagem heideggeriana da arte seria uma simples fuga romântica depois da desilusão política (cf. Pöggeler, 1972), reivindicando, pelo contrário, a íntima ligação dessa abordagem com o percurso especulativo do filósofo e, sobretudo, a função privilegiada que ela vem a assumir servindo a Heidegger de premissa indispensável para a reflexão posterior sobre a técnica. Adotando uma perspectiva diacrônica, a autora defende que as conferências sobre a origem da obra de arte dos anos 1930 (Heidegger, 2002, pp.5-94) já contêm as linhas essenciais da concepção heideggeriana sobre a arte, a qual não seria depois posta em questão, mas só retocada parcialmente nos anos 1950 e 1960 para ser integrada à reflexão sobre a essência do mundo técnico e sobre a Quadrindade ( Geviert ). Para oferecer um exemplo e uma demonstração dessa tese, a autora passa a traduzir e analisar um breve texto heideggeriano do ano de 1955 sobre o quadro de Rafael, a Madonna Sixtina. Esse escrito não somente conteria todos os elementos-chave definidos na reflexão dos anos 1930, mas também acrescentaria tanto uma meditação mais consciente sobre o destino da obra de arte na época contemporânea, quanto a referência ao conceito de Quadrindade, implícito na ideia de um encontro entre o celestial e o terreno na imagem artística. O quarto capítulo se abre com a afirmação de que a consideração heideggeriana da arte está centrada, desde o começo até o final, na crença básica de que a obra representa o ponto de intersecção entre, por um lado, homem e ser e, por outro, entre humano e divino. Em cada fase da sua história, a arte continuaria a executar essa tarefa, oferecendo-se como manifestação do invisível, como espaço de epifania do sagrado. O que muda é, na visão da autora, a maneira como o homem, em diferentes épocas, experiencia o sagrado: se, no mundo grego, o homem parecia dócil e temeroso frente à poderosa manifestação divina, na época contemporânea ele tem apenas um contato frágil com o sagrado através das experiências da morte e da ausência. A autora estuda como exemplos desses dois extremos do processo histórico da arte, por um lado, a figura imponente do templo grego, referência favorita de Heidegger nos anos 1930; e, por outro, a arte minimalista de Klee, à qual o filósofo se aproxima, sobretudo na década de 1960, vendo, na obra do artista, um testemunho da arte pós-metafísica.
No quinto capítulo, a análise se dirige a duas traduções/interpretações que Heidegger conduz a respeito do primeiro estásimo da Antígona de Sófocles: em 1935, no contexto do curso Introdução à Metafísica e, em 1943, para preparar uma edição privada como presente de aniversário a sua esposa. Esse trabalho de assimilação do texto grego, de intensidade análoga àquele dedicado por Hölderlin à mesma fonte nos anos de 1799 e de 1802-1803, é considerado pela autora como um laboratório fundamental para a gênese da concepção heideggeriana da técnica. No comentário interpretativo do estásimo, desenvolvido no curso Introdução à Metafísica, começa a anunciar-se o interesse de Heidegger pela questão da técnica, a qual se tornará tema central a partir dos anos 1950. Com base no texto de Sófocles, Heidegger elabora uma ontologia da essência do humano como ser duplamente inquietante ( unheimlich ): num sentido positivo, ele é unheimlich em virtude do seu poder criador e violento que força o ser a manifestar-se no ente; por outro lado, o ser humano se revela terrível também num sentido negativo, podendo perverter a sua energia criativa num exercício de controle e de programação rígida que oprime a livre doação do ser. O sexto capítulo examina o particular estilo de pensar posto em prática nos Beiträge zur Philosophie de Heidegger. O problema que surgiu na elaboração dessa obra, e que deve ter sido um motivo para a decisão heideggeriana de não a publicar imediatamente, foi o de individuar uma linguagem adequada para captar e manifestar o Ereignis. A autora traduz esse conceito fundamental dos Beiträge como “acontecimento propício ”, destacando, assim, tanto o aspecto de apropriação recíproca (sublinhado na ressonância da raiz latina prope ), quanto a componente cairológica do instante propício em que acontecem simultaneamente o lance do ser ( Zuwurf ) e o projeto humano ( Entwurf ). Como o ser é em si indizível, o pensar que lhe pode dar voz é nomeado por Heidegger de “sigética” (com referência ao verbo grego sigân, “calar”) e é caracterizado, por um lado, como um acolher cauteloso e reservado, não impositivo; e, por outro, como um dizer não assertivo, mas questionador, aberto e itinerante. Esse estilo de pensamento, que deixa para trás os sistemas da metafísica, é enraizado no afeto fundamental ( Grundstimmung ) da reserva ( Verhaltenheit ), entendida como proximidade discreta e receptiva ao acontecimento do ser. O reconhecimento desse enraizamento do pensar na dimensão afetiva é bem detectado pela autora e a leva à justa intuição de identificar o medium da inter-relação entre ser e homem na disposição ( Stimmung ), na “porosidade afectiva” (p.151). Desse acolhimento afetivo do lance do ser surge um pensar que se configura como obra de arte arquitetônica ou musical, na medida em que ele oferece ao ser um espaço internamente construído e articulado (na sequência harmônica das chamadas “fugas”) para a sua manifestação.
No sétimo capítulo, expõe-se a concepção heideggeriana da técnica, com base no escrito Die Frage nach der Technik, publicado em 1954. Pensar a técnica representa a tarefa fundamental do “outro pensar”, pela qual Heidegger pretende ultrapassar a metafísica. Querendo imprimir à sua reflexão uma marca estritamente ontológica, Heidegger distancia-se tanto de uma abordagem ética, que implicaria uma tomada de posição a favor ou contra a técnica, quanto da concepção vulgar desse fenómeno enquanto instrumento funcional às finalidades humanas. A forma de relacionamento técnico em que o homem moderno está preso, ou seja, o desfrutamento calculador da natureza para fins de autoconservação, pode ser compreendida plenamente somente a partir do reconhecimento da essência da técnica, que consiste no chamado Ge-stell.
Segundo a autora, esse termo conceitual não é “infeliz”, mas é muito adequado, pois permite explicar três traços fundamentais da técnica. Em primeiro lugar, o prefixo ge revela que essa palavra define um conjunto de comportamentos sociais e humanos e que, aliás, é o resultado de um processo genético. Em segundo lugar, o verbo stellen evidencia o ato do pôr, que é ambivalente, pois indica tanto o “deixarser” da techne grega, isto é, o libertar a natureza para a sua luminosa manifestação no ente produzido, quanto a tendência a im -por, típica da racionalidade moderna.
Finalmente, Ge-stell traz à mente a Gestalt, a figura, sendo que a técnica é a forma, o esquema prévio aplicado à realidade para torná-la correspondente à exigência de uma vontade dominadora e interessada na conservação e no progresso do bemestar humano. A tradução mais apropriada para exprimir essa tripla determinação presente no termo Ge-stell é, de acordo com a autora, a de “com-posição”. Partindo dessa precisa análise lexical, a autora descreve a essência da técnica moderna como uma “estrutura estruturante”, pois ela é, ao mesmo tempo, tanto a configuração moderna da relação homem-ser e quanto aquilo que determina de antemão cada comportamento humano. Ao expor o raciocínio heideggeriano, a autora sublinha, enfim, a duplicidade, a natureza de Jano, da técnica moderna, a qual não representa somente o perigo extremo, enquanto esquecimento do ser, mas contém em si também a chance de salvação. Essa última repousa no vínculo originário homem-ser, que ainda é perceptível, embora fracamente, em nosso mundo técnico. A experiência repentina desse vínculo pode levar o homem a recuperar o sentido primitivo da técnica que estava em vigor no mungo grego, e a exercer um saber criativo, que não é mais um fazer opressivo, mas um pôr-se-em-obra da verdade. No último capítulo do livro, a autora volta à questão da técnica e esclarece a sua íntima conexão com a da arte. Com a publicação do texto Die Frage nach der Technik, a meditação heideggeriana sobre a arte, iniciada nos anos 1930, chegaria ao seu pleno desdobramento. Nesse texto, seria trazido à luz e explicitado um elemento que, nas conferências dos anos 1930, ainda permanecia implícito: o da união profunda entre arte e técnica em virtude da sua comum proveniência, a techne grega. No seu sentido autêntico, arte e técnica são modos da techne, isto é, do pôr-se-em-obra da verdade do ser. Contudo, esse “pôr”, no mundo grego, correspondia, de maneira dócil e cheia de assombro, ao desencobrir-se do ser. Assim, foi apenas a partir da modernidade que se perdeu a capacidade de se surpreender, e que se afirmou a necessidade de certeza e segurança – a qual transformou o saber produtivo originário num ávido projeto calculador. A única salvação que se delineia para a nossa época é aquela que consiste na realização do “passo atrás”, isto é, na recuperação do perdido sentido antigo da técnica como saber produtivo, respeitoso da dinâmica de manifestação-retraimento do ser. Nisso resume-se, substancialmente, a mensagem da conferência de Atenas de 1967, intitulada A proveniência da Arte e a determinação do Pensar, cuja abordagem representa a conclusão do livro e o ápice da longa interrogação heideggeriana sobre a essência da arte. Depois dessa breve exposição das teses principais defendidas no texto, gostaríamos de apontar algumas questões que são aludidas pela autora, sem, contudo, ser objeto de uma tematização detalhada, e que estimulam possíveis caminhos para um aprofundamento futuro.
Para uma plena compreensão da reflexão heideggeriana sobre a arte, parecenos imprescindível levar em conta os Beiträge zur Philosophie, nos quais a arte é definida, ao lado de outros modos, como uma das vias de abrigo ( Bergung ) da verdade no ente. Dentre esses outros modos, é mencionada a fabricação de utensílios (cf. Heidegger, 2015, §32, p.73) 1, isto é, a técnica artesanal. Então, no conceito de Bergung, Heidegger pensa, já nos anos 1930, a essência comum da arte e da técnica, ambas as quais são, no seu sentido autêntico e primordial, produções capazes de incorporar a verdade do ser no ente produzido. Além disso, com os Beiträge, cujo projeto já está fixado no seu núcleo central em 1932, surge o primeiro contexto de investigação sobre a essência da técnica moderna, que aqui é designada como maquinação ( Machenschaft ). A esse respeito, não se pode esquecer que, dentre os sintomas da época da maquinação, é mencionado o generalizado mal-entendido acerca da essência da arte, a qual – observa Heidegger – está sujeita hoje ao consumo cultural e é reduzida a mero estimulador de vivências subjetivas ( Erlebnisse ) (cf.
idem, § 56, p.116; § 44, p.92). Essa referência aos Beiträge permite afirmar que, desde a sua primeira concepção, a reflexão heideggeriana sobre a arte está ligada à meditação sobre a técnica: o que Heidegger argumentará nos anos 1950 e 1960 é apenas um desenvolvimento mais amplo do que está contido de forma substancial nos Beiträge. Já nos anos da elaboração (desde 1932) e, depois, da redação dos Beiträge (1936-1938), Heidegger, portanto, não somente concebia a arte como uma maneira de abrigar a verdade ao lado da produção técnica de utensílios (no sentido da techne grega), como também estava perfeitamente ciente do risco ao qual a arte está submetida na época da maquinação. Mas isso não é tudo. Muitos anos antes da conferência de Atenas, Heidegger formulara de maneira explícita, embora ainda de forma interrogativa, a ideia de “uma outra origem da arte” (idem, § 277, p.489), isto é, a possibilidade de que ela volte a ser novamente um meio para a fundação da verdade. A confirmação dessa possibilidade parece vir das anotações heideggerianas sobre a arte de Klee. De fato, o artista personifica, aos olhos de Heidegger, a figura exemplar do “vindouro” (um dos poucos raros Zukünftige de que Heidegger fala nos Beiträge ). Enquanto vindouro, Klee está imerso no afeto fundamental da reserva e na experiência autêntica da morte e, por isso, está receptivo para o dar-se do ser e o acenar do “deus derradeiro ” ( letzter Gott ). Em última análise, vê-se que a própria obra dos Beiträge, e a filigrana conceitual aqui delineada, lançam luz sobre toda a sua produção posterior. É essa obra que representa a “chave hermenêutica” para compreender tanto a filosofia da arte heideggeriana quanto a reflexão sobre a técnica 2, mas, sobretudo – ao que nos parece – para entender a conexão entre elas.
Com a menção dos conceitos heideggerianos de afeto fundamental e de deus derradeiro, levantam-se duas outras questões que podem integrar, de maneira frutífera, o já rico conjunto de problemáticas abordadas pela autora: 1. para compreender a arte é necessário meditar de maneira essencial sobre a essência da Stimmung, do afeto ou da tonalidade; 2. a arte é possibilidade de abertura àquela que poderíamos chamar de “transcendência teológica”. Nesse contexto, pode-se oferecer só algumas sugestões nas duas direções mencionadas. No que diz respeito ao primeiro ponto, a possibilidade de “ uma outra origem da arte” parece-nos depender tanto da experiência real da Grundstimmung pelo artista e pelos espectadores, quanto de uma compreensão filosófica transformada, não-metafísica, da afetividade.
Se o sentir é reduzido a mero Erlebnis, isto é, a emoção superficial, autocentrada e pobre de verdade, a arte é destinada a sucumbir (cf. Heidegger, 2002, pp.85-6).
De fato, como emerge claramente do curso sobre os hinos de Hölderlin dos anos de 1934-1935 (cf. idem, 2004), a obra pode surgir somente de um afeto fundamental e da experiência de verdade que ele oferece. Isso significa que o saber produtivo autêntico, tanto aquele artístico quanto aquele técnico, está sempre fundado na Grundstimmung, pois a afetividade é o medium do encontro entre homem e ser (como já mencionado justamente, mas só brevemente, pela autora). Voltando ao segundo ponto, a arte possibilita a chamada “transcendência teológica”, isto é, a relação do homem com o divino, que transparece na ideia heideggeriana do deus derradeiro. O motivo dessa revelação concedida pela arte está implícito no fato de que a obra é o que funda a verdade do ser. Sabe-se, de fato, que já nos Beiträge Heidegger distingue o seu conceito de ser daquele de deus, e que ele considera o acontecimento do ser como o horizonte em que o deus se pode ainda manifestar (cf.idem, 2015, § 123, pp.236-238 e § 126, pp.239-240). Portanto, se a obra funda o ser, ela desenrola, assim, o horizonte em que o homem poderia, talvez, encontrar deus.
O desenvolvimento das duas questões delineadas precisaria, enfim, de um esclarecimento genuíno da Geworfenheit típica da obra de arte. A sua Geworfenheit não exprime somente o fato de que a obra está situada no âmbito mundano e está exposta ao consumo e à decadência. A Geworfenheit da arte sugere o que Platão, de maneira poética, exprimia na ideia da manía erótico-criativa enquanto dom de deus. Analogamente, a arte é, segundo Heidegger, sempre o fruto de uma dádiva que provém do ser. Além disso, o que se pode extrapolar da reflexão inteira do “segundo” Heidegger é a ideia de que esse lance do ser consiste na kháris, isto é, na dinâmica de uma Stimmung originária, sobre-humana e sobre-linguística, que é amor que possibilita, Mögen que ermöglicht (cf. Heidegger, 2005, p.12) 3. Seguindo essa linha de leitura, aqui só esboçada, a arte resulta ser, em última análise, a resposta hermenêutica possibilitada pelo acontecimento “pático” ou afetivo daquela doação originária.
Notas
1 Veja-se também: Heidegger, 2015, § 242, p.378; § 243, p.379
2 Veja-se: Herrmann Von, 1997, pp.75-86 e também Herrmann von, 1994.
3 Ver também: Heidegger, 2006, p.180.
Referências:
Heidegger, M.( 2002 ). “ A origem da obra de arte”. In: Caminhos de Floresta. BorgesDuarte, I. (ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
___________. (2004).Hinos de Hölderlin.Tradução de Lumir Nahodil.Lisboa: Instituto Piaget.
___________.(2005).Carta sobre o Humanismo. Tradução de Rubens Eduardo Frias São Paulo: Centauro.
___________.(2006).“…poeticamente o homem habita…”. In: Ensaios e conferências.Tradução de Emmanuel Carneiro Leã o, Gilvan Fogel e Marcia Sá Cavalcante Schuback. 3ª ed. Petrópolis: Vozes.
___________. ( 2015).Contribuições à filosofia (Do Acontecimento Apropriador) Tradução de Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Via Verita.
Herrmann von, F.-W. ( 1994).Wege ins Ereignis. Zu Heideggers »Beiträgen zur Philosophie«. Frankfurt a.M.: Klostermann.
___________. (1997). „Die „Beiträge zur Philosophie“ als hermeneutischer Schlüssel zum Spä twerk Heideggers”. I n : H appel, M. ( Org.) Heidegger neu gelesen. Würzburg : Königshausen und Neumann, pp.75-86.
Pöggeler, O. (1972).Philosophie und Politik bei Heidegger. Friburg/München: Alber
Chiara Pasqualin – Universidade de São Paulo. [email protected]
Marx e Habermas: teoria crítica e os sentidos da emancipação – MELO (C-FA)
MELO, Rúrion. Marx e Habermas: teoria crítica e os sentidos da emancipação. São Paulo: Saraiva, 2003. Resenha de: FLECK, Amaro. Marx ou Habermas? Comentário crítico ao livro Marx e Habermas: teoria crítica e os sentidos da emancipação de Rúrion Melo. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 19 n.2 Jul-Dez, 2014.
Há de se questionar se seria possível uma síntese entre os pensamentos de Karl Marx e de Jürgen Habermas, principalmente ao se levar em conta que a teoria do segundo é caracterizada por um progressivo distanciamento das teses defendidas pelo primeiro. Mas, salvo engano, não foi fornecer tal síntese o intuito de Melo ao longo de seu livro. E por isso o título pode soar ambíguo, ao menos na medida em que não fica claro o significado da conjunção “e”. Neste caso, como o autor não busca desenvolver uma teoria crítica que concilie aspectos de ambos os pensadores, mas muito mais afirmar a atualidade e pertinência do segundo frente a uma suposta obsolescência e esterilidade do primeiro (exceto, claro, pelo pouco da teoria marxiana que é preservada na habermasiana, que consiste mais em certo anseio emancipatório comum do que em qualquer convergência em termos de conteúdo ou de diagnóstico), penso que se deve entender tal conjunção antes no sentido pouco usado da contraposição do que naquele usual do complemento.
Na verdade, a obra aqui resenhada é um livro ambicioso, uma vez que pretende operar concomitantemente em distintos níveis. Por um lado, almeja mostrar os desenvolvimentos da teoria crítica – desde seus primórdios com a obra marxiana até os desdobramentos pós -habermasianos da autodenominada terceira geração –, por outro, tenta discutir as tarefas atuais desta corrente de pensamento cujo maior desafio é renovar os seus diagnósticos de época, como bem salienta Melo. Tal meta é buscada tanto no plano, por assim dizer, mais geral, no qual analisa o processo de modernização da sociedade capitalista, quanto em um plano paroquial, ao discutir nuances da recepção brasileira desta tradição crítica e presumidos impasses que caracterizariam seu estágio atual. Com isso, a obra tenta intervir na discussão nacional ao mostrar uma senda que seria, segundo Melo, profícua, mas que tem enfrentado certa resistência entre nós, a saber: aquela contida na teoria habermasiana e desenvolvida também por teóricos posteriores bastante influenciados por ele, tais como Jean Cohen, Axel Honneth e Seyla Benhabib. Neste comentário, gostaria de apresentar de forma sucinta a argumentação de Melo para, depois, tecer três críticas a ela.
- A resenha
O livro aqui tratado é composto por três partes. As duas primeiras tratam do dilema “reforma ou revolução”, a primeira apresentando a vertente revolucionária inspirada no pensamento marxiano e os impasses desta, e a segunda a corrente reformista, também inspirada no pensador socialista, e suas dificuldades. A terceira parte, que pode ser considerada propositiva, busca mostrar uma alternativa a este dilema paralisante que estaria, na visão do autor, solapando a capacidade crítica das teorias que não se conformam com o estado existente das coisas.
Antes de tratar das duas primeiras partes convém apresentar o ideal de sociedade emancipada que seria comum tanto à tradição revolucionária quanto à reformista, ideal este presente na obra de Marx. De acordo com Melo, a sociedade emancipada seria para Marx uma “República do trabalho”, uma “auto-organização holista dos trabalha dores” na qual o “trabalho heterônomo” seria transformado em “trabalho autônomo”. A fundamentação normativa deste ideal se encontraria subjacente ao próprio conceito de trabalho, de modo que tal concepção fica presa ao “paradigma produtivista” e ao “economicismo”, pois compreende todas as relações sociais pelo prisma das relações produtivas e vê a política como mero epifenômeno dos antagonismos econômicos. Melo critica o suposto reducionismo da concepção de práxis marxiana, restrita ao trabalho, e argumenta que isto fez com que Marx não entendesse a emancipação “como um processo intersubjetivo, aberto e reflexivo, de constante disputa e negociação” 2, de maneira que, citando Jean Cohen, a partir de tal modelo produtivista de autorrealização “a liberdade tende a ser sacrificada em nome da abundância” 3. O juízo mais positivo que Melo dirige ao autor de O Capital é que este, em sua obra juveníssima (i.e. na Crítica da filosofia do direito de Hegel e em Sobre a questão judaica ), teria ampliado o conceito do político de maneira que diga também respeito “aos processos sociais que residem na base econômica da sociedade” 4, embora no decorrer de sua obra ele tenha cedido à tendência de “reduzir a interação política à instrumentalidade das relações de classe” 5. Melo não apenas apresenta e critica a concepção de emancipação de Marx, mas também indica uma alternativa: com a distinção habermasiana de interação e trabalho, segundo ele, seria possível entender também a dimensão simbólica (e não somente a produtiva) da ação. Enquanto o trabalho se caracteriza por ser uma ação não linguística, estratégica (i.e. diz respeito a fins), a interação é uma ação linguística e comunicativa (sendo assim um processo reflexivo), dependendo da “cooperação e do assentimento livre de coerção” 6. Portanto, sempre segundo o autor, na dimensão simbólica poderia ser encontrado um ideal emancipatório que não seria caracterizado pelo reducionismo economicista típico da dimensão estratégica. Sem tal distinção não seria mais possível “uma compreensão da dinâmica política em que as condições da emancipação social se encontrem em disputa” 7.
O problema relativo ao próprio ideal emancipatório é comum às duas tradições que se inspiram em Marx, mas isto não as torna iguais. O paradigma revolucionário não só fracassou, uma vez que o proletariado não conseguiu realizar o ideal de uma sociedade emancipada (mesmo onde tenha conseguido fazer a revolução ou onde partidos supostamente defensores dele alcançaram as posições de comando), como tampouco conseguiu deixar um legado. O mesmo não ocorreu com o paradigma reformista. Este, ao abandonar “a perspectiva dogmática da luta de classes”, “a visão holista da sociedade” e “a falsa atitude diante do Estado democrático de direito” 8, contribuiu para a universalização dos direitos civis e para a implementação de políticas redistributivas. No entanto, a limitação da concepção emancipatória dos reformistas, cujo ideal seria tão só “a humanização do trabalho” 9, acaba por desconsiderar os “conflitos e potenciais emancipatórios não limitados à lógica redistributiva” 10 e, com isso, torna-se insensível para o crescimento da burocracia estatal, assim como do paternalismo inerente a ela, decorrentes da forma centralizadora do Estado de Bem-Estar social. Particularmente interessante, na reconstrução de Melo, é que ele nota que não só há um engessamento da democracia pelo fato da cidadania ser “meramente distribuída como benefícios garantidos pela burocracia do Estado” 11, como também que ficam cada vez mais claras as dificuldades da “manutenção do crescimento capitalista implementada por vias intervencionistas” 12, isto é, que o próprio custo econômico do Estado de Bem-Estar social torna-se um fardo demasia do pesado, um fardo que o próprio capitalismo, gerido em grande parte pela intervenção político-governamental, não consegue mais suportar.
A última parte da narrativa trata, justamente, da tentativa de superar aquilo que Melo identifica como o dilema paralisante das forças críticas, a saber, a alternativa entre reforma e revolução. Para tanto, segundo o autor, é preciso o abandono tanto da “utopia de uma sociedade do trabalho” quanto de seu correlato, o paradigma produtivista. Na verdade, os novos movimentos sociais (e o autor elenca: os movimentos dos direitos civis, dos pacifistas, dos estudantes, das feministas, dos gays, dentre outros) alargaram o escopo de reivindicações, trazendo ao âmbito do político diversas demandas que não mais se enquadravam nos limites estreitos de uma esquerda que se ocupava unicamente da luta pela “supressão completa do capitalismo” 13 ou, se resignada, que se engajava em sua reforma. Com a pluralidade das demandas e a nova realidade social do capitalismo tardio seria preciso, sempre conforme o autor – e quase sempre conforme Habermas também –, a substituição da própria orientação da crítica: ela não mais busca a sociedade emancipada, uma vez que “sociedades complexas e pluralistas (…) inviabilizariam a imagem de uma sociedade tomada em seu todo” 14, em vez disso elas almejariam formas de vida emancipadas. Mas a narrativa triunfante que conduz de Marx a Habermas e seus sucessores, em que os déficits de cada estágio da teoria crítica são sanados pela etapa posterior, encontra, tal como Hegel ao se deparar com a plebe, um obstáculo talvez intransponível: a própria democracia vem perdendo sua vitalidade, uma vez que engessou a participação democrática em canais institucionalizados e limitou “as possibilidades de formação espontânea da opinião pública e da vontade coletiva” 15. O autor, no entanto, parece não ver isto como algo que ponha em cheque o projeto da democracia deliberativa e insiste que é preciso um novo engajamento político que respeite as regras do jogo democrático e reconheça a legitimidade do poder existente uma vez que todos “consentiram com tal resolução uma vez que puderam formar a opinião, avaliar as questões envolvidas e contribuir na tomada de decisão” 16.
- A crítica
Antes das críticas, o elogio. O mínimo a ser dito é que a obra contém inúmeras virtudes. Apesar de não concordar, pelos motivos que exporei a seguir, com a argumentação geral de Melo, reconheço a grande pertinência do tema e a grande erudição com o qual é trata do. O autor apresenta uma literatura em grande parte desconhecida ao público brasileiro e trata com desenvoltura não somente o grande número de obras exegéticas sobre as teorias analisadas como também um amplo referencial histórico-sociológico que lida com as transformações da sociedade desde a época de Marx até os nossos dias. No entanto, a opção metodológica pela história dos efeitos (a), uma interpretação demasiado tradicional e restrita de Marx (b), e um otimismo exagerado em relação às potencialidades contidas na teoria habermasiana e de certo número de seus sucessores (c) faz com que, a meu ver, o livro aqui debatido não alcance plenamente o objetivo que ele mesmo propõe: o de renovar a teoria crítica e o de obter a “compreensão profunda do presente” do qual falava Horkheimer.
- a) História dos efeitos?
Melo defende a abordagem da história dos efeitos como a adequada para lidar com os problemas da história da filosofia, uma vez que ela permite “perceber nuances, potencialidades e limitações de uma teoria que só se explicitam a partir da história de seus efeitos” 17. Contudo, a história dos efeitos precisaria se defrontar com uma série de questões bem mais ampla do que aquela que efetivamente enfrenta, ao menos no caso desta obra. Para começar, é praticamente impossível fazer um panorama da totalidade dos efeitos de uma obra como a de Marx, uma vez que ela recebeu interpretações inteiramente díspares e motivou cursos de ação totalmente opostos. Basta lembrar que sua obra foi usada tanto para legitimar os regimes do socialismo real mente existente quanto para criticá-los e questioná-los; tanto para justificar as opções em geral autoritárias dos partidos comunistas oficiais como os modelos libertários dos movimentos autonomistas; houve quem a leu como um advogado da causa do trabalho e houve quem a leu como um defensor da preguiça (opção esta do próprio genro de Marx, Paul Lafargue). O autor, infelizmente, desconsidera tal pluralidade e dedica atenção apenas a duas tendências predominantes do movimento operário 18. Isto aponta para um segundo problema: a história dos efeitos precisa tratar de forma mais refinada a complexa relação que há entre teoria e prática. Se é certo que Marx escreveu sua obra sempre em contato próximo com os movimentos dos trabalhadores, é igualmente certo que esta não foi apenas a expressão teórica daqueles, mas sempre manteve uma tensão e mesmo uma distância crítica com relação a eles. Assim, seria necessário mostrar como se dá esta relação, reconstruindo as tendências predominantes do movimento operário e mostrando como Marx se relacionou com elas. Há, por assim dizer, um abismo entre a obra marxiana e doutrinas por ela inspiradas que não é transposto, tampouco se constrói os meios para fazê-lo. A história dos efeitos, assim, é transformada apenas num rótulo para legitimar uma interpretação que ignora boa parte das nuances e ambiguidades do texto original, pois nada disso importa, mas sim o modo como Marx foi supostamente lido. Ora, a teoria crítica tem pouco a ganhar escolhendo metodologias que apenas reforçam as tendências dominantes, seja na sociedade, seja na exegese de um autor. Antes, sua função deveria ser a de escovar a história a contrapelo, também no caso da história da filosofia.
Ademais, a opção pela história dos efeitos é deveras parcial, sendo aplicada a Marx, mas não a Habermas. Por quê? Não se encontra explicação, mas a exegese da obra habermasiana é feita em geral com a intenção de mostrar as melhores potencialidades nela contidas ou aquilo que seria a sua “verdadeira teoria”, em vez de explicá-la a partir dos efeitos que ela tem causado. E há de se lastimar isto, sobre tudo porque, salvo engano, Habermas parece um tanto descuidado em suas intervenções. Não é à toa que o Partido Popular espanhol, e mais especificamente o então presidente José Maria Aznar, mostrou grande entusiasmo pelo conceito de “patriotismo constitucional”, um conceito que lhe pareceu feito sob medida para sustentar políticas xenofóbicas sem ter que perder a pose liberal 19. Também as fortes críticas ao paternalismo inerente ao Estado de Bem-Estar socialdemocrata, por mais corretas que sejam na maioria das vezes (e reconstruídas com grande esmero no livro aqui comentado), ao olhar retrospectivo do presente parecem ter errado o alvo: num momento em que a teoria deveria ter defendido o legado do Estado de Bem-Estar social diante da ameaça iminente de seu desmonte retrógrado, ela se junta ao coro dos críticos buscando mostrar antes as deficiências daquele que está saindo de cena do que as daquele que está entrando: o Estado centauro neoliberal 20. Por fim, também no atual debate sobre a argumentação religiosa na política, as sugestões de Habermas costumam dar aval, ou ao menos assim têm sido interpretadas por grande parte de seus leitores (que é o único que importa na história dos efeitos), aos desmandos da maioria religiosa 21.
- b) Por uma outra interpretação de Marx
Em sua interpretação da obra marxiana, Melo, em geral, apenas avaliza a interpretação de Habermas, segundo a qual Marx teria fica do preso ao paradigma produtivista, ao âmbito do trabalho, à filosofia do sujeito ou da consciência. No entanto, a interpretação habermasiana da obra de Marx é claramente deficitária, e isto fica evidente a partir da análise das poucas passagens em que o teórico de Düsseldorf se aproxima do texto marxiano, em vez de comentá-lo à distância 22. Melo tenta, assim, corroborar textualmente uma crítica cuja condição de existência parece ser esta não familiaridade. Neste aspecto, ao menos, o resultado é pouco promissor, uma vez que o autor parece comprometido de antemão a ler Marx a partir da interpretação habermasiana e a não romper com esta de jeito algum. Um exemplo disso é o tratamento dado à categoria trabalho, categoria esta que, por sinal, desempenha uma função proeminente na leitura de Melo. Para ele, o conceito de “trabalho abstrato” significa, grosso modo, o trabalho remunerado, típico do capitalismo industrial, o qual é contraposto ao “trabalho concreto” que seria aquele típico dos artesãos ou da sociedade feudal 23. Ora, salvo engano, “trabalho abstrato” e “trabalho concreto” são duas dimensões do trabalho que produz mercadorias, o primeiro gerando valor e o segundo criando valor de uso (não sendo, portanto, dois tipos de trabalhos distintos, mas duas facetas de um mesmo trabalho, tal como se caracteriza na sociedade capitalista quando se generaliza a forma-mercadoria) 24. Melo defende a tese segundo a qual o trabalho seria, para o autor socialista, “a atividade humana mais essencial” 25. No entanto, é preciso perceber que em diversos casos isto não ocorre. Assim, por exemplo, ele diz na Introdução à Para a crítica da economia política que “o trabalho é uma categoria (…) moderna” 26, e em inúmeros textos a sociedade comunista é vista como uma na qual tal atividade é abolida (caso de A Ideologia alemã ) ou reduzida a uma quantia mínima (caso dos Grundrisse e de O Capital ). Ora, se o trabalho fosse realmente visto como a atividade humana essencial por Marx, não seria de se esperar que a sociedade emancipada se caracterizasse por fazer ao máximo tal atividade, e não por reduzi-la ao mínimo? Não seria um quid pro quo falar de uma “utopia da sociedade do trabalho” cujos partícipes não trabalham? Diversos autores têm apontado para ambiguidades da categoria trabalho no texto marxiano, e de fato algumas vezes é possível encontrar nele esta compreensão atemporal de trabalho, quase metafísica, à qual Melo se atém. Esta, por sinal, é a interpretação do marxismo tradicional e as críticas feitas por Melo seriam, a meu ver, plenamente pertinentes, caso se dirigissem tão somente a ela. Se tivesse por alvo ou interlocutor uma corrente exegética da obra de Marx como a da Escola de Budapeste (da “ontologia do ser social” do Lukács tardio), as deficiências que o autor elenca poderiam, acredito, ser facilmente corroboradas textualmente. Porém, na medida em que tem por interlocutores autores que rompem com o marxismo tradicional, como é o caso, no âmbito internacional, de Moishe Postone, de Helmut Reichelt, de Roman Rosdolsky, e no âmbito nacional de Ruy Fausto, de Jorge Grespan e de Paulo Arantes, Melo acaba por direcionar a crítica para teóricos cujo ideal de emancipação em nada se assemelha a esta religião do trabalho por ele reconstruída.
Ademais, quando Melo afirma que Marx fica preso ao paradigma da produção e à filosofia da consciência, ele está projetando em sua obra a distinção habermasiana de trabalho e interação e dizendo que o seu projeto de crítica da economia política está inserido no primeiro e que exclui o segundo. Mas esta é uma boa chave para pensar a obra marxiana? Acredito que não. A crítica da economia política inicia justamente pela análise da mercadoria, a forma elementar da riqueza nas sociedades capitalistas. Mas a mercadoria não é o produto criado na relação do homem isolado com a natureza, e sim, basicamente, uma forma de relação social, uma vez que ela é feita de antemão visando a troca. O intercâmbio mercantil, analisado à exaustão na obra marxiana, é uma forma de interação, intersubjetiva, linguística e simbólica, embora, como grande parte das interações intersubjetivas realmente existentes não seja realizada a partir da “cooperação e o assentimento livre de coerção dos participantes” 27 que caracteriza a interação habermasiana segundo Melo (uma vez que pressuporia o “entendimento que habita no interior do próprio medium linguístico” 28, pressuposto este só encontrado idealmente). Mesmo o processo de trabalho é analisado na crítica da economia política marxiana como um processo intersubjetivo, permeado pela linguagem, sujeito a acordos, conflitos e regulações, e não como uma relação de sujeito-objeto, como Melo afirma 29. O mesmo se passa com a acusação de “economicismo”. Melo discorre ao longo de várias páginas a tese de que Marx projeta as relações econômicas em todas as outras esferas, que ele compreende toda a sociedade a partir da perspectiva econômica e que é incapaz de perceber como se dá a ação comunicativa que supostamente seria determinante na esfera política. No entanto, Melo dedica pouca atenção para a questão do que significa o subtítulo da obra magna de Marx, “crítica da economia política” e, por conseguinte, ao próprio projeto teórico marxiano. Salvo engano, Marx não se propõe a fazer uma análise oniabarcante da sociedade ou oferecer um quadro ou gramática de todos os tipos de conflitos sociais (embora o marxismo tradicional, que se constitui como uma visão de mundo que pretende explicar tudo a partir da obra de Marx, por vezes faça isto), mas sim a analisar o modo de produção capitalista e criticá-lo de forma imanente 30. A tese de Marx é que o capitalismo cria uma nova forma de dominação na qual o processo econômico ganha vida própria e passa a sujeitar os indivíduos, transformando-os em meras engrenagens de seu mecanismo de autovalorização. Portanto, a crítica de Marx é que o modo de produção capitalista justamente transcende a esfera da economia, dissemina-se também em outros âmbitos, criando uma nova forma de dominação. Marx critica a sociedade capitalista precisamente por ela ser economicista, por ela estar presa ao paradigma da produção. Neste ponto parece haver uma confusão entre a dimensão normativa e a dimensão descritiva tanto da obra de Marx (de modo que aquilo que o autor de O Capital descreve como o estado existente das coisas, um mundo dominado pelo paradigma da produção e pela ótica da economia, é visto como a sociedade ideal socialista) quanto na exegese da sociedade atual (em que o mundo parece não mais se pautar por um ideal produtivista, já tendo saído da sociedade do trabalho, simplesmente porque gostaríamos que este fosse o caso), ou ao menos não vejo como alguém possa defender, na era do precariado, que a sociedade do trabalho chegou ao fim 31.
Por fim, por mais interessante que possa ser a concepção do âmbito político do juveníssimo Marx, uma teoria crítica adequada para lidar com os problemas contemporâneos certamente tem muito mais a ganhar com releituras de O Capital e do restante da obra tardia do autor. Postone, por exemplo, não tem sido discutido por ter consegui do oferecer uma “salvação” de Marx ou uma interpretação autêntica do mesmo (como Melo sugere 32 ), mas basicamente por conseguir esclarecer, a partir da obra marxiana, alguns aspectos da dinâmica do capitalismo atual, tal como a criação de uma população supérflua que não consegue mais ser inserida na esfera da produção. Nesse sentido, Melo, que justamente busca pensar uma teoria crítica adequada para o presente, não dá atenção ao fato de que nos últimos trinta ou quarenta anos as desigualdades materiais cresceram de forma abissal, de forma que é preciso urgentemente repensar a primazia das “demandas por reconhecimento de diferenças culturais” 33, e tampouco atribui importância à circunstância de que, no mundo pós-2008, os questionamentos acerca do capitalismo retornaram e, tão cedo, não deverão ser relegados a segundo plano 34.
- c) A construção de uma teoria crítica da sociedade adequada ao presente
Minha discordância com Melo, no entanto, não se limita à (pouca) importância dada ao pensamento marxiano na tentativa de atualizar a teoria crítica da sociedade e oferecer um diagnóstico de época adequado ao presente, mas diz respeito também ao quanto a teoria habermasiana pode fazê-lo. Melo praticamente aceita como pressuposto que a teoria de Habermas é apta para lidar com os problemas de nosso tempo. Ao contrário dele, acredito que, apesar de Habermas ainda estar vivo e produzindo freneticamente, sua teoria está baseada em um diagnóstico obsoleto (ao menos no que tange a mediação entre a esfera política e a econômica, tal como reconstruído no livro aqui comentado) e que só tomando grande distância deste diagnóstico poderemos ver o que em sua teoria não está totalmente ultrapassa do 35. Dito de forma muito direta, a teoria habermasiana foi forjada em uma situação social muito peculiar e excepcional, a do Estado de Bem-Estar social amplo e vigoroso que esteve vigente na Alemanha do pós-guerra em uma época de imensa prosperidade econômica que se refletiu em melhorias generalizadas no padrão de vida. Hobsbawn, na Era dos extremos, designa tal período como “a era de ouro” do de resto catastrófico “breve século XX”, embora ressalte que, se é certo que praticamente toda a população europeia (ocidental) gozou das benesses dessa época, nem todo o resto do mundo teve tal sorte 36. Na época, estava bem assentada a crença de que tais benesses seriam duradouras e se disseminariam aos poucos pelo mundo, e tal crença estava tão arraigada no pensamento habermasiano que no término do artigo “trabalho e interação” ele afirmava que “apesar da fome reinar ainda sobre dois terços da população mundial, a eliminação da fome já não é nenhuma utopia no sentido pejorativo” 37. Se lhe parecia que a fome e a miséria poderiam estar com os dias contados, o mesmo não ocorria a respeito da servidão e da humilhação, e por isso Habermas se dirige de forma cada vez mais enfática aos conflitos que não podem ser chamados de redistributivos ou, em seu linguajar, não dizem res peito à esfera do trabalho. É evidente que nem o mais otimista dos analistas sociais acredita hoje que a fome possa acabar num futuro próximo. Na verdade, a quantia de pessoas passando fome no mundo se estabilizou em um patamar altíssimo (870 milhões de pessoas, segundo os dados da FAO em 2013) e é muito provável que, em consequência da atual crise econômica e também por causa do aquecimento global, volte a aumentar. Quando o Estado de Bem-Estar social entra em crise, ao longo dos anos oitenta, Habermas endossa o coro liberal que vê no excesso de regulação sobre o mercado uma patologia. Na verdade, ele chega mesmo a afirmar coisas que se parecem muito mais com a pregação neoliberal do que com a teoria crítica, tal como a tese de que sociedades complexas como as nossas “não podem se reproduzir se não deixam intacta a lógica de auto-orientação de uma economia regulada pelos mercados” 38. É difícil pensar numa afirmação que pode ser considerada mais refutada do que essa pelos aconteci mentos dos últimos tempos. Uma teoria crítica hoje não pode deixar de lado o mercado capitalista e os malefícios dele decorrentes como se fossem danos necessários à autorreprodução material da sociedade. Isto nos afasta terminantemente do diagnóstico habermasiano. Melo, contudo, cita a frase recém referida de forma positiva, anuindo com seu conteúdo 39.
O fato de endossar sem mais o datado diagnóstico de Habermas se reflete em diversos âmbitos do livro de Melo. Assim, com toda razão, ele diz que os “novos movimentos sociais” fazem demandas que se diferenciam daquelas do movimento operário tradicional, mas parece considerar como novos movimentos apenas aqueles de meados do século passado cujas reivindicações básicas eram por direitos civis.
Mas será que não surgiu nada de novo neste ínterim? Os dias de ação global na década de noventa, assim como o Occupy Wall Street ou mesmo o Movimento Passe Livre têm demandas muito distintas daquelas. As demandas de tais movimentos não podem encontrar espaço na crença de que a emancipação diz respeito apenas a formas de vida, e não a própria esfera da sociedade, uma vez que ou todos vivemos numa cidade na qual o transporte público seja eficiente e voltado para as pessoas, não para o lucro, ou ninguém pode ver-se emancipado do trânsito caótico que inferniza a vida dos habitantes de qualquer cidade mediana ou maior do que isso, exceto talvez os riquíssimos que desfilam pelo céu em seus helicópteros (aliás, isto já era válido para então, pois também a emancipação do medo da possibilidade de eclosão de uma guerra nuclear só pode ser coletiva, ou melhor, universal) 40.
Ademais, diversas vezes ele afirma que o ideal socialista clássico perdeu seu referencial concreto, que as ideias precisam estar ancoradas de alguma forma na realidade. Mas isto não é válido, infelizmente, também para o ideal de democracia deliberativa de Habermas? A distância que separa nossas democracias realmente existentes da ver dadeira democracia deliberativa habermasiana não é tão gigantesca quanto aquela que os marxistas mais bem intencionados afirmavam haver entre o socialismo realmente existente e o verdadeiro ideal socialista? Melo acredita que não. Isto porque a democracia deliberativa não é apenas um experimento mental, mas algo latente nas nossas democracias de massa. Mas isto nos coloca num dilema em que é difícil decidir qual alternativa consegue ser pior: ou aceitamos o sistema político atual como legítimo, como democrático, e afirmamos assim que a democracia realmente existente já é a democracia deliberativa, mas aí temos de reconhecer que um sistema político incapaz de dar fim mesmo à fome (e outras formas extremas de sujeição) em meio a uma abundância material nunca antes vista em nada é emancipatório; ou, ao contrário, afirmamos que o sistema político atual é ilegítimo, uma pálida imitação da verdadeira democracia, mas com isso apelamos para um ideal de modo algum ancorado na realidade. Ora, o ideal habermasiano é sem dúvida bonito e digno de valor, mas tão idealiza do e abstrato quanto o projeto kantiano para a paz perpétua.
Por fim, voltando à questão da imbricação entre economia e política, Melo tenta, em seu livro, mostrar que o dilema reforma versus revolução não faz mais sentido nos dias de hoje, pois a esquerda cai em impasses insanáveis tanto ao tentar suprimir o capitalismo quanto ao tentar reformá-lo. A opção habermasiana, contudo, mostra impas se ainda maior, verdadeiro cul de sac : é preciso, ao mesmo tempo, controlar o sistema econômico e deixar intacta a sua lógica de autor regulação; impedir a colonização de outras esferas pelos imperativos econômicos sem, no entanto, colocar em risco a própria saúde do capitalismo. Ora, isto é uma miragem. Diante do dilema reforma/revolução não há terceira via, salvo sem deixar de ser esquerda, i.e., sem deixar de combater as desigualdades sociais, e resignar-se ao capita lismo atualmente existente como se este fosse o melhor dos mundos possíveis. Ao fim e ao cabo é o que parece fazer Habermas. Parece-me não haver escolha mais equivocada.
Notas
1 Agradeço os comentários e críticas de Alessandro Pinzani e Denílson Werle
2 MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação. São Paulo: Saraiva, 2013, p.137.
3 Idem, p. 126.
4 Idem, p. 140.
5 Idem, p. 141.
6 Idem, p. 179.
7 Idem, p. 186
8 Idem, p. 191.
9 Idem, p. 192.
10 Idem, p. 191.
11 Idem, p. 225.
12 Idem, p. 224.
13 Idem, p. 271.
14 Idem, p. 295.
15 Idem, p. 316.
16 Idem, p. 319.
17 Idem, p. 340.
18 Algo que vai contra a sua própria observação de que “a teoria crítica não pode reproduzir acriticamente a voz do movimento social. Marx não havia feito isso” (MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação, p. 268).
19 Cf. ZIZEK, S. O filósofo estatal. Folha de São Paulo, 24 de Março de 2002, disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2403200206. htm>.
20 O conceito de Estado centauro é desenvolvido por Loïc Wacquant em “Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente”. Wacquant afirma que o Estado centauro: “exibe rostos opostos nos dois extremos da estrutura de classes: ele é edificante e ‘libertador’ no topo, onde atua para alavancar os recursos e expandir as opções de vida dos detentores de capital econômico e cultural; mas é penalizador e restritivo na base, quando se trata de administrar as populações desestabilizadas pelo aprofundamento da desigualdade e pela difusão da insegurança do trabalho e da inquietação étnica. O neoliberalismo realmente existente exalta o ‘ laissez faire et laissez passer ’ para os dominantes, mas se mostra paternalista e intruso para com os subalternos” (WACQUANT L. Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente. Caderno CRH, v. 25, n. 66, 2012, p. 512).
21 Uma boa discussão sobre este assunto se encontra no debate entre Pinzani (2009) e Araújo (2009). In: PINZANI, A. et al. O Pensamento vivo de Habermas. Uma visão interdisciplinar. Florianópolis: Nefipo, 2009, p. 211-228.
22 Para citar apenas um exemplo: em Teoria do agir comunicativo Habermas fala, se referindo a O Capital, que “o valor de uso está para o valor de troca assim como a essência está para a aparência” (HABERMAS, J. Teoria do agir comunicativo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 614), provavelmente querendo dizer que “o valor está para o valor de troca assim como a essência está para a aparência”, correção que por si só já impede a rejeição em bloco por parte de Habermas das obras de Backhaus, Krahl, Reichelt e outros. É conveniente recordar que tais categorias (valor, valor de troca, valor de uso) são termos -chave da crítica da economia política de Marx.
23 MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação, pp. 34, 108-9, 182. Habermas também interpreta assim tais categorias em: HABERMAS, J. A Crise do Estado de bem-estar social e o esgotamento das energias utópicas. Novos Estudos CEBRAP, n. 18, 1987, pp. 105-6.
24 MARX, K. O Capital. Livro I, Volume I. São Paulo: Nova Cultural, 1985, pp. 49-53.
25 MELO, R. Marx e Habermas Teoria crítica e os sentidos da emancipação, p. 123.
26 MARX, K. Introdução à Para a crítica da economia política. In: Para a crítica da economia política; Salário, preço e lucro; O rendimento e suas fontes; A economia vulgar. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 16.
27 MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação, p. 179.
28 Idem, ibidem.
29 Cf. Idem, p. 180.
30 Não deixa de ser curioso observar que Melo, seguindo Cohen, faz uma crí tica a Marx que o próprio Marx havia feito a outros críticos de sua época, a saber, a de achar que só os proletários sofriam nas condições atuais. Cito um trecho de Sobre o suicídio, de Marx: “A pretensão dos cidadãos filantropos está fundamentada na ideia de que se trata apenas de dar aos proletários um pouco de pão e de educação, como se somente os trabalhadores definhassem sob as atuais condições sociais, ao passo que, para o restante da sociedade, o mundo tal como existe fosse o melhor dos mundos” (MARX, K. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 22).
31 Cf. MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação, p. 263. Diversas outras afirmações ao longo do livro parecem um tanto descontextualizadas hoje em dia, como, por exemplo, esta: “Mesmo que uma crise econômica pudesse ocorrer algum dia, o argumento que defendia tanto a sua inevitabilidade quanto sua determinação econômica se enfraquece sensivelmente” (p. 222). Ora, a crise atual é antes econômica do que de legitimação.
32 Cf. Idem, p. 341.
33 Idem, p. 42. Não defendo, de forma alguma, que as demandas culturais não tenham muita importância ou mesmo que devam estar subordinadas a outras reivindicações. Apenas constato, seguindo Nancy Fraser, que uma nova esquerda precisa conciliar estes tipos de demandas em vez de seguir opondo uma à outra como ela tem feito, de forma infrutífera, nos últimos decênios. Aliás, penso que o verdadeiro “dilema paralisante” nas forças críticas é justamente este que opõe as demandas por redistribuição às demandas por reconhecimento.
34 Como observa Fraser: “a crítica da sociedade capitalista, crucial para as primeiras gerações, quase desapareceu da agenda da teoria crítica. A crítica centrada na crise capitalista, especialmente, foi declarada reducionista, determinista e ultrapassada. Hoje tais verdades estão em frangalhos” (FRASER, N. Marketization, social protection, emancipation: toward a neo-Polanyian conception of capitalist crisis. In: CALHOUN, C. e DERLUGUIAN, G. (ed.). Business as usual: The roots of the global financial meltdown. New York: New York University Press, 2011, p. 137).
35 A meu ver, o grande legado habermasiano foi a ênfase colocada nos procedimentos. Seria um grande retrocesso voltar a dar atenção somente aos re sultados das políticas sem levar em consideração também o modo como são tomadas as decisões e como elas são postas em prática.
36 Cf. HOBSBAWN, E. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das letras, 1995, pp.253-282.
37 HABERMAS, J. A Crise do Estado de bem-estar social e o esgotamento das energias utópicas. Novos Estudos CEBRAP, n. 18, 1987, p. 42.
38 HABERMAS, J. O que significa socialismo hoje? Novos Estudos CEBRAP, n. 30, 1991, p. 56. Esta afirmação é problemática não apenas enquanto prescrição, mas igualmente como descrição do que ocorre. O mercado neoliberal não é marcado por uma ausência do Estado, mas pela completa subordinação das sempre presentes intervenções estatais às finalidades mercantis (para uma análise mais adequada a respeito disso, cf. WACQUANT L. Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente. Caderno CRH, v. 25, n. 66, 2012).
39 MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação, p. 250.
40 A emancipação sempre se refere a algo de que é preciso libertar-se. Insistir em uma emancipação da sociedade significa, portanto, que há coações sociais que impossibilitam a independência e autonomia das pessoas em determina da sociedade. Tais coações podem ser econômicas (como o agente capital na crítica da economia política de Marx, que faz com que toda a sociedade se subordine ao imperativo do crescimento econômico), políticas, urbanas etc.
Referências
ARAÚJO, L. B L. Habermas e a religião na esfera pública: um breve ensaio de interpretação. In: PINZANI, A. et al. O Pensamento vivo de Habermas. Uma visão interdisciplinar. Florianópolis: Nefipo, 2009, p. 229-244.
FRASER, N. Marketization, social protection, emancipation: toward a neo-Polanyian conception of capitalist crisis. In: CALHOUN, C. e DERLUGUIAN, G. (ed.). Business as usual: The roots of the global financial meltdown. New York: New York University Press, 2011, pp. 137-157.
HABERMAS, J. Teoria do agir comunicativo. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
_____________. A Crise do Estado de bem-estar social e o esgotamento das energias utópicas. Novos Estudos CEBRAP, n. 18, 1987, p. 103-114.
_____________. O que significa socialismo hoje? Novos Estudos CEBRAP, n. 30, 1991, p. 43-61.
_____________. Trabalho e interação. In: Técnica e ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1987.
HOBSBAWN, E. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das letras, 1995.
MARX, K. Introdução à Para a crítica da economia política. In: Para a crítica da economia política; Salário, preço e lucro; O rendimento e suas fontes; A economia vulgar. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
_________. O Capital. Livro I, Volume I. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
_________. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006.
MELO, R. Marx e Habermas. Teoria crítica e os sentidos da emancipação. São Paulo: Saraiva, 2013.
PINZANI, A. Fé e saber? Sobre alguns mal-entendidos relativos a Habermas e à religião. In: PINZANI, A. et al. O Pensamento vivo de Habermas. Uma visão interdisciplinar. Florianópolis: Nefipo, 2009, p. 211-228.
WACQUANT L. Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente. Caderno CRH, v. 25, n. 66, 2012, p. 505-518.
ZIZEK, S. O filósofo estatal. Folha de São Paulo, 24 de Março de 2002, disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/ fs2403200206.htm>.
Amaro Fleck – Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: [email protected]
Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 19311938) – HEIDEGGER (C-FA)
HEIDEGGER, Martin. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 19311938) Vol. 94. Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014. Resenha de: HOEPFNER, Soraya Guimarães. Começo e fim da filosofia. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 19 n.2 Jul-Dez, 2014.
O primeiro volume dos Cadernos Pretos de Martin Heidegger, Überlegungen II-IV (Schwarze Hefte 1931-38), inaugura um último capítulo no processo de publicação das obras completas do filósofo, conforme cuidadosamente planejado por ele. Com o lançamento do presente livro, tornaram-se públicos os primeiros cinco cadernos da série, muito provavelmente organizados por Heidegger de modo a alinhá-los a uma determinada cronologia de eventos mundiais. Os anos cobertos pelo volume 94, do qual trata a presente resenha, coincidem justamente com aqueles decisivos, que antecedem a 2ª Guerra Mundial.
Por diferentes razões, a seguir explicitadas, a publicação dos Cadernos poderia ser vista como uma espécie de “o começo do fim”. Primeiramente, ela abre a possibilidade de pôr fim à pergunta fechada, não-filosófica, que há décadas se ocupa de buscar indícios concretos de uma postura comprovadamente antissemita de Heidegger. Visto que o presente volume e os subsequentes respondem categoricamente a essa questão com um sim, abre-se, por sua vez, a possibilidade de colocarmos um ponto final nessa pergunta, ou seja, a possibilidade de libertação para que nos voltemos a uma discussão eminentemente filosófica. Este “sim” como resposta à primeira pergunta, no entanto, não é fácil de ser assimilado, aceito, de modo que a publicação dos Cadernos também pode representar para os estudos heideggerianos um fim, duradouro, ocasionado pelo ofuscamento completo da discussão filosófica. Essa espécie de desvirtuamento é em parte alimentada pela hipótese de “contaminação” 1 do projeto filosófico de Heidegger por ideias fascistas e racistas, as quais, por razões óbvias, não queremos e não devemos nós mesmos jamais nos associar.
Para aqueles que se decidirem pela questão filosófica, considerando que seja possível para nós encontrarmos uma postura adequada diante do conteúdo polêmico das declarações, defendemos uma leitura dos Cadernos centrada na discussão de um outro tipo de começo e fim. Para quem tem familiaridade com a obra heideggeriana, esse tópico não é necessariamente novidade, trata-se mais precisamente do pensamento sobre o começo da filosofia – com os gregos – e sobre o fim da filosofia no Ocidente, no berço do nascimento da ciência e da técnica moderna. Desse modo, como pretendemos demonstrar, o primeiro volume dos Cadernos Pretos se apresenta como uma dramática narrativa filosófica sobre o começo e o fim da filosofia, enquanto também um começo e fim de mundo em tempos de guerra; uma discussão diante da qual, se compararmos o atual jogo de forças e atores nos bastidores da academia para salvar ou sepultar a filosofia de Heidegger, não passaria de mero prosaísmo.
Assim, os Cadernos Pretos, com seu “estilo único” 2, conforme observado pelo editor Peter Trawny em seu epílogo, colocam o leitor em contato com uma espécie de genealogia do pensamento heideggeriano; uma cuidadosa cartografia de suas inspirações, palavras-guia, intuições filosóficas de mundo, que parecem pontuar meticulosamente seus insights filosóficos ao longo dos anos de vida, ensino, filosofia. Em seu conjunto, as notas, que têm um tom extremamente pessoal, carregado de agressividade e inquietação com seu tempo, ilustram uma espécie de bastidores inéditos de uma filosofia que já tão bem conhecemos. No entanto, é importante observar que, nesses bastidores, o filósofo também está em atuação: as notas não foram escritas “no calor do momento”, mas, sim, devidamente revisadas, trabalhadas, meticulosamente organizadas pelo próprio filósofo. Nessa perspectiva, as Considerações se mostram como elucubrações, bem ao sentido da palavra latina lucubratione, “estudos noturnos, à luz da lamparina” 3, que mais tarde ganhou o sentido de referir-se a algo “penosamente trabalhado” (com grande esforço mental). Assim, enquanto elucubrações, as considerações do primeiro volume mostram se como notas escritas à sombra da razão que encobriu o mundo naqueles anos 30. Teriam esses tempos sombrios, de pouca claridade, também embaçado a visão do pensador de Ser e Tempo ? Para além de defesa ou acusação, podemos dizer, contudo, que foram tempos difíceis, que exigiram do filósofo uma resposta à qual ele não se furtou à tentativa de elaborar (isso basta?). Desse modo, quer sejam as notas delírios, estreitamento de visão, megalomania ou desespero, ou todos estes atributos juntos, elas são ainda assim um testemunho de uma filosofia lidando com o seu tempo – e que por isso de seu tempo, daquele hoje, não podem ser isolados, nem mais exatamente alcança dos. Todo olhar hoje resta uma aproximação
Nossa leitura dos Cadernos parte então da necessidade de se levar em conta o seu caráter de ser uma obra que dá conta de uma obra; um estilo que, embora ainda precise ser melhor compreendido, não deixa dúvidas de que não se trata de anotações de diários secretos que por alguma razão vieram à tona à revelia do seu autor. Além disso, não obstante o esoterismo, misticismo, devemos igualmente levar em conta que somos nós os principais destinatários dessa filosofia; justa mente nós (sociedade, acadêmicos, povo, senso comum), a quem o pensador impiedosamente se dirige com desprezo, ira, consternação. É nessa perspectiva filosófica, que todavia não pretende minimizar a delicada questão histórico-pessoal, que fazemos e propomos uma leitura dos Cadernos II-IV : como o registro do pensamento da filosofia sobre seu tempo, que nos atinge e nos diz respeito no hoje
Com relação a uma metodologia de leitura do primeiro volume, observamos a necessidade de ter em mente diferentes planos de relações lógico-filosóficas, necessárias para uma tentativa de compreensão do lugar dos Cadernos na obra de Heidegger. O primeiro plano é interno: diz respeito à interrelação dos cadernos, no contexto particular de seu estilo inédito de filosofar. O volume 94 foi imediatamente seguido pela publicação de outros nove cadernos, respectivamente organizados nos volumes 95 4 e 96 5. Juntos, os primeiros três livros reúnem dez anos de considerações filosóficas que, se não totalmente escritas naquele momento, foram definitivamente organizadas pelo próprio Heidegger para constarem entre os anos de 1931 a 1941. Mas isso não é tudo: esse conjunto inicial de 14 cadernos ainda será segui do por 20 outros, agrupados em diferentes volumes, intitulados respectivamente “Notas”, “Quatro Cadernos”, “Vigilliae”, “Notturno”, “Indícios” e “Considerações Preliminares”, a serem publicados nos próximos anos. Em suma, aquilo que chamamos de Cadernos Pretos é o registro de 40 anos de considerações filosóficas. Sugere-se, portanto, prudência, de modo que ao nos ocuparmos da leitura do primeiro volume, é preciso que mantenhamos essa visão do todo, para podermos assim dar a devida medida e proporção de representatividade esse volume, que é apenas o primeiro contato com uma obra dentro da obra de Heidegger.
Também é precisamente por esse caráter parentético dos Cadernos que sua leitura requer que estabeleçamos ainda um segundo plano de relação: o alinhamento externo entre o conteúdo dos Cadernos e os volumes publicados das Obras Completas que lhe são contemporâneos. Em nosso caso particular de leitura do Vol. 94, isso quer dizer deixar ecoar diversos outros escritos, a saber: os cursos ministrados naquele período, como o primeiro volume do curso sobre Nietzsche 6 e outros estudos nietzschianos dos quais Heidegger se ocupava na época; os cursos dedicados aos antigos e pré-socráticos no início dos anos 30 7 ; e os diversos cursos em torno da questão de Ser e verdade 8, linguagem e lógica 9 ; metafísica 10 ; além dos seminários sobre Hegel, Kant, Schelling 11 e, não menos importante para o contexto dos Cadernos II-IV, o curso sobre os poemas “Germânia” e “O Reno”, de Hölderlin 12. Vale ainda salientar que os cadernos desse período, 1931-38, além de con temporâneos dos diversos cursos resumidamente citados acima, estão diretamente ligados a duas importantes obras desse mesmo período: as Contribuições à Filosofia 13 e Meditação 14, ambas escritas entre os anos de 1936 e 38. Somam-se aos seminários, ainda, inúmeras conferências proferidas em diferentes ocasiões ao longo desses nove anos retratados no primeiro volume, todos extremamente conectados entre si – ainda que não possamos precisar exatamente de que forma, que não a óbvia relação cronológica
Os Cadernos têm ainda outra particularidade. Neles, como talvez em nenhuma outra obra publicada na filosofia, se encontram, de maneira exemplar, ainda mais fortemente borrados os limites entre a ideia que fazemos da figura do filósofo e do homem por trás da filosofia. Essa linha divisória imaginária, que estabelecemos ao entrar em contato com o pensamento filosófico (de um filósofo), aparece ainda mais tênue, por conta do estilo. Em proporção inversa, se torna ainda mais vivo o grifo de um conflito entre a ideia que fazemos de uma obra filosófica como “produto de seu autor” (no limite, produto editorial) e a ideia da filosofia como algo que reclama para si o pensamento do pensador. Esta última é a que mais se aproximaria do pensamento heideggeriano, se considerarmos o que significa para Heidegger o evento do que é, o misterioso jogo para além da causalidade na qual algo existe (como produzido). É precisamente a nossa dificuldade em lidar com as coisas fora do âmbito da produtividade, exequibilidade, que nos desafia na leitura dos Cadernos
Assim, eles são uma condensação icônica de vida e obra – homem e filósofo, de modo que, ou bem partimos de uma intepretação que toma ao pé da letra, e letra por letra, o dito de um pensador-autor e lemos essas notas em primeira pessoa como sendo a opinião de Heidegger. Ou bem procuramos entender como realmente possível que a linguagem da filosofia venha à sua fala, que deixe-ver por entre o que está escrito, o ato próprio do pensamento filosófico enquanto correspondência. Apesar da forte impressão causada pelo personalismo das notas, devemos nos esforçar para não perder de vista o seu caráter filosófico, qual seja, o de ser uma resposta do filósofo ao seu tempo, e isto somente na medida em que, sobretudo e primeiramente, este é um corresponder a um tempo de mundo. Nunca é demais frisar que, naquele momento, o tempo de mundo se anunciava em um contexto de revolução, dominação, guerra
Nessa perspectiva, abre-se então um terceiro plano de relação, igualmente crítico para uma metodologia adequada de leitura dos Cadernos. Trata-se de alinhar as notas à sua pertença de mundo. Esse terceiro plano não quer dizer somente estabelecer uma relação histórica com os eventos aos quais as notas, implícita ou explicitamente, se referem. Trata-se de observar um co-pertencimento que é característico do instante filosófico em seu espelhamento do presente, ou seja, de um momento de mundo. Devemos, portanto, para além da factualidade, perceber o caráter fatídico, destinal dos eventos que, no caso deste primeiro volume, representam os anos de triunfo do que começou como o Programa Nacional-Socialista, sua bandeira patriótica de unificação e expansão da Grande Alemanha, e que culminou com a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933. Os anos que se seguem dispensam apresentação, são cinco anos de tensão entre forças mundiais que têm como desfecho o início da 2ª Guerra Mundial. É nesse contexto, no olho do furacão, que se encontrava Heidegger: e também que se encontrava a tarefa da filosofia, enquanto correspondência direta ao apelo do que é – mundo. Desse modo, sugerimos uma leitura do Vol. 94 que, antes de tudo, tenha em perspectiva esses três planos, quais sejam, a sua interrelação com os outros 29 cadernos, observando-se que a grande maioria permanece inédita; sua relação com todo o conjunto de obras escritas em paralelo; sua relação lógica (histórica) e filosófica (historial) com o tempo de mundo no qual eles aparecem. Nessa perspectiva, os Cadernos ganham um outro contorno, mais distante da ideia de notas pessoais, e igualmente mais distante da ideia de um tratado filosófico convencional. Ambas as visões, nas quais somos inclinados a tentar apressadamente encaixar os Cadernos, não são fortuitas. Reconhecemos que este é o resultado da forte impressão deixada, por um lado, pelo tom íntimo, agressivo e direto das notas e, por outro, o tom aforístico e fragmentário das considerações filosóficas nelas contidas.
No tocante aos Cadernos II – IV 15 presentes neste volume, obser vamos inicialmente a peculiaridade do estilo, conforme já menciona do, sobretudo porque ele nos dá uma primeira – e provavelmente falsa – impressão de intimidade com o pensador; de estarmos, durante a experiência da leitura, mais diante do homem que diretamente nos fala do que da (sua) filosofia. Assim, ao lermos as Considerações, temos a impressão de estarmos finalmente diante do “verdadeiro” Heidegger, o homem desnudado do personagem. Nesse caso, entramos em contato com um homem visivelmente desiludido, perturbado, cheio de ira e de desprezo por uma determinada conjuntura de mundo representada pela “crítica cultural”, “visão de mundo”, “nova ciência”, “filosofia da cultura” 16, etc. É essa conjuntura que Heidegger representa categoricamente como começo de um longo fim da filosofia. Esse fim, no entanto, não é encarado de maneira derrotista, embora definitivamente de maneira apocalíptica. Trata-se de um fim conquistado. Com ele, se abre, paradoxalmente, um momento único de tudo ou nada, de possibilidade de um novo começo. Diante desse fim, o filósofo é “o filósofo como criatura solitária; porém, não sozinho com o seu pequeno ‘si mesmo’ – mas, sim com o mundo, e esse acima de tudo ‘um com o outro’” 17. O filósofo, portanto, atende a uma convocação destinal, repetidamente referida como um momento de “empodera mento de Ser” 18, de modo que vemos que não se trata, para Heidegger, de uma cruzada pessoal, mas de uma decisão historial
Assim, o destino da filosofia alinha-se, confunde-se com o destino do mundo. Trata-se de fins e começos que Heidegger parece jamais ver dissociados. Esse momento decisivo no contexto histórico-político, aparece nos Cadernos como um momento de decisão historial do Dasein. Aquilo que está em xeque, portanto, no seu ver, é muito maior que o jogo de forças de poder territorial e racial, de um povo (alemão) sobre outros povos. Trata-se da possibilidade de consagração de um modo de ser. Somente nesse modo de ser “ideal”, que curiosamente deveria ser almejado e desejado pelo povo alemão, a filosofia heideggeriana – obviamente, para Heidegger, a filosofia per si – é possível. Se abrirmos espaço para conjugar esse jogo de espelhos entre os planos ôntico e ontológico, sem contudo ignorar sua natureza problemática, podemos de certo modo compreender de antemão, guardadas todas as reservas, aquilo que explicitamente transparece, em especial no Caderno III : a esperança de Heidegger na promessa da Revolução Nacional-Socialista, sua crença no privilégio do povo alemão, sua quase fobia pela cientificização e tecnificação do mundo. Heidegger parece mergulhar em uma situação de extremos para tentar salvar a filosofia da nova forma dominante da ciência e institucionalização da vida que, na sua visão, promoviam a “escolarização” da universidade e, com isso “a perturbação de todo saber verdadeiro, o sufocamento de todo originário e contínuo desejo de saber, o impedimento de qualquer tentativa de abertura de Ser espiritual.” 19. O contra-ataque é então pensado como uma esperança na Revolução Nacional-Socialista, na forma de uma “metapolítica” 20 que, na prática, trata-se também de uma reforma universitária, que depende sobretudo de um pensamento profundo de transformação no seio do povo alemão. “O fim da ‘filosofia’. – Devemos por um fim nela e com isso preparar uma – Metapolítica – completamente diferente. E, de acordo com ela, igualmente a transformação da ciência.” 21.Esse crescendo dramático ilustra a vinculação clara do projeto filosófico de Heidegger aos acontecimentos de mundo naquele momento. Obviamente, a esperança é passageira, o Nacional-Socialismo não consegue manter a expectativa de Heidegger de ter outro objetivo maior por trás do seu “fazer e dizer” 22. Mais tarde, por ocasião da entrega de seu cargo de reitor da Universidade de Freiburg, o filósofo expressa: “Viva à mediocridade e à zoadaria!” 23, um dos muitos exemplos do tom particularmente ácido das notas dessa época.
A questão do triunfo dessa mediocridade, da “mera teoria”, da “ciência politizada” sobre a filosofia não surge, porém, do nada, no contexto iminente da revolução. Este é um inimigo anunciado, presente desde as primeiras notas e também em escritos mais antigos.
Ainda no Caderno II nos deparamos com esse cenário polarizado (típico de uma situação de guerra), no qual Heidegger articula um pensa mento de ataque à técnica e à ciência moderna, ao jornalismo, ao biologismo, aos colegas, ao senso comum. Por diversas vezes, ele se refere a “um mundo em reformas” 24 e descreve o homem em sua “estranheza e estranhamento da essência de Ser” (p. 43)” 25, entregue à “escrevinhação” 26, à falsa pergunta, que somente pode ser combatida por uma obstinada retomada da pergunta original, aquela do “grande começo”, interposta pelos gregos – antes da ciência moderna.
Especialmente com relação aos gregos, é necessário que façamos um parêntese: não obstante reconheçamos a força e autoridade do argumento defendido com propriedade pelo editor dos Cadernos, optamos por enfatizar um outro aspecto na questão chave da conexão entre alemães e gregos, que se apresenta insistentemente em todos os cinco cadernos deste primeiro volume, e também nos volumes posteriores. Para resumir brevemente o argumento de Trawny apresentado em seu livro 27, o autor elabora a forte hipótese de existência de um único projeto filosófico heideggeriano pós Ser e Tempo, esse aquele que consiste na tarefa de demonstrar o vínculo historial entre o pensamento principial dos gregos e aquele que, na visão de Heidegger, seria a sua continuação imediata: o pensamento alemão, mais precisamente o pensamento de Hölderlin e Nietzsche, culminando com o seu próprio pensamento heideggeriano, este conclamado a ser decisivo naquele momento histórico de revolução. Reconhecidamente, são muitas as passagens que descrevem os gregos como o “grande começo”, e que igualmente se referem à proposta heideggeriana como o “outro começo” ou “segundo começo”, como a que se segue: “A filosofia se tornou difícil, mais difícil talvez que seu grande primeiro começo – porque trata-se do segundo.” 28. Nesse contexto decisivo, está evidente como Heidegger atribui à filosofia – e ao povo alemão – a tarefa de conduzir o projeto de reinstauração da pergunta por Ser.
Não obstante a propriedade dessa interpretação, defendemos que também é possível dar uma outra ênfase à motivação para essa conexão greco-teutônica que seja diferente da questão racial (de povos) e sobretudo da questão racista. Assim, preferimos seguir a linha de raciocínio análogo àquela em que se investiga e até mesmo se legitima a autoria de um crime: é necessário um motivo. Desse modo, observamos como outro possível motivo nessa relação não necessariamente a questão dos gregos x alemães per si, mas a configuração de um fenômeno em particular, qual seja: o pensar, antes da ciência moderna, e o fim do pensar (na visão de Heidegger), advindo a consagração da ciência moderna. Tratar-se-ia, portanto, de uma vinculação desses dois momentos, uma tentativa de reencenar um modo de ser particularmente contra-científico, o qual a historicidade do Ser [Seinsgechichtlichkeit] demonstra ter sido certa vez possível – justamente com os gregos.Nesse sentido, defendemos que uma via de compreensão da vinculação desses dois momentos historiais pode também se dar através do foco na importância que tem a questão da nova ciência (técnica moderna) naquele momento de mundo e na filosofia de Heidegger. Assim, a ciência moderna, “o novo slogan” 29 ou a ciência política, a qual ele compara com um “botar o carro diante dos bois” 30, surge assim como o seu grande inimigo (da filosofia) de modo constante e insistente em todos os cinco cadernos. De modo geral, a ciência é descrita com desprezo, como transformada em algo ao qual seu nome não mais corresponde, como aquela que aniquila o pensamento, que impede toda e qualquer possibilidade de acesso ao pensamento do sentido de Ser, às coisas em si; um tempo onde “conhecemos tanto e sabemos tão pouco” 31. A pergunta “Por que agora nenhuma coisa pode mais descansar em si mesma e em sua essência?” 32 iconiza essa inquietação diante do aviltamento da possibilidades do pensar filosófico, assolado pelo avanço da nova configuração da ciência.
Tendo a conjuntura na qual se dá o fenômeno da ciência moderna um papel tão importante, parece então plausível pensar que Heidegger tenha buscado observar e compreender nos gregos como se dava o mundo pré-ciência e, a partir daí, pensar como seria possível um mundo pós-ciência – o fim da filosofia para o começo de um “novo saber” 33, e esse saber, engendrado como em oposição ao mero conhecer. O tempo dos gregos é, portanto, citado com admiração como um tempo de um mundo “inteiramente sem ‘ciência’” 34 e que fez nascer a filosofia. Como narrado nos Cadernos, os gregos ainda não haviam caído no “criticismo da ‘mera especulação’” da ciência, esse no qual a filosofia é “desencorajada e se torna constantemente suspeita” 35. Assim, torna-se clara uma motivação por ensejar e conduzir um novo momento pós-ciência, de “fim da universidade e começo do novo saber” 36, que anseia se espelhar em um momento parecido com aquele ocorrido no berço da filosofia. A questão, portanto, se dá circunstancialmente pelo povo (grego, alemão), tratando-se mais de uma questão de afirmação da filosofia diante de seu fim iminente; não de mera nostalgia ou mero racismo.
Essa linha de pensamento, no entanto, não diminui a gravidade ética de um pensamento que se articula com base nos privilégios entre determinados povos, tampouco torna menos espantosa a constatação de seu caráter problemático do ponto de vista filosófico. Aquele presente vivido por Heidegger não poderia jamais representar um marco divisório a partir do qual se consolidaria um hiato – com vistas a colocar entre parênteses quase dois mil anos de história. O instante filosófico que Heidegger ensejou inaugurar jamais poderia ser bem -sucedido em seu objetivo de demarcar, naquele presente, a instauração de um momento pós-ciência. Como bem sabemos, e isso de acordo com a própria filosofia heideggeriana, aquele tempo presente dos anos 30 é também um presente que herdamos dos gregos, talvez mais um “presente de grego”, mas de todo modo algo que o próprio Heidegger claramente aborda em pelo menos uma de suas obras contemporâneas a estes cadernos, aqui nos referimos ao curso sobre Aristóteles 37, de 1931.
Nele também está clara a constatação de uma condição especial de aproximação dos gregos com o que é, com as coisas, que também já se mostra como um lançar-se do Dasein, como o início de um estranhamento. A saber, essa condição, enquanto historial, desde sempre existiu, e Heidegger está todo o tempo, embora contraditoriamente, ciente dela, como nessa passagem onde expressa sua consternação: “Como, nos Antigos, o desdobramento de Ser morreu e paralisou tão rápida e completamente.” 38. Assim, de acordo com o próprio filósofo, também os gregos foram um povo ao modo de uma “queda”; aliás, com o próprio filósofo aprendemos que só é possível ser povo (em primeira instância, Dasein ) ao modo dessa queda, desse lançar-se. Portanto, é no mínimo curioso pensar como Heidegger poderia defender veementemente a possibilidade de uma outra – e nova – condição de aproximação com as coisas que comece onde deva acabar a ciência moderna. É possível e plausível um projeto como tal? Quereria Heidegger, sobretudo, negar o inevitável, qual seja, a transformação gradativa e a consumação da filosofia em um outro tipo de saber, esse que vivemos hoje? Aparentemente indiferente a essa impossibilidade existencial, ele insiste: “Nós devemos nos reposicionar no grande começo”39 Sobretudo, é ainda mais desconcertante pensar que esse projeto de recondução tenha sido gestado, naquele momento, em termos de uma relação de mútua dependência com a Revolução Nacional-Socialista.
Igualmente problemático é pensar o que de fato significa a sua ira contra o “homem que vai toda semana ao cinema” 40, o que significa propriamente, fora da perspectiva comportamental/cultural que, aliás, ele veementemente refuta, o seu advogar por um modo de ser no qual haja espaço – e que esse seja o único espaço – para as grandes questões da filosofia, sobretudo para a pergunta pelo sentido de Ser.
A depreciação da filosofia contra a qual Heidegger luta furiosamente é encarada como “uma guerra contra a desenssencialização da essência” 41, da qual o filósofo parece querer salvar o homem comum, que contraditoriamente parece ser ao mesmo tempo o principal agente desta desgraça.
Por essa e muitas outras razões, a questão do povo não se deixa elucidar facilmente. É preciso uma análise cuidadosa dos Cadernos III e IV, na qual, para entendermos como os alemães podem ser “os protetores e executores do empoderamento de Ser” 42, precisamos levar em conta as diferentes gradações entre as ideias de povo, do alemão, das diferentes instâncias de raça que o filósofo articula. Essa é, aliás, uma discussão que também não é inédita, mas extensivamente abordada de maneira mais didática em uma outra obra contemporânea a esses Cadernos, o curso sobre Lógica 43. Nele, há uma detalhada tentativa de responder à pergunta sobre quem somos “nós” conduzida a partir de uma reflexão sobre conceitos caros à antropologia, como “ser humano”, “si mesmo”, “comunidade” e, consequentemente, “raça” e “povo”. De modo geral, o que fica claro nos Cadernos é que a questão do povo para Heidegger não se dá primeiramente em um viés cultural, biológico, tão pouco meramente historiográfico – o que em princípio também pode ser usado como um argumento de refutação para o seu alegado racismo. A questão está atrelada, primeiramente, ao reconhecimento do caráter múltiplo da essência do povo, da qual se sobressai a ideia de povo como “incorporado no Ser” 44.
A essa altura, denotamos que, passada a euforia com o regime Nacional-Socialista, Heidegger intensifica e concentra suas observações sobre o caráter maquínico da técnica, em sua extrema relação inclusive com a própria concepção de povo, sendo por fim o Caderno VI uma busca pela compreensão desta destinação historial, que culmina na ainda mais extrema tecnificação, a “queda” (p. 485) do povo, da academia, na compreensão calculadora de mundo. Esse “acabamento” dos tempos modernos tem apenas como saída a possibilidade da filosofia de reencontrar sua essência, manifesta na retomada e sustentação do exercício da pergunta por Ser: “Começar o outro começo… Se voltar para o âmbito do que é digno de ser questionado.” (p. 514).Entra em cena um jogo de proporções: o “imenso”, “grande”, “pequeno”, de medidas contra a cultura, tida como “uma forma de barbarismo” (p.515), em favor do pensar o sentido [Besinnung], contra a “maquinação” e o pensamento “calculador”. Esse jogo de medidas e desmesuras encerra-se, curiosamente de maneira megalômana, em uma comparação de momentos chave na história do Pensamento Ocidental, marcados pelo aparecimento e desaparecimento de Hölderlin, Wagner, Nietzsche, e culminando com a chegada ao mundo do próprio Heidegger !).
A desmesura das Considerações é desconcertante, mas como tentamos denotar anteriormente, proporcional em intensidade àquele momento. A correspondência com aquele momento, como também tentamos evidenciar, se dá não apenas circunstancialmente, mas no âmbito de uma temporalidade especial que é a do instante filosófico.
Compreender ou julgar o teor dos Cadernos, nesse caso, é uma tarefa que precisa partir do conjugar diversas esferas superpostas, do político e do filosófico, do público e do privado. Sobretudo para um filósofo que naquele momento atribui especial importância ao “silenciar”.
A eloquência vociferante de Heidegger nos atinge em nosso hoje como algo fora de proporção, e é quase impossível equalizar seu tom.
Assim, na leitura dos Cadernos II-VI e provavelmente na leitura de todos os outros que se seguem, nos damos conta que nos cabe lidar ainda com uma última e quarta relação, essa que é extemporânea, e que trata de dar conta da significação daqueles escritos – se o considerarmos filosóficos – com o nosso presente. Como o próprio Heidegger parece ter antecipado: “Porque uma filosofia não se deixa jamais refutar ! Porque ela não contém nada de refutável, pois o que há nela é filosofia, ou seja, abertura de Ser…” 45. Se somos nós, do futuro e de hoje, os destinatários dessas Considerações, o desafio de encontrar uma perspectiva que não seja nem apologética nem persecutória talvez comece, justamente, pela compreensão temporal dos limites, de fim e de começo, do dizer da filosofia.
Agradecimentos
A autora torna público seu agradecimento à Prof. Dra. Marcia Cavalcante Sá Schuback, cujos diálogos contribuíram em muito para as impressões ensaiadas nesta resenha.
Notas
1 TRAWNY, P. Heidegger e o mito da conjuração judaica mundial. Rio de Janeiro: Mauad X (No Prelo).
2 TRAWNY, P. Nachwort des Herausgebers. In: HEIDEGGER, M. Überlegungen II-IV, p. 530. (Tradução nossa e em todas as passagens a seguir).
3 VARRO. On the Latin Language. Vol. I. Translated by Roland G. Kent. London: William Heinemann, 1938. p. 269.
4 HEIDEGGER, M. Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014
5HEIDEGGER, M. Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1933/41). Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014
6 HEIDEGGER, M. Nietzsche. Vol. I. Tradução de Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2007. Também os inéditos Vol. 43 (vontade de poder como arte); o vol. 44 (eterno retorno do mesmo);
7 São, respectivamente, vol. 33 (Aristóteles); vol. 34 (Platão); Vol 35 (Anaximandro e Parmênides)
8 HEIDEGGER, M. Ser e Verdade. Tradução de Emmanuel C. Leão. Petrópolis: Vozes, 2007.
9 HEIDEGGER, M. Über Logik als Frage nach dem Wesen der Sprache. Ed. Günther Seubold. Frankfurt: V. Klostermann, 1998; IDEM. Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte „Probleme“ der „Logik“ Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Frankfurt, 1992.
10 HEIDEGGER, M. Introdução à metafísica. Tradução de Emmanuel C. Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999
11 Respectivamente, vol. 32 (Hegel); vol. 41 (Kant); vol. 42 (Schelling)
12 HEIDEGGER, M. Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“. Ed. Susanne Ziegler. Franfkurt: V. Klostermann, 1999
13 HEIDEGGER, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Franfkurt: V. Klostermann, 2003
14 HEIDEGGER, M. Meditação. Tradução de Marco A. Casanova. Petrópolis: Vozes, 2010.
15 Como esclarece o editor do volume em seu epílogo, cogita-se que um Caderno I jamais tenha existido (a série inicia-se com o número II) ou, se existiu, teria sido destruído por Heidegger. De acordo com Trawny, não há registros ou menção a um primeiro volume. Também não há uma explicação plausível para a sua inexistência. Especulativamente, cogito que tenha sido intenção de Heidegger iniciar com o número dois, fazendo assim uma alusão implícita ao ‘segundo começo’ em relação ao ‘primeiro começo’ com os gregos, questão tratada mais adiante nesta resenha. Ao final de janeiro deste ano, o professor emérito Silvio Vietta anunciou ter em sua posse um outro volume ausente da série, aquele que justamente registra os anos 1945/46 (ver. CAMMAN, A., SOBOCZYNSKI, A.; Eine grundlegende Entwurzelung. Gespräch mit Silvio Vietta. Die Zeit. 30 Jan. 2014).
16 HEIDEGGER, M Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 346.
17 Idem, p. 56 (grifo do autor)
18 Idem, p. 40-41
19 Idem, p. 183
20 Idem, p. 115
21.Idem, ibidem (grifo do autor).
22.Idem, p. 114.
23 Idem, p. 162.
24.Idem, p. 31.
25.Idem, p. 43.
26 Idem, p. 19.
27.TRAWNY, P.Heidegger e o mito da conjuração mundial.
- HEIDEGGER, M. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 244.
29.Idem, p. 175
30.Idem, p. 191.
31.Idem, p. 232.
32.Idem, p. 340.
33.Idem, p. 128.
34.Idem, p. 41.
35.Idem, ibidem.
36.Idem, p.128.
37.HEIDEGGER, M.Metafísica de Aristóteles 1-3. S obre a essência e a realidade da força. Tradução de Enio P Giachini. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.
38.HEIDEGGER, M. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 29
39.Idem, p. 53.
40.Idem, p. 302.
41.Idem, p. 85.
42.Idem, p. 98.
43.HEIDEGGER, M.Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. Ed. G. Seubold.
Franfkurt: V. Klostermann, 1998.
44.HEIDEGGER, M. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), p. 521
45.Idem, p. 239 (grifo do autor).
Referências
CAMMAN, A., SOBOCZYNSKI, A.; Eine grundlegende Entwurzelung. Gespräch mit Silvio Vietta Die Zeit. 30 Jan. 2014.
HEIDEGGER, M.Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Vol. 65. Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Franfkurt: V. Klostermann, 2003.
______.Der Anfang der abendländischen Philosophie. Vol. 35. Ed. Peter Trawny. Frankfurt: V. Klostermann, 2012.
______.Die Frage nach dem Ding. Vol. 41. Frankfurt: V. Klostermann. (no prelo) ______.Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte „Probleme“ der „Logik“. Vol.45. Ed. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann. Frankfurt: V. Klostermann, 1992.
______.Hegels Phänomenologie des Geistes. Vol. 32. Ed. Ingtraud Görland. Frankfurt: V. Klostermann, 1997.
_ _____. Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“. Ed. Susanne Ziegler.Franfkurt: V. Klostermann, 1999.
______. Introdução à metafísica. Tradução de Emmanuel C. Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999.
___ ___.Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. Vol. 38. Ed. G.Seubold. Franfkurt: V. Klostermann, 1998.
_ _____ Metafísica de Aristóteles 1-3. S obre a essência e a realidade da força. Tradução de Enio P. Giachini. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.
______.Meditação. Tradução de Marco A. Casanova. Petrópolis: Vozes, 2010.
______.Nietzsche. Vol. I. Tradução de Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2007.
_ _____.Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst. Vol. 43. Frankfurt: V. Klostermann. (no prelo)
___ ___.Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. Vol.43. Frankfurt: V. Klostermann. (não publicado)
______.Ser e Verdade. Tradução de Emmanuel C. Leão. Petrópolis: Vozes, 2007.
____ __.Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Vol. 42. Frankfurt: V. Klostermann. (não publicado)
___ ___.Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938)Vol. 94. Ed. Peter Trawny. Franfkurt: Vittorio Klostermann, 2014.
___ ___.Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). Vol. 95. Ed. Peter Trawny. Franfkurt: Vittorio Klostermann, 2014.
__ ____ Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1933/41). Vol. 96. Ed. Peter Trawny. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2014.
______.Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet. Vol.34. Ed. Hermann Mörchen. Frankfurt: V. Klostermann, 1997.
TRAWNY, P.Heidegger e o mito da conjuração judaica mundial. Trad. Soraya Guimarães Hoepfner. Rio de Janeiro: Mauad X, (No Prelo).
VARRO. On the Latin Language. Vol. I. Translated by Roland G. Kent.
London: William Heinemann, 1938. P. 269.
Soraya Guimarães Hoepfner – Doutora em Filosofia pela Universidade federal do Rio Grande do Norte. E-mail: [email protected]
Vozes do Bolsa Família: Autonomia, dinheiro e cidadania – REGO; PINZANI (C-FA)
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: Autonomia, dinheiro e cidadania, São Paulo: Editora Unesp, 2013. Resenha de MELO, Rúrion. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v.19, n.1 Jan./Jun., 2014.
Todos aqueles preocupados com o crescimento econômico, melhora nas condições de vida e diminuição das desigualdades no Brasil deveriam reconhecer os impactos decisivos de certos programas redistributivos sobre a sociedade brasileira, em particular os programas de transferência direta de renda iniciados como estratégia de combate à desigualdade nos anos do governo FHC, mas sensivelmente intensificados durante o governo Lula.1 O Programa Bolsa Família (BF), caracterizado como um programa de transferência direta de renda que procura beneficiar famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país, certamente se destaca neste rol de políticas compensatórias.2 Porém, muita dúvida tem sido lançada quanto à eficácia e à justificação normativa deste programa. De que maneira podemos compreender o sentido de tal programa no âmbito de um projeto moderno de sociedade? E como medir suas consequências econômicas e sociais na vida de seus concernidos? Gostaria de refletir um pouco sobre tais questões tomando por base a interessante pesquisa publicada por Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani em seu recente livro Vozes do Bolsa Família: Autonomia, dinheiro e cidadania.
Assumo de início junto com os respectivos autores a ideia de que o BF precisa ser compreendido de um ponto de vista crítico amplo que diz respeito às pretensões próprias de desenvolvimento, modernização e democratização do país. O programa tem um alvo principal que é o combate à pobreza, mas seus efeitos e condicionalidades são imensos, revelando assim um potencial importante para uma série de transformações sem as quais a promessa de um país moderno e democrático não poderia ser cumprida nas condições atuais: seus impactos atingem não apenas a camada pobre e menos favorecida da população em geral, mas mais precisamente as relações de gênero e suas consequências, tais como a estrutura familiar, o escasso horizonte educacional dos filhos, os déficits nutricionais das crianças e a inclusão cívico-política dos beneficiários. Efeitos consideráveis, sem dúvida, em um país dito desenvolvido, moderno e democrático, mas que convive com extrema desigualdade econômica e social, exclusão política, preconceito regional, racial e de gênero, e violação sistemática de direitos humanos, ou seja, a realidade de milhões de brasileiros que ainda estão “completamente fora das heranças mais básicas da civilização” (p. 15).
Nesse sentido, Vozes do Bolsa Família parte de uma cobrança inerente à nossa própria história política. Não deveríamos avaliar os efeitos dos programas redistributivos com a ótica da experiência europeia e americana, por exemplo. Sabe-se que desde pelos menos 1970 foram levados a cabo diversos diagnósticos sobre as crises dos modelos keynesianos e de bem-estar social.3 No caso brasileiro, mais precisamente a partir de 1988 (isto é, após o período do “nacional-desenvolvimentismo”), vislumbramos, pelo contrário, a possibilidade de concretizar a esperança de um Estado social democrático, um projeto de desenvolvimento econômico que não fosse desprovido de um “projeto democrático substantivo” (p. 159).4 Na qualidade de marco determinante de nossa história política recente, a Constituição de 1988 “enuncia um projeto de país e de sociedade” (p. 162), sublinhando a gênese democrática representada pelas demandas das lutas sociais incorporadas à Constituição, sobretudo no que concerne ao tema da “justiça distributiva” assumida então como um “elemento vinculante de todo o sistema normativo” (p. 165).
Mas não é só isso. Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani dão um passo além na medida em que escolhem explicitar um ponto de referência normativo interno aos próprios processos que pretendem investigar e avaliar. Nosso desenvolvimento político permite ser questionado, ademais, do ponto de vista do “projeto da modernidade” por excelência. Tal projeto consiste na “promessa de autonomia (individual e coletiva)” (p. 55-56), uma promessa que a própria modernidade faz e não cumpre por razões que lhes são imanentes. Esse é um déficit específico, portanto, da sociedade capitalista contemporânea, a saber, “prometer autonomia para todos e não lhes oferecer as condições reais (e não meramente formais) para desenvolvê-la” (p. 56).
Um dos aspectos peculiares da abordagem teórica proposta no livro está voltado, assim, à investigação dos efeitos morais e políticos sobre os beneficiários do programa tendo em vista mais precisamente uma concepção de autonomia individual baseada, segundo os autores, no capability approach desenvolvido por Amartya Sen e Martha Nussbaum.5 Trata-se de entender antes de tudo de que maneira uma reflexão normativa sobre a autonomia individual dependeria crucialmente das oportunidades reais que a pessoas possuem para usufruir com liberdade de suas próprias vidas. E o BF, ao atender às dificuldades das pessoas em pior situação de pobreza, toca justamente nas capacidades e oportunidades reais de seus beneficiários.
Sendo assim, o BF poderia ajudar na realização do projeto moderno brasileiro concernente à promessa de autonomia? A resposta dos autores é sim, se entendermos o conceito de autonomia de determinada maneira: “Atribuímos autonomia a um sujeito quando ele é capaz de agir conforme um projeto pessoal de vida boa […] e de considerar a si e a outros sujeitos como capazes de estabelecer relações de direitos e deveres” (p. 57). Em outros termos, o BF pode “oferecer condições reais (e não meramente formais)” para que a modernidade cumpra sua promessa. “Somos da opinião”, afirmam os autores, “de que um programa como o BF se insere justamente nesse contexto e que seu efeito primário, além de garantir a subsistência imediata, é o de fornecer uma base material necessária para que os indivíduos possam desenvolver-se em direção a uma maior autonomia” (p. 69).
O interessante é que, ao falarmos da “autonomia” como categoria normativa, não estamos assumindo a centralidade desta categoria de fora dos contextos éticos, sociais e políticos correspondentes. Os efeitos colaterais provocados pela pobreza no Brasil não são avaliados apenas em termos objetivos e, principalmente, institucionais. Ao assumir um ponto de vista ético a partir do qual é possível ancorar uma teoria crítica da sociedade (p. 24-27), salta à vista o sofrimento, humilhação e desrespeito frequentes experimentados pelas pessoas em situação de injustiça.6 As condições objetivas da pobreza criam patologias diagnosticadas no quadro dos sentimentos pessoais, resultantes, entre outras coisas, da falta de acesso à renda regular, das dificuldades para a manutenção de uma vida minimamente saudável e da exclusão da cidadania. Assim, quando ouvimos as vozes dos excluídos e dos “invisíveis” (propósito da pesquisa, aliás), salta à vista a injustiça moral vivida pelas pessoas que carecem de um grau mínimo de autonomia.
Deste modo, identificada essa forma de patologia individual causada pela realidade objetiva do mundo econômico e social, é possível então avaliar as consequências positivas e/ou negativas do programa do BF sobre a constituição de elementos básicos da autonomia moral individual, ou seja, investigar até que ponto políticas redistributivas desse tipo são capazes de fornecer as bases materiais para a formação de um projeto independente de vida boa e de relações morais concernentes a direitos e deveres, com o propósito de possibilitar a dignidade e o autorrespeito dos membros da sociedade que se encontram vivendo sob condições de pobreza e miséria.
Para tanto, é preciso ainda mostrar que o BF pressupõe uma correlação fundamental entre “renda em dinheiro” e “autonomia individual”. Aliás, eu arriscaria dizer que essa é a tese central do livro, segundo a qual “a presença de uma renda monetária regular”, ainda que reconhecidamente insuficiente, “permite o desencadeamento de processos de autonomização individual em múltiplos níveis” (p. 38).
“Múltiplos níveis”, já que o recebimento da renda em dinheiro produz importantes efeitos na autorrealização e autodeterminação de seus beneficiários, criando as condições sociais reais básicas para os dois aspectos normativos da autonomia trabalhados pelos autores: a autonomia moral individual e a autonomia cidadã (o desenvolvimento de uma percepção de si como membro de uma comunidade política mais ampla). Em outros termos, a pesquisa mostra que o recebimento da renda monetária regular traz consigo transformações éticas, sociais e políticas imprescindíveis. Muito mais do que garantia mínima à manutenção da vida, o dinheiro, dessa perspectiva, tem antes um efeito desreificante, que, entre outras coisas, desnaturaliza as relações patriarcais dominantes e dá início a processos de libertação das mulheres diante do controle masculino familiar. “O recebimento da renda monetária”, afirmam os autores, “trouxe para muitas mulheres um elemento decisivo: a dignificação das suas pessoas como sentimento pessoal” (p. 200). O desencadeamento de processos múltiplos observado em termos de autonomia implica, na verdade, desde a capacidade individual do sujeito de fazer escolhas, passando pelo sentimento moral de governar sua própria vida, se responsabilizar pelas próprias ações e ser capaz de cuidar de si e da família, até a autopercepção de ser considerado pelo próprio Estado como membro de uma comunidade política, seu reconhecimento como cidadão.
Sem dúvida, não é uma tarefa fácil fundamentar tal tese, isto é, mostrar os múltiplos níveis da relação entre dinheiro e autonomia. Por essa razão, é digno de atenção o esforço empreendido por Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani para mobilizar tantos elementos, construindo de maneira criativa, por assim dizer, os referenciais metodológicos e normativos da pesquisa: o propósito interdisciplinar de realizar uma pesquisa social com pontos de vista crítico-normativos (fazendo dialogar filosofia e sociologia), mesclar dados empíricos com entrevistas (dando primazia às análises qualitativas), realizar um balanço bibliográfico extenso e atual. Embora reconheçam que a pesquisa não foi exaustiva, pode-se ver nela os indícios empíricos do papel libertador da renda em dinheiro, ancorados na interpretação complexa, delicada e, antes de tudo, experimental dos efeitos do programa sobre as subjetividades das mulheres.
O programa BF apresenta assim muitos ganhos. Não podemos menosprezar seu impacto real na vida das famílias. Mas de modo algum podemos negligenciar seus efeitos colaterais, pois é também certo que existem dificuldades. Algumas críticas internas ressaltam, com mais ou menos razão, a ambivalência presente ao longo de sua implementação. Para alguns, enquanto programa de transferência direta de renda, o BF poderia ser radicalizado.7 Deveríamos também atentar para o impacto local muito diferenciado.8 Pesquisas sobre evasão escolar, por exemplo, mesmo apontando sucesso, explicitam ainda uma grande desigualdade regional.9 Além disso, certas críticas mais contundentes ao programa são feitas por parte do próprio discurso feminista: embora o BF possua um recorte explícito de gênero, o programa estaria paradoxalmente cristalizando o papel da mulher no sistema reprodutivo e produziria efeitos adversos relacionados à participação no mercado de trabalho (já que o programa estimularia a mulher a continuar em casa cuidando dos filhos)10
Podemos aliar a tais aspectos internos o problema segundo o qual, em termos de diagnóstico mais geral, o reformismo, absolutamente necessário no Brasil, é ambíguo. Avançamos lentamente. Pois nosso “reformismo fraco”, para usar um termo empregado por André Singer, caracteriza-se basicamente pelo fato de que a redução das desigualdades no Brasil (impulsionada, vale dizer, não somente pela política redistributiva, mas pelo aumento do emprego e da renda durante o governo Lula), ocorre em doses homeopáticas.11 O horizonte verdadeiramente democrático de expectativas, potencialmente presente no BF, deveria antes ser ampliado: o “reformismo fraco” tem de ser empurrado até o ponto em que permita vincular de fato autonomia individual e política, pois o que queremos é ver realizada a ideia normativa de um enraizamento do Estado de direito na vontade dos cidadãos. Mas sem ampla redistribuição, sem medidas extremas de combate à pobreza, à desigualdade e à injustiça, só aumentamos os obstáculos que se impõem no caminho de consolidação de uma sociedade digna de ser considerada democrática.
Os autores de Vozes do Bolsa Família estão conscientes que a tese do “relativo empoderamento” das mulheres realizado pelo dispositivo de transferência direta de renda guarda dimensões ambíguas e paradoxais. Ainda assim, afastando nosso olhar de aspectos predominantemente econômicos (para não falar de preconceitos e estereótipos comuns assumidos por boa parte da opinião pública quando se trata de falar do BF ou de políticas redistributivas em geral), os autores nos deixam ver um entrelaçamento que não pode passar despercebido entre a pobreza e o sentimento pessoal ligado ao autorrespeito, às capabilitties e à autonomização. Daí a importância de uma pesquisa que nos debruce no cotidiano, subjetividades, hábitos e expectativas das mães de famílias beneficiadas, de modo a darmos ouvido às suas vozes.
A humilhação, o sofrimento e o desrespeito são vulnerabilidades objetivamente produzidas que precisam ser politicamente sanadas. Por isso, a promoção da justiça social exige a expansão das capacidades humanas, isto é, garantias reais urgentes para o exercício da liberdade e da autonomia.
Notas
1 Cf. MEDEIROS, M.; BRITTO, T.; SOARES, F. Transferência de renda no Brasil. Novos Estudos — CEBRAP, n. 79, 2007, pp. 5-21; MEDEIROS, M.; SOARES, F. V.; SOARES, S.; OSÓRIO, R. G. Programas de transferência de renda no Brasil: Impactos sobre a desigualdade. Brasília: IPEA, 2006.
2 Para uma visão abrangente em relação ao Programa Bolsa Família, cf. SILVA, M. O. S.; LIMA, V. F. S. A. (Orgs.).Avaliando o Bolsa Família: unificação, focalização e impactos. São Paulo: Cortez, 2011; CASTRO, J. A.; MODESTO, L.(Orgs.).Bolsa Família 2003-2010: Avanços e desafios.Brasília: IPEA, 2010.
3 Cf. O’CONNOR, J. The Fiscal Crisis of the State. New Brunswick/London: Transaction Publishers, 2002; HABERMAS, J.Legitimationskrise im Spätkapitalismus.Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973; CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: Uma crônica do salário. Trad. de Iraci Poleti. Petrópolis: Vozes, 2009.
4 Marcos Nobre sugeriu recentemente o termo “social-desenvolvimentismo” para sublinhar um novo modelo de sociedade consolidado (mas não plenamente realizado) a partir do período de redemocratização do Brasil. “Segundo o novo modelo, só é desenvolvimento autêntico aquele que é politicamente disputado segundo o padrão e o metro do social, quer dizer, aquele em que a questão distributiva, em que as desigualdades — de renda, de poder, de recursos ambientais, de reconhecimento social — passam para o centro da arena política como o ponto de disputa fundamental” (NOBRE, M. Imobilismo em movimento: Da abertura democrática ao governo Dilma. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 24).
5 Cf. NUSSBAUM, M. Women and Human Development: The Capabilities Approach.Cambridge, ma: Cambridge University Press, 2000; NUSSBAUM, M, Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge, ma: Belknap, 2011; SEN,A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; SEN, A A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
6 Cf. a abordagem sobre as bases sociais e morais da experiência de “injustiça” em MOORE Jr., B. Injustiça: As bases sociais da obediência e da revolta. Trad. de João Roberto M. Filho. São Paulo: Brasiliense, 1987. De maneira semelhante, ver MILLER, D. Principles of Social Justice. Cambridge, ma: Harvard University Press, 2001. Cf. também HONNETH, A. Philosophie als Sozialforschung.Zur Gerechtigkeitstheorie von David Miller. In: ______.Das Ich im Wir. Berlin: Suhrkamp, 2010, e ANDERSON, J.; HONNETH, A., A. Autonomia, Vulnerabilidade, Reconhecimento e Justiça. Tradução de Nathalie Bressiani.Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo: Crítica e Modernidade, n. 17, 2011, pp. 81-112.
7 Cf. SUPLICY, E. M. O direito de participar da riqueza da nação: do Programa Bolsa Família à Renda Básica de Cidadania. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 6, 2007, p. 1623-1628. Cf. ainda a nova edição de SUPLICY, E. M., Renda de cidadania : A saída é pela porta. São Paulo: Cortez, 2013.
8 Cf. ROCHA, S. O Programa Bolsa Família. Evolução e efeitos sobre a pobreza. Economia e sociedade, v. 20, n. 1, 2011, pp. 113-139.
9 Cf. AMARAL, E. F. L.; MONTEIRO, V. P. Avaliação de impacto das condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família (2005-2009).Dados, v. 56, n. 3, 2013, pp. 531-570; CACCIAMALI, M. C.; TATEI, F.; BATISTA, N. F. Impactos do Programa Bolsa Família federal sobre o trabalho infantil e a frequência escolar. Revista de economia contemporânea, v. 14, n. 2, 2010, pp.269-301.
10 Cf. MARIANO, S. A.; CARLOTO, C. M. Gênero e Combate à Pobreza: Programa Bolsa Família. Revista Estudos Feministas, v. 17, n. 3, 2009, p. 901-8; GOMES, S. S. R. Notas preliminares de uma crítica feminista aos programas de transferência direta de renda: o caso do Bolsa Família no Brasil. Contextos. Porto Alegre, v. 10, n. 1, 2011, p. 69-81; TAVARES, P. A. Efeito do Programa Bolsa Família sobre a oferta de trabalho das mães. Economia e sociedade, v. 19, n. 3, 2010, p. 613-35.
11 “O que estamos vendo, portanto, é um ciclo reformista de redução da pobreza e da desigualdade, porém um ciclo lento, levando-se em consideração que a pobreza e a desigualdade eram e continuam sendo imensas no Brasil” (SINGER, A.Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 195).
Referências
AMARAL, E. F. L.; MONTEIRO, V. P. Avaliação de Impacto das condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família (2005 e 2009). Dados, v. 56, n. 3, 2013, pp. 531-70.
ANDERSON, J.; HONNETH, A. Autonomia, Vulnerabilidade, Reconhecimento e Justiça. Tradução de Nathalie Bressiani. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo: Crítica e Modernidade, n. 17, 2011, pp. 81-112.
CACCIAMALI, M. C.; TATEI, F.; BATISTA, N. F. Impactos do Programa Bolsa Família federal sobre o trabalho infantil e a frequência escolar. Revista de Economia Contemporânea, v. 14, n. 2, 2010, pp. 269-301.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Tradução de Iraci Poleti. 8ª ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
CASTRO, J. A.; MODESTO, L. (Orgs.).Bolsa Família 2003-2010: Avanços e desafios. Brasília: IPEA, 2010.
GOMES, S. S. R. Notas preliminares de uma crítica feminista aos programas de transferência direta de renda: o caso do Bolsa Família no Brasil. Textos & Contextos. Porto Alegre, v. 10, n. 1, 2011, pp. 69-81.
HABERMAS, J. Legitimationskrise im Spätkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973.
HONNETH, A. Philosophie als Sozialforschung. Zur Gerechtigkeitstheorie von David Miller. In: _____.Das Ich im Wir Berlin: Suhrkamp, 2010.
MARIANO, S. A.; CARLOTO, C. M. Gênero e Combate à Pobreza: Programa Bolsa Família. Revista Estudos Feministas, v.17, n. 3, 2009, pp.901-8.
MEDEIROS, M.; SOARES, F. V.; SOARES, S.; OSÓRIO, R. G. Programas de Transferência de Renda no Brasil: impactos sobre a desigualdade. Brasília: IPEA, 2006.
MEDEIROS, M.; BRITTO, T.; SOARES, F. Transferência de renda no Brasil. Novos Estudos — CEBRAP, n. 79, 2007, pp. 5-21.
MILLER, D. Principles of Social Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
MOORE Jr., B. Injustiça: As bases sociais da obediência e da revolta. Tradução de João Roberto M. Filho. São Paulo: Brasiliense, 1987.
NOBRE, M. Imobilismo em movimento: Da abertura democrática ao governo Dilma.São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
NUSSBAUM, M. Women and Human Development: The Capabilities Approach.Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000.
_____.Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge, ma: Belknap, 2011.
O’CONNOR, J.The Fiscal Crisis of the State. New Brunswick/London: Transaction Publishers, 2002.
SINGER, A. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
ROCHA, S. O programa Bolsa Família: Evolução e efeitos sobre a pobreza. Economia e Sociedade, v. 20, n.1, 2011, pp. 113-39.
TAVARES, P. A. Efeito do Programa Bolsa Família sobre a oferta de trabalho das mães. Economia e sociedade, v. 19, n. 3, 2010, pp. 613-35.
SEN, A.Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
_____.A ideia de justiça. Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Donelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
SILVA, M. O. S.; LIMA, V. F. S. A. (Orgs.).Avaliando o Bolsa Família: unificação, focalização e impactos. São Paulo: Cortez, 2011.
SUPLICY, E. M. O direito de participar da riqueza da nação: do Programa Bolsa Família à Renda Básica de Cidadania. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 6, 2007, pp. 1623-28.
_____.Renda de cidadania : A saída é pela porta. São Paulo: Cortez, 2013.
Rúrion Melo – Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
A Imaginação Crítica, Hume no século das Luzes – PIMENTA (C-FA)
PIMENTA, Pedro Paulo. A Imaginação Crítica, Hume no século das Luzes. Rio de Janeiro: Azougue/Pensamento Brasileiro, 2013. Resenha de LIMONGI, Maria Isabel. Hume Pintor. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v.19, n.1 Jan./Jun., 2014.
O livro A imaginação crítica, Hume no século das Luzes, de Pedro Paulo Pimenta, reúne uma série de ensaios, alguns inéditos, outros anterior mente publicados em coletânea, revista acadêmica ou jornal, acrescidos da tradução de trechos da correspondência de Hume e da resenha dos Poemas de Ossian, antes publicada na coletânea O Iluminismo Escocês.1 Trata-se, segundo os termos do autor, de apresentar “ aspectos menos conhecidos ” da obra de Hume, o que Hume pensou sobre certos “ tópicos ”, como “ a linguagem e suas relações com o pensamento e vida em sociedade; o lugar da filosofia entre as artes e as ciências; o papel das artes na formação das maneiras e do caráter dos homens; a possibilidade de conciliar, na prática das ciências, instrução e prazer ” (apresentação, p. 7). Mas o livro parece ter uma unidade ainda maior do que esta que aqui se propõe e que está em tratar desses tópicos com o foco na importância que Hume concedeu às questões de estilo e aos modos de expressão, aos diferentes gêneros de discurso e seus diversos efeitos sobre os homens.
Assim, o primeiro ensaio, A força das palavras, serve de introdução ao conjunto de ensaios ao reconstituir o conteúdo do ensaio Da Eloquência, de 1741, onde Hume se dedica a resgatar a arte da eloquência do descrédito e a refletir sobre as razões do seu declínio entre os modernos, em particular os ingleses. O ensaio oferece um excelente quadro da questão da eloquência, comparando as apreciações de Hume com a de seus contemporâneos e referindo-as aos clássicos que lhe serviram de exemplo.
Em boa parte dos ensaios é a questão dos gêneros de discurso e suas especificidades o que está em questão. É assim, como já diz seu título, no ensaio O Diálogo como gênero filosófico, em que se trata de explorar o uso que Hume faz do diálogo, um uso que, como mostra Pimenta, vai muito além de tomá-lo como um modo de expressão afeito a uma certa postura cética, mas que, na esteira da “ poética do diálogo como gênero filosófico ” de Shaftesbury (p. 57), vê nele uma forma de exercício moral, uma maneira de trabalhar as paixões, temperando seus excessos e submetendo-as ao entendimento, pela adoção do distanciamento crítico a que ele conduz. Assim, se Hume faz uso do gênero para tratar da questão da religião natural, não é apenas como um modo de evitar uma posição definitiva sobre o assunto, mas como uma forma de equilibrar os ânimos religiosos e conter o entusiasmo. Esse efeito torna importante ao filósofo o cultivo do gênero, em grande estilo.
No ensaio sobre a eloquência, trata-se ainda de evidenciar a preocupação de Hume com o modo adequado de se expressar em filosofia, isto é, com as particularidades da filosofia enquanto gênero discursivo, enquanto um “ saber que delicadamente se equilibra entre dois mundos, o da palavra escrita (erudição) e o da oralidade (conversação), e [que] tem, assim, uma eloquência própria ” (p. 37). A mesma preocupação se vê ainda nas observações de Hume, reconstruídas no ensaio Da maneira ao estilo, em condenação ao estilo pesado e abstruso do Tratado da Natureza Humana, preterido em favor das Investigações sobre o entendimento humano e sobre o princípio da moral, nas quais os mesmos conteúdos são retomados e expostos em estilo conciso e simples, mais apto a agradar ao público e por isso também ao autor. A busca de Hume por um estilo filosófico próprio é ainda tema no ensaio Rousseau e D’Alembert, ou o filósofo no espelho.
É da história enquanto gênero discursivo o que trata o ensaio A arte do retrato histórico, em que se aponta para a importância de Tácito para Gibbon, Blair e Hume, como um modelo na arte da composição de quadros históricos, um modelo ao qual, segundo Pimenta, Hume teria recorrido fartamente na História da Inglaterra. Aqui, mais uma vez, o foco parece ser a atenção dada por Hume e seus contemporâneos britânicos ao estilo e modos de expressão pertinentes ao gênero histórico.
É também a questão do gênero pastoral o fio condutor do ensaio A Ilusão Pastoral, onde se comenta a resenha de Adam Smith do Discurso sobre a Origem da Desigualdade de Rousseau, particularmente suas considerações acerca do modo como Rousseau se serve desse gênero em sua descrição da condição natural do homem. O comentário resgata também as posições de Hume sobre o gênero, e, com esse pano de fundo, trata das diferenças entre Rousseau e Smith quanto ao modo de pensar a função e os métodos da história natural, ela também visada enquanto um gênero discursivo.
O gênero da pintura é assunto no ensaio Da maneira ao estilo, pela referência à metáfora do anatomista e do pintor a que Hume recorre para tratar das diferenças entre os gêneros filosóficos. Ele está em questão também no ensaio A lógica do tableau, que explora os aspectos pictóricos ou plásticos da percepção em relação com as questões compositivas inerentes ao gênero da pintura, tratadas ainda em A arte do retrato histórico, onde se mostra como esta arte aproxima, justamente, os gêneros da história e da pintura. A atenção dada por Hume aos aspectos compositivos dos discursos faz do retrato pictórico e de sua força expressiva o horizonte de suas reflexões sobre o estilo e modos de expressão, tal como reconstituídas por Pedro Paulo Pimenta. O livro recolhe e documenta fartamente, com erudição e cuidado, o que Hume pensou sobre o tema.
Em relação com o Hume preocupado com as questões de estilo e com as particularidades compositivas dos gêneros discursivos o Hume crítico -, o conjunto de ensaios traz à cena ainda, em segundo plano, outros Humes, particularmente o Hume historiador e o filósofo moral, dado que a crítica tem dimensões morais e históricas que não escapam às análises de Pimenta, sobretudo a segunda. Trata-se então de abordar o que Hume pensou acerca, não mais da forma, mas dos conteúdos da História e da Moral, para além das particularidades do gênero discursivo a que pertencem, mas como elementos de sustentação do trabalho crítico.
Assim, o ensaio sobre a eloquência mostra como as considerações sobre o declínio dessa arte entre os modernos conduz Hume a explorar as diferenças nas maneiras e costumes entre antigos e modernos e a apreciar a arte da eloquência no interior de um quadro histórico. É justamente em razão das diferenças entre as maneiras e os caracteres das épocas que Hume contesta, numa resenha crítica cuja tradução compõe o volume, a autenticidade dos poemas de Ossian, publicados em 1760 como a suposta tradução de poemas celtas do século III a.c., o que ensejou, como relata Pimenta, uma intensa polêmica em torno de sua autenticidade, da qual o texto traduzido é uma peça. É o problema da história da civilização e o de seu sentido, tão visitado e discutido ao longo do século XVIII, ligado à compreensão histórica das diferenças entre as maneiras e caracteres dos povos e à identificação das circunstâncias históricas que as condicionam, que se abre então.
Este problema é tema também no ensaio Refinamento e Civilização, ou como se colocar à altura do seu tempo, em que Pedro Paulo Pimenta reconstrói, tomando como ponto de partida um artigo de E. Benveniste, acerca da história da palavra “civilização”, incorporada ao vocabulário das línguas modernas em meados do século XVIII, toda a discussão em torno do significado do termo e do sentido da história da civilização, se o de progresso ou de declínio dos costumes. A mesma questão reaparece na resenha de Smith sobre o segundo Discurso de Rousseau, objeto de comentário em A Ilusão Pastoral.
A dimensão moral da crítica, por sua vez, é explorada no ensaio O Diálogo como Gênero Filosófico, em que está em questão, como já observamos, os efeitos morais do exercício do diálogo, na regulação das paixões. Ela é também tangenciada no ensaio Da Maneira ao Estilo, por ocasião do comentário à observação de Hutcheson ao Tratado da Natureza Humana, segundo a qual Hume deveria ter se engajado mais fortemente na defesa da virtude, no lugar de apenas apresentá-la por meio de uma investigação abstrata, como faz no Tratado. A essa observação Hume responde recorrendo à metáfora do anatomista e do pintor e esclarecendo que no Tratado optou por proceder à maneira do anatomista, procurando desvendar as “molas e princípios mais secretos” ( apud Pimenta, p. 42) do seu objeto, em vez de recompor sua graça e beleza, como faria o pintor. Isso equivale a proceder como o metafísico, que explica o que é a virtude, e não como o moralista, que a exorta. Há toda uma questão sobre a natureza da investigação moral no horizonte dessas observações.
Aqui, pode-se talvez lamentar que Pedro Paulo Pimenta reduza a distinção entre esses dois modos de fazer filosofia moral a uma dferença de estilo– a diferença entre o estilo seco do metafísico, que fala ao entendimento, e o estilo vivo e forte do moralista, que fala às paixões -, de maneira a concluir que a diferença entre os estilos do Tratado e da Investigação sobre os princípios da Moral, implique uma diferença no modo de fazer filosofia moral. De acordo com Pimenta, na passagem do Tratado para a Investigação, Hume deixou de considerar descabida a observação de Hutcheson de que deveria proceder ao modo do moralista, para então passar a aceitar fazer filosofia moral desse modo. No entanto, as diferenças compositivas e estilísticas entre as obras não implicam diferença no modo de fazer filosofia moral. Na Investigação, Hume permanece o mesmo anatomista do Tratado, expondo porém o resultado de sua dissecação de um modo mais conciso e agradável. Parece-me que aqui a foco nas questões de estilo acabou por obscurecer um aspecto da filosofia moral de Hume, o modo como Hume compreendeu a natureza e a função da filosofia moral, enquanto uma anatomia da virtude.
Pode-se dizer que é um retrato de Hume o que se trata de fazer em A Imaginação Crítica – o que é tão mais pertinente dizer em função da atenção particular que se dá ao modo como o próprio Hume pensou o tema da composição e do retrato. São facetas de Hume que aparecem na sequência dos ensaios, que aos poucos vão formando um quadro, completo e simples de um certo Hume. Além do Hume crítico, do historiador e do moralista, os ensaios mostram ainda o homem do seu tempo, preocupado com comentar e interferir nas questões e temas de sua contemporaneidade, em franco diálogo com a produção literária do século XVIII: o Hume da República das Letras e dos salões.
Por meio de intenso recurso à correspondência de Hume que tem muitas de suas passagens traduzidas e comentadas por Pimenta, que contribui assim, de maneira importante, pela excelência de suas traduções, para a divulgação do seu conteúdo -, o retrato de Hume assume um tom anedótico. À figura do filósofo e literato se acresce a figura do homem de carne e osso, pelo que ficamos sabendo de certos episódios da sua vida, como sua viagem a Alemanha a serviço da diplomacia britânica, no ensaio Hume e Tiepolo no Palácio de Würzburg, e das condições de sua morte em Os últimos dias de David Hume (a tradução das passagens da correspondência em que se faz menção às circunstâncias de sua morte), assim como pela referência às particularidades de sua compleição física, em Elogio da Obesidade (a tradução de passagens da correspondência em que Hume comenta, em tom jocoso, o seu excesso de peso).
O livro traz ainda muita informação acerca do que Hume pensou de seus contemporâneossobre o que disse, por exemplo, acerca do estilo de Fegunson a Robertson e Blair, em Refinamento e Civilização, ou sobre Rousseau e D’Alembert, em Hume, Rousseau e D’Alembert, ou o filósofo no espelho -, assim como sobre o que disseram dele, como Hutcheson, em Da maneira ou estilo, e sobre o que seus contemporâneos disseram uns dos outros, como Smith de Rousseau e Bouffon, em A Ilusão Pastoral.
Esse “diz-que-diz-que”, cuidadosamente pinçado da correspondência de Hume e outras fontes, retrata bem a intensa comunicação e correspondência entre os filósofos do XVIII e mostra o quanto as questões de estilo importavam não só a Hume como a seus contemporâneos.
Ocorre, porém, dessas referências cruzadas tomarem em alguns momentos um espaço excessivo nas análises de Pimenta, como no ensaio Refinamento e Civilização, em que terminam por se sobrepor à questão de saída o sentido do termo civilização, seus aspectos positivos e negativos a ponto de fazer perdê-la de vista.
Do mesmo modo, se as observações sobre a obesidade, ao lado da reconstituição dos últimos dias de Hume, tem um interesse intrínseco, pela disponibilização de textos preciosos, exemplos finos do bom humor e da leveza de estilo de nosso autor, o mesmo não se pode dizer da questão que anima o ensaio sobre os painéis de Tiepolo, em que o caráter anedótico e a pergunta pitoresca e um pouco forçada o que Hume teria a dizer acerca desses painéis se já estivessem instalados no momento em que visita o palácio de Würzburg? põem à sombra a questão política –as observações de Hume sobre a suntuosidade do palácio como signo da autoridade dos príncipes alemãesque faz o interesse da anedota.
Todo esse anedotário serve, porém, com maestria, ao estilo que Pedro Paulo Pimenta pretende ele próprio cultivar em suas análises.
Aplica-se a elas o que L. Jaffro escreveu acerca do livro Shaftesbury e a formação de um caráter moderno 2 de Luís Nascimento, quando diz que, se Luís Nascimento nos ajuda a compreender a filosofia de Shaftesbury, “ também precisamos da filosofia de Shaftesbury para compreender Luís Nascimento ” (p. 11). A referência aqui é ao modo como Nascimento mimetiza o estilo de Shaftesbury no comentário que faz de sua obra, o que se aplica igualmente à relação de Pedro Paulo Pimenta com Hume. É assim, como um elemento da composição do retrato de Hume, em compensação às análises mais pesadas, por assim dizer, que a mobilização de todo esse anedotário ganha sentido.
O esmero na arte de compor o retrato de Hume certamente compensa algum desconforto que um leitor de humor mais analítico e severo possa sentir diante do modo como Pedro Paulo Pimenta lida com certas questões metafísicas com as quais se depara. Por exemplo, no ensaio A lógica do Tableau, o autor aponta para uma interessante relação entre composição, no sentido em viemos falando dela até agora, e percepção. A percepção é para Hume, ele observa, como já para Locke, uma forma de composição, dado que envolve um processo de imitação na passagem das impressões às ideias, e que os efeitos dessa imitação, aos quais se condiciona a distinção epistêmica entre crença e ficção, dependem diretamente da unidade e simplicidade das relações entre os elementos perceptivos. Daí que, segundo Pimenta, o caráter de cópia da ideia deixe de ser um problema epistêmico para se tornar uma virtude – “ uma imitação bem feita (…) vale por muitas impressões ” (p. 87). De onde se passa, com certa rapidez, à conclusão: “ é na ‘crítica do gosto’ que se revelam a verdadeira natureza e dimensão do conhecimento, e resolvem-se, de uma vez por todas, os problemas da ‘lógica’ ” (p. 88). A formulação é de impacto: no gosto encontra-se a solução definitiva dos problemas da lógica! Mas, por mais sugestiva e promissora que seja, tal conclusão não se deixa derivar, sem mais, da analogia entre composição plástica e percepção.
Um desconforto semelhante pode acometer o leitor de A arte do retrato histórico. Ali, Pedro Paulo Pimenta mostra como certas questões de método em História, tal como pensadas por Hume e Gibbon, para os quais cabe ao historiador trazer à luz o encadeamento e a lógica dos eventos relatados a fim de identificar suas causas gerais, espelham, para esses autores, as questões de gosto, precisamente aquelas relativas à unidade compositiva do retrato, de forma que ao historiador, enfatiza Pimenta, é imprescindível o bom gosto. Porém, por mais rigorosa que seja essa observação, ela corre o risco de ser redutora se não for melhor explorada. Pois, não são apenas as questões de gosto e certas exigências compositivas que motivam Hume a compor, para usar o exemplo de Pimenta, o retrato de Carlos I na História da Inglaterra do modo como ele o faz, quando se trata de resgatar a dignidade de sua figura contra a detratação partidária de que teria sido vítima por uma certa historiografia. Aqui, não se trata apenas de bem retratar e de ser verdadeiro, segundo os bons princípios da composição. Tratase de entender os episódios da guerra civil inglesa a partir das causas gerais que se presume presidir este e outros acontecimentos históricos, a partir de um método e de uma lógica para se julgar sobre causa e efeito tomados de empréstimo das práticas cognitivas das ciências naturais e cujo alcance crítico não se deixa reduzir a uma questão compositiva. Seja como for, se o método histórico não se reduz a uma questão de gosto, as duas esferas não deixam de ter relação, como faz ver muito apropriadamente Pedro Paulo Pimenta.
Estas são pequenas objeções, a vontade de pensar para além do que se propõe a fazer Pedro Paulo Pimenta, instigada pela leitura de seu livro, cujo mérito está em pintar, de maneira deliberadamente recortada e fragmentada, um belo retrato do Hume pintor não o anatomista, que é o mais conhecido.
Notas
1.PIMENTA, P. (org.) O iluminismo escocês. São Paulo: Alameda editorial, 2011.
2.NASCIMENTO, L.Shaftesbury e a formação de um caráter moderno.São Paulo: Alameda editorial, 2012
Referências
PIMENTA, P. A Imaginação Crítica, Hume no século das Luzes. Rio de Janeiro: Azougue & Pensamento Brasileiro, 2013.
_____ O iluminismo escocês. São Paulo: Alameda editorial, 2011.NASCIMENTO, L.Shaftesbury e a formação de um caráter moderno.São Paulo: Alameda editorial, 2012.
Maria Isabel Limongi – Universidade Federal do Paraná. E-mail: [email protected]
Luto e Melancolia – FREUD (C-FA)
FREUD, Sigmund. Luto e Melancolia. Tradução de Marilene Carone. São Paulo: Cosac Naify, 2011. Resenha de BAZZO, Renata. O marco de uma tradução. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.22, Jul-Dez, 2013.
Publicada pela primeira vez na Revista Novos Estudos em 1992 1, a tradução de Luto e Melancolia, de Sigmund Freud, realizada pela psicanalista Marilene Carone, foi apresentada ao público, em 2011, na forma de livro pela Editora Cosac Naify. Nesta edição, encontram -se, além da tradução propriamente dita, um prefácio de Maria Rita Kehl, um pequeno texto de Modesto Carone, no qual se esboça o percurso de Marilene Carone como tradutora da obra de Freud e, finalmente, um posfácio de Urania Tourinho Peres, no qual a autora expõe um pequeno histórico da questão da melancolia na psiquiatria e na obra freudiana.
Poderíamos nos perguntar qual a importância e relevância de republicar uma tradução feita 20 anos atrás, principalmente se consideramos que essa publicação pode ser contada em uma série de traduções mais recentes do texto freudiano, que por ora saem em português, provavelmente estimuladas pelo do fim do domínio de direitos autorais, completados 70 anos da morte do autor. Cabe lembrar que atualmente existem dois projetos para tradução das obras completas de Freud em português pela Editora Companhia das Letras, desde 2010, conduzido por Paulo César de Souza, e também pela Editora Imago, desde 2004, sob a direção de Luiz Alberto Hanns. O leitor pode encontrar também disponível em português, desde 2010, algumas traduções do texto freudiano feitas por Renato Zwick para a Editora L&PM. Além disso, o mais recente projeto de tradução da Editora Autêntica, denominado “Obras Incompletas de Freud” e coordenado por Gilson Iannini, acaba de lançar seus dois primeiros volumes em edição bilíngue.
O texto de Luto e Melancolia foi escrito por Freud em 1915 e publicado em 1917, classificado como pertencente ao conjunto de textos que compõem a metapsicologia. Tendo como pano de fundo a primeira guerra mundial, é possível encontrar nessa e nas outras obras desse mesmo período (“ Introdução ao Narcisismo ”, “ Considerações atuais sobre a guerra e a morte ”, “ A transitoriedade ”) a constelação temática da morte, do luto, do sentimento de culpa, da perda e do trabalho psíquico que envolve a sua elaboração. Na tentativa empreendida por Freud de explicar a melancolia sob o paradigma do luto, o leitor poderá perceber em status nascendi as ideias sobre o super -eu e a pulsão de morte, que só seriam desenvolvidas alguns anos mais tarde pelo psicanalista.
Devido à centralidade desse texto, ele já se encontra traduzido por Hanns 2 (2006) e Souza 3 (2010) em seus projetos, portanto em versões mais recentes que o trabalho de Marilene Carone. Ainda assim, a nosso ver, há razões para sustentar que o trabalho de Carone continua atual, como mostraremos em seguida.
Junto às novas edições mencionadas acima e que vêm agora a público, os interessados também podem usufruir de apresentações importantes a respeito dos principais debates e problemas de tradução dos textos freudianos, solidificando assim a fortuna crítica concernente ao vocabulário teórico do psicanalista vienense no Brasil. Em 1996, Luiz Alberto Hanns apresentou o Dicionário Comentado do Alemão de Freud, composto por 40 vocábulos selecionados como os mais controversos e para os quais faz um estudo vertical profícuo. Além disso, Paulo César de Souza (1999) e Paulo Heliodoro Tavares (2011) apresentam o panorama dos problemas e das críticas que cercam os principais projetos de tradução da obra de Freud no Ocidente, inserindo nesse quadro as considerações sobre as condições brasileiras. Além dessas obras de referência, há atualmente importantes debates sobre o tema em artigos de periódicos. Neste Cadernos de Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade, por exemplo, consta recentemente o texto de Ivan Estevão 4 (2012), o qual discute acerca de Trieb, um dos conceitos fundamentais da metapsicologia freudiana que é sabidamente elemento de discórdia entre tradutores e escolas de psicanálise.
No entanto, ainda que tenha ganhado maior densidade nos últimos anos com as novas publicações citadas, o debate sobre a tradução dos textos freudianos já ocorre no Brasil desde os anos 80.
É nesse cenário que podemos reencontrar o nome de Marilene Carone, cujos textos publicados no caderno Folhetim do jornal Folha de São Paulo foram precursores e decisivos para a tradição de debate sobre a qualidade das traduções brasileiras. Nesses textos, Marilene Carone dedicou todos os esforços para evidenciar as mazelas da tradução publicada da Editora Imago, uma versão pouco criteriosa feita a partir de uma tradução inglesa, mais requintada, mas também não menos polêmica.
A primeira versão brasileira de Freud havia sido realizada nos anos 40 pela Editora Delta, também uma tradução que tivera como texto de origem as versões existentes em francês e em espanhol e não o texto fonte em alemão. Por sua vez, a Editora Imago iria lançar nos anos 1970 a versão das obras completas de Freud em português, uma “tradução da tradução” inglesa de James Strachey. O mérito dessa versão inglesa das obras freudianas, denominada Standard Edition, foi organizar os textos cronologicamente, inserir notas e bons prefácios, além da tentativa de estabelecer a unicidade do vocabulário conceitual. No entanto, em 1983, o psicanalista Bruno Bettelheim tornou -se uma voz decisiva no crescente coro das críticas a essa edição, as quais acusavam a versão inglesa de tentar inserir a psicanálise em uma linguagem cientificista e médica, deixando de lado a qualidade literária do texto de Freud, que, como se sabe, recebeu o prêmio Goethe em 1930 5.
No entanto, as críticas que Carone direciona à tradução brasileira de Freud vão muito mais longe do que estas. Em seu primeiro artigo para o Folhetim, intitulado Freud em português: uma tradução selvagem6, a autora elenca os principais problemas, que vão desde a linguagem rebuscada (“ Peço vênia, para fazer um relato ” que poderia ser traduzido por “ Permitam -me fazer um relato ”), ao uso das opções utilizadas em inglês e que soam artificiais para o português (“ mutual relationships ” que poderia ser traduzido por “ relações recíprocas ” mas foi traduzido por “ relações mutuais ”), além dos erros crassos de tradução (“ he was pretending to widdle ” para “ ele estava pretendendo fazer pipi ”) e das metáforas que foram traduzi das ao pé da letra (“ newly -fledged man of Science” traduzido como “ um cientista recém -emplumado ”).
Na continuação de sua crítica, publicada em outubro do mesmo ano 7, Carone assinalou a existência da falta de unidade terminológica no que se refere a alguns dos principais conceitos freudianos na tradução brasileira, possibilitando que em cada volume do conjunto das obras completas estivesse presente uma tradução diferente para o vocábulo. Ela sublinha, além disso, o aparente paradoxo desse fato ao demonstrar como outros vocábulos que não são conceitos fundamentais da obra freudiana receberam bastante atenção nesta versão em português, conferindo a eles um status até então inexistente. Esse paradoxo revela que, se por um lado houve desleixo na tradução, houve também uma decisão ideológica que norteou seu percurso. Desse modo, as escolhas da tradução apontadas por ela no artigo anterior são fruto não apenas do descaso com o texto fonte, mas principalmente uma opção de leitura da teoria e da clínica em psicanálise, transformando conceitos fundamentais em termos corriqueiros e atribuindo dignidade de conceito aos vocábulos menores.
Essas críticas ressoam ainda na tradução de Luto e Melancolia. Na versão publicada pela Editora Cosac Naify, o leitor pode encontrar um quadro em que a tradutora apresenta, compara e comenta as versões de tradução para passagens e expressões importantes do texto freudiano. Assim, ela compara a versão original em alemão, a versão in glesa de James Strachey, a tradução brasileira da Standard Edition e a sua própria versão, seguida de seus comentários e considerações.
Nesse quadro, é possível reencontrar alguns dos apontamentos da autora que estavam presentes no primeiro artigo de Folhetim publicado 1985. De modo geral, a crítica de Carone não incide sobre as opções de Strachey para a versão inglesa, mas sim continua a enfrentar as opções da versão Standard Brasileira. Para além dos absurdos como traduzir “ Abusing it ” por “ abusando ”, também há a tradução de “ Alternation ” por “ Alteração ”. Diante dessa solução, o comentário de Carone limita -se a uma pequena frase na qual questiona se seria esse um “Erro ou cochilo de revisão?” (pp. 94 -95).
Em termos de estilo, Carone destaca a tradução da frase “ The consciousness is aware ” por “ A consciência está cônscia ” e afirma: “Um grande escritor como Freud certamente jamais se permitiria um pleonasmo tão grosseiro como esse…” (pp. 96 -97). Ainda assim, talvez o erro mais grave da tradução brasileira apontado nesse quadro síntese seja a tradução de “ Substitution of identification for object -love ” por “ Substituição da identificação pelo amor objetal ”. Como o leitor poderá notar ao seguir as hipóteses de Freud no texto, essa opção inverte totalmente o sentido da argumentação a respeito dos destinos do investimento libidinal na melancolia.
No entanto, a publicação da versão de Carone não se limita a ser apenas uma reedição das críticas outrora realizadas. A pertinência de publicar o seu trabalho vinte anos depois de sua primeira publicação deve -se à condição de seu texto que, embora antigo, não se tornou datado. Além de representar certamente um grande avanço em relação à tradução disponível à época, para qual ela dirigiu tantas críticas, o trabalho de Carone também se mostra à altura das traduções que foram realizadas anos depois. Um indício disso é que até hoje é possível encontrar nos trabalhos posteriores de tradução de Luto e Melancolia as soluções elegantes dadas por Carone. Talvez a mais conhecida tenha sido a expressão que está presente no parágrafo 12 do texto “ Ihre Klage sind Anklagen ” que Carone traduz por “ Para eles, queixar -se é dar queixa ”. Na versão brasileira anterior, essa frase encontrava -se traduzida por “ Suas queixas são realmente ‘queixumes ’”. Segundo a versão recente de Hanns: “ Seus lamentos e queixas [Klagen] são acusações [Anklagen] ”, mantendo -se os termos originais do alemão entre colchetes. Paulo César de Souza, por sua vez, acata a solução de Carone. O tradutor, em nota de rodapé, afirma que Carone conseguiu encontrar uma proposta capaz de conservar o jogo de palavras presente no texto original (p.180).
Comparando a tradução de Carone com as duas novas traduções, podemos perceber como a sua versão mantém -se atual.
Além disso, pode -se dizer até mesmo que a psicanalista representa um marco nas traduções de Freud para o português no Brasil, uma vez que, ao criticar a edição anterior, ela estabeleceu uma exigência de qualidade para as futuras tentativas de lidar com o texto freudiano.
Por outro lado, cabe discordar da opção da autora em manter a solução inglesa de tradução de Ego, Superego e Id para designar as instâncias Ich, Überich e Es. A justificativa da tradutora consiste em afirmar que esses termos já estariam suficientemente incorporados à nossa cultura e ao vocabulário corrente da língua portuguesa, constando inclusive nos dicionários. Esses termos latinos, segundo Souza 8 (1999), teriam sido sugeridos por Ernest Jones, um dos principais responsáveis pelas decisões de tradução da edição inglesa. Para Jones, a nomenclatura clássica teria a vantagem de garantir a compreensão dos conceitos em qualquer idioma, além de ser frequentemente utilizada no vocabulário médico cientifico internacional.
Porém, ao manter a opção latina para designar as instâncias, a tradutora desconsiderou um aspecto importante, que é aquele da importação e utilização de uma linguagem excessivamente academicista, estranha ao texto freudiano. Quanto a isso, pode -se lembrar que a versão da Imago para a Standard Edition havia preservado o termo latino catexia para traduzir Besetzung e que Carone se livrara dessa solução, adotando, mais simples e corretamente, o termo investimento. Se foi assim, por que não abandonar de vez os termos latinos exteriores à escrita freudiana?
O próprio Freud, em seu texto A questão da análise leiga 9 (1926), após apresentar para seu interlocutor imaginário as instâncias Eu e Isso, explica a razão de sua opção por pronomes usuais em detrimento do vocabulário clássico:
Você objetará, provavelmente, que para indicar essas duas instâncias ou províncias nós tenhamos escolhido pronomes simples, em vez de introduzir estrondosos nomes gregos. É que na psicanálise gostamos de permanecer em contato com o modo popular de pensar, e nós preferimos tornar utilizáveis para a ciência seus conceitos, ao invés de rejeitá -los. Não é mérito algum: nós temos que proceder assim porque nossas teorias devem ser compreendidas por nossos pacientes, que muitas vezes são muito inteligentes, mas nem sempre são eruditos. O Isso impessoal está ligado diretamente a determina das formas expressivas do homem normal. “Isso [ Es ] me abalou”, se diz, “havia algo em mim [ es war etwas in mir ] que naquele momento era mais forte que eu”. “ C’était plus fort que moi ”. (p. 183) Contudo, essa ressalva não deve comprometer a principal imagem que se tem ao ler a tradução de Carone: Freud com rigor e estilo.
Notas
1.FREUD, S. Luto e melancolia. Tradução de Marilene Carone. Novos Estudos – CEBRAP, 1992, n. 32, pp. 128 -142.
2.FREUD, S. Luto e melancolia. In: ______.Obras psicológicas de Sigmund Freud.
- A. Hanns (Coord.), vol. II. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2006.
3.FREUD, S. Luto e melancolia. In: ______.Sigmund Freud Obras Completas. Vol.12. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
4.ESTÊVÃO, I. Retorno à querela do Trieb : por uma tradução freudiana. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n. 19, 2012, pp. 79 -106.
5.TAVARES, P. H. Versões de Freud: breve panorama crítico das traduções de sua obra. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011.
6.CARONE, M. Freud em português: uma tradução selvagem. Folhetim, Folha de São Paulo, 21 de Abril de 1985.
7.CARONE, M. Freud em português (capítulo II).Folhetim, Folha de São Paulo, 20 de Outubro 1985.
8.SOUZA, P. C. de. As palavras de Freud – O vocabulário freudiano e suas versões. São Paulo: Ática, 1999.
9.FREUD, S. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez im parcial. In: ______.Obras Completas. Vol. XX. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1992.
Referências
CARONE, M. Freud em português: uma tradução selvagem.
Folhetim, Folha de São Paulo, 21 de Abril 1985.
_______. Freud em português (capítulo II). Folhetim, Folha de São Paulo, 20 de Outubro 1985.
CHAVES, E. A Pulsão: de Freud a Benjamin. Cult, São Paulo, v. 181, pp.36 41, 2013.
ESTÊVÃO, I. Retorno à querela do Trieb : por uma tradução freudiana. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo: Crítica e Modernidade, n. 19, 2012, pp. 79 -106.
FREUD, S. Luto e melancolia. In: ______.Sigmund Freud Obras Completas.Vol. 12.Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. (Trabalho original publicado em 1917).
_______. Luto e melancolia. In: ______.Obras psicológicas de Sigmund Freud. Vol. II. L. A. Hanns (Coord.). Rio de Janeiro: Imago Ed., 2006.
_______. Luto e melancolia. Tradução de Marilene Carone.Novos Estudos – CEBRAP, 1992, n. 32, pp. 128 -142.
_______. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez im parcial. In: ______.Obras Completas. Vol.XX. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1992. (Trabalho original publicado em 1926).
SOUZA, P. C. de.As palavras de Freud – O vocabulário freudiano e suas versões.São Paulo: Ática, 1999.
TAVARES, P. H.Versões de Freud: breve panorama crítico das traduções de sua obra.Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011.
_______. ‘Esperando Freud’ ou ‘Psicanalistas à procura de um autor’.Cult (São Paulo), v. 181, 2013, pp. 26 -29.
Renata Bazzo – Mestre em Psicologia pela PUC -SP
O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna – NEUMANN (C-FA)
NEUMANN, Franz. O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna. Tradução de Rúrion Melo. São Paulo: Quartier Latin, 2013. Resenha de: PROL, Marques Flavio. O Império do Direito e a liberdade: uma teoria crítica do direito e do Estado. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.21 Jan./Jun., 2013.
Foi publicada em português a tradução do livro O Império do Direito, de Franz Neumann. Escrito em 1936, na Inglaterra, para obtenção do segundo doutorado do autor, sob orientação de Harold Laski, a versão em livro foi publicada cinquenta anos depois, em 1986.
Alemão, Neumann foi advogado trabalhista e do Partido Social Democrata. Ao longo da década de 1920, ainda na Alemanha, escreveu sobre direito do trabalho e direito econômico, e os principais textos do período estão reunidos em duas coletâneas publicadas em italiano.1 Diante da ascensão do nazismo ao poder, em 1933, foi obrigado a se exilar.
Após a estadia na Inglaterra, dirigiu-se aos Estados Unidos, onde iria escrever o livro pelo qual é mais conhecido: Behemoth2, que apresenta um estudo do regime nazista. Nele, Neumann critica o conceito de capitalismo de estado, controvérsia estabelecida com Friedrich Pollock. Foi também nessa época que ele se tornou colaborador do Instituto de Pesquisas Sociais, estabelecido no exílio.3
A publicação de O Império do Direito ilumina uma parte relevante da obra de Neumann.4 Nesse texto, o autor apresenta uma interpretação específica a respeito do direito moderno, do Estado e da sua relação com a liberdade humana. Em termos críticos, essa preocupação com a liberdade talvez possa ser traduzida como interesse pela emancipação, embora Neumann não tenha afirmado isso explicitamente.
O livro apresenta quatro teses distintas a respeito do desenvolvimento do direito moderno. Ele se insere nos principais debates a respeito da natureza do direito, tanto da perspectiva filosófica, com críticas a Schmitt, Kelsen e Austin, como da perspectiva sociológica, com a referência central sendo Max Weber.
Para apresentar a relação estabelecida entre direito moderno e a realização da liberdade, este texto está organizado da seguinte forma: (i) inicialmente, apresento a estrutura geral do livro e suas principais teses; (ii) na sequência, ressalto como o vínculo que o autor estabelece entre direito e democracia permitiria a realização, ainda que parcial, da liberdade. Ainda nessa parte, demonstrarei como Neumann desenvolveu posteriormente sua concepção de liberdade.
1.Estrutura geral do texto e suas principais teses
Neumann divide o seu texto em três partes: ( i ) “introdução e a base teórica”; ( ii ) “soberania e império do direito em algumas teorias políticas racionais (o desencantamento do direito)”; ( iii ) “a verificação da teoria: o império do direito nos séculos XIX e XX”.
Na sequência dessa seção, apresentarei inicialmente o ponto de partida teórico do texto de Neumann, para só então apresentar as quatro teses que o autor defende ao longo do livro.
1.1 Sociologia do direito. Elementos contraditórios do Estado e do direito
O livro discute a relação entre direito, ciência política e economia, razão pela qual a sociologia do direito é o principal ponto de partida para análise. Por sociologia do direito, Neumann entende a compreensão das relações entre direito e a “subestrutura social”5
Afastando concepções meramente econômicas das instituições jurídicas, que reduziriam a subestrutura social do direito a uma análise economicista, Neumann entende que a tarefa central da sociologia do direito é demonstrar como o direito e o Estado possuem tanto um desenvolvimento histórico autônomo enquanto forma específica de ordenação das relações sociais, como um desenvolvi mento condicionado a determinações sociais oriundas da religião, da economia e da política.
Por Estado moderno, Neumann entende “toda instituição socio logicamente soberana” (p. 64). A soberania, por sua vez, corresponde ao poder jurídico mais elevado de determinar normas que valem coercitivamente para todas e todos em um determinado território. Ao afirmar que a soberania é, em última instância, um poder jurídico, Neumann tenta escapar tanto de um reducionismo jurídico, que equacione soberania e direito, como de um reducionismo político-sociológico, que identifique soberania e poder.
Ainda falta, contudo, esclarecer melhor o que o autor entende por direito e por poder. Para ele, o elemento de direito e o elemento de poder contidos em sua definição de soberania e de Estado moderno são contraditórios. Esta é a primeira tese do texto. A soberania absoluta, no sentido do poder irrestrito do Estado para emitir normas de qualquer conteúdo, não se reconcilia com a afirmação histórica de âmbitos de liberdade diante do Estado na forma jurídica (“Império do Direito”).
Para Neumann, a definição de direito deriva da contradição entre esses dois elementos. É por isso que teórica e historicamente percebe-se uma dupla noção de direito: uma política e outra material.
Segundo a noção política, qualquer decisão do Estado seria direito, fosse ela justa ou injusta. O direito e a lei seriam apenas voluntas.
Por outro lado, de acordo com a noção material, “as normas do Esta do são compatíveis com os postulados éticos definidos, sejam postulados de justiça, liberdade ou igualdade, ou qualquer outro” (p. 98).
Ou seja, deve haver identidade entre as normas emitidas pela autoridade estatal e certo conjunto de valores externo ao direito para afirmar que as normas emitidas pelo Estado são “direito”.
A segunda tese do texto deriva dessa primeira. Para Neumann, a justificação secular e racional do Estado e do direito pode ter um aspecto revolucionário sob certas circunstâncias históricas. A superação histórica de justificações do Estado e do direito que se baseavam na religião ou no direito natural fortalece concepções de mudanças do status quo. Essa justificação secular e racional implica que o Estado e o direito “são simplesmente instituições humanas originadas da vontade ou da carência dos homens” (p. 73). Assim, a exigência da noção material de direito de uma justificação independente do direito e do Estado não pode depender senão de argumentos que se referem e são construídos pela própria sociedade.
Neumann então apresenta sua terceira e principal tese: a afirmação histórica e teórica de um Império do Direito garantidor da liberdade tem um efeito desintegrador em uma sociedade baseada na desigualdade (p. 40). A terceira tese é uma especificação da segunda: a justificação secular e racional do Estado e do direito, na modernidade, assume a forma da defesa de um Império do Direito geral. Este Império do Direito expressa o estabelecimento de certas esferas de liberdade em face do Estado. E essas esferas de liberdade permitem que os grupos minoritários ou desprivilegiados de uma sociedade desigual reivindiquem direitos por meio do próprio Império do Direito e de acordo com uma justificação secular e racional. Mas esse processo ameaça as posições de poder estabelecidas e, consequentemente, ou o poder aceita essas demandas ou ele abandona a justificação secular e racional. O exemplo da República de Weimar, mais abaixo, ilustra esse fenômeno.6
1.2 “Desencantamento do direito” e instituições jurídicas
As três teses são desenvolvidas ao longo de todo o texto. A segunda parte do livro apresenta o desenvolvimento da contradição entre soberania absoluta e Império do Direito na obra dos principais pensadores racionais do Ocidente – de Cícero a Hegel. Neumann analisa suas distintas teorias do Estado e do direito para demonstrar como a contradição está invariavelmente presente. Paralelamente, Neumann apresenta como progressivamente ocorre a superação teórica de justificações transcendentais do direito em favor de concepções que se baseiam nas vontades e nas carências dos homens – processo que ele chama de “desencantamento do direito”.
É também nessa parte do texto que Neumann apresenta sua quarta tese: “o reconhecimento da liberdade e igualdade em uma es fera leva ao postulado da liberdade e igualdade nas outras” (p. 118).
Para ele, a justificação secular e racional do Estado e do direito per mite e estimula o reconhecimento jurídico progressivo da liberdade e da igualdade, embora o risco de regresso seja constante.
Essa tese, junto às demais, será novamente objeto de estudo na terceira e última parte do livro, quando Neumann analisa a evolução histórica das instituições jurídicas na Alemanha e na Inglaterra dos séculos XIX e XX. Nesse ponto, Neumann estuda a relação entre direito, política e capitalismo.
Ele defende que a sociedade liberal e competitiva do século XIX, ao compartilhar uma concepção individual de liberdade política e econômica, determinava que o direito só fosse válido se exercido por meio de leis gerais aplicadas por juízes independentes por meio de um processo de subsunção lógico-formal.
Essa ideia formal de direito, por outro lado, pressupunha uma determinada estrutura econômica, social e política: uma economia não monopolizada, a inexistência de uma classe trabalhadora enquanto movimento independente que apresentava demandas ao Estado e ao direito e uma separação de poderes, no qual o direito era aplicado por um órgão independente do órgão de criação, sendo que um ou outro deveria ser dominado pela burguesia.
Contudo, quando o capitalismo se monopolizou e o proletariado passou a exigir o reconhecimento formal de direitos, ocupando lugar no Parlamento, essa estrutura jurídica formal entrou em xeque.
Neumann afirma que a justificação secular e racional do direito passou a ser reivindicada por uma nova classe social, organizada politicamente. E a possibilidade dessa classe exigir direitos formais democraticamente (a afirmação progressiva do Império do Direito por uma justificação secular e racional), entrou em contradição com o desenvolvi mento do sistema produtivo. A sociedade burguesa ficou ameaçada.
A solução encontrada na década de 1930, na Alemanha, foi o completo abandono de qualquer pretensão de racionalidade na justificação do Estado e do direito: a contradição entre soberania e Império do Direito foi resolvida em favor do primeiro elemento. Para Neumann, o direito da Alemanha nazista era uma simples técnica de transformação da vontade do líder em realidade constitucional. A característica própria do direito e do Estado, a contradição entre um momento de soberania e um momento de justificação racional e secular, foi deixada de lado em favor de uma justificação irracional e carismática do poder absoluto do Estado.
2.Vínculo entre direito e democracia.
Contudo, é possível defender, a partir de Neumann, que a “solução nazista” não era a única alternativa historicamente possível. Aqui talvez resida a maior contribuição do autor para o pensamento jurídico e político contemporâneo. Estabelecendo um vínculo entre democracia e direito, tanto da perspectiva teórica, a partir da análise de Rousseau, como da perspectiva histórico-institucional, a partir de sua análise sobre a República de Weimar, Neumann parece postular que seria possível garantir o contínuo reconhecimento de esferas de liberdade e igualdade por meio de um direito democrático, ainda que o risco de regressão estivesse presente.
Não há espaço para reconstruir o que interpreto como as duas linhas de análise sobre o vínculo de direito e democracia realizadas por Neumann. Por isso, apresentarei somente o que considero a sua compreensão sobre as transformações ocorridas na República de Weimar.
Neumann entende que a típica sociedade liberal do século XIX transformou-se radicalmente na Alemanha do início do século XX.
Além da transição do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista, o autor afirma que a estrutura política também foi substancialmente alterada, sendo que a Constituição de Weimar tentou equilibrar o conflito de classe entre proletariado consciente e burguesia com base na ideia de paridade e com o sufrágio universal. As instituições políticas democráticas permitiram que todas as forças sociais participassem ativamente da criação do direito e do exercício do poder político.
Nesse contexto, a estrutura formal do direito do século XIX também foi transformada. A estrutura econômica de monopólios, o proletariado se constituindo enquanto classe social ativa e a participação de diversas forças sociais na criação do direito fizeram com que começassem a surgir inúmeras normas mais abertas que o padrão tradicional. O conflito social não permitia que o legislador decidisse de antemão qual a solução a ser adotada em um caso concreto. Cláusulas jurídicas gerais passaram a dominar o ordenamento jurídico, como as exigências da “função social da propriedade”, “interesse público” e “boa-fé”, que permitiam uma decisão diferente para cada caso concreto.
Para Neumann, essas cláusulas gerais só garantiram o equilíbrio de forças sociais enquanto todas puderam participar do processo de justificação. Enquanto existiu esse equilíbrio em Weimar, as forças sociais puderam participar ativamente da formação do poder político, porque a elas também eram reconhecidas esferas de liberdade em face do poder do Estado. Contudo, a partir de 1930, as cláusulas gerais passaram simplesmente a ser utilizadas como justificativa para proteção dos interesses monopolistas e da vontade política do Führer. As esferas de liberdade foram sacrificadas em favor da soberania estatal7
2.1 O elemento jurídico da liberdade e a realização da liberdade humana.
A consequência desse diagnóstico, para Neumann, é a de que o reconhecimento formal e jurídico de âmbitos de liberdade em face do poder do Estado é essencial para garantir a realização da liberdade humana, ainda que não a garantam definitivamente.
Neumann entende que a liberdade jurídica se diferencia da liberdade sociológica e filosófica. Enquanto a primeira é a ausência de restrição, a liberdade sociológica seria a possibilidade individual de livre escolha entre duas alternativas iguais. Neumann entende que a liberdade jurídica, conectada a instituições democráticas e a uma justificação secular e racional, permite a progressiva realização da liberdade sociológica, ao dar atenção crescente às diferenças sociais entre os homens. A liberdade jurídica, contudo, não garante a liberdade sociológica.
Finalmente, a liberdade jurídica e a liberdade sociológica simples mente tornam possível a “autoafirmação humana, o fim da alienação de si do homem” (p. 83), inspirando-se na filosofia do direito hegeliana.
A tentativa de formular uma “teoria da liberdade humana” nunca foi abandonada por Neumann. Em texto posterior, de 1953, Neumann retornará à questão.8 Nesse texto, ele afirma que o conceito de liberdade política possui três elementos constitutivos: jurídico, cognitivo e volitivo. O elemento jurídico é o reconhecimento de uma esfera de liberdade do cidadão e de organizações privadas em face do Estado.
Neumann diferencia sociedade civil e Estado e afirma que a primeira deve ser independente do Estado para permitir que as demandas sociais se formem autonomamente.
Desenvolvendo a afirmação realizada antes, Neumann afirma mais uma vez que o elemento jurídico é insuficiente. Dessa vez, contudo, apresenta dois novos motivos: a liberdade concebida enquanto ausência de restrições não permite explicar porque a democracia é o sistema político que maximiza a liberdade; a fórmula da independência da sociedade civil em relação ao Estado ignora que a liberdade pode ser ameaçada no interior da própria sociedade civil.
Assim, ele desenvolve o elemento cognitivo e o elemento volitivo da liberdade política, que complementam o elemento jurídico. O elemento cognitivo reconhece que a sociedade humana acumula progressivamente conhecimento a respeito da natureza e do próprio homem. Nesse sentido, ele permite a realização efetiva da liberdade, ao possibilitar ao homem a compreensão das relações naturais e sociais nas quais está inserido. Ao mesmo tempo, também permite que o homem reforme a estrutura institucional para adequá-la ao conheci mento adquirido.
Por fim, o elemento volitivo (ou ativista) da liberdade é a vontade humana de ser livre. É por meio dele que se defende a superioridade da democracia enquanto forma histórica de realização da liberdade. O vínculo entre direito e democracia fica ainda mais evidente no texto de 1953, porque Neumann defende que somente a democracia institucionaliza a oportunidade do homem escolher livremente entre oportunidades iguais. E o cidadão – individualmente ou em grupo – só pode escolher livremente se tem esferas de liberdade reconhecidas juridicamente.
Em The concept of political freedom, portanto, Neumann desenvolve a teoria apresentada inicialmente em O Império do Direito. Os três ele mentos da liberdade – jurídico, cognitivo e volitivo – conformariam um desenho institucional e social mínimo para que uma sociedade moderna possa ser livre, ainda que o risco de regressão esteja presente. A análise da República de Weimar realizada nos últimos capítulos de O Império do Direito demonstra o risco do abandono do Império do Direito.
Nesse contexto, acredito que os estudos de Franz Neumann podem contribuir significativamente com a reflexão contemporânea a respeito do direito e da democracia. Sua análise sobre o desenvolvimento da racionalidade jurídica apontou para a superação da dicotomia direito formal-material, no sentido de um direito procedimental democrático.9 Por outro lado, Neumann também apontava para a necessidade de congregar outros elementos, além do jurídico, para a sociedade moderna realmente permitir a efetivação da liberdade.
Notas
1.FRAENKEL, E.; KAHN-FREUND, O.; KORSCH, K.; NEUMANN, F.; SINZHEIMER, H. Laboratorio Weimar: conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista. Roma: Edizione Lavoro, 1982, NEUMANN, F.Il diritto del lavoro fra democracia e dittadura. Bologna: Il Mulino,1983.
2.NEUMANN, F.Behemoth : the structure and practice of national socialism 1933 1944 (1942). New York: Harper Torchbooks, 1966. Versão atualizada do livro publicado originalmente em 1942.
3 A relação entre Neumann e o Instituto não é contínua. Sobre o assunto, ver JAY, M.The dialectical imagination : a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research. Boston: Little Brown, 1987.
4 A preocupação de Neumann com o direito foi analisada nos seguintes textos: RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann, São Paulo: Editora Saraiva, 2009; PROL, F. e RODRIGUEZ, J. Franz L. Neumann: direito e luta de classes. In: RODRIGUEZ, J. e SILVA, F., Manual de Sociologia Jurídica, São Paulo: Editora Saraiva, 2013, pp. 61-79.RODRIGUEZ, J. Franz Neumann, o direito e a teoria crítica.Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004. RODRIGUEZ, J.Franz Neumann: o direito liberal para além de si mesmo.In: NOBRE, M., Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008. KELLY, D.The State of the political: conceptions of politics and the state in the thought of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann. New York: Oxford, 2003. SCHEUERMAN, W.Between Norm and Exception: the Frankfurt school and the rule of law. Cambridge: MIT Press, 1997.
5.Neumann se baseia nos estudos de Karl Renner. Ver: RENNER, K.The institutions of private Law and their social functions. Londres: Routledge & K. Paul, 1949.
6.Acredito que é a partir desta tese que Rodriguez afirma a atualidade do diagnóstico de Neumann, por meio da expressão “fuga do direito”. A afirmação histórica do Império do Direito e do reconhecimento de diversas esferas de liberdade jurídicas faz com que as forças produtivas e o exercício puro do poder assumam outra roupagem social, não jurídica. O direito moderno democrático impõe restrições ao exercício do poder. Para mais, ver RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito.
7.Rodriguez diferencia a “forma direito” dos “modelos de juridificação”. A ideia de “forma direito” ele retira da própria tensão entre soberania e direito que Neumann afirma ser característica das sociedades modernas. Por “modelos de juridificação”, Rodriguez diferencia como cada sociedade concretiza essa tensão em sua organização específica. A “forma direito” ganha potencial emancipatório quando está conectada a um procedimento democrático.Justamente o que foi abandonado na Alemanha nazista. Para mais, ver: RODRIGUEZ, J. Fuga do Direito, pp. 69-85; p. 95-120; pp. 129-135.
8.NEUMANN, F. The concept of political freedom.Columbia Law Review, vol.53, n. 7, 1953, pp. 901-935.
9.Algo que Habermas, por exemplo, realiza em seus textos sobre direito e democracia. HABERMAS, J.Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vols.Tradução de Flávio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
Referências
FRAENKEL, E.; KAHN-FREUND, O.; KORSCH, K.; NEUMANN, F.; SINZHEIMER, H. Laboratorio Weimar: conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista. Roma: Edizione Lavoro, 1982.
HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade.2 vols. Tradução de Flávio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
JAY, M.The dialectical imagination: a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research. Boston: Little Brown, 1987.
KELLY, D.The State of the political: conceptions of politics and the state in the thought of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann New York: Oxford, 2003.
NEUMANN, F.Il diritto del lavoro fra democracia e dittadura. Bologna: Il Mulino,1983.
_______.Behemoth: the structure and practice of national socialism 1933-1944 (1942). New York: Harper Torchbooks, 1966. Versão atualizada do livro publicado originalmente em 1942.
_______.O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna. Tradução de Rúrion Melo. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
_______. “The concept of political freedom”.Columbia Law Review, vol.53, n. 7, 1953.
PROL, F.; RODRIGUEZ, J. Franz L. Neumann: direito e luta de classes.
In: RODRIGUEZ, J.; SILVA, F. (orgs.).Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
RENNER, K.The institutions of private Law and their social functions. Londres: Routledge & K. Paul, 1949.
RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
_______. Franz Neumann, o direito e a teoria crítica.Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004.
_______. Franz Neumann: o direito liberal para além de si mesmo. In: NOBRE, M., Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008.
SCHEUERMAN, W.Between Norm and Exception: the Frankfurt school and the rule of law. Cambridge: MIT Press, 1997.
Flávio Marques Prol – Doutorando na Faculdade de Direito da USP e pesquisador do NDD-CEBRAP.
Sobre a Constituição da Europa – HABERMAS (C-FA)
HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa.Tradução de Denilson Luis Werle; Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Editora da UNESP, 2012. Resenha de: BRESSIANI, Nathalie. Habermas em português. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.20, Jun./Dez., 2012.
Os leitores de Jürgen Habermas em português contam, desde o segundo semestre de 2012, com uma tradução brasileira do mais recente livro do autor, Sobre a Constituição da Europa. A boa notícia não se restringe, contudo, ao importante fato de que, com isso, o público brasileiro passa a ter acesso a um livro de Habermas logo após sua publicação original, em alemão. A cuidadosa tradução de Sobre a Constituição da Europa, feita por Denilson Luis Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo é também a primeira de uma série e marca o início da mais nova coleção da Editora UNESP, que publicará quase que integralmente as obras de Habermas em português.
Coordenada pelos três tradutores e por Antonio Ianni Seggato, a coleção representa o início de um longo trabalho de tradução que disponibilizará, nos próximos anos, tanto textos inéditos como livros de Habermas já vertidos para o português, dando sempre prioridade a seus trabalhos mais recentes e aos que não possuem tradução, bem como àqueles cuja tradução seja de difícil acesso ou não satisfaça os padrões já alcançados pela pesquisa acadêmica no Brasil (p. IX).
Dentre os próximos títulos a serem publicados pela coleção, estão Teoria e Prática e Fé e Saber, até hoje inéditos em português, e novas traduções de Conhecimento e Interesse e Mudança Estrutural da Esfera Pública, com o novo prefácio escrito pelo autor na ocasião dos 30 anos da publicação do livro.
Reconhecendo a importância de Habermas para diversos campos do conhecimento e a consolidação de seus estudos no Brasil, a coleção da Editora UNESP certamente permitirá que a recepção de suas obras seja ainda mais ampliada, bem como contribuirá para a sedimentação – já em curso – de um vocabulário habermasiano em português, indispensável para que o trabalho do autor seja melhor compreendido em seus diversos momentos e para que suas influências e ressonâncias no debate atual sejam percebidas com maior clareza.
Tendo isso em vista, a escolha de Sobre a Constituição da Europa como primeira publicação da coleção é bastante feliz. Composto por dois ensaios e um adendo, no qual constam dois breves artigos e uma entrevista, este é um livro heterogêneo, em que Habermas discute várias questões de perspectivas distintas. Sem se limitar a uma análise especialista de viés jurídico, econômico ou político do processo de constituição da União Europeia ou de abrir mão da postura crítica fundamentada que caracteriza seu trabalho, neste livro Habermas lança mão do conhecimento sedimentado em diversas áreas para fazer um diagnóstico crítico do tempo atual.
No primeiro ensaio, intitulado “O conceito de dignidade humana e a utopia realista dos direitos humanos”, o autor se debruça sobre questões mais propriamente filosóficas, relativas à fundamentação dos direitos humanos e sua relação com a moral, ressaltando o vínculo estrutural existente entre a violação da dignidade humana e a gênese dos direitos humanos. No segundo ensaio, por sua vez, Habermas se volta a questões de diagnóstico de época e apresenta uma interessante compreensão sobre a atual crise econômica, política e democrática pela qual passa a Europa. Tema que constitui também o objeto dos dois artigos e da entrevista que compõem o adendo. Assumindo, nesses textos, um tom visivelmente mais otimista face aos potenciais democráticos da União Europeia depois da ratificação do Tratado de Lisboa, 1 Habermas ressalta a possibilidade de que os novos desenvolvimentos dessa instituição permitam a ampliação e a garantia dos direitos humanos para além do Estado-nação e façam frente às forças econômicas sistêmicas, que até então haviam ditado as prioridades e os rumos da UE.
O vínculo entre as duas partes do livro, de resto bastante distintas, parece estar exatamente na importância que o autor confere, em ambas, aos direitos humanos. Afinal, se, no primeiro ensaio, Habermas procura reconstruir a origem moral dos direitos humanos, com o objetivo de fundamentar a tendência à sua efetivação universal, na segunda, ele passa a discutir essa mesma efetivação de um outro ponto de vista, isto é, a partir do caso europeu. Retomando, nesse momento, diversos elementos de sua teoria social dualista, Habermas desenvolve um diagnóstico dos processos de unificação da Europa, por meio do qual explicita os diferentes projetos de Europa em jogo atualmente e identifica as tendências e os bloqueios existentes para sua realização.
Mesmo sem lançar mão textualmente da distinção entre sistema e mundo da vida, Habermas a retoma implicitamente ao identificar a tendência do sistema econômico globalizado em escapar das regulações estatais e ao problematizar o déficit de legitimação decorrente da dificuldade dos Estados nacionais em lidar com tal tendência.2 Segundo Habermas, tendo desencadeado a atual crise, o processo de globalização econômica em curso representa a volta de uma forma de neoliberalismo que afasta a economia da regulação democrática dos Es tados nacionais, ao mesmo tempo que aprofunda as desigualdades econômicas, tanto entre os países quanto em seu interior. Como afirma ele, “os mercados financeiros, principalmente os sistemas funcionais que perpassam as fronteiras nacionais, criam situações problemáticas na sociedade mundial que os Estados individuais – ou as coalizões de Estados – não conseguem mais dominar” (p. 5).
O objetivo de Habermas na segunda parte de Sobre a Constituição da Europa não é, contudo, apenas mostrar os resultados recentes dos desenvolvimentos de uma economia que se autonomizou, mas também o de apontar para as forças que se opõem a esse processo. Uma dessas formas de oposição, descartada por ele rapidamente, é a proposta daqueles que, céticos frente à possibilidade da consolidação de instituições democráticas transnacionais, continuam a insistir nos Estados nacionais como os principais atores políticos. Ressaltando o caráter irreversível do processo de globalização da economia mundial, Habermas recusa essa posição e defende que hoje não é mais possível se esquivar da necessidade de criar instituições democráticas cosmopolitas para lidar com o novos desafios gerados pela economia globalizada.
Tomando tal irreversibilidade como ponto de partida, o que está em causa na análise de Habermas é, na verdade, o caráter e os funda mentos das instituições transnacionais. Segundo o autor, estamos hoje diante de dois projetos distintos de Europa (cf. p. 49). O primeiro deles, problematizado por Habermas, equivale à tentativa de fazer da UE um Conselho Europeu, no qual os 17 chefes de Estado dos países membros decidiriam sobre os mais diversos assuntos e, esvaziando de importância os parlamentos nacionais, criariam um sistema de federa lismo executivo que corresponderia a “um modelo de exercício de dominação pós-democrática” (p. 2). Habermas entende que, escondendo-se atrás de um discurso supostamente não político, tal projeto prevê que as principais decisões políticas fiquem na mão de burocratas ou especialistas, fazendo com que a formação política da vontade se torne supérflua. Se, para o autor, esse projeto perdeu parte de sua força, isso não o impediu de fazer com que os cidadãos europeus tenham ainda hoje a sensação de impotência frente a um sistema político e econômico que parece ter descolado da democracia.
Em Sobre a Constituição da Europa, no entanto, Habermas não aposta na tendência de consolidação da UE como um sistema pós -democrático de dominação política, pelo contrário. De acordo com ele, “o sonho de ter ‘mecanismos’ que tornariam supérflua a formação da vontade política comum e que manteriam a democracia sob controle se estilhaçou” (p. 1). O Tratado de Lisboa, a pressão pela efetivação dos direitos humanos e pela institucionalização de uma democracia cosmopolita e o projeto de uma constituição europeia (ainda que congelado), fazem com que Habermas defenda que a UE não se encontra hoje “tão longe da configuração de uma democracia trans nacional” (p. 3). Para ele, portanto, o potencial democrático da UE não apenas não está bloqueado, como também se opõe às tendências funcionais que o ameaçam.
Os conflitos entre sistema e mundo da vida, bem como a disputa entre eles em torno do direito permitem então a Habermas desenvolver um interessante diagnóstico da situação atual da Europa de acordo com o qual, de um lado, temos a ameaça de que os sistemas econômico e político se descolem das instituições democráticas e, de outro, a tendência de institucionalização de uma democracia cosmopolita, que pode não só regular os sistemas, como também garantir a efetivação dos direitos humanos para além das fronteiras nacionais.
3 Partindo do caso europeu, Habermas diagnostica então as tendências emancipatórias que apontam na direção da consolidação de instituições democráticas transnacionais, bem como seus obstáculos, ligados à possibilidade de que essas instituições se tornem formas pós-democráticas de dominação política. A importância dada por Habermas aqui ao caso europeu não é, contudo, fortuita. Se a UE é central na análise do autor é porque ela permite a explicitação dos conflitos próprios ao atual contexto de globalização e, além disso, porque ela “pode ser concebida como um passo decisivo no caminho para uma sociedade mundial constituída politicamente” (p. 40).
Se o agravamento da crise na zona do euro em dezembro de 2011 faz com que o otimismo de Habermas nesse livro pareça hoje exagerado, seu claro posicionamento em defesa de uma democracia cosmopolita mundial permanece, contudo, atual. Dentre outros motivos, porque, com ele, Habermas parece resolver uma importante ambiguidade em seu trabalho, problematizada por diversos críticos até então, 4 para os quais, apesar de destacar a incapacidade dos Estados nacionais em regular a economia globalizada e de denunciar o déficit democrático das instituições transnacionais existentes, Habermas permaneceria tomando o Estado-nação como o único âmbito adequa do para o exercício da democracia.5 Ao defender agora a importância de uma constituição europeia e afirmar que a legitimidade de instituições transnacionais reside em sua capacidade de garantir a participação e a influência dos indivíduos – tanto enquanto cidadãos de seus países como enquanto cidadãos europeus (ou ainda como cidadãos do mundo) –, Habermas dissolve essa ambiguidade e apresenta, de modo mais claro, sua posição em prol da institucionalização de uma democracia mundial.
Dessa forma, mesmo que retome, em Sobre a Constituição da Europa, questões já abordadas em trabalhos anteriores – como o processo de unificação da Europa, a possibilidade e os obstáculos existentes à consolidação da democracia e de instituições jurídicas transnacionais e, em particular, ao estatuto e gênese dos direitos humanos –, Habermas o faz explicitando e até alterando algumas das posições que havia defendido. E, isso, não só no que diz respeito ao seu otimismo frente aos rumos da UE ou mesmo à possibilidade de uma democracia cosmopolita. Como ressalta Alessandro Pinzani em sua “Apresentação à edição brasileira”, Habermas parece também mudar sua posição no que se refere à forma de justificar os direito humanos. Para Pinzani, em Sobre a Constituição da Europa, “haveria uma aproximação entre direito e moral bem mais forte do que na obra anterior de Habermas” (p. XV), na qual este recusa o estatuto moral normalmente atribuído aos direitos humanos e defende a separação entre moral e direito.6
Defendida por Habermas pelo menos a partir de Direito e Democracia, a separação entre direito e moral é central em sua compreensão do direito moderno. De acordo com ele, em sociedades modernas, já diferenciadas, os direitos fundamentais não devem ser vistos como o resultado da positivação de algo previamente dado e anterior à deliberação, tais como direitos naturais de caráter moral. Embora sejam condições necessárias para o exercício da autonomia pública, os direitos fundamentais que os cidadãos se atribuem mutuamente seriam o resultado da prática política de autodeterminação.7 Para Pinzani, se essa é de fato a tese defendida por Habermas até então, ao vincular a gênese dos direitos humanos à noção moral de dignidade humana, ele teria mudado de posição e reestabelecido uma relação de subordinação dos direitos humanos à moral.
Antecipando essa possível leitura, Habermas chega a afirmar, em nota, que a nova justificação dada ali aos direitos humanos não tem como consequência uma modificação de sua posição no que se refere “à introdução originária do sistema de direitos” (nota 19, p. 19). Segundo ele, o vínculo estabelecido entre a violação da dignidade humana e a gênese dos direitos fundamentais não significa que estes sejam morais. Os direitos fundamentais, afirma ele, permanecem distintos dos direitos morais pois, ao contrário destes, estão voltados a uma institucionalização. Apesar dessa ressalva, a carga moral atribuída por Habermas à dignidade humana e a importância assumida por ela em sua reconstrução da gênese dos direitos humanos têm suscita do diversas discussões.
Para autores kantianos, como Rainer Forst, 8 que defendem que o direito não pode ser compreendido sem ser remetido à moral, a suposta aproximação empreendida por Habermas pode ser vista como um ganho frente a seus escritos anteriores. Para autores 9 que, ao contrário, defendem que a forma do direito moderno já implica direitos de liberdade que não precisariam, portanto, de uma fundamentação moral, o novo texto de Habermas pode ser interpretado como um retrocesso em direção à pré-modernidade. Embora divirjam frontalmente em suas posições, poucos parecem ser os leitores de Habermas que poderão se manter indiferentes perante às várias passagens do livro em que ele reforça a origem moral dos direitos humanos, nas quais afirma, por exemplo, que:
em contraposição à suposição de que foi atribuída retrospectivamente uma carga moral ao conceito de direitos humanos por meio do conceito de dignidade humana, pretendo defender a tese de que, desde o início, mesmo que ainda primeiro de modo implícito, havia um vínculo conceitual entre ambos os conceitos. (pp. 10-1)
Ou ainda, logo em seguida, que:
a dignidade humana… é a ‘fonte’ moral da qual os direitos fundamentais extraem seu conteúdo. (pp. 10-1)
O fortalecimento do vínculo entre moral e direitos fundamentais, como atestam essas passagens, parece inegável. De qualquer forma, a divergência na interpretação de seus interlocutores e a própria ressalva de Habermas explicitam que cabe ainda discutir quais são exatamente as consequências desse vínculo e se ele, de fato, implica uma relação de subordinação ou de identidade entre direitos morais e direitos humanos. As primeiras reações ao livro já indicam assim que, embora não seja problematizado pelo próprio autor, o estatuto da relação entre moral e direito nos diferentes escritos de Habermas permanece em questão e, certamente, ainda será objeto de muitos e interessantes debates.
A importância (ou não) da moral na fundamentação habermasiana dos direitos humanos é, certamente, um dos pontos mais controversos do livro. Contudo, a ênfase dada nele à dignidade humana, cujas violações constituiriam o impulso para a efetivação dos direitos humanos em todo o mundo, aponta ainda para um segundo elemento que consideramos importante ressaltar. Afinal, ao sustentar que “o apelo aos direitos humanos alimenta-se da indignação dos humilhados pela violação de sua dignidade humana” (p. 11), Habermas se volta mais diretamente à motivação dos conflitos sociais do que em trabalhos anteriores. A ênfase no sentimento de humilhação frente à violação da dignidade humana como o motor dos conflitos sociais e impulso do processo de ampliação e garantia dos direitos humanos parece corresponder a uma tentativa de Habermas de lidar com um problema colocado a ele por Axel Honneth em Crítica do Poder, a saber, o déficit motivacional de seu trabalho.10
Além disso, é o vínculo entre a violação da dignidade humana e a gênese dos direitos humanos aquilo que parece permitir a Habermas afirmar, sem recair em uma postura meramente transcendente, que estes mesmos direitos são uma utopia realista. A presença do primeiro ensaio cumpriria, nesse sentido, o papel de mostrar que a defesa da ampliação e da garantia dos direitos humanos não é meramente transcendente, mas se ancora em uma tendência inscrita na dinâmica dos próprios conflitos sociais. É exatamente isso o que parece estar em causa quando Habermas afirma, ainda no prefácio, que “as experiências de dignidade humana violada promovem uma dinâmica conflituosa de indignação que dá um impulso renovado à esperança de uma institucionalização global dos direitos humanos, ainda tão improvável”(p.5). Se a suposta aproximação entre moral e direito, abordada anterior mente, parece indicar uma aproximação de Habermas a uma posição kantiana, sua ênfase na origem conflituosa dos direitos e em sua motivação moral parece aproximá-lo também de uma posição hegeliana e, em particular, das contribuições de Axel Honneth.11 Aproximações e deslocamentos que, como as outras questões apontadas aqui, fazem do novo livro de Habermas uma das mais interessantes publicações dos últimos anos.
Fruto de um confronto atento com novos acontecimentos, críticas e autores, Sobre a Constituição da Europa mostra como o trabalho Habermas, longe de ter parado no tempo, continua apresentando um complexo e crítico diagnóstico das sociedades contemporâneas. Mesmo que parte das críticas dirigidas a Habermas apontem para limites em sua teoria, a força de sua compreensão das recentes crises na Europa e em grande parte do mundo, bem como o potencial dos processos de democratização destacados por ele fazem com que o trabalho de Habermas permaneça sendo a principal referência, mesmo para aqueles que visam desenvolver teorias sociais críticas distintas da dele.
A tradução de Sobre a Constituição da Europa e a coleção da UNESP são, nesse sentido, muito bem-vindas não só para aqueles que buscam compreender o pensamento de Habermas em toda sua complexidade, mas também para aqueles que, em confronto com ele, procuram dar continuidade à crítica social em português.
Notas
1 Em Ach, Europa, publicado após a recusa da França e da Holanda de ratificarem o “Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa”, depois deste ter sido recusado pela população em plebiscitos, Habermas se posiciona mais criticamente frente à UE e seus potenciais de democratização. Cf. HABER MAS, J. Ach, Europa.Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008.
2 No contexto atual, afirma Repa sobre o diagnóstico habermasiano, “ocorre uma nova sobreposição de imperativos sistêmicos sobre o mundo da vida sem que nem ao menos os mecanismos sistêmicos tenham uma base de legitimidade no mundo da vida”. REPA, L. O direito cosmopolita entre a moral e o direito. Texto inédito.
3 Se as críticas ao dualismo habermasiano, mesmo em sua forma mitigada, fi zeram com que muitos autores recusassem como um todo o diagnóstico de patologias sociais desenvolvido por Habermas, a compreensão apurada feita por ele da situação atual e do que está em jogo na UE parece mostrar que ele talvez tenha sido descartado apressadamente. Cf. BRESSIANI, N. Redistri buição e Reconhecimento. Nancy Fraser entre Jürgen Habermas e Axel Honneth. In: Cadernos CRH, v. 24, 2011.
4 Cf. FINE, R; SMITH, W, Jürgen Habermas’s Theory of Cosmopolitanism.In: Constellations.Vol. 10, Nº 4, 2003.
5 HABERMAS, J. Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie. In: Die postnationale Konstellation. Frankurt am Main: Suhrkamp, 1998
6 Cf. HABERMAS, J. Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.Sobre isso, cf. também: MELO, R. HULSHOF, M. KEINERT, M. Diferen ciação e complementaridade entre direito e moral. In: NOBRE, M.; TERRA, R. (Orgs.).Direito e democracia. Um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros editores, 2008, pp. 73-90. MELO, R.O uso público da razão. Pluralismo e democracia em Jürgen Habermas.São Paulo: Edições Loyola, 2011, caps. 2 e 3.
7.Sobre a relação entre direitos fundamentais e direitos políticos ou autonomia privada e autonomia pública em Habermas, cf. SILVA, F. G.Liberdades em disputa: a reconstrução da autonomia privada na teoria crítica de Jürgen Habermas. Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Filosofia da UNICAMP, 2010
8 Cf. FORST, R.Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
9 MAUS, I. Verfassung oder Vertrag. Zur Verrechtlichung globaler Politik. In: NIESEN, P.; HERBORTH, B. (Orgs.).Anarchie der kommunikativen Freiheit.Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007, p. 350 e ss
10 HONNETH, A. Kritik der Macht. Reflexionsstufe einer kritischen Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: Surkamp, 1989.Cf. também: NOBRE, M. Luta por Re conhecimento: Axel Honneth e a Teoria Crítica. In: HONNETH, A.Luta por Reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.
11 Ao afirmar que as lutas por direitos possuem uma motivação moral, a saber, o sentimento de humilhação resultante da violação da dignidade humana, Habermas se aproxima da posição defendida por Honneth em Luta por Reconhecimento. Apesar disso, ele não parece aqui assumir a distinção entre três esferas de reconhecimento, restringindo-se talvez, como Rainer Forst, a ressaltar a importância da segunda delas, regida pelo princípio do respeito igual, que Honneth atrela ao direito.
Referências
BRESSIANI, N. Redistribuição e Reconhecimento – Nancy Fraser entre Jürgen Habermas e Axel Honneth. In: Cadernos CRH, v. 24, p. 331352, 2011.
FINE, R.; SMITH, W. Jürgen Habermas’s Theory of Cosmopolitanism. In: Constellations.Vol. 10, Nº 4, 2003.
FORST, R. Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
HABERMAS, J.Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
______. Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie. In: Die postnationale Konstellation. Frankurt am Main: Suhrkamp, 1998.
______. Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008.
______.Sobre a Constituição da Europa.São Paulo: UNESP, 2012.
HONNETH, A. Kritik der Macht. Reflexionsstufe einer kritischen Gesellschaftstheorie.Frankfurt a/Main: Surkamp, 1989.
______.Luta por Reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2004.
MAUS, I. Verfassung oder Vertrag. Zur Verrechtlichung globaler Politik. In: NIESEN, P.; HERBORTH, B. (Orgs.).Anarchie der kommunikativen Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007, p. 350 e ss.
MELO, R. HULSHOF, M. KEINERT, M. Diferenciação e complemen taridade entre direito e moral. In: NOBRE, M.; TERRA, R. (Org) Direito e democracia. Um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros editores, 2008, pp. 73-90.
MELO, R. O uso público da razão. Pluralismo e democracia em Jürgen Habermas.São Paulo: Edições Loyola, 2011.
NOBRE, M. Luta por Reconhecimento: Axel Honneth e a Teoria Crítica. In: HONNETH, A. Luta por Reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.
PINZANI, A. Apresentação à edição brasileira. In: HABERMAS. J.Sobre a Constituição da Europa. São Paulo: UNESP, 2012, pp. XI-XXI.
REPA, L. O direito cosmopolita entre a moral e o direito. Texto inédito.
SILVA, F. G. Liberdades em disputa: a reconstrução da autonomia privada na teoria crítica de Jürgen Habermas.Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Filosofia da UNICAMP, 2010.
Nathalie Bressiani – Doutoranda em Filosofia pela USP.
Oeuvres Complètes – TRACY (C-FA)
TRACY, Destutt de. Oeuvres Complètes. Ed. Claude Jolly. Volume I Premiers écrits. Sur l’éducation publique. Paris: Vrin, 2011. Volume III Élements d’idéologie, 1L’idéologie proprement dite. Paris: Vrin, 2012. Resenha de: PIMENTA, Pedro Paulo. Os antípodas franceses de Kant. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.19 Jan./Jun., 2012.
A publicação na França pela editora Vrin dos primeiros volumes de uma edição das obras completas de Destutt de Tracy 1, promete preencher uma lacuna importante nos estudos de história da filosofia moderna, ao tornar acessível a obra do principal representante da corrente filosófica autodenominada “Ideologia”, que vicejou durante os turbulentos anos da Revolução Francesa e prosperou sob a égide das instituições republicanas – primeiro a Escola Normal, posterior mente o Instituto – que substituíram as antigas academias e escolas reais. Entre 1794 e 1815 a Ideologia (“ciência das ideias”, ou da “análise das ideias”) dominou inconteste a paisagem intelectual francesa, que logo a seguir seria conquistada por outra espécie de ideologia – a dos alemães. A hostilidade do Idealismo (e do Materialismo) frente à escola francesa pode ser medida pela condenação da Ideologia por Engels: a exemplo do Iluminismo, a nova filosofia burguesa apenas reifica, ao querer criticá-la, a realidade 2. Em que medida uma afirmação como essa se aplicaria, por exemplo, a uma obra como o monumental Tratado de economia política (1804), de Jean-Baptiste Say, ligado à Ideologia, responsável pela libertação do pensamento econômico francês em relação aos dogmas dos fisiocratas, não nos cabe aqui examinar 3. Certo é que o ataque de Engels passa ao largo do mais importante, pois o grande legado na Ideologia não é teórico, mas institucional. Graças ao empenho dos idéologistes (que Napoleão jocosamente apelidará de idéologues ), o projeto de uma educação nacional pública e universal, formulado pelos deputados da Convenção (divisado por Condorcet), começa a se tornar realidade na época do Diretório (sob os auspícios de Garat e Lakanal); e sem o empenho dos Ideólogos não teríamos visto a “reorganização institucional da medicina” 4 que marca a França do período revolucionário e define as feições modernas da clínica.
O projeto de uma ciência analítica das ideias não chega a ser original. Como reconhecem os seus principais adeptos (Tracy, Cabanis), a nova filosofia é inaugurada por Condillac, que, a partir de 1746, com a publicação do Ensaio sobre as origens do conhecimento humano, se projetara, nas palavras de Voltaire, como “o grande metafísico” da França do século XVIII. A essa obra inicial, Condillac acrescentaria, notadamente, o Tratado das sensações (1754), a Lógica (1780) e, por fim, A língua dos cálculos, que, publicada postumamente em 1798, representa a suma dos esforços do filósofo para forjar uma liga entre a ciência dos signos (gramática geral) e a ciência das ideias (lógica geral). A enorme influência de Condillac se faz sentir já nos artigos sobre linguagem e gramática que Dumarsais, e, posteriormente, Beauzée, redigem para a Encyclopédie, e torna-se decisiva quando, em 1794, após o golpe do Termidor, a Convenção institui em Paris a École Normale, academia de ensino destinada à formação de professores para os liceus nas províncias. Os pilares da educação pública são o ensino da língua francesa (em detrimento dos dialetos locais) e o da matemática (geometria, álgebra). Programa perfeitamente conveniente à filosofia de Condillac, que concebe a análise e a invenção como os métodos (complementares) de todo pensamento como forma, que se constitui, articula-se e se expande por meio do recurso a signos – sejam eles verbais, sejam algébricos. Na base dessa ciência dos signos encontra-se uma crítica da metafísica e do conhecimento em geral, que, como mostra Condillac ( Tratado dos sistemas, 1742), muitas vezes não passa de uma deturpação metódica, mas falsa, dessa espécie de instinto natural dos homens que os leva, no conhecimento das coisas, do mais simples ao mais complexo. Educar nada mais é do que reconstituir os passos que os homens dão quando seguem a natureza – o que está ao alcance de todos, desde que devidamente orientados pelo filósofo (que conhece os caminhos que conduzem, no interior da cultura, ao encontro da natureza).
No curtíssimo período de sua existência (janeiro a maio de 1795), a Escola Normal, situada em Paris, mais exatamente no Jardin des plantes (no prédio que atualmente abriga a Galeria da Evolução), ofereceu cursos de matemática, física, química, história natural, geografia, história, moral, economia política, literatura, arte de falar e análise do entendimento, alguns deles ministrados por grandes nomes, como Laplace, Monge ou Daubenton. Transcritos por inspetores nomeados pela Convenção, tais cursos foram parcialmente publicados no século XIX, e, a partir desse material, encontram-se atualmente disponíveis em cuidadosas edições críticas 5. A partir deles, podemos ter uma ideia da efervescência intelectual da França revolucionária. Embora a presença da filosofia de Condillac se encontre inequivocamente em outros cursos, em especial nos de geometria (Laplace), história (Volney) e economia política (Vandermonde), é nas classes de arte da fala (Sicard) e de análise do entendimento (Garat) que o seu legado é mais presente.
O paralelismo entre arte da fala e gramática, de um lado, análise do entendimento e lógica, de outro, simplifica um arranjo na verdade mais interessante. Como explica Garat em sua segunda lição, “à teoria das ideias está unida, de maneira imediata e íntima, a teoria da linguagem ou das línguas”, que examina “os meios de exprimir as nossas ideias”, ou seja, que determina o modo como o pensamento se articula, adquire precisão e acabamento 6. Já Sicard, desde a primeira lição de seu curso, adverte que
Falar é uma arte, mas nem todos os povos, mesmo os civilizados, falam com a mesma pureza, com a mesma exatidão, com a mesma riqueza de expressões e de formas de frases. Os que mais avançaram nas artes são também os mais ricos em nomenclatura; os que desenvolveram mais o entendimento e tiveram oportunidade de receber mais impressões, e têm, por conseguinte, mais ideias, têm também mais signos para exprimi-las e mais variedade na maneira de expô-las e de comunicá-las 7.
O repertório de ideias enriquece a língua, que, por meio de analogias, forma termos e aumenta o vocabulário e as maneiras de expressão, tornando-se apta para abarcar cada vez mais fenômenos. Sem os signos, como advertira Condillac, não há progresso do conhecimento.
O curso de Sicard tem, porém, uma peculiaridade, que o destaca daquele de Garat, que é bastante convencional quanto à abordagem da questão. Para ensinar a arte da fala, ele ministra aulas dedicadas à formação de uma língua dos surdos-mudos. Maneira engenhosa de ensinar uma ciência que, por definição, parece estar ligada ao signo verbal, emitido pela voz (assim compreendem a gramática os grandes acadêmicos dos séculos XVII e XVIII). Para Sicard, na esteira de Condillac e dos gramáticos da Encyclopédie, o essencial da arte de falar não é a voz, mas os signos e o modo como eles ordenam e exprimem o pensamento 8. Constitui-se, ao longo de suas lições (preservadas quase que integralmente), uma doutrina original, de caráter pragmático e finalidade republicana, cujo intuito é a educação dos surdos-mudos, visando a inclusão destes na esfera política ou na vida pública nacional francesa. Ao mesmo tempo, Sicard toma posição num debate que agita os estudiosos da linguagem na virada do século. Trata-se de saber se uma possível língua dos surdos-mudos seria feita a partir das línguas faladas ou se teria uma gramática própria 9. Ora, para Condillac e os seus, uma língua nada mais é que um sistema de signos; que ela seja falada ou não, é uma contingência, que não tem força suficiente para alterar o encadeamento necessário dos signos, encontre-se ele nas línguas verbais ou na língua dos cálculos.
O ambicioso projeto a que tais doutrinas estavam vinculadas foi abortado com o fechamento da Escola Normal após poucos meses de atividade. Com a criação do Instituto Nacional, que funciona entre 1796 e 1803 (quando é dissolvido pelo Consulado), a tarefa da filosofia é outra, menos pragmática, trata-se agora de produzir “trabalhos científicos e literários que tenham por objetivo a utilidade geral e a glória da república” 10. Apesar da mudança, permanece a marca da nova filosofia, que reclama para si a herança de Condillac ao mesmo tempo em que se vincula a instituições republicanas. No Instituto, encontraremos em atividade Sicard, Garat e Volney, ao lado de Destutt de Tracy e Cabanis, que se conheceram no salão de madame Helvétius (que atravessa incólume a Revolução), e aos quais caberá renovar o pensamento de Condillac e reinventar a ciência dos signos como “Ideologia propriamente dita”. A denominação – ausente em Garat ou em Sicard – representa uma virada importante, como explica Laurent Clauzade em seu estudo magistral, L’idéologie ou la révolution de l’analyse :
A palavra Ideologia, por implicar uma oposição à metafísica e postular uma identidade entre pensamento e percepção, inscreve diretamente a ciência que ela designa no paradigma inaugurado por Condillac. No entanto, contrariamente ao que acontece com Garat, esse enquadramento não representa uma restrição. Além das modificações significativas que Tracy introduzirá na concepção de análise de Condillac, a Ideologia dará a essa doutrina um sentido radicalmente diferente, ao abrir um horizonte de pesquisa que não se limita à análise racional. (…) A Ideologia pretende realizar a doutrina de Condillac. Isso significa que ela não é mais, como em Garat, uma ciência cujo único fim é estabelecer um método universal (a análise), mas deve também se inscrever, segundo as palavras de Cabanis, numa “ciência do homem”, numa “antropologia” 11. O que se entende em Paris, no ano IV da República, por “antropologia” ou “ciência do homem” é algo bem diferente do que Hume chamara de “ciência da natureza humana” e não tem nada a ver com o que Kant chama de “antropologia”. Para Cabanis como para Tracy, o homem é, antes de tudo, um ser natural, que age por instinto antes de ter o conhecimento de regras. Condillac, Garat e Sicard haviam dito o mesmo, sem, contudo, dar o passo seguinte. Mantendo-se prudentemente dentro das fronteiras da filosofia como discurso que versa a condição de possibilidade do conhecimento, Condillac jamais ousara afirmar a pertença integral do homem ao mundo natural a ponto de considerar, como faz Cabanis, que o estudo do homem é um ramo da filosofia experimental (ligado ao tronco da fisiologia), ou, como Tracy, de concluir que a Ideologia é “uma parte da zoologia”. Essa última afirmação, feita no “Extrato ponderado dos Elementos de ideologia ” (1804), prenuncia a Philosophie zoologique de Lamarck (1809)
O engate da Ideologia na zoologia nos põe bem distantes da semiótica projetada por Condillac a partir das indicações de Locke na conclusão do Ensaio sobre o entendimento humano. Com efeito, em Tracy a ciência dos signos é subordinada a uma teoria da sensação, em que o pensamento, que Condillac deduzira da sensação mesma, desponta agora como potencialidade independente da afecção sensível, e que se exerce, portanto, em algum grau, anteriormente à aquisição de signos (dado que esta resulta da interação entre imaginação e sensação) 12. Uma tese similar a essa fora sugerida por Condillac no Tratado das sensações, mas não fora desenvolvida nas obras que se seguiram. Na versão proposta por Tracy, encontra-se o germe de certo dualismo, que o filósofo se empenhará em resolver nos Elementos e que está na origem do espiritualismo de antigos adeptos da Ideologia, em especial Degérando e Maine de Biran. Ora, como mostra Élisabeth Schwarz em estudo definitivo a respeito 13, esse aparente retrocesso no campo da teoria dos signos consagra, ao mesmo tempo, o fim da gramática geral, de que Condillac fora o derradeiro representante, e anuncia uma ruptura com o saber clássico, ou mais precisamente com uma de suas vertentes, o empirismo, que, desde Locke, andava de mãos dadas com uma ciência dos signos. A elaborada reflexão de Tracy, nos Elementos de ideologia, sobre a natureza dos signos e da linguagem, está ancorada não numa teoria da sensação, mas sim no postulado – esboçado por Condillac – de que toda atividade humana se explica, em última instância, pelo “feitio” ( organisation ) natural do homem. A afecção de objetos exteriores não incita a utilização de signos; esta decorre de capacidades fisiológicas, de uma configuração natural que o homem amplia e desenvolve, num movimento do qual nasce o mundo da cultura.
A tese de que haveria uma ruptura entre Ideologia e saber clássico não é, porém, consensual entre os estudiosos. Foucault, numa das poucas passagens de As palavras e as coisas que está ao abrigo da pecha de imprecisão histórica, traçou um vivo painel do contraste entre “a última das filosofias clássicas” e a filosofia que inaugura a modernidade:
A coexistência, no final do século XVIII, da Ideologia e da Filosofia Crítica – de Destutt de Tracy e de Kant – partilha, sob a forma de dois pensamentos exteriores um ao outro mas simultâneos, o que as reflexões científicas mantêm numa unidade destinada a dissociar-se dentro em breve. Em Tracy ou Degérando, a Ideologia se apresenta ao mesmo tempo como a única forma racional e científica que a filosofia possa revestir e como o único fundamento filosófico que possa ser proposto às ciências em geral e a cada domínio singular do conhecimento. Ciência das ideias, a Ideologia deve ser um conhecimento do mesmo tipo que aqueles que se dão por objeto os seres da natureza, ou as palavras da linguagem, ou as leis da sociedade. Mas, na medida mesma em que tem por objeto as ideias, a maneira de exprimi-las em palavras e de ligá-las em raciocínios, ela vale como gramática e lógica de toda ciência possível. A Ideologia não interroga o fundamento, os limites ou a raiz da representação; percorre o domínio das representações em geral; fixa as sucessões necessárias que aí aparecem; define os liames que aí se travam; manifesta as leis de composição e decomposição que aí podem reinar. Aloja todo o saber no espaço das representações e, percorrendo esse espaço, formula o saber das leis que o organizam. É, em certo sentido, o saber de todos os saberes. (…) A análise da representação, no momento em que atinge sua maior extensão, toca, em sua orla mais exterior, um domínio que seria mais ou menos – ou antes, que será, pois não existe ainda – o de uma ciência natural do homem. Por diferentes que sejam pela forma, pelo estilo e pelo intento, a questão kantiana e a dos ideólogos têm o mesmo ponto de aplicação: a relação das representações entre si. Mas essa relação – o que a funda e a justifica –, Kant não a requer ao nível da representação, interroga-a na direção do que a torna possível em geral.
Ao invés de fundar o liame entre as representações por uma escavação interna que o esvaziasse pouco a pouco até a pura impressão, estabelece-o sobre as condições que definem a sua forma universalmente válida. Dirigindo assim sua questão, Kant contorna a representação e o que nela é dado, para endereçar-se àquilo mesmo a partir do qual toda representação, seja qual for, pode ser dada 14.
Concorde-se ou não com a tese geral defendida por Foucault nessa passagem, permanece válido o contraste proposto entre Ideologia e Crítica. Além de instrutivo, o quadro desenhado fornece o programa de uma investigação, de cunho histórico-filosófico, sobre eventuais documentos que pudessem atestar, de fato, a rivalidade entre os dois projetos filosóficos que rivalizam no ocaso do Século das Luzes. Pois, em certa medida, é da herança das Luzes que se trata em ambos. Infelizmente, Kant nunca disse palavra acerca dos idéologues, nem mesmo de Condillac (muito lido na Alemanha de seu tempo).
Em compensação, a crescente reputação do filósofo alemão não tardou a chegar a Paris, onde a Crítica foi examinada justamente por aqueles que mais razão tinham de recear a sua influência.
O fato de a Alemanha ser um país periférico no mapa das Luzes talvez explique porque os franceses não tenham se dado ao trabalho de ler Kant no original. Com pouquíssimas exceções, contentaram-se com exposições de segunda mão. Será preciso esperar por Madame de Stäel para advertir os franceses de que Kant, por ser um grande estilista da língua alemã, só pode ser compreendido adequadamente pelos conhecedores desse idioma 15. Para os idéologues, porém, o ato da leitura não deixa de ser um embaraço. Como diz Tracy, “os signos, por mais vantajosos que sejam, têm inconvenientes”, o principal deles sendo a opacidade desses meios de representação, que não têm nada em comum com as ideias 16. Mais vale, portanto, na leitura de uma obra de filosofia, guiar-se por certo tino conceitual do que se deter na forma da exposição. Um abregée competente da Crítica da razão pura pode valer mais do que a obra mesma, principalmente se o objetivo de quem o lê for não refutar uma doutrina e sim marcar posição em relação a ela. Por isso, Tracy, autor de um “Extrait raisonée” dos Elementos de ideologia (a título de “tableau analytique” da obra) não hesita em recorrer, em sua comunicação “De la métaphysique de Kant” (1802), ao livro de J. Kinker, “Essai d’une exposition succinte de la Critique de la raison pure ” (Amsterdam, 1801) 17, em busca de um tableau analytique que Kant não ofereceu (os Prolegômenos são outro livro, não um apanhado da Crítica da razão pura ).
Tracy, endereçando-se aos “cidadãos da república” (estamos no sétimo floreal do ano 10 da Revolução), começa elogiando as virtudes de Kant, que além de “célebre por um grande número de obras, justamente estimadas, de muitos gêneros”, contribuiu “para o progresso das luzes e para a propagação de ideias saudáveis e liberais”. Os alemães, contudo, parecem não ter compreendido esse espírito, pois “professam a doutrina de Kant como se estivessem professando a doutrina teoló gica de Jesus, de Maomé ou de Brama”. Confundem assim a qualidade do pensamento com a “autoridade do homem”, e na virada do século estão na mesma situação que os franceses de outrora, embasbacados com o pensamento de Descartes, cegos para a ciência de Newton 18.
Por essa mesma razão, os alemães condenam em bloco os franceses como “discípulos de Condillac”, ignorando, todavia, que “não são as decisões de Condillac que nós respeitamos, é o seu método que mais nos importa (…), por mostrar, melhor que qualquer outro, no que consistem a clareza das ideias e a justeza do raciocínio”. Essas considerações justificam que se submeta, como fará Tracy ao longo de sua conferência, “o sistema alemão” ao crivo do “método francês” 19.
O exame da filosofia de Kant empreendido por Tracy é marcado por numerosas imprecisões e erros, que poderiam ter sido facilmente evitados com a leitura, mesmo que superficial, da Crítica da razão pura (que Tracy alega ter consultado, na versão em latim). O mais flagrante é a declaração de que Kant nada diz acerca da faculdade que Tracy considera a mais importante na formação dos conhecimentos: o juízo 20.
Mesmo supondo que Tracy tivesse lido a “Analítica dos princípios”, não encontraria ali motivos para rever substancialmente essa posição, dado que aquilo que Kant chama de juízo não é bem “a faculdade elementar e radical (…) de sentir a conveniência ou inconveniência ou, numa palavra, as relações entre uma representação e outra” 21. Em vista de um “erro” tão acertado como esse, não surpreende encontrar, no cerne da conferência de Tracy, uma afirmação que mostra, de maneira incontestável, que o filósofo francês estava perfeitamente ciente do que opõe a Ideologia à Crítica. Foucault está certo: a rivalidade entre esses dois projetos filosóficos é explicada pela aspiração, compartilhada por ambos, de se elevar à condição de árbitro supremo nas decisões referentes à natureza, à origem e aos limites do conhecimento humano. Tracy reconhece que Kant faz contribuições valiosas para a filosofia. Não é o conteúdo da Crítica que o incomoda; é a pretensão de examinar o conhecimento a partir de uma instância exterior à experiência.
O que se entende por esse conhecimento puro que possuímos em nós mesmos antes que a experiência tenha ativado a nossa faculdade de conhecer ? Seria o conhecimento dessa faculdade em si mesma, tomada no exame de seus próprios atos? Mas então seria o resultado da ação de nossas faculdades intelectuais, empregadas na descoberta de seus procedimentos, de suas leis, de seus limites, por meio do estudo de seus efeitos. Esse conhecimento pretensamente puro constituiria, e na verdade constitui, a ciência ideológica. Pode-se, se assim se preferir, classificar sob o nome de conhecimentos de experiência todas as outras partes da física, vale dizer, o conhecimento de todos os seres que afetam a nossa inteligência. Mas o primeiro desses conhecimentos é um conhecimento experimental, uma ciência de fatos, assim como o segundo: e, portanto, a crítica (ou exame) da razão pura é um tratado de ideologia, e isso, efetivamente, é o que ela deve ser 22.
É óbvio que Tracy reduz assim a Crítica da razão pura a um livro de epistemologia, ou melhor, a uma lógica dos princípios do conhecimento, ignorando por completo a importância da Dialética transcendental na arquitetura da obra. Sem mencionar a banalização do significado do termo crítica, que Tracy emprega em acepção cartesiana de exame, que não é senão uma das significações inscritas no uso de Kant, muito mais sofisticado. Não se deve esquecer, porém, que Tracy, além de escrever no calor da hora, utiliza uma fonte de segunda mão – atenuantes que não podem ser alegados em defesa dos inúmeros comentadores de Kant que, muitos anos depois, e até os dias de hoje, cometeram equívocos muito similares, sem, no entanto, apresentar, como contraparte, um sistema filosófico coerente e original. Em todo caso, a redução da Crítica da razão pura a um “tratado de ideologia” é muito astuciosa: esvazia a obra de suas pretensões hegemônicas, ao desautorizar a instauração da instância transcendental.
A perspicácia de Tracy se mostra ainda na compreensão – que escapa a muitos comentadores de Kant – da importância da “Estética transcendental” para a constituição de uma “teoria da experiência” (e, consequentemente, para uma crítica da metafísica clássica). É aqui, no plano de uma investigação sobre a natureza da afecção sensível, que deve se decidir o embate entre Ideologia e Crítica. Não por acaso, nesse mesmo ano de 1802, Degérando, ainda perfilado à Ideologia, dedica um capítulo inteiro de seu tratado De la génération des connaissances humaines a uma crítica da doutrina exposta por Kant na “Estética transcendental”, intitulado “Exame do sistema de Kant sobre a geração das ideias” (e não da intuição sensível, como prefere Kant) 23. Para Tracy e Degérando, o equívoco de Kant e dos seus discípulos é ignorar “a maneira como formamos as ideias de extensão e de duração, e por conseguinte, também aquelas, mais compostas, de espaço e de tempo, que se formam a partir delas”. Bastaria, para “desfazer esse embaraço, decompor essas ideias gerais, examinar as ideias elementares de que elas são extraídas, e chegar aos primeiros fatos, às percepções simples, às sensações de que elas emanam”, ou então, na falta disso, “suspender o juízo e renunciar à explicação de algo que não se pode conhecer claramente” 24. Para Tracy, termos como “forma”, “puro” e “transcendental” não significam nada, são “abstrações”, ou puro jargão, que os alemães utilizam movidos por um preconceito contra “o método simples” da análise. A acusação não é nova. Fora feita por Condillac, em 1746, contra Wolff. Embora compartilhe com este a concepção de que os signos são essenciais ao pensamento, Condillac o censura pelo método sintético com que demonstrar essa doutrina, que exigiria, ao contrário, para ser confirmada, uma paciente gênese das faculdades do pensamento a partir da sensação 25. Vem de longe, portanto, a incompatibilidade entre os dois grandes projetos filosóficos que aspiram à hegemonia no ocaso do Século das Luzes.
No mesmo ano em que Tracy pronuncia a sua conferência e Degérando publica o seu tratado, Charles de Villiers se apresenta como adepto da filosofia kantiana, em La philosophie de Kant. Resenhando esse compêndio poucos meses após a sua aparição, Friedrich Schlegel dirá – não sem alguma ironia – que A oposição [entre Crítica e Ideologia] não existe (…). É óbvio que na Ideologia francesa dificilmente se encontra algo que o idealismo não possa aceitar, especialmente quando é tratado com a precisão e o espírito verdadeiramente científico que se observam no Projeto de Elementos de ideologia, de Destutt de Tracy (…) A Ideologia seria, na verdade, uma excelente introdução aos princípios da filosofia transcendental, tarefa que os autores alemães negligenciaram 26.
A ideia um pouco inusitada de que um sistema de filosofia pudesse ser introdução a outro vai muito além do ecletismo (a Ideologia prepararia o leitor para a Crítica). Schlegel se refere, entretanto, ao projeto de Tracy, não ao livro mesmo, Elementos de ideologia, obra volumosa que, na concepção do autor, teria nove ou dez partes (cinco foram escritas, e publicadas entre 1801 e 1815).
No judicioso plano das obras completas de Tracy, organizadas e editadas por Claude Jolly, os Elementos ocupam os volumes 03 (“A ideologia propriamente dita”), 04 (“Gramática”), 05 (“Lógica”) e 06 (“Economia”, “Moral”). O volume 01 contém os primeiros escritos (incluindo uma resposta a Burke) e o relatório sobre a educação e a instrução pública, o volume 02 reunirá os ensaios (dentre eles o discurso sobre a metafísica de Kant), o volume 07 trará o comentário sobre o Espírito das leis de Montesquieu, e o volume 08 será dedicado à correspondência. Como não há, no primeiro volume, uma exposição do plano geral da edição, ficamos sem saber se terão ou não lugar, nessa edição que se autodenomina “completa”, importantes documen
Notas
1.DESTUTT de TRACY.Oeuvres complètes. Ed. Claude Jolly. Volume I: Premiers écrits; Sur l’éducation publique. Paris: Vrin, 2011; Volume III: Élements d’idéologie,.L’idéologie proprement dite. Paris: Vrin, 2012.
2.Ver EAGLETON, T. Ideologia. Trad. Luis Carlos Borges e Silvana Vieira. São Paulo: Boitempo/Unesp, 1997, pp. 66 – 69. Desnecessário acrescentar que Eagleton toma o partido de Engels
3.O leitor pode decidir por si mesmo, consultando a impecável tradução do tratado realizada por Balthazar Barbosa Filho em SAY, J.-B.Tratado de economia política, São Paulo: Abril Cultural, 1983.
4.As palavras são de FOUCAULT, M. Naissance de la clinique, cap. 04. Paris: PUF, 1963
5.Publicadas a partir da década de 1990, em quatro grossos volumes, pelas edições Rue d’Ulm, ligadas à atual École Normale Supérieure.
6.GARAT, D. J. Leçons de l’analyse de l’entendement, 2ª lição, ed. Gérard Gengembre: L’école normale de l’an III. Leçons d’analyse de l’entendement, art de la parole, littérature, morale. Paris: Éditions rue d’Ulm, 1999, p. 86
7.SICARD, R.-A. C. “Leçons d’art de la parole”, 1ª. lição. In: DHOMBRES, J.et DIDIER, B. Leçons d’art de la parole, 1ª lição, ed. Élisabeth Schwarz. L’école normale de l’an III. Leçons d’analyse de l’entendement, art de la parole, littérature, morale.Paris: Éditions rue d’Ulm, 1999, p. 235.
8.Ver a respeito AUROUX, S.La sémiotique des encyclopédistes. Paris: Payot, 1979.
- Para os desdobramentos da discussão na Alemanha, ver o estudo de FORMIGARI, L. La sémiotique empiriste face au kantisme. Liège: Mardaga, 1994
- Ver JOLLY, C. Introdução a Destutt de Tracy, “Élements d’idéologie”. In: Oeuvres complètes III, p. 09
- CLAUZADE, L. L’idéologie ou la révolution de l’analyse. Paris: Gallimard, 1998, pp. 28 – 29.
- Ver CLAUZADE, L. L’idéologie ou la révolution de l’analyse, pp. 143 ss
13 SCHWARZ, E. Les Idéologues et la fin de la grammaire générale. Lille: Service de réproduction de thèses, 1978
14.FOUCAULT, M. As palavras e as coisas, “Os limites da representação”. Trad.
Salma Tanus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1990, pp. 256 – 57.
15.STÄEL, M. de. De l’allemagne, cap. XIX: “Kant”. Paris: Gallimard Poche, 1990.
16.DESTUTT de TRACY, “Elementos de ideologia”, I. In: Oeuvres completes, III, p. 260
17.Kinker é um dentre os muitos estudiosos da filosofia de Kant na Holanda à época; ver a respeito Le ROY, A.Jean Kinker. Sa vie et ses travaux. Paris: 1867.
- DESTUTT de TRACY. Mémoire sur la faculte de penser/De la métaphysique de Kant, ed. Anne e Henry Deneys. Paris: Fayard, 1978, pp. 244-45; 247-48.
19.Idem, pp. 246-47.
20.Idem, pp. 257-58.
21.Idem, p. 257.
22.Idem, p. 263.
23.Ver a respeito AZOUVI, F. e BOUREL, D. De Königsberg a Paris. La réception de Kant en France. Paris: Vrin, 1991.
24.DESTUTT de TRACY. Mémoire sur la faculté de penser/De la métaphysique de Kant, pp. 270 – 71.
25.CONDILLAC, E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, I, 04, 02, parágrafo 27. Paris: Galilée, 1973.
26.Citado por AARSLEFF, H.From Locke to Saussure. Essays on the study of language and intellectual history. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971, p.351
Pedro Paulo Pimenta – Professor de Filosofia Moderna na USP.
Max Horkheimer and the Foudations of the Frankfurt School – ABROMEIT (C-FA)
ABROMEIT, John. Max Horkheimer and the Foudations of the Frankfurt School. New York: Cambridge University Press, 2011. Resenha de: KLEIN, Stefan. Sobre as origens da teoria crítica. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.18, Jun./Dez., 2011.
Mantendo-se relativamente à margem de parte significativa do atual debate nas ciências sociais, a teoria crítica da sociedade encontra ainda pontos de retomada, marcados, de modo geral, pela aproximação sóbria e crítica das formulações teóricas originais, tais como a de Max Horkheimer, sobretudo na década de 1930. De certa forma, pode-se dizer que a tendência maior é a de preconizar um distanciamento 1 face ao arcabouço teórico mobilizado por ele naquele contexto. Essa tendência, porém, coexiste com abordagens que, em direção contrária, buscam extrair dessa(s) teoria(s) alguma contribuição para sustentar um determinado conceito de crítica 2.
A obra de John Abromeit, Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School, procura lançar luz sobre o que ele denomina “teoria crítica primeva” ( early critical theory ), tal como fora esboçada por Horkhei mer na época em que dirigia o Institut für Sozialforschung ( IfS ). Ainda que também se dedique especificamente à década de 1930 3, em que foram publicados diversos artigos e ensaios de Horkheimer na revista do instituto, Abromeit destaca o período anterior como trajetória formativa importante para encaminhar sua interpretação da obra horkheimereana.
O livro, que além da introdução compreende nove capítulos, dois ex cursos e um epílogo, pode – de modo bastante livre – ser dividido em três grandes partes. Num primeiro momento, Abromeit retoma em traços gerais a biografia de Horkheimer e seus estudos nos anos 1920, em que Horkheimer realiza o doutorado e passa pelas etapas necessárias para galgar o posto de docente universitário (cap. 1-5). Em seguida, trata particularmente da direção teórica tomada por Horkheimer durante a década de 1930 (cap. 6-8). Por fim, o autor aborda a transição para os anos 40, onde também retoma aspectos considerados centrais para compreender determinadas mudanças na interpretação de Horkheimer (cap. 9, excursos 1 e 2 e epílogo).
Um dos fios condutores para a argumentação apresentada no livro é posto desde o início: a tentativa de se contrapor aos intérpretes 4 que veem a teoria crítica de Horkheimer como presa a uma filosofia da consciência. Seguindo este fio condutor, Abromeit alternará a discussão minuciosa dos textos que identifica como centrais – e que são alvo da maioria dos estudos publicados – com o sobrevoo de outros que, malgrado sua importância, formam um pano-de-fundo do desenvolvimento teórico e ficam ao largo de grande parte das investigações 5.
.Ainda na introdução, aparece uma passagem que procura realçar o caráter sui generis do título da obra e, igualmente, da teoria estudada:
De um lado, os fundamentos da teoria crítica primeva de Horkheimer eram anti-fundacionistas na medida em que eram sobretudo históricos, e não ontológicos ou metafísicos. De outro lado, para Horkheimer era essencial reconhecer que todos os conceitos teóricos desenvolvidos por ele estavam relacionados por meios mais ou menos mediados com a época histórica em que vivia – o que ele chamou de ‘época burguesa’. Talvez o caminho mais importante em que a teoria crítica diferia de suas contrapartes ‘tradicionais’ fosse sua recusa de naturalizar a moderna sociedade capitalista burguesa e sua tentativa de identificar as contradições e tendências que poderiam – ainda que de modo algum necessariamente – levar a uma época histórica pós-capitalista e pós-burguesa qualitativamente nova (p. 3) 6.
Assim, por mais que procure destacar fatores que poderiam ter levado à fundação do Instituto (que também ficou conhecido por “Escola de Frankfurt”), Abromeit reconhece o percalço de se tentar subsumi-lo a um ideário comum, que sequer existiu entre os diferentes autores que o compuseram inicialmente – como Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Friedrich Pollock 7 – e tampouco pode ser encontrado no transcurso da teoria de um mesmo autor, como analisado por Abromeit.
Ao retomar o que classifica como período de formação intelectual de Horkheimer, nos anos 1920, quando este realiza seu doutoramento e obtém o direito de lecionar (a venia legendi ), Abromeit enfatiza os elementos materialistas que percorreriam sua teoria desde então, distanciando-se da posição de que Horkheimer teria dado uma guinada rumo à influência de Marx apenas no decorrer de seu trabalho no IfS. Ao mesmo tempo, Abromeit enfatiza um aspecto marcante da produção intelectual escrita deste autor, apontando para a separação existente entre o dia-a-dia e o trabalho de cunho estritamente acadêmico.
Quando se examina seus escritos não publicados deste período – o que faremos no próximo capítulo – a importância teórica de Marx para Horkheimer torna-se bem mais clara. No entanto, como foi o caso tanto ao início quanto ao final de sua vida, Horkheimer abordou seus pronunciamentos esotéricos, publicados, de modo diferente de suas reflexões privadas, não publicadas. […] Em todo caso, Horkheimer claramente tomava suas tarefas como professor universitário por extremamente sérias, e não poderia ser acusado de apresentar ideias aos seus estudantes de maneira tendenciosa (p.127).
Os elementos materialistas logo começaram a ser conjugados com as teorizações marcadas pelo ponto de vista de Marx, o que vale em especial para o ensaio “Um novo conceito de ideologia?”, em que Horkheimer discute o modo como Karl Mannheim, renomado sociólogo e professor em Frankfurt, entende a importância da posição ou da origem de classe para o trabalho intelectual, em sua obra Ideologia e utopia. Este texto também aparece como central em virtude de constituir uma das bases que permitiram que Horkheimer acedesse a uma cátedra na Universidade de Frankfurt, marcando sua posição no contexto teórico daquele debate. Ao mesmo tempo, Horkheimer se de dicou extensamente à redação de diversos aforismas, sendo uma parte destes publicados – no livro em que adotou o pseudônimo de Heinrich Regius – sob o título de Dämmerung (Crepúsculo), e outra parte postumamente editados nas Gesammelte Schriften, publicadas em língua alemã a partir de 1985 e que chegaram ao total de 19 volumes. Nestes escritos, a forma de redação e a crítica contundente ao capitalismo marcam um distanciamento face ao estilo acadêmico dos artigos.
Encerrando o que compreendo como primeiro movimento do livro, Abromeit aprofunda, no quinto capítulo, as contribuições específicas da psicanálise para a teoria crítica de Horkheimer. Ele destaca que os estudos empíricos embasados por esses pressupostos teóricos da psicologia social freudiana também constituem uma possível contraprova ao entendimento de que haveria um déficit sociológico em seus escritos, pois apresentam e analisam vasto material com vistas a estabelecer possíveis explicações da realidade política alemã da época.
Considero que este enfoque detém importância particular, na medida em que expressa uma tendência crescente 8 de atentar às pesquisas empíricas realizadas pelo IfS, um viés que, em virtude dos debates de cunho epistemológico e teórico orientados pela filosofia, permaneceu em segundo plano entre os comentadores.
Em seguida, Abromeit procura, então, embasar a tese central de seu livro, a de que as raízes das interpretações dos anos 1930 e da passagem aos anos 1940 estão presentes nos textos anteriores de Horkheimer, algo que foi negligenciado pela grande maioria dos intérpretes, que procuram enfatizar a ruptura. Afirma assim:
Através do exame desses conceitos chave – materialismo (capítulo 6), antropologia da época burguesa (capítulo 7), lógica dialética (capítulo 8) e capitalismo de estado (capítulo 9) – o desenvolvimento geral e a transformação da teoria crítica no período entre 1931 e 1941 deveria se tornar clara. Apesar desta mudança de abordagem, as continuidades na obra de Horkheimer nos períodos antes e após 1931 são muito maiores do que aquelas entre seu trabalho antes e depois de, aproximadamente, 1940 (p. 227).
Neste ponto, vem à tona uma preocupação muito específica no contexto filosófico: quando se fala em “antropologia”, perceptível sobretudo como, por exemplo, na troca de cartas de Horkheimer com seus colegas do IfS, a referência costumeira é sua vertente filosófica representada, para citar um autor central, na antropologia de Immanuel Kant. No entanto, nos escritos horkheimereanos procura-se, antes, falar de uma antropologia de caráter histórico, fugindo a essa tradição de desenhar uma ontologia do ser humano, motivo pelo qual ele também a associa a uma determinada época, o que se torna igualmente patente no texto introdutório que escreve em 1936 “Autoridade e família”, onde apresenta os Estudos sobre autoridade e família, uma das obras de maior fôlego do IfS e fruto de longo e aprofundado trabalho empírico e interdisciplinar.
Num passo seguinte, Abromeit aponta para as preocupações de Horkheimer em produzir uma obra de grande relevância em que estivesse posta o que ele denominava de “lógica dialética”. Novamente, a correspondência fornece diversas pistas a esse respeito. Primeiramente, aquela trocada com Marcuse e, posteriormente, com Adorno, em que a referência explícita era ao “livro sobre dialética” e que, como se podia notar, foi um projeto repetidamente adiado por conta das intempéries da imigração e das dificuldades institucionais encontradas, ganhando corpo e forma apenas após sua mudança para a Califórnia, já nos anos 1940. Os preparativos para sua redação vieram com o tratamento de temas recorrentes nas críticas de Marx – como o idealismo, a metafísica e a filosofia da consciência – que foram, pouco a pouco, aliados aos estudos acerca do positivismo lógico ou das obras de Friedrich Nietzsche. Esses autores e questões teóricas reparecem, de variados modos, nos Fragmentos filosóficos, preliminarmente mimeografados em 1944 e, posteriormente, publicados como Dialética do esclarecimento, em 1947. De acordo com Abromeit, este percurso também reflete a relação peculiar que Horkheimer detinha com a prática intelectual:
Assim como o conceito de práxis de Marx é frequentemente falsa mente interpretado como uma justificação para posições voluntaristas, assim a separação enfática que Horkheimer realiza, nos anos 1930, entre a teoria crítica e as preocupações políticas imediatas, é frequentemente lida como um retorno a uma posição do jovem hegelianismo.
No entanto, como vimos, a separação da teoria face à prática política imediata feita por Horkheimer ocorre em um contexto mais amplo da prática da sociedade como um todo (p. 334).
Os dois excursos que antecedem o capítulo final tratam de questões localizadas que afetam o desenvolvimento teórico dessa teoria crítica da sociedade como um todo. De um lado, Abromeit analisa minuciosamente a relação de Horkheimer com Erich Fromm, representante vital da psicanálise vinculado ao IfS e que foi, durante longo tempo, seu principal interlocutor teórico, até o momento em que, já após a emigração para os EUA, divergências de ordem pessoal e profissional provocaram o rompimento entre eles. De outro lado, complementando essa primeira análise, Abromeit examina a relação de Horkheimer com Adorno, procurando mostrar, principalmente, como após um distanciamento – mantido até algum tempo depois da mudança para os EUA – houve uma aproximação em termos teóricos e pessoais que levou ambos a declarar repetidas vezes que a obra de cada um deles representava o pensamento do outro, e que compartilhavam inteiramente das mesmas posições teóricas.
No capítulo final do livro, Abromeit retrata o modo como Horkheimer compreende as contribuições teóricas de Marx, contra pondo-se explicitamente à compreensão de Moishe Postone, um dos principais intérpretes da teoria crítica nos EUA. Abromeit afirma:
Para Horkheimer, a diferença crucial entre Marx e os economistas políticos clássicos era a natureza dialética de seus conceitos, que tomavam seu objeto como especificamente histórico e sujeito à transformação, não como leis eternas da natureza. Os conceitos de Marx conscientemente visam uma sociedade na qual eles não mais seriam válidos. Já examinamos a interpretação e apropriação nuançadas que Horkheimer tem da crítica de Marx a Hegel […] mas talvez seja válido reiterar a interpretação da teoria crítica de Marx como uma ‘dialética aberta’, que ele contrastava à história da filosofia metafísica de Hegel (p. 422).
Como também sinaliza no epílogo do livro, dessa maneira Abromeit opõe-se à tradição da leitura habermasiana da teoria crítica, que os vê enredados numa aporia, pois, apesar de admitir uma guinada pessimista nas reflexões tanto de Horkheimer quanto de Adorno, Abromeit afirma que justamente em virtude de ser possível identificar essa alteração, pode ser frutífero retomar aquele projeto original que, malgrado a necessidade de rever algumas categorias e conceitos utilizados, pode contribuir decisivamente para desenhos teóricos atuais.
Notas
1 Entre estes deve-se citar os estudos de Jürgen Habermas (cf. HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981) e Axel Honneth (cf. Honneth, A. Kritik der Macht. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985), ambos – aquele com tradução prevista para 2012 e, este, até hoje sem tradução para a língua portuguesa – mostram o que consideram como um rompimento necessário face aos pressupostos teóricos e epistemológicos daquele modelo de teoria crítica, sobretudo em virtude da centralidade da noção de trabalho, trazida de Karl Marx, no primeiro caso, e da submissão ao paradigma da filosofia da consciência, no segundo.
2 Neste caso, remeto, decerto sem esgotar as possíveis referências, às obras de Heinz Steinert (cf. Steinert, H.Das Verhängnis der Gesellschaft. Münster: Wes tfälisches Dampfboot, 2007) e Alex Demirovi ! (cf. Demirovi !, A. Dernonkonformistische Intellektuelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999) que, cada um à sua maneira, enfocam aspectos da teoria de Horkheimer (e também de Adorno) que mereceriam ser iluminados na intenção de fornecer subsídios para o debate contemporâneo ”
3 Como já consagrado entre os comentadores – dos quais menciono, aqui, apenas Habermas, Honneth e, para evitar que a lista se torne demasiado extensa, Martin Jay e Rolf Wiggershaus –, este período foi, com referência a Horkheimer, certamente o mais frequentemente estudado.
4 Mencionados na primeira nota.
5 Até mesmo em decorrência de contarem com raríssimas traduções. Diversos destes textos, tais como a sua tese de doutorado e o trabalho de habilitação, modo geral ainda permanecem à margem dos comentários estrangeiros à obra de Horkheimer. O mesmo vale, por exemplo, para suas anotações de aula.
6 De certo modo, a tentativa de distanciar Horkheimer da ontologia e da metafísica converge com uma dentre as interpretações mais completas no campo da filosofia, a saber, aquela de Alfred Schmidt, que inclusive foi aluno e organizador das obras completas de Horkheimer, e que procurava tratar especificamente, como por exemplo em Zur Idee der kritischen Theorie (cf. Sch midt, A.Zur Idee der kritischen Theorie. München: Carl Hanser, 1974), de que modo ocorria a apropriação da filosofia nessa proposta teórica, bem como que tipo de filosofia da história, caso existisse, encontrar-se-ia subjacente ao projeto.
7 Menciono, aqui, apenas aqueles que talvez tenham se tornado os mais conhecidos.
8 Remeto, aqui, a dois estudos de fôlego recentemente publicados, e que recorreram a extenso material de arquivo, o de Thomas Wheatland (cf. Wheatland, T. The Frankfurt school in exile. Minneapolis/Londres: University of Minnesota, 2009) e o de Eva-Maria Ziege (cf. Ziege, E.Antisemitismus und Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009); este último não aparece citado no livro de Abromeit.
Referências
ABROMEIT, J. Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School. New York, Cambridge University, 2011.
DEMIROVIC, A. Der nonkonformistische Intellektuelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999.
HABERMAS, J.Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
HONNETH, A. Kritik der Macht. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.
SCHMIDT, A. Zur Idee der kritischen Theorie. München: Carl Hanser, 1974.
STEINERT, H. Das Verhängnis der Gesellschaft. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2007.
WHEATLAND, T. The Frankfurt school in exile. Minneapolis/Londres: University of Minnesota, 2009.
ZIEGE, E. Antisemitismus und Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.
Stefan Klein – Professor do Departamento de Sociologia na UNB.
Pensamento político de Maquiavel – FICHTE (C-FA)
FICHTE, Johann Gottlieb. Pensamento político de Maquiavel Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Ed. Hedra,2010. Resenha de: GASPAR, Francisco Prata. Maquiavel e a sua aplicação. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.17, Jan./Jun., 2011.
Mãos se encontrando, cantando, esperando servir-se de justiça.
Impaciência de gerar outra carne, outra polícia diferente destas armas sempre justas para o crime1
Publicado originalmente no número 1 da revista Vesta, de Königsberg, em 1807, o ensaio de Fichte sobre a obra de Maquiavel é, decerto, um texto de divulgação e elogio da obra do “nobre florentino” para o leitor alemão da época. Retomando o texto-homenagem de Goethe escrito como um monumento erigido a Winckelmann, o propósito inicial de Fichte é o de recuperar a obra de Maquiavel, dando-lhe a sua devida importância – o que significa pretender menos que Goethe, afinal, se no caso do historiador da arte antiga se trata de alguém já com perfeita honra e dignidade, no caso de Maquiavel, embora haja alguns simpatizantes de sua obra, ele se encontra também “totalmente mal-compreendido e medido segundo uma medida que ele expressamente proíbe, depois caluniado, ultrajado, seu nome usado como pejorativo” 2. Mas, ao mesmo tempo, o ensaio é também um texto de intervenção política, no qual é o próprio Fichte que, através de Maquiavel, toma posição diante do rumo equivocado dado pelo governo prussiano para a sua política externa, e cujo desfecho tinha sido então a ocupação francesa de parte do território prussiano. Na sombra, Maquiavel ainda pede um sepultamento com honra, e é para isso que Fichte pretende contribuir; sob a ocupação francesa, é Fichte e a sua filosofia que, perturbados, não querem se calar.
Assim como um texto de divulgação, o ensaio é composto de duas partes: uma primeira parte introdutória, em que Fichte, ao fazer uma apresentação geral do autor e de suas obras, procura não só pro por uma nova interpretação da obra de Maquiavel, a fim de tirá-lo dessa sombra em que se encontra, mas também se pergunta qual aplicação a política de Maquiavel teria no tempo presente (de Fichte); e então uma segunda parte, que consiste em uma seleção de passagens traduzidas pelo próprio Fichte do Príncipe e acrescidas de alguns adendos seus. De início, é preciso afastar a má-compreensão e, com ela, por conseguinte, todos os seus preconceitos subjacentes. E Fichte o fará justamente, por incrível que pareça, como um historiador moderno da filosofia: através de uma leitura imanente de Maquiavel, a compreensão da obra é dada pela própria obra, e o leitor não deve vir com prévios conceitos ou prévios juízos, mas produzir o conceito da obra, isto é, julgar a obra, a partir das medidas que ela própria lhe fornece 3. E é desse modo, pois, que na mesma medida em que critica as leituras enviesadas de Maquiavel e suas respectivas incompreensões, Fichte pode apresentar um Maquiavel despido de preconceitos, não mais aquele autor imoral, tomado pelo paganismo e autor partidário e parcial, mas aquele que, insuflado pelo suprassensível e por uma natureza ética superior, formula uma filosofia política de alto alcance.
.Com efeito, para bem julgar a obra maquiaveliana, é preciso situar Maquiavel naquilo que ele tem em vista e não naquilo que nós temos em vista. Maquiavel, diz Fichte, se circunscreve à vida efetiva e à história, e é daqueles que formula seu pensamento a partir da vida, tudo introduzindo e extraindo da história – trata-se, pois, diz Fichte, de uma “sabedoria prática da vida e do governo (Lebens– und Regierungswei sheit) ”. Por isso, quando escreve, Maquiavel não tem em vista “as perspectivas superiores da vida humana e do Estado do ponto de vista da razão” 4 ; ele chega mesmo a ter aversão aos ideais, ao “dever ser”, mas circunscreve-se às coisas como são, procurando sempre a eficácia das ações políticas. Não exigir de Maquiavel, portanto, o que ele próprio não exigia dele, funciona aqui como chave de leitura de sua obra, e “a maior das perversões, assevera Fichte, é julgá-lo como se ele tivesse querido escrever um Direito de Estado transcendental e obrigá-lo, séculos depois de sua morte, a entrar numa escola que mesmo em vida ele não teve ocasião de frequentar” 5.
O Príncipe, por exemplo, não é um livro para ser lido como a exposição de uma moral ou de um direito puros, mas um livro em que Maquiavel, na medida em que procurou dar alguma firmeza e duração à relação dos Estados da Itália, apresenta um conjunto de regras e medidas políticas a serem tomadas conforme a situação, seguido sempre também de um conjunto de exemplos – que podem valer como regras, “modelos” – de como homens do passado agiram em determinadas situações. E se o que se busca é a consolidação de relações estáveis na Itália, o dever de todo príncipe não será um dever moral, mas o dever político de auto-conservação (Selbsterhaltung), e a sua suprema e única virtude será, em função desse dever, a consequência (Konsequenz), isto é, a coerência e sensatez em suas ações. Assim, não é a ação mais correta do ponto de vista moral que tem validade aqui, mas a ação mais eficaz de acordo com esse fim superior que Maquiavel se coloca.
Várias virtudes, ao contrário, como a generosidade ilimitada e insensata ou a clemência, são nefastas para o bom governo, e pecam em eficácia na conservação da nação e do poder político do príncipe. Aliás, é também nessa chave de leitura que é preciso interpretar a linguagem de Maquiavel: quando ele fala em “avareza, crueldade e assim por diante”, ele o faz apenas utilizando a linguagem popular da época, pois sob essas palavras o que se visa são virtudes efetivas do governar e não vícios: “uma sábia parcimônia, um rigor que se mantém inexorável na execução da lei e assim por diante” 6. Se Maquiavel faz uso dessa linguagem, diz Fichte, a culpa não está totalmente nele, pois nisso ele apenas partilhava a linguagem da época, de modo que a culpa tem de ser partilhada com ela.
Não querendo escrever uma doutrina transcendental da moral ou do direito, mas procurando formular, a partir da vida e da história, regras eficazes para a conduta política dos príncipes para um governo estável e sólido, Maquiavel não é, portanto, um autor imoral. Ao contrário, pensa Fichte: a sensatez e coerência que ele busca nos príncipes, o raciocínio rigoroso e bem ordenado e a finalidade geral de uma nação italiana unificada são os índices claros de que a obra de Maquiavel não só é uma leitura atraente, como de uma natureza ética da qual ninguém “se afastará sem amor e respeito, mas também, ao mesmo tempo, não sem lamentar que a esse soberbo espírito não tenha sido dado um palco mais regozijante para as suas observações” 7.
Isso em relação ao suposto caráter imoral de Maquiavel como escritor. Mas a mesma operação de dissolução de incompreensões e preconceitos que se imiscuem na leitura consagrada da obra do nobre florentino é também realizada em relação ao paganismo de Maquiavel, à sua indecisão entre republicanismo e monarquismo e ao seu partidarismo. Tais dissoluções, contudo, não vêm ao caso aqui. Pois é de interesse maior entender o trecho final da parte introdutória do ensaio, exatamente na medida em que, ao se perguntar pela aplicação da política de Maquiavel aos tempos presentes, começa a expor ainda mais claramente todo o caráter de intervenção política do ensaio, fazendo assim a transição para a sua segunda parte, na qual se apresentam algumas passagens do Príncipe, que, enquanto tais, foram traduzidas e selecionadas, como se tentará mostrar, não sem razão.
Mas já de início é de se perguntar, entretanto, como é possível a Fichte retomar a política de Maquiavel a fim de aplicá-la ao seu tempo presente? Isso porque se, por um lado, Fichte compartilha o “princípio capital” da política de Maquiavel, a saber, a ideia de que todo Estado pressupõe a guerra de todos contra todos, sendo sua finalidade, então, produzir a paz comum, mesmo que seja apenas como fenômeno exterior8 – pressuposição inevitável e inquestionável, já que, dado o Estado como instituição de coerção, é necessário pressupor essa guerra de todos contra todos –, por outro lado, todavia, enquanto Maquiavel introduz e extrai tudo da vida e da história, Fichte, ao contrário, é aquele que tem em vista o Estado de razão e o direito transcendental; mais que isso, Maquiavel parece ser justamente aquele “político especulativo meramente empírico” que é tão criticado por Fichte no Estado comercial fechado, o apêndice à Doutrina do Direito. É ali, pois, no Estado comercial fechado, que Fichte começa a delinear o estatuto da política no interior da doutrina-da-ciência como a ciência mediadora entre o puro direito público (das reine Staatsrecht) e a realidade efetiva 9. Afinal, na medida em que desse puro direito público nasce um Estado de razão que, por sua vez, não é imediatamente aplicável à realidade efetiva – já que em parte alguma os homens são encontrados sob uma constituição oriunda da razão e de conceitos, mas antes do acaso e providência – se faz necessária uma mediação, que faça a passagem entre o Estado de razão e o Estado efetivo dado, do contrário, a destruição repentina da constituição efetiva em proveito da constituição do Estado de razão resultaria na própria destruição dos homens, tornando-os selvagens. Em outros termos, o puro direito público fornece as regras (Regeln) universais necessárias a toda constituição fundada na razão e nessa “sua suprema universalidade elas convêm a tudo e, justamente por isso, não convêm a nada determinado ”, donde a sua imediata inexequibilidade – ou inaplicabilidade – na realidade efetiva; ora, para serem aplicadas, diz Fichte, elas “teriam somente de ser mais determinadas para um estado (Zustand) efetivo dado”, e essa determinação a mais da regra universal estabelecida no puro direito público ocorre na ciência que “eu denomino Política ” 10. Assim, dada esta certa heterogeneidade entre o Estado de razão e um Estado efetivo dado, entre a regra universal do direito e uma situação efetiva dada, torna-se necessária uma mediação, ou um termo médio, que permita a passagem dos dois mundos. A política enquanto ciência, e não enquanto prática, é uma ciência do governo que, portanto, partindo não de uma situação totalmente determinada, mas da avaliação de um estado geral de coisas, fornecerá como determinação a mais da regra universal as medidas (Maßregeln) a serem tomadas para que o Estado efetivo dado nessa situação geral se aproxime do Estado de razão; medidas que, enquanto determinação a mais das regras universais, se referem não a um caso particular, mas a um estado geral de coisas e possuem, por isso, ainda uma certa universalidade. – Traçando um paralelo ilustrativo, sugerido pela nota 18 do Tradutor 11, a política, como mediadora que torna possível a aplicação do puro direito à mera experiência, funciona aqui aproximadamente ao modo como o esquematismo da imaginação funciona na Crítica da Razão Pura de Kant. Lá, como aqui, está em questão a aplicação das regras, e lá, como aqui, entre as regras e aquilo sobre o que elas serão aplicadas há uma heterogeneidade que exige uma mediação, um terceiro termo homogêneo aos dois mundos; lá, essa mediação é dada pelos esquemas que, lembremos, enquanto efeito do entendimento (as regras) sobre a sensibilidade (um diverso em geral da sensibilidade), não “têm em vista uma intuição singular, mas só a unidade na determinação da sensibilidade” 12, aqui, essa mediação é dada pelas medidas, que ainda permanecem universais sob um certo ponto de vista, já que a política, como ciência do governo, não pode ser a política para a França ou Alemanha, nem a política para a França ou Alemanha no ano de 1800, mas tem de ser uma política comum a um certo estado geral de coisas 13.
Ora, se é assim, se a política é a ciência do governo que fornece, através das medidas, a determinação a mais que as regras do puro direito público exigem para a sua possível aplicação a um Estado existente, ela, então, se tem um elemento que provém da realidade efetiva, toma, na verdade, a sua substância das regras universais do direito transcendental, de modo que parece ser incompatível a Fichte utilizar a política de Maquiavel, aquele que introduz e extrai tudo da história, para aplicá-la ao seu presente histórico – e não se trata nem mesmo de saber se ela é aplicável ou não, já que de início ela parece ser incompatível com a concepção fichteana de política. E na crítica de Fichte ao que ele chama de “político especulativo meramente empírico” talvez seja o próprio Maquiavel que é ali encontrado: aquele é um político que, não confiando em nenhum conceito ou cálculo, mas apenas na experiência imediata, “rejeitaria esta política [a de Fichte], porque ela não conteria fatos, mas apenas conceitos e cálculos de fatos, em suma, porque ela não seria história. Um tal político tem em sua memória como uma reserva um número de casos e medidas (Maßrege ln) exitosas, que outros antes dele tomaram nesses casos. O que aparece a ele, ele pensa em um daqueles casos e procede como um dos políticos que o precederam” 14 – afinal, não é também Maquiavel, a partir da própria leitura de Fichte, que deliberadamente circunscrito à vida, formula suas regras e medidas a partir dos exemplos que encontra na história? E no entanto, Fichte não só se pergunta em que medida a política de Maquiavel é aplicável aos seus tempos, como antes já o havia elogiado profundamente – sendo o seu propósito, aliás, dar-lhe um sepultamento digno.
É que aqui dois pontos precisam ser considerados, e que, juntos, permitem entender a pergunta pela aplicação da política de Maquiavel e, com isso, a dimensão política do ensaio de Fichte. Em primeiro lugar, quando Fichte se pergunta pela aplicabilidade da política de Maquiavel é preciso entender que ele já não se encontra no terreno da política como ciência, mas já passou para o terreno da aplicação mesma da política, isto é, para a aplicação das medidas a um determinado caso dado, isto é, para a prática da política. Ora, como a medida é algo ainda geral, ela exige uma capacidade do político para saber se ela deve ser aplicada naquele caso e como ela o deve ser – como diz Fichte: “o político em exercício (ausübender Politiker) tem sempre ainda de aplicar uma regra, de certo ponto de vista sempre ainda universal, a um caso particular, e para cada caso particular um pouco diferentemente” 15, embora a aplicação não possa se afastar da regra.
Essa capacidade para aplicar a regra pode ser denominada, mantendo -se o paralelo com Kant, de capacidade de julgar, isto é, aquele talento para distinguir se algo está ou não sob a regra dada 16. E é o próprio Fichte que assim explica a aplicação da regra a partir de uma ciência mediadora: “sempre resta ao julgamento daquele que pratica (Beurteilung des Praktikers) um vasto campo; a ciência mediadora apenas o encaminha e indica a ponte dos dois mundos diferentes. Como a lacuna permanece, ele tem de se ajudar a si mesmo pelo julgamento (Beurteilung) ” 17.
Quer dizer, no momento em que é preciso aplicar a regra ou medida à realidade, o político prático, em exercício, necessita ter uma capa cidade de inventividade e discernimento para que mesmo a distância entre a medida da política, enquanto ciência mediadora, e a realidade seja acomodada 18. – E isso ele o fará pelo seu talento próprio em julgar e simultaneamente, caso este não seja suficiente, a partir de exemplos passados que mostrem como a medida foi aplicada – e é Kant quem diz que os exemplos aguçam a faculdade de juízo 19. É aqui, pois, que Maquiavel entra em cena, afinal, ao se situar no terreno da vida e da história e formular a partir delas regras para a boa conduta dos príncipes, ele acaba também por fornecer uma série de exemplos de como políticos do passado se portaram, isto é, como aplicaram as regras – em alguns casos, virtuosamente, em outros, de modo vicioso. O próprio Príncipe, aliás, é um livro escrito para Lorenzo de Médicis, para que, com a instrução do livro, possa unificar a Itália e bem governá-la, “pressuposto sempre que vos atenhais à maneira daqueles que vos apresentei como modelos ” 20 – aqui, o exemplo vale como medida, um pouco como no juízo reflexionante kantiano.
Em segundo lugar, com efeito, é preciso considerar também que quando Fichte se pergunta pela aplicabilidade da política de Maquiavel, ele não tem em vista a relação do príncipe com os seus súditos – que era a questão que movia Maquiavel ao escrever o Príncipe –, pois em geral os príncipes da Europa do século XIX já estão em paz com os seus súditos e não necessitam de uma política para isso, mas o que o move é a relação do príncipe com as outras nações. Ora, nessa relação entre os Estados não há nenhum direito superior, nem nenhuma lei, a não ser a lei do mais forte, e neste caso, não havendo direito, a relação de permanente volúpia da guerra é ainda mais forte e necessária. Como então formular uma política se não há um direito para lhe dar as regras universais que ela deverá determinar? É aqui, enfim, que a política de Maquiavel é aplicável, justamente porque, sem nenhum direito que lhe dê a regra, ele formula, com exemplos da história e tendo em vista a eficácia das ações, um conjunto de regras para dar estabilidade e duração à relação dos Estados da Itália. Assim como Maquiavel, Fichte procura agora formular regras para os príncipes para que haja estabilidade na relação entre os Estados, que justamente se encontram em guerra naquele momento.
Com efeito, no caso presente, em que não há nenhum direito superior que reja a relação entre os Estados e em que a volúpia de guerra de todos contra todos se intensifica ainda mais, cada nação procurando continuamente se engrandecer às custas da outra, a estabilidade entre os Estados não será estabelecida por qualquer confiança ou relação de tipo moral entre as nações, mas tão somente se cada nação conservar-se forte em seus limites, estiver bem preparada para a guerra, sempre atenta a qualquer tentativa de seu vizinho em mudar a situação em seu proveito – pois se ele puder, ele o fará necessariamente, mesmo que seja seu irmão – e em não confiando de modo algum nas palavras, mas sempre procurando forçar uma garantia – “e absolutamente não abrir mão dessa condição da garantia e, estando em armas, não as depor, a todo risco, antes de ter chegado a ela” 21. Desse modo somente, nesse estado de permanente atenção e tensão, nenhuma nação encontrará uma ocasião segura para se lançar contra o seu vizinho e “uma espada manterá a outra em repouso e sucederá uma paz crônica” 22. Por sua vez, essa perspectiva política, diz Fichte, se não decorre do direito, está porém de acordo com o ponto de vista da razão, pois, na medida em que os povos não são uma propriedade do príncipe, ele não pode os considerar como um assunto privado seu: ele não pode, como o faz um cidadão privado, acreditar na humanidade, na honestidade dos homens, afinal, quando o cidadão privado é lesado, é apenas ele que é lesado e ele ainda pode recorrer à justiça de sua nação, enquanto o príncipe, se assim o fizer, é toda a nação que será prejudicada e ele não pode arriscar, em nome dessa crença, a sua nação, o seu povo e todo os seus bens. Nesse sentido, aliás, a moral não tem validade na política, o príncipe está vinculado à lei moral somente em sua vida privada, pois, em relação aos seus súditos, é ao direito de sua nação que ele está vinculado e, em relação aos outros Estados, são por essas regras e política de força que Fichte formula que ele deve se guiar, sempre tendo em vista o bem-estar e a dignidade de seu povo.
Ora, é essa perspectiva “mais séria e vigorosa” que, afirma Fichte, foi deixada de lado em seu presente, e a filosofia do tempo que então vigora, “enamorada da paz perpétua”, oferece como bem somente uma certa “humanidade, liberalidade e popularidade, suplicando que simplesmente se seja bom e então tudo também será bom, por toda parte recomendando a áurea via média, isto é, o amálgama de todas as contradições em um surdo caos”. E o pior é que essa filosofia do tempo tem entrada nos gabinetes e cortes dos governos, e é a ela basicamente que Fichte concederá a honra de todas as desastradas decisões políticas do governo prussiano no cenário internacional, principal mente na relação com a França de Napoleão. Decerto, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mostra Fichte, são os “alicerces eternos e inabaláveis de toda ordem social”, mas exclusivamente com eles não é possível construir e gerir um Estado 23. Aliás, é de se perguntar se não é essa mesma ingênua filosofia do tempo a raiz daquela leitura moralizante da obra de Maquiavel, de modo que em um só lance a obra de Maquiavel é recuperada e a filosofia política da época criticada.
Assim, considerados esses dois pontos diante da pergunta pela aplicação da política de Maquiavel ao tempo presente, a saber, que essa aplicação já se dá no terreno da prática e que o seu campo são as relações entre os Estados nas quais não há nenhum direito que as reja, é possível então compreender todo o caráter de intervenção política do ensaio de Fichte sobre Maquiavel e, nessa chave de leitura, passar aos trechos traduzidos selecionados por Fichte. Imagine agora, por tanto, leitor, um prussiano letrado em 1807 que vive desgostoso sob a ocupação francesa e, depois de ter lido a parte introdutória do ensaio, lê na primeira passagem selecionada do Príncipe – a Exortação a Libertar a Itália –: “Jamais, na verdade, o tempo foi mais favorável a um príncipe capaz de tornar-se o criador de uma nova ordem de coisas na Itália do que justamente agora” 24 ; que, diante da vacilação e adiamento do governo prussiano para declarar guerra contra a França de Napoleão, lê que os romanos não adiavam uma guerra se isso significasse adiar problemas que uma vez certamente virão, “pois bem sabiam que com isso a guerra não é sustada, mas meramente, e aliás para vantagem do outro, adiada para mais adiante” 25 ; imagine leitor, quando esse prussiano ainda lê as passagens do Príncipe sobre a arte da guerra, sobre como a neutralidade em uma disputa é sempre um equívoco – neutralidade pregada pelo governo prussiano – ou quando, enfim, lê sobre os secretários dos príncipes. Todas são passagens do punho de Maquiavel, mas é da política da época que elas falam também. E Fichte tem consciência disso: ele quer despertar – ou não seria vivificar? – em seu leitor um estado de coisas que poderia ter sido diferente 26. O texto é datado, mas hoje, em que o direito internacional e as suas instâncias são pouco respeitados, ainda dá muito o que pensar e imaginar. Imagine, pois, leitor, porque, de certa forma, também é disso que se trata, nessa confluência entre história da filosofia, filosofia e intervenção política, contida no ensaio de Fichte sobre Maquiavel, cuja já consagrada tradução de Rubens Rodrigues Torre Filho foi ano passado reeditada, depois de ter sua primeira publicação em 1979, no número 9 da revista Almanaque.
Notas
1Torres Filho. “Poema desmontável”. In: Novolume, São Paulo, 1997, p. 146.
2 FICHTE, J. Pensamento político de Maquiavel. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Hedra, 2010, p. 18.
3 Coisa que o próprio Fichte exigia dos leitores da sua doutrina-da-ciência, dado o seu caráter radicalmente reflexionante. Aqui, com Maquiavel, ele apenas faz a um outro filósofo o que ele exige para si. Sobre o princípio de leitura da doutrina-da-ciência, vale a pena ver a obra filosófica do tradutor, notadamente: Torres Filho., R. R. O espírito e a letra: crítica da imaginação pura em Fichte, São Paulo, Ática, 1975, cap. 1
4 FICHTE, J. Pensamento político de Maquiavel, p. 19.
5 Idem, p. 21.
6 Idem, ibidem.
7 Idem, p. 23.
8.Para isso, Fichte cita o próprio Maquiavel: “todo aquele que funda uma república (ou, em geral, um Estado) e lhe dá leis tem de pressupor que todos os homens são malignos e que, sem exceção nenhuma, darão vazão a sua malignidade intrínseca tão logo encontrem para isso uma ocasião segura”, idem, p. 40.
9 Toda essa discussão sobre a política em Fichte e, depois, a comparação com a imaginação em Kant, foi sugerida pela nota 18 do Tradutor, onde, depois de uma citação do Estado comercial fechado, na qual aparece a definição de política, o Tradutor comenta: “Tão central quanto a imaginação como mediadora entre o sensível e o inteligível, ela [a política] é, para Fichte, o meio -termo entre ‘história’ e ‘filosofia’”, idem, p. 42 – nota 18 da tradução
10 FICHTE, J. Der geschlossene Handelsstaat. In: Werke, III, Berlin, Walter der Gruyter, 1971, p. 390-1. No apêndice à Doutrina dos Costumes, Fichte escreve: “O que medeia (das Vermittelnde) a aplicação da pura Doutrina do Direito às de terminadas constituições públicas existentes chama-se Política ”, Ascetik als Anhang zur Moral, Werke, XI, p. 123.
11.A propósito, alguém poderia dizer que o paralelo da nota 18 feito pelo tra dutor é de Fichte com ele mesmo, e não da política em Fichte com a imaginação em Kant. Não adentraremos nessa discussão, mas apenas apontaremos para as relações estabelecidas pelo próprio Torres Filho, em sua referida obra filosófica, entre o esquematismo como meio da Crítica e a imaginação como centro da doutrina-da-ciência (ver: Torres Filho., R. R. O espírito e a letra, cap. 2). E a isso acrescentaremos que, aqui, Fichte não se encontra no nível transcendental originário das exposições da doutrina-da-ciência, mas em um nível derivado em que ao a priori se opõe o a posteriori, nível semelhante àquele da Crítica, pois a questão aqui é como introduzir na vida a ciência (ver: Fichte, J. Ascetik als anhang zur Moral, Werke, XI, p. 122).
12 KANT, I. Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974, v. III, p.189 (A140/B179).
13 FICHTE, J. Der geschlossene Handelstaat, Werke, III, p. 391.
14 Idem, ibidem.
15 Idem, ibidem.
16 KANT, I. Kritik der reinen Vernunft, p. 184 (A132/B171).
17 FICHTE, J. Ascetik als Anhang zur Moral, Werke, XI, p. 122-3.
18 Talvez seja possível dizer que a política como ciência fornece uma estratégia para a política e a política como prática, ao procurar aplicar essa estratégia, precisará formular uma tática.
19 KANT, I.Kritik der reinen Vernunft, A134/B173. Não é curioso que o próprio Kant, quando fale da faculdade transcendental de juízo se refira à necessidade de um político de ter o talento do juízo e diga: “Um médico, um juiz ou um estadista (Staatskundiger) podem ter na cabeça excelentes regras patológicas, jurídicas ou políticas, a ponto de cada um poder ser um importante professor nelas, e no entanto, facilmente se equivocar na sua aplicação (Anwendung), ou porque falte a ele o juízo natural (embora entendimento, não), e ele pode compreender o universal in abstracto, mas não pode distinguir se um caso pertence a ele in concreto, ou também porque ele não foi preparado o suficien te para esse juízo com exemplos e ocupações concretas” (Idem, p. 185, A134/ B173).
20 FICHTE, J. Pensamento político de Maquiavel, p. 55 (passagem selecionada do Príncipe ).
21 Idem, p. 46.
22 Idem, p. 47.
23 Idem, p. 51.
24 Idem, p. 53 (passagem selecionada do Príncipe ).
25 Idem, p. 61 (passagem selecionada do Príncipe
26 Fichte escreve: “Assim dizem que o avestruz fecha os olhos ante os caçadores que vêm ao seu encontro, também como se o perigo que não lhe é mais visível simplesmente não existisse mais. Não seria nenhum inimigo do avestruz quem lhe gritasse: – Abre teus olhos, vê, ali vem o caçador, foge para aquele lado para que lhe escapes”. Idem, p. 85.
Referências
FICHTE, J. Pensamento político de Maquiavel. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Hedra, 2010.
_____.Der geschlossene Handelsstaat, Werke, III. Berlin: Walter de Gruyter, 1971.
Ascetik als Anhang zur Moral.In: _____, Werke, vol. XI. Berlin: Walter de Gruyter, 1971.
KANT, I. Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.
TORRES Filho. O espírito e a letra: crítica da imaginação pura em Fichte.São Paulo: Ática, 1975
Francisco Prata Gaspar – Doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo.
Kant-Index – DELFOSSE; HINSKE et al (C-FA)
DELFOSSE, Henrich P; HINSKE, Norbert; BORDONI, Gialuca Sadum (Eds). Kant-Index, Band 30: Stellenindex und Konkordanz zum “Naturrechet Peyrabend”. Teilband 1: Einleitung des “Naturrechets Feyrerabend., frommann-halzboog. Stuttgart: Bad Camstatt, 2010. Resenha de: MOLEDO, Fernando. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.17, Jan./Jun., 2011.
Se acaba de publicar la primera parte del volumen nº 30 del Kant – Index. Este volumen está dedicado a la lección Naturrecht Feyerabend y su primera parte – que reseñamos aquí – se ocupa específicamente de indexar los términos correspondientes al texto de la introducción a la lección.
El Kant– Index es un vasto proyecto editorial dirigido por Norbert Hinske y Lothar Kreimendhal. Su objetivo es indexar la obra de Kant y de otros autores de la filosofía de la ilustración alemana (Wolff, Meier, Lambert, etc.). Cada volumen se compone esencialmente de un gran índice de los términos empleados en una obra determinada y reproduce dichos términos en el contexto textual de la obra en el que aparecen. Además, al trabajo de indexación de los términos se suma el cálculo de la frecuencia relativa de su aparición en la obra. Esta frecuencia se establece teniendo en cuenta los radicales de cada uno de los términos (lemas), no las formas declinadas.
El Kant – Index permite conocer de ese modo, por ejemplo, la evolución de un concepto determinado en la obra de Kant y establecer en base a ello cuándo comienza a ser utilizado, cuando se acentúa su uso, y cuando éste por fin decae.
Kant dictó lecciones sobre filosofía del derecho desde 1767 hasta 1788. De ellas, la única lección que se conserva en la actualidad es la lección del semestre de verano de 1784, conocida como Naturre cht Feyerabend. La lección fue editada originalmente por Gerhard Leh mann en 1979 en la Akademie Ausgabe (donde fue incluida como anexo al tomo 27, correspondiente a lecciones sobre filosofía moral). A ella está dedicado el volumen nº 30 del Kant – Index. La primera parte de este volumen, recientemente publicada, cuenta con un índice principal del texto de la Einleitung ; reproduce los términos en el contexto textu al de la obra en el que estos términos aparecen e indica la frecuencia relativa de su aparición. Pero el dato más significativo de esta entrega del Kant – Index no es tanto la valiosa presencia de los índices, como el hecho de que traiga una edición integralmente nueva del texto mismo de la Einleitung. Esta valiosísima edición corrige y amplía (en base al trabajo con las fuentes manuscritas originales) la versión de Lehmann, contenida en la Akademie – Ausgabe.
De acuerdo a lo que señalan los editores del volumen (Heinrich P. Delfosse, Norbert Hinske y Gianluca Sadun Bordoni), la decisión de reeditar de manera integral el texto de la Introducción se debió a que la edición de Lehmann plantea más problemas de los que se pue den resolver con una lista de erratas y enmiendas (p. ix); se registran inclusive algunos casos en los cuales el texto de la Akademie Ausgabe omite directamente oraciones enteras de la lección (cfr. xi n.). Pero además del valor que de por sí supone contar con una nueva edición mejorada de un texto kantiano, la nueva edición de la Einleitung es en sí misma un llamado de atención sobre la enorme importancia cientí fica que tiene esta fuente – relativamente poco conocida en el con texto de la investigación kantiana – para la comprensión de la filoso fía práctica de Kant. En efecto, contra lo que sería esperable debido a la temática de la lección, la Einleitung no está orientada a la filosofía del derecho, sino precisamente a temáticas propias de la fundamen tación crítica de la moralidad. Este no es un dato menor y su impor tancia queda clara cuando se presta atención al año en el que Kant sostiene la lección, 1784, porque a la luz de esta fecha se advierte que la lección pertenece al contexto temporal en el que tiene lugar la re dacción de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres ( GMS ). Los editores tienen razón, pues, cuando afirman que la Einleitung constituye uno de los elementos fundamentales a los que cabe recurrir a la hora de establecer el cuadro completo del estado de las investigaciones de Kant en el campo de la fundamentación de la moral para el año 1784 (junto con la Moral – Mrongovius II y la misma GMS ). Reseñemos (muy brevemente) algunos de los aspectos en los que esto se hace visible.
El primer aporte del texto de la Einleitung respecto de la GMS es de índole sistemático. Tanto la Einleitung como la GMS están dedicadas a la filosofía práctica y provienen de un contexto temporal similar; sin embargo, mientras que la GMS comienza tematizando la noción de una buena voluntad (AA 4: 393), la introducción a la lección gira entorno a la determinación kantiana del Hombre como un fin en sí mismo (cfr. ix). La determinación del Hombre como un fin en sí mis mo tiene un rol argumental destacado en la GMS : Kant se sirve de esta determinación para dar la conocida fórmula del imperativo categórico en la que se afirma el deber de tratar a la humanidad en la persona siempre como un fin y nunca sólo como un medio (AA 4: 429). Sin embargo, a pesar de la importancia que le otorga a la determinación del Hombre como un fin en sí mismo, Kant no ofrece en la GMS ninguna explicación clara que permita entender con exactitud qué es aquello que hace que se deba considerar al Hombre de ese modo. La Einleitung enmienda este punto oscuro.
El hombre, como un ser racional, es un fin en sí mismo – sostiene Kant en la Einleitung al igual que en la GMS –. Ahora bien el Hom bre no es un fin en sí mismo porque sea un ser racional. El texto de la Einleitung es muy claro al respecto (y desmiente de ese modo el punto de vista de algunos intérpretes que pasan por alto esta fuente).
El Hombre es un fin en sí mismo, sí; pero lo es debido expresa y úni camente a la libertad de la voluntad: “Si únicamente seres racionales pueden ser [un] fin en sí mismo, no es que puedan esto porque tengan razón, sino libertad”. ( Naturrecht Feyerabend p. 8). De acuerdo con el texto de la Einleitung, poseer una voluntad libre es lo que hace que el Hombre nunca pueda estar enteramente sometido al poder de una voluntad ajena y a ello se debe que no se lo pueda considerar sola mente como un medio y que se lo deba tratar por eso siempre, al mismo tiempo, como un fin (Cfr.
Naturrecht Feyerabend p. 7). Así queda aclarada la cuestión del fundamento de la determinación del Hombre como un fin en sí mismo que no se encontraba suficientemente expli cada en la GMS.
Otro aspecto del contenido de la Einleitung que vale la pena re saltar en relación con la comprensión del estadio de las investigacio nes de Kant sobre filosofía práctica para 1784 tiene que ver con el análisis histórico – evolutivo del pensamiento kantiano. Se trata, concretamente, de la posibilidad de detectar en el texto de la Einleitung el vínculo entre el concepto de un fin en sí mismo y el concepto del fin de la creación, un vínculo que no se encuentra desarrollado en la GMS y que le sirve a Kant en la introducción a la lección para determinar al Hombre como el fin de la creación por medio de un argumento al que recurrirá nuevamente, seis años después, en la Crítica del Juicio ( KU ).
De acuerdo con el texto de la Einleitung, cuando la razón se dirige a la naturaleza y la considera como una serie de medios y fines, debe representarse a su vez algo como un fin incondicionado – un fin en sí mismo – que permita poner término a la serie de los medios y los fines. En ello – explica Kant a sus alumnos – ocurre algo similar a lo que sucede cuando la razón considera la naturaleza como una serie de causas y efectos y debe poner al comienzo de la serie una primera causa incondicionada. La necesidad de la representación de un fin en sí mismo como término en la serie de los medios y los fines tiene, según las palabras de Kant en la Einleitung, el mismo origen que la necesidad de la representación de una causa primera: la exigencia de la razón de conectar toda serie de condiciones con lo incondicionado en una totalidad.
Del texto de la Einleitung se sigue, pues, que la representación de un fin en sí mismo es una necesidad originada en la razón y que dicha representación es al mismo tiempo la representación de un fin último al cual todo, en la serie de los medios y los fines, se encuentra subor dinado. Ahora bien, dado que el Hombre, en virtud de la libertad, es un fin en sí mismo, la conclusión que se sigue de todo esto es que el Hombre no sólo debe ser considerado un fin en sí mismo, sino tam bién, precisamente por el hecho de ser un fin en sí mismo, como el fin para el cual existen todas las cosas i. e.como el fin de la creación misma: “el Hombre es, así pues, el fin de la creación; puede ser usado a su vez como medio por otro ser racional, pero nunca es sólo un medio; sino siempre al mismo tiempo fin”. ( Naturrecht Feyerabend p. 5).
Con este argumento la Einleitung ofrece un importante testimonio sobre la evolución del pensamiento kantiano, pues se trata del mismo argumento que será recogido seis años más tarde en el parágrafo 84 de la Crítica de la facultad de juzgar ( KU ). En efecto, en este parágrafo el Hombre es definido como el fin final ( Endzweck ) de la creación en virtud de que se lo deba considerar (debido a su determinación moral i.e. a su libertad) como un fin en sí mismo ( KU AA 5: 435 s.). La Ein leitung permite concluir que dicho argumento, a pesar de no estar presente en la GMS, se encontraba formulado al menos desde el se mestre de verano de 1784.
Además de las consideraciones de naturaleza sistemática relativas a la determinación del Hombre como un fin en sí mismo y de las consideraciones de índole histórico – evolutivas sobre la determina ción del Hombre como el fin de la creación, la primera parte del volumen del Kant – Index dedicado a la Naturrecht Feyerabend aporta también elementos de naturaleza filológica, relevantes para el estudio del contexto en el que tiene lugar la redacción de la GMS. El más impor tante es probablemente la constatación de que Kant no utiliza en la Einleitung el término Grundlegung que da título a la GMS ni se refiere en ninguna oportunidad a una fundamentación de la moralidad. Dado que tampoco lo hace en la Moral – Mrongovius II y que en la GMS el térmi no Grundlegung aparece únicamente en el título de la obra y en el prólogo, los editores del volumen nº 30 del Kant – Index llegaron a la conclusión de que Kant debió haber encontrado el título de la GMS “sólo en el último minuto, después de haber sopesado una serie de otras posibilidades primero” (p. xi.) Por último, además del índice general, entre los diversos recursos que componen el índice de la Einleitung, cabe señalar la presencia de índices especiales (de terminología en latín, de nombres de personas, de nombres mitológicos, de nombres tomados de la literatura, y de nombres topográficos), un catálogo de lugares paralelos relativos a la GMS, una sección dedicada a aclaraciones y lugares paralelos en ge neral, un registro comparado de la terminología de la Einleitung, la GMS y la Moral Mrongovius II y reproducciones facsimilares de dos manus critos de la Introducción indexada.
Por todo lo dicho, la edición de este nuevo volumen del Kant – Index es una excelente noticia para todo investigador de la filosofía kantiana
Fernando Moledo – Doutor em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires.
Die Deutung der Welt. Jörg Salaquardas schriften zu Arthur Schopenhauer – BROESE; KOSSLER et al (C-FA)er
Die Deutung der Welt. Jörg Salaquardas schriften zu Arthur Schopenhauer. Editado por Konstantin Broese, Matthias Kossler e Barbara Salaquarda.Würzburg: Königshausen & Neumann 2007. Resenha de JUNIOR, Oswaldo Giacoia. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.16, Jun./Dez., 2010.
A Interpretação do Mundo. Escritos de Jörg Salaquarda sobre Arthur Schopenhauer, editado por Konstantin Broese, Matthias Kossler e Barbara Salaquarda reúne textos esparsamente publicados por Jörg Salaquarda ao longo de sua vida, dedicados ao estudo aprofundado da obra de Arthur Schopenhauer, tanto de um ponto de vista imanente ao sistema de filosofia do autor de O Mundo como Vontade e Representação, quanto numa abordagem que relaciona seus escritos, seja com a tradição da história da filosofia ocidental – aquela de que ele próprio é herdeiro, mas também aquela que sua obra preconiza e que recebe o potente influxo de seu pensamento –, seja com outros campos do saber, seja, enfim, sob a ótica da atualidade e relevância de sua contribuição para a reflexão sobre as questões fundamentais da filosofia, as de hoje e as de sempre, sobre a responsabilidade da filosofia e de seus representantes quanto à situação espiritual e política de seu próprio tempo.
O concernimento fundamental dos editores, assim como o princípio da divisão do trabalho são colocados em destaque logo nas páginas iniciais do livro: “Com a edição de seus escritos referentes à obra de Arthur Schopenhauer, assumimos os próprios planos de Jörg Salaquarda. Na situação dada, escolhemos – seguindo a idéia e o conceito de Konstantin Broese – um modo de procedimento segundo o qual Konstantin Broese e Barbara Salaquarda retrabalharam e redigiram cuidadosamente os textos publicados, enquanto Matthias Kossler fez uma introdução a esses textos e empreendeu uma ordenação crítica dos mesmos na discussão atual sobre Schopenhauer.”
Procedendo de conformidade com esse programa, os editores coletaram textos pertencentes a momentos diversos da produção bibliográfica de Salaquarda, alguns deles de acesso muito difícil até então, interconectando-os num todo orgânico, sistematicamente ordenado, de acordo com a temática a que foram dedicados.
Daí resulta um livro dividido em quatro partes: a primeira reúne ensaios que são comentários e análises internas do conjunto da obra de Schopenhauer; o primeiro deles reproduz a introdução ao volume organizado por Salaquarda para a coleção Wege der Forschung (Caminhos da Pesquisa), dedicado à filosofia de Schopenhauer. O segundo é uma apresentação panorâmica do sistema schopenhaueriano, abrangendo a teoria do conhecimento, a metafísica (ou filosofia da natureza), a estética e a ética, num compreensivo plano de conjunto, que em momento algum cede à tentação da simplificação ou superficialidade, senão que, pelo contrário, alia o rigor crítico-filológico à ousadia de certas hipóteses hermenêuticas extremamente refinadas – como, por exemplo, a tese da ruptura entre a ética e a santidade (ascese), que assume o risco de contrapor-se à interpretação dominante, de acordo com a qual a vida ética constitui uma espécie de etapa no árduo caminho da negação ascética da vontade de viver.
A segunda parte é dedicada aos escritos de Schopenhauer sobre Teologia e Religião e à discussão empreendida pelo filósofo de Frankfurt com esses domínios da cultura espiritual; essa parte inclui também textos que, além de ocupar-se com a ácida crítica da religião e da teologia por Schopenhauer, cotejam essa crítica seja com variantes da hermenêutica do fenômeno religioso, seja com o pensamento de Karl Jaspers a respeito de filosofia, teologia e religião.
A terceira parte é inteiramente dedicada a trabalhos de Salaquarda tendo por objeto a ética de Schopenhauer, nos quais a relação com a filosofia prática de Kant, com o debate contemporâneo a respeito das dificuldades e impasses nas tentativas de fundamentação de projetos éticos, a pergunta sobre a liberdade, a responsabilidade, as diversas tentativas de impugnar a possibilidade de formulação, com sentido, de juízos sobre o valor moral das ações, constituem o elemento dominante.
A quarta parte se ocupa do campo temático no qual a genialidade de Jörg Salaquarda se atesta em toda sua plenitude: a relação problemática entre as filosofias de Schopenhauer e Nietzsche.
Com efeito, Salaquarda talvez seja mais conhecido, na cena mundial da filosofia contemporânea, como um dos mais competentes especialistas na obra de Nietzsche.
Colaborador e ex-assistente de Wolfgang Muller-Lauter, co-editor dos Nietzsche-Studien (Estudos Nietzsche) durante muitos anos, um dos principais responsáveis pela concepção e implementação da criteriosa série de publicações, hoje mundialmente célebre: Monographien zur Nietzsche-Forschung (Monografias da Pesquisa-Nietzsche) (cujo editor é o famoso Walter de Gruyter), destacado representante da escola de intérpretes responsáveis pela consolidação dos padrões histórico-crítico-filológicos que, no horizonte intelectual inaugurado pela edição histórico-crítica dos escritos éditos e inéditos de Nietzsche por Giorgio Colli e Mazzino Montinari, determinam hoje os rumos mais significativos da pesquisa internacional sobre o pensamento de Nietzsche, Jörg Salaquarda é autor de trabalhos de inexcedível elevação teórica e penetração hermenêutica, cujo arco de abrangência se amplia nessa coletânea para incluir o tenso e ambivalente relacionamento entre Nietzsche e seu amado-odiado mestre Schopenhauer.
A leitura dessa quarta parte nos proporciona a compreensão, em toda sua extensão e profundidade, da influência de Schopenhauer sobre Nietzsche, da autêntica prefiguração, pelo primeiro, do ataque disruptivo à metafísica, empreendido pelo segundo, mas também a potência de radicalização do gênio nietzschiano, a inflexão decisiva que o leva a apartar-se do caminho ascético e metafisicamente soteriológico trilhado pelo pensador do ‘sistema único’, com seu recurso à compaixão como único e verdadeiro fundamento de toda moralidade, seu apelo à negação da vontade, do sofrimento e do mundo como caminho da redenção – uma postura existencial e uma interpretação global da existência e de seu valor que é transfigurada por Nietzsche em dionisíaca afirmação incondicional da vida, do tempo, da finitude e da morte – no percurso de seu ‘terceiro caminho’, que pode também ser enunciado com a frase provocativa: ‘eu sou total e completamente corpo, e nada além disso’.
A quinta parte, por fim, é composta pelas recensões por Jörg Salaquarda de livros como o de Friedhelm Decher: Wille zum Leben – Wille zur Macht. Eine Untersuchung zu Schopenhauer und Nietzsche ( Vontade de Vida – Vontade de Poder. Uma Investigação sobre Schopenhauer e Nietzsche) ; de Alfred Schmidt: Idee und Weltwille. Schopenhauer als Kritiker Hegels ( Idéia e Vontade do Mundo. Schopenhauer como Crítico de Hegel) ; e do livro de Matthias Kossler: Substantielles Wissen und Subjetives Handeln, dargestellt in einem Vergleich von Hegel und Schopenhauer ( Saber Substancial e Agir Subjetivo numa Comparação entre Hegel e Schopenhauer). Essa derradeira parte da coletânea mostra um Salaquarda igualmente partícipe da discussão crítica acerca da relação entre Schopenhauer e o idealismo alemão, enfrentando, sob a ótica da resenha, o labiríntico percurso no qual se desenrola a discussão sobre a verdade a respeito da famigerada relação entre Schopenhauer e Hegel, detratado pelo primeiro como representante par excellence do filisteísmo próprio à filosofia universitária alemã.
Jörg Salaquarda, como filósofo e como homem, foi um dos seres humanos mais íntegros e magnânimos que conheci. Aqueles que já tiveram ocasião de entrar em contacto com seus textos, certamente fizeram também a inigualável experiência de aprendiza do com um pensador fecundo, com um mestre prenhe daquela rara virtude dadivosa que, com um profundo sentido de respeito pela individualidade de cada um, consegue a proeza de ser terno e generoso, com o rigor e a disciplina indispensáveis ao trabalho filosófico sério e comprometido.
Para todos os que o conhecem, mas também para quem somente agora entra em contacto com o maravilhoso universo intelectual de Salaquarda, essa coletânea é de um valor verdadeiramente inestimável. Num tempo em que também no Brasil o interesse pela obra de Schopenhauer e de Nietzsche revela um incremento efetivamente considerável, sob a forma de estudos especializados que se situam nos mesmos patamares de excelência do trabalho internacional de pesquisa tendo por objeto esses dois máximos representantes das modernas filosofias da vontade, a publicação de. A Interpretação do Mundo. Escritos de Jörg Salaquarda sobre Arthur Schopenhauer constitui um marco de importância fundamental.
Seria indubitavelmente de bom alvitre a iniciativa de traduzila para nosso idioma, em edição crítica que fizesse jus à grandiosidade do original. A iniciativa viria certamente ao encontro da demanda de um público leitor interessado não apenas em filosofia da melhor qualidade, mas também em teologia, ciências da religião, estética e ciências humanas em geral.
Oswaldo Giacoia Junior – Departamento de FilosofiaIFCH-Unicamp.
A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica – REPA (C-FA)
REPA, Luiz. A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica. São Paulo: Singular/Esfera Pública, 2008. Resenha de: MATTOS, Fernando Costa. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.15 Jan./Jun., 2010
A transformação da filosofia em Jürgen Habermas, de Luiz Repa, é um livro que anuncia no título o seu escopo mais geral: analisar as transformações por que passa, ao longo da obra de Habermas, a compreensão que este tem da filosofia. E o subtítulo, por seu turno – os papéis de reconstrução, interpretação e crítica –, indica desde logo as principais balizas desse caminho de transformação: essas três noções-chave, que se vão incorporando gradativamente ao conceito habermasiano, permitirão compreender o lugar da filosofia em seu pensamento, até pelo menos o final da década de 1990.
Com isso, Repa poderá chamar a atenção do leitor – e este é talvez um dos grandes méritos de seu livro – para a centralidade que a filosofia assume na obra do filósofo Habermas, tornando a princípio insustentáveis as acusações segundo as quais o “sociólogo” Habermas reduziria a filosofia a um mero apêndice das ciências sociais.1
Não há de ser fortuito, por sinal, que Luiz Repa inicie seu livro com uma citação d’ O discurso filosófico da modernidade em que Habermas se reporta à oposição kantiana entre os conceitos acadêmico e mundano de filosofia 2 : é um ótimo ponto de partida para quem quer explicar a posição filosófica habermasiana em termos propriamente filosóficos, extraídos daquele que seria, embora sem ter a consciência disso (segundo Habermas), o inaugurador do discurso filosófico da modernidade. A noção de “diagnóstico de época”, por exemplo, desde o princípio tão cara à teoria crítica, se deixaria explicar em associação com tal conceito mundano de filosofia, estando já em Kant, pois, a percepção da necessidade, colocada para todo filósofo autenticamente moderno (ou contemporâneo), de “filosofar” com os olhos voltados ao “mundo”, i.e. à sociedade humana em sua inscrição espácio-temporal. De outro lado, o conceito acadêmico de filosofia seguiria denotando a filosofia enquanto especialidade universitária, a qual pendeu cada vez mais, com o passar do tempo, a um estudo da história da filosofia que, embora rigoroso, tenderia a mostrar-se descompassado em relação ao momento presente.3
Essa menção inicial a Kant não tem por objetivo, evidentemente, o perfilamento de Habermas no pelotão dos filósofos modernos e contemporâneos, como se ele fosse apenas mais um sistema de pensamento. O que o impede de cair nessa armadilha é a outra filiação decisiva, mencionada por Luiz Repa na sequência: a tradição hegelo-marxista de crítica da ideologia, segundo a qual o papel da filosofia é essencialmente crítico, negativo, e não positivo.4 É certo que ela se pauta por um “interesse emancipatório” que já nos anos 1960 Habermas opunha aos interesses técnico (próprio das ciências da natureza) e prático (próprio das assim chamadas ciências do espírito), 5 mas esse, digamos, princípio regulativo só se deixa realizar na medida em que a filosofia se constitua por oposição aos discursos positivos que bloqueiam a possibilidade da emancipação.
Ao fazê-lo, porém – e aqui se mostra aquele que é, talvez, o grande paradoxo de toda filosofia após Hegel –, a filosofia não pode (como pareceu querer Adorno) ficar na mera negatividade: ela tem de construir, ou na verdade reconstruir, os padrões normativos racionais que, na realidade efetiva das transformações sociais, apresentaram-se associados à luta pela emancipação. Não é ao filósofo, nesse sentido, que cabe ditar, positiva e soberanamente (tal como faziam os filósofos clássicos), qual o caminho a seguir; é a própria sociedade quem deve indicá-lo, a partir de conflitos concretos em que os aspectos comunicativos da racionalidade buscam afirmar-se contra os meramente instrumentais.
Assim, a nova função do filósofo está ligada à capacidade de identificar, nessa reconstrução que faz da sociedade moderna, tanto os potenciais emancipatórios como os obstáculos que se apresentem à sua realização. Para identificá-los, contudo, ele necessita do instrumental teórico oferecido pelas ciências que, por meio de pesquisas empíricas, permitem tornar muito mais preciso aquele “olhar para o mundo” de que já o velho Kant nos falava e que, na tradução contemporânea, passou a denominar-se com frequência um “diagnóstico de época”. É por este viés, com efeito, que Luiz Repa nos permite compreender, com razoável clareza, a nada simples relação entre filosofia e ciência no pensamento habermasiano: o tal trabalho reconstrutivo que é agora exigido do filósofo passa tanto (1) pela identificação dos pressupostos normativos que, sob a forma de pretensões universalistas, constituem a base das lutas concretas pela emancipação (“reconstrução horizontal”) como (2) pela demonstração de como esses mesmos pressupostos puderam constituir-se sob condições empíricas (“reconstrução vertical”).
Nas palavras do próprio autor,
com a idéia de uma divisão de trabalho ‘não exclusivista’ entre filosofia e ciência, as reconstruções vertical e horizontal se implicam, de modo que, para a filosofia, resulta a possibilidade de se apoiar em estudos empíricos para o estabelecimento de suas pretensões de validade. Ou seja, articula-se uma concepção falibilista para as reconstruções filosóficas, a qual é contraposta a toda ideia de fundamentação última.6
De certo modo, estão dados aí os dois aspectos mais gerais do desafio teórico colocado para Habermas e, por extensão, para Luiz Repa na reconstrução do percurso trilhado pelo filósofo: a possibilidade de um apoio na empiria e o distanciamento das fundamentações últimas. São essas duas exigências, com efeito, que pautam tanto o diálogo de Habermas com seus críticos como as transformações conceituais com que ele responde a essas críticas: deixando de lado uma compreensão da filosofia como crítica da ideologia e da ciência – vista então como ideológica, na esteira da tradição marxista frankfurtiana 7 –, Habermas se verá forçado a ampliar a sua concepção de racionalidade, nos anos 1970, para dar conta dos potenciais emancipatórios que, segundo permitiam notar as ciências sociais de base empírica, estariam contidos no interior da própria evolução do sistema capitalista, da ciência e da técnica 8 – uma carência de seu pensamento para que críticos como Bubner haviam apontado.9 Em seguida, a presença de elementos ainda muito fortes, do ponto de vista da fundamentação filosófica, no interior da compreensão nascente de uma racionalidade – elementos como a “comunidade ideal de fala”, duramente criticada por Wellmer –, acabaria por conduzir Habermas a mitigar ao máximo os “elementos horizontais” de sua filosofia, falando de um “transcendental fraco” para contrapor-se a Karl-Otto Apel.10 E a sensível dificuldade de efetivar tal mitigação, por seu turno, acabaria por levá-lo a sofisticar ao máximo aquela relação entre as reconstruções horizontal e vertical dos pressupostos normativos da linguagem – linguagem cujo protagonismo, em função da influência da filosofia analítica, iria acentuar-se cada vez mais.
É na reconstituição desses deslocamentos habermasianos, assim, que Luiz Repa constrói o seu próprio percurso, alinhando os capítulos do livro aos sucessivos períodos e temas por que passou a compreensão habermasiana da filosofia e de sua relação com a ciência.11 Da “filosofia como crítica da ciência” (capítulo 1) à “filosofia como interpretação mediadora” (capítulo 4), passando por “um conceito complexo de racionalidade” (capítulo 2) e pela “filosofia como ciência reconstrutiva” (capítulo 3), somos levados a acompanhar e, em razoável medida, a compreender tanto as referidas transformações como a permanência de certos ideais metodológicos e o gradativo estabelecimento – basicamente, dos anos 1960 aos 80 – de uma posição a eles mais conforme: deixando para trás toda pretensão veritativa de um discurso filosófico positivo, quiçá capaz de fundamentar os pressupostos teóricos extraídos da linguagem por meio da reconstrução vertical, Habermas passaria a enfatizar o caráter falibilista de seu próprio discurso reconstrutivo, o qual buscaria equilibrar-se sempre entre os pontos de vista descritivo e normativo com vistas à elaboração de uma compreensão efetivamente crítica das sociedades modernas, pluralistas e pósindustriais.12
De certo modo, é essa a resposta tardia de Habermas à grande dificuldade da filosofia desde meados do século XIX (“somos contemporâneos dos jovens hegelianos”, diz ele na resposta a Henrich 13 ): entre o dogmatismo subjetivista com que ainda Kant, segundo ele, pretenderia acessar se não o mundo, pelo menos as estruturas últimas do sujeito transcendental, e o relativismo antirracionalista que sobretudo a partir de Nietzsche identificaria toda racionalidade à dominação, o transcendentalismo falibilista de sua filosofia reconstrutiva, maximamente ancorado nos movimentos sociais, de um lado (as tendências emancipatórias inscritas na própria efetividade), e nas pesquisas empíricas, de outro (as contribuições decisivas das ciências sociais ao novo discurso filosófico), permitiria resolver em nova chave o velho desafio kantiano de sair do dogmatismo sem cair no ceticismo (absoluto). Afinal, seria possível falar em pressupostos normativos sem conservar os fardos metafísicos da filosofia da subjetividade, e sem ceder inteiramente o terreno aos positivistas dogmáticos que, desconfiados de todo e qualquer pressuposto não verificável, enterrariam de vez as esperanças da filosofia.14
A saída é engenhosa, e o livro de Luiz Repa, bastante persuasivo. Não obstante, há questões que parecem teimar em persistir. Que o seu falibilismo, por exemplo, guarde estreito parentesco com a solução dada por Kant às idéias da razão e ao juízo reflexionante, é algo que o próprio Habermas não hesitaria em admitir. Ora! A depender da leitura que fizermos de Kant, contudo – enfatizando os elementos regulativos em detrimento dos constitutivos –, pode ser que a diferença se torne tão pequena que sejamos levados a questionar o alcance dessa aparente revolução copernicana a que Habermas, inspirado no modelo kuhniano de história da ciência, dá o pomposo nome de uma “mudança de paradigma”.15
É também discutível, nesse mesmo sentido, se a nova metafísica pretendida por Kant – e que, como se sabe, está longe de resumir-se à analítica transcendental – encaixa-se no conceito de metafísica que Habermas acredita ter sido ultrapassado no “pensamento pós-metafísico”.16 Se tivermos em vista as reflexões de Kant nos Prolegômenos, por exemplo, em que ele se põe a considerar o que será da metafísica no futuro, salta aos olhos o caráter meramente problemático e hipotético – leia-se falibilista – de uma série das ideias que serão centrais a esse novo saber. Note-se que também aqui não se trata de questionar a engenhosidade da solução habermasiana, mas apenas o seu grau de novidade e transformação paradigmática: a depender de como interpretemos o conceito de metafísica no cenário pós-kantiano, o que Habermas faz é radicalizar a problematicidade que desde o princípio marca esse conceito.17
Isso, de qualquer modo, se estiver correto o peso dado por Luiz Repa à filosofia, por meio dos conceitos de reconstrução, interpretação e crítica, no interior do pensamento de Habermas.
Pois caso se reduzisse esse peso, como querem alguns, haveria o risco nada pequeno, apontado também por Dieter Henrich, de a filosofia ver-se engolida pelas ciências sociais empíricas e contaminada pelo positivismo destas últimas. Mas neste ponto parece acertada a insistência de Repa em assinalar a “dependência recíproca” em que Habermas enxerga as relações entre a filosofia e as ciências:
Quanto mais houver uma cooperação feliz entre ciência e filosofia, tanto mais poderemos, na esfera do discurso teórico, ter razões para aceitar – ainda que por enquanto – propostas teóricas fortemente universalistas. O que surge não é, entretanto, uma dependência da filosofia em relação à ciência, mas uma “dependência recíproca”, uma vez que as ciências reconstrutivas de tipo experimental (…) precisam, por sua vez, das abordagens reconstrutivas filosóficas como uma espécie de medida de processos evolutivos.18
Resta saber, naturalmente, se de fato funcionam assim, em regime de “cooperação feliz”, as relações entre as ciências e a sua “ex-mãe”. Antes disso, porém, é preciso entender melhor o modo como o próprio Habermas as enxerga. E o livro de Luiz Repa, quanto a isso, nos indica certamente um bom caminho.
Notas
1.Entre tais acusações, valeria destacar aquela que é feita por Dieter Henrich no artigo “O que é metafísica? O que é modernidade? Doze teses contra Jürgen Habermas”. in: Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n. 14, p 83-117, jul.-dez,.2009.
- REPA, L. A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica. São Paulo: Singular/Esfera Pública, 2008, p. 13.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, p. 15.
5 Idem, p. 14.
6.Idem, p. 17.
- Idem, pp. 76 e ss.
- Idem, pp. 85 e ss.
- Idem, p. 71 (nota 151).
10.Idem, p. 166 e ss.
11 Cf. idem, p. 229.
12 Idem, p. 175.
13 HABERMAS, J. “Retorno à metafísica – uma recensão”. In: _____. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002 (2ª.ed.), p. 269.
14 REPA, L.A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica, p. 217 e ss.
- É o que faz Dieter Henrich em “O que é metafísica? O que é modernidade”?”. Henrich, D. “O que é metafísica? O que é modernidade?”. In: Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n. 14, p. 101-3.
- Cf. HABERMAS, J.Pensamento pós-metafísico, p. 14-5.
- Cf. =ies, C. Der Sinn der Sinnfrage. Metaphysische Reflexionen auf kantianischer Grundlage. Munique: Alber, 2008, pp. 58-65.
- REPA, L. A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica, p. 177
Fernando Costa Mattos – Doutor em filosofia pela USP, desenvolve atualmente pesquisa de pós-doutorado, com bolsa da FAPESP, junto ao Núcleo Direito e Democracia do CEBRAP.
Arte e Filosofia no Idealismo Alemão – WERLE; GALÉ (C-FA)
Marco Aurélio Werle; Pedro Fernandes Galé (Orgs). Arte e Filosofia no Idealismo Alemão. São Paulo: Barcarolla, 2009. Resenha de: VIDEIRA, Mario. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.15 Jun./Dez., 2009.
“A arte […] consegue para a intuição justamente aquilo que a mais alta filosofia consegue através da especulação”1
Numa carta de 06 de janeiro de 1795, Schelling escreve a Hegel: “A filosofia ainda não chegou ao final. Kant deu os resultados: faltam ainda as premissas”. E conclui: “Nós precisamos seguir adiante com a filosofia!”.
Um dos principais problemas herdados pelos filósofos póskantianos foi o da passagem entre filosofia teórica e filosofia prática. A exigência do incondicionado, indicada por Kant no § 76 da Crítica do Juízo foi profundamente sentida pelos pensadores pós-kantianos, para os quais o problema do Absoluto se resolveria, de certa forma, no âmbito da arte.
Desde o chamado “O mais antigo programa de sistema do Idealismo Alemão” já se indicava que a unificação entre teoria e prática deveria ser efetuada através da beleza:
Por último, a Idéia que unifica tudo, a Idéia da beleza, tomada a palavra em seu sentido superior, platônico. Pois estou convicto de que o ato supremo da Razão, aquele em que ela engloba todas as Idéias, é um ato estético, e que verdade e bondade só estão irmanadas na beleza. O filósofo tem de possuir tanta força estética quanto o poeta. Os homens sem senso estético [ästhetischen Sinn] são nossos filósofos da letra. A filosofia do espírito é uma filosofia estética […]
A poesia adquire com isso uma dignidade superior, torna-se outra vez no fim o que era no começo – mestra da humanidade ; pois não há mais filosofia, não há mais história, a arte poética sobreviverá a todas as outras ciências e artes.2
A união entre necessidade e liberdade, a passagem entre filosofia teórica e prática será consumada por meio da arte. Para alguns autores, a arte fornece de maneira imediata – isto é, através de uma intuição estética – aquilo que, no âmbito da teoria só pode ser concebido como uma “aproximação infinita”. No “Sistema do Idealismo Transcendental” (1800) de Schelling, o belo será considerado como sendo o infinito exposto finitamente [ das Unenedliche endlich dargestellt ]. Para ele, a intuição estética nada mais é do que a intuição intelectual que se tornou objetiva: “aquilo que para o filósofo já se divide no primeiro ato de consciência, e que é, de outra forma, inacessível a qualquer intuição, resplandece através do milagre da arte, a partir de seus produtos”3 Daí a tese, defendida por Schelling, de que a arte seria o único e verdadeiro órganon e, ao mesmo tempo, o documento da filosofia.
A partir dessas considerações pode-se perguntar: como foi possível que a arte alcançasse essa autonomia e dignidade? De que maneira a arte representa, a partir desse momento, um campo privilegiado para a afirmação do absoluto? Estas são algumas das questões investigadas na coletânea de ensaios intitulada “Arte e filosofia no Idealismo Alemão” que acaba de ser publicada pela Editora Barcarolla. Esse livro é resultado do colóquio internacional “Estética no Idealismo Alemão”, promovido pelo Departamento de Filosofia da USP em outubro de 2007, e reúne nove textos de importantes pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
Como os organizadores ressaltam logo na introdução ao volume, o livro não pretende ser uma apresentação sistemática de todos os temas do Idealismo Alemão. Ao invés disso, procura-se tratar a estética desse período “como uma questão aberta, sobretudo como um desafio ao pensamento e que comporta diferentes enfoques” (p. 11). Com efeito, a variedade de enfoques e temáticas dos ensaios dão uma mostra da complexidade das relações entre arte e filosofia no Idealismo, que é certamente um dos períodos mais ricos da filosofia alemã. Os ensaios concentram-se principalmente no exame das filosofias de Kant, Schelling e Hegel. No campo da literatura, o autor-chave é Goethe.
A temática do gênio, central para a reflexão filosófica do período, é examinada num ensaio do professor Ubirajara Rancan de Azevedo. Trata-se de um estudo bastante específico, que por meio do confronto com outros textos de Kant (como alguns fragmentos das Preleções sobre Antropologia ), busca examinar a definição kantiana do gênio como “inata disposição de ânimo (ingenium) pela qual a natureza dá regra à arte”, tal como exposta no § 46 da Crítica do Juízo. A temática da experiência estética em Kant e Schiller é examinada num ensaio de Christian Hamm, que procura mostrar em que pontos a concepção schilleriana difere da kantiana e como “a instauração da nova perspectiva estética implica alterações absolutamente essenciais em quase todos os componentes da constelação original kantiana”, como por exemplo, na função sistemática do juízo (p. 72). Além disso, Hamm mostra de que maneira a interpretação (moral) da atividade estética do sujeito permite a Schiller o desenvolvimento de sua proposta de uma educação estética do homem.
A relação entre monismo e filosofia da arte em Schelling é estudada num excelente artigo de Christian Klotz, que examina a teoria da forma de representação simbólica exposta particularmente na parte geral das preleções sobre Filosofia da Arte (1804/05).
Klotz defende a tese de que essa teoria seria uma transformação da concepção kantiana de idéia estética, motivada pelo ponto de vista monista de Schelling (p. 107). Além disso, Klotz procura mostrar de que maneira as transformações da estética kantiana levadas a cabo por Schelling, de certa forma, podem ser consideradas como uma antecipação de elementos da estética de Hegel.
O artigo de Eduardo Brandão procura traçar alguns paralelos entre as filosofias de Schelling e de Schopenhauer, a partir da noção de “ideia”. Segundo Brandão (p. 15), o Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer “repõe no interior da metafísica da Vontade o problema clássico que se arma em torno da noção de ideia e que é enfrentado por Schelling”.
A filosofia de Hegel é trabalhada nos ensaios de Javier Dominguez Hernández, de Klaus Viehweg e de Marco Aurélio Werle. O professor Klaus Viehweg examina a superação da orientalidade e do classicismo pela arte moderna, bem como o tema do “fim da arte” na Estética de Hegel. Um ponto interessante para o qual Viehweg chama a atenção do leitor é a atualidade da filosofia de Hegel. Segundo ele (p. 159), Hegel “fixou linhas fundamentais, forneceu alicerces sobre os quais uma filosofia da ar te atual pode ser construída”. O tema do caráter pretérito da arte em Hegel é examinado também no artigo de Javier Hernández. Segundo ele, a definição da arte levada a cabo por Hegel é feita a partir de sua tarefa na formação do espírito e cultura humanos. Dessa forma, a função histórica da arte na cultura moderna não seria t anto de conteúdo, ou seja, “não se trata de uma formação substancial ( substantielle Bildung ), mas sim de uma formação formal ( formelle Bildung )” (p. 84). Tal como Viehweg, também Hernández critica uma interpretação classicista da estética de Hegel, que impede que se perceba “a atualidade de suas exposições” (p. 90). O artigo de Marco Aurélio Werle explora o tema da subjetividade artística em Goethe e Hegel. Partindo de uma análise do final da primeira parte dos Cursos de Estética (mais especificamente, do subcapítulo sobre o artista ), Werle defende que Hegel dialoga com Goethe e o toma como referência central em sua argumentação, de modo que Goethe seria, de certa forma, o protótipo da subjetividade para Hegel. Segundo Werle, “Goethe se apresenta, para Hegel, como um exemplo acabado da única possibilidade que resta para a arte na época moderna: seguir a via da interioridade subjetiva e reflexiva, priorizar os desdobramentos autônomos do sujeito em suas manifestações” (p.188).
Se Werle examina principalmente exemplos da produção lírica de Goethe nesse confronto com a estética de Hegel, o professor Vinícius de Figueiredo analisa o romance Os sofrimentos do jovem Werther, procurando assinalar um ponto de contato entre essa obra e a primeira Crítica de Kant. Segundo ele, “tanto Goethe quanto Kant edificam um modelo de crítica da positividade, que se legitima pelas prerrogativas literárias e especulativas atribuídas à indeterminação – seja do narrador, como no caso do Werther, seja da atividade reflexiva, como no caso da Terceira Seção da Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura ” (p. 39).
Também o artigo escrito por Franklin de Matos está voltado para uma análise do Werther. Mas aqui, o foco está mais no exame da forma literária adotada por Goethe, a saber: o romance epistolar, tão em voga no século XVIII. Matos compara as soluções adotadas por Goethe com aquelas adotadas por autores como Montesquieu, Rousseau e Laclos, e mostra de que maneira a forma d o romance epistolar seria a fórmula romanesca que mais se aproxima do drama pois, excetuando-se os prefácios, advertências ou notas de um editor fictício, são os próprios personagens que toma m a palavra.Por meio de uma análise exemplar, concisa e elegante, Franklin de Matos aponta a “notável destreza” de Goethe ao lidar com “as faces lírica e narrativa do gênero epistolar” (p. 147).
Através deste breve resumo da temática trabalhada em cada um dos capítulos, pode-se notar que os mesmos constituem uma contribuição valiosa para a compreensão de aspectos relevantes desse período decisivo da filosofia alemã. Embora o nível de detalhamento de alguns dos ensaios possa torná-los potencialmente mais úteis para os especialistas na área, parece-nos que o livro como um todo também pode ser de grande interesse para um público mais amplo, especialmente no que diz respeito ao exame das conexões entre a filosofia e a literatura.
Notas
1 SCHLEGEL, A. W. Die Kunstlehre. Hg. E. Lohner. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1963, p. 72.
- SCHELLING, F.W.J. Obras escolhidas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1984, pp. 42-3.
3.SCHELLING, F. W. J. Ausgewälhte Schriften I. Frankfurt-am-Main.: Suhrkamp, 2003, p. 693.
Referências
SCHELLING, F.W.J. Obras escolhidas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
_____.Ausgewälhte Schriften I. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 2003.
SCHLEGEL, A. W.Die Kunstlehre. Hg. E. Lohner. Stuttgart: W.
Kohlhammer, 1963, p. 72.
Mario Videira Doutor em Filosofia (FFLCH-USP)
Viagem de um alemão à Itália – MORITZ (C-FA)
MORITZ, Karl Philipp. Viagem de um alemão à Itália. Tradução, introdução e notas de Oliver Tolle. São Paulo: Humanitas – Imprensa Oficial, 2008. Resenha de: NASCIMENTO, Luís F. S. Uma Itália em alemão. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.14, Jun./Dez., 2009.
Publicado entre os anos de 1792 e 1793, a Viagem de um alemão à Itália de Karl Philipp Moritz ganhou recentemente uma bela versão em português, feita por Oliver Tolle. Se não informa tudo, o título deste volume diz algo importante acerca de seu conteúdo e do modo como ele é apresentado: estamos diante da obra de alguém que, desde o início, assume a posição de um estrangeiro. Sabemos que Moritz não é o primeiro nem o último que se encanta por esse lugar : Shaftesbury, Winckelmann, Herder, Goethe1, Nietzsche e tantos outros, a lista de artistas, eruditos e literatos “estrangeiros” que viveram, escreveram ou refletiram sobre a Itália parece infinita. Por que, podemos sempre nos perguntar? Qual é o motivo desse encanto? O que tem o solo italiano que tanto fascina e faz com que os habitantes de outros países se interessem por ele? Sua beleza, ou antes, a beleza que ele nos permite vislumbrar, respondemos de pronto. Se é assim, então em que medida a visão da beleza da Itália que Moritz pretende nos apresentar já pressupõe o fato de ela ser contemplada por um olhar estrangeiro? Escrito em uma forma que lembra a do diário, o livro é composto de várias notas que por vezes registram a data em que foram compostas.
Na expressão do tradutor da edição brasileira, são fragmentos organizados por rubricas, tais como Pérsio, Os arabescos na loggia de Rafael, Alegoria, Michelangelo etc. Em uma dessas partes de seu livro, denominada O belo é uma língua mais elevada, Moritz nos diz o seguinte:
Onde a harmonia do todo recebeu um nome, ali foi desvelado o belo; o nome podia ser Apolo, Júpiter ou Minerva; o belo podia elevar-se suavemente na coluna coríntia ou causar a impressão de resistir, com força rochosa, à pressão do alto na coluna dórica; ele podia se revelar na constituição delicada dos membros da beleza feminina mais elevada ou no peito e nas costas de um Hércules. (p.160, destaques nossos)
Todas as vezes em que uma certa variedade de elementos se apresenta como sendo uma unidade, onde quer que se ofereça “nos objetos mais diversos um ponto de vista principal para o todo” (p.187), há aí o que Moritz chama de belo. A beleza pode se manifestar de modos distintos e ganhar vários nomes: Apolo, Júpiter, Minerva ou Hércules são exemplos desses lugares ou momentos nos quais a beleza “se desvela”, como dizia Moritz no trecho acima citado. Cada um deles pode ser dito belo na medida em que são totalidades nas quais as partes formam um único e mesmo todo – uma “multiplicidade na unidade” (p. 10). Pois bem, se é verdade que o nome Itália é ele mesmo uma totalidade que unifica um certo número de elementos diversos, se podemos conferir ao solo italiano o atributo belo, então é lícito perguntar: como pensar a multiplicidade que esse nome (Itália) encerra? O que nos levaria a uma segunda indagação: qual seria o “ponto de vista” que possibilitaria a visão da união das partes que formam esse todo?
Com relação à primeira questão, podemos dizer que de um modo geral o livro de Moritz nos apresenta três “Itálias” que se complementam e formam uma só: a antiga, a renascentista e a do final do século XVIII. Por todo o seu texto vemos aproximações e diferenças entre um passado longínquo, um outro mais recente e o presente. Se em alguns momentos Moritz afirma não haver da Antiguidade “mais nenhum vestígio” (p. 103), em outros nos lembra que a Roma antiga vive em provérbios repetidos por italianos setecentistas, tais como “ ‘Il Romano non é vinto, se non é sepolto’, ‘o romano só é sobrepujado pelo túmulo’” (p. 194) ou quando as mulheres dessa cidade dizem: “ ‘Io sono Romana!’” e, assim, “tal como as antigas romanas, elas conservam a sua cabeça erguida” (p. 219). Muitas coisas mudaram na Itália ao longo dos séculos, mas essa mudança que brota de suas ruínas continua a expressar, a partir de diferentes nomes, a mesma unidade: Marcial, Rafael, Michelangelo, Ticiano, assim como a descrição das cidades, ruas e costumes de outrora e de hoje podem ser vistos como diferentes imagens ou partes de uma mesma beleza chamada Itália.
Entender essa dinâmica que liga em um todo elementos distintos e, sob certos aspectos, opostos, é condição sem a qual não se pode compreender o que torna esse país belo:
Das ruínas brotou a figueira selvagem e, por meio do seu crescimento ininterrupto, ela separa uns dos outros os encaixas mais firmes.
Mas mesmo com esse crescimento a vista das ruínas é pictórica e bela – e constitui o mais encantador contraste ver b rotar o verde mais jovem das pedras modernas e das fendas da muralha caída, lançando suas sombras sobre esses restos veneráveis da Antiguidade; e o pintor de paisagens encontra aqui sempre uma colheita rica, pois vê unificado na natureza aquilo que a imaginação mais viva não poderia reunir de modo tão romântico. (p. 137, grifo nosso).
A questão agora é: o que é preciso para que se chegue a esse olhar ? O que temos de fazer para ascender a essa posição capaz de ver a mais harmônica das combinações em um conjunto tão díspar de elementos, tal como uma paisagem que reúne antiguidade e modernidade, arte, imaginação e natureza? Um trecho no qual Moritz comenta a beleza do trabalho de Ticiano é bastante esclarecedor a esse respeito:
Para considerar, contudo, uma pintura de Ticiano em sua beleza, o olho deve primeiro se acostumar a ser inteiramente olho, a se comportar com passividade, a não espreitar e não investigar demasiadamente, mas permitir que a impressão do todo atua gradualmente sobre si, a fim de que se procure o belo, que está aqui imediatamente diante dos olhos, não muito longe da fantasia ou mesmo do pensamento./ Para cada obra autêntica deve-se despertar primeiro uma espécie de sentido mais alto, e certamente é falso afirmar que é uma prova do belo autêntico agradar tanto à massa ignara quanto ao especialista, mostrando o seu efeito logo ao primeiro olhar. (p.35, grifo nosso)
Há algo de paradoxal no trecho acima e que, por sua vez, mostra a complexa atividade do modo como Moritz pensa a contemplação da beleza. Se, desde o primeiro momento, a totalidade do objeto belo está dada diante dos olhos, isso não exclui um trabalho ou atividade que busca acomodar o olhar àquilo que ele julga. Nesse sentido, a tarefa é a de procurar ou desvendar o que já é evidente, o que significa aprofundar-se no conhecimento das relações que fazem do belo uma evidência. Em outras palavras: o olho não deve passar a ver outra coisa quando investiga o objeto que tomou como belo, ele apenas o vê melhor à medida que se acostuma a se r olho e se acomoda ou se familiariza à beleza que contempla:
O colorido de Ticiano não surpreende propriamente, mas exerce muito mais uma atração suave – e apenas quando contemplado com maior demora descobre-se a riqueza e a diversidade infinita no simples. (p. 35, grifo nosso)
Talvez encontremos aqui o ponto de vista pelo qual seria possível desvendar alguns dos infinitos elementos que tornam a Itália tão simples e interessante quanto bela aos olhos de um Moritz: trata-se daquela visão que identifica na beleza de seu objeto uma atração suave que não a surpreende por completo, mas que ainda assim a fascina, pois sabe que há ali segredos a serem desvendados e, nesse sentido, alguma estranheza capaz de manter sua atenção. Daí a importância de se ater às diferenças e às diversidades: elas confirmam e enriquecem a unidade. É curioso notar como em alguns momentos dessa obra a multiplicidade de aspectos a partir dos quais Moritz apresenta a sua Itália acaba por compreender a Alemanha. Ao comparar provérbios italianos com ditos alemães, quando estabelece relações entre os modos de pensar e falar dos dois povos, o autor põe lado a lado o olho e o seu objeto: nesse instante, o seu ponto de vista estrangeiro e a paisagem italiana que ele admira são elementos complementares. Por certo, as estranhezas e as diferenças entre esses dois pólos persistem, mas já temos aqui alguma unidade, o suficiente para que se possa descrever, julgar ou apresentar ( darstellen ) uma Itália em alemão.
Nota
1 Vale lembrar, como faz o tradutor da versão brasileira, que Moritz conheceu Goethe e Herder na Itália
Luís F. S. Nascimento – Professor do Departamento de Filosofia da UFSCar.
Shakespeare, o gênio original – SÜSSEKIND (C-FA)
SÜSSEKIND, Pedro. Shakespeare, o gênio original. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008). Resenha de: CHAVES, Ernani. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.13 Jan./Jun., 2009
O título deste livro, à primeira vista, é enganador. De imediato, podemos simplesmente pensar que seu assunto é Shakespeare. Apenas o leitor mais afeito às questões de filosofia da arte prestará atenção ao que segue no título: não se trata apenas de mais um estudo sobre o grande dramaturgo inglês (o maior em língua inglesa, diz-se; o maior dentre todos em todos os tempos, também se costuma dizer), mas de um estudo a partir de uma certa perspectiva, a da questão do gênio, e, mais ainda, a partir de uma concepção bem precisa de gênio, a do gênio “original”. Ora desfeito o engano, as coisas ficam bem interessantes, uma vez que é necessário perguntar, obviamente, o quem vem a ser um “gênio original”.
Responder a essa pergunta significa situar filosófica e historicamente a questão do gênio, conceito que Pedro Süssekind reconstrói, conduzindo-nos com isso para o interior de uma discussão fascinante, muito bem localizada no tempo e no espaço: trata-se, acima de tudo, de uma questão alemã, capítulo fundamental da história da reflexão filosófica sobre as artes nos séculos XVIII e XIX; trata-se, de fato, da grande contestação, iniciada por Lessing, do modelo erigido pelos franceses, em especial por Corneille e Racine, e que dizia respeito às regras que deveriam presidir a atividade de qualquer dramaturgo que quisesse ser reconhecido por sua excelência.
Do ponto de vista do classicismo francês, apesar de uma ou outra modificação, Aristóteles teria dado à posteridade, em sua Poética, o maior de todos os presentes: os elementos a partir dos quais se poderiam construir as regras a serem obedecidas tendo em vista a perfeição. Nesta perspectiva, “gênio” e “engenho” se complementam, ou seja, o gênio se caracteriza pelo total e absoluto domínio de uma técnica específica, que segue obedientemente as normas estabelecidas para distinguir a boa da má tragédia e, por conseguinte, o que é belo e elevado por oposição ao que é feio e decaído. Dessa maneira, o classicismo francês dá continuidade a uma interpretação iniciada ainda na Renascença, período histórico em que a Poética é redescoberta. Assim sendo, as teorias normativas da arte “associavam o talento a uma técnica apurada, a uma perícia de execução, à realização de uma obra sem erros, equilibrada e arduamente alcançada” (pp. 7-8).
O movimento pré-romântico alemão, também conhecido por Sturm und Drang e antecedido por Diderot e Lessing, marca uma ruptura em relação a esse quadro, já na segunda metade do século XVIII, ao defender a liberdade, a espontaneidade na criação e, com isso, também a possibilidade de transgressão das regras, visando os efeitos causados pelas obras de arte. O poeta, liberto da escravidão às regras e normas, será valorizado agora por sua “originalidade”; o talento, desse modo, tornar-se-á superior à técnica e o efeito alcançado pelas obras, às regras. Questão que ganhará, no campo da filosofia, sucessivas elaborações, cujo marco inicial é, sem dúvida, a “3ª. Crítica”, de Kant.
É no interior desse debate que a obra de Shakespeare desempenha o papel principal, pois o bardo inglês será tomado como modelo alternativo às tragédias francesas. Pedro Süssekind, com elegância e precisão, descortina ao leitor seu impacto sobre os eruditos alemães, a fervorosa admiração, poderíamos mesmo dizer, que passam a nutrir por Shakespeare e que um francês, Diderot, já expressara com todas as linhas no verbete “Gênio” da Enciclopédia, onde Shakespeare é considerado um “verdadeiro deus dramático” (p. 67). Em Shakespeare, dizia Herder, a originalidade da criação artística atingirá seu ponto mais alto, pois nele “o novo, o primacial, o de todo diverso mostra a força inata de sua vocação” (p.68).
Tal admiração, entretanto, permite também a crítica e o distancia mento (como é o caso em alguns textos de Schiller, por exemplo, e também de Goethe), mas sem abalar radicalmente essa espécie de veneração. Considerar Shakespeare como o Sófocles moderno, igualar “Hamlet” ao “Édipo Rei” consistiu, sem dúvida, no ponto culminante desse processo, do qual nem mesmo Nietzsche escapou. Lembro apenas, en passant, o aforismo 240 de Aurora.
O livro de Pedro Süssekind é de um rigor exemplar. Rigor no trato com as fontes, na mobilização dos intérpretes e comentado res, na indicação ao leitor brasileiro de textos que passariam facilmente despercebidos. É o caso, por exemplo, do artigo de Walter Benjamin sobre Goethe (escrito entre 1926 e 1928), na verdade um verbete que deveria ser publicado numa Enciclopédia russa e que foi recusado. Rigor exemplar porque se trata de um livro muito bem escrito, fluente, na contracorrente da idéia de que um texto filosófico é necessariamente hermético e esotérico, escrito para iniciados. Ele pode, assim, atingir um público diversificado e não apenas um público acadêmico. Mas ambos, o público mais amplo e aquele especializado e exigente, certamente ganharão muito com a leitura desse livro.
Ernani Chaves Departamento de Filosofia. Universidade Federal do Pará.
Filosofia Alemã | USP | 1996
Organizada pelo Grupo de Filosofia Crítica e Modernidade (FiCeM), um grupo de estudos constituído por professores(as) e estudantes de diferentes universidades brasileiras, a revista Cadernos de Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade (ISSN 2318-9800) é uma publicação semestral do Departamento de Filosofia da USP que, iniciada em 1996, pretende estimular o debate de questões importantes para a compreensão da modernidade.
Tendo como ponto de partida filósofos(as) de língua alemã, cujo papel na constituição dessa reflexão sobre a modernidade foi – e ainda é – reconhecidamente decisivo, os Cadernos de Filosofia Alemã não se circunscrevem, todavia, ao pensamento veiculado em alemão, buscando antes um alargamento de fronteiras que faça jus ao mote, entre nós consagrado, da filosofia como “um convite à liberdade e à alegria da reflexão”.
Periodicidade semestral
Sob a licença Creative Commons Non Commercial – Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Acessar resenhas
Acessara dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos