Posts com a Tag ‘Ditadura’
Menos Marx, Mais Mises: o liberalismo e a nova direita no Brasil | Camila Rocha
Camila Rocha | Imagem: Diplomatic
Menos Marx, mais Mises: o liberalismo e a nova direita no Brasil, de Camila Rocha, resulta da pesquisa de doutorado em Ciência Política, desenvolvida na Universidade de São Paulo/USP e defendida em 2018. A pesquisa ganhou os prêmios de Tese Destaque USP no âmbito das Ciências Humanas e melhor tese pela Associação Brasileira de Ciência Política. Em 2021, após adaptações na estrutura e na linguagem, com vistas a atingir a comunidade leitora não especializada, o trabalho foi publicado pela editora Todavia.

Por uma Revisão Crítica – Ditadura e Sociedade no Brasil | Denise Rollemberg e Janaína Cordeiro
Poucos temas têm ganhado tanto espaço na academia e na mídia quanto o negacionismo. As razões para isso são óbvias, é claro, bastando olharmos para a situação de calamidade nacional em que nos encontramos para entendermos a extensão dos males que o negacionismo pode acarretar à sociedade. Dentre os tantos negacionismos com que temos que lidar, o negacionismo histórico acerca da ditadura instaurada no país em 1964 se mostrou um dos mais fecundos e corriqueiros, tornando-se “senso comum” em sites e perfis em redes sociais que alimentam “certos” grupos no aplicativo WhatsApp.
O negacionismo da ditadura ressoou recentemente nas declarações de dois ministros de Estado que, chamados a depor no Congresso, externaram de forma indiferente suas crenças. O ministro da Defesa, general Braga Netto, afirmou que não considera ter havido ditadura e que, “Se houvesse ditadura, talvez muitas pessoas não estariam aqui” (MENDONÇA, [2021]). Já o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretária-geral, afirmou que o uso do termo ditadura é puramente de ordem semântica, preferindo a expressão “regime militar de exceção, muito forte” (GULLINO, [2021]). Em ambos os casos, não se contesta a “força” do regime, mas se argumenta que ela seria necessária diante do contexto da Guerra Fria, e que o Congresso operava “normalmente”, o que caracterizaria a democracia. Para além de um entendimento simplista de democracia, nega-se, dessa forma, fatos e eventos que estavam no centro da ruptura da ordem democrática e da legitimidade do regime quando do golpe de 1964. Nega-se, por exemplo, o respaldo democrático do governo Goulart,2 além de se negar a desfiguração do próprio Congresso, as cassações, perseguições e exílios, a violência e a repressão que impossibilitavam atuações políticas plenamente democráticas. Leia Mais
¿Cómo se enseña la última dictadura a los jóvenes? Experiencias de transmisión del pasado reciente en una escuela de la ciudad de La Plata | Viviana Pappier
- Me gusta que aparezcan las continuidades y los nietos que van apareciendo, que se vaya completando la historia.
A. Que se vaya completando y que nos metamos en la historia porque tiene que ver con nosotros.
D. ¿Cómo les parece que se puede representar esta idea de que no está cerrado?
A. Un espiral…
O Sindicato que a Ditadura queria: o Ministério do Trabalho no governo Castelo Branco (1964-1967)
A autora de O Sindicato que a Ditadura queria é Heliene Nagasava. Servidora do Arquivo Nacional desde 2008, ela atua na organização e pesquisa dos acervos ligados à História do Brasil Republicano, destacando-se no trabalho com os arquivos da repressão. Sua atuação no Arquivo Nacional, somado ao engajamento no Laboratório de Estudos da História do Mundo do Trabalho (LEHMT/UFRJ) e em projetos ligados à Comissão Nacional da Verdade (2012-2014), traça o lugar social da investigação histórica aqui analisada. O livro é resultado de dissertação de mestrado, orientada por Paulo Fontes (UFRJ), e defendida no Centro de Pesquisa e Documentação de História do Brasil Contemporâneo (CPDOC-FGV).
A pesquisa articula a intenção de revelar e utilizar os acervos da história recente do país, a contraposição das memórias das elites políticas do governo Castelo Branco (1964-1967) com os arquivos da repressão, e a compreensão da história social dos trabalhadores na ditadura. A análise estrutura-se em três capítulos: o primeiro compreende passagem de Arnaldo Sussekind como ministro do trabalho (1964-1965) e os embates com os trabalhadores; o segundo analisa a repressão feita nos sindicatos a partir do Ato Institucional nº 1; o terceiro enfoca as medidas tomadas pelos ministros do trabalho Peraccchi Barcelos e Nascimento e Silva. No panorama da história política do Brasil República e da história social dos trabalhadores, o livro e pesquisa deslocam o enfoque dado ao Ministério do Trabalho nas décadas de 1930 e 1940 para o período da ditadura civil-militar. Leia Mais
La Transición española y sus relaciones con el exterior | Mónica Fernández Amador e RAfael Quirosa-Cheyrouze Muñoz
Si tuviera que definirse este trabajo con sólo una palabra, esta sería necesario. Se trata de un estudio que muestra la realidad del periodo histórico denominado transición a la democracia española, y que además presenta la realidad de esta etapa vista desde la perspectiva internacional, analizando para ello diferentes aspectos que permiten extrapolar a un contexto más amplio del habitual lo acaecido entre 1976-1983 en España.
La obra coordinada por Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz reúne, tras el texto escrito por ambos y utilizado como investigación introductoria, doce capítulos firmados por investigadores, historiadores de prestigio y personalidades reconocidas vinculadas por su profesión con el proceso democratizador en España. La mayor parte de los investigadores pertenecen a universidades españolas, pero a sus aportaciones se unen los trabajos de miembros de instituciones homólogas de países como Alemania, Francia o Portugal. Todos ellos con amplia y especializada trayectoria en publicaciones históricas y en el campo de la Historia del Tiempo Presente. Leia Mais
…como se fosse um deles: almirante Aragão – Memórias, silêncios e ressentimentos em tempos de ditadura e democracia
Obra de cunho histórico-biográfico, publicada no ano de 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, na categoria biografia, em 2018. Seu autor, Anderson da Silva Almeida, sergipano, marinheiro entre os anos de 1996 e 1999, e sargento fuzileiro naval de 1999 a 2010, quando deixou as fileiras da Marinha do Brasil, é hoje professor na Universidade Federal de Alagoas.
Resultado de sua pesquisa de doutorado, cuja Tese foi defendida em 2014, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), o livro é uma contribuição no sentido de, em um quadro atual de franca disputa de memórias em torno de fatos e contextos históricos que tocam o passado ditatorial recente do Brasil, reconstruir a trajetória do vice-almirante fuzileiro naval Cândido da Costa Aragão, sobretudo a partir de seu ingresso como soldado nas fileiras da Marinha do Brasil, com ênfase nos contextos em que esteve inserido desde os anos iniciais da década de 1960, passando pela associação de marinheiros e fuzileiros navais e o golpe civil-militar em 1964, até seu regresso do exílio, no ano de 1979. Leia Mais
State violence, torture, and political prisoners: on the role played by Amnesty International in Brazil during the dictatorship (1964-1985) | Renata Meirelles
Renata Meireles | Fotomontagem: RC/coldwarbrazil.fflch.usp.br

A grande mudança aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, e mais intensamente ao longo da Guerra Fria, quando, nos anos 1970, a política internacional transformou-se em disputa pelo que então se queria entender por emancipação humana, ou por conquista de novas liberdades, quer no sentido anticolonial, quer no sentido da democracia repensada, restaurada, ampliada. A novidade do conceito de direitos humanos estava no ato de se acreditar que era mesmo possível agir-se para a elevação política e moral da humanidade, sem as limitações das fronteiras nacionais, se intervindo nos Estados de forma que seus governos, criticados externamente, respondessem por seus atos e promovessem mudanças positivas. Leia Mais
Los más ordenaditos. Fascismo y juventud en la dictadura de Pinochet | Yanko González Cangas
Los más ordenaditos. Fascismo y juventud en la dictadura de Pinochet es el título del nuevo libro del antropólogo Yanko González. En este, el autor realiza un estudio detallado, a partir del trabajo etnográfico y de fuentes, sobre el proceso de fascistización al régimen institucional de Augusto Pinochet que vivieron los jóvenes derechistas chilenos. En consecuencia, González busca comprender y reconstruir, desde la memoria de los protagonistas, la producción de subjetividades, experiencias juveniles y generacionales vinculadas a las juventudes de Estado de Pinochet y Jaime Guzmán.
En su “Introducción”, González plantea que la dictadura tuvo desde sus inicios la misión de organizar a los jóvenes para que fuesen agentes que la apoyaran y perpetuaran, buscando así formar “juventudes leales” al régimen. A través de la pregunta ¿Cómo cambia la formación identitaria con 1973? El autor explica que, una vez ocurrido el golpe de Estado, Pinochet, y sobre todo Guzmán, simpatizante del franquismo e inspirado en este, articularía la fascistización de la juventud. El concepto hace referencia a un proceso inacabado, capaz de aprehender elementos menos mutables del fascismo y resignificarlos bajo la institucionalidad vigente en aspectos políticos, socioculturales y económicos, profundizando así el proceso mismo. Leia Mais
Dictadura y resistencia. La prensa clandestina y del exilio frente a la propaganda del Estado en la dictadura uruguaya (1973-1984) | Gerardo Albistur, Analía Passarini, Álvaro Sosa e Maximiliano BAsile
Este libro, producto de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República ejecutado entre 2017 y 2019 y titulado 1973-1984. La propaganda oficial del Estado y el discurso clandestino. Análisis de una oposición en dictadura para el debate actual sobre la democracia uruguaya, observa las formas que adoptan los fenómenos comunicacionales en contextos no democráticos, concretamente la propaganda oficial y la prensa de oposición que funcionó dentro y fuera de fronteras el marco de la última dictadura civil-militar.
No se define como un trabajo «político y comunicacional» ni tampoco como historiográfico, sino que pretende observar, por un lado, «el ejercicio del poder ideológico de manera absoluta» (la propaganda) y «la resistencia que oponen los discursos prohibidos» (la prensa clandestina). El planteo básico del libro es que, en democracia, pese a no funcionar idealmente, existen libertades que permiten el debate público, mientras que bajo gobiernos dictatoriales ese debate se anula, lo cual trastoca las formas de comunicación. En el caso uruguayo, la propaganda oficial, la prohibición de la circulación de discursos antagónicos, la vigilancia de las manifestaciones artísticas y culturales provocaron la aparición de una serie de publicaciones clandestinas, netamente políticas, que relevaron a los medios clausurados. Leia Mais
La ciencia de la erradicación. Modernidad urbana neoliberalismo en Santiago de Chile, 1973-1990 | César Leyton Robinson
César Leyton Robinson | Foto: Werken TV |
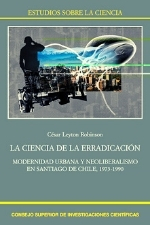
La obra que nos ocupa constituye una aportación original y rigurosa por su factura, pero arriesgada en sus contenidos y conclusiones, pues supone una muestra de historia y pensamiento crítico, que tal vez no todos estén dispuestos a aceptar, pues la advertencia machadiana de las dos Españas se hace extensiva a otros muchos lugares y contextos, y Chile no es una excepción. Con todo, el rigor metodológico y la calidad de sus contenidos hizo que la tesis doctoral que está en el origen de este libro mereciera la máxima calificación y el reconocimiento académico de la Universidad de Chile. Leia Mais
El Negocio del Terrorismo de Estado: los cómplices económicos de la dictadura uruguay | Juan Pablo Bohoslavsky
A temática da atuação dos empresários nas ditaduras latino-americanas tem avançado na historiografia nos últimos anos e consta em ações judiciais que tramitam em diferentes países do continente. A obra “El negocio del terrorismo de Estado: los cómplices económicos de la dictadura”, organizada por Juan Pablo Bohoslavsky, se soma a estudos publicados recentemente e que avançam no conhecimento sobre a questão, dando subsídios para processos de reparação. Bohoslavsky é autor de vasta obra acerca da cumplicidade empresarial nas ditaduras do Cone Sul e o livro faz parte de um esforço internacional com sucessivas publicações de corte nacional. O trabalho primordial foi sobre a Argentina (2013), onde a questão parece mais avançada, tanto em termos de pesquisa como nos tribunais. Foi lançado no ano seguinte um dossiê na revista de Anistia, no Brasil, tratando da questão neste país (Bohoslavsky; Torelly, 2014) e, depois do livro sobre o Uruguai, foi publicada em 2019 uma obra congênere sobre esse processo no Chile (SMART; BOHOSLAVSKY; FERNÁNDEZ, 2019).
No Brasil a temática já foi trabalhada por diversos autores. Além do estudo pioneiro de Dreifuss (1981), há significativa produção acadêmica dedicada ao tema. Em 2020 foi lançada coletânea reunindo vários estudos recentes sobre a atuação do empresariado na ditadura brasileira. Essa obra traz uma perspectiva distinta de Bohoslavsky, não tratando a questão na forma de uma cumplicidade, o que sugere uma relação de exterioridade na relação entre empresários e regime ditatorial. Os autores assumem uma orientação que aponta para uma inserção e participação direta dos empresários no pacto político durante o regime de exceção, a partir de uma concepção gramsciana do Estado (CAMPOS; BRANDÃO; LEMOS, 2020). Leia Mais
Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza | Juan P. Bohoslavsky, Karinna Fernández e Sebastián Smart
La escasa literatura existente sobre la contribución y complicidad de empresas y grupos económicos en la violación sistemática de derechos humanos ocurrida en Chile durante el régimen de Pinochet, hace del libro Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza un aporte indispensable para mejorar nuestra comprensión sobre el origen de muchas de las desigualdades sociales y económicas que, actualmente, son objeto de las mayores protestas que hayan tenido lugar en Chile desde el fin de la dictadura cívico-militar.
En el libro, sus editores – Juan Pablo Bohoslavsky, Karinna Fernández y Sebastián Smart – reúnen una serie de investigaciones en las cuales se documenta desde diferentes disciplinas y dimensiones, la existencia de redes de financiamiento y apoyos a la dictadura, que habrían permitido al régimen de Pinochet solventar su política represiva para mantenerse en el poder, y al mismo tiempo, transformar radicalmente la estructura político-económica del país. De este modo, los veintiséis capítulos que componen el libro convergen en la tesis de que existiría una estrecha relación entre la asistencia económica extranjera, la política económica implementada por la dictadura y la violación sistemática de los derechos humanos.
El esfuerzo por documentar la colaboración y complicidad financiera con la dictadura chilena – tal como sostiene Elizabeth Lira en el prólogo del libro – constituye una pieza fundamental para garantizar a las víctimas la no repetición de las violaciones a los derechos humanos ni de las condiciones que las hicieron posible. En esta misma línea, Juan Pablo Bohoslavsky señala, en el capítulo introductorio, que este libro ofrece una nueva narrativa de la dictadura, al considerar la responsabilidad de sus cómplices económicos y vincularla con la actual agenda de justicia social. Argumenta que la ayuda financiera recibida por el régimen se orientó, por un lado, a comprar lealtades y apoyos de sectores claves de la sociedad chilena, y por otro, a montar un eficaz aparato represivo, cuyo principal propósito fue crear las condiciones necesarias para la implementación de un conjunto de políticas sectoriales que tuvieron como denominador común el beneficio económico de la élite chilena y de las grandes empresas nacionales y extranjeras, todo esto, en detrimento del bienestar de la clase trabajadora y el consiguiente aumento de la desigualdad económica y social en el país.
Los capítulos posteriores se organizan en siete secciones temáticas, cada una de estas aporta importante evidencia en ámbitos poco explorados del pasado reciente de Chile. La primera sección, titulada “Pasado y presente de la complicidad económica” se articula en torno al informe elaborado en 1978 por Antonio Cassese, quien fuera nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como relator especial para evaluar el apoyo financiero recibido por la dictadura. Como sugiere Naomi Roth-Arriaza en el capítulo que inaugura esta primera sección, los trabajos ahí presentados constituyen un importante esfuerzo por desarticular aquella narrativa que desliga el plan económico de la dictadura, de la violencia utilizada por el régimen de Pinochet para reprimir a la población y así, acallar sus críticas.[1] Los cinco capítulos que componen la sección funcionan como un bloque analítico que inicia dando cuenta de las razones de la escasa atención que recibieron las dimensiones económicas dentro de la agenda de la justicia transicional chilena y cómo, en los últimos años, esto se ha ido revirtiendo. Este cambio, producido por una forma más integral de comprender los derechos humanos, permitió ampliar la visión hacia los derechos económicos y sociales que fueron vulnerados durante la dictadura y que hoy continúan siendo parte de las luchas sociales en Chile. Si bien, como exponen Elvira Domínguez y Magdalena Sepúlveda en el quinto capítulo del libro, el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile ha sido en el último tiempo objeto de un mayor escrutinio internacional – lo que se refleja en un número relativamente alto de procedimientos especiales realizados en el país, al punto de equipararse con la atención prestada a la violación de los derechos civiles y políticos -, esto no ha sido suficiente para comprender efectivamente todos los abusos cometidos por el régimen de Pinochet, ni el efecto que éstos continúan teniendo para el pleno ejercicio de los derechos humanos en el Chile de post-dictadura.
Esta sección también aporta algunos antecedentes para comprender cómo la violación de los derechos civiles y políticos durante la dictadura – específicamente, la supresión de los derechos sindicales – fue un factor relevante para atraer la asistencia económica extranjera, y a la vez, fue condición necesaria para la imposición de una política económica basada en la acumulación de capital, la cual, a partir de la privatización de empresas del Estado y la venta de sus activos, transfirió la riqueza nacional a manos de la clase empresarial chilena. La sección cierra reconociendo que, aunque el impacto de las iniciativas en términos de verdad y justicia ha sido limitado, Latinoamérica ha ocupado un lugar protagónico en la identificación de las responsabilidades de las empresas en las graves violaciones a los derechos humanos. Destaca en este itinerario la forma en como las víctimas y sus familiares han complementado la movilización social con estrategias legales innovadoras a fin de responsabilizar a las empresas e incluirlas en el radar de la justicia transicional, esto, más allá de si las comisiones de verdad implementadas en sus respectivos países, tenían o no como mandato, esclarecer la participación de los agentes económicos en las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, y siguiendo a Priscilla Hayner (2008, p. 247), el deseo de buscar la verdad es cuestión de tiempo, hay veces en que este deseo sólo se logra hacer patente cuando las tensiones que generan conflictos dentro de una sociedad han sido disminuidas, y hay otras, en las que es justamente este deseo el que impulsa cambios sobre los límites y las formas de abordar los crímenes del pasado.
La segunda sección de este libro, titulada “La economía del pinochetismo”, también consta de cinco capítulos, los cuales – con excepción del capítulo de Marcos González y Tomás Undurraga, quienes discuten sobre la complicidad intelectual en la dictadura – se articulan en torno a la relación existente entre la política extractivista impulsada por la dictadura, la concentración del poder y la riqueza y la construcción de una institucionalidad político-jurídica funcional a las necesidades del neoliberalismo. La sección inicia con el capítulo presentado por José Miguel Ahumada y Andrés Solimano, quienes sostienen en su trabajo que las desigualdades sociales y económicas que afectan a Chile en la actualidad tienen sus bases en el modelo económico implementado durante el régimen de Pinochet. Así, esta sección analiza el recorrido que siguió la economía chilena durante la dictadura, la que – en tanto proceso históricamente situado – experimentó una serie de cambios, que fueron más el resultado del activo rol del Estado y de la correlación de fuerzas al interior del gobierno dictatorial, que un producto de las fuerzas autónomas del mercado.
En este marco, las privatizaciones llevadas a cabo desde la segunda mitad de los años setenta, con el objetivo inicial de desmantelar el Estado productor y desarrollista, y luego con la intención de suplir las funciones sociales del Estado, habrían posibilitado que las elites económicas no sólo concentraran el grueso de la riqueza nacional, sino que, además, adquirieran una fuerte influencia en el funcionamiento de lo que sería la nueva democracia. Del mismo modo, en esta sección se advierte que, pese al impacto negativo que ha tenido el extractivismo económico en los derechos humanos y en el medioambiente, no ha existido la intención de cambiar el rumbo del modelo extractivista chileno, pues como sugiere Sebastián Smart, si bien éste se asienta en una legislación creada por la dictadura, la interrelación y mutua dependencia entre el poder político y económico existente en Chile, ha impedido cualquier tipo de modificación sustantiva al modelo.
Por otro lado, esta sección refuerza la idea de que las actuales desigualdades surgen en un contexto de represión y de múltiples restricciones a la deliberación democrática, y también, de que son consecuencia de una trasformación radical de la economía, en la cual tuvieron lugar procesos de acumulación por desposesión y de oligopolización de la estructura productiva, dando origen con esto, a una elite empresarial que, hasta el día de hoy, controla amplios aspectos de la vida económica, política y social del país.
La tercera y cuarta sección – tituladas “Juegos de apoyos, corrupción y beneficios materiales” y “Normas y prácticas represivas en favor de los grupos empresariales”, respectivamente – reúnen diez investigaciones, las que podrían, por la similitud de sus temáticas, constituir una única sección cuyo eje estuviera en el impacto que han tenido las diversas políticas y decretos leyes, dictados por la dictadura, en la actual agenda de justicia social. A pesar de esto, es posible reconocer una cierta estructura asociada a temáticas específicas dentro de cada una de las secciones. Así, mientras los dos primeros capítulos de la tercera sección analizan el rol de las cámaras empresariales y de los medios de comunicación en la comisión u omisión de violaciones a los derechos humanos; los dos últimos dan cuenta del impacto que tuvieron las privatizaciones, tanto en el sistema de pensiones como en el patrimonio público de Chile. Respecto de este último punto, Sebastián Smart señala que, en base a la violencia desplegada, la dictadura terminó con el histórico y progresivo proceso de creación de empresas estatales, dando paso a la enajenación de las mismas (muchas de las cuales fueron vendidas muy por debajo de su valor económico). En efecto, según Smart, se pasó de 596 empresas estatales en 1973 a sólo 49 en 1989, lo que implicó una mayor concentración de riquezas y la profundización de las brechas sociales y económicas ya existentes.
Del mismo modo, los dos primeros capítulos de la cuarta sección tratan sobre el desmantelamiento del sindicalismo chileno y explican cómo el “Plan laboral” de la dictadura – que básicamente operó como una regulación del poder colectivo de los sindicatos – tuvo como objetivo garantizar plenamente el derecho de propiedad y legitimar así, las bases del poder económico y social de la elite chilena. Pese a que el año 2003, fue publicado en el diario oficial un nuevo Código del Trabajo, para Salazar (2012, p. 308-309) este no es más que una forma de aparentar modernidad y sensibilidad social, pues mantiene las mismas relaciones laborales impuestas por la dictadura.
Los dos capítulos siguientes reflexionan sobre cómo la implementación del modelo neoliberal en Chile significó la disminución de las prestaciones sociales básicas y el aumento de la pobreza, dando paso a la criminalización y el encierro masivo de pobres, por un lado, y por otro, a su erradicación de las áreas céntricas, y posterior, relocalización en sectores periféricos. Finalmente, los últimos dos capítulos de esta sección analizan las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y culturales que han experimentado los pueblos originarios en Chile, a propósito de la apropiación que hiciera la dictadura de recursos naturales y bienes comunes. Así, por ejemplo, y considerando la actual crisis hídrica, el capítulo de Cristián Olmos conecta el rol de empresas y actores económicos en la privatización del agua, con las constantes violaciones a los derechos de comunidades indígenas próximas a centros mineros en el Norte de Chile. Para Olmos, la base de estas vulneraciones se encuentra en la plataforma legislativa generada en dictadura, la cual comprende la Constitución, el Código de Aguas y el Código de la Minería. Una lectura similar lleva a cabo José Aylwin, quién en su estudio, da cuenta de cómo la dictadura, luego de apropiarse de tierras mapuches (reconocidas y restituidas por los proceso de reforma agraria impulsados por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende), éstas fueron vendidas de forma irregular, para posteriormente, establecer sobre ellas una política de incentivos monetarios y tributarios que benefició, principalmente, a los conglomerados forestales que habían colaborado con el régimen de Pinochet, teniendo esto, como consecuencia directa, la exclusión del pueblo mapuche y el deterioro del medio ambiente y del hábitat natural y cultural de las comunidades.
Dos capítulos son los que componen la quinta sección titulada “Estudios de casos”. En ella, se analizan emblemáticos casos de corporaciones nacionales que financiaron, o directamente participaron en delitos de lesa humanidad. Karinna Fernández y Magdalena Garcés documentan cómo los recursos logísticos de la Pesquera Arauco y de Colonia Dignidad fueron puestos a disposición de la represión militar. Este trabajo advierte sobre la activa participación de estas corporaciones en el secuestro, tortura y desaparición de civiles durante la dictadura chilena. Las autoras también llaman la atención sobre la falta de voluntad política para perseverar con las investigaciones y las debilidades presentes en la acción judicial, las que muchas veces, no han permitido conocer la verdad de los hechos, ni cuantificar o determinar el destino de los dineros obtenidos por la comisión de estos delitos. En esta misma línea, Nancy Guzmán entrega evidencia para conocer cómo, desde la elección de Salvador Allende como presidente de Chile, el diario El Mercurio fue utilizado por su dueño, Agustín Edwards, para colaborar con la dictadura; primero, azuzando el golpe de Estado, y luego, encubriendo los crímenes del régimen, mediante múltiples campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública.
La sexta sección temática, “Aspectos jurídicos de la complicidad económica”, también se compone de dos capítulos. En ellos se exponen, por un lado, los principios generales emanados del derecho internacional para abordar las causas de complicidad económica; y por otro, las (im)posibilidades de perseguir, juzgar o reparar – en el marco del derecho chileno – la comisión de estos delitos, por los cuales algunas empresas y sus altos miembros se beneficiaron económicamente. Juan Pablo Bohoslavsky reflexiona, a la luz del derecho internacional y comparado, respecto de cuándo procede establecer responsabilidades civiles en las violaciones de derechos humanos. En este marco, sostiene que para determinar dichas responsabilidades se requiere conocer si la asistencia corporativa a un régimen criminal, generó, facilitó, dio continuidad o hizo más efectiva la comisión de estos delitos. Argumenta que, comprender el contexto que originó y sostuvo la complicidad económica, resulta incluso, más relevante que constatar el grado de conocimiento que tenían las corporaciones sobre el daño producido. En un tenor similar, Pietro Sferrazza y Francisco Jara sostienen que la condición de civiles no excluiría a los actores económicos de la persecución criminal por delitos de lesa humanidad, al tiempo que advierte una oportunidad – de acuerdo a la jurisprudencia – para la imprescriptibilidad de los casos, toda vez que éstos devengan de acciones que hayan facilitado o contribuido a la violación de los derechos humanos.
La séptima sección, titulada “Conclusiones y prospectivas”, coincide con el último capítulo del libro. En este, el historiador Julio Pinto, describe tres momentos en los cuales se habría ido anudando una cierta simbiosis entre el mundo empresarial y la dictadura cívico militar. El primer momento, se encuentra en la amenaza que significó el programa de la Unidad Popular para la libertad de empresa y el derecho de propiedad. El segundo, tiene que ver con los beneficios que recibieron durante la dictadura aquellos empresarios que apoyaron y colaboraron con el régimen. Mientras que el tercer momento, se asocia con las garantías de inmodificabilidad de los mecanismos básicos de funcionamiento de la economía neoliberal, así como de los componentes centrales de la institucionalidad en la cual se estableció dicha garantía.
De este modo, el libro que ha sido reseñado tiene el valor de ofrecer un variado análisis sobre la complicidad de las empresas y empresarios durante la dictadura. Desde un abordaje interdisciplinario, logra articular efectivamente una narrativa que conecta las violaciones a los derechos humanos con las políticas económicas implementadas durante el régimen de Pinochet. No obstante, considerando la diversidad de perspectivas y dimensiones desde las cuales se observó el problema, se extraña un capitulo con una mayor sistematización de los fallos judiciales, conclusiones de comisiones investigadoras o solicitudes de información realizadas al Congreso Nacional. Esto, por un lado, a fin de comprender los aciertos y reveses que han tenido estas iniciativas, y por otro, para conocer el estado actual de las impugnaciones realizadas en el marco de los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo pronto, y de acuerdo a la experiencia comparada, pareciera ser que las democracias y economías modernas pueden sobrevivir a los juicios que buscan determinar las responsabilidades de los agentes económicos en la violación de los derechos humanos, lo que, sin duda, ofrece a las víctimas la esperanza de que las situaciones de abuso que experimentaron sean reconocidas y reparadas.
Finalmente, la evidencia histórica presentada en este libro no sólo constituye una crítica dirigida a los actores económicos involucrados en violaciones a los derechos humanos o a quienes se beneficiaron de las prácticas represivas y autoritarias de la dictadura, sino también, la crítica apunta a los gobiernos de la transición, los cuales no quisieron enfrentar realmente las causas estructurales de la desigualdad en Chile: concentración de la propiedad productiva, formación de conglomerados económicos con altas cuotas de mercado y debilitamiento del poder de negociación sindical, entre otras (SOLIMANO, 2013, p. 100). De este modo, el libro Complicidad económica con la dictadura chilena., podría nutrir el debate sobre la desigualdad en Chile – que, tras la revuelta social ha tomado con fuerza la agenda política – y direccionarlo, hacia la rendición de cuentas de los beneficios recibidos por las empresas, a cambio de su colaboración con la dictadura.
Nota
1. Durante la post-dictadura, la nueva clase dirigente permitió que en la figura de Pinochet se encontraran discursos a la vez contradictorios: los que apuntaban a su responsabilidad en una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y los que reconocían que las transformaciones económicas impulsadas bajo su régimen, constituyeron una pieza fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad política de Chile. Así, se podía condenar al dictador y, al mismo tiempo, reconocer su legado en materias económicas.
Referencias
HAYNER, Priscila. Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2008.
SALAZAR, Gabriel. Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política. Santiago: Uqbar, 2012.
SOLIMANO, Andrés. Capitalismo a la chilena. Y la prosperidad de las élites. Santiago: Editorial Catalonia, 2013.
Sergıo Urzúa-Martínez – Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. E-mail: [email protected]
BOHOSLAVSKY, Juan Pablo; FERNÁNDEZ, Karinna; SMART, Sebastián (Eds.). Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2019. Resenha de: URZÚA-MARTÍNEZ, Sergıo. Violencia, complicidad e impunidad: Los actores económicos en la dictadura de Pinochet. Varia História. Belo Horizonte, v.37, n.74, p.625-634, maio/ago. 2021. Acessar publicação original [DR]
Palavras que resistem: censura e promoção literária na ditatura de Getúlio Vargas | Gabriela de Lima Grecco
A Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro, em setembro de 2019, por ordem do então prefeito Marcelo Crivella, realizou uma operação na Bienal do Livro com o objetivo de encontrar “material impróprio para crianças e adolescentes”. O livro em questão, uma HQ voltada ao público infantojuvenil, tinha uma cena de beijo gay. Foi a primeira vez que uma ação desse tipo aconteceu no evento, entretanto não foi a primeira vez que a literatura de diferentes estilos foi alvo de censura. Pinochet, no Chile, mandou queimar livros considerados comunistas, e a ditadura civil-militar no Brasil apreendia livros com temática política. Sendo assim, governos autoritários, ou não, utilizam da instituição do Estado para reprimir e censurar a cultura, e Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, não foi diferente. É essa temática que a historiadora e letrista Gabriela Grecco apresenta em seu livro Palavras que resistem: censura e promoção literária na ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945).
Diversas pesquisas sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e a censura realizada durante o Estado Novo estão presentes na historiografia sobre a temática, entretanto a obra em análise vai além disso. Buscando a origem da censura no Brasil, a autora apresenta no seu primeiro capítulo, Censuras antes do Estado Novo, a estruturação da prática ainda no período colonial, assim como salienta que foi entre o período colonial e a emancipação política do Brasil que a liberdade de imprensa surgiu. Contudo, a autora não apresenta somente o período colonial como importante para entender a complexidade da participação da imprensa brasileira. Sob essa perspectiva, passando pelo período Imperial, as Regências, a República, a belle époque, a inauguração da Academia Brasileira de Letras, a política do café com leite, a Assembleia Constituinte de 1933, entre outros momentos significativos para a temática, ela demonstra com uma detalhada pesquisa que a relação entre o Estado e os escritos sempre foi constante. Leia Mais
Ditadura/ anistia e transição política no Brasil (1964-1979) | Renato Lemos
Em tempos em que proliferam disputas narrativas e versões negacionistas a respeito da ditadura militar brasileira, a publicação do livro Ditadura, anistia e transição política no Brasil (1964-1979), do historiador Renato Lemos, chega em boa hora. Enquanto parte da população brasileira e políticos têm feito apologia do regime ditatorial, o autor expõe no livro o projeto daqueles que não agem assim por desconhecimento, mas sim por comprometimento com a face mais brutal da dominação burguesa no Brasil, como diz o professor Marcelo Badaró (UFF) no prefácio do livro.
Renato Lemos é professor titular de História do Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política (LEMP/UFRJ)1. O historiador marxista defende o uso da nomenclatura “ditadura empresarial-militar” para designar o regime de 1964-1985, no lugar de “ditadura militar”, por entender que esta generaliza os militares, ao mesmo tempo em que oculta os vínculos de classe das lideranças civis beneficiadas pelo golpe. Leia Mais
Setenta / Henrique Schneider
Henrique Schneider | Foto: Literatura RS |

Schneider utiliza como eixo narrativo do seu livro um fato real: a tentativa frustrada de sequestro do cônsul americano, Curtis Carly Cutter, em Porto Alegre, a 4 de abril de 1970. E a partir daí constrói seu texto ficcional, de cerca de cento e cinquenta páginas, distribuindo-o em vinte e dois curtos capítulos. Ao início de cada um deles, em destaque, o narrador esclarece o tempo em que transcorre a ação ꟷdia do mês, da semana, horaꟷ e, quando crê necessário, o espaço ꟷora na delegacia de polícia, ora na redação do jornal, etc.ꟷ, o que lhe permitirá maior liberdade na organização alternada das sequências narrativas. O dinamismo que o narrador impõe ao seu relato o exige. Ao mesmo tempo, essa preocupação por situar a ação no tempo e no espaço, em destaque, e a cuidada diagramação do livro concordariam com a estética própria do roteiro de um filme, no caso, policial, ou de um roman noir.
O encadeamento dos vinte e dois capítulos, não cronologicamente, senão alternativamente, como já foi dito, sujeita-se ao potencial criativo do escritor, ao seu propósito literário de criar a necessária tensão dramática que, com certeza, despertará o interesse do leitor e o estimulará a que siga e siga a leitura do livro. A este caberá compor, na sua imaginação, a ordem sequencial dos acontecimentos. Provavelmente esse seja o primeiro e grande acerto de Schneider: saber dosar e administrar a informação, a narração, os diálogos e as descrições com o intuito de compor um texto literário de qualidade. E o faz com distinção.
Uma sexta-feira à noite Raul, bancário de profissão, sai de casa para ir ao cinema. Sem pressa, tranquilo, vai sozinho. Abandonado pela namorada havia três meses, tentava esquecer a desventura amorosa, naquele dia que deveria ser especial, segundo ele. Depois, “tomaria umas cervejas e encheria a cara em qualquer boteco” (18). Sai de casa, repito, tranquilo, com sua melhor camisa, “vermelho berrante” (19), a preferida da ex-namorada, que contrasta com o terno e gravata do “cotidiano sisudo” (19) no banco. Infeliz coincidência. Um rapaz, também de camisa vermelha, correndo da perseguição policial passa a seu lado. Uns policiais se cruzam no caminho de Raul, detêm-no, metem-no num carro e, encapuzado, levam-no para uma prisão, em algum lugar da cidade.
O que sabe sobre o sequestro do cônsul? Qual foi sua participação? Nomes dos implicados? É o que interessa à polícia. E para arrancar-lhe qualquer informação, aí estão os golpes, a humilhação, a vexação, a tortura. Levá-lo ao sofrimento absoluto através da dor mais violenta, do suplício, do padecimento mais brutal. O detido não tem nada a dizer, não sabe por que o detiveram, por que o fazem passar por tudo isso. Repete e repete inúmeras vezes: “eu não sei nada” (60/61), mas à tendenciosa ou simplesmente inexistente investigação policial isso não importa. É preciso mostrar serviço, prender alguém, algum bode expiatório que justifique seus atos policiais.
A partir daí Raul entra em desespero. O que é isso? O que estão fazendo comigo? Por que eu? Ele, bom cidadão, trabalhador honrado, que achava que com a ditadura tudo ia bem. “Que havia prisões, torturas, desaparecimentos, mortes, ꟷ mas por que se preocupar com esse assunto, se nada daquilo lhe dizia respeito?” (64) “Até uns dias atrás, Raul nem sabia que existiam razões para alguém querer derrubar o governo” (148). Pouco ou quase nada sabia do que estava acontecendo no país. E, inexplicavelmente, se vê metido numa situação que lhe causa medo, verdadeiro pavor. E esse medo e esse pavor vão acompanhá-lo durante a semana em que está privado de liberdade, impregnando seu corpo, provavelmente, para o resto da sua vida. Tudo é absurdo, ele não pode entender, e nem sabia que existia algo parecido, pensa Raul.
O romance começa pela sua libertação, depois de uma semana de detenção, ao encontrar a polícia o rapaz que buscavam, ou será outro “bode expiatório”? Com o corpo machucado, “paralisado pelo medo e pela impotência” (8), Raul se vê solto numa rua escura, com um capuz preto que lhe tapa a cara, numa cidade que de início ele nem identifica como a sua Porto Alegre. Domingo, 21 de junho de 1970, dia da final da Copa do Mundo: Brasil x Itália. Seis capítulos estão dedicados ao dia da libertação. Fechando o texto com a vitória do Brasil, a conquista do tricampeonato.
Ao mesmo tempo, vão se alternando, em um capítulo e outro, dados sobre a vida cotidiana de Raul e a detenção. Gritos, insultos, pistolas, um safanão, um empurrão, em plena rua, à caída da tarde. À sua volta, ninguém percebe o que se passa, e se o faz olha para outro lado. Logo, assim que o metem na cela, minúscula, suja, imunda, sem ventilação, Raul começa a perceber que não se trata de um sequestro. “Quem o prendera não eram os ferozes subversivos, os guerrilheiros, os inimigos da pátria e da família a quem a mãe tanto temia. Eram os homens da polícia” (28). Raul vivia com a mãe viúva.
Paralelamente a isso, sua mãe visita a delegacia, a redação de um jornal, a igreja e conversa com a vizinha sobre o desaparecimento do filho. Através de monólogos chorosos, assustados, angustiantes, ela pede ajuda, chegando inclusive a duvidar da inocência do filho. “Então eu tenho o medo de que o meu filho possa estar envolvido com algum desses grupos de comunistas, esses guerrilheiros, como chama?” (143)
Interrogatório, reflexões de Raul, diálogos com o carcereiro, uma aula magistral com demonstrações de técnicas contundentes de tortura (golpes com uma soqueira, espancamento, “porrada pura e simples” (99), pau-de-arara, choque elétrico, afogamento, gotejamento…) a cargo de um afamado torturador carioca, que utiliza Raul como “colaborador”, para um grupo de jovens policiais, aprendizes de torturadores.
E com uma habilidade narrativa surpreendente, Schneider “irradia” o jogo da final da Copa do Mundo, que Raul, a contragosto, assiste na televisão ao lado de quem foi seu carcereiro. Na lanchonete à qual ele se dirige para comer alguma coisa (a fome era grande) e passar o tempo (por imposição dos policiais, só poderia voltar para casa às nove da noite), com música de fundo ꟷEu te amo, meu Brasil, de Dom e Ravelꟷ, chega também o carcereiro ꟷ“… a gente vai estar te cuidando. De olho em ti, sempre.” (12)ꟷ, que se senta ao seu lado e o provoca, o espezinha, chegando a duvidar do seu patriotismo como brasileiro. Impossível vibrar, impossível se emocionar com a vitória do Brasil. De qual Brasil? “Não vibrou nenhuma vez, pensou ele [o carcereiro], então é comunista mesmo” (139/140).
Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça de 1969 a 1974, disse em certa ocasião: “Não há tortura no Brasil”. H. Schneider nos recorda essa afirmação numa epígrafe que, graficamente, em letras grandes, ocupa uma página inteira antes do início do seu texto. Deparar-me com esta citação e ao mesmo tempo recordar o horror que a ditadura espalhou por toda a sociedade brasileira naqueles anos setentas, levou-me ao conjunto de gravuras de Goya sobre o horror e as crueldades cometidas durante a Guerra da Espanha contra a dominação francesa (1808-1814), Desastres de la guerra. Lembro-me, especialmente, da gravura número 44, intitulada “Yo lo vi”. Parafraseando o pintor espanhol, e desmentindo o Ministro da Justiça da Ditadura Brasileira, após a leitura de Setenta, afirmo: Eu vi, eu estava lá.
Mirian Lopes Moura – Graduada em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa. Professora de português e literatura brasileira. Tradutora (espanhol/português/espanhol), tendo traduzido para o espanhol obras de Moacir Scliar, Rubem Fonseca, Lygia Bojunga Nunes e Ana Maria Machado, entre outros. Revisora de textos em português para a Revista Ibero-Americana de Educação da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Coordenou o Curso de Português da Casa do Brasil em Madri, de 2000 a 2016. E-mail: [email protected].
SCHNEIDER, Henrique. Setenta. Porto Alegre: Não Editora, 2019. 150p. Resenha de: MOURA, Mirian Lopes. Da ficção para recordar a ditadura Brasileira: Setenta, de H. Schneider. Passagens – Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica. Rio de Janeiro, v.13, n.1, p.168-173, jan. / abr., 2021. Acessar publicação original [IF].
El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979- 1983) | Marina Franco
Acostumbrados/as a textos problematizadores, otra vez más, la historiadora Marina Franco nos acerca una nueva contribución que complejiza el conocimiento de diferentes aspectos de la sociedad argentina reciente. En esta oportunidad, con un estudio que se centra en la emergencia, configuración y visibilización del accionar de la represión y de la violación a los derechos humanos en el último tramo de la dictadura militar de 1976-1983.
La propuesta analiza un lapso que ha concitado el interés de las ciencias sociales en las últimas décadas. A decir verdad, la periodización del libro reconoce su inicio en la emergencia política del problema represivo, que toma como hito la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina en 1979 y señala como corte la autoamnistía militar y las elecciones de 1983. En ese marco temporal, la investigación aborda la trayectoria de los principales actores que participaron, de algún modo visible, en la cuestión represiva. Si bien el acento principal está puesto en la Junta Militar y las Fuerzas Armadas, también la mirada se detiene en los partidos políticos, los medios de prensa, la iglesia católica, el Poder Judicial y las organizaciones de derechos humanos. Leia Mais
Teatro y Memoria en Concepción: Prácticas Teatrales en Dictadura. Concepción | Marcia M. Carvajal, Nora F. Rivas e Pamela V. Neira
El libro Teatro y Memoria en Concepción: Prácticas Teatrales en Dictadura, escrito por las investigadoras Marcia Martínez Carvajal, Nora Fuentealba Rivas y Pamela Vergara Neira, fue publicado en octubre de 2019. Escribo esta reseña a partir de la presentación que hice en Valparaíso el 26 noviembre de 2019, a un mes y una semana de comenzado el levantamiento popular en Chile. Recordar ahora estas fechas alberga un sentido particular, pues conlleva el peso de aquel presente y la certeza de que a futuro se observará este periodo histórico en busca de la memoria de un país. Ese día la conversación sobre el libro nos remitió una y otra vez a reconocer el pasado en aquel presente. La realidad olía a lacrimógena y nos golpeaba la cara, la salida de la presentación debió ser por la puerta trasera del edificio que nos reunía, en carreras y postas de agua con bicarbonato.
En la introducción del libro las autoras plantean que el devenir de su trabajo fue “una metodología de la incertidumbre, que nos invitó a transitar por el rigor de lo académico, lo subjetivo de las experiencias y nuestras propias dudas, reflexiones, cambios de ruta y nuevos convencimientos” (10), creo que aquella incertidumbre se expandió más allá del proceso de investigación y escritura, pues dado el contexto, también estuvo en los envíos de copias, en las presentaciones, e imagino que seguirá presente en las preguntas que surjan de la lectura de esta obra. Leia Mais
Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature 1900-1950 – GINSBORG (BC)
GINSBORG, Paul. Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature 1900-1950. Torino: Einaudi, 2013. 678p. Resenha de: PERILLO, Ernesto. Il Bollettino di Clio, n.13, p.120-123, lug., 2020.
La famiglia esiste? La ricerca storica (e non solo) aiuta a dare una risposta: si incarica di dirci se la famiglia sia sempre esistita, come si sia formata, come si sia trasformata nel tempo e nelle diverse società.
Nei libri di storia generale, e non parlo solo dei manuali scolastici, la famiglia non c’è. Un po’ come, se è lecito il paragone, le donne e il genere (con cui peraltro la famiglia condivide ampi legami). Solo qualche rapida descrizio ne in alcuni momenti e periodi, senza che sia possibile per studentesse e studenti comprendere la dimensione storica della famiglia, le connessioni e le interdipend enze con i contesti sociali, economici, culturali, le trasformazioni nel tempo, le cesure essenziali, le lunghe durate di ruoli, relazioni, funzioni. La famiglia è un presupposto, si dà per scontata.
Ma nulla è più importante, lo sappiamo, che mettere in discussione i presupposti implic iti che reggono le nostre idee e i nostri pensieri. Le nostre visioni del mondo e della sua storia. Il libro di Paul Ginsborg aiuta a colmare questo vuoto.
Il progetto originario era quello di analizzare il tema della famiglia lungo tutto il Novecento, con uno spartiacque collocato dopo la fine del secondo conflitto mondia le, quando la sconfitta delle dittature e dei fascismi inaugurò anche per la famiglia una nuova epoca. La quantità di materia le accumulato e la ricchezza dei temi hanno orientato l’autore a prendere un’altra decisione: la pubblicazione di un volume relativo alla prima metà del secolo scorso. Un secondo libro avrebbe poi raccontato il seguito della storia fino agli ultimi anni del Novecento.
Un progetto ambizioso, dunque, importante e innovativo: tematizzare la famiglia non solo come oggetto dell’indagine storica ma come soggetto di questo racconto, scritto assumendo quel punto di vista.
La scelta nasce da lontano. Nel 1993, facendo un bilancio della storia della famiglia in età contemporanea (cfr. Famiglia, società civile e stato nella storia contemporanea: alcune considerazioni metodologiche, in “Meridiana”, 1997, n.17, pp. 179-208), Ginsborg denunciava già il sostanziale silenzio della storiografia sulla connessione tra famiglia e politica.
«C’è il rischio, dunque, che la storia della famiglia venga rinchiusa in un ghetto metodologico, in parte per sua stessa colpa, che rimanga uno «studio di area» invece di una parte essenziale di ogni ragionamento storiografico che tenti di legare le istituzio ni sociali, tra le quali la famiglia deve essere considerata la più importante, alle istituzio ni dello stato. La marginalizzazione della dimensione politica nella storia della famiglia comporta la marginalizzazione della famiglia dalla grande storia.» (p.180).
E nel suo libro L’Italia del tempo presente (Einaudi, 1998) il sottotitolo Famiglia, società civile, Stato evidenzia la volontà di assicurare alla famiglia un’attenzione specifica. In questo volume la connessione tra famiglia e storia politica è al centro, occupa tutta la scena.
La necessità è quella di non separare la storia della famiglia dalla storia politica, o la storia sociale da entrambe, ma di cercare come priorità metodologica la relazione tra di esse. E di raccontare, dunque, la storia del Novecento attraverso la lente della vita familiare per rileggere quel periodo.
Da qui, l’attenzione non solo alla politica per la famiglia (le diverse iniziative degli Stati in questo ambito), ma soprattutto alla politica della famiglia, tramite le molteplici e variegate interconnessioni tra individui, famiglia, società civile, Stato. Un rovesciamento di prospettiva che non solo mette in evidenza l’istituzio ne famiglia, ma modifica, arricchendolo, il significato di storia politica.
Il tempo, lo abbiamo detto, è quello della prima metà del Novecento. Sullo sfondo la grande guerra, le rivoluzioni, il primo dopoguerra e l’affermazione dei regimi dittatoriali. Anni di profonde trasformazio ni che l’autore attraversa esaminando in chiave comparativa la storia della famiglia in vari Stati-Nazione: la Russia, prima e dopo la rivoluzione sovietica; la Turchia, dall’Impe ro Ottomano alla Repubblica kemalista; l’Italia fascista; la Spagna prima e durante il regime franchista; la Germania, dalla Repubblica di Weimar al nazionalsocialismo; l’Unio ne sovietica staliniana. A ciascuno di questi stati è dedicato un capitolo (un centinaio di pagine circa) del libro.
Tre sono gli elementi metodologicame nte interessanti del volume di Ginsborg. Il primo è dato dalla pluralità dei temi messi in campo, delle angolature e delle tessere utilizzate per ricostruire il mosaico della famiglia: l’uso originale delle biografie di personaggi esemplari (Alexandra Kollontaj per la Russia rivoluzionaria, la scrittrice nazionalista Halide Edib per la Turchia del primo Novecento, Il futurista Filippo Marinetti per l’Italia fascista, la femminista Margarita Nelken per la Spagna e per la Germania Joseph Goebbels come modello archetipico della famiglia nazista); la ricostruzione della vita delle famiglie comuni, con particolare attenzione a quelle contadine e operaie; la focalizzazione sulle diseguaglianze di genere e le lotte delle femministe; il controllo spesso violento e repressivo della grandi dittature verso le famiglie e allo stesso tempo i sogni e le proposte rivoluzionarie e utopiche maturate in quegli anni; la legislazione e i codici che ne hanno definito ruoli, regole, diritti e doveri e le teorie politic he che ne hanno tentato letture e interpretazio ni complessive.
Con questa tavolozza l’autore disegna il suo racconto che procede ricostruendo ampi quadri descrittivi degli Stati esaminati, all’interno dei quali si possono cogliere la ricchezza e la complessità dell’universo familiare e il ruolo della famiglia come istituzione politica e civile, non riducibile alla sola dimensio ne privata.
La chiave comparativa è l’altra importante ossatura del libro: la prima metà del Novecento è un’epoca di grandi e radicali trasformazio ni che sconvolgono l’assetto geopolitico dell’Europa, le strutture economiche, le società e anche le mentalità collettive. Rivoluzioni e dittature sono messe a confronto con la vita familiare.
Si scoprono analogie: ad esempio il predominio della struttura patriarcale, tratto largamente dominante e trasversale ai differenti contesti; il sostegno, la difesa e la regolamentazione della famiglia riconosciuta dai diversi regimi assieme alla repressione di massa di determinate categorie di famiglie, su base etnica, razziale, nazionale, di classe, religiosa o politica, al là dei contenuti ideologici differenti che li caratterizzano; il ruolo della società civile che fu sostanzialmente soffocata dall’oppressione dei diversi regimi che eliminarono qualsiasi forma di pluralismo, dall’Impero ottomano, alla Russia rivoluzionaria, alla stessa esperienza degli anarchici spagnoli.
E anche significative differenze: per esempio comparando l’effettivo potere sulle famiglie è possibile allineare i diversi regimi lungo un continuum che va dal relativo lassismo di Mussolini in Italia al più alto controllo del nazisti che adottano una politica eugenetica contro i membri più deboli della loro stessa comunità nazionale. O relativamente ai rapporti di genere e al ripensamento stesso della vita familia re, particolarmente significativa è stata l’esperienza rivoluzionaria russa che si distingue per la lotta al patriarcato e i diversi tentativi di emancipazione femminile. Le proposte di Alexandra Kollontaj, unica donna a far parte del Consiglio dei commissari del popolo guidato da Lenin, di una grande società famiglia nella quale si superasse definitivamente il modello della famiglia, fallirono ma decisive e importanti furono le ricadute di quella riflessione sui codici di famiglia che ne derivarono così come fu essenziale l’aver affermato il ruolo centrale dei rapporti sessuali e sentimentali nella lotta per la liberazione.
Ma, mentre in Russia dopo la rivoluzione la famiglia borghese era da superare e abbattere, nella Turchia di Mustafa Kemal rappresentava una prospettiva rivoluzionaria: “applicare nel 1926 il Codice civile svizzero a una società prevalentemente rurale e musulmana fu un atto straordinario di rivoluzione dall’alto” (p. 614) Un ruolo particolare fu quello della Chiesa cattolica che di fronte alle dittature “non difese la vita familiare in sé, ma piuttosto la civiltà cattolica” (p.620). L’integralismo di Pio XI e Pio XII era più preoccupato di affermare il primato dell’ ecclesia che i valori del pluralismo, della libertà e della democrazia.
C’è inoltre un altro aspetto che qualifica questo libro di storia: i documenti iconogra fic i e la rappresentazione visuale della famiglia. Le complessive 135 illustrazioni ne sono parte integrante, fornendo ulteriori chiavi di lettura del tema assieme ai dipinti di alcuni grandi artisti della prima metà del Novecento – Archile Gorky, Pablo Picasso, Mario Sironi, Max Beckman, Kazimir Malevic e altri ancora – le cui opere sono presentate in 18 tavole fuori testo.
L’appendice statistica sugli aspetti demografici della storia della famiglia in chiave comparativa, curata dall’autore insieme a Giambattista Salinari, tematizza tre aspetti: la transizione demografica, le catastrofi demografiche e le politiche eugenetiche.
Nelle considerazioni finali, P. Ginsborg tirando le fila del suo lungo percorso di analisi mette in discussione la categoria di totalitarismo con cui tradizionalmente si legge la prima metà del secolo scorso: la storia delle famiglie mostra anche zone di antagonismo, certamente minoritarie e marginali, che però sono tracce di un ruolo che l’istituzio ne famiglia seppe agire pur di fronte a un potere dittatoriale e “totalitario”. Lo spazio privato della casa è stato anche il luogo di reti di solidarietà, di comportamenti e codici di opposizione e di resistenza. È la storia di Victor Klemperer, uno dei 198 ebrei rimasti a Dresda nel febbraio del 1945 (erano 1265 alla fine del 1941), il quale, grazie all’aiuto della moglie Eva Schlemmer, sopravvisse anche ai bombardamenti alleati della città: si strappa la stella gialla di David dal cappotto e con documenti falsi fugge verso la Baviera e la salvezza. O di Pepa López « madre cattolica e borghese che riuscì a salvare la sua famiglia dalle “orde rosse” a Malaga nel luglio 1936, travestendosi da venditrice di frutta e verdura (…)». (p. 612).
Non c’è solo una relazione diretta tra individui atomizzati e stato totalitario, in grado di controllare comportamenti, pensieri e azioni: se prendiamo in considerazione anche la famiglia e le storie delle famiglie il quadro si modifica e obbliga a valutazioni più articolate e complesse.
Il ruolo interpretato dalle famiglie nel nuovo contesto democratico che si affermerà dopo il 1945 sarà poi del tutto diverso. Ma questa, come si dice, è un’altra storia. Ancora da raccontare.
Ernesto Perillo Acessar publicação original
[IF]Carne de Perra | Fátima Sime
La dictadura militar que rigió Chile durante diecisiete años no ha terminado, al menos no de forma simbólica. Sin duda, lo avanzado durante los gobiernos de la Concertación1 en el establecimiento de la verdad ha sido muy parcial y lento, lo que ha significado la impunidad para los violadores de derechos humanos y también responsables de las muertes de ese oscuro período (Verdugo, 2004). Desafortunadamente, la literatura no siempre se ha ocupado de una forma adecuada de la representación del horror vivido durante la dictadura cívico-militar. Dentro del posible mapa que caracteriza el contexto político y literario chileno de los últimos años, resulta evidente, en efecto, una variedad de elaboraciones simbólicas y nuevos modos de representaciones que transformaron los presupuestos narrativos de la producción literaria (Bianchi, 1997). A partir del análisis de la novela Carne de Perra, publicada en 2009 por la escritora chilena Fátima Sime, resulta necesario plantear, preguntas que tratan de resolver las dudas acerca de sí es posible relatar, o, mejor dicho, de cómo se puede contar de una manera eficaz la experiencia de la violencia extrema vivida en Chile desde 1973 hasta 1990. Leia Mais
A ditadura na tela: o cinema documentário e as memórias do regime militar brasileiro- DELLAMORE et. al. (Topoi)
DELLAMORE, Carolina; AMATO, Gabriel; BATISTA, Natalia. A ditadura na tela: o cinema documentário e as memórias do regime militar brasileiro. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2018. Resenha de: CARDOSO, Igor Barbosa. História cultural, linguagem fílmica e ditadura militar brasileira. Topoi v.21 n.43 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2020.
Há algumas décadas, os estudos culturais flexibilizaram uma tradição de estudos históricos a fim de refletir sobre as políticas de identidade que discutem a questão do sujeito a partir de conflitos sociais em que há afirmação ou negação de identidades étnicas, nacionais, etárias, de gênero, de classe e outras. A renovação dos estudos históricos impactou as análises fílmicas no sentido de superar o diagnóstico estrutural da produção cultural de massa para voltar o olhar às condições efetivas e específicas de produção e recepção da obra. O olhar histórico e sociológico tendo o cinema como fonte de pesquisa passou a privilegiar, quando muito, o nível narrativo-dramático, em detrimento dos componentes propriamente estéticos.
Sob a organização dos doutorandos Carolina Dellamore, Gabriel Amato e Natalia Batista, o livro A ditadura na tela procura equilibrar as análises oriundas dos estudos culturais, levando em consideração a linguagem cinematográfica, em uma articulação interdisciplinar. Logo na introdução (“A ditadura na tela: questões conceituais”) – escrita pelos organizadores -, três pressupostos orientam a curadoria: os filmes documentais são tratados como “trabalhos de recordação interessados na construção de identidades e de projetos políticos no tempo presente de sua produção” (p. 12); são previamente indexados de modo que pactuam com o espectador um “compromisso de exploração da realidade” (p. 13); e são resultados de uma conformação cultural atual que demanda narrativas memorialísticas. A partir desses pressupostos, os historiadores articulam – alguns com mais sucesso – elementos fílmicos e extrafílmicos para compreender os posicionamentos assumidos pelos diretores em seus trabalhos bem como a relação de suas obras com o público.
A ditadura na tela é fruto do projeto de extensão, de título homônimo, conduzido pelo Núcleo de História Oral da UFMG. Em parceria com equipamentos públicos de Belo Horizonte – Centro de Referência da Moda e Museu da Imagem e do Som (MIS) Cine Santa Tereza -, o projeto exibiu, entre 2014 e 2017, diversos documentários a respeito do período ditatorial brasileiro (1964-1985), seguidos de discussões fomentadas por pesquisadores convidados. O livro é constituído de duas partes. A primeira (“As batalhas de memória no cinema documentário sobre a ditadura”) é resultado da reunião de dez artigos oriundos dessas intervenções públicas. Em parte por isso, não é possível encontrar unicidade metodológica de análise. Os temas abordados também são diversos: a militância de mulheres, estudantes universitários e operários; a relação entre Estado, futebol e imprensa; na produção cultural, a literatura de temática lésbica de Cassandra Rios, o grupo inovador Dzi Croquettes, o movimento (musical) tropicalista e os silêncios sobre o cantor Wilson Simonal.
Juliana Ventura Fernandes analisa Repare bem (2012), documentário da cineasta portuguesa Maria de Medeiros. No artigo, alguns aspectos próprios da composição fílmica são abordados, tais como a construção cênica (locações quase sempre na casa das entrevistadas), a montagem (que faz coincidir a fala das entrevistadas com imagens documentais, reforçando o argumento apresentado) e, especialmente, a oralidade (considerando tanto os momentos de maior contundência do discurso, quanto os depoimentos mais fragmentários e fugidios, além dos silêncios e pausas). A análise da violência e da perseguição política pelas quais três gerações de mulheres foram submetidas, proposta de Medeiros, é compreendida por Fernandes no campo das estratégias estatais de construção de uma memória sobre a ditadura, uma vez que o documentário é fruto da iniciativa do projeto Marcas da Memória, que tem por finalidade construir alternativas à atuação dos órgãos oficiais de reparação – geralmente, de caráter pecuniário – ao fornecer material para o reconhecimento de experiências de violência durante a ditadura.
De modo relativamente semelhante, Gabriel Amato analisa Memória do movimento estudantil (2007), documentário dirigido por Silvio Tendler, relacionando os elementos propriamente fílmicos e o debate historiográfico sobre a União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade que financiou a produção documental por meio de Lei Federal de Incentivo à Cultura. A partir do conceito exposto por Marie-Claire Lavabre, de que a memória histórica é uma sobreposição das fronteiras entre a prática social da memória e a atividade intelectual historiográfica, Amato propõe que a estética realista de Tendler corrobora a narrativa hegemônica sobre o movimento estudantil desenvolvida em O poder jovem (1968), de Arthur Poerner, segundo o qual “o estudante brasileiro é um oposicionista nato” (p. 56). Amato explora com acuidade o recorte realizado pelo documentarista dos documentos de época, das trilhas sonoras não originais, dos acontecimentos, das personagens e das entrevistas. Segundo o articulista, a seleção prévia expressa determinada visão de mundo que acaba por reduzir “a participação política dos estudantes brasileiros à história da UNE e a determinado modelo de militância dentro da entidade” (p. 59). Com efeito, a contracultura e o hippismo, duas manifestações culturais caras à juventude das décadas de 1960 a 80, permanecem silenciadas face à memória histórica da UNE – o que se reflete no trabalho de Tendler.
Também encontramos boa discussão historiográfica e de linguagem fílmica com Davi Aroeira Kacowicz, que analisa Tropicália (2012), documentário dirigido por Marcelo Machado. Como Amato sugeriu em relação a Memórias do movimento estudantil, Kacowicz discute a reprodução de certa memória histórica sobre a efervescência cultural dos anos 1960 no documentário de Machado, qual seja a de que a tropicália, conceito estético que designou uma constelação de vanguardas culturais, acaba reduzido ao tropicalismo, movimento musical de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto e tantos outros. Em contrapartida, Kacowicz evidencia que a historiografia mais recente compreende a contracultura brasileira para além das fronteiras da cena musical, a exemplo dos importantes trabalhos de Frederico Coelho (Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado, 2010), de Christopher Dunn (Brutalidade jardim, 2009) e de Heloísa Buarque de Hollanda (Impressões de viagem, 2004). Apesar disso, o artigo aponta que o levantamento documental empreendido por Machado traz fatos inéditos que podem revisar em parte a discussão historiográfica, como as cenas do Festival da Ilha de Wight de 1970 e a versão ao vivo da faixa Alfômega, apresentada por Caetano e Gil na rede de televisão portuguesa em 1969. Além da raridade material, Kacowicz atenta para o cuidadoso trabalho dispensado em Tropicália na condução da trilha sonora (sugerindo haver um refinamento técnico das músicas), dos efeitos de pós-produção (com inserção de cores vivas nas imagens em p&b) e de montagem, capazes de envolver o público em um “painel imagético-sonoro do contexto” (p. 133).
Da mesma forma que Kacowicz acredita que Tropicália pode contribuir para novas questões ao debate historiográfico, Natália Batista defende a tese de que o documentário Dzi Croquettes (2009), de Tatiana Issa e Raphael Alvarez, inaugurou uma discussão que ainda não havia sido feita pelos historiadores, isto é, o papel do teatro na resistência à ditadura pelo viés do escracho e do humor, com a abordagem das homossexualidades. Batista também explicita que o esquecimento/apagamento em torno do grupo teatral dificulta a construção documentária na falta de outras ancoragens narrativas. De todo modo, por meio de entrevistas, imagens de arquivo e trilha sonora, Batista acredita que Issa e Alvarez conferem uma dimensão de engajamento do grupo diante da ditadura e um reconhecimento de sua importância tanto no âmbito nacional quanto no internacional. Ademais, segundo Batista, o documentário permite questionar o pressuposto de “vazio cultural dos anos 1970” e, em especial, o papel dos corpos como atos políticos.
Ana Marília Menezes Carneiro debate a questão de gênero a partir de Cassandra Rios: a Safo de Perdizes (2013), documentário dirigido por Hannah Korich que conta com depoimentos de familiares, estudiosos e pessoas próximas da escritora, que escreveu romances bastante populares com temáticas homoeróticas. Carneiro ressalta a importância do documentário por reapresentar Cassandra Rios para além dos estereótipos muitas vezes preconceituosos e, ainda, por levar em consideração o amplo alcance de público, expressão de uma demanda social latente pelos temas ficcionalizados pela escritora. Apesar da boa discussão mobilizada por Carneiro em torno do silenciamento midiático sobre Cassandra Rios – reproduzindo em parte o argumento apresentado no depoimento de Laura Bacelar, editora de grande parte dos romances de Rios -, talvez fosse interessante resgatar reportagens de época em importantes meios de comunicação a fim de melhor explorar – e quem sabe nuançar – a tese sobre a recepção de suas obras durante a década de 1970, a exemplo do perfil elaborado sobre Cassandra Rios pela revista Realidade em 1970 e da crítica ao romance Carne em delírio escrita por Marina Colasanti e publicada pelo Jornal do Brasil em 1972.
Como no artigo de Juliana Ventura, a participação de mulheres na resistência à ditadura também é tema discutido por Débora Raiza Carolina Rocha Silva, que analisa Que bom te ver viva, documentário dirigido por Lúcia Murat e lançado em 1989. Silva retoma o contexto de produção memorialística e historiográfica sobre a ditadura militar nos finais da década de 1980 para compreender a representação do feminino na obra de Murat, em especial no que diz respeito à tortura de cunho sexual contra mulheres. Também lança um olhar atento sobre a recepção da obra no meio midiático. O artigo não explora o estatuto do documentário de Murat, constituído de cenas dramatizadas e depoimentos, o que poderia enriquecer enormemente a análise sobre as fronteiras do dizível, uma vez que a ficção é aí elemento central na abordagem de um tema sensível.
O artigo de Isabel Cristina Leite da Silva também aborda a representação do feminino durante a ditadura. Analisa Subversivas – Retratos femininos de luta contra a ditadura (2013), documentário dirigido por Fernanda Vidigal e Janaina Patrocínio. O texto destaca a inclusão de novos temas pelo documentário para compreender o período da ditadura militar, como o de conciliação entre o mundo político e o mundo privado, a maternidade, a revolução sexual e os novos comportamentos por parte de setores da sociedade brasileira frente ao aborto. A leitura realizada pela autora privilegia a exposição da narrativa desenvolvida pelo documentário, sem colocar questões com relação à linguagem propriamente fílmica.
A partir de Simonal – ninguém sabe o duro que dei (2009), documentário dirigido por Cláudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal, Bruno Vinicius de Morais tematiza o corpo negro do cantor Wilson Simonal como parte de uma memória subterrânea sobre o período ditatorial. Por meio de entrevistas concedidas por Manoel, que também foi comediante do grupo global Casseta & Planeta, Morais identifica um projeto de releitura sobre o período ditatorial brasileiro pretensamente assentado na renovação historiográfica empreendida por Daniel Aarão Reis Filho, para quem os anos de chumbo foram de relativo consenso e legitimação social, sendo que as esquerdas não apresentavam até então um programa democrático face ao autoritarismo de direita. Morais avalia que a forma pela qual o documentário foi recebido pela opinião pública em jornais e revistas é significativa: em geral, Wilson Simonal é representado como um artista ingênuo e apolítico; por outro lado, a esquerda é associada a um “stalinismo midiático”, tão autoritária quanto a própria ditadura. Segundo Morais, a apreensão conservadora sobre o regime militar acaba por se silenciar acerca de outras questões caras à trajetória do cantor, como as denúncias que fazia contra o racismo e a afirmação do orgulho negro em plena década de 1960, quando o debate racial carecia de espaços institucionalizados.
Já o artigo de Carolina Dellamore versa sobre Greve! (1979), documentário de João Batista de Andrade, que registrou o movimento grevista dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP). Para Dellamore, o cineasta não somente mostrou a greve, mas buscou especialmente intervir na realidade, na medida em que o que ele filmou foi a situação criada a partir da presença da câmera, o que Jean-Claude Bernadet denominou de “dramaturgia da intervenção” (p. 87). O artigo explora a narrativa em off, que muitas vezes chega a ser irônica se contrapondo à exibição das imagens e às falas dos entrevistados. Outro aspecto da construção narrativa evidenciada por Dellamore reside na montagem empreendida por Andrade, que faz o depoimento do interventor Guaracy Horta em defesa da “normalidade” nos sindicatos ser contradito pelas imagens de repressão policial sobre os trabalhadores nas ruas. A trilha sonora, com músicas de Belchior, também é explorada como elemento diegético que sugere por vezes ambiguidade com relação às imagens exibidas. O movimento de câmara é analisado ao final, quando o cineasta privilegia a perspectiva do operário em vez do ponto de vista do palanque, das lideranças, revelando a posição crítica de desconfiança assumida por Andrade.
Marcus Vinícius Costa Lage escreve sobre Memórias do chumbo: o futebol nos tempos do Condor (2012), uma série de quatro documentários realizada por Lúcio de Castro sobre o uso político do futebol pelas ditaduras militares de Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Exibida pelo canal televisivo ESPN Brasil, a série é analisada por Lage a partir da construção narrativa, ora atentando-se para a composição da trilha sonora, ora para os cenários nos quais os entrevistados depõem sobre o tema. Segundo o articulista, a abordagem escolhida por Castro privilegia a denúncia contra a corrupção das entidades desportivas, que seriam caracterizadas pela manipulação da opinião pública por meio do futebol, com interferência direta dos governos autoritários. O contexto de produção e lançamento da série – isto é, seis meses antes da realização da Copa das Confederações da FIFA no Brasil, quando parte da imprensa discutia a promoção de megaeventos esportivos que demandaram vultoso financiamento estatal – ajuda a explicar, segundo Lage, o posicionamento crítico do cineasta bem como do canal televisivo.
Na segunda parte do livro (“O fazer e o guardar no campo do cinema documentário sobre a ditadura”), a cineasta e professora Anita Leandro (UFRJ) escreve sobre o método de “montagem direta” utilizado em seu documentário Retratos de identificação, que consiste no comparecimento da imagem de arquivos – muitas delas inéditas e produzidas pela polícia para fins de identificação e controle do prisioneiro – diante da testemunha. Segundo a autora, o método precede a montagem propriamente dita de modo que de entrevistada a testemunha torna-se narradora de uma história na primeira pessoa. Apesar de existir uma seleção prévia das imagens e uma ordem de apresentação que designam um roteiro, a metodologia de Anita Leandro possibilita um novo campo de pesquisa ao despertar a potência mnêmica dos materiais de arquivo com a fala das testemunhas. Ainda com relação à segunda parte do livro, Marcella Furtado faz um apanhado geral sobre o acervo do MIS de Belo Horizonte, composto basicamente por cinejornais institucionais produzidos pela prefeitura e por materiais brutos e editados pela TV Globo Minas.
Por fim, vale ressaltar que o livro A ditadura na tela se mostra relevante para o atual debate historiográfico por diversos motivos. Em primeiro lugar, a própria seleção dos documentários privilegia a inclusão de novos sujeitos – mulheres, negros, homossexuais – para a compreensão mais plural da ditadura militar brasileira, que por vezes é centrada pela atuação de partidos e lideranças políticas. Em segundo lugar, no caso dos documentários que abordam atores já consagrados tanto pela memória quanto pela historiografia, como no caso da atuação do movimento estudantil ligado à UNE, o tratamento analítico dos articulistas procura explorar os desvios em relação às narrativas hegemônicas. Por fim e em terceiro lugar, ainda que nem todos os artigos se debrucem mais detidamente sobre a linguagem fílmica, fica nítido o esforço de levar em consideração tanto os elementos de produção e recepção das obras quanto os elementos estéticos específicos de fontes audiovisuais. Em tempo de revisões grosseiras sobre o período, A ditadura na tela contribui para um debate público qualificado, ultrapassando a interlocução entre pares, algo cada vez mais necessário.
Referências
DELLAMORE, Carolina; AMATO, Gabriel; BATISTA, Natalia(orgs.). A ditadura na tela: o cinema documentário e as memórias do regime militar brasileiro. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2018. [ Links ]
Igor Barbosa Cardoso – Doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais / Departamento de História, Belo Horizonte/MG – Brasil. E-mail: [email protected].
La renovación de la izquierda chilena durante la ditadura | Mauricio Rojas Casimiro
El libro La renovación de la izquierda chilena durante la dictadura es la investigación más exhaustiva que se ha publicado sobre el proceso de renovación. A través de sus más de quinientas páginas, Rojas Casimiro nos propone una lectura panorámica de una evolución compleja, pasando por textos de los propios partidos políticos, testimonios de los protagonistas e interpretaciones académicas contemporáneas. A menos que haya una nueva edición (donde se pueda incluir textos como las memorias de Ricardo Núñez publicadas con posterioridad a este libro), quizás estamos frente a una de las investigaciones definitivas sobre este proceso. Una de las virtudes del texto está en ampliar su alcance a la izquierda en su conjunto. Rojas Casimiro no limita la renovación sólo a los partidos de matriz socialista, sino que interpreta lo vivido por el Partido Comunista también como un proceso de renovación, lo que sugiere una relación de covarianza en el marco de las diversas perspectivas asumidas por la izquierda en la búsqueda de una salida a la dictadura. Lo anterior, integra la polémica política militar de los comunistas, desmintiendo implícitamente la historia lineal presentada por quienes sostienen temerariamente que la dictadura fue vencida con un lápiz y un papel (cf. Lagos 2013). Por otra parte, el cristianismo de izquierda aparece como un lugar privilegiado para la articulación y encuentro entre tendencias. Entre las fuerzas asociadas al humanismo cristiano, se destaca el rol de ambos MAPU. En su espectro, desfilan quienes se podría considerar como la renovación en estado puro, los mismos que conformarán la elite de la futura Concertación de Partido por la Democracia. La descripción de su actuar, los muestra en la primera línea del proceso toda vez que sus miembros son conscientes de su rol de articulación de la nueva izquierda emergente, con especial centralidad en la definición de los nuevos idearios y la transición hacia ajustados sistemas de creencias sobre los que proyectar una política de nuevo tipo más pragmática y moderna. La autoinmolación que representa la disolución voluntaria de estos partidos devela tanto su rol mesiánico en el desarrollo del área socialista como la consciencia de su condición de liderazgo en la nueva elite política. En lo relativo al Partido Comunista, la postura de Rojas Casimiro reafirma una visión ampliamente compartida asociada al desface de su línea política respecto al momento político del país. Sin embargo, se integra una nueva capa (considerando sobre todo las investigaciones de Rolando Álvarez) desde la cual se puede observar un lento, hermético, limitado y no lineal proceso de renovación y apertura a nuevas formas de ejercer la política interna y externamente. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya no aparece como una aventura dogmática de un partido marxista-leninista que responde a las expectativas de sus pares en el campo socialista europeo, sino como un camino de deliberación con grandes diferencias internas que destrabó un sistema de toma de decisiones anquilosado y centralizado en extremo. No obstante, en nuestra opinión, la lectura del autor sobre el impacto de la política militar del Partido Comunista sobre la forma que tomaría la recuperación de la democracia no reconoce el valor democrático del FPMR original ni el hecho de que su política se sustentó sobre una “intuición” a la postre correcta: “que la dictadura había conseguido crear su propio ‘régimen de transición'” (Moulián 1997, p. 269). En el centro del área socialista, el Partido Socialista de Chile se presenta a lo largo del libro como el principal objeto de la renovación, antes de ser un actor y sujeto unitario de la misma. Tanto su centralidad en el Gobierno Popular de Salvador Allende y su tradicional tendencia a generar facciones internas, como la disgregación posterior al golpe militar que acentúa las diferencias entre estos grupos militantes hasta volverlas irreconciliables durante la primera mitad de la dictadura, configura un campo especialmente complejo para el desarrollo de una renovación coherentemente intencionada. Los lectores agradecerán la perspectiva panorámica de las corrientes y grupos, así como la descripción pormenorizada de los cambios de visión estratégica de las facciones “no renovadas”. Destaca del texto la valoración del aporte de los tres exsecretarios generales socialistas que ayudan a asentar la renovación entre las bases como tesis de la reunificación del Partido: Aniceto Rodríguez, Raúl Ampuero y Carlos Altamirano. En ellos, más que en otros grupos de renovados, se hacía presente el “rescate” en la lógica de que la renovación era la actualización de la tradición socialista chilena. Aniceto Rodríguez, representante de la Tendencia Humanista, defendió la renovación sin rechazar el marxismo; Raúl Ampuero, organizador de los seminarios de Ariccia que permitieron la convergencia con sectores del humanismo cristiano, “no descartó a priori el uso de la fuerza” (Rojas 2017, p. 391) si esta reducía el costo humano; y Altamirano, el antiguo líder del PSCh durante el Gobierno Popular, abogó por una renovación radical que apuntara a la profundización de la democracia en la línea, nuevamente, del humanismo socialista anterior al golpe de Estado. Los exsecretarios representan para la historia del socialismo chileno en dictadura aquel acervo programático que se terminaría por diluir en lo sucesivo: la radicalidad y la audacia de pensar a la renovación como una forma de rescate y no como una velada claudicación. Un elemento especialmente relevante para comprender las dos almas presentes en los gobiernos de la Concertación, es la descripción de la consolidación del Partido Por la Democracia (PPD) como un fracaso de la renovación entendida como un proceso de continuidad de la tradición socialista chilena. Con la separación de la renovación en dos cuerdas paralelas “fracasó el objetivo político de los renovados: hacer del PPD el denominador común del área socialista” (p. 495). Hoy, esta diferenciación se puede evaluar a la luz de las posiciones de estos partidos frente a las transformaciones más emblemáticas exigidas por el actual campo de la izquierda chilena, frente a las cuales el PPD se muestra como el partido del área socialista más cercano al centro. La principal debilidad de la investigación de Rojas Casimiro está en su vocación descriptiva por sobre su función crítica. Se echan en falta aquellas posturas y voces que han descrito a la renovación en retrospectiva como una transformación del ideario político de la izquierda menos homogéneo de lo que parece en el texto. Destaca a este respecto las categorías de “renovación”, “postrenovación” y “ultrarenovación” que propuso Jorge Arrate, dentro de las cuales la “renovación” habría sido un proceso acotado e internamente divergente, superado y contravenido en su signo político por buena parte de sus pretendidos defensores. Actualmente, siguiendo la jerga de Arrate, es cada vez menos controversial sostener que la ultrarenovación en la que devino el proceso se convirtió en un rechazo al socialismo y no en un rescate o actualización del mismo. A nuestro parecer, el texto no dedica suficiente espacio para esta evaluación, proyectando la imagen de una evolución convergente sin mayores costos programáticos. El texto de Rojas Casimiro es un insumo invaluable para enfrentar las preguntas del quehacer político actual en el marco de una comprensión más rica y amplia de sus rupturas y continuidades. Si bien, la descripción del proceso de renovación es condescendiente con la generación que construyó nuestra débil democracia acomodando sus expectativas a los horizontes impuestos por la dictadura, al mismo tiempo nos provoca e induce a reflexiones sobre el sentido de futuro de este quehacer: “¿Cuándo la izquierda chilena propondrá un proyecto novedoso?” (Rojas 2017, p. 503). Tras perder las últimas elecciones presidenciales y disminuir el peso parlamentario de los partidos tradicionales del “área socialista”, esta parece ser la pregunta matriz a la que debe responder su militancia, situada hoy en un largo descampado de ideas programáticas y de cara a un futuro poblado por nuevas fuerzas alternativas que reclaman la tradición socialista, como los partidos y movimientos reunidos en el Frente Amplio. En palabra de Rojas Casimiro, “quizás, dicho sector, necesitará -como señala la teoría del conflicto- un brusco cambio generacional que abra paso a nuevos dirigentes e ideas” (Rojas 2017, p. 503), a lo que podríamos agregar el hondo sentido de urgencia reflejado en el dilema actual de sus orgánicas internas: un brusco cambio generacional o un declive definitivo. Leia Mais
A Ditadura na Tela: O Cinema Documentário e as Memórias do Regime Militar Brasileiro | Gabriel Amato, Natália Batista e Carolina Dellamore
Durante o século XIX, a constituição do ofício de Clio como uma disciplina universitária produziu a necessidade de profissionalizá-lo. A afirmação da História enquanto uma prática científica foi possível por conta de alguns pressupostos, tais como a separação radical entre sujeito e objeto, a primazia dos registros escritos em detrimento das fontes orais e o afastamento das questões do presente. Por conseguinte, os historiadores rejeitaram os acontecimentos recentes, que ainda contavam com partícipes vivos, sob o argumento de que seria preciso manter a escrita da história guiada pelos ditames da objetividade e da imparcialidade, o que implicava no tratamento do passado na condição de alteridade e no estabelecimento da dicotomia entre memória e história.
No entanto, esse descrédito atribuído à memória começou a mudar a partir do final da Segunda Guerra, quando várias obras produzidas a partir de relatos das testemunhas da violência política obtiveram uma enorme atenção por parte da esfera pública. Nesse sentido, a visibilidade conferida à uma dessas manifestações memorialísticas em particular, o testemunho, iniciada a partir da revelação e dos julgamentos dos crimes nazistas, foi impulsionada por conta de eventos que ocorreram quase que simultaneamente: as transições democráticas no Cone Sul e o surgimento das teses negacionistas do Holocausto na Europa.
Por conseguinte, os historiadores não passaram incólumes a esse fenômeno conhecido como boom da memória, que suscitou a “guinada subjetiva”, descrita por Sarlo (2007) como sendo uma mudança epistemológica que ocorreu no interior das ciências humanas: no lugar das estruturas econômicas e sociais, houve a revalorização do ponto de vista subjetivo. Deste modo, a emergência dos relatos amparados em experiências referentes a situações limite, que constituem um “passado vivo” (traz muitas inquietações e desafios para além do momento em que ocorreram) foi crucial para o desenvolvimento do campo da História do Tempo Presente [2].
É justamente nesse contexto de fortes críticas a alguns dos fundamentos da história dita “positivista” ou “tradicional”, que se iniciou uma percepção incisiva de que o cinema detém um potencial enorme para a investigação historiográfica. Desde o seu nascimento, no final do século XIX, a sétima arte consiste em uma testemunha da história e sempre registrou os fatos no “calor do momento”, sendo imprescindível para a compreensão do tempo presente [3]. Dessa maneira, conforme aponta Michèle Lagny (2012) se por um lado o cinema sempre se referiu à história, seja por meio da captura instantânea do que ocorreu, ou seja, pela recriação e romantização do passado em filmes ficcionais; por outro, a história só começou a se interessar tardiamente pelas produções audiovisuais. Essa historiadora francesa também indica que a emergência do estudo do tempo presente e a inclusão das fontes memorialísticas audiovisuais aconteceram simultaneamente no interior do fazer historiográfico. Por conseguinte, pode-se afirmar o seguinte:
[…] a apreensão audiovisual é considerada indiscutivelmente como testemunho porque ela ‘mostra’ o que se passa no momento em que a história acontece. Assim, o cinema revela de imediato um interesse pela história do tempo presente […] É justamente quando, nos anos 60-70, começa a ser formulada a noção de história do tempo presente que certos historiadores acabam, após um período de desprezo pelo audiovisual, percebendo que podem […] servir-se dele para interrogar a forma com que o momento presente é apresentado ou pela qual determinados atores querem que ele seja percebido (LAGNY, 2012, p.24-25)Nesse sentido, a coletânea A Ditadura na Tela: O Cinema Documentário e as Memórias do Regime Militar Brasileiro, publicada pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e organizada por três jovens pesquisadores, Carolina Dellamore, Natália Batista e Gabriel Amato, contribui substancialmente para os debates em torno dos vínculos que as memórias do nosso último período ditatorial mantém com a linguagem historiográfica e cinematográfica na sua vertente documental.
O livro contém 12 artigos divididos em duas partes (“As batalhas da memória no cinema documentário sobre a ditadura” e “O fazer e o guardar no campo do cinema documentário sobre a ditadura”) além de um prefácio assinado pela professora Miriam Hermeto, do departamento de História da supracitada instituição, e uma espécie de introdução denominada “A Ditadura na Tela: Questões Conceituais”, escrita pelos organizadores. Nessa seção, somos informados que a publicação é fruto de uma iniciativa anterior: o projeto de extensão “A Ditadura na Tela”, parceria entre o Núcleo de História Oral (NHO) dessa universidade, primeiro com o Centro de Referência da Moda e depois no Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do MIS Santa Tereza, ambos localizados na capital mineira. Tal projeto, que começou em 2014 e findou após três anos, ao longo das suas edições, promoveu a exibição de filmes documentais que tratam do regime autoritário iniciado em 1964 e encontros entre o público, cineastas e pesquisadores.
Um mérito desse projeto de extensão, que se traduziu na análise das películas dos artigos que compõem a coletânea, consiste na pluralidade de assuntos tratados em diferentes formatos cinematográficos. Ou seja, em relação à temática, foram escolhidas produções que vão desde o imaginário mais comumente atribuído ao período ditatorial que se refere, muitas vezes, aos jovens, geralmente homens de classe média ou alta, que aderiram ao movimento estudantil e à luta armada até as especificidades de grupos como as mulheres, as populações negras e os LGBT’s, que geralmente não são incluídos na escrita da história ou na memória social sobre a ditadura militar brasileira.
Ademais, os filmes eleitos também demonstraram igualmente uma variedade de formatos, sendo possível identificar filmes com características típicas dos chamados documentários ditos tradicionais, que se caracterizam por uma pretensão de objetividade, pela utilização de uma voz em off que procura tecer comentários distantes dos problemas suscitados pela realidade e pela presença de imagens apenas como ilustração para o que está sendo dito, mas também notamos que foram selecionados documentários com outros tipos de formato, nos quais o entrecruzamento entre as vivências do/a diretor/a e das personagens entrevistadas se torna um elemento central e as próprias fronteiras com o cinema ficcional são diluídas.
Assim, os organizadores afirmam que esses pressupostos permitem concluir que os filmes escolhidos, tanto para fazer parte do projeto de extensão quanto os analisados nos capítulos do livro em questão, se preocupam em valorizar não só a memória da esquerda armada, mas também aquela de outros personagens, isto é, a memória de “gays e lésbicas perseguidos pelo regime e a censura, artistas mais próximos da contracultura, sujeitos invisibilizados pela questão racial, entre outros” (AMATO, BATISTA, DELLAMORE, 2018, p.18). Em suma, através de um formato cinematográfico específico (caracterizado pela voz em off, de entrevistas e de imagens de arquivo) os documentários não apenas reproduzem memórias amplamente exploradas, mas evidenciam a pluralidade dos relatos dos vários grupos afetados pelos mecanismos repressivos. Além disso, também se inserem na luta desses grupos por visibilidade, reconhecimento de seus direitos na atualidade.
Não obstante à essa atenção a novos aspectos e testemunhas, a coletânea contém artigos que tratam de filmes que versam sobre objetos que, na historiografia e na memória coletiva sobre a ditadura, já são consagrados, a exemplo do movimento estudantil. No capítulo “A UNE Somos Nós: A Construção de Uma Memória Social Nostálgica da Resistência à Ditadura no Documentário Memória do Movimento Estudantil”, de Silvio Tendler (2007), Gabriel Amato realiza uma crítica ao filme citado no título. É uma produção idealizada por conta das comemorações dos 70 anos da própria União Nacional dos Estudantes, que é retratada como a unificadora dos embates dos jovens contra o autoritarismo nos anos 1960, apesar da multiplicidade de tendências no movimento estudantil da época. Deste modo, os estudantes seriam símbolos da defesa à democracia e representam o espírito da sociedade que resistiu bravamente aos abusos e desmandos. Entretanto, Amato faz menção aos trabalhos de Daniel Aarão Reis, que ressalta que as relações entre Estado e sociedade foram muito complexas e que não podem se resumir na polarização opressão e resistência. Assim, trata-se de um filme fortemente imbuído de uma memória oficial/institucional.
Nesse sentido, é importante enfatizar quatro capítulos da obra resenhada aqui que discorrem acerca de documentários que evidenciam as vivências de mulheres sob o jugo do regime ditatorial. São eles: “Repare Bem (2012) e as Estratégias de Construção da Memória em Diálogo com o Estado brasileiro: o caso da Comissão da Anistia”, escrito por Juliana Ventura de Souza Fernandes, “Censura, Homossexualidades e Resistências na Narrativa Cinematográfica de Cassandra Rios: a Sarfo de Perdizes (2013)”, assinado por Ana Marília Menezes Carneiro, “Uma Resposta de Vida à Ditadura Militar Brasileira: Memórias Femininas no Filme Que Bom Te Ver Viva (1989)” de Débora Raiza Carolina Rocha Silva e, por fim, “O Ato de Lembrar a Militância sob a Ótica Feminina: O Caso do Documentário Subversivas (2013)”, de Isabel Cristina Leite.
Se, por um lado, esses textos possuem a mesma matéria-prima, por outro lado, eles exploram aspectos distintos referentes a essa mesma temática. O primeiro se debruça sobre o filme Repare Bem, lançado em 2012 e dirigido pela portuguesa Maria de Medeiros, cuja trama focaliza as dores vividas por Denize Chrispim e Eduarda Leite, respectivamente viúva e filha do guerrilheiro Eduardo Collen Leite, assassinado em 1970 e conhecido pela alcunha de Bacuri. Somos apresentados, então, a duas gerações de mulheres atingidas pela perda de um ente querido vitimado pela violência política. Outro ponto a ser sublinhado é o fato de essa produção ser resultado do projeto “Marcas da Memória: História Oral da Anistia no Brasil”, desenvolvido pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Como se pode perceber, é um projeto que exemplifica a chamada “estatização da memória”, que consiste na apropriação por parte do Estado do quê e de como se deve lembrar, o que implica em um discurso oficial que, embora reconheça as graves violações de direitos humanos cometidas por agentes públicos durante a ditadura e a necessidade de se fomentar iniciativas que tocam nesse assunto sensível, possui demasiadas limitações devido à Lei da Anistia e da suavização, justificação e até mesmo negação das práticas repressivas apresentadas por membros das Forças Armadas, representantes deste mesmo Estado.
Já o segundo texto, escrito por Ana Marília Menezes Carneiro, trata do filme Cassandra Rios: a Safo de Perdizes de 2013, dirigido por Hanna Korich. É uma produção sobre a vida de Cassandra Rios (1932-2002), uma escritora que, desde o final dos anos 1940 até o início dos anos 2000, publicou diversos romances que possuíam como pano de fundo as relações homoafetivas, especialmente entre mulheres. Os livros da escritora obtiveram bastante sucesso no mercado editorial, não obstante o conservadorismo de cunho moral observável tanto em setores à esquerda quanto à direita na sociedade brasileira. Em consequência desses tabus, a liberdade de expressão de Cassandra era constantemente tolhida antes mesmo do golpe de 1964. Entretanto, com a censura prévia de instalada no começo dos anos 1970, houve a sistematização do cerceamento às publicações que se contrapunham à preservação dos bons costumes. A própria escritora chegou a ser submetida a interrogatórios, ameaças e até agressões físicas. Em suma, a obra de Cassandra Rios nos ajuda a complexificar o entendimento acerca da diversidade das práticas censórias e também conferiu “visibilidade à homossexualidade – notadamente a feminina – em contraponto não somente ao conservadorismo proveniente dos órgãos de censura e repressão, mas também presente na militância da esquerda” (AMATO, BATISTA, DELLAMORE, 2018, p.75).
A autora do próximo artigo dessa série, Débora Raiza Carolina Rocha Silva, já o inicia com indagações sobre a possibilidade de se afirmar a existência de uma memória feminina no que tange à resistência à ditadura e, se sim, porque essa memória foi escamoteada e porque ela deve receber visibilidade. A partir desses questionamentos, Débora analisa Que Bom Te Ver Viva, documentário que recolhe depoimentos de oito mulheres que narram o seu engajamento contra a ditadura e como elas lidam com os traumas causados pelo encarceramento e pelas múltiplas torturas, mas também por atitudes machistas e por silenciamentos acerca da atuação de mulheres dentro das organizações de esquerda. Lançado em 1989, este foi um dos filmes pioneiros a retratar o combate ao autoritarismo por parte do cinema durante a redemocratização.
A atriz Irene Ravache, que muitas vezes se dirige diretamente ao telespectador por meio de um monólogo, interpreta um álter ego da diretora, Lúcia Murat, que assim como as suas entrevistadas, também foi uma presa política. O filme em questão ainda apresenta outro aspecto que merece ser acentuado: a sua instigante linguagem cinematográfica que apresenta a forma de um docudrama: uma mescla entre elementos ficcionais, como a presença de uma atriz profissional, e elementos típicos de filmes documentais, como o uso de entrevistas com testemunhas de carne e osso e de imagens de arquivo. Por conseguinte, Que Bom Te Ver Viva não é um representante de uma narrativa tradicional e se aproxima dos documentários performáticos que, de acordo com Nichols (2016), são caracterizados justamente pela predominância das subjetividades e do engajamento do/da cineasta e dos seus entrevistados nos processos históricos.
Por fim, o último texto da coletânea, que busca esmiuçar documentários cuja tônica é a participação de mulheres na luta contra a ditadura, analisa Subversivas: Retratos Femininos de Luta Contra a Ditadura, produzido e dirigido por Fernanda Vidigal e Janaína Patrocínio. O audiovisual aborda a inserção feminina nos movimentos de resistência em Belo Horizonte. Embora esse artigo se refira à atuação de um determinado grupo em uma cidade específica, a autora do artigo, Isabel Cristina Leite, tece reflexões mais amplas, acentuando as relações entre a emergência de se narrar o trauma sofrido pelos sobreviventes e o desejo, expresso no grito de “nunca mais”, de que a exceção e a violência política não retornem: “narrar um trauma tornou-se um desafio e estava relacionado com a necessidade de […] não repetição do passado traumático” (AMATO, BATISTA, DELLAMORE, 2018, p.206).
Uma singularidade deste filme reside no fato de que uma das suas diretoras, Fernanda Vidigal, é filha de João Furtado e Thereza Aurélia (que inclusive é uma das entrevistadas), dois militantes que fizeram parte do grupo Ação Popular, ligado à juventude católica que foi uma das várias organizações de oposição ao regime militar. Sendo assim, tomados em conjunto, os filmes Subversivas, Que Bom Te Ver Viva, Cassandra Rios: a Safo de Perdizes e Repare bem possuem o mérito de se antecipar à historiografia e sobre a memória hegemônica sobre o período, uma vez que tornam públicas as especificidades de gênero da repressão e da resistência.
Outros dois artigos presentes na coletânea que no nosso entendimento são passíveis de destaque são “As Batalhas da Memória da Ditadura em Simonal – Ninguém Sabe O Duro Que Dei” (2009) e “Esquecidos, Celebrados, Geniais: Reconfigurações do Campo Historiográfico a Partir do Documentário Dzi Croquettes” (2009). O primeiro deles discute Ninguém Sabe O Duro Que Dei, de 2009. Esse documentário, produzido a partir da vida Wilson Simonal, que conviveu com a imensa popularidade, mas também com as acusações de que as suas canções seriam “apolíticas” e até mesmo que ele seria um informante do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). No entanto, o autor do capítulo, Bruno Vinícius de Morais argumenta que controvérsias sobre a colaboração ou não do cantor a um dos principais órgãos repressivos à parte, Simonal foi um dos artistas mais engajados na defesa do orgulho negro e do enfrentamento ao racismo, temáticas que atualmente são fundamentais, mas que, naquele período, eram bastante secundárias. Ou seja, a partir da tese sustentada pelo autor, podemos afirmar que assim como as questões de gênero, as pautas relacionadas à igualdade racial também foram escamoteadas e que, portanto, precisam ganhar cada vez mais espaço no cinema e na história.
Já o segundo, escrito por Natália Batista, investiga as possibilidades de análise contidas no documentário Dzi Croquettes, que levou para as telonas a trajetória do grupo de teatro homônimo, que construía espetáculos nos quais o binarismo entre elementos considerados como tipicamente masculinos e femininos era quebrado constantemente, o que levou a uma experimentação que explorava a desconstrução dos padrões dicotômicos de gênero e de sexualidade. Por conseguinte, percebe-se que contrariamente a outras agremiações teatrais do período, que realizava peças com um teor político tradicional, os integrantes do Dzi Croquettes, que embora não fossem alheios a esses debates corriqueiros na esquerda nos anos 1960 e 1970, militavam muito mais por uma revolução nos costumes e pela ruptura com os valores conservadores que desconheciam fronteiras ideológicas.
Se a primeira parte é escrita por historiadoras e historiadores, na segunda, encontramos dois textos de profissionais que lidam diretamente com produções audiovisuais. A cineasta Anita Leandro assina o artigo “Testemunho Filmado e Montagem Direta dos Documentários” que discorre acerca de Retratos de Identificação, de 2014, dirigido por ela e cuja trama é desenvolvida a partir de um conjunto de 60 fotos que mostram quatro presos políticos. Esses materiais provenientes de arquivos dos órgãos de repressão referem-se, sobretudo, ao tipo de imagem que nomeia o filme: fotografias em preto e branco, realizadas no momento da prisão, que registram o prisioneiro, de frente e de perfil, segurando um número de cadastro inserido em uma cartolina pendurada junto ao pescoço. O relato de Anita sobre o seu próprio filme é bastante instigante porque ele nos informa qual foi o método escolhido por ela. Em contraposição à montagem convencional (perceptível tanto em documentários quanto em obras de história oral) que utiliza entrevistas dirigidas àqueles que contam as suas vivências e que geralmente ficam ausentes da edição (no caso do cinema) e da escrita (no caso da historiografia), a diretora subverte esse processo, já que ao invés de recolher depoimentos cujos resultados dependem de perguntas feitas previamente, ela faz com que haja contato com o documento (nesse caso, as fotografias) e assim, a interpretação daquele passado se torne um diálogo entre as testemunhas e os rastros do passado, isto é:
[…] a associação dos arquivos à fala durante as filmagens oferece, tanto ao historiador quanto ao cineasta, a ocasião de observar os efeitos de um encontro entre a testemunha e as marcas do passado […] Esse compartilhamento […] favorece o diálogo entre o passado e presente, sem o qual não há elaboração possível de uma memória […] Contemporâneos um do outro […] testemunhas e documentos se complementam mutuamente (AMATO, BATISTA, DELLAMORE, 2018, p.222).Por fim, há ainda o texto “BH Em Movimento: Memórias da Ditadura Militar na Capital de Minas Gerais Presentes no Acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS)”, de Marcella Furtado, que possui como tópico uma breve descrição de um dos lugares onde aconteceu o já citado projeto de extensão, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de Belo Horizonte, que possui cerca de 50 mil itens, sendo o maior acervo audiovisual de Minas Gerais. Por conta do tamanho do arquivo, o MIS é muito procurado por pesquisadores, já que lá há o registro fílmico de vários episódios relacionados à ditadura naquela cidade: o movimento pela anistia, greves estudantis, protestos, militares em comemorações e eventos oficiais, dentre outros.
Por fim, esse livro (que possui ainda capítulos que versam sobre documentários com outros assuntos: as relações do futebol com as ditaduras no Brasil e nos outros países do Cone Sul, o movimento operário no ABC Paulista e a Tropicália) por mais que abordem filmes documentais bastante distintos entre si, partem de uma mesma premissa: os/as partícipes do regime ditatorial são múltiplos, e consequentemente, a historiografia deve incorporar essa diversidade de memórias.
Os autores e as autoras dessa coletânea tecem críticas incisivas à noção de que memória e história são antagônicas e ao conceito de memória coletiva que fazem parte do trabalho de Halbwachs (2006): um elemento de tons oficiais no qual todos se identificam e em contraposição a esse conceito, eles evidenciam as memórias subterrâneas, descritas por Pollack (1989) como sendo aquelas pertencentes aos grupos minoritários e silenciados. Então, pode-se afirmar que o livro, através da análise de obras do cinema documentário, sublinha que não é apenas preciso, mas urgente, conferir notoriedade às memórias subterrâneas não só em relação ao aparato repressor, mas também na própria esquerda revolucionária das décadas de 1960 e 1970, cujas perspectivas de ação política não contemplavam devidamente a luta contra a misoginia, o patriarcado, a LGBTfobia e o racismo. Dessa forma, o livro contribui significativamente para pensarmos as relações profícuas que o cinema documental e a historiografia mantêm com as muitas memórias em torno do período ditatorial de 1964 a 1985 que, infelizmente, ainda é um passado doloroso e traumático e que, portanto, coloca muitos desafios para o tempo presente.
Notas
2 De acordo com Seligmann-Silva (2000), depois de Auschwitz, houve a percepção nítida de que a história não deve ser tomada como radicalmente oposta à memória e que o ofício de Clio deve questionar com afinco não só os pressupostos de cunho positivista típicos do século XIX, mas igualmente as noções de temporalidade linear e progressista advindas do Iluminismo. Portanto, diante dessa notável acolhida das manifestações memorialísticas, especialmente àquelas que possuem como pano de fundo experiências dos vitimados durante essas situaçõeslimite, houve a percepção de que seria preciso desenvolver um novo campo historiográfico. Então, em 1978, surgiu na França o Instituto de História do Tempo Presente (IHTP) Conforme aponta Dosse (2012), um dos fundadores do Instituto, François Bédarida, afirmava que a existência deste campo se devia justamente a dois fatores: as fortes críticas às noções positivistas de objetividade e de “verdade” históricas e as mudanças epistemológicas dentro do interior do fazer historiográfico, provocadas pela ascensão da memória. Nesse sentido, conforme apontam Franco e Levín (2007) muitos historiadores afirmam que esse é um campo historiográfico marcado pelos seguintes aspectos: a presença daqueles que vivenciaram um determinado passado e que podem oferecer os seus relatos para o historiador; uma memória social bastante intensa sobre esse passado e a proximidade e até mesmo a coincidência entre o tempo de vida e de atuação do historiador e o tempo alvo da pesquisa.
3 Uma definição sucinta, mas instigante do que seria essa temporalidade é a seguinte: o presente corresponderia a “aquele conjunto de experiências que não se tornaram ainda uma alteridade para nós” (LÜBBE, 2003, p.402 apud MATA; PEREIRA, 2012, p.15). O presente, de acordo com essa acepção, pode ser entendido como sendo a temporalidade na qual as fronteiras entre o passado e o tempo corrente são estreitas. Então, o pretérito não é considerado como “um outro”, uma vez que as suas questões frequentemente irrompem e desafiam as pretensas estabilidade e distância do hoje em relação às insistentes cobranças realizadas pelo ontem.
Referências
AMATO, Gabriel; BATISTA, Natália; DELLAMORE, Carolina. A Ditadura na Tela: O Cinema Documentário e as Memórias do Regime Militar Brasileiro. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2018.
DOSSE, François. História do Tempo Presente e Historiografia. In: Tempo e Argumento, Florianópolis, v.4, nº 1, jan/jun. 2012, p.5-22. Disponível em: . Acesso em 24 mar. 2019.
FRANCO, Marina; LEVÍN, Florencia. El Pasado Cercano En Clave Historiográfica. In: ______ (orgs). Historia
Reciente: Perspectivas y Desafíos Para Un Campo En Construcción. Buenos Aires, Editorial Paidós, 2007, p.31-65.
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. Trad. de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006.
LAGNY, Michèle. Imagens Audiovisuais e História do Tempo Presente. In: Tempo e Argumento, Florianópolis, v.4, nº 1, jan/jun. 2012, p.23-44. Disponível em: . Acesso em 16 set. 2019.
MATA, Sérgio da; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. Transformações da Experiência do Tempo e Pluralização do Presente. In: ______; MOLLO, Helena Miranda; ______; VARELLA, Flávia (orgs). Tempo Presente & Usos do Passado. Rio de Janeiro: FGV, 2012, p.9-30.
NICHOLS, Bill. Introdução Ao Documentário. Trad. de Mônica Sandy Martins. 6ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2016
POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. In: Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.2, n.3, jun. 1989, p.3-15. Disponível em: . Acesso em: 16 set. 2019
SARLO, Beatriz. Tempo Passado: Cultura da Memória e Guinada Subjetiva. Trad. de Rosa Freire D’aguiar. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007
SELIGMANN-SILVA, Márcio. A História Como Trauma. In: ______; NESTROVSKI, Arthur. Catástrofe e Representação: Ensaios. São Paulo: Escuta, 2000, p.73-98
Samuel Torres Bueno – Mestrando em História pelo Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
AMATO, Gabriel; BATISTA, Natália; DELLAMORE, Carolina. A Ditadura na Tela: O Cinema Documentário e as Memórias do Regime Militar Brasileiro. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2018. Resenha de: BUENO, Samuel Torres. Memória, História do Tempo Presente e Cinema: Representações da Ditadura Militar no Gênero Documental. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.25, p.617-626, dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Ditadura e Democracia: legados da memória – RAIMUNDO (RTA)
RAIMUNDO, Filipa. Ditadura e Democracia: legados da memória. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. Resenha de: SILVA, Paulo Renato da. Os “cravos” da memória: democracia e passado autoritário em Portugal. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.28, p.546-552. set./dez., 2019.
Ditadura e Democracia: legados da memória, da socióloga Filipa Raimundo, foi publicado em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro é o 87o da coleção “Ensaios da Fundação”, uma das mais importantes coleções portuguesas tendo em vista a publicação de títulos que superem o meio acadêmico.
Escrito em linguagem acessível – mas não simplista –, e bem estruturado, o livro é composto por uma introdução, quatro capítulos e uma conclusão. Na introdução, De que é que trata este livro?, a autora evidencia o propósito do livro, a análise “(…) da relação da democracia portuguesa com o seu passado autoritário e dos elementos que têm contribuído para a construção da memória deste período (…)” (p. 9). No caso de Portugal, o passado autoritário se refere ao Estado Novo (1933-1974), período marcado pelo governo de António de Oliveira Salazar (1889-1970), Presidente do Conselho de Ministros entre 1932 e 1968, quando sofreu um acidente e foi afastado de suas funções. A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, representou o fim da ditadura do Estado Novo1. Para leitores que não sejam de Portugal, é importante acrescentar que o primeiro governo constitucional eleito depois da ditadura se estabeleceu apenas em julho de 1976, informação que ajudará a compreender alguns elementos tratados no livro e críticas feitas à condução da Revolução dos Cravos por diferentes grupos políticos portugueses.
O capítulo 1, Democracia e passado autoritário, destaca como as democracias de cada país se relacionam de modo diferente com os seus respectivos passados autoritários. “A decisão de punir ou não os responsáveis pelo regime deposto é, em larga medida, um produto das condições políticas existentes durante a mudança de regime. (…). Mais tarde, só conjunturas críticas permitem mudar a relação entre um povo e o seu passado autoritário” (p. 17). No capítulo 2, Ajustar contas com o passado, Raimundo passa a focar no caso português; analisa como alguns nomes ligados ao Estado Novo sofreram sanções institucionais e políticas depois da queda da ditadura e como outros foram processados criminalmente pelos atos cometidos. O capítulo 3, Romper com o passado, mas sem o apagar, analisa as novas narrativas sobre o passado promovidas a partir da Revolução dos Cravos, “(…) acções no plano simbólico e museológico [que] permitiram que a democracia se legitimasse tanto por oposição como por rejeição ao regime anterior, mesmo que ela nem sempre tenha sido tão profunda quanto a narrativa revolucionária faria supor” (p. 55). No capítulo 4, O antifascismo como imagem de marca, a autora investiga o tema das reparações econômicas e simbólicas aos perseguidos pela ditadura até os dias atuais. No início, as associações de perseguidos tinham o principal objetivo de libertar os presos políticos e “(…) sua existência foi relativamente efémera, tendo em conta a relativa rapidez com que os presos políticos foram libertados” (p. 77). Atualmente, poucas associações reuniriam ex-membros da oposição e da resistência e as atuais propostas de reconhecimento estariam muito concentradas nas mãos dos partidos políticos. Enquanto as associações primariam pelo reconhecimento simbólico, dos partidos políticos viriam as principais propostas de compensação financeira aos perseguidos. “(…) os beneficiários desses mecanismos parecem ser, em grande medida, os militares e simpatizantes dos partidos que lideram as propostas legislativas” (p. 78). De acordo com Raimundo, a reunião das iniciativas de sucessivos governos e dos principais partidos, sobretudo de esquerda, “(…) mais do que dar resposta a (…) certos sectores da sociedade, poderá ser encarada (…) como uma forma de cultivar uma imagem de marca através da qual podem reforçar as suas credenciais democráticas e chamar a si a herança da luta pela democracia e contra o autoritarismo” (p. 78). Na Conclusão, a autora faz um balanço do tratado em todo o livro e aponta aquilo que ficou de fora2.
Os méritos do livro começam pela própria temática, pois a memória de um passado autoritário é sempre um tema complexo e controverso. Ao abordar o tema, Raimundo sistematiza e analisa as principais ações quanto a esse passado3, destacando as contribuições, limites e contradições das medidas adotadas por governos, partidos e associações de perseguidos pela ditadura. Além disso, a autora evidencia as relações entre esse passado e a política portuguesa contemporânea, indicando como os usos dessa memória variam entre governos e partidos de diferentes vertentes políticas. Já comentamos que, segundo o livro, os usos desse passado estariam relacionados à construção de “credenciais democráticas” para os partidos e governos e a maioria das propostas de reconhecimento dos perseguidos partiria de governos e partidos de esquerda. Entretanto, ainda que não haja reivindicação do passado autoritário pelos atuais partidos portugueses, a autora demonstra que existem divergências sobre o reconhecimento aos perseguidos e a condução do processo revolucionário, o que aponta para diferentes concepções de democracia em Portugal após a Revolução dos Cravos. Para mencionar apenas um exemplo tratado no livro, além de indicar divergências existentes entre os próprios partidos de esquerda, Ditadura e Democracia mostra como o CDS, partido conservador português, procurou estender uma lei que beneficiava os perseguidos pela ditadura aos que sofreram sanções pelo processo revolucionário iniciado em abril de 1974, o qual teria cometido abusos semelhantes aos da ditadura:
Como mostram os registros da Assembleia da República, duas semanas depois da aprovação da Lei 20/97, aquele partido [CDS] apresentou uma proposta de alteração da lei que se baseava no facto de muitos portugueses terem sido “perseguidos e vítimas de repressão em virtude das suas convicções democráticas e anticomunistas [grifo meu]. Foram deste modo prejudicados no exercício das suas profissões, afastados ou saneados dos cargos e funções que desempenhavam, impedidos de ensinar, obrigados a recorrer à clandestinidade ou ao exílio, tendo em alguns casos sido presos por longos períodos. (p. 91) Se na Assembleia existem tensões sobre o tema, na sociedade portuguesa não poderia ser diferente. Raimundo destaca várias reivindicações de António de Oliveira Salazar em Santa Comba Dão, terra natal do ditador, e na imprensa, como o caso do documentário da RTP – uma das principais redes de televisão de Portugal – que apresentou Salazar como o expoente do século XX português (p. 10-14). “Tendo já superado a longevidade do regime autoritário, a democracia portuguesa dificilmente poderá continuar a ser apelidada de ‘jovem’. Ainda assim, estes temas surgem no debate com relativa frequência (…)” (p. 14). Ao apontar para as divergências existentes na Assembleia e na sociedade portuguesa – ainda que pontuais, esporádicas e minoritárias –, o livro nos leva a considerar que existem elementos que poderiam mudar a relação dos portugueses com seu passado autoritário diante de eventuais “conjunturas críticas”, conforme a autora defende no início de Ditadura e Democracia sem mencionar especificamente o caso português.
Ainda sobre a sistematização das ações e medidas tomadas em relação ao passado autoritário português, o livro se destaca pela comparação com o ocorrido em outros países europeus, africanos e latino-americanos, destacando convergências e divergências em relação a Portugal. A autora defende que “(…) o conhecimento sobre a forma como se ajustou contas com o passado noutros países poderá contribuir para mitigar a avaliação negativa que os portugueses fazem do seu próprio processo de ajuste de contas (…)” (p. 53). Raimundo apresenta dados de uma pesquisa que coordenou, na qual 95% de 131 perseguidos pela ditadura responderam que não teria ocorrido justiça no caso português (p. 51). A autora cita que nos casos de Espanha e Brasil, por exemplo, a opção punitiva não esteve nem sequer à disposição da elite política (p. 53). Além desse esforço de História Comparada, é necessário valorizar, ainda, o diálogo multi e interdisciplinar apresentado pelo livro entre áreas como História, Direito, Ciência Política e Sociologia.
Quanto às polêmicas suscitadas pelo livro, uma delas se refere ao termo “ajuste de contas” para se referir às sanções e processos sofridos por nomes ligados ao Estado Novo depois da Revolução dos Cravos. A polêmica, por exemplo, apareceu em 21 de setembro de 2018 no lançamento do livro no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, uma das principais referências quanto à memória do Estado Novo português. O lançamento no Museu do Aljube contou com comentários de Fernando Rosas e Riccardo Marchi. Rosas foi enfático na crítica ao termo “ajuste de contas”: “Ajuste de contas ou responsabilização cívica e criminal de responsáveis da ditadura e dos seus crimes? Ajuste de contas tem um subtexto. É o subtexto da vingança. Não se trata bem de um ajuste de contas. Trata-se de justiça.” (2018, 17m30s).
Para leitores da maioria dos países latino-americanos e em particular do Brasil, como é o caso do que aqui escreve, o livro pode soar deveras crítico quanto à forma como a Revolução dos Cravos lidou e como os governos constitucionais têm lidado com a memória do passado autoritário português. Deveras crítico, pois muitos de nós ainda esperamos ansiosamente por um “ajuste de contas”, ainda que limitado e com imperfeições. Assim, para muitos de nós latino-americanos, ler o livro é experimentar um choque entre a nossa temporalidade e a portuguesa no que se refere à relação com o passado autoritário. Só é possível criticar o “ajuste” com o passado quando o processo foi feito ou pelo menos tentaram fazê-lo.
A crítica feita por Ditadura e Democracia é necessária e muito bem-vinda. Serve de experiência e referência àqueles que ainda esperam por um “ajuste” com o passado. Entretanto, faltou ampliar a contextualização das limitações e contradições apresentadas no caso português. Ressaltamos: os excessos cometidos no pós-25 de Abril de 1974 devem ser lembrados e criticados para (des)construir e historicizar os discursos políticos em Portugal desde então. Devem ser lembrados e criticados, pois, em alguns casos, foram muito graves e resultaram em “(…) diversas prisões arbitrárias, uso de tortura e violenta agressão física” (p. 99-100), conforme apontou comissão constituída para averiguar os excessos. Contudo, esses excessos também estão profundamente relacionados a um estrangulamento do espaço público promovido por décadas pelo Estado Novo. O (re)estabelecimento de princípios legais e constitucionais depois de períodos autoritários não é um processo simples. Por sua vez, que os excessos de Abril sejam “esquecidos” ou silenciados por forças políticas que outrora os promoveram ou defenderam (p. 99-101) também deve ser analisado como um sinal de revisão do passado revolucionário por essas forças e de seu alinhamento – ou submissão – a valores presentes na sociedade portuguesa contemporânea ou em setores expressivos dela. Para além dos interesses imediatos, presentes nos usos que os partidos e governos fazem do passado autoritário, caberia apontar como a experiência democrática transformou as forças políticas portuguesas e provocou mudanças na forma de lidar com a memória da ditadura e da Revolução dos Cravos. Em outras palavras, o “esquecimento” ou o silenciamento dos excessos cometidos por Abril talvez indiquem um aprendizado maior com a democracia do que reivindicações de Salazar em sua terra natal ou em programas de televisão de grande alcance. Enfim, faltou ao livro um equilíbrio entre a crítica à memória de Abril e os legados que a Revolução dos Cravos deixou para a democracia portuguesa, o que implica conceber a democracia para além do seu aspecto institucional.
Em tempos nos quais o passado autoritário brasileiro é minimizado ou mesmo negado por expoentes e setores de nossa política e sociedade – o que se verifica com variações em outros países latino-americanos –, a leitura de Ditadura e Democracia nos conecta com experiências históricas vividas pelos portugueses desde a queda da ditadura. Ajuda-nos a pensar nas particularidades de cada processo, mas também nos problemas e dilemas em comum deixados por governos autoritários e ditatoriais. Quanto às críticas que Filipa Raimundo faz aos usos da memória do passado autoritário português e da Revolução dos Cravos, estas nos servem, sobretudo, para que a sociedade civil seja a grande promotora de nosso “ajuste” e, assim, não fiquemos à mercê das instabilidades que marcam a política partidária e institucional. 1 Entre 1968, quando Salazar se acidentou, e 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, a presidência do Conselho de Ministros foi exercida por Marcello Caetano. 2 “Este livro não teve a pretensão de apresentar uma análise exaustiva das ferramentas e mecanismos usados para lidar com o passado em Portugal. (…). Ficaram de fora desta análise muitos outros aspectos, tais como: o exílio forçado da cúpula do regime, a punição dos funcionários da Legião Portuguesa, o Tribunal Cívico Humberto Delgado, a mudança na toponímia, a proibição de constituição de partidos fascistas, a amnistia aos desertores e refractários, entre outros temas (…)” (p. 98). 3 No que se refere à sistematização, são dignas de nota as tabelas 1 “Funções abrangidas pela restrição de direitos políticos em 1975-76” (p. 31) e 2 “Temas, conteúdos e principais conclusões dos 25 relatórios publicados pelo Livro Negro” (p. 65). O Livro Negro foi uma proposta iniciada em 1977 pelo primeiro governo constitucional depois da queda da ditadura e teve o objetivo de reunir documentos sobre o autoritarismo e a repressão durante o Estado Novo.
Paulo Renato da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foz do Iguaçu, PR – BRASIL. E-mail: [email protected].
Democracia, ditadura: memória e justiça política – REZOLA; PIMENTEL (RTA)
REZOLA, Maria Inácia; PIMENTEL, Irene Flunser (Orgs). Democracia, ditadura: memória e justiça política. Lisboa: ed. Tinta da China, 2013. 520 p. Resenha de: NEVES, Hudson Campos; NUNES, Carlos Alberto Lourenço. Justiça política e memória: redemocratização na esfera lusófona. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.26, p.623-629, jan./abr., 2019.
A coletânea “Democracia, Ditadura: memória e justiça política” reúne trabalhos de pesquisadores que participaram do Colóquio Internacional “Legados do autoritarismo em Portugal em perspectiva comparada”, ocorrido na cidade portuguesa de Lisboa, em abril de 2012. O livro foi coordenado pelas pesquisadoras Irene Flunser Pimentel e Maria Inácia Rezola. As organizadoras observam a construção de uma justiça transicional ou de transição que significa “a concepção de justiça associada a períodos de mudança política, caracterizada por respostas legais para confrontar os crimes de repressão de anteriores regimes” (p. 9). As autoras avançam na questão:
As violações básicas dos direitos humanos não podem ser actos legitimados do Estado e têm de ser vistas como actos cometidos por indivíduos; quem comete este tipo de crimes deve ser perseguido criminalmente; e, finalmente, os acusados também têm direitos e merecem um julgamento justo. (p. 9-10) Está situada aí a diferença entre um julgamento no âmbito dos Direitos Humanos e do que seria um julgamento político. A importância dos Direitos Humanos tem sido reafirmada em diferentes ocasiões ao longo do século XX, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, passando pela criação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de 1953, e pela American Convention of Human Rights, de 1978. Um dos fenômenos característicos dos anos 1980 foi a criação de Comissões da Verdade, como por exemplo, na África do Sul, Chile, Argentina, bem como na Europa do leste, procurando responsabilizar os agentes da violência de Estado. Há também a criação de tribunais nacionais, regionais ou internacionais voltados para essas questões como os tribunais organizados na ex-Iugoslávia, em 1993, e em Ruanda, em 1994, bem como o Tribunal Internacional e alguns tribunais híbridos, como o de Kosovo, de 1999, o do Timor Leste, em 2000, além de Serra Leoa e Camboja, ambos de 2003.
A obra está dividida em seis partes, que abordam aspectos ligados aos processos de transição democrática em Portugal e também no Brasil. Na primeira parte, a ênfase é dada ao caso brasileiro. Intitulada de “História da democratização e amnistia no Brasil”, é composta por quatro capítulos, com abordagens de diferentes disciplinas como História, Sociologia e Direito. Maria Celina D’Araújo analisa a questão da anistia no contexto do Cone Sul do continente americano. Por sua vez, Janaína de Almeida Teles estuda o papel dos familiares dos mortos e desaparecidos ao longo da transição democrática. O questionamento sobre até que ponto a Lei de Anistia se constitui em obstáculo para a transição brasileira nos dias atuais é feito por Lauro Swensson Jr. Por fim, Gilberto Calil faz uma releitura a respeito do processo de democratização ocorrido em 1945, salientando a pressão de diferentes organizações e movimentos populares na tomada de decisão do governo Vargas em entrar na luta contra o fascismo, ao lado dos aliados, na Segunda Guerra Mundial.
Intitulada “Justiça política de transição e revolução em Portugal”, a segunda parte traz como destaque no conjunto da obra o capítulo escrito por Irene Flunser Pimentel, “A extinção da polícia política do regime ditatorial português, PIDE/DGS”. No texto, a autora descreve a forma como o Movimento das Forças Armadas (MFA), após a chamada Revolução dos Cravos, em abril de 1974, que derrubou o regime salazarista em Portugal, lidou com a Polícia Internacional de Defesa do Estado/Direção-Geral de Segurança (PIDE/DGS), tanto na metrópole quanto nas colônias do ultramar. Num primeiro momento, algumas frações do MFA cogitaram reaproveitar membros da PIDE no novo governo. Havia pressões internas para que isso ocorresse, o que foi obstado pela mobilização popular. A população pressionou a Junta de Salvação Nacional instalada no poder na sequência da revolução, impedindo a aceitação de membros da PIDE na montagem da nova estrutura governamental portuguesa, além de demandar a punição dos agentes acusados de diferentes atos de violência e repressão durante a ditadura salazarista. Sobre este aspecto, também na segunda parte da obra, o capítulo escrito por Fernando Pereira Marques analisa como o novo poder estabelecido após abril de 1974 se posicionou com relação aos cidadãos que sofreram com a repressão perpetrada pelo Estado Novo e Miguel Cardina, por sua vez, analisa a Associação de Ex-Presos Políticos Antifascistas (AEPPA) e sua luta pelo direito à memória. Já João Madeira estuda a experiência do Tribunal Cívico Humberto Delgado em seu curto período de existência (1977-78).
Ao longo desse processo, que se desdobrou na segunda metade dos anos de 1970, houve avanços e retrocessos. Cabe destacar uma virada à esquerda, ocorrida no MFA, a partir de 11 de março de 1975. Houve uma radicalização para criminalizar a PIDE e seus integrantes. No período que se estendeu até outubro daquele ano, um grande número de processos contra os agentes da polícia política foi apontado por Irene Pimentel. Outra virada no âmbito do MFA ocorreu a partir de 25 de outubro de 1975, quando houve um afrouxamento das ações contra antigos membros da PIDE e “muitos viriam depois a ser absolvidos ou apenas condenados à prisão preventiva já cumprida, sendo libertados de imediato”. No fim das contas, a maioria sofreu condenações com “tempo de prisão já cumprido: em 1982, 98 por cento dos presos já estavam em regime de liberdade plena” (p. 122-126).
Na terceira parte, “As purgas políticas no Portugal revolucionário”, o texto de uma das organizadoras da coletânea, Maria Inácia Rezola, destaca-se pela rica base documental e por apresentar elementos que, como se faz depreender, relativizam uma visão compartilhada por uma parcela expressiva da sociedade portuguesa na qual está presente um ceticismo acerca das reais condições em que se realizaram os afastamentos e punições de membros do regime autoritário na sequência do 25 de abril de 1974. Esse tema também é alvo do capítulo escrito por Pedro Serra, que se debruça especificamente nos assim chamados saneamentos políticos ocorridos na educação. Já Pedro Marques Gomes analisa o processo que deu origem ao afastamento de jornalistas, com destaque para os conflitos internos no “Diário de Notícias”, jornal de grande circulação no país, durante o chamado “verão quente” de 1975, quando aquele órgão tinha dirigentes próximos ao Partido Comunista Português, entre os quais, José Saramago.
Rezola aponta que as chamadas purgas políticas – operacionalizadas no âmbito de um organismo oficial denominado Comissão Interministerial de Saneamento e Reclassificação (CISR) – teriam sido, no olhar de tendências críticas da opinião pública de Portugal, limitadas e temporariamente circunscritas, de forma que seus efeitos pouco teriam contribuído à aplicação da justiça aos colaboradores da ditadura. Segundo a autora, esse descontentamento localiza-se nos poucos resultados concretos apresentados pela CISR, ou seja, dos processos instaurados contra funcionários da ditatura, apenas 2% resultaram em condenações e perdas de cargos públicos. Mas cabe atentar para elementos que são trazidos à tona por Maria Inácia Rezola e que ressaltam a complexidade da matéria. Muitos juízes que haviam colaborado de forma direta ou indireta com a ditadura, tornaram-se alvos das ações da CISR. Essa situação certamente gerou um impasse, afinal, levar a ferro e a fogo as reclassificações e afastamentos levaria à paralisação de diferentes setores do Estado, sobretudo no âmbito do judiciário. Além disso, houve uma série de ações que resultaram na demissão automática de funcionários de extintas agências governamentais, o que ao todo chegou a mais de 12 mil exclusões, mas que não chegaram a ser computadas como parte do processo de saneamento. O texto ainda avança sobre questões que costumam fazer parte de processos de transição, como disputas internas e ambiguidades políticas ao longo da implementação de um regime democrático, dificultando as ações punitivas e reparatórias.
O capítulo “Os dividendos do autoritarismo colonial”, de Augusto Nascimento, abre a quarta parte da coletânea, dedicada ao “legado colonial”. O autor centra suas análises no pós-independência de São Tomé e Príncipe. Demonstra a concomitância da substituição dos símbolos nacionais portugueses por são-tomenses, sugerindo que aspectos das ações dos independentistas pareciam denotar a persistência de métodos e procedimentos do passado colonial. Por sua vez, Roselma Évora examina a transição para formação de uma sociedade independente em Cabo Verde no texto “O peso do legado autoritário na configuração do processo decisório democrático em Cabo Verde”. Segundo sua análise, o legado autoritário afetou o processo decisório do novo regime e interferiu nos níveis de desempenho institucional, fragilizando a atuação dos atores políticos no sistema democrático.
A quinta parte, “Memória da ditadura”, é a que reúne o maior número de capítulos, o que por si só demonstra o quanto este tema continua presente na primeira linha das preocupações de historiadores e historiadoras de tais processos, e ainda destaca como os testemunhos são parte fundamental da escrita de uma história de processos recentes ou mesmo que ainda não se encerraram completamente, ao menos em sociedades recentemente democratizadas. Francesca Blockeel estuda e compara as similaridades entre as ditaduras de Portugal e Espanha. A autora faz um apanhado, em paralelo, do trajeto dos dois países para tratar sobre os sistemas de repressão que ambas as ditaduras construíram e as narrativas predominantes nos dois países acerca da transição para a democracia. As formas repressivas da codificação do crime político e das normas para a punição aos opositores do Estado Novo são a temática de Guya Accornero, enquanto que Jacinto Godinho demonstra a importância da utilização de uma série documental histórica produzida no âmbito das ações da PIDE. João Paulo Nunes analisa como Portugal atual se define e caracteriza tendo em conta as memórias vigentes acerca do Estado Novo. Luciana Soutelo estuda o revisionismo histórico que passou a ter o Estado Novo Português como alvo, as novas interpretações históricas e os desdobramentos do Estado Novo na sociedade portuguesa. O estudo de Flamarion Maués focaliza o “surto” editorial de cunho político a partir do 25 de abril, quando livros que haviam sido proibidos e/ou recolhidos pela ditadura foram publicados e disponibilizados na sociedade lusa pós-ditadura. Por outro lado, o Brasil é o tema dos capítulos escritos por Roberto Vecchi e por Ettore Finazzi-Agrò. No primeiro caso, há uma importante discussão sobre o acobertamento e as dificuldades para acessar documentos relativos à guerrilha do Araguaia, enquanto o segundo trata das obras de Clarice Lispector durante a ditadura militar brasileira, sua militância e o impacto de seus textos.
Por fim, o sexto capítulo nomeado “Memória e revolução”, tem por âmbito o campo da produção cultural e as narrativas em torno de um dos processos políticos mais ricos e ainda indecifrável em grande medida na história recente de um país europeu, qual seja, a revolução portuguesa de 1974. O processo revolucionário e a transição profundamente conflitiva para uma sociedade democrática e integrada ao contexto da Comunidade Europeia ainda hoje suscitam inúmeras controvérsias. A memória social, portanto, segue sob o enquadramento de narrativas que se impuseram ao disputar a produção cultural e as imagens associadas ao novo Portugal, ainda que manejadas por setores que foram alvos da ação revolucionária por serem considerados próximos do regime salazarista. O capítulo de Paula Gomes Ribeiro trata dos padrões de funcionamento do Teatro de São Carlos, principal casa de ópera de Lisboa, no período que sucedeu o 25 de abril, demonstrando as questões relativas à implantação do que se pretendia ser uma democracia cultural, numa tentativa de facilitar o acesso a bens artísticos e culturais ao grande público, o que não deixou de gerar tensões. Por sua vez, o capítulo de Paula Borges Santos, intitulado “A Igreja Católica na transição para a democracia”, estuda o papel da Igreja Católica e suas relações com o Estado Novo e principalmente as estratégias da instituição com vistas a lidar com um passado de colaboração estrita com o regime autoritário, em meio à contestação à hierarquia. Houve uma redefinição do lugar social da Igreja Católica na sociedade portuguesa ao longo do processo de transição para a democracia, inicialmente pelos constrangimentos de justificar o colaboracionismo como o regime deposto e, posteriormente, por “reivindicar a sua participação no exercício das liberdades democráticas reclamadas e apropriadas pelo restante da sociedade” (p. 479). De sua parte, Riccardo Marchi estuda, a partir da imprensa da época, as direitas portuguesas ao longo dos anos de 1976 a 1980, particularmente a influência de tendências de extrema-direita no universo juvenil durante a construção da democracia em Portugal, quando tais posturas e agrupamentos pareciam desafiadores aos partidos e governos de centro-esquerda que então predominavam na composição política daquele país.
Hudson Campos Neves – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: hudsoncn.historia@gmail.
Carlos Alberto Lourenço Nunes – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: [email protected].
Gritam os muros: pichações e ditadura civil-militar no Brasil | Thiago Nunes Soares
Lançado em 2018, pela Editora Appris, o livro Gritam os muros: pichações e ditadura civil-militar no Brasil, do historiador Thiago Nunes Soares, se propõe a apresentar as pichações produzidas nesse período como um dos instrumentos de resistência utilizados pelos militantes das esquerdas no país. Temática ainda pouco discutida dentro da militância nos anos de chumbo, as pichações surgiram como um canal de mobilização e arregimentação política, sendo uma das formas de atuação da esquerda jovem do país na luta pela democracia e direito ao voto. A obra de Soares (2018) traz uma importante contribuição às historiografias local e nacional sobre o tema e o período.
O autor utilizou uma vasta documentação para desenvolver sua análise. Trabalhou com dossiês dos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS- PE), com periódicos, tanto da grande imprensa quanto dos veículos alternativos, além de entrevistas de história oral. Nesse sentido, as memórias foram analisadas como um mosaico para a composição da sua pesquisa, cruzando-as com outras fontes, problematizando-as e levando em consideração as suas especificidades. Assim, foi possível tecer um panorama elucidativo acerca das experiências políticas dos autores e autoras de pichações e dos embates em torno das lutas em prol das liberdades democráticas. Dessa forma, Soares (2018) analisa vestígios produzidos de forma clandestina nos muros da cidade, de 1979 a 1985, em um momento em que os seus autores eram alvo de intensa vigilância e repressão policial. Leia Mais
De Satiricón a Hum®: risa, cultura y política en los años setenta | Mara Burkart
O golpe militar de março de 1976 inaugura um dos períodos mais violentos e repressivos da história argentina, consistindo em um dos temas centrais nos ciclos de produção e reflexão intelectuais sobre as experiências ditatoriais latino-americanas. De Satiricón a Hum®: risa, cultura y política en los años setenta, livro de Mara Burkart, publicado no ano de 2017, dedica-se justamente a abordar um tema relevante e ainda pouco visitado na produção historiográfica argentina envolvendo o período ditatorial: as relações entre imprensa gráfica de humor, cultura e política a partir da perspectiva de resistência cultural.
Com a queda da última ditadura militar argentina em 1983 e em meio ao clima de transição democrática, as análises produzidas no calor dos acontecimentos sobre o passado recente foram provenientes sobretudo dos campos da sociologia e da ciência política, tendo os historiadores se mantido inicialmente distantes desse processo. Somente em anos posteriores, devido ao processo de afirmação da ditadura militar como problema histórico e o desenvolvimento do campo e dos aportes trazidos pela história recente é que foi possível perceber um avanço mais consistente na produção que situa a ditadura militar como objeto de investigação e reflexão a partir de uma perspectiva histórica2. Leia Mais
Contribuição à crítica da historiografia revisionista – SENA JÚNIOR (RTF)
SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias de; MELO, Demian Bezerra de; CALIL, Gilberto Grassi (Org.). Contribuição à crítica da historiografia revisionista. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2017. 380 p. Resenha de: CASA GRANDE, Dirceu Junior. “Boa memória” e “conciliação”: a crítica da historiografia revisionista no Brasil. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 11, n. 1, jan.-jul., 2018.
A História e a memória não se equilibram mais entre a lembrança e o esquecimento. Tomadas de assalto nos dias atuais, lutam agora contra um espectro ainda mais obsedante, o silenciamento. O livro organizado por Carlos Zacarias de Sena Júnior, Demian Bezerra de Melo e Gilberto Grassi Calil, Contribuição à crítica da historiografia revisionista, publicado pela Consequência Editora em 2017, é mais um esforço de resistência às tentativas de amordaçar a História. Avessos a ideia de “conciliação” e construção da “boa memória”, o tema do revisionismo historiográfico é abordado por autores que escolheram combater aqueles que trabalham para apropriar-se do ofício de lembrar e impor versões definitivas para fatos e acontecimentos polêmicos e conflituosos.
Esta nova obra é o desdobramento de um trabalho anterior de crítica historiográfica, que reuniu textos de inúmeros historiadores no livro, A miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo contemporâneo, organizado por Demian Bezerra de Melo, publicado 2014. O novo conjunto de textos deu sequência às críticas historiográficas e aos debates em torno das apropriações do passado propostas por “revisões” de caráter meramente apologéticos. Não pode haver “conciliação”, assim como não existe a “boa” ou a “melhor” memória. As “revisões” apologéticas não passam de impulsos ideológicos que tem como objetivo habilitar ou reabilitar versões que não possuem nenhuma base teórico-metodológica viável ou qualquer proposição inovadora. Como alertou Virginia Fontes no prefácio da obra, “vivemos tempos em que se propõe ‘escolas sem partido’, impondo uma pretensa neutralidade para aniquilar o formidável conhecimento sobre a historicidade humana, a democracia e a revolução” (2017, p. 15).
O primeiro artigo do livro, intitulado “Revisão e Revisionismo”, foi escrito pelo historiador italiano Enzo Traverso. Em seu texto, o autor estabeleceu uma tensão entre ambos os conceitos e o ofício do historiador. O objetivo é refutar o perspectivismo, as tendências apologéticas e os usos públicos e inconsequentes das narrativas historiográficas. Conforme avaliou Traverso, o ofício do historiador consiste em criticar os fatos e os acontecimentos e revisar as versões com base na descoberta de novas fontes e documentos desconhecidos ou inexplorados. A crítica avalia o trabalho empreendido pelos pares e a revisão abre novas possibilidades de compreensão da História – com seus métodos e procedimentos – e do passado.
As conclusões das críticas e revisões historiográficas devem contribuir para ampliar os conhecimentos históricos, não silenciá-los. Quando porém, os historiadores relativizam aquilo que sabemos sobre um evento histórico com o objetivo de estabelecer uma nova perspectiva sobre ele ou direcioná-lo para usos públicos específicos como a ação política, ultrapassam os limites da pesquisa e da elaboração do conhecimento histórico-científico, incorrendo naquilo que Traverso denominou “revisionismos”.
Nesses processos, os revisionistas nunca utilizam uma nova fonte ou um documento inédito. Via de regra, promovem uma “viragem étnico-política” (p. 32) nos modos de enxergar e lidar com um fato ou acontecimento e elaboram narrativas com “tendências apologéticas” bem demarcadas. Os objetivos são o convencimento de indivíduos, a formação de públicos cativos, a imposição de versões pretensamente definitivas ou hegemônicas e a desconstrução inadvertida das teses marxistas.
Os revisionistas ignoram que os conhecimentos que possuímos do passado são sempre frágeis e temporários, dadas as características precárias e instáveis da História.
As críticas e revisões historiográficas normalmente suprem essas fragilidades dirimindo conflitos, desfazendo equívocos, esclarecendo e ampliando o conhecimento histórico.
Nesses casos, os trabalhos de revisão dão conta de atender expectativas de conhecimento e abrir novas possibilidades de análise, tornando a História mais fecunda. Na contra mão desses processos, as “revisões” apresentam, em suma, duas características marcantes em relação aos seus “métodos” e “conteúdos”: ou são inteiramente discutíveis ou inevitavelmente nefastos.
Mas, assim como o historiador conhece os limites e as possibilidades do seu trabalho e as implicações que suas teses podem produzir, os “revisionistas” conhecem perfeitamente os objetivos que desejam atingir e os caminhos que precisam percorrer para impor suas perspectivas. O primeiro passo é a afirmação de uma ortodoxia, de uma crença inabalável ou uma ideia fixa sobre um conjunto de fatos e acontecimentos. O segundo passo é a eliminação do diálogo e da discussão mediante o uso deliberado de práticas inquisitoriais ou estratagemas para vencer um debate sem ter razão. O terceiro passo consiste na excomunhão dos divergentes e na eliminação daqueles que defendem o caráter fecundo da História. Esses são os expedientes que dão voz e “razão” tanto aos historiadores oficiais quanto aos revisionistas. Ambos agem ideologicamente para partidarizar a História e polarizar as discussões sem trazer, no entanto, nada de novo para o debate.
As estratégias dos “revisionistas” consistem essencialmente em projetar para o primeiro plano lembranças vagas do passado e introduzir aspectos difusos da memória coletiva como instrumentos de avaliação dos acontecimentos, não de análise. O objetivo é acumular “vantagens” no debate público e obter a primazia do lembrar e do revelar.
Os métodos historiográficos são sumariamente descartados em favor de interpretações ideológicas, partidárias e relativistas. O que prevalece são falas generalizantes e radicalizadas que celebram ficções, reabilitam indivíduos, restituem ações ou validam versões e perspectivas detestáveis. O resultado são versões apologéticas cujas cores revelam os matizes de uma “ordem” falsamente estabelecida e supostamente inquestionável ou “novas verdades”, aparentemente revigorantes e esclarecedoras.
O livro conta com o prefácio de Virginia Fontes e uma introdução redigida pelos organizadores da obra, além de outros dez capítulos. Os três primeiros textos estão agrupados em uma parte denominada, “Ditadura e Democracia”. Outros quatro artigos foram reunidos em uma parte chamada “Revolução e Contrarrevolução”. E finalmente, os três últimos capítulos compõem uma parte que recebeu o título de “Capitalismo e Luta de Classes”. Nos referidos textos, os autores avaliaram as versões revisionistas sobre o golpe de 1964 e o período ditatorial que ele inaugurou, as revoluções portuguesa e russa e as teses do revisionismo conservador sobre o totalitarismo e o fascismo. Na terceira parte, revolução industrial, capitalismo e luta de classes, segregação urbana, criminalidade e banditismo são os temas dos últimos capítulos do livro.
No primeiro capítulo do livro, A “boa memória”: algumas questões sobre o revisionismo na historiografia brasileira contemporânea, Carlos Zacarias de Sena Junior aponta para a existência de uma “guerra de memória” (p. 63). Mais uma vez, as “revisões” apologéticas, ao insistirem na relativização do golpe de 1964, propõem um perspectivismo sutil para discutir temas singularmente polêmicos. Nessa dinâmica, a historiografia sobre o golpe e a ditadura que se seguiu, passaram a figurar entre os objetos preferidos dos “revisionistas”, empenhados na ressignificação dos eventos. Não por acaso, assim como ocorreu com outros temas polêmicos da História, como as revoluções francesa, portuguesa e russa, o resultado das versões seletivas sobre 1964 revelam reminiscências e ideologias políticas, mas não contribuem com a fecundidade do conhecimento histórico. Isso é o que facilita sua absorção pelos leitores desavisados ou pelos ouvintes cativos, bem como, favorece a consequente condenação de todas as teses que contrariam as expectativas dos adeptos das “revisões”.
Para Gilberto Grassi Calil, que escreveu o capítulo intitulado Elio Gaspari e a ditadura brasileira, o jornalista foi capaz de converter conspiradores, golpistas e torturadores em lideranças políticas bem intencionadas e austeras, além de transformar vítimas em culpados. Em uma perspectiva ainda mais apologética e centrada na ação de grandes personagens como o ex-presidente Ernesto Geisel e o General Golbery, o jornalista Elio Gaspari nos revelou uma visão suavizada da ditadura. Sua amizade com os personagens demonstram como a intimidade do autor com os atores de uma trama podem contaminar irremediavelmente a narrativa. Gaspari promoveu um abrandamento descarado da ditadura, restringindo-a temporalmente, absolvendo atores importantes, como o empresariado e os agentes norte-americanos, atribuindo à esquerda parte da culpa pelos rumos que os acontecimentos tomaram, elaborando uma versão parcial dos fatos sem qualquer tipo de apoio documental mais robusto.
Quando a paixão dirige o trabalho historiográfico, os resultados são “vertiginosas piruetas intelectuais” (p. 113), penduradas em tentativas para produzir conciliações e consensos políticos ou justificar atos de violência ostensiva. Eurelino Coelho analisou o trabalho de Ângela Castro Gomes e Jorge Ferreira, O livro de 1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Na tentativa de compreender a vitória dos golpistas civis e militares, os autores utilizaram um tempo verbal estranho ao trabalho do historiador, argumentando que, “se os personagens históricos tivessem se comportado de outra maneira… outra teria sido a história” (p. 117). Como é possível realizar uma revisão historiográfica no futuro do pretérito, questiona Eurelino? Mesmo existindo alternativas à disposição dos atores, eles fazem suas escolhas. Portanto, a história que deve ser contada é essa, centrada nas escolhas dos atores e não em possibilidades remotas do que poderia ter sido, e não foi.
A obra avança e os demais artigos do livro discutem amplamente as ideias e contextos de temas como Revolução e Contrarrevolução. Manuel Loff e Luciana Soutelo descrevem como as revisões sobre esses temas promoveram a suspensão do conceito de revolução e igualaram o fascismo e o comunismo para atribuir aos regimes totalitários um viés exclusivamente de esquerda. O objetivo dessas revisões, esclarecem os autores, é a legitimação do liberalismo ocidental, sua desideologização e naturalização históricas. As ressignificações do fascismo, a negação dos conflitos de classes e o abrandamento das ações da direita conservadora abriram caminho para a permanência dos discursos fascistas na sociedade atual. Ao analisar o que foi escrito pela imprensa nos períodos de transição da ditadura para a democracia, Carla Luciana Silva descreveu as atitudes e práticas totalitárias que resistiram ao fim dos períodos autoritários e permanecem virtualmente cativantes atualmente, tal como ocorreu em Portugal e Espanha pós-Salazar e pós-Franco, respectivamente.
Tatiana Figueiredo, por sua vez, avaliou o “revisionismo” histórico a partir da relativização do conceito de revolução, o qual passou a ser identificado pelos “revisionistas” como um caminho para a servidão e o terror, menosprezando conteúdos políticos, além da vontade e da participação popular nesses eventos. A autora criticou a elaboração de arquétipos e constatou que os movimentos que derrotaram a opressão e o terror, logo foram classificados da mesma forma. Na avaliação de Figueiredo, os revisionistas obscureceram o caráter antiautoritário das revoluções para promover novas formas de organização social e política, justificar atos extremos de violência, isentar de culpa empresários, políticos e intelectuais, além dos grandes monopólios empresariais, tal como ocorreu com os colaboradores do nazismo na Alemanha do pósguerra.
Na última parte do livro, “Capitalismo e Luta de Classes”, os autores destacam que o fortalecimento das teses “revisionistas” não geraram somente prejuízos para historiografia e para o conhecimento histórico. O predomínio dessas perspectivas com seus abrandamentos, reducionismos, generalizações e pregações otimistas sobre os avanços e o desempenho da democracia e da economia de mercado, escondem problemas mais sérios como as desigualdades sociais, a segregação urbana, a criminalidade, o banditismo e a violência. O empenho desses revisionistas, agrupados no que se convencionou chamar de “escola otimista”, reforçou as teses conformistas e a ideologia da sociedade de uma “classe só”, como sublinha Igor Gomes no último capítulo do livro (p. 331). De acordo com os autores do livro, paira sobre a História, suas pesquisas e narrativas, uma imensa nuvem de silêncios, todos discutíveis e nefastos.
Dirceu Junior Casa Grande – Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP-Assis-SP e Docente da área de Ciência Humanas e Sociais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR-Câmpus Cornélio Procópio-PR. Endereço profissional: AV. Alberto Carazzai, 1640 – Cornélio Procópio-PR – CEP-86300-000. E-mail: [email protected].
Democracia e estado de exceção: transição e memória política no Brasil e na África do Sul / Edson Teles
Democracia e Estado de Exceção, livro escrito por Edson Teles, trata da questão do papel da memória, no Brasil e na África do Sul. Seus usos e abusos na assunção das novas democracias no Hemisfério Sul, ante a herança autoritária da ditadura militar brasileira e do apartheid sul-africano. Em específico, a obra discute como esse passado, em tempos democráticos, interfere nas ações políticas do presente e na consolidação dos novos contratos sociais, sob a tensão entre a lembrança e o esquecimento dos tempos de exceção.
A publicação é fruto da tese de doutoramento intitulada: Brasil e África do Sul: paradoxos da democracia, defendida no ano de 2007 pela Universidade de São Paulo. Além disso, é resultado de anos de militância política e engajamento por parte do autor nas questões que envolvem os direitos humanos. A obra sedimenta suas reflexões no campo da filosofia política. Assim, constitui-se como um dos pontos chaves para o entendimento da abordagem do autor, a relação paradoxal entre a certeza do discurso e a insegurança da ação.
Nesse sentido, Democracia e Estado de Exceção, em comparação com outras obras do campo da filosofia, foge de uma perspectiva clássica. O livro não somente investe na densidade do debate filosófico que envolve noções e conceitos de memória, democracia, perdão e ressentimento, mas, por outro lado, busca o entendimento de como essas noções e conceitos foram articulados em realidades históricas específicas – Brasil e África do Sul – através da relação dialética entre lembrança e esquecimento.
De maneira geral, ao autor interessa como o debate filosófico interfere e constrói novos sentidos à esfera pública, ou como, em momentos de transição política, criam-se condições e possibilidades para o forjamento de novas formas de sociabilidade. As novas democracias teriam a difícil missão de criar um novo cenário de reconciliação com o passado, (re)construção do presente e projeção de um futuro para brasileiros e sul-africanos.
Os anos de chumbo da ditadura civil-militar no Brasil e o apartheid na África do Sul violaram o sentido democrático na medida em que a violência fez parte de maneira autorizada na esfera pública. Por consequência, a democracia foi encoberta pela exceção através dos crimes cometidos contra a humanidade: tortura, desaparecimento, assassinato e prisão daqueles que lutaram contra o regime. De certa forma, ambos os países experienciaram a produção da violência como uma política de Estado em tempos de exceção. Portanto, configuram-se como sociedades marcadas pelo ressentimento e trauma.
Em contextos como o de transição, os crimes ditos públicos, tais como casos de corrupção e violações à humanidade, passam a ter cada vez mais visibilidade. O filósofo propõe refletir a questão a partir das novas jurisprudências que foram criadas com o objetivo de julgar tais crimes, como: A Comissão Sul-Africana de Verdade e Reconciliação. Por outro lado, os períodos de transição e assunção de novos modelos políticos que confrontam os regimes de exceção enfrentam um grande dilema no reestabelecimento dos novos contratos sociais: punir ou anistiar; punir ou perdoar?
Para melhor compreender as especificidades de cada caso, Teles recorre ao método comparativo. As novas democracias – brasileira e sul-africana – tiveram que lidar, cada qual à sua maneira, com o passado dos regimes de exceção. Para tanto, o autor compreende que a memória desempenha um papel importante no acesso ao passado – seja enquanto esquecimento através do silêncio, seja enquanto lembrança – com a possibilidade de publicização dos traumas do passado em esfera pública.
A obra está disposta em cinco capítulos, dos quais o primeiro versa sobre as problemáticas da memória. Apesar de possuir um capítulo em específico, as reflexões acerca do papel da memória nas novas democracias são norteadoras para o desenvolvimento e considerações do autor ao longo dos outros quatro capítulos. Teles propõe iniciar suas reflexões a respeito do papel da memória questionando o que se lembra, e quem lembra. O investimento no conteúdo e agente da ação expõe as complexidades do acesso à memória.
Em suas considerações iniciais o autor rejeita a tese de que a memória seja um dado natural. O filósofo compreende que conteúdo e agente podem ser um importante indicativo para o entendimento das ações de recordação, tendo em vista que a coisa lembrada (conteúdo) projeta-se sobre o sujeito que realiza a recordação (agente). Teles pondera que, no campo social, o acesso ao passado através das ações de recordação torna-se mais complexo, pois o discurso dirigido por terceiros – Estado, partidos políticos e ONGs – reconfigura não somente a mensagem (conteúdo), mas o acesso à recordação (agentes e receptores). Para Teles, tais reconfigurações pelas quais passa a memória no campo social, ou as ações de recordação que envolvem conteúdo e agentes possibilitam compreender dois campos de abordagem.
O primeiro diz respeito à participação dos sujeitos nas ações de recordação de forma plural e subjetiva; já o segundo tem por finalidade tratar de forma objetiva e duradoura os elementos do passado. Nesse sentido, o autor considera que na esfera pública – no discurso proferido pelo Estado, partidos políticos e outras entidades – seja impossível compreender as ações de recordação, eu e nós, subjetividade e objetividade de forma distinta. Por consequência, a memória política seria esse espaço de análise das incongruências e conjunções entre o esquecimento e lembrança, singular e plural, subjetivo e objetivo.
Em diálogo com o historiador Peter Burke1, o autor expõe os conflitos e complementaridades da memória objetivada nas placas, monumentos e nos novos nomes das ruas com a subjetividade da memória dos moradores da cidade de Sófia. Teles considera que nos entulhos da objetividade da memória das datas, nomes e livros existem pontos mnemônicos subjetivos pouco acessíveis que fogem da homogeneidade imagética que as sociedades fazem de si mesmas. As memórias dos regimes autoritários seriam momentos de rupturas e de conflitos entre as ações objetivas e a pouca visibilidade às ações de recordações subjetivas.
Apesar do livro não investir em uma divisão em partes ou seções, consigo observar dois eixos centrais a partir do segundo capítulo. Estes configuram-se, também, como eixos espaciais, um estudo de caso do fim dos regimes autoritários e os processos de transição e consolidação das democracias no Brasil e na África do Sul. Esses dois eixos, por assim dizer, articulam as reflexões propostas por Teles. As experiências brasileira e sul-africana vivenciaram o signo da violência, mas lidaram com a memória de maneira distinta. Apesar de certas aproximações, Brasil e África do Sul, parecem divergir nos caminhos percorridos e pelo modo como reconstruíram suas democracias entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90.
Nos capítulos dois e três, o autor se preocupa com o caso brasileiro, mais precisamente, com o processo de transição política negociada entre os representantes da classe política que acabou por negligenciar o povo da esfera pública. Nesse sentido, creio que a experiência brasileira consagra as políticas de silêncio. O consenso, ou memória consensual – no período de transição – produziu silêncios a respeito dos crimes cometidos durante a ditadura militar. Para o autor, a memória objetiva do período limitou-se a datas, comemorações e placas alusivas ao fim do regime. Por outro lado, a impossibilidade do aparecimento de outras narrativas, que pudessem traduzir a subjetividade das experiências traumáticas na dimensão pública, silenciou vários indivíduos produzindo um vácuo entre passado e presente. Em alguns casos, sem a possibilidade de falar, esses mesmos indivíduos optam pelo silêncio reduzindo sua publicidade ao campo privado.
A transição brasileira negligenciou a memória política, ou seja, a nova dimensão pública limitou a presença plural do passado no presente. No capítulo Lembrar e Esquecer, Teles classifica três tipos de memória do período de transição. São elas: a memória dos militares, a memória das vítimas e, por fim, a memória do consenso. Em síntese, a memória dos militares seria a da vitória contra os subversivos, a famigerada ameaça comunista. Em contraste com a versão anterior, a memória das vítimas defende a investigação e punição a todos os culpados pelos crimes cometidos no período da ditadura militar. O esquecimento e passividade estatal perante as denúncias criaram uma zona de inconformismo por parte desses movimentos. E, por fim, a memória do consenso busca uma posição central entre as duas memórias. Sendo assim, esta memória irá expor de forma limitada sua visão sobre os crimes do passado e, em contrapartida, será simpática ao novo governo civil com o fim da ditadura.
Analisando o consenso, enquanto marca da transição brasileira, acredito que seu entendimento cruze as considerações do autor a respeito do conceito de democracia. Para Teles, o processo de transição de forma lenta e gradual ao qual se propôs o acordo entre os militares, lideranças políticas, latifundiários e empresários constituiu-se como uma democracia relativa ou incompleta. O filósofo questiona a eficácia da nova roupagem institucional – assembleias, eleições e direitos individuais – se estes mesmos espaços de ação na esfera pública limitam a área de atuação das subjetividades políticas. Como podemos falar de democracia se os crimes do passado não foram ainda julgados?
No capítulo três, intitulado Políticas do Silêncio, o autor faz algumas considerações sobre os efeitos do silêncio com a consolidação do período democrático no Brasil. Analisando algumas reflexões feitas pelo autor, acredito que a democracia brasileira não tenha se preocupado com o conteúdo do discurso e seu espaço de atuação. Nesse sentido, a memória objetiva peca no revestimento de novos sentidos mnemônicos para os espaços públicos. Ainda é comum no Brasil encontrarmos monumentos, nomes de ruas e escolas que prestam homenagens a presidentes e políticos envolvidos de forma direta com o regime militar. Soma-se, do ponto de vista subjetivo, a ocultação de falas e arquivos públicos. A democracia passa a enrustir e transformar o passado em segredo.
O segundo eixo é composto dos dois últimos capítulos. Neles o autor investiga a experiência sul-africana através da Comissão de Verdade e Reconciliação. A partir deste órgão e de outras ações, a África do Sul promoveu sua política de anistia em troca da confissão dos crimes. A dissonância entre o caso sul-africano e o brasileiro ocorre na opção do primeiro por criar espaços públicos de confissão e perdão, analisando caso a caso. Já o Brasil, através da anistia coletiva, transfigurou a memória ao campo do esquecimento através do silêncio. Por seu turno, a África do Sul optou pela publicização dos traumas e ressentimentos, através de políticas de narrativas. Tais espaços tinham por objetivo consumar luto e recriar novos laços sociais entre os indivíduos.
O período de segregação racial – apartheid – chegou ao fim com a eleição de Nelson Mandela para a presidência do país em 1994. A partir de então, a África do Sul elaborou uma nova constituição e lançou um plano de reconciliação com o objetivo de reconstruir a nação sem as marcas da violência e do preconceito de outrora. Para tanto, seria necessário lidar com o ressentimento e trauma do passado. Segundo o autor, esferas públicas foram criadas, reunindo vítimas e criminosos com o objetivo de apurar e reparar os crimes contra a humanidade. Tais momentos funcionavam mais como espaços de reconciliação do que tribunais cujo único objetivo seria o de punir todos aqueles que estivessem envolvidos em crimes no regime segregacionista.
Edson Teles pondera que a reconciliação sul-africana não ocorreu em um momento único. Na verdade, foi um processo que demandou tempo. Compreendo este momento não somente pelo seu viés institucional e burocrático, mas por sua dimensão simbólica, algo que se assemelha a momentos de ritualização coletiva, com o objetivo de recriar novos espaços de comunhão. Nesse sentido, o conceito ubunto, fortemente enraizado na tradição africana, auxiliou no processo de reconciliação, à medida que a reintegração dos réus à sociedade só era aceita por meio de um pedido de desculpas públicas após a confissão do crime.
Edson Teles, em comparação com o processo brasileiro, vê as narrativas construídas pelos sul-africanos como inovadoras por dois aspectos: primeiro, pela comissão ter ouvido não somente vítimas, mas também aqueles que cometeram os crimes no período; segundo, pela ampla publicidade dada às narrativas criando espaços de pluralidade e construção de subjetividades sobre o passado. Algo que a transição brasileira sempre negligenciou. Contudo, se o caso brasileiro peca pela ausência de memória, Teles critica o excesso de memória da experiência sul-africana como um dos pontos que também dificultam a concretude e o perdão.
Democracia e Estado de Exceção é um importante estudo de caso que recorre ao método comparativo para compreender os sentidos do passado. Para além do campo da filosofia política, em vários momentos, a obra parece estar inserida dentro do campo da História Social das Ideias, devido à análise contextual e atuação dos agentes nos processos de consolidação das novas democracias no hemisfério sul.
Wendell Emmanuel Brito de Souza – Mestre em História Social/UFMA. São Luís/Maranhão/Brasil. E-mail: [email protected].
TELES, Edson. Democracia e estado de exceção: transição e memória política no Brasil e na África do Sul. São Paulo: Editora Fap-Unifesp, 2015. 220 p. Resenha de: SOUZA, Wendell Emmanuel Brito de. Memória política entre silêncios e narrativas: transição democrática no Brasil e na África do Sul. Outros Tempos, São Luís, v.15, n.26, p.250-255, 2018. Acessar publicação original. [IF].
K.: relato de uma busca | Bernardo Kucinsk
A obra K. configura-se como trabalho histórico e memorialístico na medida em que expõe, denuncia e recupera o relato de dor e sofrimento2 do pai de Ana Rosa Kucinski Silva, desaparecida política brasileira. Durante o regime militar no Brasil (1964-1985), a agonia do pai e dos sobreviventes, vítimas da ditadura, intensificou-se com o silenciamento instaurado na sociedade, pelos detentores do poder, em relação ao paradeiro dos desaparecidos políticos. Nota-se que em 1974, ano em que ocorreu o desaparecimento de Ana Rosa e de seu marido, Wilson Silva, o regime ainda sentia os reflexos da concentração de poder nas mãos dos militares, fruto da instalação do Ato Institucional nº 5 (AI-5, de 13 de dezembro de 1968), que enrijeceu o sistema autoritário e levou vários dissidentes à morte.
Durante a ditadura, cidadãos que se opunham ao regime, como Ana Rosa Kucinski Silva e Wilson Silva, foram violentados, massacrados (expressão que carrega o sentido de humilhação)[3] e “desapareceram”. Para Bernardo Kucinski, trataram-se de crimes contra a humanidade, uma vez que, independentemente da posição política de esquerda comungada pelo casal – eram integrantes da Aliança Libertadora Nacional (ALN), que combateu o regime militar no Brasil –, os crimes contra a vida não se justificam, situação que se agrava ao avaliar a atrocidade dos acontecimentos e a existência, desde 1948, em âmbito internacional, da Declaração Universal dos Direitos Humanos [4].
As pistas e os vestígios [5] referentes ao casal e demais perseguidos políticos que compunham a organização clandestina de resistência ao regime foram destruídos pelos militares e por outros agentes, que endureceram o rigor do regime autoritário. Dessa forma, o jornalista Bernardo Kucinski, filho de Majer Kucinski e irmão de Ana Rosa Kucinski, utilizando-se da narrativa ficcional [6], oferece-nos a oportunidade de reconstruirmos o passado que se esconde pelas vias silenciosas das ações dos detentores do poder, que impuseram sua vontade através do apagamento dos rastros, de violências, atentados e humilhações contra a vida humana.
Além de militante política, Ana Rosa ocupou o cargo de professora doutora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), onde cumpriu com suas funções de forma assídua até o dia 23 de abril de 1974, quando, segundo suas colegas de trabalho, ela não retornou à universidade. Wilson Silva, seu marido, era físico e trabalhava em uma empresa. Já seu pai, o senhor Majer Kucinski, foi resistente judeu na Polônia e se dedicou integralmente, no Brasil, ao iídiche [7].
Amparado neste enredo, o jornalista Bernardo Kucinski amarrou os fios que estabelecem a intriga por meio da vivência familiar e ocupou, dessa maneira, o papel de testemunha [8], mesmo vivendo grande parte da sua vida no exterior. O autor alerta: “Caro leitor: Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu” (p. 8), ou seja, a reunião das informações esfaceladas, seja através do registro sobre o caso de desaparecidos políticos encontrado nos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), seja através do depoimento da escritora Maria Victoria Benevides – que rememora a aflição de Majer Kucinski na Comissão de Justiça e Paz, quando este estreitou laços de amizade com Dom Paulo Evaristo Arns –, ajuda-nos a situar este relato nos debates acerca da história, do trauma e da memória.
A tensão entre testemunho, denúncia, literatura, trauma e memória converge, no trabalho historiográfico, no labor com a realidade e a ficção. Na constituição da narrativa de Bernardo Kucinski, ao invés de se oporem, existe integração entre o par realidade e ficção [9], que se evidencia como um dos pontos centrais explorado no livro por meio dos sentimentos de agonia e dor alimentados por Majer na busca por sua filha. Indubitável que o livro, ao retratar o sofrimento angustiante de Majer Kucinski no resgate memorialístico de sua filha Ana Rosa (vinculada à história do regime militar no Brasil), vem assinalar um marco problematizador nos debates historiográficos referentes à ditadura brasileira, uma vez que revela uma atenção por parte de Bernardo em investigar as incertezas, o medo, a indignação, as mentiras e outras facetas decorrentes de regimes autoritários pela América Latina.
O desespero de Majer Kucinski diante do sumiço de sua filha, ao mesmo tempo que recupera sua singular trajetória de vida como militante político na Polônia, no pré-Holocausto – período em que foi reconhecido como prestigioso escritor do iídiche, com destaque para a literatura –, revela os meandros da política autoritária brasileira. Este sistema, regido especificamente pelo autoritarismo, guarda sua especificidade nacional diante de regimes totalitário-autoritários ocorridos na Itália e na Alemanha, na medida em que os militares, a mando dos detentores do poder no Brasil, desapareciam com as figuras oponentes ao regime sem deixar vestígios, tornando-as, portanto, desaparecidos políticos.
Além da incerteza do que realmente aconteceu com o casal, a experiência de dor visualizada no pai de Ana Rosa permite o paralelismo com os sentimentos de Primo Levi, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial (1939- 1945) [10]. Se a preocupação sobre o paradeiro de Ana Rosa e Wilson Silva é central para o autor, o sofrimento do pai, dos irmãos, o vazio, a humilhação e “a supressão dos sentidos ordinários comuns da vida” (p. 186), escancarado pelas vias do silêncio e perpetrado em suas veias pelos detentores do poder, desabrocha nos sentimentos da nossa indignação e ira diante da ditadura militar no Brasil.
É, portanto, diante o retrato de sentimentos como a culpa, a impunidade, o trauma, alimentados pela família Kucinski devido o desaparecimento de Ana Rosa que, não podemos perder de vista o quanto a obra de Bernardo Kucinski se constitui como se Bernardo assumisse a voz do seu pai na narrativa de desaparecimento de Ana Rosa. Interessante que, neste aspecto, as contribuições de Sigmund Freud (1856-1939) vêm ao encontro da problemática deste livro. Porque, por meio da A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 2001) apreende-se que o autor ao retratar acerca da “psicologia dos processos oníricos” e da “função dos sonhos – sonhos de angústia” descreve que “no inconsciente, nada pode ser encerrado, nada é passado ou está esquecido”. O que Freud quer explorar com essa passagem é que no estudo das histórias humanas “a via inconsciente de pensamentos que conduz à descarga no ataque histérico volta imediatamente a tornar-se transitável quando se acumula excitação suficiente”. E continua Freud, “uma humilhação experimentada trinta anos antes atua exatamente como uma nova humilhação ao longo desses trinta anos, assim que obtém acesso às fontes inconscientes de afeto” [11]. Nesse sentido, Bernardo Kucinski se constitui personagem paciente deste retrato apresentado por Freud. E, Kucinski, ao trazer suas inquietações a público por meio deste livro nos conduz automaticamente ao desdobramento de Freud, supracitado.
Por outro lado, foi possível notar ainda que a estrutura de K. é bastante sugestiva no que tange à maneira como vamos ler a obra, pois, diante de uma leitura rápida, é difícil encontrar uma linearidade que conduza a história de forma objetiva. O leitor desavisado só conseguirá configurar o enredo após a leitura do posfácio de Renato Lessa. Nesse sentido, percebe-se que Lessa se volta às problemáticas e considerações a respeito dos estudos sobre as vítimas do regime militar no Brasil, apresentadas também por Maria Victoria Benevides na orelha do livro, em que a autora analisa os usos da ficção e da literatura no escopo do discurso do autor.
Bernardo Kucinski traz informações sobre a chegada da sua família ao Brasil e enriquece o retrato sobre a vida de Majer e Ana Rosa Kucinski Silva. Além de usar a letra K, sugerindo correlação com a trajetória de vida do escritor Franz Kafka (1883-1924) – escritor tcheco, que sofreu por ser judeu; escreveu para revistas literárias e mantinha grande simpatia pelo socialismo e sionismo –, Bernardo evidencia a perseguição política que Majer Kucinski sofreu na Polônia, sendo obrigado a fugir para o Brasil em 1935. Por escrever em iídiche, passou a ser reconhecido pelos judeus do bairro de Bom Retiro, em São Paulo. Além disso, escreveu em jornais de São Paulo, Buenos Aires e Nova Iorque. Logo, angariou um sócio com grande capital para abrir uma loja de tecidos.
Como alguém que carrega um trauma do que viveu [12], Majer não contou aos filhos a dor que sofreu no passado para não influenciar a formação psíquica e ética deles. Majer Kucinski tinha 30 anos quando foi arrastado pelas ruas de Wloclawek, uma pequena cidade polonesa, onde se deu o primeiro massacre organizado da população judaica pelas tropas alemãs na invasão da Polônia. Neste episódio, em que sua irmã mais nova morreu sua outra irmã, mais velha, Guita – militante de esquerda que ajudou a fundar o Linke Poalei Tzion (Partido dos Trabalhadores de Sion de Esquerda) –, foi presa e veio a falecer de frio. Já a mãe de Ana Rosa Kucinski, Ester, perdeu toda sua família. Ester veio para o Brasil um ano depois da chegada do marido. Ela desenvolveu câncer no seio direito na mesma época em que engravidou de Ana Rosa, que nasceu em 1942. A mãe de Ana Rosa veio a falecer, e Majer casou-se com sua segunda mulher. Porém, reclamava desta devido à vida pacata que levava, uma vez que sempre foi um homem ativo na sociedade.
Bernardo retrata a agonia de Majer diante das pistas incertas e seu cansaço ao seguir as indicações de informantes – dentre eles, o decorador de vitrines (Caio), o dono da padaria (o português Amadeu) e o farmacêutico (reconhecido como excelente informante dos judeus em São Paulo, que indicou a Majer um rabino em São Paulo e um dirigente da comunidade no Rio de Janeiro que mantinham contatos com os generais). Em busca de respostas, Majer viajou para Nova York ao escritório American Jewish Committee – ambiente que o recebera no passado para lhe conceder o prêmio pelo poema “Haguibor”, publicado na revista Tzukunft (revista literária iídiche publicada em Nova York). Foi a Londres, na Anistia Internacional, e antes esteve em Genebra, onde apelou à Cruz Vermelha. Bernardo Kucinski retrata o desgosto de Majer com a Comissão de Direitos Humanos, que rejeitou sua petição. Por fim, todas as buscas foram em vão. Ademais, muitas pessoas que Majer procurou não lhe ajudaram por medo do sistema, que perseguia pessoas e desaparecia com os opositores ao regime sem deixar rastros.
A insistência de Majer na busca por Ana Rosa levou-o a descobrir a vida clandestina da filha tanto em relação à política como em relação a sua própria família, já que, procurando protegê-los, Ana Rosa omitiu diversos fatos de sua vida, como o casamento com Wilson Silva. Sua luta política foi cultivada no anonimato e, com o casamento, Ana Rosa aproximouse ainda mais do marido, que mantinha maior vínculo com as ideologias incentivadas pelos grupos de esquerda no Brasil.
O desespero de Majer intensificou-se ao tomar conhecimento de outras famílias que procuravam por seus desaparecidos. Muitos queriam apenas enterrar seus mortos, uma vez que o tempo dera provas de que já não havia mais esperanças. Dessa maneira, o que se pode notar é que Majer estava ante uma especificidade do Estado autoritário brasileiro, que conseguia escamotear, acabar com as pistas, vestígios, rastros que levassem aos autores dos crimes encomendados.
A forma com que os militares desapareciam com os corpos no Brasil é comparada por Bernardo ao que fizeram os nazistas com seus prisioneiros: antes de serem reduzidos a cinzas, era dado baixa do número que cada um tinha tatuado no braço num livro. Depois, eram enterrados em vala comum. Dessa forma, era possível saber que os judeus e as vítimas de outra ordem se encontravam enterrados em determinado local. Já no Brasil, como Bernardo afirma, o luto referente às vítimas da ditadura continua em aberto devido à ausência e ao sumiço dos cadáveres. Neste encalço e na suposição de que este assunto ainda deva atormentar os sonhos de Bernardo Kucinski vale atentarmo-nos ao que Freud nos assegura “a interpretação dos sonhos é a via real para o conhecimento das atividades inconscientes da mente” [13]. Ou seja, por meio das dúvidas e “certezas” que cercearam os sonhos e a mente de Majer, estes, agora, passaram a atormentar os sonhos e mente de Bernardo. Nesse sentido, o ato do sepultamento tanto para Bernardo quanto às famílias vítimas de narrativas de mesma natureza simboliza o fim do trabalho de dor e luto pelo desaparecido político.
Outra análise motivada por Bernardo Kucinski é: diante dos acontecimentos com sua irmã e seu pai, como ficam os torturadores em relação às manifestações de sobreviventes e presos políticos, como o “dossiê das torturas” e o “relatório prometido à Anistia Internacional”, citados no livro? Se, para ele, a punição aos mentores dos crimes está longe de se tornar realidade, em contrapartida, ela ainda persiste em relação às vítimas. Este assunto remete aos debates e catalogações dos historiadores e se vincula aos estudos sobre os crimes cometidos contra a humanidade [14], em que se configuram atrocidades inimagináveis quanto à vida humana.
Se, por um lado, o livro de Bernardo denuncia a realidade cruel sofrida por seu pai, por outro, tece pontos estratégicos ao retratar como funcionou o sistema político no Brasil, que desapareceu com as pessoas sem deixar vestígios, humilhando-as e levando-as à morte. Nos capítulos “A Cadela” e “A Abertura”, os diálogos sugeridos por Bernardo entre os mandantes do governo e os sujeitos nomeados pelo autor como Lima, Mineirinho, Fogaça e Fleury revelam a tortura psicológica que as vítimas sofreram ante a instauração do silêncio e das informações falsas concedidas por estes mesmos sujeitos acerca dos desaparecidos políticos. O governo, através de um aparelho de Estado repressor que tudo sabia e que constantemente estreitava contatos de fidelidade com pessoas dentro e fora do país para enrijecer o sistema, tentou a todo custo despistar, cansar, manipular e mentir aos familiares sobre o paradeiro de seus desaparecidos. Dessa maneira, Bernardo realizou um trabalho notável ao explorar as vias enigmáticas em que se instaurou o sistema autoritário brasileiro, que conseguiu levar Majer à exaustão, uma vez que seus movimentos foram monitorados por agentes do governo, desviando-o de seu objetivo: encontrar a filha, ainda que morta.
Um dos pontos auges do livro encontra-se no capítulo “A Terapia”. Neste, Bernardo, utilizando-se do relato da personagem Jesuína Gonzaga, expõe os bastidores de uma casa em Petrópolis [15], no Rio de Janeiro, onde um dos chefes de comando do regime militar, o suposto Sérgio Paranhos Fleury, vinha de São Paulo para comandar e realizar torturas psicológicas, físicas e massacrar, de fato, os opositores ao regime. Fleury era reconhecido pela terapeuta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelos demais como “o Fleury do esquadrão da morte”. Segundo Jesuína, nesta casa havia uma espécie de garagem ou depósito que ela só pôde conhecer quando esteve sozinha no local. As atrocidades reveladas por testemunhas oculares [16] como Jesuína, mesmo que de forma fragmentada, colocam em evidência os horrores a que as vítimas diretas do regime foram sujeitadas. Jesuína, por exemplo, por não suportar conviver com aquela realidade, procurou o INSS para realizar um tratamento psicológico, além de fazer uso de pílulas para dormir. Neste capítulo, Bernardo escancarou a realidade do local onde ocorria a carnificina e o esquartejamento dos corpos que, posteriormente, eram levados em sacos de lonas bem amarrados para lugares até hoje desconhecidos.
Bernardo, ao relatar o encontro de Majer com o arcebispo de São Paulo, solidário às famílias que buscavam por seus desaparecidos políticos, revelou a incapacidade do pai em relatar coerentemente o acontecido. Ainda que Majer Kucinski fosse contrário ao catolicismo no passado, naquele momento tentou preencher o vazio com notícias que talvez o arcebispo poderia lhe conceder sobre a filha e o genro. É indubitável que a supressão de provas tornou a busca de Majer ainda mais dolorida, pois, diferente da Polônia – onde a família do preso era notificada, podia visitá-lo, e os presos tinham direito à defesa –, no Brasil os corpos simplesmente desapareciam.
O livro K., através de sua narrativa ficcional, procura compreender o papel de sobreviventes ante acontecimentos estarrecedores, como foi o caso da invasão na Polônia, em que Majer perdeu suas duas irmãs, e sua primeira mulher, toda a família. Conforme retratado anteriormente, Majer não relembrou esses episódios aos filhos para evitar causar-lhes mal no período em que estavam construindo suas vidas, além disso a lembrança provocava-lhe malestar. Por meio de estudos acerca do trauma nota-se que o sobrevivente procura viver o presente tentando se recuperar do trauma do passado. Dessa forma, o passado vivia adormecido na vida de Majer Kucinski até o momento em que sua vida no Brasil fê-lo vítima das atrocidades do regime militar. Nesse sentido, é importante observar que o livro de Bernardo apresenta problemáticas quanto ao estudo de passados traumáticos [17], por exemplo, em relação ao sobrevivente que, além de carregar o mal do passado, sente-se culpado e tornase vítima de um sistema que imputa a ele a responsabilidade psicológica de não ter oferecido o amor necessário à filha, como retrata Bernardo na obra ao afirmar que os sobreviventes sempre vasculham o passado “em busca daquele momento em que poderiam ter evitado a tragédia e por algum motivo falharam” (p. 168). Ou seja, a culpa alimentada através da dúvida e das incertezas impostas pelo sistema permanece dentro de cada sobrevivente como um drama pessoal e familiar, que foge da ordem coletiva. Dessa forma, a dor psicológica e a culpa instalam-se.
Bernardo deixa explícito o poder de imposição do sistema ao final da obra, no “Post Scriptum” de 31 de dezembro de 2010, quando toma como referência um telefonema que recebeu em que uma voz originária de Florianópolis-SC relatou que, numa viagem ao Canadá, uma pessoa de nome Ana Rosa Kucinski Silva se apresentou a ela. Bernardo não retomou contato com a pessoa do telefonema porque acredita que o sistema repressivo continua articulado. Ou seja, segundo Bernardo, essa ação é fruto de uma reação referente a um vídeo gravado por uma atriz brasileira convidada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para personificar o desaparecimento de Ana Rosa. Nesse sentido, a obra K. contribui de forma categórica à problemática em que se circunscrevem as vítimas diretas e os sobreviventes do regime militar no Brasil, conduzindo esse problema aos debates acerca da história, do trauma e da memória e contribuindo decisivamente com estudos de passados traumáticos.
Bernardo estimula-nos ao imaginário individual e de ordem coletiva que funciona como via de regra na constituição dos fatos. Assim como o luto continua em aberto, uma vez que não foi possível oferecer às vítimas uma lápide devido à ausência dos corpos, esta mesma ausência causa transtornos aos familiares dos desaparecidos políticos, que ainda buscam por certezas e justiça para seus entes, baseados nos debates constantes acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em desacordo com os crimes de qualquer natureza cometidos contra a humanidade. No encalço dessas problematizações cabe ainda salientarmos a importância dos debates no Brasil acerca da temática “Justiça de Transição”. Este é um assunto que tem ganhado espaço nos debates acadêmicos devido aos “conceitos de legados autoritários, justiça transicional e política do passado como são hoje aplicados e analisa também as formas de justiça transicional que estavam presentes durante os processos de democratização na Europa do Sul” [18].
Por fim, o livro resenhado atribui aos pesquisadores e intelectuais de um modo geral a tarefa de investigar pistas, rastros e vestígios em busca de respostas sobre esse passado traumático que sucumbiu com a vida de pessoas como a de Majer Kucinski – pelos tormentos da culpa, do trauma e da morte causados pelo cansaço e exaustão ao procurar sua filha – e de Ana Rosa Kucinski Silva, que até agora continua sem um túmulo, sem uma lápide que a insira num tempo que contabilize seu nascimento e morte, pois, conforme os judeus, “Sem corpo não há rito, não há nada”.
Notas
2. É importante deixar claro que o livro de Bernardo Kucinski se situa no âmbito das discussões teóricas da egiptóloga Aleida Assmann, a qual, por meio do livro Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural (ASSMANN, 2011), nos oferece a oportunidade de analisar que o resgate da memória traumática, referente a acontecimentos do nosso passado recente, nos remete a posicionarmos contra as catástrofes, atrocidades dos eventos traumáticos. Um dos exemplos chave que podemos apontar nesta abordagem, o Holocausto.
3. Conferir o texto do historiador Edgar Salvadori de Decca A humilhação: ação ou sentimento? (MARSON; NAXARA, 2005). Nesse texto, Decca contribui sobre o que é humilhação. Segundo o autor, diante de várias características que a palavra carrega, a humilhação é o processo em que a “vítima é forçada à passividade, sem ação e sem socorro” (p. 108).
4. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 dez 1948. Disponível em . Acesso em: 30 out. 2015.
5. Vale lembrar que, para o historiador Carlo Ginzburg as pistas e vestígios do passado são fundamentais ao historiador no processo investigativo de determinado acontecimento histórico. Dessa maneira, através deste pressuposto, reconhecido como “paradigma indiciário” é que, também, podemos ler as lacunas e os silêncios que muito nos contribuem sobre aquele objeto de estudo e o tempo em que ele está imerso. Conferir: Sinais: Raízes de um paradigma indiciário (GINZBURG, 1989, pp. 143-179).
6. Nesse sentido, Hayden White expõe a problemática de que o historiador em seu processo de escrita, onde a leitura das fontes se apresenta como norteadora, deve se utilizar da sutileza e da herança cultural literária que ele carrega, oferecendo, portanto, um sentido específico ao que objetiva narrar. Dessa forma, para White essa ação é uma “operação literária e criadora de ficção”. Consultar: O texto histórico como artefato literário (WHITE, 1994, p.104).
7. “O iídiche é falado pelos judeus da Europa Oriental e teve seu apogeu no início do século XX, quando se consolidou sua literatura; sofreu rápido declínio devido ao Holocausto e à adoção do hebraico pelos fundadores do Estado de Israel” (p. 13).
8. É importante considerar neste contexto que para Paul Ricouer o testemunho se configura como elemento muito importante para que o historiador possa resgatar o passado. Conferir: O testemunho (RICOUER, 2007, p.170).
9. O historiador italiano Carlo Ginzburg argumenta que a relação entre narrações ficcionais e narrações históricas “devia ser enfrentada da maneira mais concreta possível”. Ou seja, nota-se que tanto para Hayden White quanto para Carlo Ginzburg as duas formas de narrativas são fundamentais em nossa operação historiográfica. Conferir o livro O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício (GINZBURG, 2007, p.12).
10. Consultar: É isto um homem? (LEVI, 2000).
11. Cabe salientarmos que para melhor apreensão acerca deste assunto é preciso consultar a obra: A interpretação dos Sonhos (FREUD, 2001, p.554).
12. É interessante notar que os estudos do historiador Dominick LaCapra sobre trauma são bastante sugestivos justamente ao enfoque que ele dá aos traumas de pessoas que testemunharam eventos históricos estarrecedores. Observa-se que as vítimas sentem-se como sua linguagem ficara comprometida devido aos efeitos psicológicos. Pois as testemunhas oculares de eventos limites carregam imagens do ocorrido e que vem a lhe causar tormentos constantes diante das cenas que lhes vem à memória. Conferir: Writing History, Writing Trauma (LACAPRA, 2001).
13. Consultar a obra: A interpretação dos Sonhos (FREUD, 2001, p.581).
14. O historiador Francês Pierre Nora à frente da Associação Liberdade para a História na França tem chamado a atenção acerca da liberdade dos historiadores em representar os crimes cometidos contra a humanidade. Pois essa assertiva vai à contramão de políticas públicas que muitas vezes procuram através de leis e ações políticas salvaguardar o retrato desses acontecimentos à luz de interesses políticos ou de natureza particular. Conferir o livro: Liberté pour l’histoire (NORA, 2008).
15. Vale lembrar que a esta altura do livro, Bernardo Kucinski, ao referir-se à uma casa em Petrópolis ele faz alusão à existência da Casa da Morte em Petrópolis no Rio de Janeiro para onde foram levados os presos políticos e lá, massacrados.
16. A abordagem da historiadora argentina Maria Ines Mudrovcic acerca de testemunhas oculares se faz bastante pertinente nesta resenha no que concerne à abordagem referente à dor psicológica causada no indivíduo que testemunhara a um evento limite. Segundo Mudrovcic, testemunha ocular é todo indivíduo que vê o que acontece diante os seus olhos, portanto, no caso de Jesuína, ela testemunhara os horrores à sua frente. Logo, essas experiências desencadearam com o tempo, trauma. Conferir: El debate em torno a la representación de acontecimientos límites del pasado reciente: alcances del testimonio como fuente (MUDROVCIC, 2007, pp. 127-150).
17. Os estudos do literato Márcio Seligmann-Silva vem a calhar com questões acerca de passado traumáticos assim como os trabalhos da historiadora Maria Ines Mudrovcic. As expressões eventos limites, trauma, literatura, ficção, história e memória são bastante recorrentes nas obras de Seligmann-Silva, dentre elas, consultar: A História como Trauma (SELIGMANN-SILVA, 2000, p.78).
18. Consultar: O Passado que não Passa: A sombra das Ditaduras na Europa do Sul e na América Latina (COSTA; MARTINHO, 2012, p.5).
Referências
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Trad. de Paulo Soethe. Campinas: Editora da UNICAMP, 2011.
MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005.
COSTA, António Pinto; MARTINHO, Francisco Carlos Palomantes. O Passado que não Passa: A sombra das Ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
DECCA, Edgar Salvadori de. A humilhação: ação ou sentimento? In: MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (Org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005.
FREUD, Sigmund. A interpretação dos Sonhos. Trad. De Walderedo Ismael de Oliveira. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. Trad. de Frederico Carotti. 2ª ed. São Paulo: Companhia das letras, 1989.
_________________. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. Trad. de Rosa Freire d’ Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
LACAPRA, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: The Johns Hopkins Universty Press, 2001. LEVI, Primo. É isto um homem? Trad. de Luigi Del Re. 3ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
MALERBA, Jurandir (org.). A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
MUDROVCIC, María Inés (editora). Pasados em conflicto: Representación, mito y memoria. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.
MUDROVCIC, María Inés. El debate em torno a la representación de acontecimientos límites del pasado reciente: alcances del testimonio como fuente. Diánoia. México, v.52, n 59, pp. 127-150, 2007.
NORA, Pierre; CHANDERNAGOR, Françoise. Liberté pour l’histoire. Paris: CNRS Éditions, 2008.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Trad. de Alain François. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. (orgs.). Catástrofes e representação. São Paulo: Escuta, 2000.
WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. Trad. de Alípio Correia de Franca Neto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994
Varlei da Silva1 – Mestrando em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Bolsista do CNPq. E-mail: [email protected]
KUCINSKI, Bernardo. K.: relato de uma busca. São Paulo: Cosac Naify, 2014. Resenha de: SILVA, Varlei da. As lacunas e os silêncios de uma busca que não terminou. Aedos. Porto Alegre, v.9, n.20, p.595-605, ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
A ditadura espelhada: conservadorismo e crítica na memória didática dos anos de chumbo
Alípio da Silva Leme Filho – Mestre em Educação pela Universidade Nove de Julho. Professor Titular de Cargo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e Coordenador na Escola Estadual Reverendo José Borges dos Santos Júnior. E-mail: [email protected]
MAFRA, Janson Ferreira. A ditadura espelhada: conservadorismo e crítica na memória didática dos anos de chumbo. São Paulo: BT Acadêmica/Brasília: Liber Livro, 2014. Resenha de: LEME FILHO, Alípio da Silva. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 9, n. 18, p. 225-228, jul./dez., 2017.
Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura – VALENTE (RBH)
VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 518p. Resenha de: ASCENSO, João Gabriel. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura é um trabalho verdadeiramente monumental, publicado em edição impecável pela Companhia das Letras como segundo livro da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Ao longo de 398 páginas de texto e mais de cem de notas, referências e imagens, Rubens Valente monta uma série de painéis que reconstroem paisagens, cenários, trajetórias individuais e eventos que marcaram a atuação de diversas personalidades envolvidas na chamada “questão indígena”, entre os anos 1960 e o início da década de 1980. A pesquisa, que contou com um ano de entrevistas e 14 mil quilômetros atravessados entre dez estados do país, incluindo dez aldeias, é tributária da própria trajetória de Valente, que, desde os anos 1990, realizou diversas reportagens em terras indígenas e, a partir de 2010, escreve para a sucursal de Brasília do jornal Folha de S. Paulo.
Os fuzis e as flechas é, portanto, um texto jornalístico. Seu tom biográfico é fruto do uso de um amplo leque de fontes orais cruzadas com material escrito, como entrevistas de época, relatórios e comunicações oficiais sobre casos ou indivíduos específicos. Trata-se de documentos muitas vezes sigilosos e que apenas puderam vir à tona depois do fim da ditadura – relativos, por exemplo, ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI), à Fundação Nacional do Índio (Funai), ao Ministério do Interior e à Assessoria de Segurança e Informação (ASI) instalada na Funai como braço do Serviço Nacional de Informação (SNI). A própria relação desses documentos, ao fim do livro, constitui referência de riquíssimo material para pesquisadores que resolvam dedicar-se ao estudo desse período.
Entretanto, o livro não tem um problema, uma questão central a ser perseguida dentro do amplo eixo temático “indígenas durante a ditadura militar”. Não há uma linha de investigação definida nessas quase quatrocentas páginas – o que resultaria em uma hipótese a ser comprovada. As ações do Estado, dos indígenas, ou dos indigenistas indicados carecem de contornos mais nítidos e contextuais. Deve-se destacar, de qualquer forma, que, ainda que isso gere um estranhamento imediato por parte dos historiadores, a construção desses contornos não é objetivo do livro, como obra jornalística que é. De todo modo, uma convicção, elaborada empiricamente com base no amplo material analisado, atravessa toda a obra: o genocídio indígena não foi fruto de mero descaso, irresponsabilidade ou falta de preparo, ele foi consentido pelo Estado.
A apresentação biográfica de alguns personagens destacados puxa um fio que leva a outros personagens, contextos e depoimentos. Ocorre que a passagem de um tema específico para o outro não tem uma direção certa: há um eixo mais ou menos cronológico a partir do qual assuntos e eventos se aglutinam, sem que sua escolha seja clara ao leitor. Para que possamos nos movimentar por um conjunto tão pouco coeso de informações, entretanto, contamos com um excelente índice remissivo, que nos socorre muitas vezes. O livro se inicia quando somos apresentados à figura do sertanista do SPI Antonio Cotrim, a partir de quem se desenha o primeiro quadro de uma tônica que se fará presente ao longo de todo o livro: o massacre de índios (neste caso, os Kararaô, do Pará) como resultado do despreparo das chamadas “frentes de atração”, que acabavam levando doenças para as terras nativas.
Daí, passamos pelo tema das remoções forçadas (como a dos Xavante do Mato Grosso) e pelas denúncias de violações de direitos humanos de grupos indígenas contidas no chamado Relatório Figueiredo. Passamos, ainda, pela atuação dúbia das missões religiosas junto aos indígenas: há evidência de uma mentalidade integracionista que desprezava as culturas nativas, ao mesmo tempo que os próprios missionários aparecem, algumas vezes, como defensores da integridade física desses povos. A ação de missionários religiosos num sentido oposto ao da assimilação também é discutida, particularmente a partir da formação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que, dentro da perspectiva da Teologia da Libertação, articulou as chamadas “assembleias indígenas”, mobilizando diferentes lideranças de todo o país e viabilizando a resistência desses grupos à ditadura.
A mentalidade integracionista do Estado e sua truculência são ainda apresentados pela criação da famigerada Guarda Rural Indígena (Grin) e pelo plano do ministro do Interior Maurício Rangel Reis de “emancipar” os índios, retirando-lhes o direito à terra. Além disso, discute-se o projeto de grandes obras de integração nacional, como a Transamazônica e diversas outras rodovias, que tiveram consequências fatais sobre os Parakanã, Asurini e Waimiri-Atroari, por exemplo, bem como a evidência do favorecimento, por parte do Estado, de grupos de mineradores, fazendeiros e empreiteiras com interesses em terras indígenas.
Em meio a isso tudo, um grande acerto de Valente é mostrar que a conivência de instituições como o SPI e a Funai com a ofensiva da ditadura não significou a concordância dos sertanistas e funcionários, que muitas vezes reagiram de maneira veemente, articulados a antropólogos e membros da sociedade civil e, sobretudo a partir dos anos 1970, com o apoio de boa parte da opinião pública internacional. Além disso, figuras que se tornariam icônicas no indigenismo brasileiro, como os irmãos Villas-Bôas, Francisco Meireles e seu filho José Apoena Meireles, e mesmo Darcy Ribeiro, são representados com a complexidade de figuras humanas. Ainda que nem sempre o autor consiga escapar de certa heroicização, aspectos controversos desses homens são destacados, como o relacionamento claramente abusivo de alguns dos Villas-Bôas com mulheres indígenas, a opinião dos Meireles de que o indígena fatalmente seria integrado à sociedade nacional, ou a recusa de Darcy Ribeiro em reconhecer a existência do povo Ofayé, dando argumentos aos fazendeiros que pretendiam tomar as terras desse grupo. Tanto por parte dos Villas-Bôas quanto dos Meireles, a crítica interna à Funai se alternava com uma defesa da instituição, em momentos nos quais graves denúncias pareciam caminhar para escândalos – levando-os até mesmo a posicionamentos contrários ao Cimi.
Na segunda metade do livro, tomam vulto algumas lideranças indígenas que se tornariam referência da luta dos anos 1970 e 1980. A trajetória do guarani Marçal de Souza (cuja foto serve de capa ao livro) ganha muito destaque: seu engajamento político, seguido de deportação interna, sua fala de denúncia junto ao papa João Paulo II e, finalmente, seu assassinato na aldeia Campestre. Outra liderança, o xavante Juruna, também recebe grande atenção: primeiro (e, até hoje, único) deputado federal indígena, com seu gravador em punho, sua trajetória no livro é retratada em todas as suas contradições, que evidenciam a dificuldade de articulação de um indígena em um modo de fazer política que não lhe é, a princípio, próprio. Além disso, instituições como a União das Nações Indígenas (Unid, posteriormente UNI) e o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), origem do atual Instituto Socioambiental (ISA), são descritas como resultado do processo de mobilização pela causa indígena – ainda que a afirmação de que a UNI “deu errado” seja bastante questionável.
Contudo, outras importantes lideranças, como o cacique Raoni e seu sobrinho Megaron Txucarramãe, Marcos Terena, o kayapó Paulinho Paiakan e o yanomami Davi Kopenawa são mencionados muito brevemente, sem que possamos entender o que levou à escolha de certas lideranças em detrimento de outras. No epílogo do livro, discute-se a rearticulação da Funai após a ditadura, a permanência da visão integracionista da cúpula militar e, chegando aos anos 2010, até mesmo as atuais propostas de emenda à Constituição de 1988, que recuam direitos conquistados. Mas essa Constituição não é analisada, embora seja o primeiro documento do Estado brasileiro a garantir ao indígena o direito de permanecer em sua terra e com a sua cultura, sem a necessidade de uma assimilação, e a articulação em torno da Assembleia Constituinte não é sequer mencionada. Surpreende negativamente a total ausência da figura de Ailton Krenak, que se notabilizou por sua potente fala na Constituinte, e o segundo plano a que são relegados a CPI do Índio, de 1968, e o Estatuto do Índio, de 1973. Mais uma vez, o que fica patente é a falta de clareza quanto às opções do autor a respeito de quais temas priorizar.
Toda obra tem lacunas, e uma com o porte e a ambição de Os fuzis e as flechas não poderia ser exceção. Se essas lacunas saltam aos olhos dos historiadores, de forma alguma desmerecem o esforço tremendo de Valente em reunir um corpo documental volumosíssimo e apresentá-lo em um texto muito bem escrito. Ao fim, em meio aos retrocessos de nossa década em relação aos direitos indígenas, o autor encontra espaço para a esperança, destacando os altos índices de natalidade dos povos indígenas e a resistência de suas culturas. Tanto em aldeias quanto nas cidades, muitos indígenas afirmaram que “preferem viver entre os seus, a despeito do preconceito, da marginalização e da incompreensão geral”, o que nos leva a perceber “um tipo de vitória, entre tantas derrotas”.
João Gabriel Ascenso – Doutorando em História Social da Cultura, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]
Trabalhadores exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985) – CHOTIL (HO)
CHOTIL, Mazé Torquato. Trabalhadores exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985). Curitiba: Prismas, 2016. 346 p. Resenha de: ROSALEN, Eloisa. A história dos/as trabalhadores/as exilados/as durante a ditadura. História Oral, v. 19, n. 2, p. 207-211, jul./dez. 2016.
Muito já foi falado a respeito do exílio de brasileiros durante a ditadura (1964-1979), como se pode ver nas pesquisas realizadas por Denise Rollemberg publicadas no livro Exílio: entre raízes e radares, em que a autora busca contar o exílio a partir dos ângulos político, histórico, pessoal e emocional percorrendo os mais variados temas, como as vivências, as lutas, os conflitos, o trabalho, os estudos etc. (Rollemberg, 1999). Do mesmo modo, o livro Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino-americanos no século XX, organizado por Samantha V. Quadrat, apresenta discussões importantes a respeito das categorias e aspectos gerais dos/as exilados/as das ditaduras latino-americanas (Quadrat, 2011). Há também as pesquisas que se preocuparam em explicitar o contato das mulheres exiladas com o feminismo, os ambientes de debates feministas (círculos) que emergiram no exterior e a reformulação da esquerda (Abreu, 2010; Back; 2013; Pedro; Wolff, 2007).
Mas uma questão que merecia uma adequada atenção e ainda se encontrava um tanto escondida era a partida, a inserção e o retorno de exilados/as das camadas populares. Como pode ser visto nas obras supracitadas, a grande maioria dos/as exilados/as políticos/as da ditadura eram provenientes das camadas médias que viviam em grandes centros urbanos do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. No entanto, ao se concentrar somente nos sujeitos das camadas médias, a escrita da história exilar sempre negligenciou as experiências daqueles que não tinham tais condições.
Mazé Torquato Chotil, ao realizar a sua pesquisa de pós-doutorado e publicar a sua produção, com o título Trabalhadores exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985), tirou da invisibilidade as situações dos sujeitos trabalhadores provenientes das camadas populares que deixaram o Brasil durante o período, muitas vezes em condições muito mais precárias do que os sujeitos estudados até o momento dessa publicação. A autora esclarece que, entre os/as exilados/as, os/as trabalhadores/as estavam em muito menor número que intelectuais e estudantes de classe média; no entanto, mesmo se tratando de uma pequena parte, a análise das trajetórias e o levantamento das vivências dos/as exilados/as trabalhadores/as são de suma importância para uma escrita da história dos sujeitos com esse perfil e dos movimentos sindicais aos quais estavam vinculados.
Ao longo dos três capítulos, Trabalhadores exilados apresenta as várias facetas (com seus aspectos negativos e positivos) vivenciadas por aqueles sujeitos que não possuíam certo capital cultural e econômico. Para a análise, a autora utilizou-se de um vasto levantamento de fontes; entre as principais, entrevistas, livros de memórias (como aqueles do projeto Memórias do exílio1) e listas de banidos. Com esse inventário, foi possível verificar o perfil desses indivíduos, os tipos de exílio que tiveram e as principais características de suas experiências.
Juntamente com a obra resenhada aqui, as pesquisas citadas no início deste texto são devedoras de uma explosão de memórias, escritas no período de exílio ou ao longo dos anos 1980 e 1990. Autobiografias, livros de memórias e entrevistas construídas com base nas teorias e metodologias da história oral se tornaram as principais fontes para as pesquisas acerca do exílio, sobretudo porque possibilitaram perceber como as pessoas que o viveram registraram seu cotidiano, exteriorizaram suas experiências sobre o período e inventaram/construíram a si mesmas.
A partir dessas fontes, Mazé T. Chotil leva em consideração, para a estrutura de sua análise, o antes, o durante e o depois do exílio. Assim, ela pensou de maneira completa o fenômeno social do exílio e as trajetórias dos sujeitos. Dessa forma, no primeiro capítulo a autora caracteriza o perfil dos grupos de exilados/as antes da partida. No segundo capítulo, apresenta o exílio, com os lugares de destino, as inserções, as militâncias, as formações (linguísticas e universitárias), as experiências afetivas etc. O último capítulo se dedica ao retorno e à reintegração desses sujeitos no Brasil, bem como às suas contribuições aos movimentos sindicais.
Ao realizar a sua pesquisa, Mazé T. Chotil produziu um quadro comparativo entre a condição socioeconômica que cada exilado/a tinha ao deixar o Brasil e a que alcançou ao se estabelecer no país de acolhida. Essa dimensão, muito bem levantada pela autora, foi relacionada às dificuldades da viagem, aos lugares de destino, ao trabalho (antes, durante e depois do exílio), à militância política no exterior, ao aprendizado e à formação acadêmica, entre outras questões. Além disso, com o livro é possível visualizar a importância do capital cultural, principalmente no que diz respeito ao conhecimento de uma língua estrangeira, de que os setores médios dispunham e as camadas populares não. Esse último aspecto foi muito relevante para a inserção inicial desses sujeitos nos lugares de destino.
No entanto, o grande mérito do livro encontra-se na análise da articulação e da influência que os exilados tiveram no convívio com organizações sindicais no exterior. Ao levantar essa questão, a autora apresenta o importante papel que teve, para a história do sindicalismo brasileiro, a circulação de ideias e o contato com organizações sindicais de outros países. Ela também aborda a militância que vários desses sujeitos exerceram e suas articulações com as organizações brasileiras desempenhadas durante no exílio. Por isso, além de tirar da invisibilidade os trabalhadores exilados, a autora amplia as discussões sobre o exílio, dando uma nova (e importante) dimensão às experiências vividas no período.
O único demérito que pode ser encontrado nessa pesquisa está ligado a algumas ausências: a primeira delas é a de uma lista completa – como anexo, talvez – dos nomes dos sujeitos que pertenciam ao grupo dos/as exilados/as.
A segunda está relacionada a informações mais detalhadas acerca das fontes das quais foram retiradas certas informações. Muitas vezes, a autora acaba não citando suas fontes, o que deixa lacunas ao/à leitor/a especializado/a que busque extrair de sua pesquisa as informações necessárias para uma investigação futura. Uma dessas situações se dá já no início da obra, quando deixa de explicitar as fontes relacionadas ao projeto Memórias do exílio às quais teve acesso.
Uma ausência pertinente também diz respeito às análises ligadas ao gênero. No segundo capítulo, ao desenhar o perfil dos/as exilados/as, Mazé T. Chotil apresenta uma importante referência: 23% dos “seus” analisados eram mulheres. No entanto, nos capítulos restantes, nos quais analisa principalmente as inserções e as militâncias, a autora esquece-se de relacionar de maneira interseccional o gênero, as camadas populares e as distintas inserções.
Certamente, ser mulher, militante de esquerda e banida era muito diferente de ser homem, militante de esquerda e banido, o que resultou, obviamente, em processos de inserção diferentes. Um exemplo se encontra na omissão de análise sobre a ausência de mulheres narrando suas experiências ligadas ao movimento sindical.
Embora tenham sido sentidas algumas ausências, de um modo geral Mazé T. Chotil realizou um excelente trabalho, abrindo caminho para inúmeras outras pesquisas e questões que ainda precisam ser respondidas a respeito do exílio de trabalhadores/as durante a ditadura brasileira (1964-1985).
Nesse sentido, além de dar visibilidade aos/às trabalhadores/as e de narrar as experiências desses sujeitos, a autora deixa um amplo corpo bibliográfico e documental para os futuros questionamentos que ainda devem emergir sobre a temática.
Referências
ABREU, Maira L. G. de. Feminismo no exílio: o Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris e o Grupo Latino-Americano de Mulheres em Paris. 2010. 245 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Unicamp, Campinas, SP, 2010.
BACK, Lilian. A Seção Feminina do PCB no exílio: debates entre o comunismo e o feminismo (1974-1979). 214 p. Dissertação (Mestrado em História) – UFSC, Florianópolis, SC, 2013.
PEDRO, Joana Maria; WOLFF, Cristina Scheibe. Nosotras e o Círculo de Mulheres Brasileiras: feminismo tropical em Paris. ArtCultura, Uberlândia, v. 9, n. 14, p. 55-69, jun. 2007.
QUADRAT, Samantha V. (Org.). Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino- -americanos no século XX. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
ROLLEMBERG, Denise. Exílio: entre raízes e radares. Niterói: Record, 1999.
ROSALEN, Eloisa. Das muitas memórias dos exílios: uma leitura analítica dos livros Memórias do Exílio e Memórias das Mulheres do Exílio. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 28, 2015, Florianópolis. Anais eletrônicos… p. 1-15. Disponível em: <http:// www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1438608862_ARQUIVO_AnpuhNacional EloisaRosalen.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2016.
1 O projeto Memórias do exílio resultou nos livros Memórias do exílio e Memórias das mulheres do exílio, que buscavam publicar memórias de sujeitos exilados durante a ditadura brasileira. Trata-se de uma das primeiras coletâneas a trazer memórias dos/as exilados/as. Na primeira obra, de 1978, muitas memórias de homens foram publicadas, o que criou uma insatisfação entre as mulheres exiladas. Nesse sentido, no ano de 1980 (com memórias recolhidas ainda antes da Anistia, em 1979), foi lançado um segundo volume, dedicado somente às mulheres (para dar visibilidade às experiências exilares delas). Além da característica geral de divulgar memórias do exílio, a segunda obra foi organizada pelo Grupo de Mulheres Brasileiras de Lisboa, que tinha conotações feministas (Rosalen, 2015).
Eloisa Rosalen – Mestra em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: eloisa [email protected].
Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988 | Daniel Aarão Reis Filho
Daniel Aarão Reis é professor titular de História Contemporânea na UFF. Suas principais pesquisas são sobre a ditadura no Brasil e as experiências das esquerdas no Brasil e no mundo [1]. Além disso, foi ativo na resistência à ditadura civil-militar brasileira, especificamente no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um dos grupos que organizou a captura do embaixador do EUA Charles Burke Elbrick em 1969.
Ditadura e Democracia no Brasil se insere em uma série de obras lançadas em 2014 que, no marco dos 50 anos do golpe de 1964 procuram apresentar novos olhares sobre o período. O livro em questão é constituído por sete capítulos e um posfácio.
O primeiro capítulo serve de introdução ao livro e são as páginas nas quais Reis apresenta alguns dos princípios através do quais ele pretende diferenciar sua obra da historiografia anterior sobre o tema, especialmente aquela produzida nos primeiros anos de redemocratização. Segundo o autor, construiu-se uma memória de que os valores democráticos sempre teriam feito parte da consciência nacional. Assim, o país teria sido
subjugado e reprimido por um regime ditatorial denunciado agora como uma espécie de força estranha e externa […] Assim, em vez de abrir amplo debate sobre as bases sociais da ditadura, escolheu-se um outro caminho, mais tranquilo e seguro, avaliado politicamente mais eficaz, o de valorizar versões memoriais apaziguadoras onde todos possam encontrar um lugar [2].
Essa visão procuraria uma conciliação nacional após a ditadura, como se esta não houvesse contado com apoio de setores civis da sociedade:
Entretanto, essas versões, saturadas de memória, não explicam nem conseguem compreender as raízes, as bases e os fundamentos históricos da ditadura, as complexas relações que se estabeleceram entre ela e a sociedade e, em contraponto, o papel desempenhado pelas esquerdas no período. Também não explicam, nem conseguem compreender, a ditadura no contexto das relações internacionais e na história mais ampla deste país – as tradições em que se apoiou e o legado de seus feitos e realizações que perdura até hoje [3].
Nesse sentido, Reis se insere numa perspectiva que vem ganhando espaço na produção historiográfica, de procurar compreender o regime autoritário observando também as bases sociais que o constituíam. A título de exemplo, a coletânea organizada por Denise Rollemberg e Samantha Quadrat, A construção social dos regimes autoritários [4], é outra obra que procura analisar os mecanismos de legitimação social desses regimes. É nessa direção que também argumenta a defesa de que se chame o período de ditadura civil-militar, e não somente militar.
Nos capítulos seguintes, Reis procura elucidar o desenrolar dos acontecimentos do período. Ele destaca que o período 1945-64 foi de democracia limitada. O autoritarismo se manifestava em muitos aspectos que remontam à primeira república e principalmente à ditadura varguista. É nesta que ele localiza um importante elemento para compreender a ditadura que se seguiu: o nacional-estatismo, caracterizado por um Estado forte tanto no que diz respeito ao desenvolvimento econômico (ainda que não necessariamente na distribuição de renda) como no controle social. Apesar de ter perdido fôlego na década de 1950 o nacional-estatismo ainda tinha adeptos tanto à esquerda como à direita.
Ao assumir o poder, João Goulart “poderia […] numa frente popular que se esboçara na resistência ao golpe [do parlamentarismo], dispor de condições para retomar o nacional-estatismo popular já entrevisto no último governo Vargas” [5]. As greves e movimentações populares que haviam crescido na campanha legalista (movimento para assegurar o direito de Goulart assumir a presidência) incorporavam ao nacional-estatismo uma até então inédita participação popular – o que também radicalizou o discurso, exigindo reformas mais profundas e deixando mais de lado o tom conciliatório varguista.
Reis descreve, contudo, que Jango estava nos primeiros meses de governo apegado à tradição conciliatória, mantendo a desconfiança da direita e ao mesmo tempo decepcionando a esquerda. “Depois de longos meses de hesitação, armadilhando no impasse de uma correlação de forças equilibrada, Jango [em março de 64] resolveu aceitar os conselhos de partir para a ofensiva” [6], em meio ao aumento da pressão pelas reformas de base. A resposta conservadora não tardou com as marchas da Família com Deus pela liberdade e finalmente com o golpe de Estado.
O autor então lança uma ideia polêmica, contestando a tese da inevitabilidade da resistência ao golpe. Segundo ele, Jango era bastante popular e as forças de que dispunham as esquerdas, nas instituições, sindicatos, movimentos populares e nas próprias Forças Armadas não eram desprezíveis. Para ele, a esquerda que apoiava Jango se rendeu por não saber o que fazer quando a tática conciliatória não funcionou mais. No capítulo seguinte, o autor inclusive aponta que essa paralisia poderia ser motivada por até parte das lideranças reformistas estarem contaminadas pelo medo de uma revolução. Por isso também que Reis observa que ainda que de fato tenha havido apoio dos EUA ao golpe, não se deve superestimar sua participação sob risco de minimizar a importância das forças golpistas internas. A influência externa se dava, de acordo com o autor, mais no sentido de um medo por parte das forças golpistas de que os recentes movimentos socialistas e nacionalistas na África, Ásia e principalmente em Cuba pudessem inspirar ações mais radicais dentro do Brasil.
Dando prosseguimento, Reis descreve como nos primeiros anos da ditadura procurou-se romper com o nacional-estatismo, estratégia que fracassou, indicando que este elemento da cultura política perpassava todo o espectro político.
No campo da oposição começaram a se formar três grandes correntes: a moderada, formada pelo MDB, apoiada pelo PCB clandestino e setores golpistas agora insatisfeitos, defendendo uma transição pacífica à democracia nos moldes pré-64; movimento estudantil, mais radical, queria o fim imediato da ditadura, mas sem maiores definições; organizações revolucionárias clandestinas, se entrelaçavam com os estudantes, viam a luta armada como a única saída e não queriam só a derrubada da ditadura, mas do capitalismo.
Porém, Reis destaca que se houve de fato resistência, também houve muita indiferença ou até apoio ao regime, de modo que a oposição não era, para ele, de fato tão poderosa. Ainda assim, para evitar que se organizassem, o governo emitiu em 1968 o AI-5.
Assim, chega-se ao quarto capítulo. Com a repressão a níveis extremos, a esquerda revolucionária considerou que se concretizava o que Reis denominou “utopia do impasse”, chegando a hora de radicalizar a luta. De acordo com essa lógica, o impasse se refere à uma situação na qual políticas conciliatórias não seriam mais uma opção viável, restando às esquerdas somente a revolução – por isso, segundo o autor, muitos desses grupos revolucionários viam até com certo otimismo a conjuntura, pois teria eliminado a via conciliatória. Reis, contudo, apesar de ter sido em sua juventude parte dessas organizações, as critica por estarem distantes da população e se mostrarem incapazes de fazer uma leitura mais precisa da sociedade. Esta “assistiu a todo esse processo como se fosse uma plateia de jogo de futebol” [7]. Podiam até torcer para um ou para outro lado, mas não eram participantes. Efetivamente, o crescimento econômico do que viria a ser o chamado “milagre econômico” aliado a propaganda, fazia do governo muito popular junto a população, especialmente no interior. Por isso ele destaca que, se de fato a primeira metade da década de 1970 pode ser descrita como os “anos de chumbo”, foi para muitos também os “anos de ouro” [8]. Ainda que o crescimento tenha sido desigual, ele agradava a setores médios influentes suficientes para amortecer uma possível insatisfação popular. A maioria da população parecia disposta a ignorar a tortura, desde que que ela atingisse somente àqueles que considerassem marginais e ocorresse longe da vista da sociedade.
Nem todos, certamente, apreciavam a ditadura e seus métodos truculentos, considerados “excessivos”, e muitos deles tomariam parte, em momentos seguintes, da onda oposicionista que varreria as metrópoles. Mas é provável que considerassem uma exigência alta demais arriscar suas posições num enfrentamento de vida ou morte com o regime, como queriam as esquerdas radicais [9].
O quinto capítulo do livro analisa o governo Geisel (1974-79). No plano econômico, apesar da crise do petróleo, não seria ainda o momento do abandono do nacional-estatismo. “Já no plano político, haveria afinidades com os propósitos do primeiro governo castelista, materializadas na perspectiva de restabelecer um estado de direito autoritário. Tratava-se de institucionalizar e superar o estado de exceção, o regime ditatorial vigente”[10], ação tomada também em função da pressão internacional, ainda que “no interior do bloco que sustentava a ditadura, forças conservadoras e sua expressão mais radical, os aparelhos de segurança, não viam com bons olhos a distensão e se prepararam para combatê-la”[11].
Como resultado, foi um período marcado por ambiguidades. A gradual abertura, (a qual culminaria na revogação do AI-5 na passagem de 1978 para 1979) conviveu com uma brutal repressão ao PCB e PC do B e o emblemático assassinato de Vladmir Herzog.
A segunda metade da década de 1970 também marcou o início da rearticulação dos movimentos sociais, ainda que de início tentassem passar a imagem de reivindicações apolíticas. Essa rearticulação também se deve ao fato da economia já não apresentar resultados tão satisfatórios, com inflação e desvalorização salarial.
Ao final deste capítulo, Reis indica outra ideia controversa. Para ele, com o fim do AI-5 estava revogado o estado de exceção, não constituindo-se mais uma ditadura; “conformara-se um estado de direito autoritário”[12]. Assim, para Reis a ditadura iniciada em 1964 termina em 1979, havendo então um período de transição para um regime democrático que se inaugura com a constituição de 1988. Ele explica melhor os motivos para essa escolha no capítulo seguinte, dedicado à essa transição:
formou-se ampla coligação de interesses e vontades a favor da ideia de que a ditadura teria se encerrado em 1985. Na base dessa verdadeira frente social, política e acadêmica, estava uma ideia – força de modo nenhum respaldada pelas evidências – a de que a ditadura fora obra apenas dos militares [13].
Esse marco, 1985, o momento em que um civil assume a presidência, esconderia, portanto, as bases sociais civis da ditadura. Para Reis, a construção dessa memória que procura esconder o caráter civil da ditadura se deu justamente nesse período.
Aparentemente, a transição lenta e sem rupturas levada pela própria ditadura surtiu o efeito por ela desejada. Nas primeiras eleições diretas para governadores, o PDS (originada da ARENA) venceu em mais estados e teve mais deputados eleitos também, seguido do PMDB, que era a oposição consentida pela ditadura. “Depois de longos anos de ditadura, o país tornara-se mais conservador ainda do que antes. Um banho da água fria na fervura dos que imaginavam possível a existência de hipóteses de ruptura revolucionária. Pelo menos a curto prazo elas não se realizariam”[14]. Talvez nada ilustre melhor o caráter conservador da transição e a construção de uma memória que isente as bases civis do que a chegada a presidência de José Sarney (até pouco antes importante quadro do PDS) concorrendo, ainda que como vice, como opositor ao antigo partido da ditadura.
No sétimo capítulo, Reis descreve sucintamente as discussões em torno da constituição de 1988, destacando como, apesar da pressão contrárias de forças liberais-conservadoras, mesmo nela persistiriam muitas características do nacional-estatismo.
Finalmente, no posfácio, Reis retoma uma de suas teses centrais já apresentadas no início do livro: sem minimizar as diferenças que houveram entre os regimes, há no nacional-estatismo, seja de tendência esquerdista ou direitista, um aspecto de continuidade.
Criaram-se na primeira [estado novo] e se consolidaram na segunda [civil-militar]: o Estado hipertrofiado, a cultura política nacional-estatista, o corporativismo estatal, as concepções produtivistas, a tortura como política de Estado. Quanto à tutela das Forças Armadas, vem de antes, desde a gênese da República, mas as ditaduras, sem dúvida, confirmaram e reforçaram.
O livro de Daniel Aarão Reis procura apresentar um novo olhar sobre a ditadura civil-militar brasileira. Cada capítulo da obra poderia ser expandido ele próprio em um livro. De fato, o livro não entra em muitos detalhes. Tampouco se utiliza de muitas fontes primárias como fundamentação, tratando-se mais de uma obra de síntese. Ainda assim, é de grande valia por apresentar ao menos duas ideias centrais que o diferenciam de ao menos parte da historiografia, e certamente da memória socialmente construída para fora da academia. A primeira, por apontar no nacional-estatismo um elemento de continuidade surgido antes do golpe de 1964 e perdurando durante e para além da ditadura. Isso não significa negar que tenha se tratado de um estado de exceção, mas apontar que a ditadura civil-militar infelizmente não foi um desvio num curso “natural” e “positivo” da história do Brasil, mas se insere perfeitamente em aspectos que transcendem esse período específico. A outra ideia é a de observar a importância das bases sociais civis da ditadura. Desde o golpe, o regime autoritário somente pôde sobreviver por que contou com apoio principalmente de setores empresariais, mas também suporte, consentimento ou no mínimo indiferença de amplos setores sociais. Enfrentar a memória construída da natureza democrática da sociedade brasileira é um desafio difícil e que pode soar inconveniente, mas é importantíssimo para poder lidar com as continuidades autoritárias que ainda persistem hoje.
Conforme já salientado, o livro aqui resenhado se trata de uma obra de síntese. Mas talvez justamente por isso tenha um duplo valor, podendo ser utilizado como material introdutório para historiadores ao mesmo tempo em que também se mostra acessível ao grande público.
Notas
1. Entre suas principais obras se encontram A revolução faltou ao encontro – Os comunistas no Brasil; A Aventura Socialista no Século XX; e Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade.
2. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 7-8.
3. Ibid., p. 14
4. ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha (orgs). A Construção Social dos Regimes autoritários: Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
5. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 32.
6. Ibid., p. 39.
7. Ibid., p.77.
8. Ibid., p.91.
9. Ibid., p.88.
10. Ibid., p.98.
11. Ibid., p.101.
12. Ibid., p.123.
13. Ibid., p.127.
14. Ibid., p.140.
Michel Ehrlich – Graduando em História pela UFPR, bolsista do PET-História. E-mail: [email protected]
REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. Resenha de: EHRLICH, Michel. Ditadura e democracia no Brasil. Cantareira. Niterói, n.25, p. 230 – 234, jul./dez., 2016. Acessar publicação original [DR]
A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento – CORDEIRO (Tempo)
CORDEIRO, Janaína Martins. A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento. Rio de Janeiro: FGV, 2015. 360 p.p. Resenha de: REI, Bruno Duarte. Comemorações, ditadura e sociedade: o sesquicentenário da Independência do Brasil (1972). Tempo v.22 no.40 Niterói mai./ago. 2016.
A descoberta e a produção de novas fontes, assim como o surgimento de novos métodos e abordagens teóricas, provocaram a renovação dos estudos sobre a ditadura militar. Versões longamente partilhadas e estereótipos estão sendo superados, ao passo que, na esteira das revelações feitas pela Comissão Nacional da Verdade e de um expressivo crescimento do interesse popular, novas informações não param de vir à tona. Silêncios e esquecimentos estão sendo superados. E temas até então tabus passaram a ser encarados, sem parti pris, por uma nova geração de pesquisadores. Como apontam diversos especialistas, vivenciamos uma mudança geracional. Nessa dinâmica, uma questão tem despertado instigantes debates: o pacto social firmado entre regime militar e sociedade brasileira.
É nesse contexto que veio a público o livro A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento, de Janaína Martins Cordeiro (2015). A publicação é derivada de pesquisa desenvolvida, entre 2008 e 2012, no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. A tese que resultou no livro trata das relações estabelecidas entre ditadura militar e sociedade brasileira. Demonstra, mais precisamente, como as celebrações do sesquicentenário constituíram-se em um mecanismo de reafirmação do consenso social estabelecido em torno do regime militar.
Cordeiro estruturou seu percurso em nove capítulos. No primeiro, “Funeral de um ditador”, a autora aborda o silenciamento dos apoios que diversos segmentos sociais deram à ditadura militar, fenômeno que, como é sabido, ganhou força na sociedade brasileira junto com a implementação do projeto de abertura política proposto por Geisel. Para Cordeiro, um episódio emblemático do referido fenômeno é o ostracismo ao qual Médici foi relegado. Por meio da análise da repercussão do adoecimento, da morte e do cortejo fúnebre do ex-presidente (1985), a autora explica por que a popularidade obtida por Médici nos anos do “milagre econômico” foi silenciada, chamando a atenção para a importância de tal silenciamento na construção do consenso democrático estabelecido na década de 1980.
O segundo capítulo, “O enterro do imperador foi uma festa”, aprecia outro cortejo fúnebre: o de d. Pedro I – eleito o “grande” herói a ser homenageado durante os festejos do sesquicentenário. Parte da programação das celebrações, o cortejo fúnebre de Pedro ocorreu em um cenário distinto do de Médici. E despertou, de acordo com Cordeiro, sentimentos dessemelhantes aos observados após a morte do ex-presidente. Como demonstra a autora, na ocasião grande parte da sociedade brasileira – deslumbrada com o “milagre econômico” – costumava rememorar com orgulho o passado nacional, associando positivamente Pedro e Médici: o primeiro era lembrado como o responsável pela independência política do Brasil, e o segundo, reconhecido como o comandante da independência econômica.
Em “Uma festa para Tiradentes: os Encontros Cívicos Nacionais e a abertura dos festejos”, terceiro capítulo, conhecemos a mobilização em torno de outro herói nacional. Conforme a autora, embora Pedro tenha sido escolhido o herói “maior” do sesquicentenário, Tiradentes não foi deixado de lado pelo regime militar, que fez uso de diversos elementos associados ao culto de sua figura – como o martírio, o sacrifício em prol da pátria. Como explica Cordeiro, não à toa 21 de abril foi o dia em que ocorreram os Encontros Cívicos Nacionais, que selaram o início oficial dos festejos. Às 18 horas e 30 minutos dessa data, um discurso de abertura pronunciado por Médici foi reproduzido em diversos recantos do país, seguindo-se de cerimônias de hasteamento da bandeira nacional, bem como de diversos eventos artísticos, culturais e esportivos.
O quarto capítulo, “Da solenidade das comemorações à festa do futebol”, investiga a “Taça Independência” – campeonato que contou com a participação de 20 seleções nacionais, número que, como destaca Cordeiro, excedeu em quatro o total de representantes que disputaram a Copa de 1970. A autora demonstra como a “Taça Independência” – evento organizado pela então Confederação Brasileira de Desportos em parceria com a comissão executiva das festividades – constitui-se em um dos elementos reafirmadores do pacto social firmado entre ditadura militar e sociedade brasileira. Além disso, Cordeiro explica como o referido torneio sintetizou não apenas o espírito festivo que permeou as comemorações do sesquicentenário, mas também, de modo geral, os anos do próprio “milagre econômico”.
No quinto capítulo, “D. Pedro I vai ao cinema: ‘Independência ou morte’, as cores do milagre e a memória”, Cordeiro aborda o filme “Independência ou morte” – produzido por Oswaldo Massaini e dirigido por Carlos Coimbra. Segundo a autora, ao contrário do que muitos pensam ainda hoje, a produção cinematográfica – que narra os acontecimentos que levaram à Independência por meio da trajetória de Pedro – não foi uma iniciativa oficial. Tampouco contou com recursos públicos para sua elaboração. Entretanto, como demonstra Cordeiro, “Independência ou morte” foi apropriado pelo regime militar. Inclusive, de acordo com a autora, o filme – talvez em função de seu caráter não oficial – explorou como nenhum outro evento os valores e sentimentos nacionais exaltados ao longo das comemorações do sesquicentenário.
“A Comissão Executiva Central (CEC) entre o consenso e o consentimento” é o título do sexto capítulo. Nessa seção, Cordeiro explica como a CEC, responsável pela execução dos festejos, foi arquitetada por seu líder, o general Antonio Jorge Corrêa, assim como pelos intelectuais de instituições civis que a compunham – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Associação Brasileira de Imprensa, Conselho Federal de Cultura, entre outras. Ademais, a autora demonstra que a referida comissão acumulou uma quantidade expressiva de correspondências, que não eram apenas institucionais. Conforme Cordeiro, grande parte das cartas endereçadas à CEC foram enviadas por populares, o que proporcionou à autora a oportunidade de analisar, também no sexto capítulo, um vasto painel de opiniões de cidadãos comuns sobre as festividades do sesquicentenário.
Em “O sesquicentenário das vozes dissonantes”, sétimo capítulo, Cordeiro aborda um conjunto de opiniões divergentes ao regime militar. A autora alega não ser possível defender uma tese acadêmica sobre o consenso social estabelecido em torno da ditadura militar sem verificar as múltiplas vozes dissonantes também presentes na sociedade brasileira. Embora minoritárias e diversificadas entre si, tais vozes expressavam, segundo Cordeiro, importantes correntes de opinião. Dentro dessa perspectiva, a autora explica por que o estudo das referidas correntes é um aspecto crucial para uma melhor compreensão das complexidades inerentes ao pacto social instituído entre regime militar e sociedade brasileira, tal como o lento processo de abalo desse mesmo pacto a partir da segunda metade da década de 1970.
No oitavo capítulo, “O colorido fim de festa: a apoteose final da ditadura”, Cordeiro analisa alguns eventos associados ao encerramento das celebrações do sesquicentenário – notadamente, as paradas militares de 7 de setembro, um espetáculo de som e luz ocorrido no Museu do Ipiranga e a Feira Brasileira de Exportação: Brasil Export 72. De modo geral, a autora demonstra como é que – por meio da utilização de tais eventos, que contaram com ampla participação popular – a ditadura militar conseguiu estabelecer diálogos com a sociedade brasileira. Para Cordeiro, o escopo central dos referidos diálogos era chamar a atenção, por meio de usos políticos do passado, para o presente considerado favorável – marcado, em grande medida, pelo “milagre econômico”, assim como por uma expectativa otimista em relação ao futuro do país.
Por fim, em “Anos de chumbo ou anos de ouro? Uma história sempre em reconstrução”, nono capítulo, Cordeiro desenvolve um balanço final sobre as relações estabelecidas entre ditadura militar e sociedade brasileira. A partir da abordagem da oposição “anos de chumbo” versus “anos de ouro”, a autora analisa a complexidade dos comportamentos sociais sob o regime militar. Cordeiro debate, mais especificamente, atitudes como a passividade e a indiferença, que, assim como a colaboração ativa, contribuíram, de acordo com a autora, para a construção do consenso social estabelecido em torno da ditadura militar. Ao mesmo tempo, formula reflexões sobre a construção de uma memória social sobre o período do regime militar, lançando luzes sobre determinados mitos, silêncios e esquecimentos.
Ao tomar as comemorações do sesquicentenário como objeto de estudo, Cordeiro nos ajuda a compreender melhor as relações firmadas entre ditadura militar e sociedade brasileira. Em outras palavras, nos auxilia a pensar o tema a partir de um ângulo de visão que vai além das conhecidas interpretações maniqueístas criadas sobretudo a partir do contexto da redemocratização. E que ainda hoje são bastante reiteradas em alguns espaços de debate político. Como se sabe, tais versões costumam apreender o assunto por meio do estabelecimento de polos antagônicos – Estado repressor versus sociedade vitimizada, colaboradores versus resistentes, bem versus mal, entre outros. A autora demonstra que, mais do que isso, existiu uma “zona cinzenta” – eivada de diversidades e ambivalências – situada entre os polos citados, em que se podem observar variadas formas de se comportar diante do regime militar.
Entre esses comportamentos, é possível verificar, de acordo com Cordeiro, um conjunto de práticas de consentimento em relação à ditadura militar, que, por sua vez, contribuíam para reafirmar o consenso social estabelecido no período. Como exemplo, posso citar, entre diversas outras atitudes analisadas pela autora, a conduta dos torcedores brasileiros durante a “Taça Independência”, que, empolgados com a competição, lotavam as arquibancadas dos estádios nos jogos do “escrete canarinho”. Como explica Cordeiro, esses torcedores compunham, de fato, a mise-en-scène do regime militar, participando ativamente dos festejos oficiais, vestindo o verde e o amarelo, carregando suas bandeiras, cantando o hino e as canções de apoio, ovacionando Médici ao vê-lo na tribuna de hora do estádio.
Dentro desse prisma, Cordeiro defende que, mais do que um mero instrumento de manipulação e controle ideológico, as celebrações do sesquicentenário constituíram-se em um mecanismo de reafirmação do consenso social estabelecido em torno da ditadura militar. Isso nos ajuda a compreender, entre outras coisas, que os brasileiros não eram agentes passivos diante das estratégias de propaganda política promovidas pelo regime militar, que só ganhou força porque, de fato, encontrou resposta na sociedade. Ajuda-nos a compreender também, que, entre a adesão e a resistência, existia uma diversidade de comportamentos sociais que, juntamente com a coerção, a repressão, a propaganda e a censura, contribuíram para a sustentação da ditadura militar ao longo de seus anos de vigência.
De modo geral, Cordeiro trata o regime militar como um produto social. Ou seja, como algo que foi gestado no interior da própria sociedade brasileira. Dessa forma, a autora evidencia as fragilidades de versões longamente partilhadas, como as que defendem que a ditadura militar só foi viável em função das instituições e práticas coercitivas e manipulatórias, ou, então, que a sociedade brasileira foi essencialmente resistente ao regime militar. Indo de encontro a essas versões, Cordeiro demonstra, mais precisamente, como é que, ao longo da ditadura militar, foi formado um consenso social pautado por padrões não democráticos. Consenso esse que, como explica a autora, não foi encarado como algo problemático por grande parte dos cidadãos brasileiros.
Em vista do exposto, ela classifica nossa última ditadura como de caráter “civil-militar”. Nesse ponto, discordo dela. De acordo com o que tem afirmado Carlos Fico, acredito que não é o consentimento ou, até mesmo, o apoio engajado que define a natureza dos eventos da história, mas sim a efetiva participação dos agentes em sua configuração. Nesse sentido, parece-me ser pertinente classificar o golpe de 1964 como de feitio “civil-militar”, pois, além do apoio, ele foi efetivamente dado por civis. Porém, ainda conforme o autor, compreendo que a ditadura subsequente ao golpe foi eminentemente militar. Afinal, como Fico chama a atenção, muitos civis proeminentes que deram o golpe foram logo afastados pelos militares, justamente porque punham em risco seus projetos de poder. Mas isso é assunto para ser discutido mais detalhadamente em outra oportunidade.
Controvérsias à parte, o que cabe destacar neste momento é que Cordeiro, afinada com a recente renovação dos estudos sobre o regime militar, apresenta análise qualificada e original. A partir da abordagem de aspectos variados das comemorações do sesquicentenário, a autora demonstra como – em um momento conhecido por muitos como “anos de chumbo” – a ditadura militar se apresentou como legítima, sendo, inclusive, capaz de convencer parcelas significativas da sociedade brasileira. Ao percorrer esse caminho, aponta para a necessidade de compreendermos melhor o complexo período do governo Médici: anos de chumbo e, simultaneamente, de ouro, marcados pelos horrores causados por graves violações aos direitos humanos, mas, também, pelos sentimentos de orgulho e otimismo em relação à pátria, que experimentava o “milagre econômico”.
Bruno Duarte Rei – Doutorando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói (RJ) e do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) – Rio de Janeiro- Brasil. E-mail: [email protected].
PÉREZ, Juan Manuel Santana; PÉREZ, German Santana. La pesca en el banco sahariano, : siglos XVII y XVIII. Madri: Catarata, 2014. Resenha de: HONORATO, Cezar Teixeira. Canários e a pesca no banco saariano (séculos XVII e XVIII). Tempo v.22 no.39 Niterói jan./abr. 2016.
Acabo de ter acesso ao livro dos irmãos Santana Pérez, intitulado La pesca en el banco sahariano: siglos XVII y XVIII, que me causou uma agradável surpresa. Primeiramente, por ser um excelente exercício de história global em tempos de pós-modernidade. Em segundo lugar, por ser um tema pouquíssimo estudado: a pesca.
O livro parte de questões gratas à historiografia clássica ao se apoiar nos princípios da Escola dos Analles, em que a influência braudeliana1 é nítida, além dos pressupostos marxianos em suas mais variadas vertentes. Por tais razões, antes de ser um trabalho tão somente monográfico acerca da pesca, nos dá um painel primoroso do Antigo Regime, especialmente na Espanha dos séculos XVII e XVIII.
As grandes questões econômicas, políticas, sociais e culturais do período fluem ao longo do texto, colocando o tema da pesca saariana praticada nas ilhas Canárias no universo mais amplo em que se inseria a região na transição feudal-capitalista, inclusive em termos dos conflitos das monarquias ibéricas acerca do domínio do Atlântico Sul.
Mas talvez a maior contribuição em termos de uma história global esteja na própria estrutura do livro, na qual questões relacionadas com o mundo do trabalho, a dinâmica das empresas, as características das embarcações e da equipagem utilizada nos principais tipos de pesca, as questões geográficas e ecológicas que foram determinantes no avanço da exploração pesqueira na costa saariana desde o período estudado até os dias de hoje se articulam em um único texto.
A pesca, embora seja uma atividade humana existente desde os primórdios e envolvendo um grande número de pessoas, pouco tem sido observada pelos historiadores. Quando muito, atenta-se para os vários tipos de interdição e controles exercidos pelos Estados visando a controlá-la. Base da alimentação da sociedade, especialmente no caso do pescado salgado, movimentava negócios e trabalhadores com o registro de empresas pesqueiras desde o século XVI no arquipélago de Canárias, ganhando força ao longo dos séculos seguintes, objeto de estudo dos autores.
Os autores já apresentam na introdução o quadro geral do período, destacando-se a opção cronológica quando apontam que, no início do século XVII, foram realizadas as últimas incursões dos espanhóis, ainda com traços das cruzadas, especialmente nas ilhas na costa noroeste africana. Já a escolha do final do século XVIII até quando se aprova a Constituição espanhola de 1837 se deve não só à conjuntura mais global como à conclusão dos tratados de paz com os governantes africanos.
Ainda na introdução temos a descrição das principais fontes utilizadas na pesquisa. Nesse ponto, a surpresa é maior pela amplitude de arquivos pesquisados na França, na Inglaterra e, obviamente, nos vários arquivos espanhóis, com destaque para os das ilhas Canárias. A tipologia variada das fontes e as dificuldades de pesquisa inerentes ao trabalho com manuscritos aumenta ainda mais a importância do trabalho.
No primeiro capítulo, logo merecem destaque a análise detalhada do processo de trabalho da pesca com forte influência de uma excelente base antropológica e o cotidiano do trabalho pesqueiro, identificando cada categoria de trabalhadores envolvidos, suas principais tarefas e a remuneração específica de cada uma, mostrando como eram já bastante complexas as relações de produção no setor. A utilização de dados estatísticos acerca das viagens ocorridas no período, dos custos e da remuneração dos trabalhadores, inclusive de sua dieta alimentar durante o período no mar, torna o trabalho uma referência no tema.
O mesmo se pode dizer das empresas, que, após serem identificadas, tiveram um tratamento dos dados acerca de custos e lucros de algumas das excursões pesqueiras, da rede de negócios envolvendo a pesca, da salga, para, finalmente, terem apresentada a comercialização do pescado, culminando com a análise da contabilidade de uma companhia pesqueira, a Santo Domingo, dos primeiros anos do século XIX.
O segundo capítulo surpreende desde o início pelo domínio do conhecimento acerca da geografia do território de Berbería, local do banco saariano, que se localizava desde o Marrocos e o Saara Ocidental até Arguin, o território mais próximo do arquipélago das Canárias e com maior capacidade pesqueira, razão para os conflitos com os portugueses, que também exploravam a região.
Seguindo os autores, pode-se perceber que a costa africana é uma das regiões marítimas mais produtivas do planeta, pela maior quantidade de peixes passíveis de salga em razão de suas características físicas, envolvendo salinidade, temperatura das águas, correntes marítimas etc. para a pesca de merluza, cherne, bogas ou corvinas, ao contrário da pesca litorânea das Canárias, na qual merece destaque a pesca da sardinha.
No terceiro capítulo, após uma densa descrição do banco de Arguin, os autores investem no processo de ocupação/uso da região pesqueira desde o início do século XVI, inclusive com a apreensão de escravos e a questão da pesca pré-industrial na região. Embora discordemos de sua ideia acerca da própria definição de pesca pré-industrial, seus argumentos são bastante convincentes.
Um dos pontos altos do livro está no quarto capítulo, no qual são analisados o consumo e o comércio de pescado durante os séculos XVI e XVIII. Impressionam a acuidade e o ineditismo da questão da dieta alimentar da população – normalmente negligenciada pela historiografia tradicional -, bem como a importância do pescado fresco (o mais caro) ou salgado, além de lagostas e ostras, na complementação proteica da população, chamando a atenção para seu alto consumo entre os mais pobres.
Preparado de várias formas (frito, cozido, assado ou escabeche), o pescado, que era a base da alimentação dos mais pobres – sempre tendo as Canárias como referência -, não tinha muito prestígio entre os mais ricos, que valorizavam a carne, e, embora largamente consumido, nem era muito considerado como nutritivo pela população em geral, por sua leveza e facilidade de digestão.
Ainda nesse capítulo, merece destaque a impressionante análise da comercialização do pescado, os preços praticados e a preocupação da administração em garantir a qualidade das mercadorias que iam à venda e que seriam consumidas pela população, com uma quantidade impressionante de dados estatísticos extraídos das fontes.
Outra parte se abre com a análise da relação entre a produção de sal e as pescarias. A utilização do sal e a secagem do pescado, com destaque para peixes como o bacalhau, eram fundamentais para garantir sua vida útil com qualidade e para que todo o processo de transporte e comercialização não gerasse adulteração na qualidade, mesmo após longas e demoradas viagens.
O que, para um leitor pouco atento, pode parecer uma digressão ao falar da questão do sal desde a Antiguidade, demonstra a profunda erudição dos autores, e mais, como a busca de uma história total é claramente apresentada no livro, demonstrando o quanto era fundamental a utilização do sal na pesca saariana, representando parte considerável dos custos de produção do pescado.
No sexto capítulo, a obra se dedica a analisar a emergência dos discursos da ilustração e sua relação com a pesca no banco saariano. Tais discursos foram fundamentais para a construção de projetos políticos para o setor. Por meio das iniciativas oficiais, dizem os autores, os ilustrados trataram de fomentar a pesca não só nas Canárias, mas em toda a Espanha, embora poucas das medidas surtiram o efeito esperado.
No último capítulo, os autores apontam ainda para novos projetos relacionados com a pesca que se tentou implementar na Espanha como um todo desde o final do século XVIII até o início do seguinte na região saariana. Entre eles, merece destaque a caça à baleia, seguindo o que ocorria em outros países da Europa, fundamental em razão do aumento mundial de seu azeite.
Outro projeto que entra em debate no mesmo período aponta para a preocupação da pesca predatória tanto nas Canárias quanto no banco saariano. A tentativa de proibir “redes de arrasto” com cota de malha pequena foi uma das medidas visando a evitar a diminuição da oferta pesqueira.
Finalmente, nas conclusões, os autores retomam muitas das questões desenvolvidas ao longo do denso texto e apontam a permanência nos dias de hoje de muitas das práticas da pesca e de barcos, em que pese o avanço da grande pesca industrial.
Por todas essas razões, acredito que se trata de um livro fundamental para o entendimento da história das ilhas Canárias, da África saariana, da própria dinâmica da sociedade da transição feudal-capitalista, considerando um tema ainda pouquíssimo estudado entre nós. Trata-se de uma obra madura de professores catedráticos da Universidade de Las Palmas de Gran Canarias. Pois tais razões, não temos dúvida de esse livro já se tornou uma referência fundamental para aqueles que queiram estudar tais assuntos, podendo servir de inspiração para os pesquisadores brasileiros em busca de novos temas e de “maneiras de fazer história”.
1Especialmente BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Filipe II. Tradução do Ministério da Cultura Francês. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1983. 2 v.
Cezar Teixeira Honorato – Professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói – Brasil. E-mail: [email protected].
História da América Latina / Maria Ligia Prado
O espaço reservado à história da América Latina em editoras de livros didáticos e acadêmicos – assim como da África – tem se ampliado no decorrer dos últimos anos. Parte do resultado deve-se ao empenho de professores-pesquisadores dessa área, que têm empreendido inúmeros esforços para que os brasileiros conheçam melhor os fatos, personagens e processos que compõem a rica narrativa histórica dessa região tão complexa e diversificada em termos tanto geográficos quanto culturais. Embora essa realidade esteja se configurando, ainda é perceptível a ausência de trabalhos que sejam, além de acessíveis a públicos distintos, também, confiáveis, sob o ponto de vista histórico, teórico e metodológico.
A obra História da América Latina é parte integrante da Coleção “História na Universidade”. A larga experiência de pesquisa e de ensino na área de História da América de suas autoras, Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino Soares, ambas, docentes-pesquisadoras da Universidade de São Paulo, confere legitimidade ao trabalho. Dividido em doze capítulos a publicação é composta por um panorama amplo de temas, privilegiando aqueles mais recorrentes nos cursos de graduação de História, na disciplina de América Latina.
Respeitando os protocolos próprios do ofício do historiador – leitura crítica das fontes, conhecimento sólido da bibliografia e emprego das ferramentas teóricas e metodológicas (p.9) –, as pesquisadoras demonstram cautelas necessárias na análise das conjunturas históricas e ações dos múltiplos sujeitos ali tratados. Distanciam-se, por exemplo, de armadilhas traiçoeiras, como dividir personagens em dois campos opostos e simplistas, que oscilam entre a “heroicização” e a “demonização”.
O leitor não encontrará análises e discussões metodológicas sobre as múltiplas fontes citadas – não é a proposta. Contudo, ao tratarem sobre os temas, fazem frequentes referências a romances, textos de imprensa, filmes, ensaios, memórias, cartas, imagens (pinturas, fotos), músicas e filmes que foram explorados – de forma crítica e aprofundada – por elas e/ou outros historiadores, noutros trabalhos nos quais se debruçaram sobre grandes questões da América Latina, analisando tais documentações. Algumas dessas pesquisas são relacionadas, no fim da obra, como indicações de leituras.
Prado e Soares fazem questão de ressaltar a dificuldade e, ao mesmo tempo, a urgência da ênfase às especificidades no trato das histórias dos países latino-americanos. Dessa forma, ao tratarem das temáticas, embora busquem estabelecer conexões entre os respectivos contextos históricos, contemplando experiências que transcenderam fronteiras nacionais, demonstram sérias preocupações em marcar as diferenças que caracterizaram a história de cada Estado nacional. Frente à impossibilidade de abordarem todos os temas e países de forma equânime, optaram por alguns enfoques com o formato “box”, de modo que certos temas e trajetórias biográficas foram analisados separadamente. Alguns deles: as independências do Haiti, do México e de Cuba; Reforma Universitária de Córdoba, de 1918; escravidão na América Espanhola; os conflitos políticos na região do Rio da Prata; a guerra entre México e Estados Unidos, a Guerra no Pacífico e suas implicações e um recorte biográfico de Eva Perón.
Sobre o Brasil, “parte da América Latina” – como gostam de sublinhar –, pode-se afirmar que não foi tomado como alvo de reflexões específicas. No entanto, as pesquisadoras traçaram uma narrativa paralela, travando aproximações com os demais países, desde o processo de colonização ibérica, as lutas por independências políticas, a formação dos Estados nacionais, chegando até o século XX, com assuntos ligados às Ditaduras Civis-Militares.
Optaram por iniciar o texto historicizando a denominação “América Latina”. Ali, já fica evidenciado o quanto a origem e difusão do termo trouxeram, no seu bojo, variados interesses – externos e internos – que estiveram presentes no tabuleiro das pelejas políticas e ideológicas. São colocadas em discussão as apropriações e manipulações do conceito bem como as disputas envolvendo interesses expansionistas, considerando os campos de atuação e influência por parte da Europa – naquele momento, França, em especial. Merece atenção a vertente mais recente, que considera que “[…] a denominação não foi imposta, mas cunhada e adotada conscientemente pelos latino-americanos, a partir de suas próprias reivindicações […].” (p. 9)
Ao abrirem o livro com o tema das identidades, tão caro aos pesquisadores da área, a América Latina é apresentada como um cenário marcado por complexas estratégias da parte de atores e interesses em disputa que se travaram (e se travam) no cenário geopolítico e cultural. Textos ensaísticos clássicos, bastante conhecidos por estudiosos da área são mencionados, com o intuito de dar uma dimensão do quanto a região tem uma história vibrante, além de mostrar os embates identitários em jogo. Entre outros, Nuestra América, do cubano José Martí, Carta de Jamaica, do venezuelano Simon Bolívar ou Ariel, do uruguaio Enrique Rodó.
As Independências Latino-americanas, um dos “grandes temas” de América, mereceu destaque e a análise considerou as dificuldades inerentes à difícil arte da conciliação de interesses, as disputas e visões divergentes de líderes políticos e grupos sociais que compuseram a trama que marcou o longo e complexo trajeto de luta. Não foi omitido o registro dos sentimentos díspares de líderes que, como Simón Bolívar ou Bernardo de Monteagudo conviveram com esperanças e desencantos ao longo do processo.
A “guerra” de símbolos, a construção de representações e discursos identitários, em disputa pelos sujeitos históricos, também estiveram presentes no momento da formação dos Estados nacionais, processo longo, marcado por inúmeros avanços e recuos na história de cada um dos povos da região. Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino Soares deixam evidenciado, na escrita, o quanto o processo envolveu embates de forças antagônicas que evidenciaram dissensos regionais articulados em torno de duas forças principais: Liberais e Conservadores ou, no caso argentino, “Unitários” e “Federalistas”. Cada um dos grupos é bem examinado, de forma que o leitor possa entender os seus horizontes políticos e as razões de suas disputas.
O tema da “Modernidade” perpassa alguns capítulos, sendo entrelaçado, especialmente, com a temática da identidade nacional. Ao abordarem-no, não negligenciam as necessárias distinções entre conceitos relacionados (modernização e modernismos). No campo da Educação, enfatizam projetos culturais colocados em prática pelos governantes, em associação com artistas e intelectuais. Com campanhas de alfabetização e outras ações, eles buscavam “elevar” o nível cultural e técnico de grupos subalternos, preparando-os para as necessidades e exigências da “modernidade”. A leitura de artistas e intelectuais frente aos esforços de governantes e elites econômicas para engendrarem a modernização, não passou ao largo da análise. Seja quando esses artistas se referiam às mudanças, dando conotações positivas ou quando se manifestaram, denunciando os custos sociais e humanos que as inovações técnicas, o “desenvolvimento” alteraram as relações de grupos com a terra e com o trabalho.
Sobre o papel da Igreja Católica no imbricado jogo das questões políticas, em vez de simplesmente reforçarem a atuação da instituição ao lado de grupos conservadores que desejaram, desde a Colonização, a manutenção do status quo de grupos dominantes, bem como de antigos privilégios e prerrogativas assegurados a ela (educação, posse de terras), Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino exploraram as complexidades do papel desempenhado pela instituição, no contexto latino-americano. Ressaltam, claro, que sendo a Igreja altamente hierarquizada esteve, em inúmeros contextos, ao lado de grupos dominantes, usando de ideologias religiosas para dissuadir os rebeldes. No entanto, lembram que figuras atreladas ao universo religioso nem sempre estiveram do lado conservador, mas se destacaram em momentos importantes, como nas lutas pela Independência, atuando ao lado dos “rebeldes”, abraçando causas sociais de movimentos populares. Casos emblemáticos foram os curas Miguel Hidalgo e José María Morelos, que lideraram o primeiro movimento pró-emancipação do México em relação à Espanha, em 1810. A rebelião alimentou esperanças, ao proclamar o fim da escravidão negra, o fim do pagamento de tributos indígenas e propor a distribuição de terras – inclusive da Igreja –, contando, assim, com a adesão de indígenas e camponeses. Pela radicalidade contida no movimento, nessa fase inicial, logo foi sufocado e seus líderes executados.
Ao contemplarem numerosos temas, explorando um amplo recorte cronológico que foi do século XVI – marco do processo colonizador – até o século XX, incluíram múltiplos atores sociais que participaram dos eventos citados e narrados. Além dos “grandes vultos”, que se tornaram conhecidos pela liderança exercida nos movimentos políticos, outros sujeitos e suas formas de ações foram contempladas pelas autoras: soldados anônimos, intelectuais, negros, mulheres, indígenas, camponeses e operários. Vale ressaltar que não foram esquecidas as diversas formas com as quais aqueles que ocuparam o poder – no plano interno e externo –, em fases distintas da História, lidaram com as demandas dos grupos reivindicantes. Assim como em determinados momentos esses grupos não se privaram de usar a força para reprimirem duramente as demandas, em outras circunstâncias, viram-se obrigados a ceder, fazendo uso do diálogo e das negociações, desenhando, assim, novas configurações nas relações de poder.
Conceitos como “caudilhos” e “populismo”, usualmente utilizados erroneamente em determinados textos e contextos relacionados à América Latina, não compõem o repertório da escrita da obra. Este último, por exemplo, tão recorrente em segmentos da imprensa quando se referem a algumas lideranças latino-americanas, foi evitado pelas autoras, por entenderem-no “demasiadamente genérico, eclipsando as particularidades nacionais” (p. 131). Em vez disso, optaram por tratar de “políticas de massas”, discutindo ações de lideranças carismáticas de alguns países latino-americanos (anos 1940 e 1950), que se mostraram capazes de manter a ordem, num período em que as classes populares lutavam por ganhar espaço no cenário político e exigiam reformas. Sob a égide do Estado, uma série de mudanças ocorreram e as formas de ações desses governantes variaram entre reformas que concederam direitos sociais, propaganda, cooptação e, também, repressões.
Dois movimentos revolucionários ocorridos na América Latina, no século XX, mereceram maior atenção em História da América Latina: a Revolução Mexicana e a Cubana. Em comum, o fato de imprimirem novos contornos na ordem estabelecida, tanto no plano interno, quanto externo. A do México, por ter sido a primeira do século, antes mesmo que a Russa, ocorrida em 1917, quase uma década após a da América. Também, por seus desdobramentos políticos, culturais e sociais, envolvendo novas configurações nas relações de gênero, leis de reforma agrária, nacionalizações de bancos e empresas estrangeiras. A de Cuba, além de alguns desses aspectos, pelas consequências produzidas no cenário latino-americano. Uma delas e a mais crítica, por tornar-se símbolo de luta contra o imperialismo norte-americano. Sob o temor de que outras nações latino-americanas seguissem o “mau” exemplo cubano, redundou no apoio do “irmão do Norte”, os Estados Unidos, na implantação das ditaduras.
A partir dos anos 1960, tempos de “Guerra Fria”, quando duas ideologias dominantes provocavam polarizações no globo, os países da América Latina coincidiram no compartilhamento de experiências políticas de regimes autoritários. Com intervalos maiores ou menores e com distintos graus de repressão, guardam feridas abertas em diversos países, inclusive no Brasil. Não mais são denominadas simplesmente como “militares”, mas “civis-militares”, posto que, sabidamente, contaram com o apoio da parte significativa de forças conservadoras da sociedade civil – empresários, imprensa, Igreja, cidadãos comuns. São apresentadas, na obra, como resposta ao alto grau de mobilização de alguns setores em países latino-americanos naquele momento: sindicatos, partidos de esquerda, ligas camponesas, guerrilhas indígenas ou movimentos estudantis. Chile, Nicarágua, Peru, Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, El Salvador são contemplados nessa questão, ressaltando-se as especificidades de cada caso.
“Cultura e Política”, além de ser abordagem presente durante todo o livro é, também, o título do último capítulo. A imagem da “Orquestra Sinfônica Simón Bolívar”, composta por 180 músicos venezuelanos que tocaram na Sala São Paulo, em 2013, foi a estratégia utilizada para encerrar a obra, focando a América Latina Contemporânea. O resultado visto na apresentação em São Paulo teve sua origem em 1975, por meio da iniciativa de um musicista-economista que, como outras iniciativas colocadas em prática na América Latina, ao longo do século XX, buscou difundir acesso gratuito à cultura – nesse caso, educação musical – promovendo inclusão social e cultural a jovens e crianças provenientes de meios populacionais carentes.
A música como intervenção social foi motivo para reflexões, colocando a ênfase do capítulo sobre a Nueva Canción, movimento artístico e político que articulou nomes da música de alguns países no engajamento de oposição aos governos militares, nos anos 1960 e 1970. O pano de fundo serviu para evidenciar o quanto, em diversos momentos e contextos, a circulação de ideias e o compartilhamento de experiências contribuíram para que latino-americanos se articulassem em utopias e perspectivas de transformações sociais e políticas.
O contexto latino-americano das últimas décadas, marcado por cenários de ascensão de mulheres ao andar mais alto da política; a chegada ao poder de governos “progressistas” em alguns países, avanços sociais e, por sua vez, numa perspectiva ainda mais recente, as reações de grupos conservadores às mudanças colocadas em prática; a apresentação de possibilidades de recomposição das relações de Cuba com os Estados Unidos são fatos que conferem à obra uma relevância ainda maior, já que os leitores terão condições de compreender melhor o diálogo entre passado e presente.
História da América Latina atende, portanto, às expectativas e necessidades de um público bastante amplo – acadêmico ou não. Aos “iniciantes”, o prazer da leitura de uma obra na qual poderão embarcar no horizonte histórico (político e cultural) latino-americano, conduzidos pela experiência de duas pesquisadoras sérias que decidiram compartilhar parte do seu fascínio por essa região do globo. Aos “iniciados”, a satisfação de terem contato com uma narrativa histórica livre de voluntarismos e anacronismos, comuns a algumas obras que, essencialmente comprometidas com o aspecto comercial, são lançadas no mercado editorial vendendo-se como “guias”, isto é, como promotoras de um suposto e ilusório contato com a “verdadeira” história da América Latina. Sem tais pretensões, a obra resenhada cumpre a função de atender a estudantes e professores que queiram e necessitem acesso a abordagens e interpretações fundamentadas, oferecendo importante contribuição no que concerne à construção do conhecimento histórico crítico.
Romilda Costa Motta – Doutora pela Universidade de São Paulo. Professora do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-SP). São Paulo, Brasil. E-mail: [email protected].
PRADO, Maria Ligia; SOARES, Gabriela Pellegrino. História da América Latina. São Paulo: Contexto, 2014. 206p. Resenha de: MOTTA, Romilda Costa. A História da América Latina sob perspectiva crítica. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.21, p.285-290, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Speaking of Flowers: Student Movements and the Making and Remembering of 1968 in Military Brazil – LANGLAND (VH)
LANGLAND, Victoria. Speaking of Flowers: Student Movements and the Making and Remembering of 1968 in Military Brazil. Durham: Duke University Press Books, 2013. 352 p. IORIS, Rafael R. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Como acrescentar ao nosso conhecimento sobre o papel da militância estudantil no combate à ditadura no Brasil? Este importante livro (escrito por Victoria Langland, do Departamento de História da Universidade de Michigan) nos oferece uma nova reflexão sobre o tema que aponta inovadores caminhos historiográficos para trabalhos futuros.
Em grande parte centrado no ano de 1968 quando, de maneira similar a eventos em outras partes do mundo, representantes discentes brasileiros se mobilizaram de maneira inédita na defesa de melhorias educacionais, sociais e políticas, a obra oferece não só uma leitura atenta sobre trágicos eventos da ditadura militar, mas analisa também como sucessivas narrativas sobre esse mesmo ano se articularam com o pro- cesso de redemocratização política e, desde então, com a própria reconstrução do movimento estudantil no país.
Embora focado no período militar, Speaking of Flowers oferece elementos para uma história do movimento estudantil brasileiro. Para tanto, a autora organiza os capítulos de maneira criativa, onde distintos momentos históricos são priorizados de modo a enfatizar seus principais eixos explicativos. Um dos argumentos centrais da análise é que os estudantes brasileiros (especialmente os de nível universitário) sempre se viram (e foram dessa mesma forma tratados por sucessivas lideranças do aparelho de estado) como protagonistas da evolução política do país. Da mesma forma, ao examinar como os estudantes se organizaram na defesa de seus interesses ao longo da história do país, dentro de um processo no qual os próprios se constituíam como ator político legítimo, o texto apresenta uma reflexão original sobre o processo de criação e recriação da memória social recente.
É nesse sentido que Langland apresenta seu projeto também como o de uma busca pelos diversos significados assumidos pelo ano 1968, assim como a da militância estudantil associada a este, que foram sucessivamente atribuídos por distintos grupos de estudantes ao longo do processo de resistência ao regime militar e da redemocratização do país. A reflexão sobre os sentidos coletivos atribuídos por distintos atores sociais para suas próprias ações é ancorada, em grande parte em pesquisa secundária, numa descrição geral do processo de constituição do movimento estudantil ao longo do século XIX e a primeira metade do século XX. É demonstrado como, ao longo dessa trajetória, os estudantes brasileiros se mobilizaram dentro de um percurso que daria as bases para a própria identidade estudantil no país desde então.
A identidade política do movimento estudantil teria assumido um viés ainda mais claro no contexto da Guerra Fria, quando este emergente segmento seria cada vez mais influenciado pelo ideário esquerdista, por vezes revolucionário dos anos 50 e 60. Essa radicalização se aceleraria após a ascensão do regime militar em 1964, especialmente ao longo do ano de 1968. Ao recontar como os estudantes reagiram de maneira assertiva e criativa à crescente repressão sofrida, a autora nos mostra como o sacrifício de muitos de seus pares levou o movimento estudantil a um novo patamar e importância simbólica. Tragicamente, essa maior militância seria um dos focos principais da acentuada violência policial do regime ditatorial, especialmente a partir de dezembro 1968, quando da outorga do Ato Institucional No. 5.
Uma das principais contribuições de Langland é a de demostrar com uma grande riqueza de detalhes como, durante o período da vigência desse importante ato institucional, a leitura sobre o ano de 1968 se tornaria mais complexa e multifacetada. De um lado, para os operadores da repressão estatal, o ano de 68 passaria a representar tudo o que não poderia mais ocorrer; e todo tipo de atividade estudantil ao longo dos anos 70 seria vista sob esse prima de suspeição e vigilância. De outro, para os próprios estudantes, o mesmo ano, assim como a mobilização juvenil a ele associada, seriam objetos de uma leitura muito mais rica e sofisticada; dentro da qual alguns aspectos da militância de então seriam privilegiados (por exemplo, a defesa intransigente do direito de expressão e participação então suprimidos), enquanto outros elementos seriam reavaliados ou mesmo rejeitados (de modo especial a participação na luta armada de várias lideranças do movimento ao longo de 68 e 69).
A reflexão apresentada no livro é rica e muito bem amparada em evidências históricas relevantes, fruto de um minucioso trabalho de pesquisa por parte da autora. Seria pois impossível fazer justiça, nesta curta resenha, aos detalhes e nuances apresentados. Caberia, contudo, apontar que, por vezes, ao tentar alinhavar por demais os capítulos entre si, de modo a apresentar uma lógica subjacente ao desenrolar dos acontecimentos, a análise tende a oferecer uma imagem talvez por demais coerente para eventos eminentemente complexos, muitos deles díspares e mesmo contraditórios; como, por exemplo, as ações de grupos de estudantes de diversos matrizes ideológicos ao longo de um período tão longo.
Da mesma forma, embora a autora inove de maneira louvável ao tratar com tanto interesse e criatividade de questões ligadas à temática de gênero, mais elementos seriam necessários para que o leitor possa de fato acompanhar algumas das assertivas de cunho analítico feitas pela autora (por exemplo, como os próprios estudantes, especialmente homens, interpretavam seus padrões de comportamento para com seus pares do sexo feminino).
Por fim, especialmente no momento em que o Brasil passa por uma verdadeira guinada conservadora, seria útil saber mais sobre como estudantes politicamente conservadores entenderam os muitos processos históricos tão bem examinados. Ainda assim, tomado como um todo, nenhum desses aspectos prejudica a leitura e não diminui em nada a capacidade persuasiva do texto; devendo os mesmos serem vistos muito mais como relevantes linhas de pesquisa à espera de novos estudos, detalhados e qualificados como o apresentado em Speaking of Flowers.
Rafael R. Ioris – Latin American Center University of Denver, 2000 E. Asbury Ave., Sturm Hall #367 Denver, CO 80208 [email protected].
Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988 | Daniel Arão Reis
Daniel Aarão Reis, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense em “Ditadura e democracia no Brasil”, faz um passeio pela História política do país, dialogando sobre a gênese da ditadura e o frágil processo de construção da democracia, como se fora uma fina camada de gelo, prestes a rachar diante de momentos de impacto ou pressão social.
Seu livro discute as periodizações e memórias utilizados pelo senso comum e por historiadores sobre o período governado por generais, tecendo comentários provocadores e de aguda análise, sobre os diferentes sujeitos relacionados aos processos políticos brasileiros e seu envolvimento em uma multiplicidade de questões, muitas das quais, controversas. Leia Mais
DIctablanda: works, politics and culture | Paul Gillingam e Benjamin Smith
Dictablanda: works, politics and culture (2014) é o novo livro dos mexicanistas Benjamin T. Smith1 (Universidade de Warwick, Coventry, Reino Unido) e Paul Gillingham2 (Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, EUA). Ambos são professores de História da América Latina, mas possuem uma trajetória acadêmica voltada à reflexão das políticas socioculturais do Estado mexicano no período pós-revolução (1940-1988). Sendo assim, no começo de 2013, juntaram-se com o intuito de organizar uma obra cuja premissa fosse a síntese de suas percepções e apreensões sobre o momento mencionado.
A obra recém-publicada pondera, sobretudo, acerca do poder no México após o turbulento estrondo da Revolução Mexicana (1911-1920) e, por essa mesma razão, sua reflexão vai muito além da altercação dicotômica (e também um lugar comum) que envolve as noções de democracia e ditadura. Oferecendo, em seu lugar, uma nova perspectiva aos estudiosos desse período tão complexo: a “dictablanda” (ou, em português, a ditabranda, referindo-se ao longevo regime do Partido Revolucionário Institucional (PRI; 1930-2000) e às suas posturas ditatoriais relativamente brandas). Leia Mais
Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur – ÁGUILA; ALONSO (VH)
ÁGUILA, Gabriela; ALONSO, Luciano (Coord). Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2013. 300 p. GONÇALVES, Marcos. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 56, Mai./ Ago. 2015.
Quais as correspondências possíveis entre o regime franquista (1939-1975) e as ditaduras militares instaladas ao sul do nosso continente a partir da década de 1960? Existem categorias de análise comuns que podem constituir-se em grade de interpretação sistêmica desses objetos? Estas são duas das indagações que atravessam os ensaios reunidos na coletânea “Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur”, coordenada por Gabriela Águila, professora de História Latino-americana da Universidad de Rosário, e Luciano Alonso, catedrático de História e Teoria Social da Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe/Argentina).
Desde o Prólogo a obra sinaliza para a complexidade de tais questões, não apenas pela evidência prévia das distâncias cronológicas e geográficas, mas igualmente pelas origens políticas e culturais distintas dos conflitos sociais que fizeram emergir esse conjunto de regimes. A este duplo aspecto são aditados os desdobramentos díspares quanto aos processos da experiência repressiva e transição democrática vivenciados pelas sociedades respectivas.
No entanto, as assimetrias passam a significar um fator de menos densidade quando a elas são aplicados modelos de compreensão que se afastam das definições normativas e rígidas, atribuindo a essa obra coletiva unidade metodológica, coerência teórica e pluralidade documental. A coletânea reúne contribuições de historiadores e estudiosos das ciências sociais de países como Espanha, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai cuja especialidade na temática núcleo – a ditadura repressiva como síntese sociopolítica dessas sociedades no século XX, e as consequentes sequelas herdadas – convida a revisitar subtemáticas alicerçadas ao núcleo. As categorias chaves de análise são o sistema repressivo engendrado pelos regimes; as coalizões de violência formadas por diversos níveis organizacionais e hierárquicos; as atitudes sociais que conformaram extensas redes de relacionamentos situadas entre o consenso e a resistência; o exílio como símbolo primordial do desterro.
A obra conta com a reedição de um clássico artigo escrito por Julio Aróstegui e publicado em dezembro de 1996, no Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne. Atual e robusto pelas inquietações que suscita, “Opresión y pseudojuricidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo,” (p.23-40) funciona como o fundamento metodológico para o agrupamento de ensaios que problematizam o papel das ditaduras de ambos os lados do Atlântico. No texto, Aróstegui advoga a necessidade de superação de tipologias dependentes da casuística politológica, para que sejam reconsiderados, efetivamente, os estatutos histórico e historiográfico da questão.
Em outras palavras, para Aróstegui, partindo do problema espanhol, a análise do sentido histórico de um regime não pode estar encoberta pela sua significação; ou, as interrogações não devem ser lançadas aos referentes do objeto numa categoria dada a prioriou circunscrita em definições formais de regimes políticos segundo critérios já estabelecidos. (p.25) Aróstegui reivindica uma “suficiente empiria” propiciada pela análise histórica que desconstrua as estratégias argumentativas da ciência política e da sociologia em interpretarem como “fascista”, “sin apelación, a un régimen [franquismo] que jamás se llamó a sí mismo tal cosa. Y lo mismo cabría decir de sus calificaciones como “autoritarismo” – con o sin “pluralismo limitado” -, “bonapartista” o “dictatorial.” (p.28)
Tendo em vista esses postulados teóricos, abrem-se para os autores da coletânea questões em série, todas elas proporcionadas, claro está, pela legitimação heurística e prática cotidiana que foram atribuídas aos regimes por si mesmos. De modo que as possibilidades de comparação não frutificam somente entre os regimes que tiveram certa proximidade geográfica e cultural; mas existem razões que justificam “comparaciones ampliadas”. Tais casos comparativos aparecem na reflexão de Luciano Alonso (p.43-68) e Daniel Lvovich, (p.123-146) ao ponderarem sobre os marcos gerais de uma época; as estruturas sociais e instituições políticas; os vínculos internacionais; e, principalmente; as mútuas influências e características ideológicas, fatores suficientemente capazes de romper barreiras temporais, culturais e geográficas assumindo certo caráter de permanência e densidade histórica, e tornando factíveis as comparações ampliadas, assim como, as devidas diferenciações entre os grupos políticos.
Não obstante, a grade de interpretação sistêmica mais recorrente da obra coletiva é instaurada pela noção de “dimensão repressiva” como aquilo que parece representar ou definir a natureza dos regimes políticos. Coerentes a essa noção, autores como Jorge Marco mergulham nos sistemas de “limpeza política” na Espanha franquista que levaram a assassinatos extrajudiciais. (p.69-96) Como reforço do argumento comparativo, esta prática em muito encontra parentescos com o que viria a ocorrer mais tarde em países como a Argentina, com a lógica de “desaparición” e Chile com os “assassinatos públicos” que inauguraram a ditadura pinochetista. Os dois países são analisados respectivamente por Gabriela Águila, no texto “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales,” (p.97-121) ou Igor Goicovic Donoso que em “Terrorismo de Estado y resistencia armada en Chile,” (p.245-270) desbasta a radicalização profunda da sociedade chilena com a chegada do socialista Allende ao poder, acompanhada do inconformismo de uma sociedade tradicional e na qual as Forças Armadas gozavam de imenso prestígio. Donoso destaca que, obstinadas pela ideia de uma “refundação” da sociedade chilena, as Forças Armadas recorreram à repressão como principal mecanismo de controle social: “La represión política fue, por lo tanto, una condición imprescindible para garantizar el éxito del proceso refundacional y un elemento clave para anular la relación entre izquierda política y movimiento popular.” (p.245)
A coletânea ainda conta com artigos sobre os sistemas repressivos do Brasil, a cargo de Samantha Quadrat, e Uruguai, com um ensaio escrito por Carlos Demasi. Enquanto Quadrat problematiza as cadeias de comando repressivo e as variantes de violência política; Demasi debate as ambíguas formas de coexistência entre a sociedade uruguaia e a ditadura.
Tal obra coletiva é especialmente recomendada aos estudiosos (professores e alunos de pós-graduação) da história política recente da América Latina, bem como, aos pesquisadores preocupados com a dimensão transnacional e de cruzamentos da cultura política hispanoamericana. Fundamentada em sólida metodologia e original emprego de documentação (sob a ótica de atribuir voz própria aos regimes políticos), a conjugação das variadas facetas assumidas pelos sistemas repressivos em pauta na coletânea pode subsidiar, como marco historiográfico comparativo uma série auspiciosa de objetos de estudos: o funcionamento dos sistemas penitenciários, as resistências armadas ou pacíficas, as funções representacionais e legitimadoras das ditaduras, os posicionamentos dos distintos agentes frente à dominação ditatorial, ou ainda, a autonomia adquirida pelo sistema repressivo nos âmbitos regionalizados.
Marcos Gonçalves – Departamento de História. Universidade Federal do Paraná. Rua General Carneiro, 460, 6º andar, Ed. D. Pedro I, Curitiba, PR, 80.060-150. [email protected].
The Ideological Origins of the Diry War: Fascism, Populism and Dictatorship in Twentieth Century Argentina | Federico Finchelstein
Como foi possível a Argentina, uma nação fundada sobre preceitos liberais, ser palco de radicalismos políticos tão danosos, que envolveram e acarretaram em sequestros de bebês, assassinatos com motivação política, perseguições antissemitas, atentados a bomba e uma espécie de “tutela legitimadora” estabelecida em conjunção, sob o signo da cruz (Igreja) e da espada (forças armadas)? De que modo a história política argentina do século XX foi marcada por uma espécie de simbiose entre o contexto global do fascismo transatlântico e uma constante prática de adaptação e reformulação à realidade local? Essas, embora não somente, são algumas questões que movem Federico Finchelstein em “The Ideological Origins of the Dirty War: Fascism, Populism, and Dictatorship in Twentieth Century Argentina” (Oxford University Press, 2014, 1ª edição).
Em “Transatlantic Fascism: Ideology, Violence, and the Sacred in Argentina and Italy, 1919-1945” (2010), Federico Finchelstein já estabelecera análise sobre alguns dos elementos caros à história política argentina do século XX: a circularidade de ideias e colaborações intelectuais para e com o fascismo internacional (em especial o italiano), assim como o impacto desse processo naquela que é, na América Latina, a nação com maior incidência da imigração e presença europeia em seu ethos social. Em “Ideological Origins of the Dirty War”, o objetivo do autor é maior e mais exaustivo, seja do ponto de vista da temporalidade, mas também da complexidade do tema. Leia Mais
O Passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina – PINTO; MARTINHO (RBH)
PINTO, António Costa; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes (Org.). O Passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 336p. Resenha de: WASSERMAN, Claudia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34, n.67, jan./jun. 2014.
O passado ressurgirá mesmo quando existe um acordo inicial de esquecê-lo.
Alexandra Baharona de Brito e Mario Snajder
A historiografia sul-americana tem se dedicado ao tema das ditaduras de segurança nacional desde a sua implantação, em meados dos anos 1960, e o tema continua tendo desdobramentos importantes. A caracterização dos regimes – fascistas, burocrático-autoritários, civil-militares, ditatoriais, totalitários etc. –, a diferenciação com as ditaduras pregressas, o papel dos militares na política, os atores, o contexto nacional e internacional, a influência e participação dos Estados Unidos, o papel desempenhado pela Doutrina de Segurança Nacional (DSN), o esgotamento de um modelo de acumulação capitalista, o papel dos empresários nos golpes, o estudo sobre a resistência aos golpes, a guerrilha, as organizações de esquerda e as memórias de militantes foram objeto de pesquisa dos historiadores e mereceram atenção em livros e coletâneas. Nos primeiros anos do século XXI, o tema das ditaduras latino-americanas entrou definitivamente em outro campo referente ao debate sobre as políticas de memória instituídas ou não pelos governos pós-ditatoriais. Em 2014 o golpe de 1964 no Brasil completa 50 anos, data “redonda” consagrada para discussão e reflexão a respeito do legado autoritário, ou do quanto “restou” de resíduos na nossa sociedade brasileira do regime implantado a partir do golpe.
O livro organizado por Francisco Carlos Palomanes Martinho e António Costa Pinto, O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina, está dedicado justamente a essa temática. Composto de dez capítulos que discutem temas fundamentais do legado autoritário em vários países na Europa e da América do Sul, o livro trata do ressurgimento e interpretação do passado autoritário durante as transições democráticas na Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Brasil. Os casos são debatidos em um duplo sentido: as formas através das quais as elites políticas se apropriaram do acontecido e com ele lidaram, e a presença do passado no seio da sociedade.
O eixo que organiza a obra é a atitude perante o passado autoritário, notadamente as questões relacionadas à justiça de transição. Os capítulos estão embasados em forte teorização a respeito da transição democrática e de suas condicionalidades. O livro procura debater a hipótese de que a qualidade das democracias contemporâneas está fortemente influenciada pelo modo como as sociedades em transição lidaram com o seu passado autoritário. Punição das elites autoritárias, dissolução das instituições correspondentes, responsabilização dos indivíduos e do Estado pela violação dos direitos humanos são aspectos possíveis no cenário da justiça de transição ou do estabelecimento de uma “política do passado”.
Segundo a introdução de Costa Pinto, o volume está estruturado sobre três eixos, a saber: legados autoritários, justiça de transição e políticas do passado (p.19). No texto, um dos dois organizadores do volume procura esclarecer e estabelecer limites entre as definições de conceitos associados uns aos outros.
Por legado autoritário entendem-se “todos os padrões comportamentais, regras, relações, situações sociais e políticas, normas, procedimentos e instituições, quer introduzidos quer claramente reforçados pelo regime autoritário imediatamente anterior, que sobrevivem a mudança de regime…” (p.20). Os capítulos referem-se particularmente a dois legados: a permanência das elites políticas que apoiaram os regimes autoritários e a conservação de instituições repressivas.
Por justiça de transição entende-se toda “uma série de medidas tomadas durante o processo de democratização, as quais vão além da mera criminalização da elite autoritária e dos seus colaboradores e agentes repressivos e implicam igualmente uma grande diversidade de esforços extrajudiciais para erradicar o legado do anterior poder repressivo, tais como investigações históricas oficiais sobre a repressão dos regimes autoritários, saneamentos, reparações, dissolução de instituições, comissões da verdade e outras medidas que se tomam durante um processo de transição democrática” (apud Cesarini, p.22), ou “a justiça de transição é componente de um processo de mudança de regime, cujas diferentes facetas são uma parte integrante desse processo incerto e excepcional que tem lugar entre a dissolução do autoritarismo e a institucionalização da democracia” (p.23). Significa dizer que as decisões tomadas no âmbito da justiça de transição não são necessariamente punitivas. Podem ensejar a reconciliação ou combinar ambas as coisas. Ressaltam, pois, a forma como ocorrem as transições e a qualidade da democracia que está sendo proposta e instaurada.
Finalmente, por política do passado entende-se “um processo em desenvolvimento, no âmbito do qual as elites e a sociedade reveem, negociam e por vezes se desentendem em relação ao significado do passado autoritário e das injustiças passadas, em termos daquilo que esperam alcançar na qualidade presente e futura das suas democracias” (p.24). A política do passado envolve a forma como o passado é trazido à tona nos novos regimes democráticos, e a qualidade da democracia vai depender dessas atitudes, condenatórias ou sutilmente críticas. Ao longo dos capítulos do livro percebe-se que com respeito à política do passado, a ruptura foi menos frequente do que a convivência com os resíduos do autoritarismo, e que o tempo transcorrido entre a redemocratização e o estabelecimento de uma política do passado também deve ser considerado para comparar os diversos casos. A existência de múltiplos passados confrontados em sociedades recém-democratizadas conduz a uma diversidade de formas de lidar com o passado autoritário que vão desde a conciliação (transição pactuada ou negociada), com o estabelecimento de medidas de reconciliação em relação aos crimes cometidos pelo Estado, até a instauração de uma justiça de saneamento (transição por ruptura) com medidas punitivas.
Ao longo dos capítulos instauraram-se, portanto, as seguintes questões: nos casos estudados tratou-se de “esquecer ou reavivar o passado?”, “ocultar ou trazer à tona a memória do autoritarismo e/ou da resistência?”, “enfrentar ou não o passado autoritário?” e, finalmente, “é possível optar entre confrontar o passado ou esquecê-lo?”. Costa Pinto observa que mesmo diante da consolidação da democracia “as velhas clivagens da transição não desaparecem como por milagre: podem reemergir em conjunturas específicas” (p.29), e é isso que nos leva a compreender a frase que serviu de epígrafe à resenha: “O passado ressurgirá mesmo quando existe um acordo inicial de esquecê-lo” (p.300), aplicada aqui à realidade espanhola.
A instauração de uma política do passado depende de circunstâncias relacionadas com a força dos partidos políticos; os agentes que conduzem a transição; os traços singulares de cada ditadura (relativos à memória coletiva e ao terror instaurado no seio da sociedade); ao tempo de duração de cada ditadura; à qualidade da democracia anterior (cultura política); à autocrítica dos atores (políticos e intelectuais); o rompimento súbito ou prolongado com o regime autoritário; a capacidade dos atores políticos, intelectuais e midiáticos em incluir ou retirar os temas “política de memória, justiça de transição e avaliação do legado autoritário” da agenda a ser debatida pela sociedade como um todo, entre outros fatores mencionados ao longo dos capítulos.
No capítulo introdutório, Costa Pinto compara os casos de Itália, Espanha, Portugal e Grécia, sendo os três primeiros exemplos de ditaduras duradouras, com lideranças personalizadas e alto grau de inovação institucional, enquanto a Grécia assemelhou-se a um regime de exceção. As definições conceituais e a tentativa de comparação entre as quatro transições que aparecem no capítulo compensam a ausência de profundidade de cada um dos casos.
Marco Tarchi se debruça sobre “O passado fascista e a democracia na Itália”. Trata da queda do regime autoritário, do regresso da classe dirigente anterior ao fascismo, das diferenças entre o Sul e o Norte do país, dos matizes ideológicos de cada partido antifascista (dos mais moderados aos mais radicais) e, por consequência, das diferentes visões sobre a justiça de transição ou dos métodos para “desfascistizar o país” (p.51). Ainda se refere aos detalhes que envolveram o “ajuste de contas” – os ataques aos símbolos do regime, a dissolução das instituições do regime – e à política de saneamentos que vigorou na administração pública. No caso italiano, também se observa a pressão exercida pelos Aliados no sentido de garantir o julgamento dos que haviam colaborado com os alemães. A condenação pública do regime de Mussolini e atos de extrema violência verificados no processo transicional podem ser explicados também com base nessas pressões.
O capítulo sobre a justiça de transição em Portugal, escrito por Filipa Raimundo, trata da criminalização dos antigos membros da polícia política do Estado Novo. Aborda especialmente o papel dos partidos políticos no processo procurando elucidar como se constituiu o sistema partidário, quando a questão da justiça de transição entrou na agenda dos políticos e como os partidos se posicionaram a respeito das medidas punitivas. Através de quadros sintéticos, a autora verifica avanços e retrocessos nas medidas punitivas e, simultaneamente, aborda os reflexos na legislação que regulou o processo. Apresenta uma análise da imprensa diária e semanal, dos programas eleitorais e da imprensa partidária para avaliar a importância do tema.
Francisco Carlos Palomanes Martinho aborda “As elites políticas do Estado Novo e o 25 de abril”, através da memória construída em torno do último presidente do Conselho dos Ministros do Estado Novo, Marcello Caetano, em dois períodos: 1980, o ano de sua morte, e 2006, no ano do centenário de nascimento. Os dois períodos são contextualizados e ajudam a explicar a “batalha de memórias” (apud Pollak, p.128). O texto está apoiado em ampla bibliografia a respeito do político e verifica a ambivalência de sua trajetória, bem como questiona sobre o possível “encapsulamento” da memória no final do seu governo, o que reduziria, segundo Martinho, injustamente o papel dessa personagem. O capítulo não reabilita Caetano ou o Estado Novo, mas contribui para entender os objetivos do regime e as “artimanhas da memória” (p.155).
O caso da Espanha é abordado pelo capítulo de Carsten Humlebaek como um caso de transição negociada, em que a forte polarização da sociedade no período da ditadura resultou na necessidade de reconciliação na época da queda do franquismo. Segundo o autor: “A combinação da necessidade de reconciliar a nação com o medo de conflito traduziu-se numa procura obsessiva de consenso como um princípio indispensável para a mudança política depois de Franco, mas também fez os principais atores absterem-se de qualquer tipo de mudança abrupta que pudesse ser interpretada como revolucionária” (p.161). Humlebaek contextualiza o reaparecimento do tema na virada do século XXI, sobretudo na esfera pública, e descreve as organizações que surgiram em torno do tema.
Dimitri Sotiropoulos trata do caso grego e compara-o às transições na Espanha e em Portugal. O capítulo aborda o regime dos coronéis, a sua derrocada e a aplicação muito severa da justiça de transição que promoveu saneamento das instituições, inclusive das Forças Armadas. Revela igualmente, mediante pesquisa de opinião pública, que a sociedade grega não tem uma memória precisa de rejeição ao regime ditatorial. Segundo sua visão, o modelo grego de justiça de transição teve caráter “rápido e comedido” (p.212), o que ajuda a explicar o apagamento ou atenuação da memória a respeito do regime.
O capítulo dedicado ao Brasil, escrito por Daniel Aarão Reis Filho, debate a lei da anistia, aprovada no país em 1979, no que se refere aos “silêncios” que a legislação ajudou a produzir (p.217), quais sejam, dos torturados e torturadores, das propostas revolucionárias de esquerda e do apoio da sociedade à ditadura. Em seguida, o autor considera a possibilidade de revisão da Lei da Anistia e observa que a chegada de antigos militantes de esquerda ao poder impulsionou “questionamento aos silêncios pactados em 1979” (p.224). Finalmente, Reis Filho se pergunta se é positivo ou não para a sociedade brasileira discutir esses silêncios. Segundo sua visão, debater o passado é a “melhor forma de pensar o presente e preparar o futuro” (p.225).
Alexandra Barahona de Brito também aborda o caso brasileiro, considerando-o como uma das transições mais longas da América Latina, onde supostamente “a duração e o ritmo da transição se deram mais pela ação dos militares do que pela pressão da sociedade civil” (p.236). Ao descrever a forma como os militares tutelaram o processo e menosprezar a resistência e a pressão da sociedade no final dos anos 1970, Brito contribui para mais um silêncio, dos tantos referidos por Reis Filho. O capítulo, ao contrário dos demais, expressou opiniões sem a devida comprovação, bem como procedeu à caracterização de processos com utilização de adjetivos não muito esclarecedores, como aquele que qualifica a política de Lula e Fernando Henrique Cardoso em relação ao passado de “esquizofrênica” (p.244 e 246). Ainda assim, o capítulo mostra os avanços na direção do estabelecimento de uma política de memória. Finalmente, as explicações sobre os motivos que tornaram tão lento, no Brasil, o ritmo da “justiça de transição”, enunciadas na página 253, parecem mais uma vez fruto de opinião e não de um estudo de fontes históricas e da cultura política do país.
O capítulo 9, de Leonardo Morlino, propõe uma análise comparada dos “Legados autoritários, das políticas do passado e da qualidade da democracia na Europa do Sul”. Retoma conceitos e teorias formulados e apresentados ao longo de todo o volume e sugere uma relação entre “inovação dos regimes, duração e tipo de transição” (p.271). Seu texto apresenta dados de pesquisas de opinião pública nos países da Europa do Sul a respeito das atitudes da sociedade em relação ao passado autoritário e reflete sobre a qualidade da democracia em cada país.
Finalmente, no último capítulo Alexandra Baharona de Brito e Mario Sznajder refletem sobre a “Política do passado na América Latina e Europa do Sul em perspectiva comparada”. Completam assim um volume que pretendeu a cada passo comparar os casos e tirar experiências comuns e singulares para explicar as transições democráticas no final do século XX. Grécia, Portugal e Espanha, além de Argentina, Uruguai e Chile, são examinados no capítulo. A abordagem central é a respeito da transição e da instauração de mecanismos de acionamento do passado. Reflete igualmente sobre os legados da ditadura em cada país e como esse legado interfere na implementação da justiça de transição.
Diante de um “passado que não passa” e de resíduos autoritários que permanecem latentes em todas as sociedades estudadas, a leitura do livro nos faz pensar muito sobre as políticas de passado instauradas pelos Estados democráticos e sobre o papel do historiador de ofício nesse processo. Visto que as políticas de memória instauradas pelos Estados vão se modificando com o tempo porque respondem às preocupações do presente e são emolduradas pelo contexto histórico-social concreto, o livro nos induz a refletir sobre o ofício e a responsabilidade do historiador diante dessas políticas de memória instauradas pelos Estados e acerca dos processos traumáticos vividos pelas sociedades. As dimensões problemáticas do passado são a matéria-prima do historiador. Por isso, consolidada a democracia, cada nova geração de historiadores vai debruçar-se sobre o tema do autoritarismo e da ditadura e procurar incrementar o acervo de informações sobre o período. Com base nesse acervo de informações, caberá aos historiadores refletir a respeito das políticas de memória e estabelecer com a maior precisão possível a diferença entre o passado que emana dos interesses rememorativos dos Estados e os prováveis esquecimentos, omissões e artimanhas da memória que possam se contrapor às informações levantadas pelo historiador a partir das fontes e da pesquisa científica.
Claudia Wasserman – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadora do CNPq. E-mail: [email protected].
[IF]
A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet – MUÑOZ (CTP)
MUÑOZ, Heraldo. A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. Resenha de: MOURA, Lyyse Moraes. A sombra do ditador: memórias políticas do chile sob Pinochet. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 14, p. 85-88, out./dez. 2013.
Augusto Pinochet é um dos políticos sul-americanos mais conhecidos no mundo. Durante 17 anos, o general chileno governou uma ditadura sangrenta, responsável por cerca de 40 mil vítimas de prisão, tortura, assassinato ou desaparecimento. Esse personagem, contudo, também é reconhecido como aquele que impôs o neoliberalismo ao Chile, elevandoo a uma das nações mais desenvolvidas da América Latina.
Embora ele seja considerado por muitos um símbolo de tirania e crueldade, devido aos resultados econômicos que obteve, alguns o veem como o líder que, apesar do governo tirânico, recuperou a economia chilena e lançou as bases do crescimento e da modernização.
Diante disso, cabe a seguinte pergunta: Pinochet foi realmente necessário ao desenvolvimento do Chile? O livro A sombra do ditador, de Heraldo Muñoz, se propôs a responder esse questionamento e investigar o impacto de Pinochet na história contemporânea, analisando os vários significados que a figura desse ditador evoca. Muñoz vivenciou o processo que levou Pinochet ao poder e participou da resistência à ditadura, sendo um dos fundadores do movimento que reestabeleceu a democracia no Chile em 1990. Por essa razão, a obra entrelaça as memórias políticas do autor a um amplo material de pesquisa, como documentos secretos americanos e chilenos, e entrevistas com as principais figuras envolvidas na história do Chile nas últimas décadas.
O livro inicia narrando os acontecimentos de 11 de setembro de 1973, dia do golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende, e vai até a eleição de Michelle Bachalet em 2006. Muñoz aborda episódios marcantes da época, como o atentado à vida de Pinochet, a criação da Dina (Directión de Inteligencia Nacional), a Operação Condor, e os assassinatos do general Carlos Prats em Buenos Aires e de Orlando Letelier em Washington.
O autor relata como Pinochet aderiu ao golpe “no último minuto” e rapidamente ascendeu ao poder supremo, criando uma ditadura pessoal e transformando a polícia secreta em um aparato repressor e violento que perseguia os oponentes políticos do ditador. Ele também descreve os processos que resultaram na implementação de um novo modelo econômico no Chile, desenvolvido pelos chamados “Chicago Boys” – economistas neoliberais chilenos que tinham estudado com o economista norte-americano Milton Friedman, na Universidade de Chicago. Segundo Muñoz, sem esse modelo econômico inovador, Pinochet seria “um capítulo menor na história dos ditadores militares latinoamericanos”.
II Além de narrar acontecimentos que marcaram a época, Muñoz analisa o papel dos Estados Unidos no golpe e na manutenção da ditadura Pinochet. De acordo o autor, Richard Nixon e Henry Kinssinger tornaram-se figuras extremamente vinculadas a Pinochet e ao Chile. Ambos dedicaram tempo e recursos à erradicação do que percebiam como “ameaças comunistas” nas Américas e apoiaram o ditador chileno em sua gestão. As relações entre Estados Unidos e Chile abalaram-se quando a polícia secreta chilena assassinou o antigo ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, nas ruas de Washington. Além desse fato, com o enfraquecimento da União Soviética, o ditador chileno tornou-se cada vez menos necessário aos interesses do governo norte-americano.
Ainda nesse contexto, o autor destaca que o regime Pinochet reflete a história das relações entre os Estados Unidos e a América Latina, e com o que outrora foi denominado Terceiro Mundo. Ferdinando Marcos nas Filipinas, Manuel Noriega no Panamá, Anastácio Somoza na Nicarágua, foram todos – assim como Pinochet – em algum momento apoiados pelos Estados Unidos, mas depois abandonados ou combatidos pelo governo norteamericano.
III Após analisar o desenvolvimento alcançando pelo Chile, através do plano econômico dos “Chicago Boys”, Eraldo Muñoz descrever as execuções, torturas e desaparecimentos que se tornaram a marca registrada do regime Pinochet: Havia, por exemplo “o submarino”, em que o prisioneiro era afundado num tanque de água cheio de excrementos e amônia até começar a afogar-se; a parrilha (grelha elétrica), na qual uma vítima nua e ensopada era amarrada à estrutura metálica de um colchão de molas enquanto lhe davam choques na boca, nos ouvidos e nos órgãos sexuais (…) Dedos e unhas foram extraídos com alicates; ratos foram introduzidos nas vaginas de mulheres. Muitas mulheres foram brutalmente estupradas; mulheres grávidas eram torturadas e mortas; outros prisioneiros eram obrigados a jogar roleta russa, sofrer privação de sono e de comida, passar por execuções simuladas e muito mais.IV Centenas morreram, em particular durante as primeiras semanas e meses após o golpe. Campos de concentração foram abertos em todo o Chile: Chacabuco, Pisagua, Quiriquinas, ilha Dawson, Ritoque, Tejas Verdes, Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingos Cañas, Academia de Guerra Aérea e Escuela de Caballería de Quillota são somente alguns dos lugares onde os chilenos foram presos, torturados e assassinados.V Além dos atos violentos cometidos durante a ditadura, os partidos políticos foram totalmente banidos, e todos os demais partidos foram postos “em recesso”. O congresso nacional foi fechado, as eleições suspensas indefinidamente e os registros eleitorais destruídos. No início de 1974, cerca de 50% dos jornalistas chilenos estavam desempregados.
Dos 11 jornais que existiam no período do golpe, apenas 4 permaneceram. As estações de rádio esquerdistas foram bombardeadas ou fechadas pelos militares.VI Nos anos 1980, os movimentos de resistência contra a ditadura começaram a sair da clandestinidade e a desenvolver atividades abertas. Participante da luta pela democracia, Muñoz aponta que houve divergências sobre a melhor estratégia para derrubar o regime Pinochet. O Partido Comunista optou pela luta armada – alguns integrantes do partido até tentaram matar o ditador –, enquanto os demais grupos adotaram como estratégia a participação no plebiscito de 1988, em que Pinochet foi candidato único numa votação decisiva entre “sim” – confirmando a permanência do general por mais 8 anos no poder – e “não” – defendendo o fim de sua gestão. A surpreendente vitória do “não” anunciou o encerramento do domínio do ditador.
Em 1990, a democracia foi reestabelecida no Chile. Pinochet, entretanto, permaneceu na direção do exército e, em seguida, tornou-se senador vitalício no Congresso Nacional. Em outubro de 1998, o ditador foi preso em Londres, em decorrência de um mandado expedido por um juiz espanhol. Por motivos de saúde, as autoridades britânicas permitiram que ele retornasse ao Chile em 2000. Nesse mesmo ano, o general foi acusado pela lei chilena e posto em prisão domiciliar.
Pinochet faleceu em dezembro de 2006. Embora fosse processado sob diversas acusações e estivesse sob prisão domiciliar quando morreu, jamais foi declarado culpado e sentenciado por seus crimes. Nas palavras de Muñoz, o ditador “tirou pela vantagem dos direitos a ele garantidos pelo processo legal – direitos que foram negados às suas vítimas – e adiou indefinidamente o dia do ajuste de contas”.VII Muñoz encerra sua obra respondendo ao questionamento inicial: Pinochet foi realmente necessário? Para o autor, não. A repressão e a violência sistemática contra oponentes políticos não era inevitável. Em um contexto democrático, as reformas econômicas de Pinochet certamente sofreriam a oposição de sindicatos trabalhistas, partidos políticos e membros do congresso. Entretanto, sua implementação – mesmo sob regime autoritário – não exigia o assassinato de milhares de dissidentes, tortura e desaparecimento de prisioneiros políticos. O regime de Pinochet não foi um mal necessário.
O autor nega a premissa de que o desempenho econômico do general compensa seus “excessos”. Ele defende, ainda, que o Chile não precisaria passar por uma ditadura para ter alcançado o seu atual nível de prosperidade e, nesse sentido, cita o exemplo de países latinoamericanos que passaram por crises econômicas nos anos 1980 e decidiram estabelecer reformas econômicas radicais, num contexto razoavelmente democrático.
A sombra do ditador expõe as diversas faces da ditadura Pinochet, e permite ao público conhecer as entranhas do regime militar chileno. Ao articular a trajetória política do autor à documentação sobre a época, a obra contribui para o conhecimento do processo de transição da ditadura à democracia no Chile. O livro é recomendado a todo aquele que se interesse em conhecer a complexidade desse período.
Notas
2 MUÑOZ, Heraldo. A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 09.
3 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 359.
4 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 65.
5 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 65.
6 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 71.
7 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 348.
Referências
MUÑOZ, Heraldo. A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
Luyse Moraes Moura – Bolsista PIBIC/CNPq. Graduanda em História/UFS. Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente. E-mail: [email protected]. Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard (DHI/UFS).
En el combate por la historia: la República, la guerra civil, el franquismo – VIÑAS (RBH)
VIÑAS, Ángel (Ed.). En el combate por la historia: la República, la guerra civil, el franquismo. Barcelona: Pasado & Presente, 2012. 978p. Resenha de: MANSAN, Jaime Valim. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Em meados de 2011 vieram a lume na Espanha os primeiros 25 volumes do Diccionario Biográfico Español, cujo projeto prevê cinquenta volumes, cada um com 850 páginas. Até agora foram concluídos 36 volumes. Segundo o sítio da Real Academia de la Historia (RAH), organizadora da obra, deverão ser abordados mais de 40 mil “personajes destacados en todos los ámbitos del desarollo humano y en todas las épocas de la historia hispana”. Para viabilizar a publicação, o erário público espanhol já pagou 6,4 milhões de euros (El país, 27 maio 2011). Como comparação, estimou-se em 3 milhões de euros a construção de um bairro popular, com cem casas, destinado aos moradores despejados no início de outubro de 2012 de El Gallinero, a parte mais pobre de um dos maiores poblados chabolistas da Espanha, na periferia de Madrid (20 minutos, 9 out. 2012).
O Diccionario teve, portanto, um custo muito elevado, sobretudo considerando a conjuntura econômica pela qual o país tem passado nos últimos anos. No mínimo, teria um conteúdo de altíssimo nível. Contudo, a obra tem sido alvo de severas críticas, oriundas de diversos segmentos sociais. Na imprensa, pouco depois do lançamento, um dos principais questionamentos referia-se à ausência de referências à repressão franquista (Público, 28 maio 2011). Isso e a qualificação da guerra civil como cruzada ou guerra de liberación, dentre outros aspectos, constituem fortes indícios da pertinência das críticas ao dicionário (Público, 2 jun. 2011).
Ainda em meados de 2011, o Senado solicitou à RAH que paralisasse a distribuição, enquanto o Congresso decidia o congelamento das verbas destinadas à academia até que o dicionário sofresse correções, situação posteriormente revertida pelo governo (El País, 12 jul. 2011). Desde então, muito se discutiu a respeito da polêmica obra, que conta com irrestrito apoio do presidente espanhol Mariano Rajoy e de seu partido, o conservador Partido Popular.
No meio acadêmico, a reação mais notável foi a publicação de En el combate por la historia, no início de 2012. Organizado por Ángel Viñas, renomado historiador espanhol especialista nos estudos sobre a guerra civil e o franquismo, o livro foi elaborado com a assumida intenção de ser um contradiccionario. De fato o é, mas adota outra forma narrativa e restringe sua análise ao período 1931-1975, enquanto o Diccionario ambiciosamente busca abranger do século III a.C. aos dias atuais. Na visão dos autores de En el combate, a maioria dos biografados mais desfigurados pela obra da RAH vinculava-se ao período compreendido entre o surgimento da Segunda República e a morte de Franco, daí a escolha do recorte temporal.
Obra coletiva, En el combate por la historia contou com a participação de vários especialistas no estudo daqueles períodos da história da Espanha. Como escreve Viñas na apresentação, mobilizando conhecido ditado espanhol, “si bien no están todos los que son, sí son todos los que están”. Nomes internacionalmente conhecidos, como Josep Fontana, Julio Aróstegui, Paul Preston, Julián Casanova e o próprio Viñas, entre outros, assim como jovens investigadores cujos trabalhos já alcançaram reconhecimento entre pesquisadores europeus da área. É o caso, por exemplo, de Gutmaro Gómez Bravo e Jorge Marco. Alguns de seus livros, como El exílio interior, de Gómez Bravo, e Hijos de una guerra, de Marco, são hoje referências obrigatórias sobre o franquismo. 1
Com um título que faz clara referência ao clássico de Lucien Febvre, En el combate por la historia inicia com apresentação de Viñas explicando o sentido da obra e as condições de sua produção. Na sequência, há um texto de José-Carlos Mainer, historiador especialista na “edad de plata de la literatura española”. Voltado para a longa duração, oferece uma reflexão sobre rupturas e continuidades nas relações entre cultura e política na Espanha do século XX.
O livro foi organizado em quatro partes. Três delas são indicadas no subtítulo: República, guerra civil e franquismo.
O primeiro texto sobre a República é chave para sua compreensão. Nele, Preston aborda as transformações nas relações de força estabelecidas naquele período. Os capítulos seguintes aprofundam a análise de alguns dos principais grupos envolvidos naquelas conflituosas relações: Frente Popular, direitas, socialistas e anarquistas. Robledo trata da reforma agrária, “una de las señas de identidad del nuevo régimen”.
A segunda parte da obra, voltada para a guerra civil, é a maior em número de capítulos (vinte). São abordados temas como a sublevação militar de 1936, a atuação das Brigadas Internacionais e da Igreja Católica e os exílios de republicanos, entre outros. Destacam-se as sínteses das atuações do Exército Franquista e do Exército Popular apresentadas, respectivamente, por Losada e Rojo. Aróstegui e Casanova retomam a análise do socialismo e do anarquismo, temas tratados por eles na primeira parte do livro, enquanto Hernández Sánchez faz reflexão semelhante sobre os comunistas.
O terceiro conjunto de textos destina-se à análise do franquismo. Sánchez Recio faz uma discussão fundamental sobre o processo de institucionalização do regime. Vários outros temas são abordados: nacional-catolicismo, Falange, política repressiva, política exterior, o apoio da División Azul à luta nazista contra os soviéticos, a resistência armada ao franquismo, as transformações econômicas, o desarrollismo. A reflexão sobre o tardofranquismo, feita por Isàs, lança valiosas luzes sobre a história da transição.
A quarta parte, “Los grandes actores”, é o ponto em que a proposta de ser um contradiccionario se torna mais evidente. “Un contrapunto al Diccionario Biográfico Español”, nas palavras de Viñas. Mais uma vez, o organizador refere-se ao ditado espanhol anteriormente citado, desta vez para aclarar o critério de seleção dos treze grandes actores: José Antonio Aguirre Lekube, lendário dirigente basco; Manuel Azaña, líder republicano, presidente da República de 1936 a 1939; Ramón Serrano Suñer, falangista, cunhado de Franco, figura de destaque da direita desde a República até o primeiro franquismo e principal interlocutor com Hitler e Mussolini até 1942; Lluís Companys i Jover, importante dirigente catalão; Dolores Ibárruri (Pasionaria) e Santiago Carrillo, dois dos maiores nomes do comunismo espanhol; Francisco Largo Caballero, dirigente socialista vinculado à central sindical UGT (Unión General de Trabajadores) e ao Partido Obrero (depois PSOE, Partido Socialista Obrero Español) desde fins do século XIX; Emilio Moral, militar conspirador que, segundo Losada, foi el gran urdidor, artífice y organizador do fracassado golpe de 1936; Juan Negrín, importante liderança socialista, chefe de governo da República durante a maior parte da guerra civil e figura extremamente controvertida, expulso do PSOE em 1946 sob a injusta acusação de ter sido el instrumento de Stalin en España; Indalecio Prieto, outro nome de peso do socialismo espanhol; Vicente Rojo Lluch, militar republicano que liderou a defesa de Madri durante a guerra civil; José Antonio Primo de Rivera, um dos fundadores da Falange Española, filho do general que havia sido ditador entre 1923 e 1930; e, é claro, Francisco Franco, cuja trajetória é por Preston sintetizada com maestria.
O capítulo sobre Rojo, escrito por um neto do general, o sociólogo e jornalista José Andrés Rojo, é uma exceção dentre os textos que compõem o livro, não pela formação do autor, mas por seu vínculo familiar. A escolha de José Rojo provavelmente deveu-se não ao parentesco, mas ao fato de ter publicado diversos estudos sobre o tema desde 1974, particularmente Vicente Rojo: retrato de um general republicano (Barcelona: Tusquets, 2006). É plausível o questionamento sobre até que ponto escrever sobre o próprio avô não levaria a um abrandamento da crítica e a uma ênfase no elogio. A leitura dos apontamentos biográficos sobre o general Rojo mostra que seu neto conseguiu evitar tais armadilhas.
Fecha o livro um epílogo composto por um texto de Reig Tapia e outro dele com Viñas, ambos voltados para as permanências, para os ‘resíduos’ e ‘derivações’ do franquismo.
Como observa Viñas, o livro privilegia os “aspectos políticos, institucionales, culturales y militares”. Tratava-se de constituir um contradiccionario e, para os autores, naqueles aspectos “las controversias públicas son más intensas y muchas de las entradas del diccionario de la RAH más sesgadas o erróneas”.
Entre historiadores, definir uma obra como ‘revisionista’ é uma forma de desqualificá-la. Se há abusos no uso do termo, isso não significa que deva ser abandonado. Poder-se-ia argumentar que, por ser a revisão inerente ao ofício do historiador, toda história seria revisionista. O erro aqui estaria em definir o revisionismo pela revisão, pura e simples. Revisionismo é um tipo de revisão, aquela que se faz sem bases documentais consistentes, sem levar em conta princípios historiográficos básicos, escolhendo estudos e fontes convenientes à sustentação de um argumento e desconsiderando os demais. O revisionismo é uma falsificação da história. Faurisson é um de seus representantes mais conhecidos, e o dicionário da RAH, ao que tudo indica, é o mais recente exemplar dessa literatura.
En el combate por la historia surge como demonstração de que é possível enfrentar os revisionismos de maneira consistente, com argumentos sólidos e ampla documentação. Seus autores são exemplos do que Bedáridá definiu como ‘historiador expert‘, um tipo de profissional tão raro quanto necessário nos dias atuais.
Notas
1 Lista completa dos autores: ARÓSTEGUI, Julio; BARCIELA, Carlos; CASANOVA, Julián; COLLADO SEIDEL, Carlos; EIROA, Matilde; ELORZA, Antonio; ESPINOSA, Francisco; FONTANA LÁZARO, Josep; GALLEGO, Ferran; GÓMES BRAVO, Gutmato; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando; LEDESMA, José Luis; LOSADA MALVARÉZ, Juan Carlos; MAINER, José-Carlos; MARCO, Jorge; MARTÍN, José Luis; MEES, Ludger; MIRALLES, Ricardo; MORADIELLOS, Enrique; MORENO JULIÀ, Xavier; PEREIRA, Juan Carlos; PRESTON, Paul; PUELL DE LA VILLA, Fernando; PUIGSECH FARRÀS, Josep; RAGUER I SUÑER, Hilari; REIG TAPIA, Alberto; ROBLEDO, Ricardo; ROJO, José Andrés; SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep; SÁNCHEZ RECIO, Glicerio; THOMÀS, Joan Maria; VIÑAS, Ángel, e YSÀS, Pere.
Jaime Valim Mansan – Doutorando, bolsista Capes. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Av. Ipiranga, 6681, Partenon. 90619-900 Porto Alegre – RS – Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil / Janaína M. Cordeiro
No processo de permanente reconstrução da memória social sobre a ditadura civil-militar brasileira, prevaleceu, ao longo das últimas décadas, o mito de uma sociedade sempre resistente aos militares. Como considera Daniel Aarão Reis (2004), de sua parte, a academia tendeu também a privilegiar como objeto de estudos os grupos que resistiram à ditadura, “relegando ao silêncio as manifestações de apoio e consentimento de expressivas parcelas da sociedade”. Apenas recentemente a historiografia tem abordado, com o devido cuidado, os movimentos, instituições e manifestações que, respaldaram o regime, desconstruindo, na opinião de Denise Rollemberg (2010), “uma memória de resistência, não raramente mitificada”. Revisitar, assim, os processos que teriam nos levado a um “consenso democrático”, produtor de conciliação e esquecimento, é uma tarefa que se apresentaria como o principal desafio para um conjunto de historiadores e cientistas sociais empenhados em “tentar compreender o regime instaurado em 1964 como um processo de construção social”, do qual participam ativamente diversos atores sociais.
O livro Direitas em Movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil, defendido originalmente por Janaina Martins Cordeiro como dissertação de mestrado e agraciado com o Prêmio Pronex/ UFF em 2009, compõe de forma exemplar esse amplo leque de estudos, voltados para uma releitura das relações entre o regime militar e a sociedade civil. Em sua análise, a autora aponta claramente para a função legitimadora que alguns setores da sociedade brasileira tiveram não apenas no momento do golpe, mas durante as mais de duas décadas que marcaram a implementação de um projeto de “modernização conservadora” que permitiu que os militares se mantivessem no poder. Embasado nas reflexões do alemão Andreas Huyssen e dos franceses Pierre Laborie e Henry Rousso, o estudo nos permite, de muitas formas, ampliar a compreensão acerca do complexo “universo simbólico, cultural e também material dos grupos que apoiaram o golpe” e a ditadura civil-militar. Leia Mais
Censura e propaganda: os pilares básicos da repressão | Carlos Fico
O presente texto divide-se em seis tópicos, dos quais se faz presente a narrativa do processo da ditadura militar no Brasil: a) introdução; b) Espionagem; c) Polícia Politica; d) Censura; e) Propaganda; f) Conclusão; Logo na Introdução o autor aborda a questão teórica da historia do regime militar, enfatizando que há varias maneiras de se contar a história, partindo por diversas perspectivas. Mostrando o interesse pelo período da ditadura militar no Brasil que não é recente, destacando dois aspectos interessantes: “a facilidade com que a desarticulada conspiração se tornou vitoriosa, no dia 1º de abril de 1964 e o pasmante crescimento da repressão – que prendeu arbitrariamente e torturou desde o primeiro momento, e não somente depois de 1968…” (p.169). Depois temos o relato a partir de fontes de jornais como O Correio da manha e outros, que demonstram variam denuncias sobre as torturas. Essas perspectivas históricas de abordagem são ressaltadas na introdução onde vemos que “existem miudezas que são fundamentais para o entendimento da história , tanto algumas explicações estruturais tendem a claudicar quando confrontadas com os fatos discretos”. (p. 173), onde vemos a importância das fontes em questão.
No tópico seguinte, temos A Espionagem, que relata a experiência de Golbery do Couto Silva, que foi responsável pelo recolhimento de informações anterior ao Golpe militar. Contudo é Costa e Silva que em 1965 com o Ato Institucional nº2, “aumenta o prazo para as cassações e suspensões de direitos políticos” (p.175). Havia vários órgãos responsáveis pela espionagem: O Sisni: Sistema Nacional de Informação; Aesi: Assessoria Especial de Seguranças e Informações; CGI: Comissão Geral de Investigação; Sissegin: Sistema de Segurança Interna, dentre outros. Uma questão relevante abordada é que muitos foram prejudicados, por causa das interpretações que esses órgãos poderiam fazer, pelo fato por exemplo de uma simples pichação em um determinado muro poderia “conter ameaças à segurança nacional” (p.180).
Durante a ditadura, além dos casos óbvios de perseguição, prisão, tortura e morte de militares e quadros organizados, praticados pela polícia política, milhares de pessoas foram espionadas, julgadas e prejudicadas pela comunidade de informações. (FICO, 2007, p.181)
Assim, a espionagem que garantiria a manutenção da ordem no país e o domínio do governo militar, também não estava isento de erros e falhas. Pois cada órgão possuía uma determinada autonomia, contudo estavam interligados.
No tópico Policia Politica o autor destaca “o endurecimento da repressão a partir do Ato Institucional nº5, de dezembro de 1968” (p.181). Esse ato foi motivado pela insatisfação da linha dura, que viam as punições sendo barradas pela justiça, por meio de habeas corpus. O órgão citado acima, Sissegin foi implantado que propunha diretrizes uniformes para cada estado brasileiro. Assim eram criados os Condi: comandos de defesa interna; Codi: Centro de Operações de Defesa Interna; DOI: Destacamento de Operações de Informações; todos sobre o comando do Exercito respectivo, ou ZDI: zona de defesa interna. Mais tarde com a morte do jornalista Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, que morreram no DOI de São Paulo em 17 de janeiro de 1976, o órgão Sissegin foi se desestruturando.
No tópico Censura, o autor desperta o leitor ao se referir que antes da ditadura já havia censura, onde este afirma: “não se pode falar propriamente no “estabelecimento” da censura durante o regime militar porque ela nunca deixou de existir no Brasil”. (p.187). “A censura estava em todos os lugares” Além da imprensa e mídia, as atividades artísticas, culturais, e recreativas eram reguladas pela ditadura, como o cinema, o teatro, o circo, os bailes musicais, as representações de cantoras em casas noturnas, etc.” (p.189) foram estabelecidas diversas leis de segurança nacional, que abriram margem e fortificadas pelo Ato institucional nº5, para censurar a imprensa. Tudo o que fosse contra a defesa da moral e dos bons costumes, estipulados pela ditadura militar no Brasil, deveria ser censurado.
No tópico Propaganda, temos a exaltação do Brasil, como o país que ia pra frente no desenvolvimento graças à politica militar. Contudo, essa propaganda era negada pelos militares, mas era formada pelo jargão: “motivar a vontade coletiva para o esforço nacional de desenvolvimento” (p.196). “Na verdade, Otávio Costa negava, em entrevistas aos jornais da época, que estivesse fazendo divulgação do governo ou propaganda politica: estava, apenas, estimulando a “vontade coletiva para o fortalecimento do caráter nacional”. (p.196). A televisão passava por uma grande fase de desenvolvimento no País, e Otavio Costa a utilizou com pequenos filmes que eram divididos em: “natureza educativa e caráter ético-moral” (p.197) enaltecendo assim o governo militar da época.
Na Conclusão o autor destaca que os sistemas que compunham o aparato da ditadura militar não foram inventados no regime militar no Brasil, mas que foram reinventados, de tal maneira que foram até copiados fora do Brasil. Esse aparato não foi harmônico nem integrado, onde “os setores estavam que praticavam a tortura e o assassinato politico estavam bastante cingidos aos DOIs e aos Dops” (p.199), mas claro que os órgãos reinventados não estavam também sobre completa autonomização. O autor ressalta que “a anistia de 1979 foi reciproca, isto é, os torturadores também foram anistiados.” (p.200) também interessante destacar que alguns órgãos permanecem hoje, como por exemplo o SNI, sistema Nacional de Informação, hoje é a ABIN que é a Agencia Brasileira de Inteligência, sendo “ainda mal estruturada, não havendo mecanismos sociais de controle efetivo, através do Congresso Nacional, de suas atividades, e, de tempos em tempos, temos noticias de atividades escusas de espionagem no país” (p.200).
Concluímos portanto que o presente texto se faz de fundamental importância para compreendermos o sistema politico brasileiro, dado pelo regime militar de 1964 a 1985, observando novas perspectivas abordadas pelo autor Carlos Fico, alargando assim a nossa zona de conhecimento do processo histórico em questão. Percebendo que os órgãos criados, mesmo assim eram falhos, onde como exemplo, podemos citar: O caso do Maranhão onde em 9 de abril de 1969 José Sarney assume o governo, e logo o capitão de infantaria Marcio Viana Pereira entrega ao seu comandante direto um dossiê de 17 paginas com 25 documentos anexados, com o título “Corrupção na área do estado”. Esse documento foi enviado para a base do Comando Geral de Investigação , onde foi apenas arquivado. Os órgãos de combate a corrupção haviam sido criados, contudo ainda existia corrupção politica. Mas não cabe o historiador julgar os fatos e sim analisá-los.
Ricardo de Moura Borges – Graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal do Piauí. Graduando em Licenciatura em Filosofia pelo Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, ICESPI.
FICO, Carlos. Censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (p. 167 – 201). Resenha de: BORGES, Ricardo de Moura. Contraponto. Teresina, v.2, n.2, jan./dez. 2013. Acessar publicação original [DR]
Brasil e Argentina: ditaduras, desaparecimentos e políticas de memória – BAUER (AN)
BAUER, Caroline Silveira. Brasil e Argentina: ditaduras, desaparecimentos e políticas de memória. Porto Alegre: Medianiz, 2012, 330p. Resenha de: PADRÓS, Enrique Serra. Anos 90, Porto Alegre, v. 19, n. 35, p. 479-484, jul. 2012.
O livro de Caroline Silveira Bauer, que serviu como mote para esta resenha, constitui inestimá vel contribuição sobre uma temática pendente na sociedade brasi leira, o embate entre Políticas de Memória e Políticas de Esqueci mento relacionado ao passado ditatorial, dentro de uma perspectiva histórica. A partir de um olhar simultâneo sobre as ditaduras civil-militares de segurança nacional do Brasil e da Argentina, o estudo resgata, mediante análise rigorosa, a profundidade, a complexidade e a precisão de dinâmicas e conjunturas particulares e balizadoras de um exercício comparativo que permite destacar e compreender os pontos de encontro e desencontro das experiências concretas.
Resultado de profunda pesquisa documental sobre os arquivos produzidos pelos regimes repressivos, do mergulho nas legislações pertinentes e de uma apurada avaliação dos mecanismos e do funcionamento da violência estatal, em cada um dos países, a obra centra o foco na questão dos desaparecimentos políticos e seu entorno específico. Entretanto, isso é feito sem perder de vista o funcionamento de um terrorismo de Estado que envolve a sociedade como um todo, através de tantos outros elementos coercitivos, explícitos ou não, e do delineamento dos círculos concêntricos e vasos capilares irradiadores de práticas cotidianas de anestesiamento e desmobilização. Assim, é muito elucidativa a menção feita a um personagem criado pelo psicanalista argentino Eduardo Pavlovsky, o Senhor Galindez, um funcionário da ditadura, quando este diz: “Para cada uno que tocamos, mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación”. É a explicitação do terror na sua forma mais abrangente, envolvente, massiva. Portanto, o medo, nas suas diversas formas de manifestação, surge como sensação fantasmagórica diluída, introjetada, asfixiante, pairando entre os indivíduos, contaminando suas relações e definindo estratégias de sobrevivência. Tal medo é um fator fundamental de dominação no contexto das ditaduras; sua percepção e lembrança, durante os processos de transição, constitui fator essencial na lógica de disputas entre memória e desmemória dos fatos acontecidos, bem como das responsabilidades decorrentes.
A obra está estruturada em três capítulos: 1) A prática do desaparecimento nas estratégias de implantação do terror; 2) A transição política e os desaparecimentos; e 3) Políticas de Memória e Esquecimento. Há um núcleo comum de métodos repressivos em ambos países, mas diferentes na aplicação. Essa diferença é motivada por conjunturas e urgências diferentes, que, por sua vez, são responsáveis por graus diferenciados de extensão e intensidade. Porém, na sua essência, manifestam-se não só nos países comparados, mas em todo o Cone Sul.
O texto não foge das questões cruciais. Reconhece a existência de diferenças significativas entre Brasil e Argentina, entre as quais uma presença mais constitucional e legal, no caso do Brasil, e mais clandestina e de extermínio, no caso argentino. Contudo, não refuga diante dos argumentos que resultam da comparação direta baseada nos números do extermínio físico que servem de base das justificativas de toda relativização da violência utilizada pela ditadura brasileira. Efetivamente, a essa argumentação Bauer contrapõe que é de maior relevância a compreensão do paralelismo na montagem das estratégias repressivas do que comparar número de opositores mortos e desaparecidos. A política de desaparecimentos constitui uma dessas estratégias que, em última instância, mantém toda a sociedade como potencial vítima do terrorismo de Estado (p. 33).
A problemática que envolve o desaparecimento, como expressão de um complexo e profundo processo repressivo, é crucial na pesquisa de Bauer. É assim que a autora mergulha nesse processo, perscrutando uma dinâmica de etapas sequenciadas ou encadeadas, e, principalmente, o rol dos mecanismos constitutivos – sequestro, tortura, incomunicação, censura, hostilização etc. –, os quais funcionam como componentes desse sistema, entrando nas arestas do seu encaixe e produzindo consequências diversas sobre a sociedade, sempre impactantes. Tudo isso faz parte do que é identificado como “Estratégia da implantação do terror”, que gera consequências difíceis de integrar em uma única dimensão explicativa, por isso a ideia de fragmentos “incoláveis” (p. 103-104).
Portanto, a prática de desaparecimento, algo inédito na região enquanto política de Estado, complementa-se com os silêncios, os diversionismos, as mentiras oficiais oferecidas aos familiares das vítimas; ou seja, não há pistas, nem respostas, nem informações. Se por um lado tal ação atinge diretamente aqueles que buscam alguém, por outro, acaba alimentando uma situação não desejada, qual seja a possibilidade de ser compreendida como crime contínuo e, a partir dessa compreensão, abrir uma brecha na estrutura de impunidade.
No ápice da eficiência dessa engrenagem, o desaparecimento significa, literalmente, “a morte da própria morte” (p. 30). É contra esse objetivo procurado veementemente pelas ditaduras de segurança nacional e aqueles que, tendo capacidade de decisão, omitiram-se em relação a esse passado imediato, que vão se manifestando, de forma difusa, os esforços reivindicativos que apontam embrionariamente à elaboração de políticas de memória; no início, isso pode ocorrer à margem da legalidade, mediante pequenas ações de resistência individuais ou de iniciativas desencadeadas por organizações de direitos humanos que surgem ou se consolidam nesse embate.
Particularmente, o trabalho de Bauer incide, de maneira especial – amparada nos marcos do debate sobre o tempo presente –, no que é considerado ponto de infl exão e de superação das tendências de consolidação do esquecimento e da impunidade nos países em questão, ou seja, a ruptura derivada da irrupção de projetos políticos que, de forma díspar, recolocaram o resgate do passado imediato e o debate da consigna “Memória, Verdade e Justiça”, no início dos anos 2000.
A erudição do texto está garantida pela qualidade da proposta da autora e do diálogo que ela estabelece com a produção historiográfica especializada nos variados aspectos que encaminham o seu percurso de pesquisa e análise. Assim, desfilam no roteiro das questões e refl exões que se sucedem no transcorrer da narrativa autores como Irene Cardozo, Ludmila Catela, Horacio Riquelme, Dominique Lacapra, Marie-Monique Robin, Pierre Abramovici, José Martins Filho, Juan Corradi, Ricard Vinyes, Hugo Vezzetti e Emilio Crenzel, entre tantos outros.
Entre as diversas conclusões apresentadas no volumoso e aprofundado estudo, sobressaem-se os resultados recolhidos nos últimos anos, em experiências tão diferentes como a brasileira e a argentina. Eles permitem confirmar que, de certa forma, contextos marcados por silêncio, esquecimento induzido e impunidade, ou seja, marcados pela ausência da atuação da Justiça, também são contextos de ausência da Verdade (como sinônimo de informação, esclarecimentos e respostas devidas). Em contrapartida, quando ocorrem iniciativas concretas que possibilitam encarar o passado traumático, o resgate da Memória e da Verdade torna-se possível, consequente e, em parte, até reparador. Ainda, essas iniciativas podem ser incorporadas ao presente cidadão, mantendo a expectativa da atuação da Justiça, em um futuro indefinido, apostando em que a compreensão dos seus efeitos sociais depuradores do entulho autoritário possa constituir um componente de mobilização rumo a uma sociedade mais ética e democrática.
A importância da obra reside em mostrar a longa continuidade projetada como objetivo pelas ditaduras de segurança nacional, a inconclusão da resolução dos seus crimes, objeto de negociação que garantiu a imunidade perpétua da impunidade para aqueles que deram e executaram tais ordens. Sabe-se que a recuperação do cenário democrático trouxe duas grandes frustrações a curto prazo: a primeira, o fato de que os problemas socioeconômicos não se resolveram com o fim da ditadura; a segunda, a ausência de Justiça combinada com os generosos e cúmplices silêncios e esquecimentos disseminados desde o estado pelo conjunto da sociedade. Neste ponto, Bauer utiliza as palavras de Zaverucha (p. 199-200), para não deixar dúvidas a respeito do sentido real do fim das ditaduras: “Os militares deixaram de ser governo, mas continuaram no poder”, o que lhes permitiu se justificarem como vitoriosos. E mesmo na Argentina, as ações golpistas dos “cara-pintadas” mostraram que havia limites e incertos cenários diante da relação de forças existente.
O rastro que a obra faz do roteiro do embate entre as medidas de resgate e de esquecimento é outro dos seus pontos altos.
Cuidadosa e sistematicamente, elabora a cronologia contextualizada dos avanços, recuos, retrocessos e novos avanços. A análise das leis de anestesiamento, esquecimento ou impunidade, como queira-se defini-las, é realizada com critério e riqueza de detalhes, abrindo o ângulo do foco para contemplar e avaliar as posições e os fatores em jogo, sem perder de vista a lógica cambiável do posicionamento desde o Estado, bem como a pressão incansável das organizações de direitos humanos, especialmente as que representam os familiares de mortos e desaparecidos e dos sobreviventes. Nessa perspectiva, a autora reconhece como uma espécie de paradigma universal, na investigação sobre as políticas de memória e da aplicação dos elementos componentes da justiça de transição, o que reconhece como “Efeito K” na área de direitos humanos, sintetizado pela ordem dada pelo presidente Néstor Kirchner de retirar quadros de repressores em ambientes públicos, inclusive militares (p. 310). Cabe um último reconhecimento, no caso brasileiro, o estudo do apelo à justiça internacional, por parte dos familiares das vítimas – amparados em organismos de direitos humanos e defensores históricos dos mesmos –, como possibilidade de responsabilizar um Estado vitimário que é protegido e poupado pelos argumentos jurídicos elencados pelo Supremo Tribunal Federal. Tal situação reveste-se da maior relevância, pois, ao se constituir como fato inconcluso do tempo presente de um passado traumático, ainda aberto, seus futuros desdobramentos deverão definir um caminho para resolver situações de uma história sensível quando bloqueados internamente por interpretações e medidas paradoxalmente aceitas pelo Estado democrático.
A contribuição da obra de Carolina Bauer reveste-se da maior relevância, considerando a necessidade e a ousadia de colocar, lado a lado, duas experiências que, embora mantendo especificidades concretas, possuem evidentes aproximações, paralelismos, semelhanças em certos aspectos e conexões reconhecidas. Deve-se destacar, finalmente, que colocar o resgate da história recente sob o crivo do debate sobre as políticas de memória é uma atitude metodológica que merece ser salientada, já que sinaliza para a história em si dessas experiências traumáticas, e para como seus desdobramentos foram projetados no tempo e na sociedade, pois, tal qual afirma Mariana Caviglia: “Cuando el terror se vuelve política de Estado, como en la dictadura, las consecuencias de esa dominación no culminan al tiempo que ésta se retira del poder; se llevan en el cuerpo y se transmiten de generación en generación […]” (p. 113). Essa é uma realidade que está longe de ser esgotada.
É na procura de dar inteligibilidade a este processo tão complexo e de recuperar significados remarcados conjunturalmente que o estudo comparativo de Caroline Bauer se mostra denso e qualifi– cado nos aportes consequentes que traz ao debate historiográfico.
A combinação dos efeitos produzidos diante da abertura de novos caminhos que estão sendo trilhados pelo Brasil – finalmente com uma política de Estado sobre estas questões (sem entrar no mérito dos objetivos ou das intenções da mesma) –, com o produto social, político e ético que resulta da consolidação da atuação incisiva da justiça na Argentina, permite selecionar matéria-prima para aprofundamento de muitas das refl exões que pioneiramente constituem este Brasil e Argentina: ditaduras, desaparecimentos e políticas de memória.
Sem dúvida, trata-se de uma leitura imprescindível e de extrema valia para quem pretende se aprofundar nestas instigantes temáticas vinculadas ao passado recente e traumático do Cone Sul.
Referências
CAVIGLIA, Mariana. Dictadura, vida cotidiana y clases medias: una sociedad fracturada. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006. p. 25-26.
ZAVERUCHA, Jorge. Rumor de sabres: controle civil ou tutela militar? São Paulo: Ática, 1994. p. 11.
Enrique Serra Padrós – Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História/UFRGS. E-mail: [email protected].
Dictadura, represión y sociedade en Rosario, 1976/1983: Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en ditadura | Gabriela Aguila
O livro é resultado da tese de doutoramento da autora, Historia social, memoria e dictadura. El GranRosario entre 1976 y 1983, apresentada e defendida em 2006 na Universidad Nacional de Rosario. Já no prefácio Gabriela alerta que a proximidade do período estudado, a influência que aqueles anos tiveram em sua trajetória e, principalmente, as demandas ainda existentes por justiça e pela busca da verdade interferem sim no trabalho científico e intelectual e obrigam uma reelaboração permanente de posições, suposições e praticas no ofício do historiador. Para ela, embora a repressão nas diversas províncias da Argentina fizesse parte de um amplo plano nacional, ela assumiu características peculiares nas diferentes regiões do país. Descobrir quais foram estas especificidades em Santa Fé e na sua capital é um dos objetivos de seu trabalho.
Além de mostrar como se operou a violência do Estado em Rosário, quais foram seus agentes e principais vítimas, Gabriela procura analisar aquelas pessoas que atravessaram este período num espaço intermediário, em outras palavras, que não estiveram ao lado da repressão – pelo menos diretamente – nem foram atingidos por ela. Ou seja, como a sociedade de Rosário comportou-se e de que maneira esse comportamento coletivo se articulava com a brutalidade do regime. Assim como na ditadura civil-militar brasileira de 1964, na Argentina, segundo a autora, esse consentimento se deu em termos de silêncio e passividade, mas à medida que mais pessoas foram sendo atingidas não apenas pela violência física, mas também pela crise econômica, isso foi diminuindo e vozes de oposição, não necessariamente de grupos de esquerda, começaram a se ouvir. Atitudes e práticas sociais, tanto de resistência como de conivência, foram se alterando com o decorrer do regime. Leia Mais
La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática | Daniel Lvovich e Jaquelina Biquert
Andreas Huyssen, em seu texto Resistência à memória: os usos e abusos do esquecimento público (2004), afirma que a sociedade contemporânea permanece obcecada com a memória e com os traumas provocados pelo genocídio e pelo terror de Estado. Tendo em vista este quadro, o esquecimento teria se tornado sinônimo de fracasso ou, como considera Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 54), o elemento final de tudo aquilo que pesa “sobre a possibilidade da narração, sobre a possibilidade da experiência comum, enfim, sobre a possibilidade da transmissão” da lembrança e da construção histórica. Nesta perspectiva, do culto às memórias sensíveis e do gradativo aumento da produção historiográfica sobre esta temática, está a análise proposta no livro La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática, dos pesquisadores argentinos Daniel Lvovich e Jaquelina Bisquert, ambos docentes da Universidad Nacional General Sarmiento.
Em pouco mais de cem páginas, os autores propõem algumas reflexões tanto dos usos políticos da memória sobre a ditadura militar, como sobre as mudanças das representações e dos discursos sobre o período na Argentina. Para tanto, o livro foi dividido em seis capítulos, que abordam períodos distintos, que se iniciam no ano do golpe, em 1976, e terminam no ano de 2007, quando se encerra um ciclo de importantes investimentos por parte do Estado na construção de políticas de memória.
Já na introdução do livro, os autores propõem uma problematização do papel que a memória ocupa na sociedade argentina e que, em seu uso cotidiano, tornou-se uma bandeira que preenche um espaço singular na reivindicação de grupos distintos que clamam por “memória e justiça”. Outro aspecto relevante nesta parte do texto é a importante distinção entre as duas tradicionais formas de representação do passado: a história e a memória.
Na visão de Lvovich e Bisquert, a história tem como função abordar o passado em conformidade com exigências disciplinares, aplicando procedimentos críticos para tentar explicá-lo, compreendê-lo e interpretá-lo da melhor maneira possível. Já a memória está ligada às necessidades de legitimar, honrar e condenar (p. 07). Como parece consensual no debate sobre o tema, a memória tem sua importância na coesão e na formação identitária dos povos, ainda que se deva considerar o quanto operam sobre ela as subjetividades individuais, e como distintos grupos representam o passado de formas – não raras vezes – contraditórias. O que significa dizer que, se o passado é único, imutável, é preciso considerar que os seus sentidos e significados não o são.
À medida que novas demandas sociais ou novos grupos de poder emergem, podem ocorrer substantivas mudanças na construção discursiva do passado. Os autores chamam, assim, a atenção para o fato de que, já há algumas décadas, a memória tornou-se uma preocupação central na cultura e na política, movimento assinalado pela criação de museus, monumentos e comemorações – muito em função da internacionalização das memórias das vítimas da Segunda Guerra Mundial (p. 09).
O primeiro capítulo El discurso militar y sus impugnadores (1976-1982) é dedicado ao estudo da formação do discurso militar sobre sua chegada ao poder e das justificativas construídas para as suas ações violentas. A diferença do golpe militar de 1976 frente aos outros desencadeados naquele país estaria, sem dúvida, no papel adotado pelas Forças Armadas, que assumiram para si a responsabilidade de ser “salvadora” e “revolucionária”, com propostas de mudanças na sociedade argentina, após o caótico governo de Maria Estela Martinez.
O Proceso de Reorganización Nacional tinha por objetivo reestabelecer a “vigência dos valores da moral cristã, da tradição nacional e da dignidade de ser argentino”, bem como, assegurar “a segurança nacional, erradicando a subversão e as causas que favorecem sua existência” (p. 17). De forma semelhante ao que aconteceu em outros países da América Latina, o discurso construído em cima da figura do inimigo do regime recai no subversivo, no antiargentino que, além de praticar o terrorismo, através de suas ideias ofende a moral. Não só mata militares, como também é o que incita a briga familiar, joga pais contra filhos, leva a contestação até as escolas e as fábricas. É contra este indivíduo que o Estado entrou em “guerra interna”, justificando suas violações aos Direitos Humanos.
Outra noção de guerra, agora externa, foi também utilizada pelos militares para justificar a entrada na Guerra das Malvinas (1982), a fim de gerar um consenso na sociedade sobre a necessidade de tal aventura. Abordando tais temas, os autores apontam nesta primeira parte para as formas com que as Forças Armadas conduziram o discurso sobre sua atuação.
O segundo capítulo La transición democrática y la teoria dos demonios (1983- 1986) analisa a primeira mudança na construção do discurso sobre o período. Com a derrota na Guerra das Malvinas (que levou o regime ao colapso), a atuação cada vez mais significativa das organizações de Direitos Humanos e com o julgamento da Junta Militar o discurso do Estado caiu paulatinamente em descrédito. A versão que vem à baila é a trazida pelo Informe Nunca Más, em que aparece a clássica teoria “dos demônios”.
Esta teoria diz que a Argentina esteve durante anos sob a violência política praticada por dois extremos ideológicos: o Estado e a guerrilha. Todavia, a sociedade, sob este prisma, está alheia a tudo isto, e mais, ela é vítima da ação dos demonios e é isentada de qualquer responsabilidade na eclosão do golpe de 1976. No prólogo do Informe se condena abertamente a violência terrorista, independente de sua origem ideológica, e se assume uma perspectiva baseada tão somente na dicotomia entre ditadura e democracia, o que silencia as responsabilidades de civis e militares na repressão surgida ainda no governo de Maria Estela Martinez (p. 35). Outro cambio de interpretação se deu na visão sobre a guerra das Malvinas. Com a derrota da Argentina, os soldados entraram para a história como vítimas, inocentes e inexperientes, que “foram enviados para morrer e não para matar” (p. 40).
O terceiro capítulo, Un pasado que no pasa (1987-1995) trata, principalmente da fragilidade de se abordar essa memória recente da ditadura em um período de reconstrução democrática. Após o período de turbulência durante o governo de Raul Alfonsín veio o governo de “pacificação nacional”, de Carlos Menem. Ou seja, as agitações causadas pelas polêmicas acerca das leis de obediência devida e punto final e pelo ataque ao quartel de La Tablada, o país mergulha em uma tentativa institucional de abrandar essas questões. Tal política, que incluía indultos a militares sublevados, relativizou a questão do terror de Estado. Para o presidente, somente com o passado reconciliado se poderia “abrir as portas para um futuro promissor”. Segundo os autores, Menem incitou a nação a construir uma memória baseada no esquecimento (p. 53), o que, contudo, teve efeito contrário, já que a memória sobre a repressão continuava cada vez mais viva e a sociedade cada vez mais sectarizada.
El boom de la memória (1995-2003) é o quarto capítulo, que trata do período em que a memória sobre a repressão veio à cena pública de modo mais impactante – seja na sociedade, seja nos ambientes acadêmicos. O fator responsável por este fenômeno foi a confissão de Adolfo Scilingo sobre sua participação nos chamados vôos da morte. O acontecimento teve o efeito de desencadear uma série de “autocríticas” entre os militares, que se diziam arrependidos de sua atuação na repressão. Somado a isto, novas organizações de Direitos Humanos, como os H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) passaram também a inovar no método de pedir justiça, sob a forma de escrache.
Essa nova forma de protestar (o escrache) consistia em uma marcha até a residência de algum repressor a fim de grafitar o local e avisar à comunidade que seu vizinho foi um colaborador ou repressor. O avanço dos meios de comunicação, sem dúvida, auxiliou nessa fase de boom, com a divulgação de fotografias, vídeos e filmes, fazendo com que surgisse uma demanda social que clamava pela abertura dos arquivos da repressão. A academia não ficou alheia a este debate e a memória sobre o período e seus desdobramentos tornou-se um objeto de reflexão bastante visitado nas universidades.
A partir do ano de 2001, começaram a surgir os “lugares de memória”, lugares de homenagem às vítimas da repressão. Esta “hipermemória”, como escrevem os autores, converteu as vitimas em heróis revolucionários, estabelecendo uma nova divisão social – ainda simples e maniqueísta, entre bons e maus (p. 74).
Las políticas de memoria del Estado (2003-2007) é o capítulo que encerra o livro, descrevendo e analisando a importância dada à questão dos Direitos Humanos e à questão dos julgamentos durante o governo de Néstor Kirchner. Com a declaração da inconstitucionalidade das leis Punto final e obediência devida, dezenas de processos tiveram que ser revistos e novos julgamentos voltaram a ocorrer. A centralidade deste capítulo está na discussão sobre como a memória das vítimas do regime tornou-se forte, eliminando quase que por completo a versão militar dos fatos.
Outros pontos importantes discutidos dizem respeito à proliferação dos centros de memória, em especial, da Escuela Superior de Mecanica de la Armada (com todo o debate sobre como utilizar este espaço, para transformá-lo em museu) e à importância das manifestações de rua nas comemorações do 24 de março, aniversário do golpe, sobretudo, na comemoração dos seus 30 anos, em que o presidente chamou a atenção para o fato que “não só as forças armadas tiveram responsabilidade do golpe. Setores da sociedade tiveram sua parte: a imprensa, a igreja e a classe política” (p. 87).
Com um texto simples em sua linguagem, mas repleto de importantes referências historiográficas e de fontes jornalísticas acerca do tema, os autores ilustram todo o processo pelo qual a “história da memória” sobre a ditadura e o terror de Estado passou ao longo de aproximadamente trinta anos na Argentina.
O livro lança luzes sobre os debates que aconteceram na sociedade durante este período, mostrando que, mesmo quando uma ou outra visão prevalecia, ela não aparecia sem que houvesse vozes dissonantes no interior dos muitos grupos sociais e políticos. Sendo assim, trata-se de um livro importante para quem quer compreender o estágio atual da sociedade argentina, que levou muito recentemente grandes repressores ao banco dos réus, colocando aquele país como o mais adiantado entre seus vizinhos no que diz respeito à justiça de transição. La cambiante memoria de la dictadura desperta a curiosidade sobre este tema, que ainda rende – e renderá entre os argentinos e entre os brasileiros – apaixonadas e calorosas discussões.
Referências
GABNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar Escrever Esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.
HUYSSEN, Andreas. Resistência à memória: os usos e abusos do esquecimento público. In: BRAGANÇA, Aníbal e MOREIRA, Sonia Virginia. Comunicação, Acontecimento e Memória. São Paulo: Intercom, 2005.
LVOVICH, Daniel y BISQUERT, Jaquelina. La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2009.
Diego Omar da Silveira – Universidade Federal de Minas Gerais.
Isabel Cristina Leite – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
LVOVICH, Daniel; BISQUERT, Jaquelina. La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2009. Resenha de: SILVEIRA, Diego Omar da; Leite, Isabel Cristina. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.30, n.1, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil – CORDEIRO (EH)
CORDEIRO, Janaína Martins. Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Resenha de: PAULA, Christiane Jalles de. Memória, história e mulheres de direita na ditadura no Brasil. Estudos Históricos, v.25 n.49 Rio de Janeiro Jan./June 2012.
Há uma corrente na historiografia brasileira que propõe a revisão das interpretações sobre o regime militar, e especialmente a da memória construída da resistência da sociedade brasileira à ditadura. Esse movimento tem trazido novos ângulos, fontes e objetos para a compreensão do Brasil no período de 1964 a 1985. O trabalho de Janaína Martins Cordeiro, originalmente dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), alia-se a essa corrente. Como bem realçou Denise Rollemberg no prefácio, um dos seus méritos é que avança ao propor uma interpretação original sobre a atuação de um grupo manifestamente a favor do regime instaurado em 1964: a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde). Por isso mesmo, não surpreende que o trabalho tenha sido agraciado com o Prêmio Pronex/UFF em 2009, que subsidiou sua publicação.
O livro Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no Brasil assume dois objetivos. O primeiro é a recuperação da memória das mulheres da Camde, buscando, ao fazê-lo, desmistificar a memória da resistência da sociedade brasileira, uma vez que é inegável a ressonância que os discursos anticomunistas dos grupos de mulheres tiveram em 1964. O outro é entender como esses grupos apoiaram e legitimaram o golpe e a ditadura. Este é o ponto que considero mais instigante e original, uma vez que compartilho da ideia de que só podemos entender um determinado período se nos debruçarmos sobre o jogo social, político e cultural jogado pelos segmentos sociais. O livro nos permite entrever o dinamismo do jogo do qual participaram as mulheres da Camde, embora, é preciso reconhecer, nem sempre as ambiguidades tenham sido sublinhadas, e se tenha tentado, antes, encontrar as coerências do grupo. De toda forma, o livro nos leva a entender, como diz Rosanvallon (2010: 76), “o modo por que os indivíduos e os grupos elaboraram a compreensão de suas situações; os rechaços e as adesões a partir dos quais eles formularam seus objetivos; a maneira pela qual suas visões de mundo limitaram e organizaram o campo de suas ações”.
Organizado em três capítulos, além da introdução e das considerações finais, o livro traz a história da Camde, os valores que forjaram a militância da entidade e, finalmente, a memória elaborada pelas militantes do grupo.
O primeiro capítulo retrata a história da Camde. Nele, a narrativa cronológica é subsumida ao tema da cultura política, o que enriquece a argumentação. Por isso mesmo, o capítulo trata das formas de organização política e das ações empreendidas pelo grupo. Há uma dupla intenção no estudo desses aspectos: compreender a ditadura e o universo simbólico do grupo. A autora nos persuade de que o grupo compartilhava uma cultura política caracteristicamente elitista, udenista, assistencialista e católica.
No capítulo 2 são apresentados os valores que nortearam a organização e a atuação da Camde. Chamando a atenção para como as mulheres do grupo fizeram uso das categorias da esfera privada (mães, esposas e donas de casa) na construção de seus discursos públicos, a autora nos traz um retrato das relações de gênero no Brasil, que mostram ser um elemento fundamental para a compreensão da participação do grupo na cena pública brasileira entre 1962 e 1974.
No capítulo 3 são analisadas as memórias elaboradas pelas militantes da Camde. Seus silêncios, suas recusas e as dificuldades para conseguir entrevistá-las – de 17 mulheres que foram encontradas e contactadas, só quatro se dispuseram a prestar depoimento à autora – expõem a força da construção da memória do silêncio. Partindo da elaboração de Pierre Laborie, para quem o silêncio sobre determinado evento pode estar relacionado à incompreensão no presente de um comportamento do passado, a autora, ao tratar os depoimentos, constrói a teia de adesões e rechaços que marcam a memória e a história de militância das mulheres que estiveram ligadas à Camde.
O trabalho de Janaína Martins Cordeiro suscita muitas questões. Nesta resenha quero chamar atenção para três em especial.
Primeira: como tratar de um grupo de militantes católicos sem considerar a centralidade do catolicismo como “visão de mundo” (Karl Mannheim, 1982), ou seja, entender que o catolicismo estrutura uma série de vivências ou de experiências que, por sua vez, constitui-se como base comum das experiências que perpassam a vida de múltiplos indivíduos. No trabalho, embora inúmeras vezes o catolicismo seja mencionado, acabou sendo pouco explorado enquanto base comum das vivências e experiências das mulheres da Camde.
Segunda: a democracia é um conceito polissêmico. Então, não seria preciso explicitar o conceito de democracia usado pela Camde? Vale lembrar que o catolicismo, já no século XIX, adotara politicamente a si mesmo como terceira via à democracia liberal e ao socialismo, que, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, passou a ser chamada de “democracia cristã”. Além disso, a “democracia” no catolicismo tem significado diverso daquele difundido pela democracia liberal-representativa. Não é por acaso que tanto o anticomunismo como o antiliberalismo são bases importantes do pensamento político católico.
Terceira: em vários momentos do trabalho o grupo é caracterizado como conservador. Por que não matizar este qualificativo, mostrando que, em algumas conjunturas, o grupo assumiu feição tradicionalista e, em outras, reacionária? Um investimento maior nas diferenças destes conceitos poderia nos dar indícios mais robustos dos porquês de algumas das escolhas e, principalmente, poderia realçar ainda mais as ambiguidades das mulheres da Camde.
Gostaria de finalizar ressaltando que estas considerações só reforçam a qualidade e a originalidade da interpretação. Trata-se de um livro que muito contribui para o atual debate sobre a ditadura no Brasil e que merece leitura atenta.
Referências
MANNHEIM, Karl. Structures of thinking. Collected Works Volume Ten. London: Routledge + Kegan Paul, 1982. [ Links ]
ROSANVALLON, P. Por uma história conceitual do político. In: Por uma história do político. Tradução de Christian Edward Cyrill Lynch. São Paulo: Alameda, 2010.
Christiane Jalles de Paula – Doutora em ciência política pelo IUPERJ, professora e pesquisadora do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, Brasil ([email protected]).
De minifaldas, militancias y revoluciones: exploraciones sobre los 70 en la Argentina – ANDÚJAR (CP)
ANDÚJAR, Andrea et al. De minifaldas, militancias y revoluciones: exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2009, 217 p. Resenha de: VEIGA, Ana Maria. Minissaias, militâncias, revoluções e gênero na última ditadura argentina. Cadernos Pagu, Campinas, n. 36, Jan./Jun. 2011.
O livro De minifaldas, militancias y revoluciones: exploraciones sobre los 70 en la Argentina amplia o debate sobre a última ditadura militar naquele país (1976-1983) ao inserir nele questões de gênero e a participação política das mulheres nos grupos de resistência. Organizado por Andrea Andújar, Karin Grammático, Débora D’Antonio, Fernanda Gil Lozano e María Laura Rosa, o livro dá sequência à compilação eletrônica Historia, Género y Política en los ’70 (Andújar, 2005), editada online pelo mesmo grupo no ano de 2005, como resultado das jornadas ocorridas na Universidade de Buenos Aires1, que lembraram os trinta anos do começo da ditadura argentina, abordando especificamente as relações de gênero.
A primeira parte da obra, denominada “Espacios de Militancia y Conflictividad”, é composta de quatro capítulos. Marta Vassalo aborda a situação das mulheres nas fileiras militantes, tratadas como duplamente subversivas, já que fugiam aos seus papéis tradicionais, assumindo lugares considerados masculinos. Além disso, Vassalo explora a maternidade e as normas morais e sexuais para os casais militantes, que tinham seus relacionamentos mediados pelos ditames das organizações – a descoberta do feminismo e sua reivindicação vieram a complicar ainda mais a situação de algumas mulheres que passaram a atuar na chamada dupla militância. Em outro capítulo, Karin Grammático fala das disputas internas do Movimento Peronista e das manobras e demandas da “Rama Femenina”, que tomou lugar nesse movimento. A autora aponta para as mulheres como grupo de interesse do peronismo, mas do qual não se fazia uma leitura política aprofundada; as mulheres teriam direitos políticos, dentro dos limites de seus papéis de mães e esposas, como as situava também Evita Perón. Além disso, Grammático faz uma interessante reflexão sobre a preocupação geracional do líder Perón, mesmo no exílio, de formar novos dirigentes a partir da Juventude Peronista. Segundo ela, Perón tentava apaziguar as agrupações armadas do movimento, como as Forças Armadas Peronistas e os Montoneros.
As trajetórias de religiosas “terceiromundistas” na Argentina são analisadas por Claudia Touris, que aponta os grupos de formação católica na renovação da esquerda nos anos 1960 e a ação limitada das mulheres dentro desses grupos, apesar da transformação das vidas das religiosas depois do Concílio Vaticano II; a aproximação com o peronismo e uma nova postura política marcaram a “nova mulher cristã”, politicamente ativa. Luciana Seminara e Cristina Viano também seguem as trajetórias de duas mulheres que começaram a vida política em grupos católicos alinhados com a Teologia da Libertação e que acabaram por encontrar a luta armada praticada pelos Montoneros e pelo Partido Revolucionário de los Trabajadores, deparando-se ainda com o feminismo, em um momento de “direitização” do governo peronista, de repressão intensa e clandestinidade.
A segunda parte do livro, “Prácticas Terroristas, Prácticas de Resistencia”, é aberta com o capítulo de Débora D’Antonio, que aborda a agência política praticada dentro dos cárceres entre 1974 e 1983. A autora tematiza a resistência e a reorganização política das mulheres no cárcere de Villa Devoto, criando uma cultura política carcerária; além disso, trata de violência sexual, tortura, sujeição dos corpos e colaboração, discutindo as estratégias de sobrevivência dessas mulheres. O capítulo de Laura Rodriguez Agüero mostra a repressão sobre prostitutas e militantes de esquerda em Mendoza, de 1974 a 1976, período em que estiveram em atividade na região os conservadores Comando Anticomunista de Mendoza e o Comando Moralizador Pio XII, que ameaçavam, assassinavam, colocavam bombas em casas noturnas, casas de militantes de esquerda, centros israelitas e igrejas evangélicas. Pessoas mortas eram encontradas nuas, algumas com as cabeças raspadas; a morte era decretada a quem colocasse em questão modos de vida tradicionais: prostitutas, homossexuais, traficantes.
No capítulo que encerra esta parte, Marina Franco aponta o exílio como espaço de transformação de gênero. Desde 1973, com a repressão da Aliança Anticomunista Argentina, aproximadamente 300 mil foragidos deixaram o país. A autora analisa o papel ativo das mulheres diante da experiência migratória, a construção de novas percepções como força, segurança e independência, e o encontro de muitas delas com o movimento feminista na França, para onde partiram quase dois mil e quinhentos argentinos/as. Mas a autora avisa que essa relação deve ser matizada, pois seus efeitos concretos foram limitados. A manutenção dos papéis periféricos das mulheres no exílio, com a reestruturação das organizações e o encontro com ideais liberalizantes, levou à ruptura de diversos casais, já que as mulheres adquiriram novas posições domésticas e políticas; portanto o exílio pode ter tido um efeito acelerador, como explica a autora, com o deslocamento de prioridades e a descoberta de novas demandas assumidas pelas mulheres.
A terceira parte do livro, “Representaciones, Imágenes y Vida Cotidiana”, traz para o cenário historiográfico outras perspectivas, ainda incomuns nos meios acadêmicos. Andrea Andújar explora os vínculos de casal na militância política de esquerda dos anos 1970, trabalhando sobre a penetração mútua entre seus ideais e a cultura de massa, representada no capítulo pelas telenovelas e pelo rock and roll. Em um texto estimulante, Andújar reflete sobre a constituição de novas formas de ser e se relacionar para as mulheres, com a erosão do mundo tradicional e o questionamento das relações heterossexuais, monogâmicas, visando o casamento. Enquanto o rock trazia o rechaço aos cânones sociais vigentes e a apologia ao amor livre (ainda heterossexual), colocando as mulheres como agentes que também tomavam iniciativas, as telenovelas as representavam em sua passividade, mas já traziam algumas inovações nos papéis; ambos os segmentos culturais traziam o contexto social e político dos primeiros anos 1970. Enquanto isso, as organizações de esquerda viam as inquietudes amorosas como debilidade política, naturalizavam as tarefas tidas como femininas e reproduziam o modelo de conduta pregado pela ditadura: amor duradouro, fidelidade, reprovação do adultério, concepção tradicional de família. A autora sinaliza a cultura como espaço de disputas e a tentativa de novos vínculos amorosos em ambiguidade com o imaginário tradicional sobre o amor e as relações.
Isabella Cosse também traz os novos protótipos femininos que emergiram naqueles anos com a divulgação da imagem da “jovem liberada”, com desejo sexual ativo, que trabalhava e não tinha como meta o casamento; surgia uma nova sensibilidade moral, principalmente entre a classe média mais elevada, identificada com os Estados Unidos e com a Europa. O modelo dona de casa passou a ser rechaçado, a tecnologia resolveria os problemas das mulheres. Cosse analisa o papel das revistas de vanguarda para jovens liberadas, o plano modernizador e a influência feminista; tudo isso em contraste com as tímidas mudanças na classe média mais ampla e com o embate ideológico travado por revistas conservadoras (Para Ti) e populares (Vosotras), que tiveram de atender às novas demandas, apropriando-se dos novos códigos sociais, mas sem questionar gênero – reforçavam os lugares tradicionais das mulheres.
Um dos últimos capítulos, de Rebekah Pite, questiona as tarefas domésticas das mulheres argentinas difundidas pelos livros do ícone da cozinha, Doña Petrona, no período de 1970 a 1983. Segundo Pite, além de receitas, a chefe ensinava também qual seria o lugar das mulheres na sociedade argentina: perfeitas donas de casa, que sabiam economizar e receber convidados. A autora mostra que a cozinha era um lugar “natural” e seguro para as mulheres, e que o programa de Doña Petrona na televisão foi talvez o único a não sofrer os cortes da censura. Em cima da mesa, uma placa avisava aos convidados: “Proibido falar de política”. A apresentadora estava de acordo com os preceitos da ditadura: as mulheres deviam permanecer nos seus lares, mantendo os papéis tradicionais de gênero; era preciso modernizar a tradição, não romper com ela.
O único capítulo do livro que de certo modo destoa de um rigor metodológico é intitulado “Rastros de la ausencia: sobre la desaparición en la obra de Claudia Contreras”. María Laura Rosa questiona como a arte pode falar de genocídio e, como resposta, discorre sobre o contexto argentino, fazendo um paralelo com a arte lá produzida, buscando explorá-la como política. “Como falar de um passado que se prolonga no presente?”, pergunta a autora. Aos leitores e leitoras ficam algumas impressões que parecem pessoais e uma análise quase emotiva, que não problematiza o uso da arte como fonte para a historiografia. Essa é a ausência que podemos reivindicar.
Com esse apanhado de capítulos, percebemos a amplitude e o aprofundamento de temáticas que trazem para a discussão historiográfica sobre a última ditadura militar argentina a perspectiva das relações de gênero, no âmbito da esquerda política, mas também da direita. De minifaldas, militancias y revoluciones é uma parte importante de um debate, travado em sua transnacionalidade2 por pesquisadoras/es que se preocupam em complexificar a escrita da história, nela inserindo atores/as sociais que não estiveram presentes no que contemplou a historiografia tradicional, mas que trazem histórias e heranças próprias de um período intenso, vivido, lembrado e relembrado por grupos sociais que naquele momento ainda buscavam marcar seus lugares e espaços. Esse livro e as reflexões que ele suscita são marcas materiais de uma legitimidade e, ao mesmo tempo, espaços ocupados por sujeitos históricos ainda em permanente elaboração. Aos estudiosos e interessados, vale a pena conhecer um trabalho de competência acadêmica, que oferece novas possibilidades à historiografia latino-americana, partindo da perspectiva argentina.
Referências
Andújar, Andrea et alii. Historia, género y política en los ’70. Buenos Aires, Feminaria, 2005. Disponível em www.feminaria.ar. [ Links ]
Pedro, Joana Maria; Wolff, Cristina Scheibe; Veiga, Ana Maria. (orgs.) Resistências, Gênero e Feminismos contra as ditaduras no Cone Sul. Florianópolis, Ed. Mulheres, 2011. [ Links ]
Pedro, Joana Maria; Wolff, Cristina Scheibe, (orgs.) Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul. Florianópolis, Ed. Mulheres, 2010. [ Links ]
Notas
1 Em 2010 as jornadas alcançaram sua terceira edição.
2 Essas questões são trabalhadas no Brasil por pesquisadoras/es do chamado Projeto Cone Sul, do Laboratório de Estudos de Gênero e História na Universidade Federal de Santa Catarina, que acabaram de editar o livro Resistências, Gênero e Feminismos contra as ditaduras no Cone Sul (Pedro, Wolff, Veiga, 2011), com estudos realizados nos países situados nesse espaço geopolítico, também sob a perspectiva do gênero. Antes dele, uma primeira compilação de textos elaborados a partir do colóquio “Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul” (realizado na UFSC em maio de 2009) também foi publicada, reunindo autoras/es da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil, que problematizam os períodos de ditaduras militares em seus países, imbricados às relações de gênero que os permearam (Pedro e Wolff, 2010). Ligado à Universidade de Campinas, um grupo coordenado pela socióloga Maria Lygia Quartim de Moraes também tematiza as ditaduras militares e as relações de gênero nesse período. Ainda sobre ditaduras, encontramos o trabalho da equipe de pesquisa de Carlos Fico, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ana Maria Veiga – Doutoranda em História na Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista da CAPES, Atualmente pesquisa sobre realizadoras de cinema do Brasil e da Argentina durante as ditaduras militares nos dois países, E-mail: E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Salazar: uma biografia política – MENESES (Tempo)
MENESES, Filipe Ribeiro de. Salazar: uma biografia política. 3. ed. Lisboa: D. Quixote, 2010. Resenha de: MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. A monografia de um tempo português. Tempo v.17 no.31 Niterói 2011.
Em 2007, a RTP (Rádio e Televisão de Portugal) promoveu um concurso intitulado “Os Grandes Portugueses”, a fim de escolher o nome mais representativo de sua história. Concorrendo com personagens da grandeza de Camões, Vasco da Gama e Fernando Pessoa, entre outros, o ditador do Estado Novo Oliveira Salazar saiu vencedor com pouco mais de 40% dos votos.12
A despeito de sua “representatividade”, Salazar ainda não havia sido objeto de um trabalho acadêmico rigoroso. A lacuna foi, entretanto, preenchida com a chegada do estudo de Filipe Ribeiro de Meneses.
Publicada originalmente para um público não português, a obra consiste em um aprofundado estudo que integra as vidas pessoal e pública de um professor de Economia, católico e solteirão que incorporou para si a tarefa de fazer os portugueses viverem habitualmente, conforme disse ao pensador católico francês Henri Massis. O viver projetado por Salazar consistia em uma ditadura alheia às aventuras revolucionárias dos fascismos clássicos alemão e italiano ou mesmo do militarismo de pendor cesarista de seu vizinho espanhol. Filipe de Meneses consegue perceber os importantes traços de continuidade entre o filho de Santa Comba Dão, o ex-seminarista que, quando ingressou como professor da Universidade de Coimbra, apresentou uma tese defensora da pequena propriedade agrícola, e o chefe de governo que nunca deixou de afirmar a superioridade do campo sobre a cidade, esta lugar dos “vícios dissolventes” da tradição portuguesa.
Filho caçula de uma família pobre, com quatro irmãs, Salazar estudou no seminário de Viseu. Destacado aluno, ingressou na Universidade de Coimbra, onde se formou em 1911. Dessa época o livro aponta para relações de amizade que permaneceram ao longo de toda a vida do futuro ditador, como Mário de Figueiredo e Manuel Gonçalves Cerejeira, o futuro patriarca da Igreja Católica em Portugal.
Militante na Universidade do Centro Católico, Salazar foi sempre fiel aos valores legados de um pensamento social católico que tem na Encíclica Rerum Novarum a sua principal referência. Foi, por isso, um forte opositor tanto do liberalismo e da democracia parlamentar quanto do comunismo e dos movimentos socialistas. Seu projeto político-ideológico sempre foi a constituição, em Portugal, de um regime centralizado e fiel às tradições que, a seu ver, marcam a formação portuguesa: um catolicismo marcado por uma forte vocação messiânica, cruzadista e expansionista.
O livro é rico em exemplos que demonstram a capacidade de Salazar em mediar com interesses conflitantes no seio do regime autoritário. Como ministro das Finanças, arquitetou a transição de uma ditadura militar para uma ditadura civil e corporativa sob o seu controle. Mantendo sempre um militar na presidência, não deixou de acalentar as esperanças dos monarquistas ávidos pela mudança do regime. Na montagem do governo, incorporou à sua máquina republicanos conservadores, católicos e até mesmo militantes do integralismo lusitano, a versão portuguesa do fascismo. Nesse caso, sobretudo, trouxe para a esfera da administração jovens universitários que, em breve tempo, teriam espaço e importância crescente no regime, como Pedro Teotónio Pereira e Marcello Caetano. Ciente do complexo leque de alianças que o apoiava, Salazar dissolveu o Centro Católico e criou um partido único, um “não partido”, de acordo com suas palavras, a União Nacional. A constituição aprovada em 1933, corporativa e autoritária, manteve, entretanto, um verniz liberal quer na permanência de uma Câmara, aliás duas, se contarmos a Câmara Corporativa, quer na eleição, por sufrágio universal, do presidente da República.
Apesar da preocupação em analisar a vida privada de Salazar, o livro cresce nos momentos em que relata as crises vividas pelo Estado Novo português e as medidas tomadas por Salazar. Como durante a Segunda Guerra Mundial, quando a incerteza a respeito da continuidade do Estado Novo era motivo de euforia para seus opositores e preocupação para seus adeptos. Naquela conjuntura, Salazar adotou uma política de neutralidade, ao mesmo tempo em que envidava todos os esforços para impedir que a vizinha Espanha aderisse ao conflito. Neutralidade que, entretanto, não impediu a cessão para os Aliados da Base Militar dos Açores. A estratégia do ditador garantiu a entrada imediata de Portugal na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a continuidade do regime no pós-guerra. No final da década de 1950, novo período de instabilidade, com a campanha à presidência da República de Humberto Delgado. Uma campanha de massas, “à americana”, estranha e incômoda ao regime. Também na década de 1950, Salazar se viu obrigado a mediar as disputas entre setores “conservadores”, sob a liderança de Santos Costa, e “modernos”, capitaneados por Marcello Caetano.
Mas foi na década de 1960 que o “caldo” começou de fato a entornar. Os estudantes saíam às ruas e misturavam reivindicações tanto acadêmicas como políticas. Nas relações diplomáticas, a Europa tornava-se um parceiro cada vez mais constante, relativizando a natureza atlântica, tão cara aos adeptos do Estado Novo. Mas, sobretudo na África, os movimentos de libertação começavam, em 1961, a defender a ruptura com a antiga metrópole. Apesar de tentativas de mediação por parte das diplomacias americana, brasileira, espanhola ou mesmo do Vaticano, Salazar recusava-se a ceder ou mesmo negociar. “Estamos cada vez mais orgulhosamente sós”, foi o que disse em resposta às insistentes pressões internacionais. Em 1968, ano em que sofre o acidente caseiro que o impossibilita de continuar a governar, a guerra colonial já não tinha retorno. Com ela, o país vê seus braços partirem. Para o ultramar alguns. Para a França ou para o Brasil outros. Que se a participar de um conflito que não compreendiam e não aceitavam, pelo menos não a ponto de se alistarem na tropa. Um paradoxo: o ditador recusava-se a mover qualquer palha em um país que já não vivia mais “habitualmente”. Essa última década de vida política de Salazar foi também a que sofreu mais questionamentos, inclusive internos. A recusa de ceder no caso africano reproduzia-se também na relação com o poder. Cedê-lo pressupunha a possibilidade de ser criticado por sucessores. Nesse caso, a aparência franciscana podia também ser confundida com arrogância e alhea-mento para com os outros.
Disse Gramsci que a trajetória de um homem pode ser a monografia de seu tempo. O livro de Filipe Ribeiro de Meneses, sólido, erudito, bem-documentado, é uma referência obrigatória para o entendimento da recente história portuguesa.
Francisco Carlos Palomanes Martinho – Professor do Departamento de História da USP e pesquisador do CNPq.
MENDONÇA, Sonia Regina de. O Patronato Rural no Brasil Recente (1964-1993). Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2010. Resenha de: MOTTA, Márcia. Uma zona de sombra: o rural de nossos dias. Tempo v.16 no.30 Niterói 2011.
Uma zona de sombra da historiografia. É com estas palavras que a historiadora Sonia Mendonça apresenta o tema de sua trajetória acadêmica, mais uma vez registrada em livro. Ao perseguir as relações intraclasse dominante agrária, Mendonça discute em “O Patronato Rural“, como se estabelecem as relações e os fortes interesses dos grandes proprietários rurais no interior das agências estatais, entre os anos de 1964 a 1993.
O objeto de pesquisa por si só não é dos melhores, se entendemos uma obra a partir do registro de um passado festivo, cheio de glórias e comemorações.
O tema é feio e seus efeitos são ainda piores, mas eles fazem parte do lado obscuro de nossa história, ainda tão presente e tão pouco estudado. Como fantasmas, seus efeitos perseguem alguns poucos historiadores, suficientemente preparados para desvendá-los por detrás dos véus.
Na contracorrente de uma história bonita, Mendonça dilacera nossas visões mais otimistas e demonstra que estamos ainda longe de um país mais generoso para com os seus. Ao perseguir e esquadrinhar os sentidos das “modernizações”, a autora nos revela as estratégias utilizadas pelos terratenentes para chamar de nossos os seus interesses.
O livro exige leitura atenta, cuidadosa, já que a rigor o leitor mais desavisado, há de ter alguma dificuldade para acompanhar as principais ilações ali registradas. Para os mais interessados, asseguro: o esforço vale a pena. O próprio estilo da autora expressa uma resistência, contra as leituras prazerosas e superficiais de nossos dias. O leitor não estará lendo um resumo dos argumentos da imprensa diária, sempre pronta a falar sobre o que não sabe e a construir juízos de valor acerca de grupos sociais que desconhece. Também não há de encontrar ali um estilo poético, pois não há nada de poesia nos mecanismos de dominação/convencimento empregados pelos “nossos fazendeiros”.
O capitulo primeiro é uma aula, dessas que – como dizíamos quando jovens – só mesmo a Sônia Mendonça para ministrar. Ao deslindar as propostas presentes no Estatuto da Terra do governo Castelo Branco, a autora nos oferece uma oportunidade ímpar de conhecer a fundo quais eram os distintos projetos políticos da Sociedade Nacional de Agricultura e da Sociedade Rural Brasileira – entidades patronais – na “luta travada entre elas pela condição de porta-vozes autorizados e legítimos das facções agrárias da classe dominante agrária”. Mas se havia divisão, havia também união, cumplicidade; principalmente em relação aos projetos de reforma agrária dos setores de esquerda, na conjuntura que culminou com o Golpe de 64. É em oposição à mobilização camponesa e sua proposta de reforma que irão se insurgir as agremiações patronais, contra aquilo que consideram o mais grave dos crimes: o ataque à grande propriedade e ao direito de ser proprietário.
Não é preciso repetir aqui o que todos sabem e naturalizam. A partir do Golpe de 64, a grande propriedade rural é absolvida e consagra-se a ideia de que ela não deve ser discutida, questionada, mas estimulada. A concentração territorial não é mais um pecado; é, quanto muito, a expressão de nossa especificidade, num país que orgulhosamente chamamos de continental.
Não á toa, os anos de abertura política reinauguraram as tensões entre as entidades patronais, sempre dispostas a defender a política de modernização da agricultura com subsídios fiscais. Mas a abertura também implicou a renovação da esperança, a expectativa de um acerto de contas com o passado, expresso – por exemplo – na promulgação do Plano Nacional de Reforma Agrária do governo Sarney, cuja proposta, a princípio, visava atender às demandas sociais mais urgentes no campo, principalmente em relação aos conflitos fundiários. O fracasso da proposta expressou, mais uma vez, que a despeito das diferenças, as entidades patronais não estiveram dispostas a construir um consenso político a favor das mudanças.
O papel específico da Sociedade Nacional da Agricultura é o tema do capítulo dois. Nele, Mendonça analisa a revista A Lavoura, corpus documental raras vezes utilizado pelos historiadores. Enquanto entidade de classe, a SNA defendeu suas propostas a partir de cinco eixos: a modernização da agricultura, a difusão do cooperativismo como instrumento de desenvolvimento agrícola, a necessidade de se empreender algum tipo de reforma agrária, a implementação de uma justiça agrária e o combate ao tabelamento de preços. Para além da excepcionalidade da entidade na defesa de algum tipo de reforma agrária e de justiça social (questões ausentes da pauta de outras entidades patronais) destaca-se também o apelo nos últimos anos em favor da causa ecológica, no esforço de consagrar-se como a legítima e histórica entidade preocupada com as questões ambientais.
O terceiro capítulo é dedicado à Sociedade Rural Brasileira, cujas visões de classe são expressas em outra revista A Rural, também pouquíssimo explorada por historiadores. Coerente com suas bases sociais, a entidade procuraria defender os interesses dos grandes cafeicultores, agropecuaristas e empresas agroindustriais. Em nome deste grupo, a SRB se poria radicalmente contra qualquer alteração da estrutura fundiária no país, na defesa de uma posição assentada na intocabilidade da propriedade territorial. Mas a entidade também criou uma dada concepção de reforma agrária que se consubstanciou na defesa de uma política agrícola e na construção de uma nova imagem do “moderno” produtor rural, “de cujos atributos a entidade ressaltava o uso da tecnologia/pesquisa de ponta”.
Mas se a história do campo brasileiro tem a marca da complexidade, parece-nos óbvio que suas demandas e perspectivas não se resumem apenas a duas entidades de classe. Para além do dualismo e das disputas entre a SNA e a SRB, o quarto capítulo é dedicado ao estudo da Organização das Cooperativas Brasileiras, umas das mais jovens agremiações patronais que, após a abertura política, tornar-se-ia a grande força dirigente do patronato “agrário” nacional. Na OCB, o foco é o apelo ao cooperativismo, enquanto expressão maior da democracia e do igualitarismo. Entende-se assim que a reforma agrária defendida pela entidade está assentada na ideia do cooperativismo. Seus dirigentes se veem como os porta-vozes do que há de mais moderno: o agronegócio, modernizando a agricultura brasileira em bases empresariais e internacionalizadas. A atuação da entidade é ainda o exemplo emblemático das estratégias de construção de hegemonia e de representação política no interior do Estado Brasileiro.
O coroamento desta hegemonia – expressa na consolidação do papel e importância do agronegócio – é exemplificado pela criação da Associação Brasileira de Agribusiness, objeto do último capítulo. Em nome do novo – o agronegócio – e da necessidade de encontrar novos canais de representação política, a ABAG, como é comumente chamada, constitui-se na face mais obscura do poder dos empresários rurais, não apenas como uma entidade patronal de defesa de seus interesses de classe, mas como uma agremiação de empresas. A “responsabilidade social dos empresários do agronegócio com a sustentação alimentar de uma comunidade internacional altamente ‘globalizada’ seria o grande argumento de sua legitimação e da produção do consenso em âmbito nacional”. Na construção deste discurso e na falácia do consenso, a sociedade brasileira condena – sem ao menos se dar a conhecer – a pequena produção familiar que, mais uma vez, é refém de valores sociais que lhe são impostos de fora: atrasada, antiprodutiva, sem função.
Há, em suma, um novo projeto para a agricultura brasileira, vendido em prosas e versos nas campanhas publicitárias, nas propostas do governo, nas telenovelas, nos jornais. Tal projeto – o agribusiness – dificulta o nosso olhar sobre os problemas e mazelas do campo brasileiro e deslegitima e condena ao esquecimento a trajetória e luta dos pequenos agricultores deste país, responsáveis – eles sim – por parte ainda importante da produção de alimentos do Brasil. Eu conto nos dedos quantos historiadores estão cientes desta elementar informação…
Márcia Motta – Doutora em Historia e Professora da Universidade Federal Fluminense.
Memorias de insurgencia: historias de vida y militância en el MLN-Tupamaros – ALDRIGHI (HO)
ALDRIGHI, Clara. Memorias de insurgencia: historias de vida y militância en el MLN-Tupamaros. 1965-1975. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2009. 456p. Resenha de: LEITE, Isabel Cristina. História Oral, v. 13, n. 2, p. 189-192, jul.-dez. 2010.
O imperativo no olvidar tornou-se a tônica dos países do Cone Sul que recentemente passaram por situações de arbítrio e violações dos direitos humanos sob o signo de ditaduras civil-militares. A década que se seguiu aos anos 2000 foi marcada pela ascensão ao poder de presidentes que tiveram algum tipo de militância contra esses governos. Deste modo, veio à baila, em graus diferentes e sobre temas diversos (seja a questão da abertura de arquivos, seja a punição de militares), o debate acerca da revisão do passado, no sentido de se fazer justiça às vítimas desses regimes.
A eleição presidencial de 2009 no Uruguai foi acompanhada de dois plebiscitos polêmicos. Todavia, o que nos importa aqui é o que se refere à aprovação de um projeto de lei apresentado pela Frente Ampla, que previa a anulação da Ley de Caducidad,1 promulgada em dezembro de 1986. Se, por um lado, as eleições deram vitória a Jose Mujica, candidato da Frente Ampla (cujo passado fora de militância na guerrilha urbana dos Tupamaros), por outro, o plebiscito foi marcado pela derrota do referido projeto de lei, tirando de cena a possibilidade, naquele momento, de se levarem os militares ao banco dos réus.
É neste contexto histórico que Clara Aldrighi lançou Memorias de insurgencia no ano de 2009. A historiadora atualmente é docente de História Contemporânea na Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación da Universidad de la República, e na juventude também integrou o Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
A organização guerrilheira MNL-Tupamaros foi a mais destacada dentre as demais organizações uruguaias. Sua gênese ocorreu antes mesmo do período militar (1973-1985). Ela surgiu no ano de 1962, congregando em seu corpo de militantes diversos segmentos da sociedade, tais como profi ssionais liberais, professores, operários e estudantes. Apesar da infl uência cubana, sua opção de luta armada foi via guerrilha urbana. O auge da organização – que naquele momento conquistou a simpatia de grande parcela da população – ocorreu em 1968, após uma série de ações bem-sucedidas que evitavam o enfrentamento direto com a polícia e não faziam uso indiscriminado da violência.
Suas principais operações consistiam em denúncias de corrupção do governo, demonstrações de força e poder de fogo, bem como expropriações fi nanceiras. A partir da década de 1970, houve um refl uxo do apoio popular, dada a guinada para a militarização por parte do grupo (Padrós, 2005, f. 289-299).
É por meio de trajetórias individuais, tendo a história oral como metodologia de investigação, que Clara Aldrighi reconstrói a experiência tupamara e lança luzes no ambiente político e cultural em que surgiu o grupo.
Citando Isaiah Berlin, a historiadora justifi ca sua opção teórico-metodológica: “comprender la historia es comprender lo que los hombres hicieron en el mundo en que se encontraron, lo que exigieron de él. Cuales fueron las necesidades sentidas, las metas, los ideales.” (p. 8).
O livro é uma compilação de 17 entrevistas com antigos militantes tupamaros, sendo cinco delas realizadas com integrantes da direção do grupo.
Este conjunto de entrevistas é parte de um montante que a autora levou cerca de uma década para coletar, e que foram utilizadas para a elaboração de dois outros trabalhos: o livro La izquierda armada: ideología, ética e identidade en el MNL-Tupamaros (2001), e o artigo “Chile, la gran ilusión” (2006). A seleção dos depoimentos publicados forma um mosaico de experiências e opiniões, por vezes contraditórias, sobre temas sensíveis acerca do período, como a repulsa ou a reivindicação desse passado guerrilheiro.
Os depoimentos foram divididos em dois blocos, sendo o primeiro com oito entrevistas, abarcando o período de 1965 a 1972, de forma que vislumbra a fundação do grupo, seu auge em 1968, suas ações exemplares, as relações intersujeitos, a vida privada e as experiências traumáticas de cárcere e tortura. O segundo bloco abrange os anos entre 1973 e 1975, e trata de temas variados, tais como os exílios chileno, cubano e argentino, questões de gênero, a fragmentação do grupo e a formação de outros, desaparecimentos forçados e a tentativa de reorganização do agrupamento no Uruguai.
A iniciativa deste tipo de obra é válida e importante, na medida em que há carência de publicações de fontes orais, primárias, na íntegra. Tais fontes possibilitam aos historiadores, sobretudo aos que se dedicam ao estudo da memória e seus usos políticos, refl etirem sobre questões inerentes à memória, a exemplo das suas ressignifi cação e construção social que dão forma à identidade do grupo (Groppo, 2002, p. 190).
Metodologicamente, torna-se um desafi o lidar com depoimentos. Atualmente, a historiografi a latino-americana tem trabalhado no sentido de dar atenção ao testemunho, todavia, não o tomando como “ícone da verdade”, a exemplo do que ocorreu nos primeiros anos após as ditaduras militares (Sarlo, 2007, p. 56). De acordo com Florencia Levin, “o testemunho não pode tomar o lugar da explicação, da argumentação e da construção argumentativa do historiador, senão não haveria História, somente memória”, ou melhor, completa, “nem sequer é História Oral, é mais bem uma memória do testemunho” (Levin, 2009, p. 7).
As dinâmicas de lembrar e esquecer ocorrem no momento presente, todavia, sua temporalidade é subjetiva. A todo tempo se remete ao passado, enquanto cobra vínculo com o presente e busca projeções para o futuro; por isso, há a necessidade de se historicizar a memória, analisado as transformações pelas quais passa cada um dos atores sociais e o que recordam ou esquecem ( Jelin, 2002, p. 3). Para além destes dramas, esse conjunto de fontes nos dá indicações acerca da realidade de outros países que lidaram com a mesma experiência – no caso, a autoritária – e como a memória deste passado (aqui, de guerrilha) vem sendo tratada, como os envolvidos lidam com a questão.
Referências
GROPPO, B. Las políticas de la memoria. Revista Sociohistórica: Dossier Las políticas de la memoria, n. 11-12, p. 187-198, 2002.
JELIN, E. Comemoraciones: las disputas em las fechas in-felices. Madrid: Siglo XXI, 2002.
PADRÓS, E. S. Como el Uruguay no hay…: terror de Estado e segurança nacional no Uruguai. Tese (Doutorado em História)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
SARLO, B. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
URUGUAY. Ley Nº 15.848. Funcionarios militares y policiales. Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretension punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985. Montevideo, 1986. Disponível em: <http://nulidadleycaducidad.org.uy/node/4>. Acesso em: 18 jul. 2011.
1 “Se reconoce que há caducado el ejercicio de la pretension punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985.” (Uruguay, 1986).
Isabel Cristina Leite – Doutoranda em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Ditadura militar na Bahia – ZACHARIADHES (EH)
ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro (org.). Ditadura militar na Bahia: Novos olhares, novos objetos, novos horizontes. Salvador: UFBA, 2009. Resenha de: FERREIRA, Jorge. A ditadura militar na Bahia. Estudos Históricos, v.23 n.46 Rio de Janeiro July/Dec. 2010.
Em 1985, a ditadura instaurada no Brasil com o golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart chegou ao fim. Trata-se, em termos históricos, de evento bastante próximo. Superando o preconceito de que não poderiam estudar acontecimentos muito recentes, diversos historiadores dedicaram-se a estudar o regime militar imposto em 1964. A ditadura tornou-se objeto de pesquisa dos historiadores brasileiros com resultados muito instigantes.
É nesse contexto que vem a público o livro organizado por Grimaldo Carneiro Zachariadhes, intitulado Ditadura militar na Bahia. Novos olhares, novos objetos, novos horizontes (UFBA, 2009). O livro, resultado de pesquisas originais desenvolvidas por pesquisadores que integram o Núcleo de Estudos sobre o Regime Militar (NERM), aborda diversos temas relativos ao regime militar no estado. Não é difícil perceber, nos vários capítulos da obra, como os historiadores brasileiros, sem abrir mão do rigor metodológico e do trabalho de pesquisa documental, têm apresentado resultados de grande qualidade voltados para o público interessado em conhecer seu próprio passado.
Inicialmente, um problema apresentado à sociedade brasileira e que muitos ainda têm resistências em admitir: o apoio encontrado pela ditadura em diversos segmentos da sociedade brasileira. Ediana Lopes de Santana, por exemplo, abre o livro apontando para o processo de radicalização entre os movimentos que lutavam pelas Reformas de Base durante o governo Jango e os conservadores que resistiam em abrir mão de seus privilégios. Muitos movimentos de mulheres, segundo a autora, surgiram na época, mobilizados contra o governo Goulart. A mais conhecida dessas organizações foi a Campanha da Mulher pela Democracia. Embora defenda que por detrás dessas manifestações femininas estivessem os homens do IPES e do IBAD, especificamente na Bahia isso não ocorreu. No estado, existiam diversas organizações femininas, mas não houve movimentos organizados de mulheres de oposição ao governo Goulart. Foi somente após a consolidação do golpe, em 6 de abril de 1964, que as mulheres baianas de classe média se organizaram e foram às ruas apoiar o novo regime.
Outro setor a apoiar a ditadura foi o protestantismo histórico. Elizete da Silva, em instigante pesquisa, demonstra o apoio de lideranças batistas e presbiterianas ao regime militar. Assustados com o crescimento das esquerdas durante o governo Goulart, os religiosos, com medo do comunismo, apoiaram o golpe e produziram discursos legitimadores do governo autoritário. Alguns, inclusive, colaboraram com as forças de repressão delatando seus próprios irmãos de fé. A proximidade entre os protestantes com a ditadura culminou com a nomeação de um político batista para a prefeitura de Salvador. Por esse motivo que, com razão, muitos qualificam o regime de “ditadura civil-militar”. Afinal, é muito difícil os militares se afirmarem no poder sem o apoio dos civis.
Mas não foram apenas mulheres e religiosos de classe média que legitimaram a ditadura. Segundo pesquisa de Alex de Souza Ivo, sindicalistas também o fizeram. Durante o golpe militar, as unidades da Petrobrás na Bahia, em particular a refinaria de Mataripe, sofreram fortíssima repressão, com prisões e demissões. As lideranças dos sindicatos petroleiros haviam se engajado no movimento pelas reformas de base e tiveram importante atuação no Comando Geral dos Trabalhadores. Os golpistas civis e militares os conheciam, daí a repressão que, rapidamente, desarticulou qualquer resistência. Mas a intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos dos petroleiros chamou a atenção de dois dirigentes sindicais que haviam sido afastados do Sindipetro/Refino, em janeiro de 1963. Em carta aos diretores da refinaria de Mataripe, eles apresentaram-se como participantes da “Revolução” e atacaram, segundo suas próprias palavras, os colegas integrantes do “comuno-peleguismo”. Eles também formularam sugestões para o regime conseguir o apoio dos operários. Enquanto muitos sindicalistas eram presos e operários perseguidos abandonavam os empregos, alguns procuravam tirar proveito da situação.
Embora tenha sido, desde o início, um regime conhecido pelas práticas repressivas e autoritárias, a ditadura encontrou apoio social. José Alves Dias apresenta os resultados de sua pesquisa sobre a repressão na cidade de Vitória da Conquista, demonstrando que os estudos locais podem oferecer novas e diferentes percepções de um mesmo processo ocorrido nos grandes centros. Antonio Mauricio Freitas Brito, por sua vez, preocupa-se com o movimento estudantil em Salvador no ano de 1968. Tratou-se de um movimento bastante mobilizado. Milhares de estudantes foram às ruas protestar pela falta de vagas nas Universidades. Também realizaram greves de protesto pelo assassinato do estudante Edson Luís no Rio de Janeiro, contra o corte de verbas para o ensino superior e o acordo MEC-USAID. Conflitos com a polícia, passeatas, panfletagens e pichações foram ações muitos comuns. Com o AI-5, diversos estudantes foram obrigados a abandonar a universidade, e a recorrer ao exílio político ou à clandestinidade.
As organizações armadas revolucionárias também fizeram parte das preocupações dos pesquisadores que participam do livro. Sandra Regina Barbosa da Silva Souza realizou importante pesquisa sobre a atuação da Vanguarda Armada Revolucionária-Palmares, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e do Movimento Revolucionário Oito de Outubro. Recorrendo aos métodos da História Oral, a autora demonstra a interiorização dessas organizações e sua atuação em diversos municípios da Bahia. A pesquisa questiona as teses que consideram a Bahia como um estado em que não teria havido oposição armada ao regime, sendo Salvador apenas uma “área de recuo”. Cristiane Soares de Santana, também recorrendo à História Oral, preocupou-se especificamente com outra importante organização revolucionária que também atuou na Bahia, a Ação Popular. No texto, conhecemos as vivências e experiências dos revolucionários apistas no estado, particularmente durante o processo conhecido por “inserção na produção”, quando muitos deles trabalharam em fábricas e nas plantações de cacau e mamona.
Ao lado da oposição armada à ditadura, encontramos no livro a atuação de setores moderados. A pesquisa do organizador da coletânea, Grimaldo Zachariadhes, resgata o papel do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela na arquidiocese de Salvador. Ele tinha no diálogo sua maior arma. Seja com políticos de esquerda, com militares de direita, com membros do clero conservador ou dos adeptos da Teologia da Libertação, Dom Avelar marcou presença na política da Bahia durante a ditadura. Sua moderação política e sua insistência no diálogo permitiram que ele protegesse religiosos das perseguições militares e intercedesse a favor dos presos políticos. Margarete Pereira da Silva também se preocupa com a atuação da Igreja Católica, mas com os adeptos da Teologia da Libertação na cidade de Juazeiro. Esse setor do clero, insatisfeito com a penetração predatória do capitalismo no campo e a miséria daí resultante, publicou, em 1973, importante documento intitulado Eu ouvi os clamores do meu povo, com contundentes denúncias sobre os baixíssimos índices sociais no Nordeste brasileiro. O texto provocou grande mal-estar nas relações entre Igreja e governo militar. A autora nos leva a conhecer as atividades do clero católico diante da construção da barragem de Sobradinho, particularmente da diocese de Juazeiro e da Comissão Pastoral da Terra na defesa das populações que deveriam ser retirada das áreas alagadas pela barragem. Mesmo sob grande pressão dos militares, o bispo de Juazeiro, Dom José Rodrigues de Souza, não recuou na luta em defesa dos pobres que perderiam o pouco que tinham com o lago que se formaria.
No engajamento político contra a ditadura, outras opções surgiram à luta armada. Maria Victoria Espiñeira revela a participação de muitas pessoas que atuaram na cidade de Salvador em duas frentes contra o regime militar. Uma delas, composta majoritariamente por militantes do Partido Comunista Brasileiro, formou a Ala Jovem do Movimento Democrático Brasileiro, único partido de oposição. A outra atuou no chamado Trabalho Conjunto da Cidade de Salvador, agrupando associações profissionais, políticos, estudantes e representantes de associações de bairros. Muitos eram católicos adeptos da Teologia da Libertação. A Igreja progressista e o PC do B controlavam a direção da organização. A Ala Jovem e o Trabalho Conjunto atuaram diante de grandes adversidades. Os jovens comunistas que atuavam dentro do MDB, por exemplo, participaram de um partido político que, embora formalmente de oposição, era dirigido por “adesistas” à ditadura. Mais tarde, sofreram perseguição dos militares. Ora aliados, ora adversários, a Ala Jovem e o Trabalho Conjunto criaram formas de luta contra o autoritarismo do regime.
Outros três trabalhos igualmente contribuem para compreender os tempos difíceis da ditadura e os personagens que se engajaram na luta contra o poder civil-militar na Bahia. Sílvio César Oliveira Benevides reconstitui a greve de secundaristas no Colégio Estadual da Bahia, conhecido como Central, em 1966 e Izabel de Fátima Cruz Melo apresenta as Jornadas de Cinema na Bahia entre 1972 e 1978. O livro se encerra com o trabalho de Joviniano de Carvalho Neto, analisando o II Congresso da Anistia ocorrido em Salvador em novembro de 1979. Trata-se de trabalho que mostra as diversas propostas de anistia e a que foi implementada pela ditadura. O artigo é instigante, sobretudo quando a “anistia recíproca”, aquela que beneficiou os torturadores, retorna ao debate público. O artigo de Joviniano contribui, sobretudo, para a preservação da memória da luta pela anistia no Brasil durante a ditadura militar.
Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos e novos horizontes é resultado de esforço coletivo de historiadores interessados no estudo de um período especialmente difícil no Brasil: a ditadura civil-militar. Atualmente, em diversas universidades, o tema da ditadura tem atraído a atenção de muitos historiadores.
São vários os motivos que instigam a curiosidade sobre uma época tão retrógrada na vida política do país. Quero chamar a atenção para dois deles. O primeiro é o interesse do historiador por personagens e atores sociais que atuaram naqueles tempos de autoritarismo. No caso do livro, encontramos sindicalistas e cineastas, estudantes universitárias e secundaristas; bispos progressistas e católicos marxistas; jovens que optaram por pegar em armas e outros que preferiram a luta institucional, todos vivendo em um tempo muito diferente do nosso. Conhecer tais vivências e experiências, saber como homens e mulheres inventaram a participação política em um regime autoritário, é um bom motivo para voltar-se para a época da ditadura militar.
O segundo estímulo provém do fato de que estudar a ditadura é conhecer um período em que não havia as prerrogativas do regime democrático, período em que os direitos civis foram suspensos, os direitos políticos cerceados e as reivindicações por direitos sociais consideradas “subversivas”. Quando estudamos a ditadura, no mesmo movimento, valorizamos a democracia. Ressaltamos a importância dos direitos de cidadania dentro do regime democrático. Mostramos, para as novas gerações, como é ruim viver sem o direito de expressar livremente o pensamento, de ser preso sem processo formado, de ter a casa invadida sem ordem judicial, de não ter o direito de eleger os governantes, de ser vigiado em sala de aula e de correr o risco de morrer devido a bárbaras torturas, para citar algumas situações do passado.
A leitura de Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos e novos horizontes nos leva a esse salutar e instigante “estranhamento” do nosso tempo com o tempo da ditadura. Os estudos sobre a ditadura militar, inevitavelmente, nos levam a valorizar o regime democrático.
Jorge Ferreira – Professor titular de História do Brasil do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil (j[email protected]).
El fuego, el agua y la Historia. La dictadura en los escenarios educativos: memorias y desmemorias – KAUFMANN (CA-EH)
KAUFMANN, Carolina. El fuego, el agua y la Historia. La dictadura en los escenarios educativos: memorias y desmemorias. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007. 134p. Resenha de: ALONSO, Fabiana. Clío & Asociados. La Historia Enseñada, n. 13, p.181-182, 2009.
Fabiana Alonso Universidad Nacional del Litoral El ensayo de Carolina Kaufmann convoca la relación problemática entre las memorias y la inhibición de la memoria dolorosa y traumática de nuestro pasado más cercano.
Todo ello en referencia a la escuela, entendida como uno de los ámbitos donde se construye la memoria pública y se libran disputas –manifi estas o veladas– por la imposición de determinados signifi cados. Con prólogo de Graciela Frigerio, el libro –que integra la colección “Formación docente. Historia”, dirigida por Gonzalo de Amézola– se organiza en cinco capítulos, que son reelaboraciones y reescrituras de trabajos publicados.
Las preocupaciones que dan forma al texto se inscriben en el marco más general de los debates sobre los vínculos entre historia y memoria y en el proceso de construcción del campo de la historia reciente en el ámbito académico argentino. Asimismo, se sitúan, en palabras de la autora, en el cruce de senderos trazado por políticas de la memoria, lugares de la memoria, políticas culturales, producciones estéticas y educación.
Un imperativo ético recorre el libro y es, declarado por la autora, la necesidad de ganarle a la pedagogía del silencio en las aulas, para que la dictadura no quede reducida a una efeméride. En relación con la enseñanza, Kaufmann señala la necesidad de contextualizar la dictadura en la historia argentina contemporánea así como la importancia de una perspectiva comparada que sitúe esos años en el marco latinoamericano. Pasa revista a eventos académicos y reseña producciones de organismos de derechos humanos, universidades y sindicatos, experiencias estéticas y propuestas didácticas de museos con el objeto de plantear posibles articulaciones con la enseñanza del pasado reciente.
Asimismo, no deja de puntualizar una serie de défi cits: insufi cientes producciones académicas, escasa bibliografía especializada para docentes; a los que se suman diversos tipos de condicionamientos sociales, políticos y hasta institucionales.
Respecto de la relación entre pasado reciente y educación, Silvia Finocchio señala que “(…) la historia reciente no ha sido abordada de modo sostenido por la enseñanza de la historia porque así lo pautó una larga tradición y porque a los docentes no se les proporcionaron lecturas que fortalecieran su tarea. Sin embargo, al tiempo que la escuela enfrentaba esas difi cultades, las políticas de la memoria lograron sedimentar los sentidos democráticos –y antidictatoriales– del Nunca Más entre los jóvenes y la educación abrió, lentamente, diversos espacios de mediación entre el pasado y el presente”.1
Yosef Yerushalmi advierte que un grupo o una colectividad recuerdan si el pasado es activamente transmitido a las generaciones contemporáneas y éstas pueden otorgarle sentidos propios.2
Lo que llamamos memoria se trata de un movimiento dual de transmisión y recepción de hechos y circunstancias pasados. Difícilmente en una sociedad sea posible encontrar una única versión del pasado porque la memoria está tan atravesada por tensiones y luchas como la realidad social. El imperativo de la transmisión se plantea cuando una sociedad se ha visto sometida a conmociones profundas, y esto pone en evidencia tanto la difi cultad de procesar el pasado como la necesidad de ofrecer a las generaciones futuras un nexo con su propia historia. Pero no se trata de un mecanismo automático, pues los receptores reinterpretan los hechos y las circunstancias del pasado y pueden asignarles nuevos sentidos.
Precisamente, focalizando la escuela como un espacio de mediación entre el pasado y el presente, Carolina Kaufmann plantea los desafíos de una transmisión que no remita a un sentido unívoco ni quede anclada en la repetición sino que, por el contrario, contribuya a un diálogo intergeneracional.
Hugo Vezetti sostiene que en la Argentina actual la memoria es una herencia de la dictadura y que el horizonte de expectativa ha sido la democracia.3 Por su parte, Andreas Huyssen advierte que “(…) asegurar el pasado no es una empresa menos riesgosa que asegurar el futuro”. 4 Tal aseveración nos lleva, necesariamente, a considerar que las memorias son construcciones que refi eren al pasado pero están ligadas al presente y al futuro. Al presente, porque la rememoración, como búsqueda activa, no es algo espontáneo sino que implica formas de recuperación del pasado en las que nos sentimos involucrados, pues se trata de un pasado que sigue interviniendo en el presente. Al mismo tiempo, las memorias están ligadas al futuro porque esas representaciones no se hallan escindidas de los horizontes de expectativas de los grupos que las producen.
La de la dictadura argentina es una temática en la que, como pocas, se dan cita esas cuestiones con singular intensidad. Por ello, resulta auspicioso un libro que, como éste, instala la problemática en el ámbito educativo.
Notas
1 Finocchio, S.: “Entradas educativas en los lugares de la memoria” en Franco, M. y Levin, F. (comp.) (2007): Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción, Paidós, Buenos Aires, p. 266.
2 Yerushalmi, Y.: “Refl exiones sobre el olvido” en Yerushalmi y otros (1999): Usos del olvido, Nueva Visión, Buenos Aires.
3 Vezzetti, H.: “Confl ictos de la memoria en la Argentina. Un estudio de la memoria social” en Perotin-Dumon, A. (ed.): Historizar el pasado vivo en América Latina.
Publicación electrónica [http:/etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es], 28/10/07.
4 Huyssen, A. (2001): En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, FCE, Buenos Aires, p. 37.
Fabiana Alonso – Universidad Nacional del Litoral
[IF]
Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginação social no Brasil | Carlos Fico
Resenhistas
Ana Lúcia da Silva
Referências desta Resenha
FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginação social no Brasil. Resenha de: SILVA, Ana Lúcia da. Diálogos. Maringá, v.2, n.1, 217 -220, 1998. Sem acesso a publicação original [DR]






