Posts com a Tag ‘Historiografia’
La historiografía en tiempos globales | Ingrid Simson e Guillermo Zermeño Padilla
A modo de exergo, los historiadores Ingrid Simson y Guillermo Zermeño comienzan la introducción de La historiografía en tiempos globales con esta frase de Michel de Certeau “la historiografía se mueve constantemente junto con la historia que estudia, y con el lugar histórico donde se elabora” (p. 7). Desde ese momento sabemos que nos encontramos ante una obra que va a cuestionar la escritura de la historia, sus condiciones de posibilidad y sus relaciones con nuevas formas de entender el mundo. El texto es una selección de algunas de las ponencias revisadas y ampliadas que tuvieron lugar en el simposio “La historiografía en tiempos globales” durante el XVII Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos ( AHILA) en Berlín en 2014. Su centro de atención, como el título lo indica, gira en torno al reconocimiento de una realidad interconectada y globalizada que afecta la forma en la que pensamos y hacemos la historia.
En las últimas décadas, la presencia de la historia global es cada vez más notable en la academia, revistas, programas de posgrado, libros y espacios de debates historiográficos. Su ascenso durante los años noventa representó una atractiva reactivación de la historiografía en un momento en el que la historia moderna, progresiva y lineal, entraba en crisis. Sin embargo, como bien lo plantean los autores en la introducción, quienes contribuyen a esta corriente aún no han llegado a un consenso acerca de su objeto de estudio o de las metodologías de este nuevo campo y quedan algunas interrogantes por responder: “¿Cómo distinguirla, por ejemplo, de la historia universal o de la historia mundial? y ¿qué relación hay entre la historia global y la globalización?” (p. 8). Leia Mais
Jörn Rüsen: teoria/historiografia/didática | M. M. D. Oliveira, F. C. F. Santiago Júnior e C. R. C. Lima
O livro Jörn Rüsen: teoria, historiografia, didática, lançado em 2022, é uma coletânea que põe em diálogo diversos prismas da vasta obra do historiador alemão, especialista em Teoria e Didática da História1. A publicação resulta do evento I Seminário Jörn Rüsen, realizado entre os dias 21 e 25 de dezembro de 2015, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ao debater com a obra de Rüsen, os diversos autores evidenciam as relações entre Teoria da História, Didática da História e Ensino de História.
Para Arthur Alfaix Assis – autor do artigo História, teoria e liberdade: saudação a Jörn Rüsen2 – uma das principais linhas de pensamento de Rüsen refere-se à questão: “como, a partir de tradições e traumas herdados do passado, seria possível agir no presente, visando projetar um futuro no qual sejamos livres para criar algo novo?”. Leia Mais
Povo em lágrimas, povo em armas | Georges Didi-Huberman
Georges Didi-Huberman | Imagem: Consulta Cinema
Um gesto de lamento. Uma mão crispada em luto torna-se uma mão levantada em riste. A lamúria converte-se em ato de revolta. Essa dinâmica, presente em Bronenosets Potyonkim (O Encouraçado Potemkin, URSS, 1925), é o motor que aciona a análise nas páginas do mais recente livro publicado em língua portuguesa de Georges Didi-Huberman. Classificar o livro é árdua tarefa, assim como talvez seja classificar seu escritor.
O autor já foi chamado de historiador de arte, teórico da arte, simplesmente historiador e, mais recentemente, filósofo. A obra em questão consiste em uma coletânea de ensaios sobre cinema-história, além de um compêndio de teoria-metodologia de análise da imagem, cujo objeto é o cinema de Serguei Eisenstein. A força motriz dessa reflexão é a dialética contida na sequência descrita nas linhas iniciais, retomada várias vezes durante a obra – movimento contido no próprio título: Povo em lágrimas, povo em armas. 2 Leia Mais
Compromiso militante y producción historiográfica. Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jobet (1930-1973) | Gorka Villar Vásquez
Gorka Villar Vásquez | Imagem: Researchgate
El libro que presentamos estudia la producción historiográfica de Hernán Ramírez Necochea (1917-1979) y Julio César Jobet (1912-1980), a propósito de sus compromisos militantes en los partidos Comunista y Socialista de Chile, respectivamente. Lejos de reproducir lugares comunes sobre ambos historiadores, esta obra –escrita en el marco de una tesis de magíster en Historia– aborda de manera prolija, metódica y fundamentada a dos exponentes de la historiografía marxista clásica. De esa manera, Gorka Villar nos propone tomar distancia de visiones reduccionistas y homogeneizadoras con respecto al pensamiento histórico de ambos intelectuales, así como de esfuerzos apologéticos en su defensa. Por el contrario, nos invita a comprender la relación entre producción historiográfica y compromiso político de manera contextualizada, examinando complejos espacios de disputa sociopolítica en el siglo XX chileno, como lo eran el campo académicohistoriográfico y la opinión pública.
Compromiso militante y producción historiográfica…, se extiende desde 1930 – década en que ambos historiadores iniciaron sus estudios en la Universidad de Chile, así como sus respectivas militancias políticas– hasta el golpe de Estado en 1973, que significó una fractura irreparable de la comunidad democrática chilena en la que participaron Hernán Ramírez y Julio César Jobet. A lo largo de cinco capítulos, esta obra nos muestra el modo en que los historiadores se encuentran vinculados a diferentes espacios culturales y sociopolíticos, permitiéndonos conocer desde diferentes ángulos los contextos de producción de la historiografía chilena en el siglo XX. En ese sentido, Gorka Villar argumenta que, si bien ambos historiadores marxistas fueron militantes e influidos por sus compromisos políticos, también tuvieron la capacidad de incidir en sus partidos, al mismo tiempo que eran respetados académicos de la Universidad de Chile y fueron influenciados por la historiografía liberal de 1930 (p. 20). Estamos en presencia, entonces, de un fenómeno complejo situado en el siglo XX chileno que guarda varios niveles y ejes de análisis, vinculados a la historia intelectual, a la nueva historia política, a la historia de la historiografía y a los usos políticos de la historia. Leia Mais
El otro posible y demás ensayos historiográficos | Alexander Torres Iriarte
Me resulta muy grato escribir unas breves líneas sobre la más reciente producción intelectual del historiador Alexander Torres Iriarte: El otro posible y demás ensayos historiográficos, publicado por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Se trata de un texto que reúne ocho ensayos de carácter historiográfico en el que el autor analiza, en los cinco primeros, el proceso histórico venezolano comprendido entre los años 1815 y 1820, destacando la actuación del Libertador Simón Bolívar en ese período y en los que examina, con ojo crítico, dos documentos fundamentales: la Carta de Jamaica y el Discurso ante el Congreso de Angostura. En otros dos ensayos realiza acercamientos sobre Simón Rodríguez y Andrés Bello, personajes con los que nuestro autor parece tener una especial predilección, y la historiografía venezolana posee, aún, una deuda que pone en evidencia lo que desde el Centro Nacional de Historia han llamado: Nudos Críticos en el análisis de nuestros procesos históricos, queriendo destacar con esto, la empecinada obsesión de escribir historia centrada en nuestra epopéyica gesta emancipadora y en la pléyade de nuestro procerato independentista, dejando en el olvido u otorgando poco significación a personajes y procesos sobre los que estudios sistemáticos podrían arrojar visiones y perspectivas distintas de nuestro acontecer histórico. El libro concluye con un ensayo en el que se analiza la condición de José de Oviedo y Baños, como primer historiador venezolano.
Desde esta perspectiva y poniendo de relieve su condición de historiador profesional, Alexander Torres Iriarte se adentra en el contexto sociopolítico del hombre de las dificultades, para mirarlo y comprenderlo en el tiempo histórico en el que estaba tomando las decisiones que finalmente ejecutó, y construyendo las ideas que plasmó en documentos trascendentales como los presentados en Jamaica y Angostura. Leia Mais
Historiografía, héroes provinciales y memoria colectiva/Andes. Antropología e Historia/2022
Los textos incluidos en este Dossier afrontan el complejo y poco frecuente desafío de analizar los modos en los que, desde tradiciones historiográficas, ensayísticas o desde los organismos comprometidos con la construcción de la memoria de distintos espacios provinciales se exploraron dimensiones sustantivas de los pasados locales. Debe señalarse, por otra parte, que articular la historia nacional con las historias provinciales constituyó uno de los desafíos centrales de quienes construyeron las primeras lecturas del pasado rioplatense a partir del mediados del siglo XIX. Estas lecturas otorgaron un lugar de privilegio a la acción desempeñada por las élites vinculadas al estado central. Esas primeras interpretaciones fueron construidas por líderes identificados con tradiciones liberales como Mitre quienes, en los primeros tramos de su trayectoria, protagonizaron fuertes conflictos y disputas con líderes provinciales. En este contexto debe subrayarse también que estos relatos construidos a partir de la década de 1850 mayoritariamente desde Buenos Aires exaltaron el papel de un núcleo de figuras ligadas justamente a la ciudad. Leia Mais
Alberto Flores Galindo. Utopía, historia y revolución | Carlos Aguirre e Charles Walker
Alberto Flores Galindo | Foto: Silvia Beatriz Suárez Moncada
Las últimas décadas del siglo XX fueron testigos del ocaso de los «intelectuales públicos», los cuales fueron desplazados paulatinamente por los «técnicos». Estos últimos tienden a proclamar que sus propuestas están basadas en las evidencias, aunque en la mayoría de ocasiones ocultan sus posturas políticas e ideológicas detrás de una «estadística» basada en sesgos de selección. Al mismo tiempo, las direcciones de las universidades han seleccionados cuáles son los géneros o el tipo de publicación válida para la carrera de los investigadores al priorizar los artículos de revistas académicas especializadas, que no suelen ser consultadas fuera de un campo específico del conocimiento. Esta situación ha traído como consecuencia una paradoja: a pesar que la información en la actualidad puede difundirse a una mayor velocidad y llegar a un espectro más amplio de la población, los nuevos conocimientos y los debates en las ciencias sociales y las humanidades demoran más en estar al alcance de un público amplio y toman aún más tiempo en llegar a los textos escolares. Una de las posibles consecuencias de este doble proceso, el reemplazo del «intelectual» por el «técnico» y la separación entre el investigador y una audiencia amplia, es el deterioro del debate sobre los asuntos públicos. Por ello, resulta interesante leer la compilación de ensayos que hacen Carlos Aguirre y Charles Walker sobre uno de los intelectuales públicos peruanos más importantes: Alberto Flores Galindo. Leia Mais
No Enxame: perspectivas do digital | Byung-Chul Han
Manuel Castells, em sua clássica obra Sociedade em Rede, afirmou que no final do segundo milênio da era cristão, “uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação, começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado” (2000, p. 39). O sociólogo não pode prever que, mais do que modificar e “remodelar a base material”, iriamos ser arrastados para estes meios tecnológicos, em uma velocidade que ultrapassou o limite do material, chegando ao imaterial. Dessa forma, vivemos hoje um momento de dúvida, crise, instabilidade, sem sabermos para onde vamos.
Devido a este cenário, a obra de Han se apresenta como necessária aos estudos das humanidades, e, também, diretamente à historiografia. Afinal, muito destas transformações afetam diretamente o trabalho do/a historiador/a. Leia Mais
Le travail de l’histoire | Étienne Anheim
Em 2010, Gérard Noiriel, no verbete Métier/communauté, incitava-nos à reflexão sobre o conteúdo da prática do métier de historiador. Relendo Marc Bloch, ele nos reportava às tarefas cotidianas que englobam o “ser historiador” em um contexto contemporâneo. Com a passagem de alguns anos, encontro, particularmente, em Étienne Anheim, especialista da cultura erudita do final da Idade Média no Ocidente, um grande esforço para, sociológica e historicamente, pensar acerca da experiência do trabalho do historiador em toda a sua generalidade.
Assim, para esta pergunta que silenciosamente nos acompanha: “o que é ser historiador?”, Étienne Anheim, professor da École des hautes études en sciences sociales (EHESS), em Paris, figurando como observador participante, lança-nos uma resposta: ser historiador é ser pesquisador, professor, orientador, supervisor, avaliador, editor, administrador; e, considerando que a prática historiadora age sobre o si em sua forma de interpretar o mundo, o historiador deve estar preparado para intervir no debate público quando instigado ou convocado. É no trânsito por essas múltiplas tarefas, posições e disposições entrelaçadas que o livro está organizado. Leia Mais
Tópicos em História | Historiæ | 2021
No segundo número de 2021 Historiæ apresenta o dossiê “Tópicos em História” buscando compreender o fazer histórico e o fazer historiográfico por parte de historiadoras e historiadores e, igualmente, estabelecer um diálogo com pesquisadores de outras áreas que contribuem para a construção da História.
O objetivo deste número é apresentar uma diversidade de objetos, temas, metodologias e teorias que compõe a riqueza da pesquisa histórica. Assim, subvertemos a lógica de um dossiê temático para compor um “dossiê multitemático”, valorizando as pesquisas de fluxo contínuo submetidas na plataforma da revista. Leia Mais
Potosí: The Silver City that Changed the World | Kris Lane
Sin ningún manuscrito anterior aún descubierto, la historia de la “Historia de Potosí” como género se inicia con Luis Capoche y su Relación Imperial de la Villa de Potosí de 1585, publicada por vez primera en 1958 como parte de la Biblioteca de Autores Españoles, con un prólogo de Lewis Hanke, y el incuestionable apoyo de Gunnar Mendoza con su amplio conocimiento del archivo que ayudó a conservar y organizar metódicamente en Sucre por muchos años.1 Siete años después, en 1965, fue publicada la Historia de la Villa Imperial de Potosí.2 En ella, Hanke habla de la “Historia de Potosí” como un “capítulo no escrito en la historia de la América Española”.3
El libro de Kris Lane retoma esta gran tradición historiográfica con foco en la “globalidad” del asiento que devino Villa Imperial, realzando su importancia en el mundo de la modernidad temprana. En efecto, Potosí era “mundialmente” famoso en el siglo XVI, siendo bien conocido aun afuera de los dominios de la Monarquía Hispánica, como Lane lo señala en la introducción. Leia Mais
517: Weltgeschichte eines Jahres [Historia mundial de un año] | Heinz Schilling
La transformación de la producción de contenidos históricos, enfocados principalmente en el placer y la experiencia del público, ha significado un cambio también en los géneros narrativos de los libros que manejan estos contenidos, por lo que el género de difusión sigue siendo cada vez más atractivo y variado en el mercado editorial contemporáneo1 . Libros como A people’s History of America —con la variación francesa de Gérard Noiriel—, The Square and the Tower, la serie de historias mínimas que se publican en el Colegio de México, la apasionante biografía Chocolat de Gérard Noiriel o el último éxito en ventas de Francia Histoire mondiale de la France2 son ejemplo de tal transformación pues no solo siguen la regla de oro de usar un lenguaje claro y sencillo para un público amplio sino que también exploran formas diferentes de exposición; de ahí que la linealidad temporal, la unidad de tema y otras limitaciones —a veces propias del rigor académico— se desvanezcan y se traslapen como en una obra de Shakespeare.
En lengua alemana también han aparecido textos similares en esta década3 .El libro de Heinz Schilling 1517 —homónimo en su título con el de Peter Marshall4 —, que apareció en la lista de los best sellers de la revista Spiegel del año 20175 , se inscribe en la categoría comentada aunque hunde sus raíces en la tradicional escritura sinóptica —synoptische Geschichtsschreibung— de la historia universal6 . Se trata de un libro de no ficción —o, como se conoce en Alemania, Sachbuch— que versa sobre un radio geográfico global y una temporalidad que trata de reducirse a una vuelta alrededor del sol: un espacio desbordado y un tiempo restringido, la astronomía por encima de la geología —en términos de John Sterling7 —, la invitación de Mefistófeles a Fausto a ver el mundo en una noche. La labor, a pesar de lo tentadora, resulta más arriesgada que la de Geoffrey Parker en su monumental Global Crisis; que la genial propuesta de Timothy Brooks en Vermeer’s Hat; o que la de Tony Judt en su ya clásico Postwar. Leia Mais
História oral e historiografia: questões sensíveis | Angela de Castro Gomes
Angela de Castro Gomes | Foto: Bruno Leal, 2020
Há algum tempo sabemos como os discursos da memória marcaram um “giro subjetivo” (SARLO, 2012) que continua a pautar redefinições dos modos de pensar os sentidos de fazer história no mundo contemporâneo. Um de seus rastros mais evidentes é o sinal de como a lida com o passado não é objeto exclusivo da historiografia universitária. Diante de questões interligadas como o “‘boom da memória’, a emergência da ‘história pública’ e a crescente preocupação internacional com a ‘(in)justiça histórica’”, é válido destacar a observação de que para a teoria da história manter-se relevante para historiadores/as e para a sociedade em dimensões alargadas deve considerar a “diversidade de mecanismos para lidar com o passado e a forma como tais mecanismos são incorporados, interagem com, e até constituem parcialmente contextos culturais, sociais e políticos mais amplos” (BEVERNAGE, 2020, p. 11 e 15). Leia Mais
Educación, historia y sociedad: el legado historiográfico de Antonio Viñao | Pedro Luiz Moreno Martínez
O alentado livro, organizado por Pedro Luiz Moreno Martínez, não é apenas uma homenagem, mas um balanço historiográfico dos mais profícuos da História da Educação recente, desde o ponto de vista dos pesquisadores espanhóis. Com a competência e seriedade que lhe é peculiar, o autor-organizador passa a limpo a produção historiográfica espanhola a partir do diálogo de 16 historiadores da educação com o legado de Antonio Viñao. Justa homenagem nascida a partir da aposentadoria deste autor das suas funções junto ao ‘Departamento de Teoria e Historia de la Educación’da Universidad de Murcia, no sudeste espanhol.
A obra oferece ao leitor interessado nos estudos historiográficos uma constelação de temáticas desenvolvidas por diferentes historiadores, em diálogo rigoroso e criativo com a obra do homenageado. Iniciando com um olhar de Dollores Garrillo Gallego e Damián Lópes Martínez, professores da Universidad de Murcia, para a trajetória de Viñao quem, formado no campo do Direito converteu-se em uma referência nos estudos em história da educação não apenas na Espanha. Na sequência, é analisadoo lugar ocupado pela Universidad de Murcia na reconfiguração e renovação do campo a partir da década de 1980, em um capítulo assinado por María José Martinez Ruiz-Funes e Ana Sebastián Vicente, professoras da mesma universidade. Aquela renovação, da qual fizeram parte vários dos autores presentes na coletânea, demarcaria a independência dos estudos históricos da educação em relação ao campo pedagógico. Por certo isso contribuiu para que dali surgisse um dos mais vigorosos veios de estudos históricos sobre os fenômenos educativos, reconhecido em praticamente todo o mundo pela força dos seus pressupostos empíricos, teóricos e metodológicos. Leia Mais
Oliveira Lima e a longa História da Independência | André Heráclio do Rêgo, Lucia Maria Bastos P. Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães
Lucia Maria Bastos P. Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães | Fotos: A Hora e CocFioCruz.br

Cai como uma luva, no meu humilde entender, para dialogarmos nesta breve resenha, acerca da imensa contribuição intelectual e historiográfica, que podemos despreocupadamente constatar em cada página da obra Oliveira Lima e a longa história da Independência, organizada por André Heráclito do Rêgo, Lucia Maria P. Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães. Leia Mais
História oral e historiografia: Questões sensíveis | Angela de Castro Gomes
Em continuidade à coleção História Oral e dimensões do público,1 foi lançada, no ano de 2020, a obra História oral e historiografia: Questões sensíveis, organizado por Angela de Castro Gomes. O livro constitui um misto de experiências de pesquisas, análises de narrativas orais sobre diversas temáticas, levantamentos de produções historiográficas das últimas quatro décadas e debates pertinentes sobre as questões sensíveis que envolvem a utilização das fontes orais. O objetivo, como apontado na introdução, foi “fazer um mapeamento […] do impacto que o uso da metodologia da História Oral produziu no campo das pesquisas acadêmicas de História, no Brasil, em especial a partir dos anos de 1980” (Gomes, 2020, p. 7).
Angela de Castro Gomes tem reconhecimento no campo da historiografia oral, sendo uma das propulsoras do campo no Brasil. Iniciou, como lembra no último capítulo do livro, a utilizar a História Oral a partir da segunda metade dos anos de 1970. A autora também foi coordenadora de diversos projetos que tinham como objeto a história política do Brasil República, a história de intelectuais, a cidadania e os direitos do trabalho, a historiografia, a memória e o ensino de história. Além disso, dirigiu o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) dos anos de 1988 até 1994, onde, hoje, é professora emérita; centro este conhecido pelos acervos e pesquisas que se utilizaram da História Oral. Leia Mais
História regional: convergências entre o local e o global | Carlos Eduardo Zlatic
A História regional tem ocupado as pesquisas acadêmicas de forma muito expressiva. É importante sinalizar que o regionalismo, tão silenciado por visões cada vez mais globalizantes, vem preencher lacunas deixadas por matrizes de pesquisa por vezes superficiais. Por outro lado, ainda é comum na academia a sobreposição entre conceito sobre História regional, História local e até mesmo macro-história. Neste sentido a presente obra vem delimitar muito bem o papel dos estudos em História regional no campo das pesquisas historiográficas. A obra apresentada possui uma organização em cinco capítulos, sendo cada capítulo organizado em subcapítulos. O cerne do livro pode ser percebido já em sua apresentação, quando o autor expõe sua observância no campo teórico-metodológico da História regional, além de buscar identificar análises e olhares voltados para o conceito de região. Neste sentido, para o autor, é importante o foco no estudo das regiões e territórios pois são onde ocorrem as ações dos atores sociais, seus afetos, trabalho e lazer.
A obra não se retém a pensar as regiões e territórios enquanto organizações estáticas, mas também possui a sensibilidade de buscar entender o mundo globalizado e suas fronteiras invisíveis. Para o autor a História regional tem como foco as regionalidades e suas especificidades sociais, políticas e econômicas. É importante perceber as relações diretas entre História regional e contextos mais amplos, como também o papel que a História regional possui no desenvolvimento de estudos globais, colocando em “xeque” visões deterministas. Leia Mais
Protagonismo negro em São Paulo: historiografia e história | Petrônio Domingues
Neste livro iluminador, Petrônio Domingues nos oferece uma introdução compreensiva às pesquisas recentes sobre a história e a cultura negra em São Paulo, muitas delas realizadas por estudiosos afro-brasileiros. Leia Mais
Tra Geografía e storiografia | Roberto Nicolai Antonio e L. Chávez Reino
El presente volumen que hemos de remitir tiene sus orígenes en el seminario organizado por la Asociación internacional Geography and Historiography in Antiquity (GAHIA) en la Universita La Sapienza, en Roma, el 23 de noviembre del año 2017. Este encuentro se organizó con la intención de poner en debate las interacciones de la geografía con la historiografía y profundizar en algunos temas y géneros que resultan claves para el desarrollo de este campo en la Antigüedad.
La geografía es una de las ciencias que se van modificando con el paso del tiempo y con un matiz propiamente científico-matemático, descriptivo y etnográfico; sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la evolución del pensamiento matemático ha dirigido estos estudios hacia un carácter más físico y antrópico. La historiografía, por otra parte, tiene un carácter completamente diferente en el desarrollo de la Antigüedad, siendo, en primera instancia, manifestada como un género literario. La geografía podemos considerarla una disciplina que está en una constante relación con otros campos como la practica filosófica –si nos atenemos a las primeras palabras de Estrabón– la filología y, claramente, el género historiográfico, en lo que concierne a la definición de la identidad de las comunidades y la preservación de la memoria. Leia Mais
Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World | Natalie Zemon Davies
O presente trabalho é uma resenha sobre o ensaio intitulado Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World2, de autoria de Natalie Zemon Davis, e que foi primeiramente apresentado, no ano de 2010, durante o Ludwig Holberg Prize Sumposium, em Bergen, na Noruega.
Natalie Zemon Davis é uma historiadora estadunidense e canadense, nascida na cidade de Detroit, no estado de Michigan, Estados Unidos. Após ter realizado a sua graduação no Smith College e o seu mestrado no Radcliffe College, no ano de 1959 ela conclui seu doutoramento na Universidade de Michigan. Foi professora em diferentes universidades como a Universidade de Princeton, a Universidade Brown, a Universidade da Califórnia e a Universidade de Toronto. Suas pesquisas, enquanto historiadora, incluem trabalhos importantes como Trickster Travels3, The Gift in Sixteenth-Century France4, The Return of Martin Guerre5 e Women on the Margins: Three Seventeenth-Century Lives6. Davis recebeu diversos prêmios e reconhecimentos como o grau honorário da Universidade de St. Andrews e a National Humanities Medal. Ambas as condecorações lhe foram entregues no ano de 2013. Leia Mais
História & Distopia: a imaginação histórica no alvorecer do século 21 / Julio Bentivoglio
Bentivoglio, animado pelas reflexões de Hayden White sobre a imaginação histórica e a nova filosofia da história (Cf.: WHITE, 2002), argumenta que uma inédita consciência historiográfica emergiria no alvorecer do século XXI, notoriamente pós-moderna e distópica. Isso significaria dizer, que a forma pela qual o historiador trata, enreda, e apresenta o passado que lhe é disponível, seria resultado de uma experiência da história determinada pela produção de um lugar deslocado, impróprio, fora do eixo e hostil, sendo analiticamente sintetizado pela noção de deslugar. O passado, longe de responder a uma verdade absoluta, é desprendido das coerções praticadas pelo método da ciência histórica, para se deslocar em diversos sentidos que lhe são atribuídos por narrativas, representações e simulacros.
Minha hipótese é a de que acompanhamos a emergência de um novo paradigma poético-linguístico, pré-crítico e meta-histórico. E que esse paradigma, no século XXI, é eminentemente distópico. Ou seja, a atual consciência na historiografia é um modo preciso de pensamento, cuja pré-elaboração do enredo de início é, em si mesma desconfiada, seja das capacidades científicas da história, seja das realizações da historiografia, seja das evidencias ou da materialidade do passado, seja das verdades produzidas pela história a ele. O passado tornou-se deslocamento, deslugar (BENTIVOGLIO, 2019, p. 58).
Tal definição de distopia como deslugar, é uma abertura para pensarmos a própria temporalidade do conceito, rompendo sua definição mais comum e imediata, que o coloca como o contrário da utopia. Nesse sentido, distopia não é apenas uma relação temporal distante entre futuro e presente, mas pode se caracterizar como uma irradiação de forças que deslocam um imaginário compartilhado sobre o passado irrevogável, admitindo dessa maneira, sua interferência assombrosa e fantasmagórica no presente. Considera-se, portanto, que a distopia na história remete a espectralidade de um passado-presente (cf: HARTOG, 2013; HUYSSEN, 2014). “A distopia não é uma antiutopia, ela é um deslugar, que não se encontra exatamente no futuro, mas, que pode estar em qualquer lugar, inclusive no presente e no passado” (BENTIVOGLIO, 2019, p. 96).
O trabalho de Bentivoglio, ao revisitar a formação da ciência histórica no século XIX, demonstra que a consciência historiográfica moderna estaria marcada por uma “tensão entre os objetivos utópicos e a adoção de práticas disciplinares distópicas” (BENTIVOGLIO, 2019, p.26). Esse conflito viria à tona com as reflexões epistemológicas que são caracterizadas como pós-modernas – como os passados práticos de Hayden White – que admitem uma ampla circulação do passado, destituindo assim, o próprio privilégio da historiografia em organizar arbitrariamente o passado. Bem como, as reflexões de Foucault sobre as condições de possibilidade que fundam a ciência histórica moderna.
Contudo, se o caráter distópico da moderna historiografia residia no método, hoje a distopia se autonomizou como imaginação histórica (o impacto dos sentidos da experiência da história sobre os modos de pensar) e consciência historiográfica (os artefatos e técnicas usados para conferir forma a uma narrativa). Nesse cenário, portanto, seria possível afirmar que assim como a utopia estava para a modernidade, a distopia está para a pós-modernidade. A história utópica, que transcorre sobre a racionalidade moderna, seria uma tentativa arbitrária de produzir sentido as metanarrativas do progresso e disciplinar o passado em um único regime de verdade. No sentido que submete o passado ao controle único do historiador sob as premissas de um regime de cientificidade de pretensão realista. O autor observa que a noção de objetividade do projeto historiográfico ocidental, caracteriza esse desejo da narrativa histórica em conhecer o passado como ele realmente foi ou de reconstruí-lo o mais fielmente possível através de modelos (métodos) científicos. A diferença decisiva entre uma história utópica e uma história distópica seria então que a natureza distópica da história de algum modo acaba por abalar não somente o mito fundador do passado, como o próprio mito de fundação científica da história na modernidade, porque se patenteia a existência de tantos passados quanto as obras de histórias serão capazes de produzir” (BENTIVOGLIO, 2019, p. 30).
Num panorama geral, o pequeno livro oferece uma densidade admirável. A quem interessar a leitura, encontrará um percurso de investigação que passa pelas raízes da literatura distópica; pela formação da ciência histórica no século XIX; pela crise de representação e o esgotamento das filosofias especulativas da história (o já conhecido debate sobre o fim da história). Tal caminho, que ao primeiro olhar pode parecer desconexo, é uma tentativa bem-sucedida de ilustrar que há sobre a historiografia, uma incidência de outro tipo de imaginação histórica, que se distancia do conceito moderno de história. Alguns aspectos dessa distinção podem ser abordados pela passagem do passado lugar ao passado deslugar; do regime de cientificidade ao narrativismo; da verdade absoluta aos confrontos de sentido sobre o passado; do modernismo ao pós-modernismo; do futuro aos passados-presentes; do otimismo ao ceticismo; enfim, da utopia à distopia.
O trabalho em questão também é importante pois se torna uma base teórica imprescindível para que a historiografia possa alcançar novos objetos de pesquisa. O objeto não deve ser apenas aquilo que esgotamos em análises exaustivas, como se fosse algo cristalizado no tempo e no espaço; uma historiografia que tem a distopia como parte fundamental de sua prática deve transformar o objeto naquilo que nos leva ao caminho do pensamento, da reflexão filosófica sobre nossas bases epistemológicas, e que principalmente, propõe questões ao tempo presente. Tais objetos não-convencionais fazem parte desse movimento de produzir a partir do estranhamento, de enxergar soluções a partir da catástrofe que se aproxima. É pensar o mundo contemporâneo de um lugar, ao mesmo tempo, perigoso e privilegiado. Somente assim, enxergando o passado a partir de outras perspectivas, poderemos conferir espessura a um presente fraturado e pensar sobre o que o futuro poderá vir a ser.
O livro de Júlio Bentivoglio, reforça que a distopia deve ser encarada como uma noção organizadora dos fenômenos do tempo presente. Não podemos mais acusa-la de extrapolar os limites da ficção e do real. É justamente essa preponderância em trazer à tona o absurdo, que constitui seu lugar como um potente meio de crítica ou de reflexão em relação ao nosso presente. Trata-se de questionar o real, tensionar o cotidiano e as relações socias já estabelecidas. Esse incomodo que é provocado pela agressividade da imaginação distópica deve assumir-se como um despertar para a historicidade que atravessa, dentre outras dimensões, o saber histórico. Perceber a relevância de elementos da vida contemporânea como a tecnologia, a vigilância, e a catástrofe, é interrogar, mas sobretudo, encarar os sentidos que compõem a experiência da história hoje.
Por fim, fica o convite à leitura desse livro que se torna uma referência de maior grandeza para aqueles interessados, principalmente, nos estudos em Teoria da História. Para além de sua amplitude argumentativa, o livro cumpre um papel importante na afirmação do protagonismo brasileiro como importante centro de pesquisa e reflexão teórica sobre a historiografia. Nele o leitor poderá encontrar as discussões mais atuais das pesquisas na área, juntamente com uma originalidade teórica, que confere ao texto aquilo que alguns historiadores ainda não entenderam muito bem: teorizar não é se limitar a comentar teorias alheias, mas sim traçar um diálogo sólido com a tradição e arriscar novas propostas e conceitos que movimentem a historiografia de seu lugar-comum.
Referências
HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas de memória. Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2014.
WHITE, Hayden. Meta-história. São Paulo: Edusp, 2002.
Notas
1. Podemos citar teóricos da história como Ewa Domanska, Berber Bevernage, Sanjay Seth, Dipesh Chakrabarty, Ethan Kleinberg, Ivan Jablonka, Zoltán Simon, entre outros. No Brasil destaca-se a organização de pesquisadores em torno da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH), algo que tem promovido um avanço qualitativo nas pesquisas da área. Além do trabalho de Bentivoglio, devemos destacar as recentes pesquisas de Valdei Araujo e Mateus Pereira sobre o atualismo, e o importante livro A história (in)disciplinada, organizado por Arthur Ávila, Rodrigo Turin e Fernando Nicolazzi.
2. O gráfico pode ser visualizado neste link. Acesso em: 18/06/2020.
3. Podemos citar como exemplo dois movimentos principais que percorrem a filosofia do século XX, são eles: o pós-estruturalismo e o esclarecimento da Escola de Frankfurt.
4. Simultânea a escrita desta resenha, foi lançada a série de entrevistas Crise & Historicidade – uma iniciativa de LETHIS-UFES e do NIET-UFMG, em parceria com a HH Magazine: humanidades em rede – que tem como segundo episódio uma entrevista do professor Júlio Bentivoglio sobre a relação entre história, distopia, e crise. Ela está dividida em duas partes, as quais podem ser acessadas através dos seguintes links:
Episódio 02, Parte 01: https://www.youtube.com/watch?v=AzKFECirBIk
Episódio 02, Parte 02: https://www.youtube.com/watch?v=dGG-5ufAUs0
Historia local y regional: balances y agenda de una perspectiva historiográfica | María Rosa Carbonari, Gabriel Fernando Carini
Esta obra presenta la convergencia temática del trabajo de investigadores de diferentes unidades académicas a lo largo del país, que se están abocando al análisis de lo local y regional con perspectivas teóricas y metodológicas que discuten con las interpretaciones oficiales y hegemónicas. Ha sido publicada recientemente por la editorial Uni Río de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en una colección que nació para conmemorar la década de las Jornadas de Divulgación en Historia Local y Regional del departamento de historia de la UNRC, donde los trabajos tuvieron su espacio inicial de difusión y discusión. Leia Mais
Figuras da História | Jacques Ranciére
Resenhista
Hilário Correia Ramos – Universidade Federal de São Paulo. Mestrando em História pelo PPGH da Unifesp (Guarulhos).
Referências desta Resenha
RANCIÉRE, Jacques. Figuras da História. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 2018. Resenha de: RAMOS, Hilário Correia. Negacionismo, Arte e História. Escrita da História, v.7, n.14, p.251-255, jul./dez. 2020. Acesso apenas pelo link original [DR]
O que pode a biografia | Alexandre de Sá Avelar e Benito Bisso Schmidt
Benito Bisso Schmidt é professor no Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nessa instituição, graduou-se e realizou o Mestrado e concluiu o Doutorado em 2002, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Durante a sua formação, Schmidt estudou temas referentes à Biografia e à História Social do Trabalho, como também passou a se debruçar sobre os Estudos Queer. Alexandre de Sá Avelar é docente no Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Graduou-se e tornou-se, em 2001, mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e, posteriormente, cursou o Doutorado na Universidade Federal Fluminense (UFF). Avelar trabalhou com temas ligados aos campos da História Política, da Biografia, da Teoria da História e da Historiografia.
Organizada por esses historiadores, a coletânea intitulada O que pode a biografia apresenta a narrativa como eixo principal de análise e os capítulos divididos em duas sessões. A primeira, Horizontes Teórico-Metodológicos, está relacionada aos processos constitutivos da biografia (indivíduo, tempo, narrativa e escalas) e a sua inserção no debate público. A segunda, Experiências de Pesquisa e Leitura, apresenta as trajetórias de pesquisadores, que contribuíram para a coletânea da obra, e os parâmetros usados na elaboração de suas pesquisas. Leia Mais
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (HU)
ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 376 p. Resenha de: CODARIN, Higor. “Resistencialismo” e resistência: as tensões entre história e memória. História Unisinos 24(2):334-337, Maio/Agosto 2020.
A trajetória intelectual da historiadora Denise Rollemberg, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), é indissociável das temáticas, das tensões e dos dilemas envolvendo o passado recente, em específico relacionado às experiências autoritárias ao redor do globo, ao longo do século XX. Em um primeiro momento, sua produção acadêmica edificou-se através de análises consistentes a respeito dos caminhos e descaminhos das esquerdas brasileiras diante da ditadura civil-militar, seja a partir da construção analítica a respeito da perspectiva de revolução difundida por essas esquerdas, ou pela vigorosa análise a respeito do exílio experimentado por esses militantes ao longo da ditadura.2 Contudo, a partir de então, a historiadora, influenciada por parte da historiografia francesa empenhada em renovar as análises a respeito da resistência à ocupação nazista e/ou em relação à construção social do regime instaurado em Vichy, das quais falaremos adiante, passa a centrar seus esforços em outros aspectos dos regimes autoritários, buscando iluminar sua compreensão através de duas linhas centrais: por um lado, de que modo esses regimes foram construídos socialmente e se mantiveram por longos anos? Por outro, e de modo mais importante para o objetivo desta resenha, como se relacionam memória e história na construção do conhecimento a respeito dessas experiências? Mais especificamente: de que modo a construção da memória coletiva sobre esses regimes buscou criar oposições binárias entre Estado e Sociedade, sedimentando a perspectiva de sociedades oprimidas, manipuladas e, sobretudo, resistentes a esses regimes? Confirmação dessa nova vereda analítica são as obras organizadas em conjunto com a também historiadora da UFF Samantha Quadrat – A construção social dos regimes autoritários (2010); História e memória das ditaduras do século XX (2015) – e Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália (2016).
Neste que é seu mais recente livro, Rollemberg busca, como objetivo central, analisar o movimento de constante construção e desconstrução dos discursos memoriais a respeito das experiências de resistência francesa e italiana às ocupações nazistas que ocorreram durante a II Guerra Mundial. Dividido em cinco capítulos, Resistência parte de um consistente balanço historiográfico indicativo dos esforços e das dificuldades em conceituar o termo “resistência” (capítulo 1), para, em seguida, passar ao exercício analítico de sua ampla gama de fontes: os museus e memoriais franceses (capítulo 2), as cartas de despedida dos resistentes e reféns fuzilados (capítulo 3), que constroem a primeira parte do livro, dedicada à França, e, por fim, os museus e memoriais italianos (capítulo 4), com especial destaque à construção da memória e historiografia a respeito da trajetória da família Cervi, e do fuzilamento dos sete irmãos – os Sette Fratelli – integrantes da Resistência3 italiana (capítulo 5).
De modo inicial, é importante ressaltar, Rollemberg indica que as populações dos países ocupados “experimentaram comportamentos que variaram de país para país, ao longo do tempo, num amplo campo de possibilidades desde a colaboração mais aguerrida com os vencedores até a resistência mais combativa” (Rollemberg, 2016, p. 17). Nessa perspectiva, a autora, como cerne da argumentação que permeia todo o livro, busca desconstruir não apenas a visão maniqueísta entre Estado e Sociedade, conforme citamos anteriormente, mas também a visão que opõe, drasticamente, resistentes e colaboradores, como se resistir ou colaborar fossem as únicas possibilidades de atuação dentro desses contextos históricos. Para isso, inspira-se, essencialmente, no historiador Pierre Laborie, mais especificamente em seus conceitos de zona cinzenta e pensar-duplo, que realçam o amplo espaço de atuação entre os dois polos, marcado por contradições e ambivalências.4 Enveredando pela discussão conceitual, a autora busca explicitar que as experiências variadas de país para país deram origem, também, a conceituações diferentes. Assim, distingue as discussões historiográficas realizadas na França, Itália e Alemanha.
Sobre a França, campo com que Rollemberg tem maior familiaridade, a discussão é robusta. Demonstra, como prelúdio, que logo após o fim da ocupação, 1944, o termo resistência iniciou um processo de naturalização no seio da sociedade francesa, por intermédio da memória oficial que ia sendo desenvolvida pelo governo surgido do processo de libertação, comandado por Charles de Gaulle.
Criava-se, então, o mito da resistência, ou “resistencialismo”, no neologismo de Henry Rousso (2012). Ou seja, o mito de que a sociedade francesa havia, em sua totalidade, resistido aos alemães e ao governo instaurado em Vichy, sob o comando de Philippe Petain. Por muitos anos, o termo ficou sob o domínio dessa memória, estando fora dos objetivos e anseios dos historiadores. Realizando uma genealogia do conceito, a historiadora demonstra que a historiografia francesa se voltou à “resistência” apenas em 1962, com a tese de Henri Michel, que abre os debates acadêmicos a respeito do termo, ainda sob forte influência do processo de mitificação. Contudo, é com o livro de Robert Paxton, Vichy France (1972), que há uma guinada no debate. A revolução paxtoniana, como ficou conhecido o impacto da tese de Paxton, abriu novas temáticas e interpretações, pois deu início a uma corrente historiográfica indicativa de que o Estado de Vichy era produto da própria sociedade francesa e não uma marionete da Alemanha de Hitler. Iniciava-se, portanto, o processo historiográfico de problematização do mito da resistência.
Passeando com propriedade pelas contribuições de François Bédarida, Pierre Azéma, Pierre Laborie, Jacques Sémelin, François Marcot, Henry Rousso e Denis Peschanski, a historiadora apresenta, de forma nítida, reflexões a respeito da criação do mito de resistência como “necessidade social” (Rollemberg, 2016, p. 33) e, sobretudo, tentativas de conceituar o termo. Em uma diversidade de propostas de conceituação que, conforme diz a própria autora, engolfam-se, por vezes, em “excessivas filigranas e retórica” (Rollemberg, 2016, p. 37), vemos emergir a problemática fundamental do debate: resistência é apenas expressão coletiva, consciente, organizada e clandestina contra um invasor estrangeiro, como propõem alguns autores, ou também podem ser considerados resistentes as expressões individuais, cotidianas e anônimas, seja contra o regime alemão instaurado na zona ocupada ou contra o regime de Vichy? Cria-se, assim, um dilema, bem sintetizado por Jacques Sémelin: “ou bem se mergulha nas profundezas do social, mas sua especificidade [da resistência] tende a se diluir; ou bem se define exclusivamente através de suas [da resistência] estruturas e ações e ele se reduz à sua dimensão organizada” (Rollemberg, 2016, p. 32). Apesar de parecer intransponível, a historiadora apresenta um caminho possível para sua resolução, demonstrando a importância das propostas teóricas de Laborie para sua análise: A zona cinzenta, o pensar duplo, o homem duplo, segundo a perspectiva de Pierre Laborie que considera comportamentos ambivalentes nuançados entre resistir e colaborar, por outro lado, talvez seja a solução para o impasse levantado por Sémelin (Rollemberg, 2016, p. 148).
Seja como for, adotando-se ou não as posições de Laborie para resolver o impasse sintetizado por Sémelin, o exercício reflexivo que o desencadeou, segundo Rollemberg, demonstra, per se, a importância e a necessidade de reflexão a respeito do conceito de resistência, pois concei tuá-la “é mais lidar com as possibilidades e os limites das próprias definições, aproveitando as tensões e riquezas que são intrínsecas ao dilema observado por Sémelin, do que buscar resolvê-lo” (Rollemberg, 2016, p. 37).
Para o caso italiano, a discussão é menos densa. Segundo a autora, isso se deve ao fato de que para a historiografia italiana importa menos definir “o que foi e o que não foi resistir”, centrando os esforços, em contrapartida, no “papel de seus atores, principalmente das lideranças ou de militantes destacados” (Rollemberg, 2016, p. 47). Apesar da não importância da conceituação, a historiadora alerta que as contribuições historiográficas têm buscado desconstruir, também, o mito da resistência.
Por fim, finalizando o primeiro capítulo, está a reflexão a respeito do conceito de resistência proposto pela historiografia alemã. Rollemberg oferece destaque à definição proposta por Martin Broszat. Esta, ao contrário de utilizar o termo resistência (Widerstand), prefere utilizar Resistenz, cuja tradução é imunidade, termo devedor da biologia, que diz respeito a “reações espontâneas e naturais dos organismos vivos a micro-organismos como vírus e bactérias” (Rollemberg, 2016, p. 52). Assim, com essa nova definição, procurou-se jogar luz sobre a “resistência a partir de baixo”, como bem sintetizou Klaus-Jürgen Müller a respeito da definição proposta por Broszat.
Nos capítulos seguintes, sejam relacionados ao contexto francês ou italiano, notamos, com clareza, dois aspectos predominantes: por um lado, o esforço analítico da autora, buscando demonstrar e desenvolver as relações tensas e mutáveis entre história e memória, por intermédio, essencialmente, dos museus e memoriais como corpus documentais de análise. Por outro, o realce e a recorrência, ao longo de todo o texto, na importância de compreender as ações dos sujeitos que fizeram parte desse processo histórico a partir de suas ambivalências e contradições, buscando problematizar as visões romantizadas e heroicizadas construídas sobre esses indivíduos. Assim, a historiadora reforça a necessidade de compreendê-los sem operar distinções binárias e estéreis. Nas palavras da própria Rollemberg a respeito da criação de museus e homenagens aos resistentes:
A homenagem precisa incorporar a complexidade, as contradições, as ambivalências da realidade. A produção do conhecimento, resultado da incorporação das múltiplas dimensões dos acontecimentos e dos homens e mulheres neles envolvidos, submetidas à interpretação crítica, é a melhor homenagem que se possa fazer. A sacralização da memória afasta o herói de todos nós, condena-o ao desconhecimento, mesmo que inúmeros museus e memoriais sejam erguidos em seu nome (Rollemberg, 2016, p. 97).
Portanto, perseguindo essa trilha, Rollemberg empreende uma análise ampla acerca de 15 museus/memoriais ao redor da França, 130 cartas de resistentes ou reféns5 prestes a serem fuzilados e, por fim, analisa oito museus/memoriais italianos. É digno de nota demonstrar a metodologia empregada pela historiadora na construção dos museus/memoriais como corpus documentais para discussão das questões propostas na obra. Seguindo a senda proposta por Jacques Le Goff, a respeito do conceito documento/monumento6, a historiadora compreende a criação e, consequentemente, os próprios museus/memoriais através dessa dinâmica. Assim, a disposição dos museus/memoriais, os locais onde foram construídos, seus acervos, suas narrativas, dinâmicas e relações com o poder público são importantes ao olhar analítico da autora.
Todos os aspectos, constituintes da criação e perpetuação dos museus/memoriais, são vistos como esforços “das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si própria” (Rollemberg, 2016, p. 90). Outrossim, constatando que os museus/memoriais são criados com uma dupla-função, informativa e comemorativa, a historiadora compreende- os como espaços privilegiados de manifestação das tensões entre história e memória, analisando, assim, de que modo esses espaços incorporam ou recusam os avanços e novos temas propostos pela historiografia (Rollemberg, 2016, p. 90).
Sobre a França, vale ressaltar que a autora deslinda de que modo foi construído o “resistencialismo”. Apresenta a importância da memória nesse processo, a memória como construção social, como maneira de “lidar com a história, reconstruindo-a” (p. 84), formulada no período pós-ocupação, “comportando a lembrança, o esquecimento, o silêncio” (Rollemberg, 2016, p. 84), como aponta Beatriz Sarlo (2007), a memória como captura do passado pelo presente; o mito da resistência, o mito que explica a ausência, ao menos na grande maioria dos museus, de informações a respeito da colaboração dos franceses com os nazistas e com o regime de Vichy; o “resistencialismo” tornando ausente das narrativas dos museus “a zona cinzenta, o pensar duplo, a ambivalência” (Rollemberg, 2016, p. 142).
Com relação à Itália, deve-se atentar para a valiosa trilha percorrida pela historiadora ao confrontar a história e a memória do caso dos Sette Fratelli. Realizando uma genealogia da criação do mito, que remonta a dois textos de Italo Calvino publicados em 1953 (Rollemberg, 2016, p. 335), Rollemberg expõe as relações de legitimação dos mais diversos setores da sociedade italiana com a criação e manutenção de uma narrativa romantizada acerca dos sete irmãos fuzilados em 1943. Aponta não apenas para a necessidade do Partido Comunista Italiano (PCI) em vincular- se à história dos irmãos, mas, também, a necessidade do próprio governo italiano, simbolizado na recepção de Alcide Cervi, pai dos sete irmãos, pelo primeiro presidente eleito pós-ocupação, Luigi Enaudi, em 1954, no Palácio Quirinale, em Roma, além de diversas medalhas de honra que Alcide recebeu como representante dos filhos (Rollemberg, 2016, p. 318). A história dos irmãos resistentes e, consequentemente, da superação do sofrimento de um pai que teve a família devastada como símbolos da história italiana recriada pela memória, a Itália resistente, a exemplo dos sete irmãos, livre do nazifascismo, que buscava superar o sofrimento, como Aldo Cervi buscava superar a perda dos filhos.
Resistência, portanto, cumpre os objetivos a que se propõe, descortinando as relações problemáticas e, ao mesmo tempo, férteis entre história e memória em meio à construção da memória coletiva na França e na Itália a respeito das ocupações nazistas ao longo da II Guerra Mundial. Mais do que isso, o livro da historiadora é um interessante ponto de vista metodológico para os interessados em compreender as complicadas questões vinculadas à História do Tempo Presente.7 Se vivemos, como aponta o historiador François Hartog (2017), um regime de historicidade presentista, em que a Memória busca destronar a História de seu lugar privilegiado como intérprete hegemônica do passado, Resistência é uma contribuição fundamental à historiografia brasileira para aqueles que buscam fugir às armadilhas da Memória, que opera, na maioria das vezes, por intermédio de uma cultura binária de demonização ou sacralização de indivíduos e/ ou períodos históricos. Rollemberg, portanto, em seu novo caminho analítico, do qual Resistência é a reflexão mais profunda até o presente momento, apresenta os desafios dos historiadores que trilham as temáticas envolvendo experiências sociais traumáticas do passado recente. Ao buscar recolocar os personagens em seus respectivos contextos históricos, questionando as construções memoriais e realçando a importância de lançarmos luz às zonas cinzentas, contradições e ambivalências dos sujeitos históricos, a autora deixa-nos – aos historiadores – um sinal de alerta: o dever do historiador é compreender o passado, não o mitificar.
Referências
HARTOG, F. 2017. Crer em História. Belo Horizonte, Autêntica, 252 p.
LABORIE, P. 2010. 1940-1944: Os franceses do pensar-duplo. In: S.
QUADRAT; D. ROLLEMBERG (org.), A construção social dos regimes autoritários: vol. I, Europa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 31-44.
LE GOFF, J. 2013. História e Memória. 7ª ed. Campinas, Editora da Unicamp, 504 p.
PAXTON, R. 1973. La France de Vichy. Paris, Seuil, 475 p.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2010. A construção social dos regimes autoritários. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 3 vols.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2015. História e memória das ditaduras do século XX. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2 vols.
ROLLEMBERG, D. 2000. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro, Record, 375 p.
ROLLEMBERG, D. 2016. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo, Alameda Editorial, 376 p.
ROUSSO, H. 2012. Le Régime de Vichy. 2ª ed. Paris, PUF, 128 p.
ROUSSO, H. 2016. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro, Editora FGV, 341 p.
SARLO. B. 2007. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo, Companhia das Letras / Belo Horizonte, Editora da UFMG, 129 p.
2 Referimo-nos aqui, respectivamente, à sua dissertação de mestrado (A ideia de revolução: da luta armada ao fim do exílio (1961-1979)) e à tese de doutorado (Exílio. Entre raízes e radares), esta última publicada pela Editora Record (1999).
3 O termo Resistência, com letra maiúscula, consolidou-se na historiografia como modo de referir-se a posições e ações ligadas a organizações, partidos e movimentos (p. 175).
4 Para maior aprofundamento a respeito dos conceitos, cf. Laborie (2010).
5 “Reféns” denominam-se os indivíduos presos, seja na França ocupada ou na França de Vichy, em represália às ações da Resistência.
6 Para maiores detalhes, cf. Le Goff (2013).
Higor Codarin – Universidade Federal Fluminense. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n. 24210-201 Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Número do processo: E-26/201.860/2019. E-mail: [email protected].
As raízes clássicas da historiografia moderna – MOMGLIANO (RETHH)
MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. São Paulo: editora UNESP, 2019. Resenha de: SÁ, Charles Nascimento de. Historiografia clássica e os caminhos para a história moderna. Revista Expedições: Teoria e Historiografia, Morrinhos, v. 11, jan./dez. 2020.
Conta-nos François Hartog em seu livro “Crer em História” que os anos sessenta e setenta do século XX viram a ascensão do estruturalismo e da virada linguística no campo das ciências Humanas. As ideias de que a fala e a linguagem davam sentido à existência e ao entendimento humano ganharam força nas academias e entre pesquisadores. A noção de relativismo cultural na produção do saber histórico ganhou impulso com o chamado pós-modernismo. No campo da história uma das obras mais impactantes nessa discussão foi o livro “Meta-História” do historiador norte-americano Haydem White. Tendo originado um forte debate sobre o sentido da compreensão histórica e dos limites da escrita e da ciência nessa área, ele gerou forte reação por parte da comunidade acadêmica de Clio.
A primeira grande resposta, e que se tornou base para a contestação das ideias de White, veio do historiador italiano Arnaldo Momigliano. Coube a um artigo por ele escrito servir de base para a defesa do método e da pesquisa em História. Momigliano indicou que a ele “pouco importava que os historiadores usem a metonímia ou a sinédoque, ou qualquer outro tropo, o que importa é que suas histórias devem ser verdadeiras” (HARTOG, 2017, p. 86). Seu artigo foi utilizado por Eric Hobsbawn e Carlo Ginzburg, dentre outros, em produções que estes escreveram em defesa do conhecimento histórico.
Inicia-se essa resenha com uma indicação de Haydem White para chamar atenção da importância do professor Arnaldo Momigliano no campo da historiografia. Tendo cultivado uma formação das mais relevantes e extensas na História ele desenvolveu ampla gama de estudos sobre o método histórico, questões sobre as sociedades da Antiguidade e do Renascimento, bem como análises sobre Edward Gibbon e seu método. Monmigliano foi o que se chamou scholars, isto é, indivíduos possuidores de rara e ampla erudição, com leituras vastas sobre o campo da história e suas áreas correlatas. Foi um dos grandes expoentes da escola italiana ao lado de Croce, Bobbio, Ginsburg.
Este texto reporta-se a análise do livro “As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna” publicado no Brasil pela Editora UNESP, com um total de 252 páginas, esta obra contém seis palestras feitas por Momigliano na Universidade de Berkeley na Califórnia na Sather Classical Lectures na década de 1960, nos dizeres do próprio Momigliano a participação nesses encontros “constituem uma célebre ocasião para encontros mais amplos. Tão célebre que já foi dito que um homem faz sua reputação ao ser convidado a ministra-los, e que a perde ao fazê-lo” (MOMIGLIANO, 2019, p. 242). O livro foi anteriormente publicado no Brasil pela editora EDUSC no ano de 2004 e em bom momento vem novamente a público pela UNESP.
Para consecução do volume o autor levou quase vinte anos, entre anotações, reescritas e citações. Os assuntos aí pontuados e discutidos concentram-se em questões sobre a Antiguidade clássica e os estudos sobre o mundo e a civilização grega e romana, sua cultura, sociedade, e, de modo particular, a gênese que estes povos desenvolveram na constituição do saber histórico. Para tal abordagem ganham escopo no livro a análise de diversos historiadores do período, com destaque para Tácito, Tucídides, Heródoto, Plínio – o jovem, Plutarco, dentre outros. Encontra-se aí também a abordagem sobre a importância dos antiquários para a historiografia da época moderna, e seu posterior declínio a partir da sedimentação da história enquanto ciência no século XIX e XX. Finalizando têm-se um estudo sobre a historiografia eclesiástica.
O livro abarca comentários e observações que transitam pelo Império Romano, pelas cidades gregas, pelo mundo persa, turco, Império Bizantino e pelos castelos e mosteiros da Idade Média. Em todas as seis palestras fica evidente as correlações envolvendo a constituição do pensar e do fazer histórico entre gregos e depois romanos e sua conexão com a noção de História que se mantêm ainda hoje.
O primeiro capítulo intitula-se “a historiografia persa, a historiografia grega e a historiografia judaica”. Diferente do que se defendeu entre alguns estudiosos, para Momigliano os gregos reconheciam o caráter não linear na história e não a entendiam como cíclica. Além disso, outro ponto que também sempre foi gerador de polêmicas e atritos foi sobre a contribuição de Heródoto e Tucídides para a história. Em sua análise o autor aponta diferenças e semelhanças entre os dois escritores. Se Tucídides foi sempre visto como mais metódico em seu trabalho, mais realista em sua abordagem, as ideias e temas tratados por Heródoto, muitas das quais cheias de alegorias e fantasias, não significam que ele acreditava naquilo que escrevia, o viés crítico e reservado do “pai da história” na apresentação de muitos de seus relatos é sinal, para Momigliano, de sua apreciação com ressalvas sobre aquilo que escrevia. Outrossim, a influência e importância da historiografia judaica no mundo antigo é aí indicada e discutida.
O livro esclarece, discute, noções e ideias subjacentes aos povos antigos, bem como àqueles do Renascimento adentrando na historiografia moderna. Em todo processo de análise o autor realiza uma metodologia de longa duração no estudo de temas e conceitos subjacentes ao conhecimento histórico. Estes assuntos foram desenvolvidos na Antiguidade, com sua influência se mantendo em debates e questões levantadas a posteriori.
No capítulo intitulado “A tradição herodotiana e tucididiana” ele esclarece que “ao combinar a pesquisa com a crítica da documentação, Heródoto amplia os limites da investigação histórica” (MOMIGLIANO, 2019, p. 69). Para ele o pai da história possuía um humanismo profundo e sutileza em suas reações aos assuntos por ele abordados. Já Tucídides, mais preocupado com seu universo geográfico e sob impactos das questões políticas de seu tempo, entende o passado como chave para compreensão da situação política de sua época afinal “o presente era a base para a compreensão do passado” (MOMIGLIANO, 2019, p. 74).
Outro tema a perpassar as palestras que compõem o livro encontra-se na discussão entre a história e sua escrita. Discorre o autor sobre influências, autores e escolas na produção deste saber. No texto sobre “Fábio Pictor e a origem da história nacional” Momigliano se adensa em uma discussão sobre noções historiográficas partilhadas na Antiguidade pelos judeus, gregos e romanos. Cada grupo é aí inserido dentro de sua filosofia e ideia de história. No universo da palavra, os judeus, que tinham como base a escrita para aceitação de sua fé, representaram um dos grandes vetores na produção do saber histórico no mundo antigo, até que, devido ao entendimento de que tudo já havia sido dito, sua produção histórica definhou.
Coube a gregos e romanos a continuidade dessa discussão. Entre os romanos, diversos historiadores se consagraram ao entendimento da história de Roma e seus feitos. Entre estes estava Quinto Fábio Pictor, cujas obras evidenciaram a influência da cultura grega no mundo romano. Ele foi um dos responsáveis por trazer essa influência para aqueles que em Roma se dedicavam aos estudos de Clio. No entanto, isso não foi o mais significativo neste autor. O que realmente chamava atenção em seus textos era que ele os escrevia em língua grega. Aliado a isso sua parcimônia e objetividade na apresentação de seus estudos ocasionou um debate em que se discutia se ele não estaria fazendo propaganda e não história.
Encerrando seu livro encontra-se o texto “As origens da historiografia eclesiástica”. Nesse artigo ele discute sobre Eusébio e sua história da Igreja, ao mesmo tempo em que aponta a impossibilidade de uma história ecumênica do cristianismo a partir do século VI, na época de Justiniano, devido as diferenças entre o Ocidente e o Oriente e ao fato de a religião cristã ter se tornado cada vez mais vinculada ao Estado nessas duas partes do mundo antigo.
Momigliano começa esse capítulo contando a trajetória do monge beneditino Benedetto Bacchini e sua descoberta da obra Il Giornale dei Letterati escrita no século IX e que ele, vivendo entre o final do século XVII e início do XVIII resgatou em uma biblioteca. Essa obra era importante por trazer a discussão sobre o pallium, insígnia dada pelo papa para confirmar a autoridade de um arcebispo sobre sua sé. Antes, tal feito era exercido também pelos imperadores.
Esse assunto que abre o artigo já é apontado por Momigliano como um relato de um autor de um texto pouco conhecido. No entanto, ele ressalta que o escreveu justamente para indicar como na história eclesiástica “um acontecimento do século V, relatado por um historiador eclesiástico do século IX, ainda tinha implicações práticas no século XVIII” continua ele informando que “os precedentes têm, evidentemente, importância para qualquer tipo de história, e não há nada no passado que em determinadas circunstâncias não possa provocar paixões no presente” (MOMIGLIANO, 2019, p. 212-213).
Destaca-se na citação acima um traço perene nos estudos historiográficos e no entendimento da própria noção de historiografia. O pensar e o agir nessa área estão em sintonia com a ideia de que seu saber se faz no interior da pesquisa e escrita da história (AROSTEGUI, 2006, p. 37). Esta apreciação está em consonância com o saber e as indagações do tempo presente. No caso específico da história eclesiástica Momigliano destaca ainda em sua abordagem que “em nenhuma outra história os precedentes significam tanto como na história eclesiástica. A própria continuidade da história da Igreja através dos séculos torna inevitável que qualquer coisa que tenha acontecido no passado da Igreja seja relevante para o seu presente” (MOMIGLIANO, 2019, p. 213).
Ao caminhar assim em todas as palestras proferida na Universidade de Berkeley, e no livro que elas originaram e que só veio a ser publicado após a morte do autor, este judeu oriundo da península itálica transita com maestria por temas e ideias que são fundamentais para o entendimento da noção de história e de historiografia. Passeando por indivíduos, povos, nações, livros e ideias que surgem em um período, influenciam autores e saberes em outros, são contestados por alguns pensadores, endossados por alguns e seguem como baluartes para novas descobertas.
O pensar histórico atrela-se a períodos e tempos que se esboçam em continuidades e rupturas que a presente obra, em sua abordagem sobre temáticas da Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, leva-nos a contemplar o processo de gênese e revisões que consolidaram essa área do conhecimento humano. Neste livro é possível observar seu caminho das cidades gregas, dos escritos judaicos, da produção romana até os dias atuais.
Uma última indicação deve aqui ser feita. Na diagramação e revisão do texto a editora cometeu dois erros. Na página 208 colocou-se “crônica do século XIX” quando o correto seria século IX. Já na página 212 fala-se em “implicações práticas no século XIII” quando o correto seria século XVIII. Esses dois erros por certo comprometem a compreensão para quem estiver mais desatento, mas não desabonam o caráter e a importância do livro. Boa leitura.
Referências
ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru: EDUSC, 2006.
HARTOG, François. Crer em história. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
Charles Nascimento de Sá –Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Assis). Mestre em Cultura e Turismo pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Professor de História da Bahia e Historiografia na Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XVIII/ Eunápolis).
O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE Jr, Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019. 276 p. Resenha de: SOUZA, Vitória Diniz de. A História como tecido e o historiador como tecelão das temporalidades. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.508-514, jan./jun., 2020.
A historiografia está em constante transformação, por isso, certas tendências foram sendo esquecidas com o tempo e outras surgiram para formular novas maneiras de produzir história. O livro do historiador Durval Albuquerque Júnior, O Tecelão dos Tempos, nos convida a refletir sobre a escrita da história e a inventar novos usos e sentidos para o passado. Essa sua obra pode ser encarada como um manifesto para os historiadores/as repensarem a sua prática e a abandonarem certos convencionalismos que marcam a tradição historiográfica.
O “Prefácio” é escrito por Temístocles Cezar, que define o livro como uma “constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com os pés descalços no presente, com olhos no passado ou como projeto de uma história futura” (CEZAR, 2019, p. 12). Sendo essa uma boa descrição de como esses textos se entrelaçam e convidam seus leitores a mergulharem em polêmicas discussões sobre a história e o seu estatuto hoje. De fato, a escolha do estilo ensaístico na escrita desse livro é ousada, principalmente, pela liberdade que esse gênero possibilita para quem escreve. Estilo narrativo que foi preterido pela historiografia por muito tempo, em especial, no Brasil. Nesse caso, o ensaio é uma maneira interessante para se iniciar discussões, aprofundá-las, mas sem as amarras conclusivas que certos textos exigem, como os artigos.
Essa obra está dividida em três partes, a escrita da história, usos do passado e o ensino de história, que estão organizadas de maneira sistemática, a partir das temáticas discutidas nos ensaios, articulando-se em uma diversidade de discussões que se interligam em diferentes momentos. Causando uma sensação de fazerem parte de uma mesma narrativa, com início, meio e fim, mesmo que não tenham sido escritas em ordem cronológica, ou que não sejam lidas na ordem apresentada. Por outro lado, pela sua heterogeneidade, cada capítulo inicia uma discussão independente das outras e rica em si mesma. Na primeira parte, “A escrita da história”, inicia a discussão sobre o trabalho do historiador e o estatuto da história enquanto disciplina, problematizando sobre o lugar do arquivo e sobre a prática historiadora – da análise documental ao seu processo de escrita. Enquanto isso, em “Usos do passado”, propõe reflexões sobre passado, memória, patrimônio, comemorações, traumas e esquecimentos. Dessa maneira, possui um olhar criativo sobre esses conceitos tão caros a história, como também, conceitualiza-os, explicitando seus significados e usos, e propondo uma (re)apropriação deles. Na terceira parte do livro, “O ensino de história”, centraliza as discussões acerca da disciplina histórica e o ensino da história na Educação Básica. Demonstrando que além de um erudito e pesquisador, ele também é professor, defendendo a necessidade de um ensino de história que se reinvente dada a situação atual da educação escolar.
Dando início, no capítulo que dá nome ao livro, “O tecelão dos tempos: o historiador como artesão das temporalidades”, defende as razões para que o trabalho do profissional da história seja considerado como de um artesão, pois […]a história nasce como este trabalho artesanal, paciente, meticuloso, diuturno, solitário, infindável que se faz sobre os restos, sobre os rastros, sobre os monumentos que nos legaram os homens que nos antecederam que, como esfinges, pedem deciframento, solicitam compreensão e sentido (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 30).
As metáforas enriquecem o texto de maneira que o leitor pode compreender a atividade do historiador a partir da comparação com outros ofícios. Mas também, oferece ao profissional uma reflexão sobre a sua prática, principalmente, sobre a sua escrita que, muitas vezes, se vê enrijecida por um texto acadêmico sem vivacidade. Em certo momento, o autor compara o trabalho do historiador com o de um cozinheiro do tempo “aquele que traz para nossos lábios a possibilidade de experimentarmos, mesmo que diferencialmente, os sabores, saberes e odores de outras gentes, de outros lugares, de outras formas de vida social e cultural” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 32).
Em seguida, no capítulo “O passado, como falo?: o corpo sensível como um ausente na escrita da história”, ele faz uma defesa da colocação do corpo, do sensível, das dores, dos sofrimentos, dos afetos, dos sentimentos como lugares para a história. A partir dessa perspectiva, ele aponta para a necessidade de se discutir novas maneiras de expressar as sensibilidades na narrativa histórica, criando novas estratégias que possam expressar na própria pele do texto essa presença, ignorada e mutilada das narrativas acadêmicas. Um corpo que é erótico, que sente afetos, raiva, desejo, rompendo, dessa maneira, com o pudor que cerca a historiografia.
As sensibilidades é um dos temas mais recorrentes ao longo dos capítulos, sendo que em “A poética do arquivo: as múltiplas camadas semiológicas e temporais implicadas na prática da pesquisa histórica”, Durval Albuquerque Júnior critica os historiadores e sua técnica de análise, afirmando que na busca pela informação, o pesquisador pode até se emocionar, pode até ser profundamente afetado pelo contato com a materialidade, mas pouco o leva em conta na hora da sua análise. Essa repressão à dimensão artística da pesquisa histórica leva a dificuldade que os profissionais da história têm de perceber, de lidar, de incorporar, no momento da interpretação, os signos emitidos pela própria escrita do documento. Em suma, a natureza da linguagem é ignorada, seus efeitos e dimensões são apenas transformados em dados. Para o autor o “trabalho do historiador é semiológico, ou seja, constitui-se na decifração, leitura e atribuição de sentido para os signos que são emitidos por sua documentação” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 64). Sendo assim, é preciso enxergar no documento as camadas do tempo, suas marcas, sua historicidade, sua materialidade, significados e sentidos que perpassem não apenas o racional, mas também, o emocional, o artístico.
A questão da poética na escrita da história se destaca no capítulo “Raros e rotos, restos, rastros e rostos: os arquivos e documentos como condição de possibilidade do discurso historiográfico”, no qual Durval Albuquerque Júnior une dois campos diferentes que causam polêmicas entre os historiadores, a ficção e a escrita da história. Inspirado em uma pesquisa do biógrafo Guilherme de Castilho sobre o poeta Antônio Nobre, ele cria um conto fictício no qual personifica os documentos como personagens da história. Instigando o leitor a estar curioso sobre o destino das cartas e dos postais que esse poeta enviou para o também escritor Alberto de Oliveira. O mais interessante é como consegue articular questões teóricas e metodológicas da pesquisa histórica em uma narrativa ficcional, provocando o leitor e sensibilizando-o a imaginar as fontes e sua trajetória. Assim, a subversão do gênero que ele propõe ao construir um texto de história por meio da ficção é uma das inovações mais interessantes desse livro.
A discussão sobre história e ficção é polêmica, tendo sido abordada por uma vasta produção historiográfica. Nesse contexto, diferentes perspectivas acerca do estatuto da história enquanto uma “verdade” entram em conflito. Como é o caso emblemático do historiador Carlo Ginzburg com a historiografia considerada “pós-moderna”. No capítulo “O caçador de bruxas: Carlo Ginzburg e a análise historiográfica como inquisição e suspeição do outro”, Durval Albuquerque Júnior critica o posicionamento de Carlo Ginzburg em relação as suas discordâncias no meio acadêmico. Visto que, Ginzburg é considerado um dos maiores “inimigos” da historiografia “pós-moderna”, entrando em conflito com nomes como os de Michel Foucault e Hayden White. Sendo que, o historiador italiano chegava a transmitir, em certos momentos, xingamentos e ofensas contra aqueles de quem discordava. Durval Albuquerque Júnior critica o seu posicionamento e manifesta as razões pelas quais Carlo Ginzburg utiliza de um procedimento retórico estratégico do discurso inquisitorial e judiciário: a submissão da variedade de formas de pensar a um só conceito, em um só esquema explicativo, que simplifica, caricaturiza e estereotipa aquelas que são consideradas diferentes. Procedimento que o próprio Ginzburg criticou em seus trabalhos, como em Andarilhos do Bem (1988), O Queijo e os Vermes (1987), entre outros. É preciso reconhecer que a dita “historiografia pós-moderna” não se qualifica enquanto uma corrente de pensamento homogênea e coerente, na verdade, ela se apresenta mais como uma diversidade de perspectivas, métodos e teorias divergentes entre si que se aproximam menos pela uniformidade que pelo rompimento com a tradição moderna que marca a história. Para Durval Albuquerque Júnior, Ginzburg utilizava essa estratégia para reduzir em inimigo todos aqueles de quem discordava.
A seguir, as reflexões acerca do passado e da memória e de seus usos no presente ganham forma na segunda parte do livro. Como é o caso do oitavo capítulo, “As sombras brancas: trauma, esquecimento e usos do passado”, no qual o autor faz referência a literatura luso-africana e algumas reflexões proporcionadas pelas obras dos autores José Saramago, Eduardo Agualusa e José Gil em relação a memória, identidade e esquecimento. Com efeito, Durval Albuquerque Júnior discute sobre a questão do trauma na história portuguesa, que apesar de todo o processo de ser uma cidade histórica que constantemente exibe os símbolos e marcas do passado, ao mesmo tempo, ignora ou esquece dos traumas vivenciados, seja a experiência salazariana, como também, o processo de colonização exploratória nos países africanos, asiáticos e americano, como é o caso do Brasil. Para o autor, é função dos historiadores expor o sangue derramado e o “cheiro de carne calcinada” e clamar por justiça. Sendo assim, a história deve ser o trabalho com o trauma para que esse deixe de alimentar a paralisia e o branco psíquico e histórico, em referência a cegueira branca do livro Ensaio sobre a Cegueira (1995), de José Saramago.
Uma discussão semelhante se segue no nono capítulo, “A necessária presença do outro, mas qual outro?: reflexões acerca das relações entre história, memória e comemoração”, no qual Durval Albuquerque Júnior elabora acerca de como as comemorações e datas históricas são encaradas pela historiografia hoje, sobre as quais há um consenso de que precisam ser problematizadas, sendo as versões oficiais alvo de críticas que se transformaram em uma densa produção historiográfica. Ele conclui sobre a importância de “fazer da comemoração profanação e não culto, fazer da comemoração divertimento e não solenidade, fazer da comemoração momento de reinvenção do passado e não de cristalização e de estereotipização do que se passou” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 190). Seguindo essa perspectiva, no décimo capítulo, “Entregar (entregar-se ao) o passado de corpo e língua: reflexões em torno do ofício do historiador”, ele traz também para o debate a questão da “verdade” e do negacionismo histórico que tem sido uma ferramenta recorrente dos grupos de extrema direita no Brasil para desqualificar o conhecimento produzido pela história. Dessa maneira, recomenda maneiras para combatê-lo, como, por exemplo, através do uso da imaginação, da linguagem e da narrativa para emocionar, sensibilizar sobre os sofrimentos, corpos e tragédias ocorridas no passado, como é o caso do Holocausto e da Escravidão. Para o autor, esse é o meio mais eficaz para que as pessoas consigam ser afetadas pelo conhecimento histórico e possam aprender com ele.
Na terceira parte do livro, o foco da discussão foi o ensino de história. Assim, no capítulo “Regimes de historicidade: como se alimentar de narrativas temporais através do ensino de história”, o historiador paraibano estabeleceu um paralelo em termos de comparação entre regimes de historicidade e regimes alimentares. Levantando questionamentos sobre a qualidade do que os alunos estão sendo alimentados nas aulas de história e apontando para a necessidade de aulas mais atrativas, lúdicas, saborosas, sem, no entanto, perder a qualidade, a crítica e a historicidade. Nesse sentido, defende que os professores devem contar histórias que sejam realmente interessantes e que afetem, de fato, os alunos. Sendo responsabilidade dos docentes, ensiná-los a terem uma relação saudável com o tempo, com a diferença e com a alteridade. Nessa proposta de um ensino mais criativo, no décimo segundo capítulo, “Por um ensino que deforme: o futuro da prática docente no campo da história”, o autor provoca o leitor/professor a desconstruir sua visão de escola e da atividade docente, proporcionando uma prática que realmente revolucione. Ele discute sobre o estatuto da escola atualmente e sua “crise” enquanto instituição formadora. Um ensino que deforme é aquele que “investe na desconstrução do próprio ensino escolarizado, rotinizado, massificado, disciplinado, sem criatividade, monótono” (ALBUQUERQUE, 2019, p. 240).
No último capítulo, “De lagarta a borboleta: possíveis contribuições do pensamento de Michel Foucault para a pesquisa no campo do ensino da história”, tece críticas acerca do uso da obra de Michel Foucault na área da educação que se centralizam apenas na escola como instituição disciplinar e que não exploram outros olhares sobre a suas obras. Dessa maneira, ele lista uma série de recomendações para os pesquisadores na área de ensino de história para explorarem a obra de Michel Foucault de outra maneira, uma pesquisa que não repita o que já foi dito, mas que seja inventiva, ousada, evitando assim, certo dogmatismo.
Durval Albuquerque Júnior é um crítico da historiografia e tem uma extensa carreira. Em O Tecelão dos Tempos, ele reúne quatorze ensaios escritos ao longo dos anos, o que explica a variedade de discussões. Esse é um livro instigante que considero a melhor produção desse historiador até o momento. Ele possui uma escrita fluída, clara e objetiva, sendo uma preocupação recorrente a explicitação sobre o significado de conceitos e ideias discutidas, para assim evitar mal-entendidos. Esse livro deveria ser lido acompanhado de outra obra desse autor, História: a arte de inventar o passado, publicada em 2007, no qual ele faz outras duras críticas a produção histórica. Obra polêmica que causou desconforto por parte dos pares acadêmicos, questão tocada por ele na introdução.
Uma das marcas da sua escrita é a presença de inúmeros referenciais teóricos, citados e retomados em diversos momentos do texto. Pela clareza do texto, é uma obra tanto para os mais experientes em teoria da história, como também para os iniciantes. Pelo fato de serem ensaios, as discussões não se encerram nos capítulos, sendo interessante para o leitor procurar as obras citadas ao longo do texto e aprofundar esses assuntos individualmente. Assim, esse exercício contribui para a melhor compreensão dos assuntos abordados e para a visão de outras perspectivas.
De fato, o historiador é como um tecelão, que tece as tramas do tempo, compondo um tecido que, nesse caso, é a narrativa histórica. Sendo também, inclusive, cozinheiro, responsável por produzir sabores, delícias e dissabores no tempo. Portanto, fica a recomendação dessa obra tão rica de discussões pertinentes aos amantes da história e que também se dedicam a produzi-la. Durval Albuquerque Júnior além de historiador, é um poeta, que apesar de não escrever poesias, escreve uma história poética, sensível, afetiva, que emociona e nos faz relembrar dos prazeres de se produzir história.
Referências
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da História. Bauru: Edusc, 2007.
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019.
CEZAR, Temístocles. Prefácio. In: ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 09-12.
GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem: feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Vitória Diniz de Souza – Graduação em História pela UEPB, Guarabira-PB, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN, Natal-RN. Bolsista de Mestrado do CNPq. E-mail: [email protected].
[IF]História e Pós-Modernidade – BARROS (FH)
BARROS, José D’ Assunção. História e Pós-Modernidade. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2018. Resenha de: OLIVEIRA, Ana Carolina. História e pós-modernidade: uma polêmica na historiografia. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.547-552, jul./dez., 2919.
Perante as polêmicas na historiografia sobre uma história pós-moderna, as quais trazem à tona os debates sobre a aproximação da história com a ficção e com seu significado polissêmico, o embasamento argumentativo deve encaminhar aspectos teóricos e não de senso comum. Sendo assim, é necessário pontuar, de forma teórica e crítica, o conceito de pós-modernidade e o que isso representa na historiografia.
O livro História e Pós-Modernidade, escrito pelo autor José D’ Assunção Barros, possui o objetivo de pontuar questões que permeiam a discussão da pós-modernidade na história, compondo uma estruturação explicativa e básica sobre o tema. O autor procura expor referências e indicações de leituras, mas os seus capítulos são curtos, o que torna o livro uma introdução com possíveis caminhos de leituras, isso se deve à intencionalidade de Barros em escrever algo mais próximo de um manual, em pequenos capítulos, para aqueles que não têm conhecimento sobre o tema.
O livro contém treze capítulos que estão elencados na seguinte ordem: “Pós-Modernidade: referências iniciais”, “Pós-Modernismo: o conceito e algumas análises clássicas”, “A análise de Fredric Jameson sobre o pós-modernismo”, “Historiografia e Pós-Modernismo: a polêmica de Ankersmit”, “A crise da história total e a fragmentação da história”, “Narrativa e cognição histórica: interações e conflitos”, “Hayden White: a História como gênero literário”, “Resistências à redução da história ao discurso”, “Paul Ricoeur: tempo e narrativa”, “A Pós- Modernidade e os novos modos de escrita historiográfica”, “Traços do Pós-Modernismo: alguma síntese”, “Quem são os pós- modernos”, “Conclusões: a história pós-moderna e o contexto das crises historiográficas”. Os capítulos são escritos de forma acessível, para aqueles que queiram tirar dúvidas ou ter uma visão geral do tema.
A proposta de Barros foi de elaborar uma escrita que dialogasse com o contexto histórico e a promoção de discussões historiográficas, trazendo uma análise da pós-modernidade, sob a ótica de vários autores como Jameson e Ankersmit.
Barros começa seu livro com a discussão acerca do conceito de pós-modernidade, por tratar-se de uma definição conceitual que impõe consigo ambiguidades. Às vezes, pós-modernidade e pós-modernismo são usados como sinônimos, causando confusão. É no capítulo “Pós-Modernismo: o conceito e algumas análises clássicas” que as diferenças conceituais são apresentadas. Segundo Barros, a pós-modernidade significa um período específico da História Contemporânea, enquanto o pós-modernismo representa um campo da esfera cultural (BARROS, 2018, p. 11). Seguindo o conceito, a linha de pensamento da pós-modernidade é questionar a concepção de verdade clássica, a ideia de progresso ou de uma possível emancipação universal, como se a história tivesse um objetivo para ser atingido, o conceito de razão, a questão da identidade e objetividade, além das críticas contra as grandes narrativas.
A pós-modernidade surge da mudança histórica no Ocidente, quando o capitalismo se implanta na sociedade, na qual encontramos um mundo do consumismo e da indústria cultural. Por meio de uma análise marxista sobre a cultura e a história no pós-modernismo, Barros trabalha em seu capítulo “A análise de Fredric Jameson sobre o pós-modernismo”, com a posição de Jameson sobre a pós-modernidade, apontando para o poder imensurável que a mídia passa a conter. Tudo é comercializado, tanto produtos materiais quanto imateriais e com a historiografia não poderia ser diferente, pois ela transformou-se em um produto. Por conta do consumismo houve o crescimento de livros no mercado. Os historiadores passaram a escrever obras literárias ao estilo do romance histórico, para que seus livros chegassem à maior parte da população, além dos historiadores, visando à ampliação do lucro. O problema é que não fica nítido se nesses livros a obra é uma ficção para entretenimento literário ou se contém alguma metodologia científica (BARROS, 2018, p. 21-22). Segundo Jameson: na cultura pós-moderna, a própria cultura se tornou um produto, o mercado tornou-se seu próprio substituto, um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem: o modernismo era, ainda que minimamente e de forma tendencial, uma crítica à mercadoria e um esforço de forçá-la a se autotranscender. O pós-modernismo é o consumo da própria produção de mercadorias como processo (JAMESON, 1997, p. 14).
Da esfera cultural para a historiografia, Barros utiliza o artigo Historiografia e pós-modernismo, escrito por Frank Ankersmit, a fim de iniciar as discussões sobre a historiografia no capítulo “Historiografia e Pós-Modernismo: a polêmica de Ankersmit”. O artigo de Ankersmit trabalha a historiografia pós-moderna, mostrando uma quebra de paradigma, com a crítica de que a “crise das metanarrativas seria o traço principal da Condição Pós-Moderna” (BARROS, 2018, p. 27).
Por meio da historiografia pós-modernista, encontrada principalmente na história das mentalidades, é realizada uma ruptura com a tradição essencialista, no pensamento pós-moderno. O objetivo não é mais a integração, uma totalidade ou uma história universal. Para Ankersmit as principais diferenças entre uma história moderna e pós-modernista são: Para o modernista, dentro de sua noção científica de mundo, dentro da visão de história que inicialmente todos aceitamos, evidências são essencialmente evidência de que algo aconteceu no passado. O historiador modernista seguia uma linha de raciocínio que parte de suas fontes e evidências até a descoberta de uma realidade histórica escondida por trás destas fontes. De outra forma, sob o olhar pós-modernista, as evidências não apontam para o passado; mas sim para interpretações do passado; pois é para tanto que de fato usamos essas evidências (ANKERSMIT, 2001, p. 124).
Portanto, não apontar para os padrões essencialistas no passado é, antes de tudo, a essência da pós-modernidade. Nesta fase da historiografia, parece que o significado adquiriu mais importância que a reconstrução, sendo o objetivo dos historiadores desvendar o significado do acontecimento no passado, para poder informar gerações atuais e posteriores. A historiografia pós-moderna é enquadrada em um paradigma historiográfico, em uma alternativa ao positivismo, historicismo, entre outros inúmeros existentes. Barros chama a atenção para a indagação que Ankersmit transmite “o nosso insight sobre o passado e a nossa relação com ele serão, no futuro, de natureza metafórica, e não real” (ANKERSMIT apud BARROS, 2018, p. 33), ou seja, é o momento de colocar em primeiro plano o pensar sobre o passado e em segundo lugar investigá-lo.
Para a corrente historiográfica pós-modernista “a História seria essencialmente construção e representação, com pouca ou nenhuma ligação em relação a uma realidade externa” (BARROS, 2018, p. 77). Desta afirmação surgem diversos posicionamentos. Existem aqueles que veem a história com ceticismo ou como uma possível alternativa de misturar história e ficção ou aqueles que relacionam a construção da história com práticas disciplinares e com um sistema de poder.
A História (ou as histórias) torna-se aqui profundamente subjetivada no que se refere a suas destinações. E, mais ainda, ao escrever uma história dirigida para um público específico, o historiador pode pensar isto socialmente – direcionando-a a grupos que cultivem identidades específicas, como a negritude, o feminismo, o ecologismo, o movimento gay, as identidades religiosas ou simplesmente pensar a destinação do seu trabalho em termos de públicos consumidores, pois o mercado editorial contemporâneo até mesmo o estimula a isto (BARROS, 2018, p. 78).
Aqui voltamos para a questão da superprodução historiográfica: por um lado existem obras que misturam história e ficção. Os historiadores escrevem romances históricos e apresentam uma narrativa sem problematização ou sem uma metodologia científica. Por outro lado, encontramos algo importante, como as histórias que foram deixadas de lado. Podemos aqui direcionar a história para um público, como a história das mulheres, a cultura africana, as diversas religiões excluídas; encontramos uma variedade de histórias que antes não seriam escritas e aceitas no meio acadêmico. Encontramos na historiografia um diálogo com a sociedade. Se antes os paradigmas historiográficos ou os grupos acadêmicos não aceitavam determinado tema, como os pesquisados na micro-história ou dos pós-modernistas, com o tempo esses aspectos importantes foram modificados.
Os historiadores dificilmente se assumem pós-modernistas, por conta das polêmicas e atritos na historiografia. O que implicaria ser um historiador pós-moderno? Seguindo um modelo de apresentação, Barros utiliza as definições de Ciro Flamarion Cardoso, no capítulo “Traços do Pós-Modernismo: alguma síntese”, para pontuar as cinco características principais de um historiador pós-moderno: “(1) a desvalorização da Presença em favor da Representação; (2) a crítica da origem; (3) a rejeição da unidade em favor da pluralidade; (4) a crítica da transcendência das normas, em favor da sua imanência; (5) uma análise centrada na alteridade constitutiva” (BARROS, 2019, p. 81-82). No entanto, são apenas tentativas de atribuir características, pois a rotulação de historiadores e suas pesquisas são difíceis.
Por fim, Barros apresenta muitos questionamentos interessantes. Um deles é a seguinte pergunta, no capítulo “Conclusões: a história pós-moderna e o contexto das crises historiográficas”: “Será a historiografia pós-moderna um produto das crises historiográficas, ou uma resposta a estas mesmas crises?” (BARROS, 2018, p. 99).
Em primeiro lugar, vivemos em uma época com alternativas para o historiador optar ao escrever história, conceitos e paradigmas. Como a história é devir, é natural que comecem a surgir novos paradigmas e questionamentos das concepções de história existentes. A crise acontece com frequência, é a partir dela que repensamos a própria forma de escrever e se essa ou aquela corrente historiográfica precisa ser modificada. Neste caso, podemos expor dois fatores: os “endógenos, que são aqueles que foram produzidos pelo próprio sistema em causa; e há os fatores exógenos, que são aqueles que intervieram de fora” (BARROS, 2018, p. 99).
Se analisarmos a historiografia do início do século XIX, por exemplo, nota-se que, com seu próprio desenvolvimento, surge a superconsciência histórica, o historiador contemporâneo começa a elaborar a sua própria consciência histórica, a qual condiz com a historicidade e relatividade da história que são frutos, desde as mudanças “dos desenvolvimentos da hermenêutica historicista à crescente tomada de consciência gerada pela própria prática historiográfica, ao se confrontar com níveis vários de subjetividade” (BARROS, 2018, p. 100). Este processo é algo que ocorreu no âmbito interno da história como campo de disciplina, pois o historiador entra em contato com “a natureza relativa e histórica daquilo que servirá de base material para a produção do conhecimento histórico: a fonte” (BARROS, 2018, p. 100).
As discussões em relação ao tratamento dos documentos foram debatidas já com os primeiros historicistas. O texto historiográfico não era mais visto com neutralidade ou como um documento oficial detentor de verdades inquestionáveis. As críticas documentais mostraram que um texto sempre carrega a subjetividade e o contexto da época de sua escrita. Com o tempo, o texto escrito pelo historiador passou a ser analisado da mesma forma, considerando a subjetividade. Já no século XX, o historiador contemporâneo constatou a necessidade de lançar críticas e refletir sobre a própria historiografia.
As obras com as discussões sobre a historiografia surgiram em 1970, como por exemplo, A Operação Historiográfica de Michel de Certeau, Como se escreve a História de Paul Veyne, A Meta História de Hayden White, entre outras, a partir de obras como estas “foi se desenvolvendo no historiador contemporâneo, enfim, aquilo que poderemos categorizar como uma superconsciência histórica” (BARROS, 2018, p. 101).
No entanto, o fator “endógeno” é um produto do próprio “sistema em causa”, ou seja, é a superconsciência histórica. Por se tratar de um processo interno da história, ela é produto e causa. Por conter a superconsciência, o historiador vê-se obrigado a repensar a historiografia que escreve promovendo uma transformação na historiografia. Já o fator “exógeno” é o conjunto de acontecimentos externos que afetam a história, como a reflexão vinda da linguística que trouxe questionamentos sobre os limites da narrativa histórica. Com esta reflexão surgiu a centralização das “práticas e representações de um setor da chamada historiografia pós-moderna que, no limite, passou a reduzir a Historiografia apenas ao Discurso” (BARROS, 2018, p. 102).
São inúmeras as crises na historiografia, como aponta Barros no capítulo “Conclusões: a história pós-moderna e o contexto das crises historiográficas”, sendo que uma delas é marcada pela afirmação de Fukuyama, em 1989, sobre o “fim da história”, que usou como argumento a queda do socialismo como um sinal de que a “história tinha chegado ao fim”, por atingir o capitalismo (BARROS, 2018, p. 102). Essa afirmação, de que a “a história tinha chegado ao fim”, recebeu mais críticas do que elogios, pois foi na realidade um efeito político e midiático e não um posicionamento pautado em argumentos históricos fundamentados e verossímeis. Por outro lado, a crise da cientificidade de 1980 proporcionou um questionamento da História Serial e gerou uma crise para os herdeiros da corrente historiográfica dos Annales. Para concluir, Barros afirma que: as crises na história – das de baixo impacto às de alto impacto, das fugazes às de longa duração, das que trazem decadência às que permitem crescimento, das que perturbam às que autorregulam, das que são geradas por dentro às que vêm de fora – podem ser pensadas, em um plano mais alto, como partes importantes desta complexa história da historiografia. Os rumos da história pós-moderna, se assim podemos chamar a um certo setor da historiografia contemporânea, e também os futuros desenvolvimentos de uma série de outras propostas que não se adequem propriamente ao conceito de “pós-modernismo historiográfico”, ainda estão por se definir no interior desta mesma complexidade (BARROS, 2018, p. 104).
Portanto, estamos diante de um livro que contém vantagens e desvantagens. A vantagem é que os capítulos trazem uma leitura, que flui com explicações simples e objetivas. Outro ponto positivo é que Barros cita e indica várias obras para leitura sobre o tema. A desvantagem é que o livro se aproxima de um manual com capítulos curtos. Seria interessante se estes fossem densos, pois é um tema pouco trabalhado, mas acredito que o objetivo de Barros tenha sido o de apontar um panorama geral. Além de tudo, o livro compõe uma leitura dinâmica e agradável, com uma linguagem objetiva e didática, fato que impulsiona a leitura até o fim do livro, prendendo a atenção aos argumentos e indicações que Barros coloca em sua narrativa.
Referências
ANKERSMIT, Franklin Rudolf. Historiografia e Pós-Modernismo. Topoi, Rio de Janeiro, p. 113-135, mar. 2001.
BARROS, José D’ Assunção. História e Pós-Modernidade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2018.
JAMESON, Fredic. Pós-Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São Paulo: Editora Ática, 1997.
Ana Carolina Oliveira – Mestranda na Pós-Graduação em História da UNESP de Assis, estado de São Paulo (SP), Brasil. Atualmente é bolsista CAPES. E-mail para contato: [email protected].
[IF]Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa – EAKIN (FH)
EAKIN, Paul John. Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa. São Paulo: Letra e Voz, 2019. Resenha de: MOREIRA, Igor Lemos. Pensar a autobiografia entre história, identidade e narrativa. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.566-572, jul./dez., 2019.
As discussões a respeito das relações entre identidades e narrativas são recorrentes nas Ciências Humanas e Sociais. Desde a virada linguística no século XX, os estudos em diferentes áreas do conhecimento como a história, a crítica literária, a psicanálise e a antropologia têm procurado compreender estruturas, práticas e processos que envolvem o ato narrativo, destacando constantemente sua relação com a formação de identidades/identificações e representações. Publicada em 2019, a obra Vivendo autobiograficamente: A construção de nossa identidade narrativa, do pesquisador estadunidense Paul John Eakin, contribui para o aperfeiçoamento das discussões sobre identidades e narrativas em áreas de estudos como práticas biográficas, cultura escrita e narrações contemporâneas.
Paul John Eakin é graduado em História e Literatura pela Universidade de Harvard, onde também cursou seu mestrado e doutorado. Especialista na área de autobiografias, é professor emérito da Indiana University, onde ocupou a cadeira Ruth N. Halls de Inglês. A obra, publicada originalmente pela Cornell University, foi lançada no Brasil pela editora Letra e Voz, sendo a primeira tradução para português de um trabalho do autor. O livro está estruturado com uma introdução e quatro capítulos, apresentando os seguintes eixos centrais: os processos de narrativa sobre si; a consciência autobiográfica; a construção identitária por meio das narrativas; e autobiográfica, memória e rememoração.
O primeiro capítulo, “Falando sobre nós mesmos: as regras do jogo”, parte das discussões sobre as narrativas de “si” na contemporaneidade, ao analisar articulações analisando articulações entre autobiografias e mídias (com destaque a programas televisivos como Oprah). Partindo de vasta revisão bibliográfica e passando por autores como Oliver Sacks, Eakin discute e identifica alguns processos envolvidos nas narrativas autorreferênciais construtivas de cada indivíduo. Entre os temas que gravitam este capítulo estão: os efeitos/elaborações de acontecimentos atuantes na constituição das subjetividades; as “regras” que constituem o ato narrativo e a identidade narrativa, que para o autor é algo característico de todo sujeito; a ideia de efeito de verdade, permitindo ao(a) leitor(a) observar um breve panorama da densidade de discussões que perpassam o debate sobre autobiografias. Neste capítulo, a discussão realizada destaca que “[…] quando se trata de nossas identidades, a narrativa não é simplesmente sobre o eu, mas sim de maneira profunda, parte constituinte do eu.” (EAKIN, 2019, p. 18, grifo do autor) A respeito desta discussão é interessante apontar que, na perspectiva do autor, a construção autobiográfica é um processo que lida com diferentes dimensões temporais de passados e experiências vividas, para além de ser um ato sempre do “tempo presente”, ou seja, do momento de elaboração da narrativa. Essa construção no presente é o que manifesta, ou representa, as identidades dos sujeitos que a constituem a partir de suas vivências, memórias, lembranças e projeções de futuro. Dentro desta chave é possível aproximar os atos narrativos da elaboração de acontecimentos (narração de fatos) que rompem com as temporalidades, sendo uma questão em comum entre o autor e as discussões de François Dosse (2013). Para o historiador francês, a elaboração de um acontecimento é sempre uma produção atual, do momento de comunicação, que articula uma forma de significação acerca da experiência, sem a qual o evento não existiria.
Eakin (2019) aproxima-se dessa leitura ao considerar que esses processos, muitas vezes, levam a incluir experiências coletivas, que nem sempre são frutos de vivências pessoais. Para exemplificar, o autor destaca o 11 de setembro de 2001, uma vez que inaugurou a possibilidade de ter civis como personagens do acontecimento, o que atesta “o desejo de pessoas comuns enxergarem por si mesmas o que aconteceu naquele dia” (EAKIN, 2019, p. 20). Ao analisar esse evento, Dosse (2013) observa o papel das mídias que fabricaram instantaneamente o acontecimento, ao mesmo tempo que o historicizavam. Nesse caso, Dosse e Eakin concordam que um acontecimento testemunhado, direta ou indiretamente, é fundamental na elaboração das identificações, relação possível através das narrativas que permitem ao sujeito inserir-se em contextos que não necessariamente tenha vivido ou experienciado diretamente.
Outro elemento central no capítulo, e que perpassa o restante da obra, é a noção de identidade narrativa e sua relação com a construção de histórias de vida e trajetórias. Para o autor, a identidade, elaborada a partir de identificações, é fruto de construções narrativas entendidas “[…] de um modo inescapável e profundo, elas são o que somos, pelo menos enquanto atores posicionados dentro do sistema de identidade narrativa que estrutura nossos arranjos sociais atuais.” (EAKIN, 2019, p. 10, grifo do autor). Nesta interpretação, a identidade narrativa envolve a estruturação de uma forma de construção autobiográfica que molda o sujeito, reestruturando o passado em uma perspectiva linear e progressiva dos fatos.
A perspectiva do autor enquadra-se no fato de a identidade narrativa ser acumuladora de mais elementos com o passar dos anos, resultado de uma construção da história dos sujeitos, constantemente resignificada. Esse processo estrutura uma narração intencionalmente progressiva sobre a trajetória do sujeito, sempre promovida pelo individualismo. Eakin (2019) destaca que as falhas na memória, vistas como esquecimentos, impactam diretamente na constituição dos relatos autobiográficos, fragilizando a construção dessa identidade narrativa. Essa relação pode ser vista dentro da noção de ipseidade de Paul Ricouer (1991), na qual os sujeitos moldam constantemente o passado de acordo com aquilo que os jogos entre memória e esquecimento permitem e não apenas o que a experiência vivida ou apreendida possibilita relatar1.
No capítulo seguinte, intitulado “Consciência autobiográfica: corpo, cérebro, eu e narrativa”, o autor analisa produções literárias e autobiográficas nas últimas décadas, discutindo como tem se elaborado diferentes formas de identidade narrativa no tempo. Partindo da compreensão de que tais obras são consumidas constantemente, na medida em que existe um desejo das sociedades contemporâneas pela identificação com um outro e pelo consumo de memórias, o autor propõe entender o lugar da ficção e da história no ato de “relatar a si mesmo”. Ao afirmar que “[…] a memória e a imaginação conspiram para reconstruir a verdade do passado” (EAKIN, 2019, p. 76), Eakin destaca que as memórias são perpassadas constantemente pela tensão entre ficção, verossimilhança e “verdade”.
Nos estudos historiográficos sobre autobiografias2 é importante, muito mais que a verdade dos fatos narrados, compreender os diferentes modos como indivíduos pensaram e sentiram os fatos de suas vidas. Enquanto o historiador e/ou biógrafo finda um compromisso com os fatos ocorridos ao narrar uma trajetória, o autobiógrafo tem sua lealdade associada ao “eu”/sujeito construído. Deste modo, a autobiografia apresenta-se como espaço de tensões e o historiador e/ou pesquisador dedicado ao seu estudo necessita de atenção redobrada para observar que a principal relação não se dá na verossimilhança, mas sim com o efeito da linguagem que representa um sujeito, que almeja determinado fim. Um elemento central para compreender esse efeito de linguagem é a noção de corpo, pois não somente é o espaço em que o “eu” habita, como também é o que permite o indivíduo sentir e experienciar a vida.
Nesse sentido, é possível perceber que o principal argumento do autor centra-se na ideia de que a autobiografia está necessariamente associada à espetaculização dos indivíduos, ou seja, seu local é não apenas o presente, mas também o seu destinatário, “o outro”. Artiéres (1998), ao debater os processos de arquivamento do eu nas sociedades contemporâneas por meio das práticas de guarda e constituição de acervos pessoais, problematiza essa questão de maneira semelhante a Eakin. Ambos os autores, ao discutirem os processos autobiográficos, tencionam as relações temporais para além apenas de destacar o ato de escrita no presente ou sua intencionalidade futura. Dentro dessa perspectiva, construir uma autobiografia é elaborar uma narrativa sobre si e sobre um tempo não linear, apesar de sua sistematização geralmente ser, como forma de orientação e constituição das identidades.
O terceiro capítulo, “Trabalho identitário: pessoas fabricando histórias”, inicia uma segunda parte do livro no qual o autor procura construir breves relatos de estudos de caso. É possível perceber que Eakin divide seus estudos de caso em torno de dois grupos principais de documentações: (1) Obras autobiográficas e literárias de grande recepção, publicadas na idade moderna e na contemporaneidade; (2) Relatos de vidas cotidianas e de pessoas “ordinárias”. Para o primeiro caso de estudo, o autor retoma relatos autobiográficos desde o século XVIII e XIX, como os depoimentos recolhidos por Henry Mayhew (1881-1841), para debater as diferentes operações e processos que envolvem as autobiografias nos séculos XX e XXI.
Tomando o final da Idade Moderna francesa como ponto de partida, o autor historiciza a emergência das práticas de relatar a si mesmo e das autobiografias. Para Eakin (2019), apesar de os relatos escritos serem predominantemente ligados às elites, ainda assim é possível mapear a construção de narrativas autobiográficas através de leituras a contrapelo, como fez Mayhew. Embrenhando-se pelo que pode ser considerado um exercício de busca pela compreensão dos estratos de tempo (KOSELLECK, 2014), apesar de essa dessa relação não ser mencionada, Paul Eakin afirma que esse processo foi intensificado com a emergência dos meios digitais, criando sociedades cada vez mais narradoras de si. Redes sociais, a exemplo do Facebook e o MySpace foram fundamentais para lançar a centelha que favorece a alteração da identidade, uma vez que propiciam a mudança não somente de construções narrativas, mas também cria-se a necessidade constante do on-line, o que causa profunda sensação de aceleração do tempo e a consequente efemeridade da elaboração de uma identidade narrativa.
Nesse capítulo, o segundo conjunto de fontes utilizadas são os relatos do cotidiano de sujeitos considerados, pelo autor, como “comuns” ou “ordinários”. Diferentemente de uma análise exclusiva sobre como o cotidiano é narrado por esses sujeitos a partir dos livros autobiográficos, Eakin (2019, p. 114) afirma que seu interesse é compreender que a “atividade de construir eus e histórias de vida consiste ainda em mais uma prática cotidiana”, perspectiva elaborada através dos estudos de Michel de Certeau.
Michel de Certeau (2009) entende que o cotidiano é constantemente elaborado por meio de dinâmicas entre estruturas socioculturais e práticas individuais e (re)inventivas. Eakin analisa de que modo as práticas de relatar o cotidiano são elaboradas, dimensionando o consumo destas narrativas. Uma das ocorrências analisadas, e talvez o mais intrigante dos estudos de caso, é o do próprio pai do pesquisador, no qual, para além de pensar nos impactos da figura paterna na construção da identidade narrativa, discute de que maneira ele o influenciou a se interessar por autobiografias. Partindo dessa relação, o autor discute suas próprias narrativas autobiográficas, interrogando-se sobre a maneira como “modelos” de histórias e os relacionamentos interpessoais influenciam na constituição de identidades.
A discussão sobre o pai do autor prossegue no capítulo seguinte da obra, quando Eakin passa a realizar um relato autobiográfico. Em “Vivendo autobiograficamente”, capítulo que dá nome à obra, o autor mergulha em uma escrita autobiográfica sobre si e sua identidade narrativa. Se até essa altura do livro houve a discussão dos aspectos teóricos e metodológicos, bem como a realização de estudos de caso e a historicização de algumas práticas, o último capítulo apresenta o autor problematizando seu exercício cotidiano. Em sua leitura é possível perceber uma provocação intencional a quem “[…] se propõe a usar esse material como fonte para uma análise social deve perguntar […] de onde é que provem o entendimento de um indivíduo acerca do eu e da história de vida” (EAKIN, 2019, p. 130). Nesse sentido, para analisar autobiografias, Eakin diz que a experiência é fundamental para compreender suas práticas.
O autor utiliza a sua trajetória para refletir sobre o perfil adaptativo da história, dependendo sempre do narrador/elaborador, seu contexto e sua intencionalidade. Através dessa perspectiva, Eakin (2019, p. 158) defende que “[…] o discurso autobiográfico tem um papel decisivo no regime de responsabilização social que rege nossas vidas, e, nesse sentido, pode-se dizer que nossas identidades são socialmente construídas e reguladas”. Dentro dessa constatação é perceptível a centralidade do eu e de suas intenções, em que se pode considerar a narrativa como instrumento de legitimação de poder e de um determinado status ou lugar social no qual seu comunicante se insere. Essa questão pode ser interpretada através de outras perspectivas contemporâneas das ciências humanas que não citadas por Eakin, como, por exemplo, os conceitos de lócus de enunciação (GLISSANT, 2011). Nessa articulação, não apenas o passado mobilizado no presente da narração, mas também a categoria e diferentes noções de futuro são aspectos centrais.
É particularmente interessante observar que, ao chegar ao último capítulo da obra, o(a) leitor(a) tenha sido conduzido a perceber a forma de organização dos temas intensamente problematizados. Partindo inicialmente de uma discussão teórica sobre as questões autobiográficas, o autor procurou definir seus conceitos norteadores, abordando também suas historicidades, para aplicá-los em estudos de caso e, por fim, produzir sua própria identidade narrativa. Tal estratégia cria um espaço para que o(a) leitor(a) mobilize as discussões do próprio teórico, percebendo os processos apontados e também sua tese principal: a de que é impossível fugir da narrativa, pois a elaboração de identidades é um processo de construção de histórias no presente a partir de suas relações com o tempo.
Referências
ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 11, n. 21, p. 9-34, jan./jun. 1998.
BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2006. p. 183-191.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: EdUNESP, 2013.
GLISSANT, Édouard. Teorias. In: GLISSANT, Édouard (Org.). Poética da relação. Portugal: Porto Editora, 2011. p. 127-170.
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre a História. Rio de Janeiro: Contraponto, Ed. PUC-RJ, 2014.
RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991.
Notas
1 Essa discussão encontra-se no texto de Pierre Bourdieu (2006) sobre a “Ilusão Biográfica”, conceito mobilizado pelo sociólogo para alertar aos pesquisadores na área de biografias e trajetórias, assim como os biógrafos, a respeito dos perigos da linearidade e das construções teleológicas da narrativa de vida de sujeitos. Em função da proximidade com os indivíduos biografados, e o processo de pesquisa que permite ao biógrafo conhecer na maioria dos casos o desfecho de sua obra antes mesmo de iniciar sua narrativa, Bourdieu reafirma a necessidade de problematização das trajetórias, compreendendo os processos, percursos e enfrentamentos que marcam a vida dos indivíduos.
Igor Lemos Moreira – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGH-UDESC), na linha de pesquisa Linguagens e Identificações. Bolsista PROMOP/UDESC, estado de Santa Catarina (SC), Brasil. Mestre e Graduado em História (Licenciatura) pela mesma instituição. Integrante do Laboratório de Imagem e Som. E-mail: [email protected].
[IF]História, memória e violência de Estado: tempo e justiça | Berber Bevernage
“Por que é tão difícil entender o passado assombroso e irrevogável na perspectiva da historiografia acadêmica e do pensamento histórico moderno ocidental em geral?” A pergunta que guia História, Memória e Violência de Estado: tempo e justiça, de Berber Bevernage (2018), pressupõe a angústia da incompletude e do inacabamento (MBEMBE, 2014), da indeterminação e instabilidade do objeto “tempo presente” (DELACROIX, 2018). O autor nos oferece um mergulho na história da crítica à noção de tempo construída pela modernidade para mostrar toda a sua potência e enraizamento enquanto engenhosa forma de “não ver” certos mundos, grandemente incorporada pela disciplina histórica. Por entre as brechas desse olhar pretensamente universal, América Latina e África emergem como que alçadas à categoria de experiências (i)morais – porque marcadas pela violência e injustiça –, da luta política que marca o século XXI periférico: o direito ao tempo.
Entre as referências mais conhecidas pelo universo acadêmico brasileiro dedicado à História do Tempo Presente e que constituem a base da argumentação de Tempo e Justiça estão o crítico literário alemão Hans Gumbrecht e o historiador francês François Hartog. Por caminhos diferentes, ambos chamam atenção para o crescimento ao longo do século XX de uma nova sensibilidade temporal marcada por uma assimétrica concentração na esfera de um presente repleto de simultaneidades (GUMBRECHT, 2014), demarcando a emergência de um novo “regime de historicidade” chamado presentista (HARTOG, 2013). No interior dessa discussão, o livro apresenta os anos de 1980 como período de evidência dos embates entre formas distintas de experienciar o tempo (com suas diferentes articulações entre passado, presente e futuro), expressas pelo desaparecimento da linguagem do esquecimento e da anistia do vocabulário político global. Leia Mais
Manifesto pela História – ARMITAGE; GULDI (RBH)
Manifesto pela História é uma apologia da história de longa duração que reacende as discussões sobre o lugar dos historiadores na sociedade contemporânea. Publicado originalmente em 2014 pela Cambridge University Press (Armitage; Guldi, 2014), o livro foi prontamente disponibilizado na internet, o que permitiu sua rápida difusão. Após as traduções para os idiomas chinês, coreano, espanhol, italiano, japonês, turco e russo, finalmente está disponível para o leitor brasileiro a versão publicada pela editora Autêntica. 1 Leia Mais
História, Dialética e Diálogo com as Ciências: a gênese de Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr. (1933-1942) – IUMATI (RBH)
Como produzir uma grande obra de pensamento em um contexto periférico? É com essa pergunta que Paulo Teixeira Iumatti abre o seu História, dialética e diálogo com as ciências: a gênese de Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Jr. (1933-1942), livro originado de sua tese de doutorado, produzida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP) e concluída em 2001. De saída, cabe destacar a potência que o qualificativo “contexto periférico” dá à pergunta, pois afasta dela o idealismo próprio às posições que frisam o talento superior do indivíduo ou àquelas que acreditam numa espécie de circulação mundial igualitária de ideias. Já aqui a dimensão materialista, tão ao gosto do seu objeto, aparece com discreta precisão. Leia Mais
O que pode a biografia – AVELAR; SCHMIDT (PH)
AVELAR, Alexandre de Sá; SCHMIDT, Benito Bisso (Orgs.). O que pode a biografia. São Paulo: Letra e Voz, 2018. Resenha de: MOREIRA, Igor Lemos. Existem limites para a biografia? Projeto História, São Paulo, v.64, pp. 354-361, Jan.-Abr., 2019.
Aguardada desde a publicação de Grafia da vida: reflexões e experiências com a escrita biográfica (2013), a nova coletânea de textos organizada por Alexandre de Sá Avelar e Benito Bisso Schmidt a respeito do gênero biográfico foi lançada em 2018. Publicado pela editora Letra e Voz, o livro intitulado O que pode a biografia segue a mesma proposta da primeira obra: a reunião de textos téorico-metodológicos e relatos de experiências sobre a produção de biografias. Esse processo é perceptível, inclusive, nas diferenças de estruturação de ambas as obras. Enquanto a coletânea de 2013 foi organizada em três eixos reunindo onze autores (além da apresentação feita por Marieta Ferreira), a publicação de 2018 é dividida apenas em dois, focando, através de doze capítulos, nos elementos teóricos e nas práticas.
Iniciando com uma concisa apresentação, que faz referência a própria continuidade do trabalho iniciado em 2013, os organizadores afirmam que o livro nasce em um contexto de sedução pelo gênero biográfico no país, aumentando o número de interessados e convocando novas reflexões no campo das humanidades e das letras. Em seguida, são apresentados cinco textos que debatem a biografia a partir de seus “horizontes teórico-metodológicos”. Em “Contar vidas em uma época presentista: A polêmica sobre a autorização prévia”, Benito Schmidt retoma o tema da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida em 2015 pela ANEL, onde se previa a necessidade de anuência prévia concedida pelo biografado ou seus familiares ao escritor/pesquisador. Partindo da ADI e de casos brasileiros, como a polêmica envolvendo o historiador Paulo Cesar de Araújo1, o autor reflete sobre os regimes de historicidade, com ênfase no presentismo (HARTOG, 2013), e nas disputas de memórias que cercam o tema. Em seu texto, Schmidt pensa a constituição do campo biográfico na historiografia, entendendo as múltiplas temporalidades que transitam dentro do processo que chamou de “a biografia em julgamento”.
Em Os usos da biografia pela micro-história italiana: interdependência, biografias coletivas e network analysis, Deivy Ferreira Carneiro aborda as relações entre micro-história e biografia sob a chave de análise das experiências, das relações e do contexto social. Partindo da micro-história, o autor procura entender os sujeitos biografados como relacionais, pertencentes a determinados grupos e redes o que aproximaria a biografia da micro-história. Tal processo também rompe com a própria certeza da vida dos sujeitos biografados e com a ideia da linearidade das biografias produzidas predominantemente até o século XX. Segundo o autor, “a maior contribuição trazida pelo debate microanalítico acerca da biografia, a meu ver, foi trazer à tona um indivíduo cheio de incertezas que, na verdade, não tem uma percepção clara de si mesmo. (CARNEIRO, 2018. p. 56).
Maria da Glória de Oliveira, em Para além de uma ilusão: indivíduo, tempo e narrativa biográfica, dá seguimento à temática do sujeito, pensando a construção das trajetórias através dos processos de mediação narrativa, partindo de Pierre Nora. Historicizando a própria biografia, a historiadora tece sua reflexão acerca do papel da construção narrativa, especialmente da intriga, como maneira de “confrontar o indivíduo com a experiência do tempo” (OLIVEIRA, 2018. p. 61). Retomando também a noção de ilusão biográfica se destaca a compreensão que uma trajetória, e a experiência dos biografados, ocorre através não apenas de sua inserção contextual, mas igualmente da configuração do ato narrativo pelo qual essas experiências são materializadas.
A temática da narrativa é continuada por Mary Del Priore, autora de Biografia, biografados: uma janela para a história. Através também de uma historicização do gênero, Del Priore problematiza como os próprios historiadores opinaram e se relacionaram com as biografias. Em suas análises a autora reflete sobre as relações entre História e Literatura nesse processo, além de provocar o leitor a refletir sobre a própria disciplina e o lugar social e narrativo dos historiadores.
O último texto da seção, “Histórias de vida: um lugar de resistência para a reportagem”, é assinado por Rose Silveira. Destacando a distinção entre reportagem e notícia, a autora discute as possibilidades de pensar o livro-reportagem como uma forma de escrita biográfica. Aproximando História e Comunicação, o capítulo pontua elementos centrais da relação, abrindo espaço para reflexão sobre outras formas de produção de biografias no presente por não-historiadores. Como a autora destaca, esse processo ocorre através da noção de operação historiográfica a partir de Michel de Certeau. Por fim, visando exemplificar seus argumentos, Silveira analisa as biografias: A vida imortal de Henrietta Lacks (Rebecca Skloot) e Marighella: o guerrilheiro que incendiou o mundo (2012).
A segunda parte do livro, que reúne sete textos que apresentam como os enfoques teórico-metodológicos discutidos anteriormente perpassam as “experiências de pesquisa e leitura” de biografias. O texto que abre a sessão, assinado por Alexandre de Sá Avelar, discute a experiência de escrita de uma vida a partir da ideia de trajetória, o que foge do perfil totalizante da biografia. Procurando repensar o processo de elaboração de sua tese de doutorado defendida em 2006, o autor, em O reencontro com o general e o meu labirinto: sobre a releitura de uma tese, reflete sobre os meandros da pesquisa, suas motivações e principalmente os processos de delimitação do enfoque teórico. Avelar destaca que apesar de focalizar na trajetória de um individuo, isso não o excluiu “das preocupações propriamente biográficas” (AVELAR, 2018. p. 131). Sua noção de trajetória não se opõe à de biografia. Trata-se de uma forma da compreensão de um personagem através de uma proposta especifica ou um fio condutor em especial, que em seu caso foi a leitura da produção de Macedo Soares como modo de entendimento da estabilização dos processos de consolidação do capitalismo industrial brasileiro.
Dando seguimento ao relato de Avelar, Francisco Martinho aborda sua relação com o português Marcello Caetano, pensando os percursos que o levaram a produzir uma biografia política e intelectual sobre essa figura. Marcello Caetano: sobre a travessia de uma pesquisa é um relato de pesquisa primoroso no sentido que demonstra não apenas o processo de elaboração da biografia, mas compartilha as angústias e os desafios desse gênero de produção, especialmente com sujeitos que viveram em outros países que não o de origem do biografo. Abordando os limites e dificuldades da pesquisa, inclusive de acesso a documentações no exterior, Martinho lembra ao leitor a importância de se reconhecer a impossibilidade de apreensão total da vida de um sujeito, principalmente de maneira linear.
Em seguida, o brasilianista James Green nos presenteia com um relato sobre os bastidores de sua obra recentemente publicada pela Editora Civilização Brasileira. Green faz uma analogia direta aos próprios dilemas que perpassam a segunda seção da coletânea ao intitular seu texto como “Herbert Daniel: revolucionário e gay, ou é possível captar a essência de uma vida tão extraordinária”. Pensando a relação biografo e biografado, o historiador compartilha dilemas muito semelhantes aos dos dois textos anteriores, mas aponta outro elemento: a proximidade temporal e pessoal com o tema, marcada especialmente pelo potencial uso da história oral. Narrando, por exemplo, suas tentativas de diálogo com parentes de Daniel, o autor destaca como um personagem é construído, através dos rastros e das memórias, pelo próprio pesquisador apenas no decorrer da própria pesquisa.
A questão dos rastros é retomada em seguida por Jorge Ferreira em Escrevendo João Goulart. Autor de uma das obras de não ficção mais vendidas de 2011 (FERREIRA, 2016), o pesquisador destaca seus processos de pesquisa, assim como os acasos e momentos inesperados de acesso da documentação. Apesar dos pontos de contato com os relatos anteriores, Ferreira atenta algumas questões próprias de pesquisadores da área de história política e econômica. Nesse sentido, uma das principais contribuições de seu texto é reforçar que o sujeito é, não apenas relacional com seu contexto, mas também “conformado por estruturas econômicas ou pelas ideias de classe social” (FERREIRA, 2018. p. 182).
A temática da autobiografia é discutida nos dois textos seguintes da coletânea. Laura de Mello e Souza, em “Vitório Alfieri, a vida e a história”, mergulha em suas memórias com Vitório Alfieri e sua obra autobiográfica Vita produzindo um ensaio sobre a trajetória e o desenvolvimento intelectual de um dos autores que mais a intrigaram. Nesse sentido, mais do que pensar o procedimento de uma biografia escrita por ela, Mello e Souza reflete também sobre os processos de construção autobiográfica do escritor do século XIX.
Em seguida, “autobiografia, gênero e escrita de si: nos bastidores da pesquisa”, de Margareth Rago, constrói uma reflexão autobiográfica de seu envolvimento com o tema das autobiografias apresentando ao leitor suas inspirações, motivações, estratégias e referências. Seu capítulo propõem ao leitor compreender as tecituras da composição dos sujeitos, que nunca se veem totalmente excluídos de processos e estruturas maiores como o gênero, ou ainda a dimensão coletiva existente na própria produção de si.
O último texto da seção é, certamente, um dos mais intrigantes. Temístocles Cezar, em “Bartleby e Nulisseu: a arte de contar histórias de vida sem biografia”, brinca em um eterno jogo entre realidade e ficção ao narrar a história de Nilusseu, uma jovem estudante de história encantada com Bartleby, personagem do conto de Herman Melville, publicado em 1853. Em uma trama instigante e reflexiva, permeada por referências a teóricos como Marx, Hegel, Foucault, assim como estudiosos das teorias da biografia como Sabina Loriga, Cezar provoca o leitor a refletir sobre as possibilidades de escrever uma história de vida sem fazer biografia.
Colocando sob sua mira a própria ideia dos indivíduos serem ou não únicos, o autor nos instiga a refletir sobre quem determina essa individualidade e protagonismo dos sujeitos. Mais que isso sua trama possibilita pensar a ideia de ilusão biográfica, ao intrigar o leitor com a jovem Nilusseu que se confunde ao seu próprio mundo de leituras.
A pergunta inevitável que marca esse capítulo – e penso não ser a toa os organizadores o terem colocado como o último texto do volume –, seria: é possível contar histórias de vida sem biografia, se afinal existem histórias no plural? Penso que a estruturação da obra caminha para esse ponto central. A coletânea, O que pode a biografia não fornece um manual prático sobre como trabalhar ou pesquisar o gênero. Ao mesmo tempo, sua intenção também não é o que o título poderia sugerir: um manifesto acerca das regras e diretrizes do campo. A obra organizada por Avelar e Schmidt convoca a uma reflexão sobre um campo aberto e de fronteiras móveis.
Apesar das conexões, cada texto elencado apresenta pontos de vista únicos sobre o fazer biográfico. “Pode a micro-história dialogar com a biografia? São campos iguais?” “Somente historiadores produzem biografias?” “Não seria toda forma de escrita uma auto-biografia?” “Biografia e trajetória são campos distintos?” são apenas algumas das reflexões provocadas, não tendo por objetivo fornecer respostas definitivas. Passando da teoria a prática, os textos demonstram a impossibilidade do próprio pesquisador ver esses dois campos como dimensões dissociadas. Em momentos de crise da história e de consolidação e crescimento da história pública O que pode a biografia é um sopro renovador ao campo.
Referências
AVELAR, Alexandre de Sá; SCHMIDT, Benito Bisso (Orgs.). Grafia da vida: reflexões e experiências com a escrita biográfica. São Paulo (SP): Letra e Voz, 2012.
FERREIRA, Jorge. De volta ao público: João Goulart, uma biografia. MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Janiele Rabêlo de; SANTIAGO, Ricardo (Org). História Pública no Brasil: Sentidos e Intinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016. p. 121-131.
HARTOG, François. Regimes de Historicidade: Presentismo e Experiências do Tempo. Belo Horizonte, Mg: Autêntica, 2014.
OLIVEIRA, Márcia Ramos de Oliveira. Reflexões sobre o gênero biográfico: literatura, ilusão e disputas de memória. In: GONÇALVES, Janice (Org.) História do Tempo Presente: Oralidade, memória, mídia. Itajaí: Casa Aberta, 2016. p. 101-116.
Nota
1 Em um texto recente, a pesquisadora Márcia Ramos de Oliveira (2016), também discutiu os embates em torno do gênero biográfico ocorridos na sociedade brasileira a partir de 2015. Apesar de ambos focalizarem temáticas semelhantes, a autora destaca principalmente os diferentes embates de memória, ligados a narrativa, focando especificamente no caso de Paulo Cesar de Araújo.
Igor Lemos Moreira – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bolsista CAPES-DS e Integrante do Laboratório de Imagem e Som. E-mail: [email protected]. Número do ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6353-7540. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).
Historicidade e objetividade – DASTON (HU)
DASTON, L. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves e Francine Iegelski (org. Tiago Santos Almeida). São Paulo: LiberArs, 2017. 143 p. Resenha de: SOUSA, Raylane Marques. Por uma história dos ideais e práticas da objetividade científica. História Unisinos 22(4):702-707, Novembro/Dezembro 2018.
A coletânea de artigos intitulada Historicidade e objetividade, de Lorraine Daston, historiadora das ciências e diretora do Instituto Max-Planck de História das Ciências de Berlim, publicada no segundo semestre de 2017 e correspondente ao primeiro lançamento da “Coleção Epistemologia Histórica”, da Editora LiberArs, constitui-se num desafio de historicização das ciências e num projeto de epistemologia eminentemente histórica. O livro em tela congrega um prefácio, uma apresentação e sete artigos e persegue o propósito que desvelaremos a seguir.
No prefácio, Lorraine Daston anuncia-nos a proposta da obra 1. A autora esclarece-nos que os artigos, com a ressalva de um, enquadram-se numa perspectiva de historicização das ciências e num programa de “epistemologia histórica”. Se a intenção de Daston é construir um programa de epistemologia histórica, isto é, “a história das categorias e práticas que são tão fundamentais para as ciências humanas e naturais que parecem muito autoevidentes para ter uma história” (p. 9-10), o itinerário argumentativo que ela desenha nas sete investigações em pauta revela-o de forma coerente e original, uma vez que o objetivo embrionário da coleção desses artigos, tendo em conta o excelente esteio bibliográfico em que se sustentam, é justamente mostrar que a objetividade nas ciências, a atividade de observação, a elaboração de um fato científico e as formas de quantificação têm uma história e pensar sobre as especificidades dessa história nos leva “a repensar a história de como sabemos o que sabemos” (p. 10).
Na apresentação, intitulada “História das Ciências, Teoria da História e História Intelectual”, Tiago Almeida e Francine Iegelski (2017) apontam-nos os motivos que os levaram à tradução, à organização e à publicação de Historicidade e objetividade. Os autores esclarecem-nos que a execução desse projeto tem dois objetivos: o primeiro é de colocar o público brasileiro em contato com os debates mais fecundos da historiografia das ciências; e o segundo é de discutir o já consolidado “programa historiográfico” ou a “epistemologia histórica” de Lorraine Daston para a história das ciências. Os autores evidenciam igualmente que o programa ou a epistemologia histórica de Lorraine Daston se distingue dos programas historiográficos anteriores e contemporâneos porque foi capaz de incorporar as contribuições e se desviar dos defeitos das três principais escolas da história das Nas relações que estabeleciam entre o conhecimento e seus objetos, a primeira escola tinha o defeito de ser idealista, a segunda de ser estruturante, e a terceira de se aprisionar ao particular. Desse modo, como frisam os autores, em seu programa ou epistemologia histórica, Daston recusa a ideia, bem acolhida e propagandeada por essas escolas, segundo a qual “historicizar equivaleria a relativizar ou, o que é pior, invalidar” (p. 12), ao mesmo tempo em que recupera o método de comparação entre as ciências, apesar de suas diferentes especialidades. De acordo ainda com os autores, a originalidade da abordagem de Daston para a história das ciências reside no fato de ser um projeto de trabalho conciliador, favorável à reunião de pesquisadores de diversas áreas, dedicado ao estudo de categorias, conceitos, ideias, objetos e práticas basilares da ciência moderna. Além disso, a apresentação retrata que certo número de pesquisadores chegou ao campo da História das Ciências via Teoria e Metodologia da História e História das Ideias e Intelectual, e vice-versa. Tanto o campo da História das Ciências quanto os campos da Teoria e Metodologia da História e História das Ideias e Intelectual se interessam pela historicidade das ciências, pelas relações entre conceitos, ideias, discursos, textos e contextos, e pelas temporalidades e escritas da história. Assim, o fascínio por esses temas acabou por aproximar essas áreas de conhecimento e por favorecer o contato dos historiadores da história com os historiadores da ciência, além de familiarizar os primeiros com os trabalhos de Daston, principalmente aqueles textos que versam sobre a objetividade e seus significados e múltiplas formas de manifestação.
No artigo 1 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Objetividade e fuga da perspectiva”, Daston esforça-se por traçar uma história não linear e contingente da objetividade científica, história essa que vai do fim do século XVIII ao início do século XIX3. O texto inicia com uma explanação concernente aos múltiplos sentidos da palavra objetividade e suas variantes nos idiomas francês (objectivité) e alemão (Objektivität). Nessas duas línguas, a autora explica que a palavra é confusa e refere-se a um só tempo à metafísica, aos métodos e à moral. A primeira referência diz respeito à busca dos cientistas por uma verdade objetiva no conhecimento, a segunda diz respeito aos procedimentos objetivos que sustentam toda pesquisa científica, e a terceira diz respeito à conduta objetiva, imparcial e desapaixonada do investigador. Daston assinala, na continuação do debate do texto 1, que os pesquisadores dos Science Studies têm se interessado bastante pelo conceito de objetividade na atualidade, mas eles continuam focando nos problemas de existência e legitimidade, em vez de problemas históricos. De maneira efetiva, como a autora argumenta, a objetividade tem uma história, e um dos episódios que lhe permite falar de tal história é a emergência, no século XIX, do que ela chama de ideal de “objetividade aperspectivística”, isto é, a tentativa de eliminação de características individuais do conhecimento científico. Assim, é no esforço de compreender o ideal de objetividade aperspectivística que a autora tece uma história crítica desse conceito no primeiro texto. Lorraine Daston sugere também que é possível visualizar o desenvolvimento desse conceito na literatura estética e moral do século XVIII, como no caso dos autores Shaftesbury, Hume e Adam Smith. A autora nos diz que as discussões a respeito da “perspectiva” no século XVIII e XIX procuram a supressão e o distanciamento emocional do indivíduo e colocam afirmações morais e estéticas em lado oposto às afirmações científicas, a exemplo dos pensadores mencionados. Seguindo o seu raciocínio, a autora também procura investigar a situação do conceito nas ciências naturais, opondo as tentativas dos homens de ciência do século XIX de sacrificar os traços pessoais a práticas precedentes. A autora esclarece que as investidas desses homens de ciência de supressão de traços individuais eram como que uma precondição para a criação de uma comunidade científica justa, harmoniosa e coerente, assim como uma garantia de alcançar a verdade científica.
Finalmente, a autora conclui o texto 1 com uma breve reflexão sobre como e por que a história do conceito de objetividade aperspectivística ganhou uma camada moral. Segundo a autora, a objetividade aperspectivística prescrevia certa indiferença e desapego por tudo o que é pessoal. Os cientistas deveriam não apenas abandonar tudo o que lhes é próprio, mas também esquecer todo e qualquer reconhecimento de si mesmos. Ademais, os valores da objetividade aperspectivística contribuíram para que os cientistas pautassem a sua conduta em métodos mecânicos e observações morais. A par dessas informações, o primeiro artigo do livro diz-nos que a objetividade que Lorraine Daston nos apresenta como tendo uma história tem como base as seguintes críticas: em primeiro lugar, a objetividade nas ciências não é um “dado trans-histórico” (p. 16) e que busca “a estrutura última da realidade” (p. 17); e, em segundo lugar, a objetividade não é mecânica e que visa suprimir “a propensão universal humana de julgar e estetizar” (p. 17).
O artigo 2 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “A economia moral da ciência”, procura avaliar e desbancar uma antiga tradição que opõe fatos a valores. A espinha dorsal do presente texto é a ideia de que a ciência tem o que Lorraine Daston chama de “economia moral” e esta economia moral constitui o modo de conhecimento científico. Mais especificamente, a autora assevera que a ciência tem “certas formas de empirismo, quantificação e objetividade que não apenas são compatíveis com economias morais, elas exigem economias morais” (p. 38).
Segundo Daston, muito embora a ciência seja um exemplo de racionalidade e facticidade, ela não está isenta de afetos e emoções, valores, ideologias, normas e regularidades institucionais. Consoante a autora, “economias morais, ao contrário, são partes integrais da ciência: de suas fontes de inspiração, suas escolhas de temas e procedimentos, a peneira da evidência e seus padrões de explicação” (p. 42).
Embora as economias morais existam na ciência, para que elas servem e como elas estruturam as ideias-força de como os cientistas vêm a conhecer? Acerca dessas questões, Daston explica que uma economia moral é boa para a quantificação, o empirismo e a própria objetividade. As várias formas de quantificação têm economias morais. Os historiadores da ciência quantificam cientificamente, mas nem todos aspiram à exatidão matemática de suas mensurações, embora a precisão seja uma das virtudes mais observadas e louvadas entre eles. O empirismo também é um elemento fecundo em economias morais. Os três principais aspectos do empirismo da filosofia natural do século XVII, o testemunho, a facticidade e a novidade, apoiam-se e entrelaçam-se em valores e afetos. A objetividade, entretanto, é já uma economia moral. De acordo com Daston, duas de suas variantes mais importantes, ambas oriundas do século XIX, são: a “objetividade mecânica” e a “objetividade aperspectivística” (p. 59). A objetividade mecânica fundamenta-se em uma epistemologia da autenticidade e exige a eliminação de qualquer interferência pessoal no conjunto de observações da natureza. Já a objetividade aperspectivística assenta-se no lema “a visão a partir de lugar nenhum” de Thomas Nagel e combate as idiossincrasias de indivíduos e até de coletivos de pesquisadores em prol da verdade científica. Portanto, o elemento fundamental da discussão de Daston sobre as economias morais do conhecimento científico baseia-se na ideia de que o núcleo da ciência é moral e ressoa a voz do dever moral.
No artigo 3 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Uma história da objetividade”, Daston começa pontuando aspectos das três escolas que dominaram a história das ciências, a saber: a escola filosófica, a escola sociológica e a escola histórica. A escola filosófica é idealista e pensa a história das ciências como “a história da emergência e desaparecimento dos conceitos de natureza, dos sistemas metafísicos e dos quadros epistemológicos” (p. 69). Os historiadores filósofos da ciência associados a essa forma de pensar direcionam sua atenção para as teorias científicas e para a interlocução dessas teorias com outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a teologia.
A escola sociológica concentra seu olhar sobre as estruturas sociais (tanto as microscópicas quanto as macroscópicas) da pesquisa científica. Os historiadores sociólogos da ciência que compartilham dessa tendência enxergam a ciência como uma instituição importante inserida na sociedade e que espelha a divisão dos poderes e a produção dos significados culturais. Já a escola histórica foca no local e no singular, aspectos que as outras duas escolas deixaram de lado. Os historiadores aliados a essa forma de pensar a ciência primam não apenas pelas teorias, mas também pelas práticas científicas e pelo trabalho nos arquivos. Outro aspecto basilar desse texto 3 é a apresentação do novo programa de Daston para a história das ciências. A autora finalmente explica o que entende por “epistemologia histórica” (Historical Epistemology): “a história das categorias que estruturam o nosso pensamento, que modelam nossa concepção da argumentação e da prova, que organizam nossas práticas, que validam nossas formas de explicação e que dotam cada uma dessas atividades de um significado simbólico e de valor efetivo” (p. 71). A singularidade da epistemologia histórica de Daston é que ela se relaciona à história das ideias, das práticas, dos afetos e emoções, dos valores e significados que organizam as economias morais das ciências. Daston estabelece novas perguntas para velhas questões. É principalmente nesse aspecto que a abordagem da autora se diferencia das demais que ordinariamente tomam a objetividade científica como desprovida de história.
No artigo 4 da obra Historicidade e Objetividade, intitulado “O que pode ser um objeto científico? Reflexões sobre monstros e meteoros”, Daston explica o que é e o que pode se tornar um objeto de pesquisa científica. A resposta da autora para esse questionamento é uma crítica construída com base na afirmação de Aristóteles de que as ciências se fazem a partir de regularidades: “daquilo que é sempre ou pelo maior período de tempo” (p. 79). Para Daston, porém, somente a regularidade não é suficiente para destacar um item do cotidiano ordinário e torná-lo objeto de investigação científica. É necessário ir além e observar “se uma classe de fenômenos é quantificável, manipulável, bela, experimentalmente repetível, universal, útil, publicamente observável, explicável, previsível, culturalmente significativa ou metafisicamente fundamental” (p. 79). Segundo Daston, esses critérios se justapõem e demonstram que a escolha dos objetos científicos vai além do simples critério de regularidade. Assim, um estudo sério do que é e do que não é objeto para a ciência deve levar em consideração esses critérios e como eles se sobrepõem à experiência normal do cotidiano e destacam alguns fenômenos como objeto de investigação e outros não. O objetivo de Daston nesse texto 4 é exatamente examinar, por meio de exemplos históricos, como e por que os objetos da filosofia preternatural se tornaram objetos de investigação da ciência em meados do século XVI e foram esquecidos no século XVIII. Segundo a autora, os objetos da categoria preternatural/além da natureza (sintetizados em dois grupos, monstros e meteoros) continuaram a existir nesse período, mas não despertaram mais interesse dos cientistas, porque os três princípios (ontológico, epistemológico e sensitivo) que mantinham tal categoria unida e em evidência foram desvelados. Daston defende que os objetos preternaturais foram escolhidos, em primeiro lugar, pelo princípio ontológico, que significa coisas e eventos fora da ordem cotidiana da natureza. Em segundo lugar, eles foram escolhidos pelo princípio epistemológico, que exige um trabalho mais pesado de coleta, explicação e fundamentação.
Em terceiro lugar, eles foram escolhidos pelo princípio da sensibilidade, que dá conta das maravilhas e, até mesmo, dos milagres e prodígios. De acordo com a autora, no entanto, a filosofia preternatural não teve morte espontânea. Os três princípios que a fundamentavam foram incorporados pela filosofia natural do final do século XVII e início do século XVIII. Além disso, a emergência de uma nova metafísica e uma nova sensibilidade dissolveu sua lógica, embora sem eliminar seus componentes, tornando-a irrelevante para os estudos científicos.
No artigo 5 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Sobre a observação científica”, Daston apresenta-nos a observação científica como um gênero epistêmico dotado de historicidade. A autora explica-nos que a observação é a prática científica basilar das ciências humanas e naturais. Embora tal prática não desperte o interesse das ciências enquanto objeto de investigação, alguns filósofos e positivistas lógicos se dedicaram a examiná-la no século XX, mais precisamente com intuito de fortalecer “a visão científica da observação como primitiva e passiva” (p. 91). Já os críticos da postura adotada por tais filósofos e positivistas lógicos defendiam a ideia de que as observações eram inevitavelmente entremeadas de juízos de valor e, por isso, não poderiam oferecer um julgamento imparcial quando entrassem em conflito. Segundo a autora, nas duas situações, a preocupação dos filósofos da ciência era epistemológica e estava assentada na filosofia de Kant, a saber: “haveria ou não haveria algo como uma observação científica não contaminada pela teoria?” (p. 91). No fundo, a preocupação desses filósofos era como higienizar a observação, evitando que ela fantasiasse e distorcesse os dados objetivos. Nesse texto 5, o objetivo de Daston é discutir as bases ontológicas da observação científica especializada, especialmente como esta reconhece e seleciona objetos para uma comunidade de cientistas.
Com efeito, como nos diz a autora, esta discussão ocupa algum espaço “entre epistemologia (que estuda como observadores científicos adquirem conhecimento acerca dos objetos por eles escolhidos) e metafísica (que investiga a realidade última das entidades observadas)” (p. 92). Assim, na perspectiva de Daston, a ontologia é algo como os cientistas preenchem o universo com percepções, retirando objetos do cotidiano comum, classificando-os e tornando-os objetos de investigação científica, e traduzindo- os em formas (textos-imagens-tabelas) ou numa linguagem popular a um coletivo ou a uma comunidade. De acordo com a autora, uma tentativa de historicização da observação científica pode ajudar a trazer à superfície práticas científicas tomadas até então como a-históricas e autoevidentes e conectar a história das ciências à história das sensibilidades e do eu, como também expandir o espaço das experiências científicas. Nesse sentido, o que constitui o mote desse texto 5 é a ideia que assim pode ser sintetizada: não existe ciência sem a prática da observação, e tampouco mundo articulado visível, audível ou táctil.
O artigo 6 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Science Studies e História das Ciências”, constitui-se como um desvio nessa coletânea, como afirma Lorraine Daston no Prefácio. Esse capítulo não explora episódios históricos, mas a situação de aproximação e estranhamento entre duas disciplinas que abordam o mesmo tema, neste caso, “ciência e tecnologia” (p. 109). O objetivo de Daston, nesse texto, é rastrear a situação de interdisciplinaridade e intercâmbio entre os Science Studies e a História das Ciências, bem como o presente e o futuro de ambos os campos. Assim, o texto divide-se em duas partes. A primeira parte traz um curto relato das conexões entre Science Studies e História das Ciências desde 1970. A segunda parte examina como seus caminhos se separaram na década de 1990 à medida que a História das Ciências se aproximava da História e os Science Studies se afastavam. A partir do relato sucinto da conexão entre os dois campos, com foco nos Science Studies, Daston destaca que os objetivos deste último campo se sintetizavam em “humanizar a ciência tornando-a mais social (ou pelo menos sociável) ou domesticá-la, também tornando-a mais sociável (ou pelo menos sociológica)” (p. 111), e se afastar de tudo o que “cheirasse a psicologia” (p. 111). De acordo com a autora, esses objetivos se apoiavam em dois princípios: em primeiro lugar, “a ênfase nas instituições e estruturas, não nos indivíduos e ações” (p. 111); e, em segundo lugar, o destaque de que “o social se baseava fortemente nas estratégias marxistas desmistificadoras da ideologia” (p. 112). Esses dois princípios sugerem, segundo Daston, que os Science Studies seguiram correntes distintas de pensamento: Karl Marx e Émile Durkheim, mas também a sociologia do conhecimento de Karl Mannhein, a filosofia-sociologia de Fleck, entre outras. Mas o componente-chave que estabeleceu o afastamento entre os Science Studies e a História das Ciências foi a leitura da obra A estrutura das revoluções científicas, de Thomas S. Kuhn, lançada em 1962. Assim, enquanto os Science Studies interpretaram a obra de Kuhn como uma exposição do relativismo, os historiadores das ciências, em contrapartida, extraíram lições diferentes e mais próximas da argumentação de Kuhn, a saber, que a História das Ciências não poderia mais ser entendida como progresso constante em busca de um télos e uma verdade última, mas deveria afastar-se das narrativas teleológicas. O ponto de aproximação entre os dois campos seria a crítica a uma visão positivista da história, que se definia por um método mecânico e apartado do social.
A outra metade do artigo 6 é dedicada à exposição dos motivos que levaram ao distanciamento entre os Sciences Studies e a História das Ciências. A começar com o esclarecimento do que é ciência e de como estudá-la, essa segunda parte prolonga a discussão a respeito do estranhamento entre os dois campos. Segundo Daston, os Science Studies se recusavam a aceitar a doutrina científica atual e concebiam as ideias de verdade e falsidade das proposições como insuficientes para sua aceitação. Além disso, eles achavam que uma explicação para ser completa deveria levar em consideração aspectos sociais, políticos e cognitivos. O motivo do distanciamento dos Sciences Studies com relação à História das Ciências foi a transparência dos relatos dos cientistas. Por meio de uma discussão pormenorizada sobre como os historiadores da ciência viam a ciência atual, Daston evidencia que eles eram menos desconfiados no que diz respeito às verdades e às falsidades das proposições, embora fossem extremamente descrentes quanto às narrativas da ciência do passado em relação à ciência presente. De acordo com Daston, talvez o principal motivo que levou ao distanciamento dos Science Studies da História das Ciências na década de 1990 tenha sido o debate acerca da “contextualização da ciência”. Enquanto o primeiro campo levantava a bandeira da “ciência em contexto” e contribuía para o fim da autonomia da ciência no que concerne à sociedade, o segundo campo também hasteava essa bandeira, mas explorava de forma mais detida o contexto histórico e trabalhava para sua ampliação e aprofundamento, incorporando novos conceitos, categorias e práticas das ciências sociais e, principalmente, da história.
No artigo 7 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Objetividade e imparcialidade: virtudes epistêmicas nas humanidades”, encontramos a desmistificação das relações entre as humanidades e as ciências que, por mais de um século, foram marcadas pelas oposições “Geistes versus Naturwissenschaften, ideográficas versus nomotéticas, interpretativas versus exploratórias, orientadas para o passado versus orientadas para o futuro” (p. 127). De acordo com Daston, desde pelo menos o século XVI, as humanidades e as ciências compartilham “métodos, instituições, ideias e virtudes epistêmicas” (p. 127). Imparcialidade e objetividade são duas das virtudes epistêmicas amplamente compartilhadas no século XIX2. Começando com uma sentença lapidar do jovem Nietzsche em sua II Consideração extemporânea: “Objetividade e justiça não tem nada a ver uma com a outra” (Nietzsche, 2017, p. 90), Daston apresenta-nos a crítica que o filósofo fez aos valores da imparcialidade e da objetividade, assim como aos estabelecimentos de ensino de seu tempo que supervalorizaram tais virtudes epistêmicas e as trouxeram para as humanidades. Segundo a autora, quando a história se tornou uma ciência empírica no século XIX, esses valores entraram em concussão e Nietzsche foi quem melhor percebeu os choques. O objetivo de Daston, nesse texto, é mostrar que os valores da imparcialidade e objetividade têm histórias próprias e precisam ser problematizadas.
Assim, Daston faz um esboço dos objetivos da imparcialidade e da objetividade na história, evidenciando como a imparcialidade foi difundida e praticada por historiadores ao longo dos séculos XVIII e XIX, especialmente em favor de uma história dos estados-nação. A autora assinala que, no século XVIII, a história consistia em narrativas dos eventos e das vidas dos grandes homens apresentadas como exemplos para formação do julgamento e do caráter do leitor. Nesse modelo de história, a imparcialidade não significava neutralidade de valor por parte do historiador, mas sim não tomada de partido de nenhuma das partes envolvidas na história – não engajamento político –, com objetivo de alcançar conclusões sólidas acerca de guerras e conflitos políticos do passado. Assim, por exemplo, Leopold von Ranke é um dos mais importantes historiadores associados a essa doutrina da imparcialidade. Heinrich von Sybel e Georg Gervinius, posteriormente, criticaram Ranke por sua imparcialidade e neutralidade. O jovem Nietzsche também teceu duras críticas ao historiador prussiano por sua imparcialidade e autoimposta “objetividade de eunuco”.
A sequência do texto 7 apresenta as técnicas da objetividade aplicadas à história, bem como certos aspectos do historiador objetivo. No centro do sentido de objetividade dos historiadores do século XIX está “o forte sentimento de restrição científica” (p. 133), que julgava até que ponto a evidência em mãos poderia ir. Daston constata que tanto os métodos e as técnicas da crítica histórica quanto certas atitudes objetivas do historiador diante de seu objeto assentam- se na polêmica entre filólogos clássicos e historiadores da antiguidade a respeito das declarações metodológicas de Tucídides em seus discursos. Segundo Daston, as duas principais questões que mobilizaram os estudos acadêmicos sobre Tucídides foram estas: “primeiro, em que medida o próprio Tucídides estava conscientemente aspirando ao padrão de história objetiva?; segundo, ele se manteve fiel a esse padrão, especialmente ao relatar discursos?” (p. 136). A autora explica que as palavras objetividade e subjetividade são produtos de meados do século XIX, logo a importação desses termos para as análises da obra e do método histórico de Tucídides é um equívoco. Daston recupera ainda a crítica de Nietzsche à religião ascética da objetividade que dominou e formatou os historiadores no século XIX. A autora está preocupada em entender como, em tão pouco tempo, o valor da objetividade se tornou uma virtude superestimada entre os historiadores. Nietzsche é a chave interpretativa para essa questão. O filósofo alemão farejou no culto da objetividade um ar de “autoengano”, “superstição” e “mitologia”, uma falsa religião e uma falsa fé. Nietzsche encarava a religião da objetividade e seus sectários como um verdadeiro problema, porque tal religião pregava a autorrestrição, o autossacrifício e exalava um odor desagradável de ascetismo que rapidamente se espalhara pelas instituições de ensino da Alemanha de seu tempo.
Por meio da exposição sistemática dos sete artigos que integram a obra Historicidade e objetividade, concluímos que Lorraine Daston compreende a objetividade de forma distinta daquela comumente compartilhada pelas doutrinas objetivistas, que associam à postura objetivista a ideia de que é possível “ver os fatos como eles realmente são”, isto é, conhecer a realidade em si e por si mesma. Daston consegue distanciar-se dessa tendência ao inserir a objetividade em uma perspectiva histórica, em um modo por meio do qual a objetividade não pode ser vista desvinculada de uma interpretação pluralista e multiforme da realidade. Nos sete artigos que constam nessa coletânea, interessa a Daston principalmente dissociar a objetividade – na área da História das Ciências, em particular – de concepções que a tomam como um dado a-histórico. Nesse sentido, no programa epistemológico dastoniano, à noção de objetividade é adicionada uma faceta interpretativa, já que a sua epistemologia histórica se relaciona à história das ideias e das práticas, dos afetos e das emoções, da moral e dos valores. Assim, Daston demonstra que a objetividade da ciência é tanto mais histórica quanto mais ela se mostrar relacionada aos muitos pontos de vista e às interpretações humanas.
Dessa maneira, consideramos essa obra como uma importante contribuição não só para os estudos pertinentes à historiografia, história, filosofia e sociologia das ciências e relacionados à historiografia, filosofia e teoria da história, mas também para clareamento de questões que envolvem o complexo e multifacetado conceito de objetividade científica, abrindo e iluminando o caminho para outras pesquisas, discussões e questionamentos sobre esse tema.
Referências
ALMEIDA, T.; IEGELSKI, F. 2017. História das Ciências, Teoria da História e História Intelectual. In: L. DASTON. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves e Francine Iegelski (org. Tiago Santos Almeida). São Paulo, LiberArs, p. 11-14.
DASTON, L.; GALISON, P. 2007. Objectivity. New York, Zone Books, 501 p.
DASTON, L. 2016. The Truth in the Leaves. Max Planck Research.
ViewPoint_History of Science. Berlin, 26 Apr., p. 10-15. Disponível em: https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/content/daston. Acesso em: 18/05/2018.
NIETZSCHE, F. 2017. Segunda consideração extemporânea: Sobre a utilidade e a desvantagem da História para a vida. Organização e tradução: André Itaparica. São Paulo, Hedra, p. 29-146.
Notas
2 A título de esclarecimento, a escolha dos sete artigos que integram a obra em análise não foi feita por Lorraine Daston, mas pelo historiador brasileiro Tiago Santos Almeida. No prefácio, Daston explica que os sete títulos agrupados na coletânea foram escritos em diferentes momentos de sua trajetória intelectual e profissional e que alguns deles não trazem respostas satisfatórias a uma série de desconfortos teóricos e interpretativos suscitados pelo problema da objetividade nas ciências. No entanto, exatamente por essa razão, ela espera que os leitores brasileiros compreendam cada artigo como evidência de uma mente em ação, que se esforça para entender aspectos da história do conceito de objetividade científica.
2 Sobre a certeza, a precisão, a verdade e a objetividade como virtudes epistêmicas fundamentais da ciência, como características particulares que definem a identidade da ciência e a prática científica, ver também Daston (2016).
Raylane Marques Sousa – Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em História. Campus Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências, Norte, Bloco A, Subsolo (ASS 679-690), 70910-900, Brasília, DF, Brasil.
Cavalaria e Nobreza: Entre a História e a Literatura | Adriana Zierer, Álvaro Alfredo Bragança Junior
As relações entre História e Literatura já não são novidade nos corredores das universidades pelo mundo e no que diz respeito ao prazeroso ofício da medievalística, entendemos que ela se apresenta como condição sine qua non para uma percepção mais ampla dos poderes e das culturas do Ocidente e Oriente medievais. Ao mesmo tempo, é inevitável não afirmar que refletir sobre o medievo sem se atentar para os discursos historiográficos e literários seria o mesmo que partir para uma batalha desguarnecido de proteção.
Adriana Zierer, reconhecida pesquisadora e medievalista, docente da Universidade Estadual do Maranhão, e Álvaro Alfredo Bragança Jr., um dos mais importantes germanistas brasileiros e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fizeram justiça as suas longas caminhadas acadêmicas e trazem a público este fundamental Cavalaria e Nobreza: Entre a História e a Literatura (Eduem, 2017). Mais do que um apanhado revisto e aprofundado de suas reflexões sobre cavalaria e nobreza, os autores vão além e possibilitam aos seus leitores – pesquisadores formados e em formação e, por que não?, o grande público – uma pertinente abordagem que faz dos temas cavalaria, nobreza, história e literatura um laboratório de profícuo diálogo entre conceitos, métodos e teorias.
O serviço prestado na reunião de alguns trabalhos que, até então, encontravam-se em veículos diversos e a exposição de outros inéditos, é algo que deve ser exaltado e, ao mesmo tempo, uma última característica de fundo necessita de luz: a contribuição que este livro traz a um campo cada vez maior em nosso país: O estudo da guerra!
Mesmo que os professores Adriana Zierer e Álvaro Bragança Jr. não tomem a guerra como objeto principal da publicação, é inevitável não reconhecer que suas investigações a respeito das representações da cavalaria medieval e, consequentemente, da nobreza, tanto na historiografia quanto na literatura são pilares importantes para, cada vez mais, pesquisadoras e pesquisadores interessados na guerra medieval tenham uma bussola, um Norte que os guie.
Dividido em três partes, Cavalaria e Nobreza: Entre a História e a Literatura foi pensado de modo que a Idade Média não soasse como um aspecto distante da nossa própria cultura, é possível até afirmar que os textos, e seus resultados, apresentados na primeira parte, intitulada A formação da Cavalaria no Ocidente – Ethos de uma ordem e ordens para atos, são um exemplo marcante de uma arqueologia da cultura cavaleiresca. Como não aprender e apreender com as conclusões expostas por Bragança Jr. em Do guerreiro germano ao cavaleiro do século XIII – personagens históricos e modelos civilizacionais no mundo germânico continental: faces e interfaces (p. 43-56)? Ou com as reflexões de Zierer nos textos O modelo pedagógico de cavaleiro segundo Ramon Llull (p. 137-154) e O mundo da cavalaria no século XIII na concepção de Ramon Llull (p. 175-200)? Os leitores mais atentos perceberão a cada parágrafo a preocupação dos autores com o método e a teoria, logo, nos diálogos possíveis entre a História e a Literatura. A interdisciplinaridade pulsa e nos arrasta ao desafio de encarar a primeira parte do livro como um modelo a ser seguido. Ao mesmo tempo, o manejo documental e o arcabouço do estado da arte nos temas tratados servem aos mais jovens como um atalho às boas e necessárias revisões historiográficas e de literatura cobradas nas monografias e pré-projetos de mestrado e doutorado.
Como dito anteriormente, mesmo que o fazer a guerra stricto senso não tenha sido objeto de larga reflexão, isso não significa que as atuações, estratégias e mesmo a pedagogia bélica não façam parte de suas preocupações. A experiência dos autores demonstra muito bem que a mesma impossibilidade de se pensar o medievo sem a Igreja Cristã também é encontrada ao se analisar os aspectos da própria cultura política e literária oriundas da Cavalaria e que legaram para a posteridade modelos comportamentais que viajaram pelos mares e desaguaram em terras distantes de suas origens (para o bem ou para o mal).
Mas antes de partirmos para a análise do elo cultural que a publicação nos demonstra muito bem, vale relembrar que o mundo da cavalaria seria opaco sem as relações entre homens e mulheres e a isto, de certo modo, se dedica a segunda parte do livro, intitulada Entre cavaleiros e damas.
Nos quatro capítulos que a compõem, mais uma vez temos o pertinente exemplo de manejo documental e do exercício prático entre a História e a Literatura. Dessa vez, parte do leque de documentação gira em torno da Demanda do Santo Graal, conhecida novela de cavalaria redigida na França do século XIII. Zierer, tanto no primeiro como no segundo capítulos, presentes nessa segunda parte, faz valer sua afirmativa sobre o documento em questão:
Através deste livro [A Demanda do Santo Graal] podemos observar os aspectos da cavalaria, seu papel na sociedade e uma tentativa de suavização nos seus costumes, através da imagem de um cavaleiro perfeito, modelo a ser mostrado à nobreza da época, envolvida em disputas por territórios e guerras privadas (p. 233).
De fato, a literatura cavaleiresca produzida durante a Idade Média é um dos mais importantes – não o único – para podermos entender melhor as ações dos agentes históricos dedicados ou não à guerra. Não podemos nos esquecer que, no que tange às relações de poder naquele período, a tentativa de contenção do poder de violência é um tema que se arrastará continuamente e que estava presente insistentemente na literatura medieval.
Por outro lado, além da violência, a sexualidade e a religiosidade pulsantes na Idade Média eram outra margem de preocupação de tais agentes (eclesiásticos, sobretudo). Não há como ignorar que a misoginia medieval se constituía como o mote que impulsionava grande parte dos escritos religiosos cristãos. Contudo, Zierer demonstra em Entre Ave, Eva e as Fadas: as visões femininas na Demanda do Santo Graal (p. 251-273) que:
Apesar de imaginarmos que só existe a imagem feminina negativa no relato, ao analisarmos mais detidamente a visão sobre elas, percebemos que as mesmas possuem um caráter ambíguo, mesmo as consideradas pecadoras, como Guinevere (Genevra), Iseu (Isolda) e Morgana (Morgaim), em virtude de sua valorização em outras narrativas medievais e do fundo céltico do texto (p. 252).
A autora parte então para um interessante estudo de História do Imaginário aprofundando a importância da mulher na Demanda do Santo Graal e nos apresentando resultados que não deixam de ser surpreendentes.
Seguindo na mesma linha de inserção do feminino como preocupação para um melhor entendimento da cultura cavaleiresca, Álvaro Bragança Jr. se debruça analiticamente no texto Der arme Heinrich, romance em versos redigido por Hartmann von Aue. Para o germanista, Der arme Heinrich, talvez seja, a seu ver, “dentre toda a produção romanesca do autor, aquela que melhor sintetiza a união perfeita do homem d’armas ao homem de espírito cristão” (p. 276). Seguindo de perto a herança dubyniana, Álvaro Bragança Jr. vai além do que foi o tradicional e importante estudo apresentado pelo medievalista francês em O cavaleiro, a mulher e o padre (1988). O medievalista e germanista brasileiro traz luzes à uma “melhor compreensão do fazer literário em terras germanófonas, em especial no tocante aos pontos convergentes entre a vida ideal e a representação da realidade através da arte da palavra” (p. 275).
Ao mesmo tempo, ele está preocupado em entender e explicar a lógica literária e, consequentemente, a representação social da mulher no documento analisado juntamente ao masculino, neste caso, o cavaleiro. Por esse motivo o modelo de estudo de Georges Duby é importante para suas reflexões, porém, como dito, o autor abre um leque que vai muito além ao conhecido modelo da França feudal. Mais uma vez, um pertinente exemplo de embasamento metodológico é exposto aos leitores.
Em se tratando de metodologia, no último capítulo da segunda parte, intitulado Der arme Heinrich, de Hartmann von Aue – Introdução à proposta de tradução (p. 285- 329), o autor nos brinda com uma tradução sua desta riquíssima fonte do médio-altoalemão, língua que muitas vezes grande parte dos escolares, infelizmente, não domina. É uma oportunidade ímpar aos leitores de terem acesso ao documento em português.
Como procurei insistir, em Cavalaria e Nobreza: Entre a História e a Literatura, Adriana Zierer e Álvaro Bragança Jr., não se limitam apenas em dar mostras da erudição que carregam como pesquisadores reconhecidos no campo, sob suas mãos a Cavalaria vai além do que um elã histórico, ela é um verdadeiro objeto de reflexão numa longa duração sobre a Idade Média, como tão bem nos apresentou um dia Jacques Le Goff.
Seguindo em marcha os autores fecham o livro com uma terceira parte intitulada Cavalaria e Contemporaneidade.
A atenção prestada por eles ao impacto da representação cavaleiresca na sociedade contemporânea é a mostra do papel social que os historiadores devem procurar exercer. Ao mesmo tempo, é a comprovação acadêmica do quanto a História e a Literatura caminham de mãos dadas.
Os dois capítulos que finalizam o trabalho – ratifico – são a demonstração cabal da importância do estudo da Idade Média nas escolas e universidades brasileiras. Um medievo que não se limita ao seu próprio passado, mas que se reapresenta, é manuseado, refeito, redescoberto constantemente e que nos lega a nos questionarmos constantemente os limites entre o passado e o presente. Ou melhor, os passados e os presentes!
Em O Germano e os Ritter a serviço do Nacional-socialismo – Propaganda e reapropriação política dos germanos e dos cavaleiros medievais na Alemanha dos anos 40 (p. 333-349) e Coração de Cavaleiro (2001): Uma visão contemporânea do guerreiro medieval (p. 351-377), Álvaro Bragança Jr. e Adriana Zierer, respectivamente, adentram a seara do contemporâneo deixando aos leitores importantes exemplos dos usos e desusos, da mitologia e dos mitos relacionados ao período medieval, especificamente no caso da Cavalaria e dos cavaleiros.
A conclusão a que chegamos é que a pergunta colocada pelos autores em sua Apresentação: “Por que estudar a cavalaria é importante em nossos dias?” (p. 15), é devidamente respondida sem rodeios por eles. A(s) resposta(s), o(s) motivo(s), etc., nos são apresentados com a receita infalível do bom uso da erudição através da análise documental; da teoria, por meio das demonstrações do apurado conhecimento dos métodos da História e da Literatura… Mas, principalmente, por uma segurança na narrativa que somente os bons professores carregam em suas bagagens e esse tipo de característica só é possível de ser alcançada com o tempo de muito esforço e dedicação.
Cabe agora ao público leitor, com o cuidado que a obra merece, mergulhar profundamente em cada um desses capítulos e ir além, sempre.
Bruno Gonçalves Alvaro – Professor Adjunto IV de História Medieval do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: [email protected]
ZIERER, Adriana. BRAGANÇA JUNIOR, Álvaro Alfredo. Cavalaria e Nobreza: Entre a História e a Literatura. Maringá: Eduem, 2017. Resenha de: ALVARO, Bruno Gonçalves. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.18, n.2, p. 131- 135, 2018. Acessar publicação original [DR]
História e narrativa: a ciência e a arte da escrita histórica – MALERBA (PL)
Em História e narrativa: a ciência e a arte na escrita histórica, Jurandir Malerba, professor da UFRGS, reúne textos de importantes pesquisadores, filiados a diferentes áreas das Ciências Humanas, cuja temática nos convida a refletir em que medida a história se aproxima de um discurso científico e/ou artístico.
Resultado de uma disciplina ofertada no Programa de Pós-graduação em História da PUC-RS, o livro tem o mérito de trazer ao público que compartilha a língua portuguesa a tradução de estudos seminais para o campo da narrativa histórica, além de textos inéditos ou reeditados que evidenciam o reconhecimento e a competência de pesquisas produzidas por brasileiros no campo da teoria da história. Leia Mais
História, espaço, geografia: diálogos interdisciplinares | José D’Assunção Barros
A produção de trabalhos de História Regional são reveladoras de diversas situações históricas, culturais, sociais, econômicas e políticas que muitas vezes só podem ser percebidas quando estabelecemos um recorte espacial. Por isso, podemos considera-la como uma alternativa dentro da produção historiográfica brasileira que permite observarmos a atuação de diversos sujeitos muitas vezes anônimos se considerarmos a história escrita, ou almejada, de âmbito nacional.
Durval Muniz Albuquerque Júnior, porém, nos alerta para o risco de estabelecermos uma produção historiográfica hierarquizada na qual a História Regional seria secundária em relação à História Nacional. Albuquerque Júnior questiona a falta de crítica do lugar da produção do saber historiográfico por parte de quem faz a História Regional ao ponto de que esses historiadores estariam participando de uma divisão entre História Nacional e História Regional e, consequentemente, hierarquizando os espaços no campo historiográfico (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 39-40). Tal crítica nos permite refletir o fazer a História Regional não como resultado de uma série de operações limitadas territorialmente e desconectadas espacialmente de outras áreas, mas como uma abordagem interdisciplinar dialogando com a Geografia, Sociologia, Antropologia, Ciência Política entre outras. Leia Mais
Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina – TVARDOVSKAS (HU)
TVARDOVSKAS, L.S. Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina. São Paulo: Intermeios, 2015. 488 p. Resenha de: RIBEIRO JÚNIOR, Benedito Inácio. História, gênero e feminismo: arte e práticas de liberdade no Brasil e na Argentina. História Unisinos 22(2):320-325, Maio/Agosto 2018.
Com mais de dez artigos publicados versando sobre os temas feminismo, gênero, arte e história, Luana Saturnino Tvardovskas traz a público os frutos colhidos na sua pesquisa de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, sob a orientação de Margareth Rago.2 A obra, intensa nas reflexões e no peso, contempla a produção artística das brasileiras Rosana Paulino, Ana Miguel e Cristina Salgado e das argentinas Silvia Gai, Claudia Contreras e Nicola Costantino. Atravessando e historiando os caminhos de “[…] verdades cáusticas, de saberes menosprezados e de vozes inauditas” (Tvardovskas, 2015, p. 430) de tais artistas, a historiadora costura perspectivas historiográficas sobre mulheres, gênero e feminismos aos conceitos e práticas políticas e de pensamento de intelectuais como Michel Foucault, Judith Butler, Rosi Braidotti, André Malraux, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Margareth Rago, Norma Telles, Suely Rolnik, Tânia Navarro-Swain, Nelly Richard e Leonor Arfuch. O que garante a qualidade dessa urdidura é um apurado trabalho de análise das obras e das trajetórias das artistas e uma escrita politizada, afetada e afetuosa.
Comprometida com o assunto – arte, história e feminismo –e com a orientação de Rago desde a graduação, Tvardovskas privilegiou pensar estilísticas da existência e produções artísticas a partir do ferramental teórico-político- -metodológico feminista em sua trajetória como historiadora. Sua dissertação de mestrado é exemplo disso: defendida em 2008, Figurações feministas na arte contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó, ela analisa instalações, performances e objetos artisticamente construídos com o objetivo que questionar verdades instituídas em relação à sexualidade, ao corpo feminino e à subjetividade (Tvardovskas, 2008).
Voltando à obra, esta foi defendida como tese de doutorado em 2013 e revista para ser publicada como livro em 2015. O livro foi dividido em cinco capítulos e em duas partes. Junto com a introdução, o primeiro capítulo –“Um museu imaginário feminista: histórias da arte e feminismos, diálogos possíveis” – está separado das duas partes do livro. A primeira parte – intitulada Brasil– contém os capítulos 2 e 3. No primeiro deles, “De ousadias discretas e manobras radicais: mulheres artistas no Brasil”, a reflexão sobre a produção de mulheres na arte brasileira a partir de 1970 e do movimento feminista toma lugar, ao mesmo tempo que a temática de gênero é discutida em relação aos contextos curatoriais e aos estudos acadêmicos. Já o terceiro capítulo, que recebeu o nome de “Potência desconstrutiva: Rosana Paulino, Ana Miguel e Cristina Salgado”, é escrito a partir do estudo das produções e trajetórias artísticas das três brasileiras investigadas por Tvardovskas. Argentina, como é denominada a segunda parte do livro, é composta pelos quarto e quinto capítulos, respectivamente intitulados “Cuerpos aflictos: arte e gênero na Argentina contemporânea” e “Memórias insatisfeitas: Silvia Gai, Claudia Contrerase Nicola Costantino”. Assim, a segunda parte da obra obedece à organização feita pela autora na sua primeira parte, pois os capítulos são organizados com o intuito de evidenciar as discussões sobre as artes e os feminismos nos seus contextos nacionais e, em seguida, verticalizar a análise abordando as artistas separadamente. O primeiro deles relaciona os temas da arte, política e gênero na Argentina contemporânea, trazendo reflexões acerca do período ditatorial e de abertura política e sobre a crítica de arte no país. No seu quinto e último capítulo, a obra interpreta as imagens plásticas produzidas por Gai, Contreras e Costantino.
No início do seu primeiro capítulo, Tvardovskas esclarece que seu trabalho buscará uma conjunção entre crítica cultural e História para abordar as poéticas visuais das artistas que são seu objeto de estudo. O intuito da autora é problematizar a partir de um olhar feminista essas estéticas femininas, partindo da hipótese de que tais produções “[…] anunciam novas possibilidades de intervenções na cultura”, e, inspirada em Walter Benjamim, questiona se elas podem ser “[…] compreendidas como espaços de resistência ao empobrecimento ético, político e subjetivo atual” (Tvardovskas, 2015, p. 37).
Nessa esteira, a autora vai situando os seus referenciais para a discussão de suas artistas-objeto: chama para a conversa Michel Foucault e Judith Butler para questionar a naturalidade dos corpos, percebendo-os a partir daí como produtos de discursos sobre o sexo. Interessa-se pelo conceito foucaultiano de parrhesia, que seria uma experiência antiga greco-romana construída a partir do cuidado de si e dos outros, buscando a afirmação de uma existência bela, libertária e ética. Desse modo, a opressão feminina vivenciada em seus corpos, a negação de seus desejos e a renúncia de si seriam terrenos de desconstrução de mulheres artistas que buscam em suas próprias vidas a matéria de seu trabalho. Logo, a autora situa as produções das seis artistas analisadas nessa convergência teórico-política.
Ainda no primeiro capítulo, preocupa-se em pensar a crítica feminista sobre as artes visuais, pontuando as concepções de arte e história da arte no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Assim, Tvardovskas evidencia as condições históricas que excluíram as mulheres da história da arte ocidental. A partir de autoras como Griselda Pollock, Linda Nochlin, Rozsika Parker, Whitney Chadwick, para citar apenas algumas, a autora expõe que nos séculos XVIII e XIX as mulheres foram impedidas de pintar os gêneros tidos como maiores, entre eles os nus, sendo-lhes permitido apenas o estudo da natureza morta, do retrato e da paisagem. Também a ordem burguesa, no mesmo período, afastou ainda mais o conceito de artista da identidade das mulheres, com a redução delas ao papel reprodutivo e ao lar. No século XX, as concepções de originalidade e genialidade foram quase sempre atribuídas aos homens, assim como as mulheres foram banidas da história do modernismo. Embasada por reflexões que desconstroem as bases da História da Arte, bem como da própria disciplina histórica, Tvardovskas aponta para a compreensão da História que não se vê mais como discurso neutro ou universal como importante passo para a compreensão das mulheres, artistas ou não, como sujeitos históricos, concluindo que “[…] a história enquanto enunciado verdadeiro e absoluto não serve ao feminismo” (Tvardovskas, 2015, p. 61). O primeiro capítulo se encerra com uma crítica à pretensão de compreender uma periodização para a crítica de arte feminista latino-americana que coincida com a efervescência desses temas na Europa e nos Estados Unidos, iniciada a partir dos anos 1970. Os regimes ditatoriais que se deram no nosso continente na segunda metade do século XX ritmaram de outro modo o movimento feminista e seus efeitos no campo artístico, e, de acordo com a autora, apenas depois dos momentos de abertura política o feminismo impactou de forma mais efetiva a indústria cultural e as artes em geral. Por esse desenvolvimento mais tardio, Tvardovskas afirma que não houve no Brasil uma revisão dos cânones artísticos ou uma rememoração de nomes de mulheres em outros períodos históricos, como ocorreu nos países de língua inglesa. Assim, a partir de uma vontade de evidenciar perspectivas feministas e seus locais na arte latino-americana, Tvardovskas inicia suas análises.
O segundo capítulo se encarrega da discussão sobre as mulheres na arte brasileira e também introduz pequenas biografias de Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado, bem como apresenta seus estilos e materiais de trabalho. Insere, dessa forma, a produção e carreiras das três artistas na fase de abertura do regime militar, na década de 1980, caracterizada pela euforia por novas possibilidades artísticas e políticas. A história política do Brasil, do movimento feminista, das artistas-objeto e de outros artistas brasileiros é enfocada no estudo, gerando um panorama crítico das condições históricas que caracterizaram a arte e os trabalhos de Miguel, Paulino e Salgado. Com o fim da ditadura, Tvardovskas percebe como os movimentos sociais foram fortalecidos e, dentre eles, o feminismo. Isso levou as mulheres a se imporem mais abertamente como sujeitos políticos e atuarem criticamente em áreas como produção cultural, academia e no poder legislativo, repensando a cidadania, os corpos, o gênero, a sexualidade feminina e seus papéis de mães, esposas e filhas. Os anos 90 vão se caracterizar, então, por uma maior interação das obras de mulheres na desconstrução do imaginário misógino brasileiro, resultado do fim dos governos autoritários e da visibilidade conquistada pelos movimentos feministas.
Duas informações são importantes para entender o engajamento necessário às artistas mulheres para fazer arte no Brasil. Primeira: a entrada das mulheres nas instituições de educação artística no Brasil enfrentou grandes dificuldades, percebidas pela autora até finais do século XIX, já que apenas em 1892 foi concedido o acesso às mulheres ao ensino superior, como na Academia Nacional de Belas Artes. Outra informação buscada por Tvardovskas é a questão de grandes nomes femininos do modernismo brasileiro. Amparada nos resultados de sua própria dissertação e nas pesquisas de Marilda Ionta, a autora entende que o grande reconhecimento de Tarsila do Amaral e de Anita Malfatti estabelece a importância das mulheres na arte nacional e, ao mesmo tempo, sugere-se que não haveria distinções entre homens e mulheres nesse campo: “Criou-se a representação na mídia e na historiografia de que a presença dessas duas artistas confirmava que no Brasil não existiam problemas de gênero no território artístico” (Tvardovskas, 2015, p. 96).
Na seção final do capítulo 2, a autora dá visibilidade à maneira pela qual a discussão de gênero veio tomando lugar nas artes visuais brasileiras, percorrendo catálogos de exposições, obras analisadas, exposições organizadas com o intuito de divulgar a arte de mulheres no país, concluindo que tais discussões serviram para deslocar conceitos e valores, questionando as naturalizações que envolvem a arte brasileira, as mulheres e a domesticidade. Tvardovskas conclui que a arte contemporânea abriu espaços de liberdade e de questionamento de normas e, por isso, pode ser compreendida pela ideia foucaultiana de estética da existência.
Ao iniciar o terceiro capítulo, Tvardovskas esclarece que fará uma leitura feminista das produções dessas autoras – que nem sempre entendem suas obras ou a si mesmas como feministas –, conjugando autobiografia e política para compreender seu objeto de pesquisa. Desse modo, as três artistas brasileiras e seus trabalhos são percebidos desde suas questões cotidianas e “marcas vividas”, mesclando aspectos culturais e sociais para a “[…] busca de caminhos diferenciados para a constituição das subjetividades na atualidade” (Tvardovskas, 2015, p. 114).
Em decorrência disso, nas narrativas pós-estruturalistas e feministas, como defende a obra, autorretrato foge às narrativas tradicionais de uma constituição de um eu verdadeiro. No caso das artistas mulheres, o uso de temas e materiais íntimos, cotidianos e domésticos serviria, segundo suas perspectivas de gênero, para negociar, reagir e inverter os ditames da feminilidade “[…] e da identidade ‘Mulher’, constituindo imagens muito surpreendentes de si mesmas” (Tvardovskas, 2015, p. 11). Não seria a autobiografia individualista, branca, ocidental, masculina e universal, mas, em nome da pluralidade, apostas na ressignificação e intensificação das experiências vividas.
Assim, obras como a instalação My bed, da inglesa Tracey Emin, trazem uma interrogação sobre os limites entre público e privado, na qual a cama, objeto íntimo, pode despertar questionamentos sobre a vida em sociedade. Salgado, Paulino e Miguel seriam exemplos dessa arte que conjuga elementos autobiográficos, íntimos e privados ao mundo político e público. Rosana Paulino3 tematizará em suas obras as questões de gênero e etnicidade: questiona modelos de comportamento e corpo a ela destinados historicamente, “[…] marcando sua arte com ‘traços de revolta’” (Tvardovskas, 2015, p. 139). Uma das obras analisadas em Dramatização dos corpos é a impactante Bastidores (2013), em que seis fotos de mulheres negras são expostas em bastidores de costura com suas bocas, testas, olhos ou gargantas costurados grosseiramente com linha escura.
Paulino, em entrevista colhida por Tvardovskas, afirma que a obra reúne memórias familiares aos problemas coletivos. A historiadora entende que do espaço íntimo de Paulino emerge uma crítica atroz à sexualização e silenciamento das mulheres negras, mas também conexões com o passado escravista brasileiro. Nessa esteira, sendo mulher negra, tendo passado pela experiência ainda na infância da pobreza, do racismo e do sexismo, Paulino se vale dessas experiências subjetivas em grande parte do seu trabalho: ressignificando práticas cotidianas femininas como o costurar, o tecer, o bordar, gera posicionamentos e reflexões sobre as práticas violentas que caminham juntas às vivências femininas e negras. Guiada por Deleuze e Guattari, a autora vê nessa artista e suas criações espaços abertos a devires e desterritorializações identitárias sobre as mulheres; e, inspirada em Foucault, lê as mesmas imagens como a “coragem da verdade”, numa implicação ética na qual Paulino fala francamente da escravidão.
Em Ana Miguel4 é possível ver as associações do feminino com aranhas e fiandeiras, bem como personagens de contos de fadas como Rapunzel. Recorrendo aos materiais e às técnicas comumente ligados ao feminino, como a linha, a cama e o crochê, Ana Miguel gera afeto e incômodo na sua obra I love you. A descrição e as camadas de sentido que recobrem a obra são pensadas por Tvardovskas a partir de referências clássicas, como o mito de Aracne, da influência do pensamento psicanalítico na obra de Miguel e as questões envolvendo o corpo feminino. A autora percebe que a sua instalação Um livro para Rapunzel (2003), assim como suas teias de crochê, caracterizam-se como modos de deslocar naturalizações sobre o feminino. A infância é pensada também, ao lado da instalação supracitada, com a exposição Pensando a pequena sereia, “a matéria é o que deseja minha alma” (1990), como lugar de repensar a subjetivação das meninas.
Por fim, Miguel tem seu trabalho Ninhohumano (2008) estudado por Tvardovskas: trata-se de uma intervenção urbana feita em conjunto com Claudia Herz, na qual as duas habitam por dias uma árvore no aterro do Flamengo (RJ). Para Tvardovskas, a intervenção força os limites entre o jardim público e o espaço privado da casa: desloca as divisões estabelecidas entre público e privado, entre locais habitáveis e não habitáveis. Assim, Miguel revela uma multiplicidade de sentidos sobre o humano, o feminino e a infância, repensando o corpo e o desejo para uma “potência feminina criativa”.
A última brasileira abordada no livro é Cristina Salgado.5 Esta se volta para o corpo feminino com a intenção de romper com significados cristalizados por meio de torções, fraturas, rompimentos, dobras e incisões, representando esculturas de corpos impossíveis e problematizando a questão da nudez (Tvardovskas, 2015). Também envolvida em temáticas que cruzam estética e psicanálise, os corpos esculpidos por Salgado são plasmados às paredes e objetos de decoração, com inchaços e torções se fazendo evidentes. De acordo com Tvardovskas, a estratégia já vinha sendo usada por outras artistas surrealistas como crítica à domesticidade feminina.
Em sua instalação Grande nua na poltrona vermelha, composta em 2009 e com direta associação com Grande nu no sofá vermelho (1929), de Pablo Picasso, o corpo de uma mulher se derrama pelo espaço, excedendo as proporções humanas, mas rostos, mãos e pés dão caráter humano ao emaranhado de dobras e torções. O nu para a artista mulher torna-se uma presença e uma ausência que, nas palavras de Tvardovskas, significa o corpo nu feminino sempre em evidência em obras de arte, mas criadas e vistas por olhares masculinos. Ao contrário, Salgado o deforma e o recria: a sua mulher nua se derrama aspirando buscar outras formas de entender o feminino, o corpo, a arte e as próprias maneiras de conceber nosso olhar sobre o mundo, inventando o feminino como dobras não localizáveis, numa leitura deleuziana.
A segunda parte da obra se inicia no quarto capítulo, que tem como objetivo entender as nuances das relações entre arte e gênero na Argentina contemporânea. Como fez ao tratar do Brasil, a obra pensa a história política recente naquele país como terreno fértil para as artes em geral: a violência, a tortura, os desaparecimentos e os assassinatos vividos no período ditatorial (1966-1973) fazem surgir um luto simbólico nas expressões estéticas, e as artistas argentinas analisadas não escapam a essa problemática. Traçando um panorama da história da arte argentina, Tvardovskas aponta para as omissões das quais as artistas mulheres foram vítimas. Assim como aconteceu no Brasil com Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, artistas mulheres que atingiram certo reconhecimento na Argentina, como Lola Mora e Marta Minujín, têm suas trajetórias usadas para mascarar o silenciamento das poéticas visuais femininas e a inexistência de interesse sobre as obras das demais artistas.
Tvardovskas afirma que em meados da década de 1980 tem-se a inserção de prismas de gênero na arte argentina: depois da ditadura, numa realidade econômica e social deteriorada, a cena underground refletiu acerca dos corpos e suas sexualidades “fora da ordem”. Já em 1986, a exposição Mitominas I acolhe obras de mulheres que se perguntavam acerca dos mitos que as construíam enquanto mulheres, e, dois anos depois, a exposição Mitominas II. Los limites de la sangre fará alusão à violência política na Argentina, à AIDS e à violência de gênero.
Para pensar as relações entre arte e gênero na Argentina, a historiadora relembra os parâmetros que consideraram certas manifestações artísticas como “arte política” na década de 1960: em confronto com a ditadura, artistas se dedicavam a tecer críticas ao poder e às estruturas macropolíticas. A partir dos anos 80, Tvardovskas reconhece um fortalecimento e maior visibilidade dos movimentos sociais, mas o foco da crítica dos artistas não é mais somente o estado. Assim, artistas militantes que discutiam os novos impasses sociais, diferentes dos anos 60, foram tachados de despolitizados e frívolos, pois baseariam seus trabalhos em temas muito subjetivos, como o corpo e a sexualidade. Por isso, suas obras acabaram sendo pejorativamente denominadas de “arte rosa”, “arte light” e “arte gay”.
Por seu turno, o último capítulo de Dramatização dos corpos coloca os trabalhos das argentinas Silvia Gai, Claudia Contreras e Nicola Costantino sob a perspectiva dos estudos feministas. Tvardovskas encontra como eixo tematizador dos trabalhos dessas artistas as questões relacionadas ao corpo, grande sensibilidade e uma crítica forte à história do seu país. Assim, as três artistas-objeto enfatizam em suas criações a memória como prática ativa no presente e lugar de reflexão política. Silvia Gai6 começa seus trabalhos com técnicas têxteis em meados dos anos 90, tecendo órgãos humanos em crochês de formato tridimensional, aplicando-lhes um banho de água e açúcar que lhes garante uma estrutura firme, como se vê na sua série de órgãos Donaciones, de 1997. Esses trabalhos levam à reflexão sobre a enfermidade e a fragilidade dos corpos: pequenos tumores, más-formações e lacerações se alastram por seus trabalhos. As reflexões acerca do HIV, que preocupou a argentina desde os anos 80, da mesma maneira emergem em suas obras. Também há trabalhos da artista que se dão em almofadas e aventais, objetos do uso cotidiano e doméstico. Tvardovskas os entende por uma perspectiva feminista, pois Silvia Gai “[…] explicita os enunciados sociais que tradicionalmente restringem as mulheres à domesticidade, em nome de uma suposta ‘ordem biológica’” (Tvardovskas, 2015, p. 320). É possível ver a criação de corpos sensíveis à percepção, de uma maneira muito diferente daquela expressa pelos invasivos discursos médicos e cirúrgicos. As linhas e redes formadas pelos seus trabalhos igualmente aludem às interpretações feministas, podendo sugerir a criação cultural de órgãos, tecidos e corpos.
Já Claudia Contreras7 usa materiais e técnicas de criação muitas vezes tachadas como menores e atribuídas às mulheres, confrontando acidamente a história do último século, em especial os genocídios e a ditadura em seu país. Os problemas que inundam a Argentina na década de 1990, como as mazelas do neoliberalismo e o empobrecimento massivo da população, suscitam na arte de Contreras questões a serem tratadas, bem como os desaparecimentos políticos da ditadura militar, numa tentativa de reconstruir o passado de forma crítica, questionando discursos oficiais e os problemas da memória e do esquecimento. Em reconstruções do mapa argentino, ela expõe corpos atacados e agredidos, como nas obras Argentina Corazóne Columna vertebral, ambas de 1994-1995. Já a série Cita envenenada (2001), “[…] remete à prisão de militantes políticos pela polícia, por meio do descobrimento de esconderijos e encontros marcados, associada, portanto, à traição” (Tvardovskas, 2015, p. 375). Nesse sentido, Contreras utiliza um objeto cotidiano, banal, como uma xícara, e nele expõe dentes humanos, estabelecendo uma relação entre os micropodores que perpassam nossos cotidianos e revelam violências e impactos sobre nossos corpos. Os trabalhos que nem sempre se mostram como críticas feministas – como, à primeira vista, pode parecer Cita envenenada – podem ser lidos numa perspectiva feminista, uma vez que, para Tvardovskas, conceitos como corpo, desejo, cotidiano e poder são postulados pelas discussões de mulheres interessadas na transformação da realidade social e cultural.
Nicola Costantino8 encerra as análises de Dramatização dos corpos, mostrando o olhar ácido sobre a cultura argentina e as convenções de moda, do feminino e da maternidade presente nos trabalhos dessa artista. Assim como Contreras e Gai, Costantino é entendida por Tvardovskas como uma daquelas artistas que utilizam a água como elemento sofredor e matéria de desespero, o que pode ser visto na obra Ofelia, Muertede Nicola Nº II.9 A maternidade, a cozinha, o envelhecimento e a beleza feminina são constantemente questionados pelas corrosivas obras de Nicola Costantino, o que fica claro nos seus trabalhos de inkjetprint, como nas impactantes Nicola costurera (2008), Madonna (2007) e Savon de corps (2003). Em Nicola Alada, de 2010, a imagem de si é usada para refletir acerca do corpo, o imaginário sobre a mulher e a violência histórica. Seu autorretrato como Vênus na frente de uma enorme carcaça bovina pendurada causa uma mordaz contradição entre o ideal da imagem feminina e a violência causada ao olhar espectador pela carne animal exposta. O corpo animal entrecruzado ao corpo de Vênus nos faz perceber, segundo Tvardovskas, o sofrimento possível em um corpo, em especial o das mulheres.
Passando à conclusão, Tvardovskas entende as obras das seis artistas estudadas como práticas fluidas e em constante reelaboração e como exercícios de reconstrução de si e da cultura no seu entorno: as produções de Salgado, Paulino, Miguel, Gai, Contreras e Costantino ampliam nossas formas de perceber o feminino e as ex não hierárquicas e não binárias. A autobiografia, o corpo, o espaço privado se constituem como espaços possíveis de repensar a memória e com potência criativa e libertária. Não há um sentido feminista essencial, pretendido pelas autoras ou fixo na análise de Tvardovskas; muito pelo contrário, a autora deixa explícita a intenção de lançar um olhar histórico e feminista sobre as obras estudadas. Durante toda a sua análise, por meio da crítica de suas fontes, das obras e das mulheres estudadas, reescreve um passado sobre a arte muitas vezes negligenciado, afirmando abertamente a sua leitura sobre elas: “Não se trata, assim, de uma simples invenção de sentidos inexistentes, mas de uma lente necessária para um olhar social que parece não conseguir enxergar com acuidade seus contínuos processos de apagamento das diferenças” (Tvardovskas, 2015, p. 380). Uma leitura mais que necessária nos tristes tempos vivenciados pela cultura e arte brasileiras, quando se olha, por exemplo, para as recentes polêmicas acerca do cancelamento da exposição QueerMuseu (Folha de S. Paulo, 2017) e em torno da performance La bête, acusada de pedofilia (Carta Capital, 2017). Dramatização dos corpos se torna leitura obrigatória num ambiente em que a arte que discute gênero, cultura LGBT, o corpo e o desejo é cada vez mais vítima de discursos censores e intolerantes.
Referências
CARTA CAPITAL. 2017. Museu de SP é acusado de pedofilia e rebate: performance não tem conteúdo erótico. Disponível em: https:// www.cartacapital.com.br/sociedade/museu-de-sp-e-acusado-de- -pedofilia-e-rebate-performance-nao-tem-conteudo-erotico. 29 set. Acesso em: 31/10/2017.
FOLHA DE S. PAULO.2017. Após protesto, mostra com temática LGBT em Porto Alegre é cancelada. Disponível em: http:// www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1917269-apos-protesto- mostra-com-tematica-lgbt-em-porto-alegre-e-cancelada. shtml. 10 fev. Acesso em: 31/10/2017.
TVARDOVSKAS, L.S. 2008. Figurações feministas na arte contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó. Campinas, SP. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 223 p.
TVARDOVSKAS, L.S.2013. Dramatização dos corpos: arte contemporânea de mulheres no Brasil e na Argentina. Campinas, SP. Tese de Doutoramento. Universidade Estadual de Campinas, 370 p.
TVARDOVSKAS, L.S.2017. Currículo da Plataforma Lattes. Brasília. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv. do?id=K4594129J5. Acesso em: 09/05/2017.
Notas
2 Esses dados foram consultados no Currículo Lattes de Luana Saturnino Tvardvoskas. Ver na lista de referências Tvardovskas (2017).
3 Nascida em 1967, é gravadora e especialista em gravura pelo London Print Studio e possui doutorado em Artes Plásticas pela ECA/USP. Todas as informações biográficas das artistas foram encontradas na própria obra de Luana Tvardovskas (2015).
4 Nascida em 1962, gravadora e escultora, estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ) e Filosofia Contemporânea e Antropologia na Universidade Federal Fluminense e na Universidade de Brasília.
5 Pintora, desenhista e escultora. Nasceu em 1957, estudou desenho, pintura e litografia na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde se tornou professora. É doutora em Linguagens Visuais pela UFRJ e professora da UERJ e da PUC-RJ.
6 Nascida em Buenos Aires em 1959, é uma escultora que trabalha com crochês e bordados, dialogando com práticas têxteis.
7 Nasceu em 1956, também em Buenos Aires. Trabalha com colagem, costura, paródia, desenhos, pinturas, bordados, objetos, fotografias e animação digital. Estudou na Escuela Nacional de Bellas Artes de Quilmes, na Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano e na Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Também estudou em Madri.
8 Nascida em Rosário, em 1964, tem sido bastante comentada no circuito latino-americano contemporâneo, trabalhando com autorretratos, esculturas, embalsamamento de animais, imitações de pele humana, performances, vídeos e instalações. Formou-se na Escola de Artes Plásticas da Universidad de Rosario e embalsamamento e mumificação de animais no Museo Nacional de Ciencias Naturales de Rosario.
9 A água possui esse lugar na produção dessas três artistas e no imaginário argentino contemporâneo pelas memórias da ditadura militar, já que eram comuns os voos nos quais militares jogavam militantes políticos no mar e no Río de la Plata.
Benedito Inácio Ribeiro Junior – Doutorando em História na Universidade Estadual Paulista (UNESP) em Assis. Professor Assistente I na Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo da Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura. Praça Dr. Pedro Cesar Sampaio, 31, Centro, 198000-000, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet – TEIXEIRA (A)
TEIXEIRA, Maria Juliana Gambogi. A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. 312p. Resenha de: PEREIRA, Renato Fagundes. Por uma nova leitura de Michelet no Brasil. Antítese, v. 11, n. 22, 2018.
No século XIX, algumas obras de Jules Michelet foram trazidas ao Brasil, isso se deve, em partes, ao sucesso de L’Oiseau (1857) em Paris, (onde estimava-se a venda de trinta e três mil unidades), embora a recepção de suas ideias tenha ocorrido principalmente na segunda metade do século XX, com as primeiras traduções das obras historiográficas e teóricas do movimento dos Annales (Lucien Febvre nunca negou o legado micheletiano em suas análises). A partir da década de 1970, as ideias de Michelet chegam ou por aqueles que discutiam a história e a metodologia dos Annales ou por aqueles que começavam a refletir sobre a crise dos paradigmas na historiografia -A presença de Jules Michelet é marcante nos livros de Peter Burke e Dosse sobre os Annales, por exemplo, e nos argumentos de Paul Veyne, Michel de Certeau, Jacques Rancierè e Hayden White sobre as ficcionalidades da história.
Muitos estudos foram publicados no Brasil, os quais assinalam a importância de Jules Michelet como precursor dos Annales, da história das mulheres, do povo e da cultura, mas, raros são aqueles que se esforçaram em compreender o historiador no movimento do seu próprio pensamento, no élan-criador do conhecimento histórico e na historicidade do próprio autor. Nesse sentido, não são exageros as palavras Jean-Michel Rey sobre a modéstia do subtítulo, A feiticeira de Jules Michelet, no recém-lançado livro A profetisa e o historiador de Maria Juliana Gambogi Teixeira.
A professora da UFMG retoma sua tese doze anos depois de sua defesa, são quase três décadas dedicadas a finco à pesquisa das ideias micheletianas, e nos proporciona uma leitura singular, inaudita, principalmente, entre nós, brasileiros, acostumados com a recepção do autor da L’Histoire de France, pelos herdeiros dos Annales. Essa distinção se assenta pelo vínculo de Gambogi Teixeira com o grupo formado por Paul Viallaneix e Paule Petitier. Esses dois especialistas na obra micheletiana realizaram nas últimas décadas um trabalho árduo de muita riqueza, descobrindo e publicando textos inéditos de Michelet, organizando coletâneas, bibliotecas e seminários – podemos destacar o seminário Michelet hors fronteires e a bibliothèque Jacques Seebacher, ambos com a coordenação da professora da Universidade Diderot, Paule Petitier.
O livro é dividido em três partes com dois capítulos cada um. A parte um, O Tenebroso Mar de La Sorcière é preciosa para compreender a trama que atravessa todo o livro: A Feiticeira, obra publicada por Michelet, em 1862. Enganar-se-ia quem imaginasse encontrar nessas páginas apenas a história de um livro. Trata-se de um esforço mais profundo, na tentativa de constituir no interior da obra monumental de Jules Michelet o caminho da feitiçaria como objeto, suas inflexões e seus delineamentos, durante mais de meio século de produção do historiador. A análise do próprio texto, A Feiticeira, se apresenta, principalmente, no capítulo dois, no entanto, ela não acontece fora de um solo, como gostava de afirmar o próprio Michelet, e sim dentro de um plano de imanência micheletiano, que só é possível por uma conhecedora dos arquivos e das ideias do século XIX.
A parte dois do livro, História ao Pé da Letra, representa uma contribuição das mais notáveis: a história da historiografia e a teoria da história. Gostaríamos de insistir na novidade dessa análise no Brasil e em textos em língua portuguesa. A autora retoma o vínculo entre Michelet e Vico, explorado desde o século XIX, para romper com ele e demonstrar no contexto das ideias o débito viconiano, enfatizando as rupturas e as criações micheletianas. A questão da lenda e da cultura popular, familiar ao romantismo, emerge no capítulo final dessa parte. Particularmente, os dois capítulos que fazem parte desse recorte são os quais a pesquisadora mais me surpreende pelo gênio de articulação e uma consistência de domínio teórico, cuja finalidade é estabelecer a relação entre o lendário, a história e o ficcional em Jules Michelet.
Na última parte do livro, Verso e Avesso da Narrativa, Gambogi conduz sua reflexão da obra micheletiana no movimento de mão-dupla: da constituição do seu pensamento, no esforço intelectual de escrever história, concentra-se na Feiticeira e no fenômeno da feitiçaria e no interior das questões pessoais, políticas e sociais enfrentadas pelo autor. Não por acaso, a tese da autora sobre La Sorcière passa pela associação de Jules Michelet com a Revolução de 1848, na França: Projetando tal hipótese sobre o cenário aberto por 1848, parece-nos possível pensar que, menos do que um interesse circunscrito em catalogar e diagnosticar o destino pontual dos movimentos revoltosos, o pensamento de Michelet tenha se voltado para, em La Sorcière para o que sempre fora seu centro: a condição de inteligibilidade da história moderna. Já há muito, o historiador fincara essa condição num campo de entendimento em que se conflitam dois princípios diversos, porém imbricados em seu destino: o princípio da Revolução e o princípio do cristianismo (p.203).
Renato Fagundes Pereira – Professor do Curso de História da Universidade Estadual de Goiás – UEG. -E-mail: [email protected].
Escritas de viagem, escritas da história: estratégias de legitimação de Rocha Pombo no campo intelectual, 2018 | Alexandra Lima da Silva
A obra Escritas de viagem, escritas da história: estratégias de legitimação de Rocha Pombo no Campo intelectual é escrita por Alexandra Lima da Silva. Nela, a autora problematiza as estratégias de legitimação a partir da viagem realizada pelo educador Rocha Pombo ao norte do Brasil, em 1917. Vislumbra, dentre as diversas facetas de Rocha Pombo – intelectual, historiador, professor de história, escritor de livros de história –, interpretar sua face de viajante. Na introdução do livro, narra seu encontro com este sujeito ainda enquanto estudante de graduação. Destaca sua busca por pistas, seguindo as pegadas desse homem, realizando uma vasta pesquisa em arquivos e instituições de guarda da cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades.
José Francisco da Rocha Pombo nasceu em Morretes, cidade localizada no Paraná, em 4 de dezembro de 1857. Na pequena cidade onde nasceu, teve acesso apenas à educação primária, por não haver na região escolas secundárias. Em 1897, viaja para o Rio de Janeiro onde se estabelece como um prestigiado professor de história. Na cidade, tece suas redes de sociabilidades junto a Silvio Romero, Manoel Bomfim e José Veríssimo. Mesmo com o tempo ocupado nas tarefas do ensino, o intelectual dedica-se à escrita de poesias, à política e à produção de compêndios de história. Sua obra mais conhecida, alvo de críticas pelos literatos da época é o livro de história, de título: História do Brasil. Leia Mais
La folie Dartigaud – JOUHAUD (RETH)
JOUHAUD, Christian. La folie Dartigaud. Paris: Éditions de l’Olivier, 2015. Resenha de: SÁ JÚNIOR, Luiz César de. Dartigaud: Delírio Dartigaud: Uma fábula historiográfica. Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia, Morrinhos, v. 8, n. 3, set./dez. 2017.
“Sentimento e objetividade”, “memória e legitimação”, “fascínio e ceticismo” são dilemas profundamente vinculados ao trabalho do historiador. As incertezas que acarretam envolvem os usos contemporâneos do passado, repartidos entre o crescente interesse público pela história e a percepção acadêmica de que ela nada tem a ensinar. Em nossa economia simbólica, permeada pela transformação de sentimentos poderosíssimos, como a nostalgia, a mais-valia (aqueles que conhecem Don Draper sabem do que estou falando), esses usos podem ter trazido consequências ao ofício que ainda não foram totalmente elucidadas.
Afinal, o que impele o historiador a escolher um determinado tema e um determinado método? Imperativos morais e sentimentais próprios a cada indivíduo, agendas ético-políticas ativas na comunidade que os dota dos instrumentos analíticos necessários à pesquisa certamente comparecem em suas preferências. Mas há, talvez, uma questão de fundo, a saber, a interação entre, na falta de um termo melhor, o “desejo de presença” que nos impele aos arquivos e o trabalho hermenêutico voltado à restituição da historicidade dos objetos estudados. É à dramatização dessa dinâmica que o novo livro de Christian Jouhaud se consagra, introduzindo suas reflexões no formato de uma fábula historiográfica.
Tudo começa com um mergulho para fora do tempo. Em 17 de julho de 1962, o espeleólogo2 francês Michel Siffre conduz uma experiência radical: após três horas de descida ele atinge a profundidade de cem metros na caverna de Scarasson, situada fronteira franco-italiana dos Alpes. Dispondo de um caderno de anotações e de um “magnetofone” (que usava para informar uma equipe de acompanhamento médico), Siffre permaneceu, de resto incomunicável, de modo a atingir o objetivo a que se propunha, isto é, viver “fora do tempo”.
Os resultados da experiência foram brutais – física e psicologicamente. O então jovem de 23 anos havia perdido a noção do tempo, desregulando drasticamente hábitos alimentares e a rotina do sono. Conforme relato que consta no livro que escreveu sobre sua experiência (Hors du Temps, 1963), quando questionado sobre a data em que imaginava estar ao sair da gruta, errou por vinte e cinco dias.
Seu ordálio teria inspirado outro caso, anos mais tarde. É nesse período, que Christian Jouhaud situa o personagem de sua ficção, o historiador René Dartigaud, cuja desejo de conhecimento imediato do passado o leva a desencadear uma “experiência de imersão historiográfica” (p. 7). Embora inspirada pelo programa de Siffre, ela diferia radicalmente em sua finalidade; se este havia mergulhado no abismo para “perder o tempo”, aquele desejava avidamente recuperá-lo.
Dartigaud cogitava que a única forma de contemplar o passado seria entrar em uma espécie de máquina do tempo erudita. Ela fora “construída” em uma casa na região estudada pelo historiador, Saint-Croix-du-Mont, e destinava-se a replicar as condições de vida da época de seu interesse, o século XVII. Uma vez instalado nela, seu isolamento era quase total: a alimentação e os documentos disponíveis nos arquivos eram levados à casa sem que ele tivesse contato com os mensageiros, e, todos os aparelhos eletrônicos foram banidos.
A voracidade com que conduziu seu projeto acarretou sequelas tão ou mais graves que aquelas experimentadas por Siffre. Poucos meses depois de trancar-se em seu laboratório, Dartigaud foi encontrado em estado catatônico, o que resultou em sua internação em um hospital psiquiátrico. Aparentemente incapaz de se lembrar do período em imersão, Dartigaud passou os primeiros dias falando compulsivamente do tema da avidez, sem deixar de se condenar pela “insaciável profanação do tempo” (p. 15) que teria cometido.
Somos apresentados pelo narrador a alguns vestígios deixados pela experiência de Dartigaud. Em primeiro lugar, um breve relato manuscrito feito após o período de sua internação em um hospital psiquiátrico, na sequência do confinamento. Além dele, dois documentos são encontrados nos arquivos do Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS: de um lado, o “contrato” que estabelecia as normas do confinamento historiográfico; de outro, o “projeto” que o subsidiava.
A leitura do contrato paródico introduz elementos determinantes para a compreensão do caso. Dartigaud é de saída satirizado como um lunático, à medida que o “grupo de pesquisa” ao qual se vincula para a consecução do projeto é constituído, ao que parece somente por ele. Assim, o contrato é firmado entre René Dartigaud e o diretor do “Grupo Experimental de Imersão Historiográfica”, dirigido por René Dartigaud.
O projeto de pesquisa remetido ao CNRS sustentava um objetivo bifronte, orientado tanto a “escrever a história das atividades sociais, econômicas, políticas, religiosas e culturais” (p. 11) da Saint-Croix-du-Mont seiscentista quanto a observar seu próprio comportamento no processo, estabelecendo os impactos de sua situação de imersão a partir da hipótese de que a restrição a todos os artefatos do presente culminaria no contato direto com o passado, cuja presença radical tornaria visível o que estava morto. Recusando-se a empreender qualquer tentativa de demografia histórica (o que sugere a distância para as inclinações de seu métier naqueles anos), Dartigaud planejava conhecer os “personagens mais visíveis” da vida citadina, sobretudo do ponto de vistas das ações destinadas a estabelecer sua unidade social.
Pouco a pouco, o historiador recupera a memória de sua experiência, e ela é descrita na chave do arrebatamento provocado pela avidez com que perscrutou o passado. Ao invés de ser preenchido pela exuberância da “presença”, o que viu foi a ruína de um “tempo abolido, atingido pela corrosão universal” (p. 16-17): Sentia-me imobilizado e congelado pelo encantamento de alguma fonte invisível, petrificado pelos mil fios grudentos de uma teia de aranha […]. Não passo de uma pedra fria, um rochedo colocado na entrada da fúnebre gruta onde nascem os infernos. Estou condenado (p. 18).
O processo de cura de Dartigaud começa quando ele encontra uma bicicleta arruinada no hospital. Em seus relatos, afirma que foi a tentativa de consertá-la que o despertou do delírio que o experimento havia lhe imposto, e que estava calcado num sentimento de melancolia. Todos os lugares que visitara emanavam sombras da presença que o faziam sonhar. Cada silêncio soava-lhe como um convite a que resgatasse os ruídos que outrora coloriam Saint-Croix-du-Mont, todos os vivos lembravam-lhe dos mortos que poderiam ser ressuscitados. Como a pressão para que efetivasse essa operação fosse incontornável, Dartigaud só conseguia qualificá-la de inebriante; as sombras eram uma fonte inesgotável que ele sorvia “como aguardente” (p. 29).
Mas, a restauração da bicicleta permitiu-lhe enveredar por operações de outra ordem. Ao invés de sonhar com a presença daqueles que a usaram, bastava recuperá-la. Para isso, era necessário refazer certas peças, peças novas, porém idênticas àquelas perdidas, o que exigia por sua vez, a invenção de ferramentas apropriadas. A bicicleta em si não tinha qualquer importância; o que de fato valia o seu tempo era a ação de torná-la útil uma vez mais, de fazer suas rodas girarem como giravam em 1865, data de sua criação.#
“A meu ver, a bicicleta, enquanto objeto, não tinha de fato a menor importância. Poderia ter sido qualquer outro objeto. Tudo residia na ação. Na densidade, na plenitude dessa ação sem sonho, sem sombra e sem presença” (p. 31). Sem que fosse realmente possível andar nela, a bicicleta não era mais do que comemoração, e não presença viva do passado. Nesse sentido, a bicicleta serviria de elogio à utilidade “como artefato radical de uma presença eficaz” (p. 86).
Esse discernimento o tirou definitivamente da ala psiquiátrica e o trouxe de volta aos estudos. Professor universitário conhecido, passou a defender os valores de uma erudição ascética desconfiada das “miragens” que o anseio pela presença do passado poderia suscitar. Contra toda metafísica dos espectros, Dartigaud realizava, aula após, aula, um exorcismo terapêutico apto a mitigar sua aflição, canalizada em prol da admoestação metodológica.
Mas, esse comportamento apenas relegava o problema ao segundo plano, pois o engajamento de Dartigaud sinalizava a persistência da experiência na forma de trauma, o que proporciona uma resposta cômico-pedagógica àqueles que imaginam que reações aquelas aulas semelhantes a sessões de terapia podem ter suscitado nos alunos. Para ficar na alusão alcoólica convocada pelo protagonista anteriormentr, Dartigaud cala sua angústia fundando uma espécie de “epistemólogos anônimos”, verdadeira clínica de orientação contra delírios historiográficos.
O livro de Christian Jouhaud metaforiza modalidades da produção de presença, e, para atingir esse objetivo, mobiliza discussões que se vinculam à sua obra. Historiador da política e das práticas letradas francesas seiscentistas, Jouhaud notabilizou-se com a publicação de Mazarinades, la fronde des mots (1988), objeto do último texto de Michel de Certeau, uma resenha bastante elogiosa. De modo geral, tem se preocupado com a restituição das “tecnologias escriturárias” outrora vigentes, sobretudo de escritos elaborados no âmbito de polêmicas e/ou a serviço dos poderes monárquicos.
Em livro recente, Richelieu et l’écriture du pouvoir (2015), somos apresentados a esse programa através da análise da ressonância dos escritos produzidos em torno do cardeal (portanto, em seu primeiro ambiente de consumo), mas não só. Tomamos ciência de seu funcionamento como ações cujo propósito era garantir que seus leitores futuros fossem persuadidos pelos argumentos originalmente comunicados, instilando o apagamento de certos personagens e ideias e a preservação de outras.
A persistência de sombras que são propriamente vestígios das ações passadas irrevogavelmente perdidas rebate no vocabulário do “espectro”, segundo a acepção delirante de Dartigaud. Em debate sobre o livro, Jouhaud diz ter retomado as definições de “espectro” de Derrida para discutir seu uso do conceito. Em Espectros de Marx, Derrida define os espectros como frequências invisíveis (no sentido de uma presença sutil, como uma vibração radiofônica) que apenas a visibilidade poderia captar. O conceito de visibilidade, aqui, escapa ao de visão, sendo compreendido como possibilidade de perceber; quanto às frequências, elas seriam detectáveis por seu caráter repetitivo – os espectros são révenants, sempre de regresso, sempre disponíveis para tentar perfurar a espessa camada de visibilidade e atingir nossa visão.
A interação entre esses dois elementos traduz-se na experiência do tempo: se os espectros não podem ser vistos por não pertencerem à ordem do fenômeno, podem ser apreendidos, porque deixam vestígios recorrentemente. Uma vez flagrados pela visibilidade, tornam-se passíveis de “tradução”, abandonando o plano espectral para emergir (retornar) como representações, imagens – em suma, fantasmas.
A conversão da condição espectral irmana-se ao trabalho do luto. O espectro é algo que nos vê, mas que jamais poderemos contemplar em sua forma original, lição aprendida a duras penas por Dartigaud. Transposto para toda a comunidade de Saint-Croix-du-Mont ao longo dos séculos de sua existência, essa limitação tem consequências devastadoras. O conjunto de ruínas que sinaliza para aqueles passados jamais se presentificará nos termos inicialmente pretendidos, condenando a atividade do historiador a um interminável (e, para alguns, doloroso) trabalho de contrição.
A metodologia histórica de Dartigaud é descrita, por isso, no registro de categorias psicanalíticas. Lembremos que Derrida escreveu Espectros de Marx para (e contra) Freud, o que provavelmente não escapou a Jouhaud, uma vez que este publicou La folie Dartigaud em uma coleção penser/rêver, voltada a escritos de psicanálise.
A segunda parte do livro dedica-se, aliás, à investigação do psicanalista, que persegue os vestígios de Dartigaud após sua morte. O modelo dessa investigação é historiográfico-detetivesco, mesclando a leitura dos vestígios disponíveis, isto é, os documentos que compõem o corpus Dartigaud, a diligências, como uma visita a Saint-Croix-du-Mont, onde ele foi enterrado, e a tentativa de estabelecer quais foram seus últimos passos, graças ao apoio de um amigo policial.
Sua avaliação é que, no caso de Dartigaud, o luto não conseguiu represar a melancolia, e dessa combinação infeliz despontaram a angústia e a subsequente vigilância maníaca da penetração da nostalgia nos trabalhos de outrem. Como constata o narrador, “a aridez de sua escrita de historiador visava a abolir toda ressurgência da nostalgia” (p. 64), e “não há um parágrafo sequer escrito por Dartigaud após a saída de sua fase ávida que não possa ser encarado como uma recusa da ideia de que o passado possa ser tornado presente pela escrita que o elabora” (p. 75).
Entretanto, o regresso dos espectros ignora seu ascetismo, impondo uma ameaça temível: ao se recusar a admitir alguma forma de presença do passado, Dartigaud terminou se transformando, ele mesmo, num espectro. O vetor desse risco, na opinião do analista, é a afasia: quanto mais lutava contra a presença das imagens, quanto mais buscava a “verdade da história sem sombras” (p. 86) ao censurar o discurso, mais ele se silenciava (p. 84).
Graças a esses esclarecimentos, a natureza da turbulência emocional de Dartigaud fica menos nebulosa: de um lado, o excesso de vozes trazidas à tona pelo experimento de imersão o enlouqueceu; de outro, o silêncio absoluto a que se condenava ao declarar-se contrário a qualquer forma de interação com os espectros não lhe garantia conforto. Irrompe, assim, um questionamento abrangente: seria de fato desejável evitar a valorização intelectual da nostalgia como antídoto válido contra o celibato enaltecido pela fria monumentalização? Sabemos muito pouco sobre Dartigaud para tirar conclusões pormenorizadas quanto a sua conduta. Todavia, as angústias que simboliza soam como um comentário à constatação de Michel de Certeau de que o trabalho do historiador residiria na superação do papel de “adivinho” intuído por Michelet, devendo se comprometer, antes, com a formulação de monumentos eruditos que preenchem vazios de resto insondáveis. Recorrendo a Freud, Michel de Certeau mobilizou a categoria de luto num sentido que ultrapassa o psicanalítico, propondo-o como chave epistemológica para o exame de um passado irremediavelmente perdido. É o que achamos em História e Psicanálise:
Meio século depois de ter sido afirmado por Michelet, Freud observa que, de fato, os mortos “voltam a falar”. Não mais como pensava Michelet, pela evocação do “adivinho” que seria o historiador; “isso fala”, mas à sua revelia, em seu trabalho e em seus silêncios. Tais vozes, cujo desaparecimento é o postulado de qualquer historiador que as substitui por sua escrita, remordem o espaço do qual estão excluídas e continuam falando no texto-homenagem que a erudição ergue em seu lugar.
O corolário dessa prescrição, isto é, a defesa de que é metodologicamente conveniente preocupar-se mais com os dispositivos através dos quais as vozes espectrais serão ouvidas do que com sua presença, atende aos protocolos do campo, atacando, nesse sentido, os apêndices da nostalgia – o fetichismo e o anacronismo. Entretanto, graças à versão hiperbolizada desse procedimento, que emerge da caricatura de Dartigaud, somos induzidos a constatar, por outro lado, que o ódio alimentado pelas sombras da nostalgia só pode surgir de um amor profundamente reprimido.
Assim, ao amplificar as prescrições na forma do delírio, Jouhaud descreve, em essência, a face oculta do mesmo pesadelo historiográfico, o risco do silêncio que corremos ao ignorar potências latentes da imaginação e do sonho impossível da presença. Trata-se, como se vê, de um livro curioso, e que pede análises mais detidas. Por ora, é de se destacar em La folie Dartigaud o mérito de fabular oportunamente o recalque, a inquietude e o medo, assombrações que cercam toda atividade escriturária, espectros que rondam cada historiador.
2 Cientista que estuda as cavernas e grutas.
3 CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre a ciência e a ficção. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
Luiz César de Sá Junior – Pós-Doutorando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF/PNPD/CAPES). Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
When historiography met epistemology: Sophisticated histories and philosophies of science in French-speaking countries in the second half of the nineteenth century | Stefano Bordoni
Dedicated to a book which has long been considered a classic, and which, from the Traité de l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’histoire (1861) by A.-A. Cournot to L’évolution des théories physiques du XVIIe siècle jusqu’à nos jours (1896) by P. Duhem, takes us on a tour of 35 years of intellectual history, this review offers three objectives. Firstly, to present the author’s broader arguments. Secondly, considering that, on the one hand, its contents are not immediately apparent (at least not from its Table of Contents) and that, on the other hand, the method used consists in providing (while remaining as faithful to the text as possible) a critical interpretation and commentary on the selected publications, to provide a brief introduction to the authors and the themes addressed. Lastly, owing to its publication within a dossier specifically dedicated to P. Duhem, to further explore the main arguments and ideas, which occupy nearly a third of the work, centered around this illustrious scholar.
French historical epistemology can be defined as the conviction whereby a genuine and authentic historical perspective is seen as essential in order to establish a constructive dialogue between science and philosophy, and in order to construct an epistemology which better conforms to the reality of scientific approach. According to the traditional view adopted chiefly by A. Brenner and C. Chimisso, it originated, depending upon the chosen emphasis, either during the last decade of the 19th century with the works of H. Poincaré, P. Duhem and G. Milhaud (A. Brenner), or during the 1930s and 1940s with G. Bachelard as the key figure in this case (C. Chimisso). Leia Mais
O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades – OLIVEIRA FILHO (BMPEG-CH)
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016. 384p. Resenha de: ROSA, Marlise. O nascimento do Brasil: releituras a partir da antropologia histórica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.12, n.2, mai./ago. 2017.
O livro “O nascimento do Brasil e outros ensaios: ‘pacificação’, regime tutelar e formação de alteridades”, organizado pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira Filho, reúne artigos de sua autoria, escritos em diferentes momentos de sua carreira. Professor-titular de Etnologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ), com mais de quatro décadas de experiência em pesquisas sobre povos indígenas da Amazônia e do Nordeste, nos últimos anos vem desenvolvendo estudos relacionados à antropologia do colonialismo e à antropologia histórica, concentrando-se, principalmente, no processo de formação nacional, na historiografia, em museus e em coleções etnográficas. Nesta obra, resultado destas reflexões, o autor nos apresenta, além de um denso prefácio, outros nove textos, nos quais busca “[…] reexaminar criticamente as interpretações atribuídas à presença indígena, explicitando as múltiplas formas de agência e participação que as populações autóctones tiveram na construção da nação” (p. 7). Por meio deste exercício, João Pacheco de Oliveira Filho chama a atenção para a inexistência de uma história indígena singular e contínua, demonstrando haver uma multiplicidade de histórias, com experiências e temporalidades diversas.
A reflexão introdutória, de certo modo, consiste em um capítulo à parte, no qual o autor não somente problematiza as formas de incorporação dos índios à história e a participação deles à formação do Brasil, mas também critica o próprio fazer antropológico, que negligenciou os modos pelos quais, mesmo em um contexto de dominação, os indígenas resistiram, organizaram-se e continuaram a atualizar sua cultura. Afirma, portanto, que houve uma anistia aos aspectos violentos da colonização por parte de intelectuais não indígenas, ao fazerem do relativismo a ferramenta única de seu horizonte ideológico e inviabilizarem a elaboração de etnografias sobre a tutela. Fala, ainda, sobre os múltiplos regimes de memória e a necessidade de entender a presença indígena em cada um dos contextos históricos em que tais representações foram formuladas. Nestes regimes, os indígenas são relatados como portadores de características variáveis, que podem, inclusive, ser antagônicas em contextos diferentes e sucessivos, pois cada fala corresponde a um regime específico. Por isso, o pesquisador não pode se fixar em apenas um deles, devendo também se beneficiar de pesquisas antropológicas e históricas contemporâneas.
No primeiro capítulo – “O nascimento do Brasil: revisão de um paradigma etnográfico” –, como o título sugere, o autor propõe uma revisão do paradigma historiográfico utilizado, a fim de compreender a presença indígena no Brasil atual, que, segundo ele, é baseado em categorias coloniais e em imagens reificadoras, sem utilidade à pesquisa e ao aumento do protagonismo indígena. Tais narrativas apresentam três grandes equívocos: 1) independentemente do período histórico, de região ou de etnia, os discursos sobre os indígenas passam pela polaridade proteção versus extermínio, legitimando, assim, a tutela; 2) a paz, enquanto objetivo da ação colonial, corresponde a um estado jurídico-administrativo que reflete apenas o ponto de vista dos colonizadores, negligenciando os modos como os indígenas recepcionam e se utilizam destas normas; 3) há o estabelecimento de uma clivagem radical entre índios e não índios, inspirado no modelo religioso de pagão versus cristão, que, diferentemente da questão do negro, não admite misturas, sobreposições ou alternâncias. Estes discursos, portanto, legitimam e naturalizam a ação tutelar, inviabilizando formas de resistência cultural e omitindo situações de incorporação de indígenas a famílias brancas.
Na sequência, com o artigo “As mortes do indígena no Império do Brasil: indianismo, a formação da nacionalidade e seus esquecimentos”, Oliveira Filho constrói uma reflexão sobre narrativas e imagens de indígenas produzidas no século XIX, sobretudo durante o Segundo Reinado, momento no qual os ‘índios bravos’, por representarem empecilho para a expansão colonial, tornaram-se o centro do regime discursivo. As manifestações artísticas e expressões populares analisadas pelo autor indicam um conjunto de seis eixos geradores de sentido: 1) o nativismo; 2) a nobreza pretérita dos indígenas; 3) a morte gloriosa dos guerreiros; 4) o índio como elemento exterior à fundação do país; 5) a morte como o destino trágico dos indígenas; 6) a morte ‘quase vegetal’ do indígena. Em todas estas narrativas e imagens, a morte como elemento central tem efeitos sociais que implicam o esquecimento da presença indígena na construção da nacionalidade, relegando ao índio um lugar na história anterior ao Brasil.
No capítulo três – “A conquista do Vale Amazônico: fronteira, mercado internacional e modalidade de trabalho compulsório” –, contrapondo-se ao que denomina como “história geral” da borracha na Amazônia, Oliveira Filho propõe que o seringal seja pensado como uma fronteira, “[…] isto é, como um mecanismo de ocupação de novas terras e de sua incorporação, em condição subordinada, dentro de uma economia de mercado” (p. 118). O pesquisador demonstra que, devido às condições favoráveis do mercado internacional da borracha em meados do século passado, o ‘seringal de caboclo’ transformou-se no ‘seringal do apogeu’, instaurando uma nova modalidade de trabalho compulsório e de usos distintos da terra e dos recursos naturais. Diante disso, defende que a história da Amazônia, ao ser escrita a partir da fronteira, contemplaria não somente a heterogeneidade deste processo histórico, mas também a pluralidade de sentidos assumidos pelos agentes que lhe foram contemporâneos.
A ideia de fronteira continua sendo seu objeto de análise no capítulo seguinte – “Narrativas e imagens sobre povos indígenas e Amazônia: uma perspectiva processual da fronteira” –, voltado para a análise das representações sobre as populações indígenas amazônicas e sobre a expansão da fronteira nesta região. Para o autor, a singularidade histórica da Amazônia só pode ser entendida quando são analisadas as diferentes formas de fronteiras que ocorreram no Brasil, com características e temporalidades distintas. Sua reflexão é iniciada com a problematização dos dois modelos de colonização vigentes na América portuguesa – a colônia do Brasil e a do Maranhão e Grão-Pará –, abordando, na sequência, as representações sobre o primeiro encontro nas “costas do litoral atlântico e no interior do vale amazônico” até chegar ao cerne do artigo, apresentando “[…] diferentes temporalidades, narrativas e regimes que singularizam essa trajetória histórica das populações autóctones da Amazônia até o momento atual” (p. 185).
No capítulo cinco, Oliveira Filho muda o foco para os povos indígenas do Nordeste, apresentando o artigo “Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”, trabalho muito conhecido, escrito em 1997 para o concurso ao cargo de professor-titular do MN-UFRJ. Nele, o autor problematiza a ‘emergência’ de novas identidades étnicas no Nordeste, chamando a atenção para o fato de que, embora este fenômeno seja recente, a população se considera originária – são coletividades indígenas convertidas ao cristianismo e que, hoje, vivem como camponeses, parceiros e assalariados. Sua reflexão perpassa questões referentes à formação do objeto de investigação – os ‘índios do Nordeste’ –, discute conceitos-chave para a análise da etnicidade e, por fim, debate a respeito do americanismo, refletindo sobre as perspectivas para o estudo de populações tidas como culturalmente ‘misturadas’.
O capítulo seguinte – “Mensurando alteridades, estabelecendo direitos: práticas e saberes governamentais na criação de fronteiras étnicas” – consiste na análise, a partir de três aspectos específicos, de materiais quantitativos produzidos sobre os povos indígenas. O primeiro é o aspecto demográfico, apresentado por meio de censos nacionais e outros levantamentos; o segundo é o aspecto econômico, representado por meio de dados sobre terras, recursos naturais e conflitos fundiários; e o terceiro é representado pelas divergências em torno da compreensão da presença indígena nos dias atuais. Conforme o autor, o ato de contar sujeitos e processos sociais traz, implícito, os procedimentos de comparação e de normatização; o primeiro como parte do processo cognitivo e o outro como parte do ordenamento político. O ato de contar, portanto, quando realizado por um sujeito que detém algum tipo de poder ou autoridade sobre aqueles a quem observa, arbitra sobre direitos e, no que toca aos povos indígenas, “atropela as alteridades e engendra os subalternos” (p. 230).
Tais dados, contudo, “[…] sugerem um novo perfil demográfico, em que as unidades societárias e a situação de contato dos índios brasileiros já não mais correspondem às antigas interpretações sobre frágeis microssociedades isoladas na floresta amazônica” (p. 265). Por isso, no capítulo seguinte – “Regime tutelar e globalização: um exercício de sociogênese dos atuais movimentos indígenas no Brasil” –, Oliveira Filho analisa o processo de formação do movimento indígena brasileiro, identificando algumas estratégias, alianças e projetos que compõem o universo político contemporâneo. Sinteticamente, o autor agrupa as estratégias políticas dos indígenas a partir de três rótulos: índios funcionários, lideranças e organizações indígenas. Estas estratégias têm em comum a luta por uma cidadania indígena, construída por meio do território étnico; porém, divergem no que toca ao fortalecimento da sociedade civil e à defesa de interesses corporativos.
No oitavo capítulo – “Sem a tutela, uma nova moldura de nação” –, a reflexão tem como tema os dispositivos jurídicos que tratam das populações indígenas. O autor fala sobre os embates de forças durante o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, destacando a importância atribuída aos índios, bem como o protagonismo indígena, com presença massiva nas audiências públicas, em subcomissões e no debate diário com os parlamentares. Destaca, ainda, a originalidade da nova Constituição, quando comparada a outros marcos jurídicos voltados à regularização da presença indígena na história do Brasil. Em diálogo com a ciência política e a história, o artigo demonstra que a questão indígena impacta não somente os próprios índios, estendendo-se à estruturação do Estado e ao processo de construção de uma identidade nacional.
Para concluir, Oliveira Filho apresenta o texto “Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios”, cuja proposta é refletir sobre alguns usos, presentes e passados, da categoria ‘pacificação’. A sua intenção é analisar como esta categoria, por cinco séculos empregada apenas para a população autóctone, foi divulgada e celebrada como intervenção do poder público nas favelas cariocas. Em sua concepção, há uma clara analogia entre as ‘pacificações’ contemporâneas e as coloniais, pois ambas fazem referência à intervenção dos poderes públicos em áreas que antes escapavam ao seu domínio, recuperando “[…] a retórica da missão civilizatória da elite dirigente e dos agentes do Estado” (p. 338). Assim como os índios bravos da época colonial, os moradores das favelas são pensados como uma alteridade totalizadora, situada nos limites da criminalidade, por isso não são tratados como cidadãos comuns, sendo sujeitados a uma tutela de natureza exclusivamente militar e repressiva, implementada por meio das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).
A intenção do autor, nesta obra, foi abordar os fenômenos sociais a partir de uma postura etnográfica e dialógica, conjugando o olhar antropológico e a crítica historiográfica. Esse movimento rumo à chamada ‘antropologia histórica’, como ele mesmo destaca, reúne um conjunto de antropólogos, de diferentes países, que convergem no desconforto com relação ao antigo olhar imperial da disciplina e, por isso, propõem novos objetos de investigação e novas abordagens.
A inserção de Oliveira Filho nessa seara não se dá com o intuito de contrapor a história nacional, mas sim de – ao contemplar situações históricas e eventos em que agentes com interesses antagônicos interagem – demonstrar que, conjuntamente, esses sujeitos constroem instituições, significados e estratégias. Em outras palavras, é perceber que os sujeitos imersos nesse encontro colonial estão, apesar das assimetrias do contato, igualmente envolvidos no processo de intercâmbio cultural. Ele chama a atenção, portanto, para a necessidade de revermos, de forma crítica, os modos de construção de uma história nacional e as etnificações produzidas pelo saber colonial.
Por tudo isso, os diferentes eventos, personagens e momentos da história dos indígenas no Brasil analisados nesta obra, bem como as particularidades dos olhares empregados, fazem de “O nascimento do Brasil e outros ensaios” uma leitura fundamental, não somente para os estudiosos do tema, mas também para aqueles que se interessam por uma outra história de nosso país, que reconheça e problematize a dissonância entre os fatos concretos e as grandes interpretações.
Marlise Rosa – Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
O Brasil na história: deturpação das tradições, degradação política – BOMFIM (RETHH)
BOMFIM, Manoel. O Brasil na história: deturpação das tradições, degradação política. Rio de Janeiro: Topbooks; Belo Horizonte, Puc/Minas, 2013 [1930]. 486 p. Resenha de: FERREIRA, Clayton José. Epistemologia, Historiografia e História no ensaio “O Brasil na História, de Manoel Bomfim”. Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia, Morrinhos, v. 8, n. 2, mai./ago. 2017.
Em sua extensa obra, Manoel Bomfim (1868-1932) produziu quatro ensaios de cunho histórico, respectivamente: A América Latina: males de origem (1905), O Brasil na América: caracterização da formação brasileira (1929), O Brasil na história: deturpação das tradições, degradação política (1930) e o Brasil nação: realidade da soberania brasileira (1931). Nestes livros procura descrever e compreender grande parte da história brasileira através das mais diversas fontes documentais e da obra de diversos historiadores nacionais e internacionais os quais tiveram a história brasileira como objeto de estudo. Do mesmo modo, elabora uma crítica historiográfica, debatendo questões sobre a escrita da história.#
Educador, historiador, médico e psicólogo, nasceu na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, porém, viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde completou sua formação superior em medicina, exerceu cargos públicos, participou da fundação de jornais e revistas e se tornou professor. Escreveu alguns trabalhos dedicados a educação escolar, tal qual o livro de leitura escrito em coautoria com Olavo Bilac, Através do Brasil (1910), utilizado até a década de sessenta em muitas escolas, tendo sua última, das muitas edições, datada do ano de 2000. Sua obra adquiriu, nas ultimas décadas, uma ressignificação diante da relevância em nossa contemporaneidade de temáticas abordadas pelo autor como, por exemplo, a discussão em torno da potencialidade na multiplicidade étnica e a importância da ampliação da educação básica. Os textos de Bomfim anteriores a 1905, tal qual o discurso O progresso pela instrução proferido em 1904 e, posteriormente publicado, o artigo no jornal A República em sete de Janeiro de 1897, intitulado Dos Sistemas de ensino, e o discurso pronunciado em 1906 e intitulado O respeito à criança, também publicado, possuem um extenso material a respeito da sua preocupação com a educação no Brasil. Dada a atualidade de muitos temas trabalhados em sua obra, seu trabalho tem sido revisitado e novas edições de seus textos têm sido publicadas nas ultimas décadas, tal qual a nova edição de 2013 do livro resenhado.#
O ensaio histórico O Brasil na História de Bomfim, possui uma importante erudição teórica sintonizada a muitos dos principais historiadores, filósofos e sociólogos de sua contemporaneidade, além da análise de um grande número de fontes documentais. O livro de Bomfim se inicia com uma importante introdução a qual procura esclarecer sua compreensão epistemológica da história. Neste texto, intitulado “orientação”, é abordada a relação ontológica do ser humano com a história. Tanto em nossa existência individual como social procuramos possíveis estímulos para nossas ações de modo a norteá-las e potencializá-las. Impulsos parcamente constituídos podem resultar em constantes escolhas infrutíferas, na estagnação da ação e na instabilidade. Como a espécie humana e seu sucesso se estabeleceram através da capacidade de se organizar e agir socialmente (perspectiva construída a partir de sua leitura de Darwin), estímulos os quais projetam uma melhor sociabilidade orientam a atuação humana rumo a aquilo o qual se considera progresso em uma determinada temporalidade.#
Portanto, sentimentos socializadores ou, a preocupação ética, são constantemente abordados na busca por estabilidade dos conflitos humanos. Tais estímulos para a busca por orientação da ação são elaborados, individualmente e comunitariamente, através do compartilhamento de determinadas experiências históricas que estão centralizadas na história, na memória, na identidade e na tradição. Apesar da distância moderna entre passado e presente, as experiências humanas, necessariamente são, com maior ou menor intensidade, espaços para a constituição de alguma reflexão e orientação do agir. Dito isto, Bomfim aponta a necessidade de um esforço historiográfico que siga ao encontro desta constituição ontológica do humano para que o conhecimento histórico profissional e científico ofereça possibilidades de reflexão sobre o norteamento da realização humana, enfrentando os aspectos abstratos e subjetivos da experiência, porém, consciente da incapacidade da disciplina em oferecer prognósticos.#
A partir deste argumento, irá produzir uma crítica direcionada a historiografia nacional a qual, segundo Bomfim, possui uma metalinguagem onde se narra a história brasileira como o lugar da decadência, da desordem e da incapacidade para o progresso. Para o autor, o passado brasileiro (ou daqueles os quais viveram no território o qual se tornou o Brasil) evidencia uma profunda competência para o desenvolvimento. Se o saber histórico pode auxiliar na reflexão e orientação, já que necessariamente ou, para o autor, “instintivamente” os indivíduos se relacionam com o passado, a educação está na centralidade de seus argumentos para mediar e capacitar uma relação mais sofisticada no interior das experiências de modo a produzir uma sociabilidade melhor organizada, de ampliar o que Bomfim chama de “consciência” dos motivos para a ação frente a concepções de progresso historicamente constituídas. Uma historiografia centrada em certa hermenêutica a qual desestimula e retira a potencialidade das experiências passadas e desvia dos objetos históricos os quais demonstram outras possibilidades, fundamentava parte da constituição de uma memória e tradição desencorajadoras frente ao ideal de progresso, atribuindo crédito à falácia da incapacidade civilizacional do brasileiro.#
O primeiro capítulo retoma e desenvolve a relação entre a tradição, a memória e a historiografia no interior de uma sociabilidade ativa sob o signo da nacionalidade. Para o autor, a partir da modernidade, a compreensão coletiva a respeito do passado está diretamente associada a capacidade confiante e engajada em se produzir ideais comunitários de progresso. A aptidão para produzir e direcionar a ação coletiva produz uma maior disposição à solidariedade entre os indivíduos e, portanto, situa-se no interior da sedimentação de valores ético-morais. Seria necessária uma historiografia atenta a esta compreensão teórica, já que ai se encontra o registro mais sofisticado e preciso do passado. Após estas reflexões, Bomfim quer deixar claro que sua proposta historiográfica, mesmo enquanto crítica à epistemologia da disciplina, mantem-se atrelada à produção do saber histórico através do método, da representação do passado fundada no maior rigor e exatidão possível, e não em uma hermenêutica a qual apresente uma história irrealista, idealizada.#
Exatamente para tal aproximação do real, entende ser de vital importância que se tematize aspectos subjetivos entre as experiências passadas e sua contemporaneidade já que tais aspectos são partes incontornáveis da existência. Ainda no interior deste argumento, critica severamente a expectativa descabida de objetividade, apontando que, mesmo através de procedimentos criteriosos, ainda assim todo saber será produzido no interior de valores morais e de identidade do pesquisador. Tais vínculos entre a história e a potencialização da sociedade frente a projetos de progresso poderiam ser observados na historiografia realizada naqueles países considerados como os mais avançados. No entanto, Bomfim aponta criticamente esta abordagem quando ela produz a representação imprecisa de um passado, fantasiando e glorificando a história em um esforço de legitimação de uma equivocada superioridade hierárquica, imputando a outros países a subordinação e dependência, calcadas falsamente em argumentos de inferioridade da formação histórica, social e étnica. O que é considerado progresso civilizacional na modernidade diz respeito a uma complexa relação de saberes e técnicas produzidos pelos mais diversos povos no tempo, o que tornava esta noção hierárquica um esforço estratégico para a realização de uma política internacional favorável.#
No segundo capítulo é tematizada parte das abordagens históricas produzidas em outros países a respeito do Brasil como uma causa externa da deturpação da história brasileira, enquanto que a primeira causa interna estaria associada ao que chama de “Estado português bragantino”. Estas reflexões são voltadas, neste capítulo, com uma especial atenção aos historiadores, sociólogos e viajantes franceses os quais produziram trabalhos sobre o Brasil. Para o ensaísta, grande parte destes autores (Jean de Montlaur, Edmund de Goucourt, Renan, Koster, Gilbert Chinard, Villegagnon, Léry, Thevet, Febvre, Chateaubriand, Gauthier, Flaubert, etc.) teriam produzido muitos dos seus trabalhos buscando confirmar preconceitos e conjecturas, se utilizando de noções teóricas deturpadoras da realidade brasileira (para Bomfim, especialmente o positivismo de Comte), buscando o exótico e produzindo excessivas generalizações; escolhas inadequadas para analisar e compreender experiências divergentes do pesquisador. Como a intelectualidade francesa possuía grande prestígio, suas obras acabavam por impactar negativamente na compreensão do Brasil pelos brasileiros, deturpando principalmente a história nacional. Flexionando este argumento frente a alguns escritores, Bomfim traça grande elogio à História do Brasil (1810) do historiador inglês Southey, o qual teria produzido na grande maioria de seu livro uma sofisticada e atenta análise a qual associava as dicotomias da objetividade e subjetividade valorizadas pelo sergipano.#
Quanto à administração bragantina, esta teria estabelecido um regime centralizado que incapacitou a realização do que Bomfim compreende como uma tradição a qual poderia culminar com uma política republicana; tradição desenvolvida devido a anterior frouxidão das capacidades administrativas da metrópole, resultando em uma organização no território brasileiro relativamente autorregulada. As sublevações, realizadas até então e a partir deste momento contra o Estado, teriam sido compreendidas como resultados de uma população desordeira, sem autogoverno, incapaz frente aos ideais civilizacionais modernos, categorizadas sempre como insurgências e inconfidências e desvalorizando os movimentos sociais no registro da historiografia. No entanto, para Bomfim, se tratavam de legitimas manifestações contra o Estado, de grande potencialidade para a politica republicana, demonstrando ampla capacidade para os ideais progressistas de sua contemporaneidade.#
O terceiro capítulo dedica-se a mediação e crítica de parte da historiografia nacional. Aqui, muitos dos historiadores fortemente associados aos Estados monárquicos desde 1808 são apontados como a segunda causa interna da deturpação da história brasileira. Tais autores, especialmente Varnhagen, teriam repetido, no intuito de legitimar a política centralizadora do Estado, os argumentos os quais imputavam a população uma desordem e incapacidade atávica. Em sua crítica a Varnhagen, há uma forte desaprovação de seus procedimentos para o levantamento de fontes e dados, métodos, fundamentos hermenêuticos e teóricos. Como sua contrapartida, aponta Capistrano de Abreu como historiador ideal, de procedimentos científicos, o qual associava simultaneamente em seu trabalho fundamentos objetivos e subjetivos. Há também uma análise elogiosa a respeito do livro História do Brasil (1627) de Frei Vicente do Salvador como o primeiro e mais valoroso esforço de produção de uma história brasileira, procurando realocá-lo como verdadeiro patriarca da história nacional no lugar de Varnhagen.#
A crítica a respeito do argumento que atribui à monarquia Bragança a unidade territorial é a primeira questão a ser debatida no quarto capítulo. Neste ponto, é desenvolvida com maior densidade a compreensão de que havia certa frouxidão do Estado até a transferência do centro governamental para a até então colônia americana, o que gerou certa auto regulação administrativa a qual tendia à constituição de uma tradição republicana. Admitindo as distâncias e diversidades dos povoamentos ralos, critica especialmente o pressuposto a respeito da unificação atribuído a monarquia no livro Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha. Bomfim defende a existência de certa solidariedade entre a maior parte dos povoados na colônia, surgindo e se fortalecendo nas transações internas, nos movimentos de defesa territorial contra os holandeses e franceses, na insatisfação contra o Estado e, ainda, durante a mediação entre os interesses da colônia e os holandeses, franceses, ingleses. Segundo o autor, alguns documentos evidenciam tal sentimento ao tratarem suas questões locais apontando, para além da localidade, certo sentimento de unidade.#
O capítulo quinto se inicia através de um debate teórico a respeito dos conceitos de patriotismo e nacionalismo. Dissertando no interior do vínculo entre indivíduo e sociedade, o ensaísta discorre quanto às possibilidades de estabelecimentos de sentimentos socializantes a partir do assentamento das comunidades e seus antagonismos estabelecidos a respeito de outros grupos. A partir deste fundamento, é desenvolvida e tese de que o estabelecimento de certa tradição, de sentimentos de solidariedade e embates entre as comunidades coloniais e os holandeses, franceses, além da defesa de interesses contra os ingleses e certo hábito de se portar contra os portugueses, sedimentaram lentamente certo sentimento de identidade na colônia portuguesa americana. Tais sentimentos seriam observáveis em alguns documentos, na literatura e na divergência encontrada nas manifestações contra o Estado português.#
O capítulo de número seis da continuidade ao argumento onde o autor defende a unidade territorial brasileira como resultado de sentimentos agregadores, surgidos entre as comunidades da colônia. Também da sequência a crítica direcionada a historiografia a qual associa unidade territorial a monarquia, apontando nestes trabalhos uma metodologia pouco criteriosa, altamente associada à política do império. Para o autor, a história do Brasil evidencia, no geral, tipos sociais fortes e ativos, como os sertanejos e bandeirantes, além de uma constante resistência aos abusos do Estado. Há ainda, certo caráter de “tranquila bondade” atávico ao brasileiro, o qual se concretizou desde a experiência colonial. Em poucos momentos surgiram movimentos de separação, e quando houve, estavam associados a uma administração tirânica. Segundo o ensaísta, o processo de independência, segundo historiadores e documentos do período, demonstra a adoção do sistema imperial como uma rápida resposta para evitar o que se considerava uma real possibilidade de rompimento incisivo entre o Brasil e a corte portuguesa: a implantação de uma república. Tal processo tornaria saliente, mais uma vez, certa tradição republicana.#
Bomfim aborda no capítulo sete, parte da história portuguesa do século XVI até a segunda metade do século XVII, principalmente através da obra do historiador Oliveira Martins. Portugal é compreendido como um grande reino, de importante atividade politica, de desenvolvida capacidade mental e nacional o qual teve suas tradições e política degradadas no decorrer de suas crises econômicas. Este processo teria acirrado a maior exploração de seus domínios, produzindo o mesmo declínio nos territórios americanos do reino. O oitavo capítulo da continuidade as questões do anterior. Aqui, o sergipano da foco maior a atividade mercantil de Portugal, partindo do seu auge, e relacionando sua crise aos decaimentos das instituições e do caráter nacional do português, vulgarizando certo comportamento ganancioso e cobiçoso. Em um segundo momento o autor trata dos mesmos problemas na corte da família Bragança e de uma consequente má administração e política internacional.#
O nono capítulo apura o entendimento do autor acerca da deturpação das tradições e da sociabilidade no Brasil a partir do começo do século XVIII como consequência da crise económica e política portuguesa. Neste sentido, o autor narra e expõe seu discernimento quanto as ações da administração e comercialização portuguesa em sua colônia americana. Entre eles estão os governos de Gregório de Castro Morais e Francisco de Castro Morais e as invasões ao Rio de Janeiro realizada pelos corsários franceses Jean François Duclerc e René Duguay-Trouin, a cobiça dos mercadores portugueses apontada em episódios como na expulsão em 1643 de comerciantes em Assunção devido a sua suposta cupidez, nos problemas entre os proprietários de terra e os negociantes reinóis os quais culminaram na “Guerra dos Mascates”, na proibição do cultivo da vinha e do trigo para não prejudicar a agricultura portuguesa, a cobrança dos impostos, entre outros.#
No décimo capítulo o autor procura entender o processo de independência do Brasil a partir do que chama de movimentos nacionalistas. Muitas vezes conhecidos como movimentos nativistas e movimentos emancipacionistas, tratam-se de conflitos locais ocorridos em sua maioria entre os séculos XVII e XVIII, os quais, para Bomfim, poderiam atribuir possibilidades de sentido para o surgimento de algum sentimento socializante, de solidariedade e alguma unidade entre as comunidades espalhadas no território da colônia portuguesa nas américas. Através do apoio de documentos oficiais e de comerciantes, atas, relatos, cartas e outras fontes procura-se apontar o surgimento de alguma afetividade nacionalista, especialmente nos embates ocorridos em Minas Gerais de 1707 a 1709 e em Pernambuco em 1710 a 1711, e em 1917. Estes momentos seriam evidência da capacidade civilizacional do brasileiro, intrinsecamente fundamentada na história, deslegitimando e desmistificando os argumentos europeus os quais diagnosticavam um insucesso atávico as populações da América latina através de argumentos a respeito da mestiçagem, do clima tropical e de uma suposta história inexpressiva.
Tal sociabilidade e tendências a uma civilidade e políticas republicanas além de um maior desenvolvimento civilizacional, aspectos de uma tradição em formação, teriam sido lentamente cerceadas com a administração do Estado português e a posterior monarquia instaurada na independência. Este é o problema central dos capítulos onze e doze, o primeiro se dedicando de 1808 até a independência, e o segundo aos governos de D. Pedro I e D. Pedro II. No processo de independência teriam sido coibidas as potencialidades das experiências constituídas no passado através do pacto entre a corte bragantina e as oligarquias, estabelecendo um regime político de certa incompatibilidade às tradições locais, dando continuidade a centralização política estabelecida desde 1808. Este processo teria introduzido o hábito em se produzir funcionários administrativos “ineptos, corrompidos, prevaricadores, tirânicos”.#
Bomfim conclui que a história do Brasil revela grandes potencialidades para o progresso nas populações espalhadas pelo território. No entanto, estas competências foram constantemente reprimidas pelo descaso dos governos quanto às questões sociais, a sua instrução e educação, em favor de uma exploração comercial sustentada pelo argumento da necessidade da ordem, o que explicava o atraso frente aos ideais de progresso durante a Primeira República. Dito isto, tal atraso não poderia ser explicado por uma suposta condição determinista ou étnica, atávica aos americanos, fruto de uma cientificidade associada a identidade europeia e à políticas imperialistas: a história revelava a aptidão do brasileiro frente as adversidades. Grande parte da historiografia do século XIX teria se esforçado por legitimar a noção de que o brasileiro é um desordeiro e incapaz o qual apenas poderia manter-se unificado, como povo e território, através do regime monárquico, desvalorizando parte indispensável da história para o estímulo da ontológica orientação humana através das experiências do passado.#
O Brasil na História compõe um importante exemplar historiográfico de um célebre momento da intelectualidade brasileira. No final do século XIX e início do XX foi produzida uma erudita e específica prática de escrita tendo a história como foco e o ensaio como gênero textual destacado, elaborando o espaço para a convivência do rigor, do método e da ciência simultaneamente a subjetividade, a afetividade, a elucubração. Para além de uma compreensão particular de determinados fenômenos históricos, trata-se de um trabalho o qual possibilita a melhor apreensão da historicidade da década de 1920, da Primeira República brasileira e de sua comunidade letrada.
Clayton José Ferreira – Mestre e Doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Marcelo de Mello Rangel e ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: [email protected].
Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida – NIETZSCHE (CN)
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida. Tradução de André Luís Mota Itaparica, São Paulo: Hedra, 2017. Resenha de: JULIÃO, José Nicolao. Cadernos Nietzsche, São Paulo, v.38 n.2 maio/ago. 2017.
O ensaio de Nietzsche Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben apareceu ao grande público, em fevereiro de 1874, como a segunda parte de uma ambiciosa obra intitulada Unzeitgemässe Betrachtungen, cuja primeira parte, David Strauss der Bekenner und der Schriftsteller, publicada no ano anterior, havia feito grande sucesso de vendagem, exigindo uma segunda edição, no mesmo ano de sua publicação, sobretudo devido à polêmica matéria enfurecida que o periódico Grenzboten, em sua edição de outubro de 1873 (ano 32, 2º semestre, 2º volume, p. 104-110), com o título “Herr Nietzsche und die deutsche Cultur”, havia lançado contra ela. A mesma audiência, contudo, não alcançou de imediato a segunda das Extemporâneas, retumbando sobre ela um sonoro silêncio1, para depois tornar-se uma das mais conhecidas obras de seu autor e talvez umas das mais influentes no âmbito das Ciências Humanas. Herbert Schnädelbach considera esse ensaio de Nietzsche como o primeiro documento crítico ao Historicismo alemão2; Karl Schlechta diz o seguinte sobre o tratado: “Nele, o ‘Historicismo’ toma consciência dele mesmo de forma assustadora: o diagnóstico do autor foi tão sombrio que foi necessário familiarizar-se com esse estado de risco doentio”3. O filólogo Karl Reinhardt considerou que o Historicismo foi tão depreciado que fica difícil que se possa achar ainda algo a dizer contra ele4. Fora o impacto crítico ou devido a ele, como chama atenção o tradutor André Itaparica, na sua aguda introdução à sua cautelosa tradução, há também o destaque que o ensaio ganhou em obras já consagradas sobre a filosofia de Nietzsche, como nos livros de Karl Jaspers (Nietzsche, Einführung in das Verständnis seines Philosophierens – 1946) e Walter Kaufmann (Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist – 1956), podemos adicionar a essa lista, entre aqueles que reconhecem o valor da Segunda Extemporânea e já se tornaram consagrados, Müller-Lauter (Nietzsche, Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie – 1971) e Michel Foucault (“Nietzsche, Freud, Marx” – 1967 – e “Nietzsche, la genealogie, l’histoire” – 1971). Itaparica menciona ainda o seminário ministrado por Heidegger, no semestre de inverno de 1938-39, dedicado à Extemporânea II (publicado no volume 46, da edição crítica: Zur Auslegung von Nietzsches II. Unzeitgemässer Betrachtung. In: Martin Heidegger Gesamtausgabe (HG. 46), Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2005) para dar visibilidade à dimensão da projeção e fecundidade do texto nietzschiano. Neste assunto, nós nos deteremos um pouco mais para estabelecermos um contraponto à nossa compreensão do texto traduzido impecavelmente por André Itaparica.
No seminário, Heidegger retoma e desenvolve teses já apresentadas, incipientemente, em 1927, no parágrafo 76 de Ser e Tempo, intitulado Der existenziale Ursprung der Historie aus der Geschichtlichkeit des Dasein, nas quais ele mostra a partir de Nietzsche que o homem é essencialmente histórico, entretanto, cabe saber até que ponto a história é útil ou prejudicial à vida, tema central, que deve ser compreendido, como a experiência da vida humana, que só pode ser pensada no interior de uma cultura. No que concerne ao seminário, Heidegger, já na introdução, previne que a concepção ampla e ambígua do projeto lhe garante certa liberdade interpretativa, propondo, em seguida, uma divisão do estudo em três partes: “Grosso modo, o trabalho que nos propomos contém três partes: 1. Introdução à formação conceitual filosófica, 2. mas isto, como leitura e interpretação para um tratado definitivo e, consequentemente, 3. na abordagem da filosofia de Nietzsche.”5 Ele também deixa claro de imediato que não escolheu Nietzsche por moda, mas porque ele foi “o último pensador da história da filosofia ocidental, isto é, da metafísica: pensar o seu pensamento é, ao mesmo tempo, levar a filosofia ocidental em suas linhas básicas ao primeiro patamar do saber”6. Heidegger, embora não se expresse de forma tão clara na escolha da Segunda Extemporânea como tema para o seminário, no entanto, ele sugere que o trabalho lhe apresenta uma oportunidade especial para ilustrar a posição de Nietzsche na história da metafísica. A análise do tratado, para ele, tampouco se limita a uma mera interpretação, mas fornece uma justificação permanente para compreensão da posição de Nietzsche dentro da totalidade da tradição filosófica. O Filósofo da Floresta Negra procede, todavia, em conformidade, no decorrer do seminário, estabelecendo uma diferença entre a consideração científica e pensamento filosófico, ou seja, entre a conceituação científica e filosófica na orientação da análise do conceito de “vida” em Nietzsche. Desse modo, a interpretação é guiada pela hipótese de que “vida” é a leitwort da Segunda Extemporânea, assim como de toda a filosofia de Nietzsche7. Mas, segundo o autor de Ser e Tempo, o conceito de “vida” é ambíguo em Nietzsche, pois significa o ser em sua totalidade e o modo de ser do ser particular, cuja vida é a humana. O ser compreendido como o ser humano, como em toda a tradição filosófica, a metafísica não é superada, porém ratificada. Para Heidegger, o homem continua sendo um animal racional: a única novidade é a ênfase dada à corporalidade, mas que, para ele, não é suficiente para se ir além de Descartes. A concepção do sujeito como ego vivo8 é a justificação como o mais alto representante da vida e da verdade como um erro necessário da vida, que Heidegger atribui a Nietzsche, contudo é válido apenas como conclusão da metafísica moderna, ou como uma (possível) transição para outro começo, mas não como um (real) outro começo9, e é por isso que ele afirma: “A principal questão sobre a Segunda Consideração Extemporânea de Nietzsche não é a desvantagem ou a utilidade da história, mas a compreensão da vida como a realidade básica no sentido de uma biologia cultural ”10. Para ele, Nietzsche não consegue a superação da metafísica nem uma investigação detalhada da história, porque ele não pensou a história da História, isto é, a essência do homem, e a sua relação com a verdade do ser.
Na nossa compreensão, a interpretação esquemática de Heidegger, tão entusiasmadamente defendida pelos heideggerianos, para analisar a história da filosofia a partir da sua Seinsgeschichte, reduzindo-a à história da metafísica, não é satisfatória para a análise da Segunda Extemporânea. Atualmente, na Nietzscheforschung, a interpretação dominante desse ensaio tende a arrefecer justamente a carga metafísica do texto nietzschiano, tão enfatizada por Heidegger, mesmo que ainda sobre ele reverbere teses metafísicas da obra inaugural. Em o Nascimento da Tragédia, Nietzsche havia se posicionado radicalmente crítico em relação à infecundidade criativa do que então chamou de metafísica racional, caracterizada pela crença otimista na capacidade da razão em alcançar um conhecimento objetivo que consolaria o ser humano da sua condição de finitude e fraqueza, e, como alternativa, defendeu também uma “metafísica de artista” em que valoriza os efeitos ilusórios e criativos da arte como forma superior de compreensão do mundo. A repercussão da crítica à metafísica racional na Segunda Extemporânea recai sobre o tratamento caudal científico da historiografia como um rebento moderno da racionalização humana. Portanto, o diagnóstico de que os males da cultura se devem à hipertrofia do sentido histórico apresentado nesse tratado depende da tese peculiar do Nascimento da Tragédia, segundo a qual há na modernidade uma hipertrofia dos impulsos cognitivos que impossibilita uma cultura realmente autêntica e elevada. Por isso, para Nietzsche, os interesses teóricos predominaram sobre quaisquer outros interesses, produzindo, consequentemente, um desequilíbrio vital que ele, em oposição, apresentou como superior o caráter criativo e ilusório da arte. É nesse sentido que ele propõe, na segunda de suas Extemporâneas, uma escrita da história como recriação artística do passado, que pode ser compreendida como a “força plástica”, como alternativa à tendência racionalista, predominante na historiografia alemã de sua época, sem, contudo, recorrer à própria metafísica, como fez na obra inaugural. Argumentando a respeito de como seria possível medir até que ponto é salutar lembrar e em que momento é vital esquecer, Nietzsche descreve o conceito de força plástica, diz ele:
A fim de determinar esse grau e, por meio dele, o limite do que deve ser esquecido, para que o passado não se torne o coveiro do presente, se deveria saber exatamente quão grande é a força plástica de um homem, de um povo, de uma cultura, quero dizer, aquela força que cresce a partir de si mesma, transformando e incorporando o passado e o estranho, curando feridas, restabelecendo o perdido, reconstituindo por si mesma formas arruinadas (HL/Co. Ext. II, KSA 1.251).
Portanto, como capacidade de assimilação e resignação em relação ao passado como perda e alteridade, a força plástica habilita a memória a lembrar e esquecer, na exata medida, sem sobrecarregar-se de lembranças.
Nietzsche está, portanto, na busca de um saber filosófico que não seja nem filosofia da história nem história universal tal como já havia rejeitado Burckhardt nas primeiras linhas de suas Considerações sobre história universal:
Nós nos abstraímos de toda sistemática; não revindicamos nenhuma “ideia de história universal”, contentaremos em registrar nossas percepções e realizar uma série de cortes transversais ao longo da história na maior quantidade possível de direções; nós não oferecemos aqui nenhuma filosofia da história. Esta é um centauro, uma contradictio in adjecto, pois a história que coordena é a negação da filosofia, enquanto a filosofia que subordina é a negação da história.11
Ele busca uma base a partir da qual seja possível um saber que vincule a orientação à ação, pois nem a metafísica e nem a ciência – compreendida como ciência histórica -, podem mais oferecer tal nexo.
A tradução que André Itaparica apresenta de Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, recém-publicada pela editora paulista Hedra, ao público de língua portuguesa, sem querer desmerecer as outras, que são meritórias em diversos aspectos, é a mais completa e bem sucedida tradução desse tratado de Nietzsche que nos permitirá um grande avanço, renovando as pesquisas, possibilitando outras compreensões que nos desamarrem das antigas e viciadas interpretações. Elaborada com acribia, a tradução soluciona alguns problemas sintáticos que dificultavam a compreensão semântica de diversas passagens, consolida também o estabelecimento de alguns termos chaves, como, por exemplo, o mais emblemático, Unzeitgemässe, como extemporâneas que era frequentemente traduzido, nas traduções anteriores, como intempestivas e, ainda, nos oferece um grande número de notas esclarecedoras. Sabemos que toda tradução é uma atividade árdua e desgastante, nem sempre reconhecida quando acertada e bastante criticada toda vez que mal executada. A princípio, para traduzir um texto não basta simplesmente transferir as palavras de uma língua para outra, tem de ter a capacidade de interpretar o significado de um texto em uma língua e a produção de outro texto em outra língua, mas que exprima o texto original da forma mais exata possível na língua de destino, mesmo que recaia sobre o tradutor a já repetida, ad nauseam, máxima italiana, em forma de jogo de palavras, que diz “traduttore, traditore” (“tradutor, traidor”), pois todo tradutor teria de trair o texto original para conseguir reescrevê-lo na língua desejada. Entretanto, pode-se garantir que, em se tratando de texto filosófico, a traição ocorrerá a partir do instante em que as ideias do autor do texto original forem distorcidas ou contrariadas no texto traduzido, ou seja, se ao comparar o nível e compreensão dos leitores das duas línguas for observado que há divergência quanto à compreensão das ideias. Nesse sentido, Itaparica não é traditore – como muito em voga, em todos os âmbitos da nossa cultura -, mas um traduttore e isto ocorre devido ser ele um conhecedor das duas línguas em jogo na tradução, o alemão e o português, além de ser um estudioso da filosofia de Nietzsche e, no caso específico do texto traduzido, eu diria, um perito, bastante familiarizado com os termos e temas nietzschianos ali expostos.
1Karl Hillebrand, ex-secretário de Heine, quem Nietzsche cita em EH (Cf. EH/EH. As Extemporâneas, 1, KSA 6. 318), devido a sua resenha favorável à Extemporânea I, publicada no Allegemeine Zeitung Augsburg, número 256-266, setembro de 1873, p. 256-266, publicou, depois, comentários às três primeiras Extemporâneas, na coletânea Zeiten, Völker und Mennschen. Strassburg, 1892, mas escrito em 1874-5. Nada indica que Nietzsche tenha conhecido o teor dos comentários à segunda e à terceira das suas Extemporâneas.
2Cf. Filosofía en Alemania (1831-1933). Trad. Española. Madrid: Ediciones Cátedras, 1991, p. 81.
3Cf. Der Fall Nietzsche: Aufsätze und Vorträge. 2. Auflage. München : Hanser, 1959, p. 44. (“Nietzsches verhältnis zur Historie”).
4Cf. Von Werken und Formen. Godesberg, 1948, p.432,
5HGA 46, 3.
6Cf. HGA 46, 6.
7Cf. HGA 46, 108
8Cf. HGA 46, 142 ss.
9Este seminário é contemporâneo à elaboração da obra Beiträgen zur Philosophie (Vom Ereignis), entre 1936 e 1938, e que só foi publicada postumamente, na qual Heidegger propõe a transição de Ser e Tempo para um “outro começo”, expressão muito utilizada por ele na época.
10HGA 46, 255.
11Cf. Weltgeschichtliche Betrachtungen. 2. Ausgabe. Berlin/Stuttgart: Verlag W. Spmann, 1910, p. 2. Embora, a primeira edição dessa obra seja 1905, trata-se das Vorlesungen de 1870-1871, ministradas em Basel e que Nietzsche havia assistido.
José Nicolao Julião – Professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, Brasil. Pesquisador 2 do CNPq. E-mail: [email protected]
What is history for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography | Arthur Alfaix Assis
What is history for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography, escrito pelo historiador Arthur Alfaix Assis, é fruto de seu trabalho de doutoramento na Universidade de Witten/Herdecke, na Alemanha. O autor por ele pesquisado, Johann Gustav Bernhard Droysen, um dos grandes nomes da historiografia alemã do século XIX, nasceu no dia 6 de julho de 1808, na pequena vila de Treptow, na Pomerânia, e faleceu em 1884, em Berlim. Criador da Escola Prussiana, estabeleceu referências metodológicas, teóricas e estruturais para a pesquisa em história. Em princípio, com algum respaldo na teoria hegeliana, posteriormente, diferenciando-se claramente desta, submetendo todo material das fontes a exames críticos e filológicos, no senso estrito dos termos. Dentre suas obras, destacam-se História de Alexandre, o Grande, publicada em 1833, que veio posteriormente a fazer parte do livro História do Helenismo, composto por dois volumes, tendo sido o primeiro deles publicado em 1836; História da Política Prussiana, composta por catorze volumes, publicados entre 1855 e 1886, e finalmente, Historik, livro em que apresenta os parâmetros e sistematização da pesquisa e do estudo históricos, e posteriormente, Grundriss der Historik, um resumo explicativo do trabalho anterior de imensa importância, no qual se expõem todos os níveis de procedimentos metodológicos da história enquanto disciplina e enquanto ciência, apresentando de maneira ordenada as diferentes formas de operação historiográfica, a saber: a heurística – Heuristik; a crítica das fontes – Kritik; a interpretação – Interpretation; e a exposição histórica – Topik ou Darstellung. Forma-se, assim, uma valiosa articulação entre metodologia e sistematização histórica, introduzindo no meio científico a ideia da função antropológica da história, excluindo definitivamente qualquer relação com aspectos teológicos. Leia Mais
A miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo contemporâneo | Demian Bezerra de Melo
Publicado em 2014, o livro organizado pelo historiador Demian Melo tem um título bastante sugestivo que nos faz lembrar, pelo menos, de duas grandes obras inseridas dentro do pensamento crítico: A miséria da filosofia, de Karl Marx (MARX, 2009), publicada originalmente em 1847, contra as formulações do socialista utópico Pierre-Joseph Proudhon, que não se baseava na luta de classes enquanto uma forma de transformação social; e a Miséria da Teoria, de Edward P. Thompson (THOMPSON, 1981), publicada em 1978, contra o teoricismo mecânico e, até mesmo, abstrato do filósofo marxista Louis Althusser. Leia Mais
Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado – NICOLAZZI (RBH)
NICOLAZZI, Fernando. Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado. São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 484p.Resenha de: PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Tanto já se escreveu sobre Gilberto Freyre, e particularmente sobre Casa-grande & senzala, que está cada vez mais difícil se dizer alguma coisa nova e significativa sobre o autor ou sobre o livro de 1933. O risco de “chover no molhado”, como o próprio Nicolazzi diz, é bastante grande. Entre os estudiosos anteriores de Casa-grande, Nicolazzi está mais próximo de Ricardo Benzaquen, cujo trabalho reconhece como inspirador, mas oferece uma visão propriamente sua da obra de Freyre.
Um estilo de História é uma versão ligeiramente modificada de uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2008, que recebeu o prêmio Manoel Luiz Salgado Guimarães da Anpuh em 2010. Apesar de Nicolazzi não ter aproveitado esse lapso de 7 anos entre a defesa e a publicação de 2015 para fazer referência aos estudos publicados nesse intervalo, dá uma contribuição original para a montanha do que se pode chamar de “Estudos Freyreanos”, examinando Casa-grande de vários ângulos. Como o próprio autor confessa logo no início, seu livro é “um conjunto de ensaios travestido em tese universitária”, o que é muito apropriado no caso do estudo de um autor que adorava o gênero ensaístico e descrevia até mesmo sua volumosa obra de novecentas e tantas páginas, Ordem e Progresso, como um “ensaio”. O que mantém Um estilo de História mais ou menos coeso é o argumento do autor de que Freyre escolheu um estilo de representação do passado, um modo de proximidade, que diferia muito das representações anteriores empregadas por antigas histórias do Brasil; e que esse estilo pode ter mesmo sido adotado por Freyre em resposta direta a Os sertões.
Para justificar sua tese sobre representações, Nicolazzi adota o método de leitura atenta (close reading) dos textos para chegar a conclusões sobre o estilo, as estratégias literárias e os modos de persuasão tanto de Euclides da Cunha quanto de Gilberto Freyre. Seus sete ensaios-capítulos são organizados em três seções. A primeira se inicia com um relato da recepção de Casa-grande no Brasil (em outras palavras, representações de uma representação), e daí se volta para os dez prefácios do autor, nos quais ele se defendia contra más representações de sua obra, ou deturpações, e conversava, por assim dizer, com seus resenhistas. A segunda seção, que compreende mais dois ensaios, deixa Freyre de lado para se concentrar em Euclides da Cunha. A terceira seção retorna a Freyre, com três capítulos dedicados respectivamente a viajantes, memórias e ao próprio gênero do ensaio. Nicolazzi considera Freyre um viajante que privilegiava o testemunho de outros viajantes e oferecia aos seus leitores a sensação de estarem viajando ou no espaço ou no tempo. Também enfatiza a importância das memórias em Casa-grande: as do próprio autor, as de sua família e as dos indivíduos que entrevistou, o mais famoso dos quais foi o ex-escravo Luiz Mulatinho. O livro termina com um ensaio sobre o ensaio, refletindo sobre ensaios históricos e sobre a tradição brasileira do ensaísmo, a fim de buscar a singularidade da contribuição de Freyre para essa tradição.
Um estilo de História é fruto de uma leitura vasta e variada, que inclui não somente a historiografia, de Heródoto a Hayden White, mas também filosofia, literatura, psicologia, sociologia e antropologia, os campos nos quais o próprio Freyre estava muito à vontade. Nas páginas de Nicolazzi, Paul Ricoeur está ao lado de Wolf Lepenies, Roland Barthes ao lado de Clifford Geertz, Oliver Sacks de Quentin Skinner, François Hartog de Walter Benjamin, Jean Starobinski de Frank Ankersmit, Michael Baxandall de Gérard Genette, além de outros. Enfim, tantos nomes, tantas luzes a iluminar um texto.
Assim como a justaposição do livro de Euclides com o de Sarmiento, Civilização e barbárie, se tornou um tópos, o mesmo aconteceu com a comparação e o contraste entre Os sertões e Casa-grande, que novamente coloca a representação do “outro” versus a representação de “nós” em pauta. No entanto, Nicolazzi desenvolve esse contraste de modo interessante e valioso, focalizando pontos de vista. Segundo ele, o contraste essencial entre Freyre e Euclides – cujo trabalho Freyre estudou cuidadosamente e sobre o qual escreveu mais de uma vez – é que Euclides exemplifica o que Claude Lévi-Strauss chamou de “olhar distante”, observando e representando outra cultura como se estivesse pairando alto no ar; uma cultura que ele via como oposta à sua própria, ou seja, uma representando a civilização, e a outra, a barbárie. Sua estratégia literária era a do naturalista, registrando detalhes com o espírito de um cientista, uma espécie de Émile Zola do sertão. Em contraste, Freyre, como um antropólogo no campo, tentava chegar perto dos escravos e ainda mais perto dos senhores (e das senhoras) de engenho sobre os quais escreveu. Como Michelet – e diferentemente de Euclides – Freyre tentava evocar o passado, suprimir a distância e identificar-se com os mortos e com tudo o que já se foi. Ele pode até ser criticado – e o foi por Ricardo Benzaquen – por estar “correndo o risco de uma proximidade excessiva”.
Há muito a ser dito em favor desse contraste. Afinal de contas, Freyre disse em certa ocasião que “o passado nunca foi, o passado continua”. Sua “história íntima” e sua “história sensorial” tentavam exatamente tornar os leitores capazes de ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e até mesmo tocar o passado. O elemento autobiográfico em Casa-grande, enfatizado ainda mais em 1937 em seu Nordeste, é efetivamente central, e a confusão entre a vida do autor, de sua família e de sua região natal (ilustrada pelo uso frequente que Freyre faz da primeira pessoa do plural) é, na verdade, reminiscente de Michelet.
No entanto, a oposição entre distância e proximidade precisa ser qualificada, se não mesmo questionada – do mesmo modo como o próprio Freyre gostava de primeiro estabelecer, para depois solapar as categorias opostas de sobrados e mocambos, ordem e progresso, e assim por diante. Pois Freyre não era adepto de polaridades rígidas – que não davam conta dos paradoxos, contradições e complexidades da realidade humana – e se apelava para oposições binárias, sua estratégia era sempre enfraquecê-las por meio de mediações entre opostos, para o que o uso de termos recorrentes como quase-, para-, semi- se adaptava muito bem.
Assim, no que diz respeito à proximidade que Freyre pretenderia ter de seu objeto de estudo, deve-se acrescentar que ele também era capaz de ver seu próprio país com olhos estrangeiros. Seu emprego recorrente de textos escritos por viajantes como evidência não somente dá aos leitores a sensação de “estarem lá”, como Nicolazzi sugere, mas também os provê com distanciamento, já que os viajantes são frequentemente estrangeiros que podem ver mais facilmente o que nativos não veem. De qualquer modo, em algumas de suas passagens menos memoráveis, Freyre escorrega de seu estilo usualmente vívido e subjetivo e cai, por assim dizer, numa linguagem acadêmica, objetiva, escrevendo no capítulo 1, por exemplo, que “por mais que Gregory insista em negar ao clima tropical a tendência para produzir per se sobre o europeu do Norte efeitos de degeneração … grande é a massa de evidências que parecem favorecer o ponto de vista contrário”. Aqui, como em outros pontos da obra, a proximidade e a subjetividade do estudo da sociedade patriarcal dão lugar ao distanciamento e à objetividade. Pode-se, pois, descrever Casa-grande muito apropriadamente como um livro híbrido, não somente no sentido de combinar técnicas científicas e de ficção, como Nicolazzi aponta, mas também por se mover entre o fora e o dentro, entre distância e proximidade.
Como uma boa tese de doutorado, Um estilo de História é extremamente minuciosa e, em certos aspectos, ainda “cheira” a uma tese no sentido de que o autor não parece saber bem quando parar, repetindo argumentos e mesmo citações (uma delas três vezes) a fim de fortalecer seu argumento. Os leitores, ou ao menos alguns deles, podem ter às vezes a sensação de que Nicolazzi está usando uma marreta para abrir uma noz. Como muitas teses brasileiras, Um estilo de História está também sobrecarregada de reflexões sobre método e teoria, assim como apoiada em grande bagagem intelectual, desconsiderando, às vezes, o princípio conhecido como “o rifle de Chekhov”. Chekhov certa vez aconselhou os escritores a “removerem tudo que não tem relevância para a estória. Se você diz no capítulo primeiro que tem um rifle pendurado na parede, no segundo ou no terceiro esse rifle tem necessariamente de ser usado para atirar em alguma coisa. Se não for para ser disparado, então o rifle não deveria estar pendurado lá”. Do mesmo modo, se a Metahistory de Hayden White é discutida na introdução, como foi o caso, os leitores seguramente têm o direito de esperar que o livro de White seja usado mais tarde, discutindo, por exemplo, se Casa-grande & senzala foi “encenada” como uma comédia ou romance. Essas expectativas, no entanto, são frustradas.
Outra questão que importa levantar diz respeito ao uso acrítico que Nicolazzi fez, algumas vezes, dos escritos autobiográficos de Freyre, especialmente de seu “diário da juventude”. Esse texto ocupa lugar importante no livro para reforçar seu argumento sobre a legitimidade que as experiências vividas por Freyre dão ao estilo de história que escolheu escrever. Há evidências de que esse diário “da juventude”, publicado em 1975, não foi efetivamente redigido entre 1915 e 1930, tal como o Freyre maduro – tão envolvido em self-fashioning – quis fazer crer. Ele era, na verdade, exímio na arte da autoapresentação, produzindo com esmero a imagem que os leitores deveriam ter dele. Nicolazzi reconhece isso logo na primeira parte de seu livro. No entanto, várias vezes utilizará esse “diário”, ou ensaio-memória, como se ele representasse fielmente o que o autor fizera ou pensara quando ainda estava para escrever Casa-grande. É de se crer que esses deslizes se devam ao fato de o livro incluir textos escritos em momentos diversos, e que falhas ou descuidos como esses compreensivelmente escaparam na revisão.
Não obstante esses pequenos senões, Um estilo de História é livro inovador e perspicaz que elucida, inspira e instiga a curiosidade do leitor. É também valioso por tratar de ideias de proximidade e distância nos moldes de alguns estudos recentes e refinados sobre “distância histórica”, em especial os desenvolvidos por Mark Phillips e alguns de seus colegas. Particularmente interessante é a diferenciação que Phillips faz entre distância e distanciamento, o primeiro uma postura espontânea entre os historiadores, o segundo uma estratégia proposital usada por alguns deles para trazer o passado para perto do leitor, como num close-up, quando assim acham importante, ou distanciar o passado para obter outros efeitos. Enfim, a retórica da proximidade e da distância como uma ferramenta que alguns historiadores usam conscientemente, como um romancista, para causar determinados efeitos em seus leitores, é uma linha de estudos fecunda à qual o livro de Nicolazzi pode ser associado. E, nesse sentido, Um estilo de História tem o grande mérito de potencialmente acenar para um novo e promissor fio a ser seguido pelos estudiosos de historiografia e de Gilberto Freyre.
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke – Research Associate, Centre of Latin American Studies, University of Cambridge. Cambridge, UK. E-mail: [email protected].
Ce que peut l’histoire. Leçon inaugurale au Collège de France – 17 décembre 2015 | Patrick Boucheron
Patrick Boucheron, spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, plus particulièrement en Italie, a été nommé à la chaire d’Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, xiiie-xvie siècle, comme professeur titulaire au Collège de France depuis la rentrée 2015, avec une leçon inaugurale intitulée « Ce que peut l’histoire ». Pour les enseignants d’histoire et leurs élèves, c’est l’exemple d’un historien savant qui met à leur disposition une Histoire-Monde bousculant les périodisations et les approches entendues, pour une meilleure intelligibilité du présent par le recours aux ressources du passé.
Dans les années 1330, la Commune de Sienne est mise en péril par la « seigneurie », ce pouvoir personnel qui subvertit les principes républicains de la cité. Comment contrarier la tyrannie, asphyxier le foyer de la guerre et réapprendre l’art de vivre ensemble ? La commune politique doit convaincre: le meilleur gouvernement n’est pas la sagesse des préceptes qui l’inspirent, mais ses fruits concrets, tangibles pour chacun. Ces aspects étudiés dans un ouvrage paru en 2013 emblématisent la position de l’intellectuel1.
Une leçon inaugurale est un exercice convenu, avec ses passages obligés. Mais cela ne suffit pas au chercheur, à l’expression bien choisie. Il convertit le moment en credo: l’Histoire ne doit pas se contenter de relater la manière dont les pouvoirs se sont ancrés (les rois, la formation des États), mais aussi – et surtout – évoquer les tentatives expérimentales d’une autre organisation de la cité, même si elles ont échoué. Ces « expérimentations politiques », fourmillantes dans l’Italie des Trecento et Quattrocento, l’historien s’y montre attentif. Elles lui disent d’autres mondes possibles: « Ce que peut l’histoire, c’est aussi de faire droit aux futurs non advenus, à ses potentialités inabouties. »
Après les attentats qui ont choqué la France, Patrick Boucheron s’exprime en citoyen. Dans un engagement renouvelé, il convie à la vigilance contre de funestes usages civiques, transformés en artillerie politique inhumaine ou en appareil de répression. Il reprend une pensée centrale dans consacré à Sienne: « Avoir peur, c’est se préparer à obéir. »
Que peut l’histoire pour aujourd’hui ? L’interrogation l’habite. Le professeur cite Michel Foucault, avivant sa « mise en alerte toujours brûlante qui permet de se prémunir contre la violence du dire, de ne pas se laisser griser par sa puissance injuste », mais aussi Victor Hugo et sa foi dans la chose publique: « Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps-à-corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l’exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. » Rien n’est plus mortifère que de réduire l’Histoire à une machine à confectionner des démonstrations de désespoir. « Comment se résoudre à un devenir sans surprise, à une histoire où plus rien ne peut survenir à l’horizon, sinon la menace d’une continuation ? Ce qui surviendra, nul ne le sait. »
Son ambition ? Rendre le passé habitable, replacer l’histoire dans le débat intellectuel, la rendre tonique, réconcilier érudition et imagination, opposer une histoire sans fin aux chroniqueurs de la fin de l’Histoire, bousculer les divisions temporelles (« Une période est un temps que l’on se donne »), réorienter les sciences sociales, et surtout rafraîchir les problématiques du passé en les mettant en résonance avec celles du présent.
Pour Boucheron, la Renaissance n’est qu’un épisode dans une séquence plus ample: il observe les continuités entre les xiiie et xvie siècles. Adoptant le point de vue de l’histoire globale, il avait repéré dans le xve siècle une invention du monde2. De Tamerlan à Magellan, des steppes de l’Asie jusqu’à la saisie de l’Amérique en 1492, s’est accomplie une première mondialisation. Mais la geste de Christophe Colomb est tout sauf une aventure fortuite: elle est précédée, rendue probable et pensable, par une dynamique globale et séculaire d’interconnexion des espaces, des temps et des savoirs. Elle ne se laisse en rien délimiter par ce que l’on baptisera l’occidentalisation du monde: les commerçants de l’océan Indien, les marins de l’amiral Zheng He partis du fleuve Bleu, mais aussi les envahisseurs turcs, ont un plein rôle dans cette geste des devenirs possibles du monde, où rien n’est encore inscrit.
Militant, il convie à revisiter ses certitudes, son confort intellectuel, prétendant rechercher les moyens de « réconcilier en un nouveau réalisme méthodologique l’érudition et l’imagination. L’érudition car elle représente cette forme de prévenance dans le savoir qui permet de faire front à l’entreprise pernicieuse de tout pouvoir injuste consistant à liquider le réel au nom des réalités. L’imagination, car elle est une forme de l’hospitalité et nous permet d’accueillir ce qui dans le sentiment du présent aiguise un appétit d’altérité ». En cette période où le dialogue interculturel est en terrain défavorable, le propos doit être souligné. Et l’historien, revendiquant son statut de pédagogue, d’affirmer qu’il « faut se donner la peine d’enseigner […] pour convaincre les jeunes qu’ils n’arrivent jamais trop tard. Ainsi, travaillera-t-on à demeurer redevable à la jeunesse ».
[Notas]1 Boucheron Patrick, Conjurer la peur. Sienne, 1338: essai sur la force politique des images, Paris: Seuil, 2013, 285 p.176 | Didactica Historica 2 / 2016 le livre
2 Boucheron Patrick (dir.), Histoire du monde au xve siècle, Paris: Fayard, 2009, 892 p.
(*) Voir: Truong Nicolas, « Ce que peut l’histoire », extraits de la Leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France, in Le Monde, 02-04.01.2016.
Postface des extraits du Monde: prononcée le 17 décembre 2015, la Leçon inaugurale de Patrick Boucheron est téléchargeable en format audio et vidéo sur le site du Collège de France (http:// college-de-france.fr). Elle sera publiée sous forme numérique sur OpenEdition Books (http://books. openedition.org/cdf/156) et sous forme imprimée (coédition Collège de France/Fayard) au printemps 2016.
Pierre Jaquet – Gymnase de Nyon.
BOUCHERON, Patrick. Ce que peut l’histoire. Leçon inaugurale au Collège de France – 17 décembre 2015.* Resenha de: JAQUET, Pierre. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.175-176, 2016. Acessar publicação original
[IF]Cidadania/ historiografia e Res publica: contextos do pensamento político | John Greville Agard Pocock
O renomado historiador das ideias John G. A. Pocock afirma que, além de buscar as linguagens existentes em contextos históricos muito bem determinados, estabelecendo uma análise sincrônica dos discursos políticos, a sua própria inteligência histórica “tende para o diacrônico, o estudo de o que acontece quando as linguagens mudam ou os textos migram de uma situação histórica para outra.” (POCOCK, 2013, p. 276) E é dessa maneira que ele propõe os seus questionamentos e afirmações no interior do grupo já há muito conhecido como Linguistic Contextualism da “Escola do Pensamento Histórico e Político” de Cambridge. Ao se posicionar como um pesquisador mais interessado em performances discursivas, nas interações entre langue e parole (entendidas como texto e ação, respectivamente), Pocock, por meio de sua perspectiva teórica antiparadigmática (é equivocado pensar que ele seja um tributário da perspectiva de paradigma formulada por Thomas Kuhn, como o faz grande parte de seus críticos) e multidimensional, acabou por relegar ao anacronismo bibliotecas inteiras. Leia Mais
Reflexões sobre a escrita e o sentido da História na Muqaddimah de Ibn Khaldun (1332-1406) | Elaine Cristina Senko
Reflexões sobre a escrita e o sentido da História na Muqaddimah de Ibn Khaldun, publicado em 2012 pela Mestra em História, Elaine Cristina Senko, nos oferece a análise do papel do historiador e o conceito de História na civilização islâmica do século XIV por parte de Ibn Khaldun (1332-1406), historiador islâmico que procurou dar um sentido específico à historiografia árabe medieval. Para tanto, estabeleceu um método rigoroso de estudo quando escreveu sua obra prima, Muqaddimah, composta a partir da crítica aos documentos e às narrativas árabes, de forma a aproximar-se cada vez mais de uma “verdade” objetivando compreender as vicissitudes de sua época.
Tal assunto mostra-se intrigante e pertinente, uma vez que, como a própria autora salienta na Introdução da obra, há poucos estudos atualizados sobre o historiador muçulmano e, além disso, através da investigação da metodologia histórica por ele formulada, é possível adentrar e aprofundar os conhecimentos da sociedade islâmica medieval de forma sistemática, a fim de desconstruir a imagem sensacionalista e errônea que, por muitas vezes, é transmitida sobre o Oriente pelo Ocidente.
Revelar outra percepção para a compreensão do mundo árabe e islâmico medieval é, pois, um dos objetivos do livro que também é orientado através do questionamento sobre o que representava a escrita de uma obra desse mote no contexto de Ibn Khaldun. Para tanto, a obra divide-se em três capítulos, nos quais a autora discorre sobre a tradição historiográfica islâmica; sobre a escrita propriamente dita de Ibn Khaldun e sua concepção historiográfica, finalizando com a relação entre a metodologia do historiador islâmico e a sua prática na sociedade do seu tempo.
O primeiro capítulo, Sobre a tradição historiográfica islâmica, apresenta distinções na forma de escrita da História na civilização islâmica. Na primeira, pertencente à era formativa dessa civilização, predominava a história oral que foi se transmutando em escrita, na era clássica, já no século X, acompanhando a organização dos califados e de uma necessidade propedêutica, ou seja, guardar as palavras do Alcorão. Além disso, nesse período, como a autora aponta, há uma inter-relação de gêneros, sobretudo: a biografia, a genealogia e crônica que, contudo, dividiam espaço com outros saberes como a geografia, as escolas jurídicas, filosóficas e a literatura.
Dessa forma, a autora nos possibilita a averiguação da riqueza cultural da civilização islâmica, confirmada não só pela variedade de conhecimentos, mas também pelo grande número de estudiosos que são enumerados, tais como os historiadores Al-Maqrizi, discípulo de Ibn Khaldun, que compreende a História como a escrita da verdade, e Al-Furat, que busca compreender o comportamento político do seu tempo através do conhecimento do passado.
O segundo capítulo, A escrita e o sentido da História na Muqaddimah de Ibn Khaldun, antes de mais nada, explora as influências que o historiador poderia ter recebido e que teria contribuído para a sua forma de escrita e também para a sua compreensão da História. Tal influência diz respeito ao itinerário do saber entre o mundo clássico e o mundo árabe, de forma que é possível atestar o diálogo, em termos de proximidade, influência e analogia, entre a metodologia histórica clássica e a de Ibn Khaldun. Tal simbiose é fruto, como aponta a autora, da translatio studiorum, movimento erudito que proporcionou o afluxo e recepção dos saberes da Grécia, de Bizâncio, da Pérsia e da Arábia, influenciando tanto a cultura ocidental, quanto a oriental, de modo que, a presença do pensamento clássico nos escritos de Khaldun teria sentido. Assim, a autora passa a investigar na escrita do historiador islâmico quais elementos da historiografia clássica estão presentes, como a concepção da História como a investigação das causas e narrativa do que realmente aconteceu, ideia também defendida por Tucídides e Políbio.
No que diz respeito à relação entre História e verdade, Khaldun, inclusive, faz severas críticas à fabulação e aos fatos com pouca autoridade, isto é, fatos que, se examinados com a devida crítica, não condizem com a verdade. A partir disso, ele critica alguns historiadores islâmicos que não fazem tal distinção e transmitem informações que podem ser consideradas fantasiosas como é o caso das cifras exageradas quando se faz o relato de batalhas ou do número de descendentes de uma dinastia.
O exame minucioso das informações, utilizando-se da crítica, da lógica e do conhecimento da natureza é, portanto, um dos princípios que regem a escrita da História na visão de Khaldun, que também defende que o historiador deveria ter um conhecimento político, geográfico e militar da região estudada para poder se certificar que o que está sendo relatado é verdadeiro.
A autora observa, ainda, que para Khaldun, a História tem um objetivo prático, ligado ao poder: a análise das ações do passado faria com que o historiador ensinasse aos homens de poder a melhor forma de governar. Esse tema é abordado no terceiro capítulo, Uma metodologia da História que se aplique ao estudo e ao entendimento da sociedade, no qual a autora aborda a racionalização do conhecimento do estudo da sociedade no tempo por Khaldun, a partir da qual ele elabora estágios de desenvolvimento da sociabilidade humana e elenca os elementos necessários para tal.
Nesse contexto, temos o pensamento de Khaldun atrelado ao de civilização (umran), o que nos permite perceber que o historiador islâmico parte de uma questão do seu próprio momento em busca de uma compreensão que só se realiza na volta ao passado. Ibn Khaldun vivenciava a desestruturação do poder muçulmano em seus territórios e formulou uma inovadora metodologia historiográfica a partir da necessidade de compreensão da realidade social na qual estava inserido. Por isso sua concepção da História é prática, pois o historiador não pode se eximir do seu tempo. E foi o que Khaldun fez com seu trabalho. Além da formulação de uma teoria da História, também destacou, legitimou e fortaleceu o papel do erudito, a figura do historiador na sociedade, como o responsável por orientar os homens de poder, como ele mesmo realizou.
Assim, o livro de Elaine Cristina Senko, sobre as reflexões na escrita da História deste emérito erudito muçulmano vem com o bom propósito, para o público em geral, de criticar uma noção atual simplista das questões entre Oriente e Ocidente, sobretudo, após os acontecimentos do 11 de setembro de 2001. Critica o medo ao muçulmano e propõe uma visão mais global sobre um tema complexo que envolve força militar, política, religião, cultura e história.
Num segundo momento, para o ofício do historiador, o livro traz a maior contribuição e reflexão, para além da demolição dos preconceitos de hoje. O que parece essencial é a exploração do tema escolhido para demonstrar o outro lado da questão da ocupação da Península Ibérica, do Mediterrâneo, do Magreb (Norte da África) pelos muçulmanos no final do século XIV.
Descobrimos que por meio dos escalonamentos, abordados no terceiro capítulo, que Ibn Khaldun indicava os níveis de desenvolvimento que as sociedades podiam percorrer, um “padrão de movimentos”, até a falência destas que o próprio já havia presenciado. A escolha deste universo demonstra a coerência com a proposta inicial da autora de compreender o “outro” por meio da história da sua civilização, do olhar pela lente de um dos seus mais ávidos estudiosos. E ainda, é importante atentar que explorar um teórico da História que se aproxima tanto da Filosofia clássica herdada dos muçulmanos (desde o século IX, a partir das escolas de tradutores) para elaborar sua historiografia é colocar novamente a questão sobre o que é ser um historiador em nossas mentes. Da mesma forma, renovar a historiografia hoje, envolve ultrapassar limites disciplinares e buscar erudição para que se possa recontar histórias (mas não sem método) como a autora faz ao apresentar a renovação da metodologia que Ibn Khaldun propôs, a partir dos elementos variados, mesclando a Filosofia de Aristóteles, de Tucídides e a história oral e as narrativas islâmicas.
A exemplo disto, a escolha de uma destas narrativas existentes no livro, Harun AlRashid: o esplendor de Bagdá permite uma referência cultural diferenciada do contexto de Ibn Khaldun. Esta foi uma escolha feliz da autora, pois é uma história conhecida no Ocidente, que aproxima o leitor do contexto histórico árido, pouco familiar, mas que permite observar o que “também é uma história” naquele contexto, possibilitando a percepção que a História pode ser vista em sentidos variados.
E, por fim, não podemos deixar de observar que estes escritos levam o leitor da área a perceber a importância de o historiador estar aberto à crítica e evitar ao máximo a influência dos poderosos na escrita da História, não devendo depender do poder político ideológico para escrevê-la. Neste caminho, portanto, entrevemos a necessidade de ver além dos preconceitos – é o que defende Ibn Khaldun -, mas é o que defende também a autora, quando cita os nomes dos autores especialistas sobre o Oriente, como o de Uma História dos Povos Árabes3 , que publicaram seus escritos críticos sobre o modo como o Oriente era visto no século XX, críticos que como Khaldun, esclareceram comportamentos e preconceitos.
Aqui é clara a defesa que a autora propõe da integridade do ofício do historiador pela escolha do objeto e pela forma de abordagem, e pelo respeito com o qual trata o seu objeto de estudo.
Notas
2 Graduada em História pela Universidade Tuiuti do Paraná. E-mail para contato: [email protected]
3 HOURANI, Albert. Uma História dos Povos Árabes. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Referências
HOURANI, Albert. Uma História dos Povos Árabes. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
SENKO, Elaine Cristina. Reflexões sobre a escrita e o sentido da História na Muqaddimah de Ibn Khaldun (1332-1406). São Paulo: Ixtlan, 2012.
Ana Luiza Mendes – Doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: [email protected]
Bel Drabik – Graduada em História pela Universidade Tuiuti do Paraná. E-mail: [email protected]
SENKO, Elaine Cristina. Reflexões sobre a escrita e o sentido da História na Muqaddimah de Ibn Khaldun (1332-1406). São Paulo: Ixtlan, 2012. Resenha de: MENDES, Ana Luiza; DRABIK, Bel. Vozes, Pretérito & Devir. Piauí, v.3, n.1, p. 303-306, 2014. Acessar publicação original [DR]
Represálias selvagens: realidade e ficção na literatura de Charles Dickens, Gustave Flaubert e Thomas Mann – GAY (C)
GAY, Peter. Represálias selvagens: realidade e ficção na literatura de Charles Dickens, Gustave Flaubert e Thomas Mann. Trad. de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Conjectura, Caxias do Sul, v. 18, n. 2, p. 157-162, maio/ago, 2013.
Literatura e história: aproximações teóricas e divergências metodológicas
A narração não podia ter uma condição própria, pois, conforme os casos, estava submetida às disposições e às figuras da arte retórica, ou seja, era considerada como o lugar onde se revelava o sentido dos próprios fatos ou era percebida como um obstáculo importante para o conhecimento verdadeiro. […] Só o questionamento dessa epistemologia da coincidência e a tomada de consciência sobre a brecha existente entre o passado e sua representação, entre o que foi e o que não é mais e as construções narrativas que se propõem ocupar o lugar desse passado permitiram o desenvolvimento de uma reflexão sobre a história, entendida como uma escritura sempre construída a partir de figuras retóricas e de estruturas narrativas que também são as da ficção. (CHARTIER, 2009, p. 12).
Assim, Roger Chartier, em seu livro A história ou a leitura do tempo, resumia as contendas entre historiadores, críticos literários e filósofos nos anos 1960 e 1970, e que se desdobraria na “crise da história” dos anos 1980 e 1990. Na década de 1970, o historiador Peter Gay não deixou de lado essas questões, mas seu caminho seguiu um rumo também peculiar. Em suas obras: O estilo na História: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt (de 1974), Arte e ação: as causas na história – Manet, Gropius, Mondrian (de 1976) e Freud para historiadores (de 1985), além de “pagar seu tributo à historiografia”, com uma trilogia não planejada, o autor também revisou o campo dos estudos históricos, ao propor articular novamente arte e ciência na escrita da história, em uma abordagem inovadora sobre o estudo da história social das ideias, utilizando-se das contribuições da Psicologia (em especial, da Psicanálise), para entender os homens e as sociedades do passado.
Ao publicar, em 1974, O estilo na história, ele não destacava especial apreço, ou atenção, sobre as discussões a respeito da “virada linguística”, proporcionada pela recepção do estruturalismo e do pós-estruturalismo francês nos Estados Unidos. Como ele próprio indica no livro, destinava maior consideração aos trabalhos de Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ferdinand de Saussure (1857-1913), Claude Lévi-Strauss (1908-2008) e Erich Auerbach (1892-1957). Principalmente o último, que o marcou profundamente, ao ler seu livro: Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental, de 1946. Ao tratar da composição do estilo na obra de cinco historiadores: Edward Gibbon (1737-1794), Leopold von Ranke (1795-1886), Thomas Macaulay (1800-1859), Jacob Burckhardt (1818- 1897) e Theodor Mommsen (1817-1903), discutido na conclusão do livro, acentuaria de modo sutil sua crítica a Roland Barthes (1915-1980). Primeiro, porque o estilo não se encontrava apenas no campo da escrita, mas na sua interação com o escritor, sua época e seu meio. Segundo, porque as metáforas que lhe seriam inerentes não inviabilizavam a representação do princípio da realidade, antes a destacaria com maior sensibilidade e profundidade. Isso porque, ao ser o próprio homem, como o definiu Georges-Louis Leclerc (1707-1778), (mais conhecido como) conde de Buffon, o estilo demarcaria a matéria, a retórica, a maneira e as estratégias da escrita, mas ao ser também mais do que ele, como destacou Peter Gay, o estilo “nem sempre é o homem, decerto não o homem por inteiro”, mostraria sua relação com o “contexto de produção”, com o “lugar social ocupado pelo autor”, suas “leituras” e sua “formação”. Com isso, o estilo “por vezes, é menos do que o homem; com frequência é mais que ele”. (1990, p. 193).
Por isso, também, o estilo “é a arte da ciência do historiador”. Não foi por acaso, nesse sentido, que a continuidade de seus estudos, nesse campo, o levasse a analisar a “causalidade na história”, e a maneira como se apresentava na escrita, mas tendo em vista seus contornos em “artistas”, e não, nesse caso, em “historiadores”, como mostrou em seu livro: Arte e ação: as causas na história – Manet, Gropius, Mondrian (de 1976). No início dos anos de 1980, o autor prolonga tal esforço metodológico, apresentando sua proposta de aproximar a escrita da história, com a análise do “inconsciente”, exposta pela Psicanálise – tendo em vista a obra de Sigmund Freud (1856-1939), de seus seguidores e intérpretes (GAY, 1989b).
Assim, a sua “justificativa para a história como uma ciência elegante, razoavelmente rigorosa, apoiava-se fortemente […] no [s]eu comprometimento com a psicologia, em particular com a psicanálise”. Para o autor, a maior contribuição a ser encontrada nessa aproximação, outrora iniciada pelas descobertas de Marc Bloch (1886-1944) e de Lucien Febvre (1878-1956), com o movimento que geraram a partir da revista Annales, é que a “história psicanalítica pode entrar para expandir a nossa definição de história total decisivamente ao incluir o inconsciente, e o incessante tráfico entre a mente e o mundo, no território legítimo da pesquisa do historiador”.
(1989a, p. 165). Apesar de não dialogar diretamente, até este momento, com os filósofos franceses dos anos 60, que contribuíram para desencadear “a virada lingüística”, que nos Estados Unidos trouxe um grande impacto, ao questionarem a maneira pela qual os estudos históricos eram apresentados em suas formas narrativas, a obra de Peter Gay, nem por isso, deixou de reiterar a incontornável ligação entre a arte e a ciência, sobre os estilos da escrita da história apreendidos pelo historiador.
Quase duas décadas depois de concluir sua trilogia, sobre o estilo e suas relações com a história e sua escrita, o autor volta-se agora com maior atenção para o que até então havia deixado um pouco de lado, o romance e sua representação da realidade. Por que não só de divergências são constituídos os discursos histórico e literário. E seu livro Represálias selvagens (originalmente publicado em 2002), neste caso, não é apenas uma reconciliação do autor com o campo da produção literária, mas também um avanço quanto as suas análises sobre o estilo e a maneira pela qual caracteriza autor e obra, ao abordar o “princípio de realidade” contido na escrita – tanto da narrativa histórica, quanto na do romance. Contudo, o estudo da produção literária exige certa cautela, porque o romance encontra-se na “intersecção estratégica entre a cultura e o indivíduo, o macro e o micro, apresentando ideias e práticas políticas, sociais, religiosas, desenvolvimentos portentosos e conflitos memoráveis, num cenário íntimo”.
(GAY, 2010, p. 16). Apesar de os leitores quererem confiar “nos escritores de ficção tanto quanto acham que querem confiar nos historiadores”, ambos constroem representações peculiares sobre a realidade. Ainda que as aproximações teóricas, sobre os espaços de análise do romancista e do historiador sejam evidentes, há divergências metodológicas significativas na maneira como cada um procede com as fontes e reconstrói o vivido.
Para realizar seu estudo, o autor pautou-se na trajetória de três romancistas representativos do século XIX e início do XX: Charles Dickens (1812-1870), Gustave Flaubert (1821-1880) e Thomas Mann (1875-1955), dando destaque, respectivamente, aos seus romances: Casa sombria (de 1852- 1853), Madame Bovary (de 1857), e Os Buddenbrook (de 1900). Poderíamos resumir seus objetivos, neste livro, em três questionamentos principais, a saber: 1 – De que maneira a Literatura (e a História) (re)constrói uma representação peculiar da realidade?; 2 – Como uma visão de mundo molda uma linguagem e forja uma prática discursiva?; 3 – E de que modo a linguagem é perpassada por ideologias (ou por componentes ideológicos)? Para ele, Dickens teria sido um anarquista zangado (ao criticar e satirizar a sociedade inglesa da Era Vitoriana), Flaubert um anatomista fóbico (por ver os pormenores das relações sexuais e ironizar a maneira pela qual a sociedade francesa da Belle Époque viam-nas como um tabu) e Mann um aristocrata rebelde (ao viver silenciosamente sua homossexualidade e expor o cotidiano da aristocracia alemã oitocentista), em suas formas específicas de apreenderem o princípio de realidade nos seus romances históricos.
Apesar das evidentes contribuições que esses romances, e seus autores, possam trazer para a pesquisa histórica, o historiador deve ter claro que seu uso “é severamente limitado”, ainda que o “mundo que o romancista realista cria [seja] o mesmo do historiador, apenas alcançado por seus próprios caminhos” (p. 141), e que ambos tenham também em comum “o estudo das mentes individuais e das mentalidades coletivas”. (p. 144).
Dito isso, o autor passa a verificar por que a crítica pós-moderna, ao delinear o espaço de produção da história e do romance, estabelece uma fronteira tênue quanto ao significado da verdade, e seu alcance entre esses diferentes discursos narrativos. Se Jacques Derrida (1930-2004) foi o guru do movimento, Hayden White foi, sem dúvida, “o mais influente entre os historiadores pós-modernistas”, e “levou a perspectiva relativista a seus limites” (p. 145-46), ao ver indistintamente o discurso histórico e o discurso literário: “Ele converte a história num tipo de romance (geralmente não reconhecido) sobre o passado.” (p. 176). Para dar maior consistência aos seus argumentos, Peter Gay demonstra por que foi importante para Hayden White alinhar sua trajetória com os apontamentos centrais da virada linguística, estabelecendo uma relação direta com as obras de Michel Foucault e Friedrich Nietzsche. O que, em suas palavras, se constituiria como o mestre desse autor, “como de outros pós-modernistas, é (além de Friedrich Nietzsche, o favorito de todo mundo nesta escola de pensamento) Michel Foucault. Mas, o “principal problema com as excursões pós-modernistas de Foucault na história é que sua psicologia é irremediavelmente reducionista: para ele, é tudo uma questão de poder, de uma conspiração meio involuntária dos que têm contra os que não têm [o poder em suas mãos]”. (p. 176-77).
Para ele, as mesmas ressalvas seriam válidas para outros pós-modernistas (como: Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard). De acordo com ele: Para os pós-modernistas, os fatos não são descobertos, mas criados; seus ancestrais intelectuais, remontando ao menos até Goethe, insistiram por muito tempo que todo fato já é uma interpretação.
Como uma interpretação social, é inerentemente modelado pelos mitos dominantes que mantêm o historiador (bem como o romancista) preso em sua garra de ferro. Vieses, antolhos, estreiteza de visão, pontos cegos, toda espécie de impedimentos à objetividade são essenciais na própria natureza de todos os esforços humanos para conhecer; o estudioso do passado é o prisioneiro de sua própria história pessoal. Nessa visão, escrever história é apenas outra maneira de escrever ficção. (p. 146, grifo nosso).
Postura frágil, o pós-modernismo, para o autor estabeleceria sutilmente: À parte seu absurdo inerente, a tentativa pós-modernista de reduzir à irrelevância a busca da verdade empreendida pelo historiador tem conseqüências práticas. Forçaria os escritores de fatos e os escritores de ficção a um casamento indesejado sob a mira de uma arma. […] O que significa que os historiadores não precisam dos pós-modernistas para lhes dizer que o ponto de vista de profissionais individuais, em parte inconsciente, pode impedir um tratamento objetivo do passado. Eles assim afirmariam ao desmascarar alegremente a parcialidade dos outros. Mas tratariam essas armadilhas no caminho para a verdade antes como obstáculos a ser superados do que como leis da natureza humana a ser humildemente seguidas. (p. 146-148).
O que significa que os “debates dos historiadores (sem os quais a profissão seria reduzida a um tedioso relato de fatos universalmente aceitos) fazem parte de um interminável empreendimento coletivo que tenta se aproximar do exato ideal de lorde Acton: um acordo inteiramente bem informado sobre o passado”. Além disso, nenhuma “das objeções propostas contra esse ideal é válida”, por que para “falar sem rodeios: pode haver história na ficção, mas não haver ficção na história”. (p. 150).
Após resumirmos os principais pontos da discussão do autor nos anos 1970 e 1980, e o modo como avança sobre eles neste livro (ainda que nos aspectos fundamentais não tenha mudado sua perspectiva de análise), podemos passar a algumas constatações: a) mesmo não considerando todos os argumentos provenientes da virada linguística nos anos 1970 e 1980, o autor não deixou de lado tal questão, e ao voltar sobre ela, além de resumir as principais fragilidades dessa postura, e do empreendimento pós-moderno (que lhe deu continuidade), também demonstrou a importância dos romances para a pesquisa histórica; b) ao indicar as especificidades metodológicas do discurso histórico e do discurso literário, o autor também mostrou que os caminhos como cada um chega à, ou pensa, a verdade são diversos; c) como diversos são ainda os recursos que ambos têm à disposição para, a partir do princípio de realidade, construir suas narrativas.
Referências
CHARTIER, R. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
GAY, P. O estilo na história: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt. Trad. de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
____. Freud para historiadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. Resenha recebida em 21 de setembro de 2012 e aprovada em 5 de outubro de 2012.
Diogo da Silva Roiz – Mestre em História pela Unesp. Professor na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Campo Grande – MS – Brasil. E-mail:[email protected]
História e Historiografia: exercícios críticos | Jacques Revel
A obra “História e Historiografia: exercícios críticos”, do historiador Jacques Revel, é composta por nove artigos que refletem sobre o debate historiográfico no decorrer do século XX, em especial nas últimas décadas. No capítulo inicial, intitulado: “Construção francesa do passado: uma perspectiva historiográfica”, Revel propõe uma discussão sobre a historiografia francesa desde os fins da Segunda Guerra Mundial. Através dessa incursão, o autor analisa a contribuição dos franceses para a produção historiográfica. De acordo com sua concepção reflexiva, o debate historiográfico mediante novas proposições paradigmáticas, adquiriu certa retomada antes da Guerra, com as contribuições de Bloch e Febvre, porém esse não seria o marco inicial para tais discussões, esse debate teria sido proposto bem antes de 1929, ano de ascensão dos Annales.
Em 1870, as Universidades Francesas estavam passando por certa “elaboração da política universitária”. Isso porque a França via-se derrotada face aos conflitos políticos e econômicos protagonizados contra o novo “Reich” da Alemanha, o que alimentou junto aos franceses um sentimento de “revanche”, que, dentre outras coisas, impulsionou um modo de se repensar o ensino universitário no país. A disciplina história teve um papel fundamental nesse processo, pois serviu para reanimar uma nação que tinha sido humilhada pelos Alemães. Diante desses acontecimentos, o saber histórico passou por renovações. Tal proposição foi gestada no fim do século XIX, visava romper com a literatura e ganhar o status de ciência, constituindo-se como um saber “metódico”. Outras ciências como: geografia, psicologia, economia e em especial a sociologia de Durkheim vivam também um processo de renovação.
A mudança de paradigma proposta ao saber histórico subsidiou críticas por parte de outras frentes intelectuais. Os discípulos de Durkheim, por exemplo, criticavam a história mediante seu pleito em busca do lugar de ciência. Um deles, François Simiand, a criticava por argumentar que os acontecimentos factuais – campo de reflexão da história – não ofereceriam subsídios suficientes para arvorar ao status científico. As ponderações feitas por Simiand, e demais rivalidades, contribuíram com a proposta de Bloch e Febvre que absorveram tais críticas e propuseram uma nova forma de se pensar e escrever o conhecimento do passado.
O segundo artigo: “Mentalidades: uma particularidade francesa? História de uma noção e de seus usos”, o autor, a princípio, se volta a discutir a etnologia da palavra mentalidade e a partir dessa projeção promove uma análise em torno de seu significado. Revel assevera que o termo passa a ser difundido nos “vocabulários científicos” das diversas ciências como: antropologia, psicologia, sociologia e história, no decorrer do século. Dentre essas ciências o autor destaca a psicologia como sendo de suma importância para o debate nas áreas humanas. No desenvolvimento da análise são citados vários exemplos de estudiosos que se debruçaram no estudo da psicologia para a compreensão do social, dentre eles podemos citar o historiador Lucien Febvre que procurava compreender sobre a natureza das representações coletivas, se apoiando no conceito de “psicologia histórica”.
Revel volta às discussões associadas ao conceito e à aplicabilidade do termo ligado ao conhecimento social, retomando através de sua análise referências sobre os primeiros historiadores que desenvolveram uma abordagem histórica a partir do conceito “mentalidade”, e elencando os debates travados entre os campos da sociologia, psicologia e história, a respeito de sua apropriação, o que fez com que o conceito adquirisse amplitude em outras esferas intelectuais para além do seu domínio “mátrio” – França – apesar de ser afirmado como um gênero caracteristicamente francês.
O artigo seguinte: “A instituição e o Social”, tem por abordagem os debates e os discursos produzidos pelos historiadores em torno do modelo e conceito de “instituição”. Revel procura demonstrar que quando se pensa na categoria instituição a primeira dificuldade apresentada vem a ser a definição da palavra. Seguindo esse pressuposto, o autor propõe em seu artigo três formas de compreensões conceituais. O primeiro visa caracterizar a instituição como uma dimensão jurídica e política. O segundo traz a instituição num conceito mais amplo que se refere ao funcionamento e organização de determinados domínios, respondendo assim a uma demanda coletiva da sociedade. A última concepção, mas não menos importante, procura compreender a instituição como “toda a forma de organização social”.
A partir dessas conceituações, o autor constrói apontamentos em que relaciona a instituição e campo social. O primeiro conceito alimenta a lógica política quando se pensa nas questões institucionais, ligada à disciplina erudita. Durante muito tempo a historiografia prendeu-se a uma noção na qual considerou as instituições como locais que serviam para os arquivamentos de documentos, tornando assim sua compreensão restrita. Porém, outra compreensão para o termo, arrolando um sentido mais amplo, foi desenvolvida por Durkheim, da tradição sociológica moderna, sendo bastante difundida atualmente. Nesta baliza de pensamento elas seriam “criadoras de identidades” do núcleo social, isso porque os “fatos sociais são compreendidos como instituição”.
Revel relembra que, há muito, a tradição de pensamento sociológica foi desprezada pelos estudiosos, restringindo assim ao estudo político-jurídico, mas com o passar dos anos a abordagem sócio-histórica foi adquirindo vários adeptos. Essa mudança é chamada pelo autor de “evolução historiográfica”, onde os estudiosos passaram a tratar as relações sociais como constructos das instituições. Outro ponto abordado pelo autor vem a ser o estudo da posopografia ou biografia coletiva que seria um método utilizado na história, o qual permite observar os grupos sociais em suas dinâmicas internas e seu relacionamento com outros grupos.
O artigo “Michel de Certeau historiador: a instituição e seu contrário” vai desenvolver uma análise sobre a importância dos estudos de Certeau e o quanto este intelectual continua sendo amplamente estudado na academia por conta de suas pluralidades e perspectivas. Para iniciar essa análise, o Revel traz três momentos diferentes da obra de Certeau. O primeiro exemplo é uma obra em que Certeau tematiza sobre a espiritualidade jesuítica no início do século XVII. Jacques Revel procura dissertá-la demonstrando que a mesma se apresenta como uma não separação das experiências individuais e coletivas das instituições sociais. O segundo exemplo vem a serem os escritos que permeiam “A operação historiográfica”, discussão que ganhou força no terreno dos historiadores na contemporaneidade. De acordo com Revel a marca maior da operação historiográfica diz respeito à assertiva sobre a compreensão do oficio do historiador que ganha legitimidade a partir do lugar social na qual é produzido. O terceiro exemplo seria a imagem do próprio Certeau como um homem que gostava de viver em grupo, um homem plural.
No artigo subsequente “Máquinas, estratégias e condutas: o que entendem os historiadores”, Revel objetiva analisar o pensamento de Michel de Foucault e como esse pensador influenciou os historiadores em suas produções intelectuais, assim como a sua recepção na historiografia. O autor mostra que Foucault preocupou-se em pensar a função do autor, reflexão que os historiadores não tinham atentado em fazer até àquele momento. Para Revel os textos de Foucault são interpretados de diversas formas muitas vezes o deformando por completo. Em um texto de Foucault é como se existissem vários Foucault’s, isso porque os leitores construíram várias imagens muitas vezes deturpadas sobre ele. O “incômodo” de Revel nesse sentido refere-se ao fato que diversos historiadores se encontram satisfeitos com determinadas leituras reducionistas que são feitas ao pensador francês.
Para aprofundar sua análise o autor traz três imagens dele. O primeiro Foucault foi “descoberto” nos anos 60, este se aproxima muito das propostas dos Annales, e, assim como os historiadores de sua geração, Foucault produzia uma história estrutural. O segundo Foucault é aquele que trouxe a tona o conceito de “estratégia”, conceito esse que fez bastante sucesso entre os historiadores durante os anos 70. O terceiro é o Foucault seria aquele preocupado com as “condutas”, onde voltou-se a pensar sobre as relações de poder. A partir dessas três imagens, Revel vai elaborando uma análise de algumas obras consideradas importantes (Historie de La sexualité, L’ Archéologie Du savoir e etc.), trazendo conceitos de fundamental importância para a compreensão da trajetória de Foucault e assim este era visto pelos historiadores.
O artigo “Siegfried Kracauer e o mundo de baixo”, o Jacques Revel procura mostrar algumas reflexões feitas a partir da obra de Kracauer, onde este faz críticas sobre o campo da história. Primeiramente, Revel descreve uma pequena biografia do autor, assinalando inicialmente que este não era historiador e o seu interesse pela história aconteceu tardiamente, mas isso não o impediu de fazer um debate sobre o ofício de estudar o passado. Em sua obra History. The last things before the last. Kracauer traz algumas discussões sobre a cientificidade da história, historiadores, filmes e literatura.
De acordo com Revel, a questão da cientificidade da história é discutida em sua obra maneira enfática. Seguindo esta proposta, Kracauer alimenta a compreensão da história como uma disciplina da ciência social. Ele também promove um debate filosófico sobre as propriedades epistemológicas da história apoiando-se nas ideias de Dilthey, tomando por base os argumentos produzidos desde o fim do século XIX sobre tal discussão. Para ele a história pode reivindicar-se enquanto ciência social, a partir do momento em que ocorrem fenômenos que podem ser analisados e compreendidos em suas relações a partir de determinadas regularidades.
A segunda argumentação vem a ser do ofício dos historiadores, onde este trabalha com as fontes, que para ele são a “incompletude e a heterogeneidade das experiências humanas no tempo”. Revel relembra que Kracauer descrevera o modo como eram vistas as fontes no século XIX, sendo entendidas como detentoras de uma verdade absoluta e incontestável. Dando continuidade às suas reflexões, ele fala sobre literatura e filmes. Para ele, é importante se pensar no conceito de realidade. Segundo Revel, Kracauer faz uma analogia entre o literário e o historiográfico: o primeiro é livre de qualquer distinção realista, pois este vai compor a realidade a qual está inscrito, já o historiador não possui essa liberdade e é preso uma realidade limitada pelos indícios e fragmentos do passado que ganham personificação através das fontes.
O sétimo artigo “Recursos Narrativos e Conhecimento Histórico”, o autor vai abordar algumas contribuições do historiador Lawrence Stone que investiu nos programas de história científica entre os anos de 1930 e 1960. Segundo Revel, era necessário reintroduzir no debate historiográfico as questões da história científica, os dois historiadores que se encarregaram de tal desafio foram Stone e Carlo Ginzburg. Ambos produziram trabalhos no qual pensavam sobre tal problemática, a fim de “resgatar” o problema da narrativa na abordagem historiográfica.
Além desses autores Jacques Revel relembra a contribuição de outros pensadores sobre essa problemática. Podemos destacar a pessoal de Momigliano que se propôs a também pensar sobre as funções e os usos da narrativa, assim como Paul Ricoeur que aferiu um profundo debate sobre tal tema em muitos de seus trabalhos. O autor esclarece o quanto esse debate sobre a narrativa histórica já perdura por algum tempo, e que ainda se revela instável.
Revel também nos mostra a mudança na concepção de história ao longo dos anos. Se antes a compreensão histórica era vista como um “repertório de exemplos e lições a serem seguidas”, ela passou por inúmeras transformações, o que o autor chamou de “virada capital da historiografia”. Para ele, essa mudança ocorreu principalmente por conta de dois fatores. O primeiro fator vem a ser a desqualificação da retórica como instrumento de conhecimento. O segundo é a própria mudança na concepção de história que alimentamos. Com todas essas transformações, alterou-se também o papel do historiador, sua relação com o objeto, e, concomitamente, exercício crítico das fontes históricas.
No penúltimo texto, “A biografia como problema historiográfico”, como o titulo indica, é feita uma análise da utilização da biografia no campo historiográfico. A biografia como gênero amplamente utilizado nas produções historiográficas, possibilita uma variedade de públicos leitores, o que facilita a sua popularidade. Outro aspecto retratado por Revel vem a ser a conjuntura científica em torno da biografia. Nesse foco Revel toca nos debates referentes a duas questões que permeiam o tema: o “problema da biografia histórica” e “a biografia como problema”. Esse debate, para o autor, é “tão velho como a própria historiografia”. Para começar a discussão Revel compara os escritos de Aristóteles entre poesia e história. A poesia ou qualquer outra narrativa de ficção permitem a generalização, a modelagem da experiência humana, já a história está submetida à experiência, e no caso da biografia essa experiência é voltada para o indivíduo.
Com relação a uso da biografia como gênero historiográfico esta se encontra limitada a utilização das fontes. O ponto central do projeto biográfico é a importância de se analisar uma experiência singular e situá-la no contexto social, isso torna tal gênero pautado em complexidade. Para finalizar o autor propõe a utilização de três tipos de biografias: biografia serial (prosopografia), a biografia reconstruída em contexto e biografia reconstruída a partir de um texto (frequentemente utilizado na autobiografia).
O último artigo, intitulado “O fardo da memória”, é dedicado a discutir a experiência histórica e a memória da França. Nele, Revel destaca três tipos de memórias. A primeira é a comemoração. No final do século XX a França teria celebrado muitos fatos importantes do passado francês (datas comemorativas). A segunda forma de memória é a patrimonialização a questão da consciência com o patrimônio, que aconteceu tanto no campo ideológico como nas construções de museus. A terceira forma é a produção da memória, a própria mudança na escrita da história, o que antes era restito aos grandes homens passou estar vinculado às memórias esquecidas, ou seja, historiadores e memorialistas começaram dar visibilidade às narrativas da história “vista de baixo”. Para Revel essas três formas estão interligadas e contribuem para se pensar a memória com relação à história francesa contemporânea
A proposta feita por Jacques Revel à luz de tais perspectivas centra-se em torno de pensar a produção historiográfica na França, do século XX até a contemporaneidade. A partir desse foco, o autor procurar mostrar em sua obra os movimentos e as transformações sofridas no ambiente acadêmico, o hasteamento das disciplinas ao status de ciência, assim como a influência dos Annales na “construção” do conhecimento histórico, através da renovação da pesquisa histórica.
Em sua plenitude, o livro revela um enriquecedor conteúdo, propondo ao leitor apontamentos e compreensão acerca das ciências sociais e suas contribuições no campo historiográfico. O Revel procurou explanar sua proposta, mostrando ao longo dos nove artigos a importância das ciências sociais e sua proximidade com a história.
Referência
REVEL, Jacques. História e Historiografia: exercícios críticos. Curitiba: Ed UFPR, 2010.
Samila Sousa Catarino – Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Clóvis Moura.
REVEL, Jacques. História e Historiografia: exercícios críticos. Curitiba: Editora UFPR, 2010. Resenha de: CATARINO, Samila Sousa. Nos rastros da História: análise da obra “História e Historiografia – Exercícios críticos”, de Jacques Revel. Vozes, Pretérito & Devir. Piauí, v.2, n.1, p. 330- 335, 2013. Acessar publicação original [DR]
History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice / Berber Bervernage
O professor Berber Bevernage atua na Universidade de Gent, Bélgica, e participa do grupo “TAPAS – Thinking about the past”, localizado na mesma universidade. O trabalho resenhado é o fruto de sua tese de doutorado e traz consigo discussões basilares para sociedades que passaram por períodos de regimes ditatoriais ou atos de extrema violência protagonizados pelo Estado. A principal fonte de análise do autor são os resultados das comissões da verdade de três países: Argentina, África do Sul e Serra Leoa. Bevernage defenderá a tese de que a compreensão tradicionalmente defendida pela historiografia ocidental sobre tempo e história não pode ser aplicada às vítimas de violência promovida por esses Estados.
Logo no prefácio de sua obra, Bevernage nos apresenta as suas teses principais: primeira, “that the way one delas with historical injustice and the ethics of history is strongly dependente on the way one conceives of historical time”; segunda, “that the concept of time traditionally used by historians are structurally more compatible with the perpetrators’ than the victims’ point of view” e, terceira, “that the breaking with this structural bias demands a fundamental rethinking of the dominant modern notions of history and historical time” (BEVERNAGE, p. 9, 2012). De acordo com essas teses, portanto, será perseguida, durante todo o restante do trabalho, a maneira com a qual as vítimas entendem o passado que lhes é traumático. Essa maneira de compreender o tempo e a história específica das vítimas se contrapõe, portanto àquela tradicionalmente aplicada pela historiografia moderna ocidental, a qual, de maneira oposta, se adequa muito melhor ao ponto de vista dos perpetradores da violência. Bevernage propõe, pois, outra maneira de lidar com as noções de tempo e história dessas vítimas.
O livro está dividido em duas partes. Na primeira, encontra-se a discussão acerca dos eventos traumáticos passados pelas vítimas nos três países referenciados. No final desta, o autor apresenta conclusões preliminares que apontam para a necessidade de se repensar a maneira com a qual se tem tratado o tempo e a história para vítimas de eventos traumáticos protagonizados pelo Estado. Na segunda, Bevernage se debruça sobre a discussão teórica que dará cabo de sua análise dos casos desses três países. O autor, então, perpassa uma série de tradições historiográficas da teoria da história e aponta o pensamento do filósofo francês Jacques Derrida como o mais apto a ser aplicado à noção de tempo dessas vítimas. Ao término dessa segunda parte, igualmente, Bevernage apresenta as suas conclusões acerca de todo o processo, deixando clara, não obstante, a sua opinião sobre o que deveria ser feito com relação ao passado traumático nesses três casos analisados. Exatamente por isso, ele afirma ainda no prefácio, o seu trabalho trazer uma contribuição à teoria da história, porém, uma contribuição “não-ortodoxa”. Sua contribuição é assim qualificada, pois:
Unorthodox because it does not focus on professional historiography; it does not go into questions of truth, objectivity, or narrativism; but mostly, this book differs from conventional philosophy of history because it tries to draw the attention to some long-neglected ‘big questions’ about the historical condition – questions about historical time, the unity of history, and the ontological status of present and past – and because it is openly programmatic in its plea for a new historical ethics [2].
Será, portanto, essa “nova ética histórica” o foco das discussões de Bevernage em sua obra. Qual seria a melhor teoria, pois, para se analisar o tempo e a história presente nas narrativas das vítimas da violência estatal nesses três casos analisados? Uma vez analisadas “corretamente”, haveria alguma maneira de tratá-las de acordo com os seus pedidos, mantendo a paz e a integridade de todos? Ou o simples ato de ouvir os seus anseios da maneira que eles querem já poria a sociedade em uma situação de instabilidade política? Na introdução, o autor apresenta o pensamento de dois autores consagrados na historiografia ocidental, Nietzsche e Benjamin, contrapondo seus pensamentos. Enquanto para o primeiro, “para se viver torna-se necessário esquecer”, para o segundo, as injustiças históricas cometidas no passado devem ser redirecionadas para o presente, reorientando-o. Segundo Bevernage, a tradição moderna ocidental teria se afiliado muito mais ao pensamento nietzcheniano, tendo como consequência disso o foco numa ética histórica muito “presentista”. O autor faz dialogar, portanto, o “tempo da história” com o “tempo da jurisdição”, trazendo para o centro da discussão a possibilidade de serem julgados crimes cometidos em um passado muito longínquo. Dentro dessa lógica, pois, o “tempo da história” aparece como aquele responsável por apresentar o tempo como algo “reversível”, enquanto o “tempo da jurisdição” o apresenta de maneira “irreversível”. Para as vítimas, contudo, conforme Bevernage apresenta na fala de um sobrevivente de Auschwitz, essa noção de tempo “irreversível” é “inaceitável” [3].
A partir dessa discussão aparentemente dicotômica e sem saída, Bevernage apresenta a ideia de “tempo irrevogável” (“notion of irrevocable”) enquanto possibilidade de saída para tal quimera, expressa no dilema sobre o que fazer com os crimes históricos ocorridos nos países que sofreram atos de violência protagonizados pelo Estado, uma vez que a “justiça transicional” deve decidir sobre algo extremamente delicado:
(…) to repair historical injustice and thereby risk social dissent, destabilization, and return to violence; or to aim at a democratic and peaceful present and future to the ‘disadvantage’ of the victims of a grim past? [4].
Quando se trata de atos de violência cometidos pelo Estado, contudo, tem sido muito mais comum o esquecimento. Para as vítimas, entretanto, a situação tem se mostrado completamente diferente. As vítimas não esquecem. Pelo contrário, para elas o passado continua presente, atormentando-as, clamando por justiça, mesmo que ela cause desestabilização na “paz social”. A partir dos anos 1980 essa situação tem mudado um pouco. Conforme apresenta Bevernage, as comissões da verdade trazem consigo esse dilema da justiça transicional e, a partir da análise dos resultados obtidos pelas comissões nos três países supracitados, Bevernage busca por uma saída satisfatória para o tormento que o passado causa na vida das vítimas, mesmo o Estado tendo oficializado tal evento traumático enquanto “superado”. A história, portanto, apresenta a qualidade de “performática”, pois: “it can also produce substantial socio-political effects and that, to some extent, it can bring into being the state of affairs it pretends merely to describe” [5]
O primeiro caso analisado, no primeiro capítulo da Parte I do livro, é o das “Madres de Plaza de Mayo”, na Argentina, as quais clamam por justiça em nome de seus filhos, os “desaparecidos”. Esse grupo de vítimas levanta uma série de conceitos problemáticos acerca da ditadura militar na Argentina, os quais são facilmente relacionados à ideia de “tempo irrevogável” defendida por Bevernage. Enquanto o governo argentino lançou o “Nunca Más” como slogan para o esquecimento e superação da violência protagonizada pelo Estado durante tal período, as “Madres” lançaram o “Aparición con vida”, opondo-se claramente à ideia de esquecimento em prol da superação. Para elas, portanto, não importa se os seus filhos estão realmente mortos ou são “desaparecidos”. Elas clamam por justiça, para que o Estado prenda os perpetradores da violência que matou os seus filhos, não pelo esquecimento ou pela superação. A força do debate levantado pelas “Madres” é, portanto, colocada por Bevernage como exemplar de um grupo de vítimas que se opõe declaradamente ao conceito de tempo e história “irreversíveis”. Para Bevernage, apenas o “tempo irrevogável” é capaz de compreender tais anseios trazidos por estas mães [6].
No capítulo seguinte, Bervernage apresenta o caso da África do Sul e do “Apartheid”. Algo semelhante ao caso das “Madres” se apresenta aqui: apesar de a comissão da verdade trazer à tona crimes de violação aos direitos humanos, a grande maioria desses casos foi engavetada em nome da “paz social”. Para um grupo específico de vítimas, contudo, os “Khulumani”, o passado não deve ser esquecido dessa maneira. Independente do que possa ter ocorrido oficialmente com a chegada de Nelson Mandela ao poder, uma quebra maior com o legado do “Apartheid” ainda é, para esse grupo, um projeto de longa duração. Dessa forma, de maneira semelhante ao que se observou na Argentina, as narrativas das vítimas do “Apartheid” na África do Sul precisam ser analisadas a partir da ideia de “tempo irrevogável”, pois eles chamam por uma justiça que, para a justiça transicional oferecer, seria necessário resolver àquele dilema apresentado anteriormente, o que colocaria em cheque a paz social, uma vez que o enfrentamento do passado, no presente, viria em termos legais e criminais, não apenas sociais.
O terceiro caso, de Serra Leoa, analisado no capítulo seguinte, apresenta conclusões semelhantes com relação ao “tempo irrevogável”. Para Bevernage, a ideia de “tempo irreversível”, amplamente divulgada pelas comissões da verdade nesses três países, tem por principal objetivo manter a integridade nacional, manter o povo unido em prol de algo menos catastrófico quanto encarar o passado traumático de frente, algo preconizado pelo “tempo irrevogável”. Não se trata de resolver os problemas do passado, no presente, como se eles pudessem ser apagados. Trata-se, isso sim, de reconhecer que, para as vítimas, pedir para simplesmente “esquecer” é, tanto cruel, quanto irreal, pois elas não esquecem e, conforme o autor demonstra nesses capítulos, elas criam grupos sociais e se articulam em prol de mostrar para o Estado: “nós não esquecemos. Nós queremos justiça”.
As conclusões preliminares às quais o autor chega ao final da primeira parte de seu livro trazem tais questões ao foco do debate. As “políticas temporais” (“politics of time”) promovidas pelas comissões da verdade nesses três casos voltam-se para a história, não em prol de elaborar uma continuidade temporal capaz de sanar as insatisfações e os traumas das vítimas, mas sim em prol de uma descontinuidade temporal, sendo esta responsável por deixar clara a necessidade de elaboração de uma política de tempo “irreversível”. Esquecer para superar. O esquecimento vem, ainda, aliado à ideia de “perdão”. Todos esses argumentos promovidos por tal “política temporal” tem por objetivo central a manutenção de uma nação coesa, evitando trazer para si as polêmicas de um enfrentamento do passado traumático em termos legais e jurídicos. O ato de posicionar os atos violentos no “passado” elabora uma cronologia responsável por alocar as vítimas em um tempo que não lhes pertence mais, tornando-as antiquadas e rancorosas, caso queiram clamar por justiça [7].
As experiências delas, portanto, ainda substantivas, sensíveis e vivas, são transformadas em cronologia pela justiça transicional baseada na ideia de tempo “irreversível”. Para as vítimas, o passado ainda é um espectro, um fantasma, algo que ronda as suas consciências no presente e não pode simplesmente ser “exorcizado” pelo Estado e suas políticas temporais baseadas neste outro modelo de compreensão do tempo.
Na segunda parte de seu livro, Bevernage inicia a busca por algum modelo temporal que se adequasse ao das vítimas desses três exemplos elencados. O autor dialoga com o tempo newtoniano, com o tempo formulado pelo historicismo, pelo modernismo e pelo secularismo, para chegar à conclusão inicial de que, nenhuma delas, apesar de significativas para a formação do que a historiografia ocidental considera tempo e história, dialoga com o passado “aterrorizante” das vítimas (BEVERNAGE:108, 2012). Não obstante, tornasse necessário frisar que este modelo temporal e de história formulado pela modernidade, no qual o autor afirma a historiografia ocidental basear-se, precisar ser repensado, caso desejemos trazer para a discussão os passados traumáticos e atormentadores das vítimas de violências causadas pelo Estado. A isso, Bevernage nomeará de “cronosofia” (“chronosophy”): “we need to rethink historical time and look for the possibility of na alternative chronosophy” [8].
Em seguida, ainda em busca de alguma teoria que abarque esta outra “cronosofia” necessária, Bevernage dialoga com autores como Fernand Braudel, Collingwood, Paul Ricoeur, Ernst Bloch, Louis Althusser. De todos esses autores, Bevernage destaca que houve, durante todo o século XX, a tentativa de discutir o tempo e a história sob vieses capazes de trazerem consigo tempos plurais e polirrítmicos, porém, nenhum deles quebrou tão fortemente com a tradição temporal marxista e hegeliana como o filósofo francês Jacques Derrida:
What we need and what is mostly lacking in the alternative chronosophies discussed in this chapter, therefore, is an explicit deconstruction of any notion of a time that acts as a container time and pretends to be the measure of all other times. Who can we better turn to for this type of deconstruction job than the French philosopher Jacques Derrida? [9]
Derrida aparece, na fala de Bevernage, como o teórico mais apropriado para lidar com o tempo aterrorizante das vítimas porque ele, mesmo sendo assumidamente marxista, foi capaz de assumir e trazer para a sua “cronosofia” os “espectros” temporais, aos quais o próprio Marx faz referência em muitas de suas obras. Para o autor, portanto, Derrida trará para a sua “cronosofia” a máxima shakespeariana “time is out of joint” (“o tempo está fora de eixo”) em prol de elaborar uma teoria temporal capaz de trazer para si os espectros e os presentes não desejados, uma vez que deveriam já ter se tornado passado [10].
Já próximo às conclusões final do livro, Bevernage associa tal teoria ao tratamento do luto e da melancolia. Uma vez que às vítimas das violências tratadas nos capítulos anteriores foi negado o tratamento social do luto, Bevernage aponta que, ao tratá-las dessa forma, o Estado não estaria sanando um problema, mas sim, criando um ainda maior – como é o caso das “Madres” que, independente do tempo passado desde o desaparecimento de seus filhos ainda os qualificam como “desaparecidos”, não como “mortos” [11]. O autor, então, chega à conclusão de que, o modo com o qual se tem tratado o luto nas sociedades modernas tem-se mostrado ineficaz para com a sua superação. As vítimas precisam senti-lo e, não apenas isso, elas precisam ver medidas serem tomadas, legalmente, em prol de seu sentimento de “passado-presente”, em nome desse espectro que os ronda, uma vez que não se trata de uma questão meramente pessoal, mas de uma questão de violência causada pelo próprio Estado. Bevernage toma, mais uma vez, o exemplo das “Madres” para ilustrar tal necessidade, quando afirma: “this, I think, is how we have to interpret the Madres’ claim that although more than thirty years of calendar time have passed since their children were disappeared, they do not consider them to belong to the past” [12].
Às conclusões finais às quais Bevernage chega podem ser destacadas da seguinte maneira: enquanto as comissões da verdade, por meio da ação da justiça transicional, trazem à tona o tempo espectral e aterrorizante das vítimas, esse tempo no qual, segundo o autor, a teoria mais adequada para analisar é a de Derrida, elas nada podem intervir, uma vez que, ao apoiarem-se nos discursos históricos acadêmicos sobre tempo e história, elas não encontram respaldo para tal. O tempo e história nas narrativas das vítimas, então, encontram-se em uma situação problemática: apesar de o próprio Estado trazer à tona as suas falas a partir das comissões da verdade, nada é feito, pois a sua “cronosofia” não é vista enquanto possível, dentro da tradição historiográfica ocidental.
Bevernage, contudo, não se abstém de opinar neste quesito. Após toda a pesquisa, ele afirma, com relação à teoria do tempo irrevogável e às políticas temporais, que não é de sua alçada afirmar que se deva fazer justiça a todo e qualquer. Essa, de acordo com o autor, é uma decisão que não pode ser tomada fora do contexto específico no qual a violência efetivamente aconteceu “deciding how exactly to deal with the past after political transition and/or violent conflict will remain a socio-political issue that cannot be solved a priori or out of context”, às vezes, a “besta do passado” é simplesmente forte demais para ser olhada diretamente [13]. Para tanto, pois, Bevernage afirma que o dilema da justiça transicional, uma vez considerado o tempo irrevogável, deve permanecer enquanto um “dilema político”, isto é, algo que deva variar de acordo com as especificidades de cada país e de cada acontecimento histórico violento.
Ao invés de, ao término da pesquisa, Bevernage pretender uma espécie de “fórmula” para a resolução dos problemas sociais em sociedades pós-transicionais, ele nos oferece a reflexão de que, afinal, esta é uma questão política e, trazer as narrativas das vítimas para o seu cerne é, não apenas necessário, como vital. Se a “cronosofia” moderna não consegue abarcar a “cronosofia” das vítimas, tampouco negá-la é a solução para manter a estabilidade social em situações extremas como as tratadas durante o livro. O diálogo com a teoria de Derrida serve para o autor exatamente nesse aspecto: existem, inevitavelmente, inúmeros presentes naquilo que acreditamos ser o “presente” e, em casos como esses, negá-los pode gerar um nível de dissensão perigoso para a manutenção da coesão social responsável por formar uma nação.
Notas
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p. 10.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p.3.
- Ibid., p.7.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.15.
- Ibid., p.45.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.86.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.109.
- Ibid., p.130.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p.144.
- Ibid., p.157.
- Ibid., p.167.
Caio Rodrigo Carvalho Lima – Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Natal/RN. E-mail: [email protected].
BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. 250p. Resenha de: LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Outros Tempos, São Luís, v.10, n.16, p.308-315, 2013. Acessar publicação original. [IF].
Teoria da história e história da educação – Por uma história cultural não culturalista | Sérgio Castanho
O campineiro Sérgio Castanho é doutor em educação e professor de história da educação no programa de pós-graduação e nos cursos de graduação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Pesquisador no Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Educação e Sociedade no Brasil” (HISTEDBR), publicou o livro Teoria da história e história da educação – por uma história cultural não culturalista, em 2010. Entre suas publicações, estão livros, artigos acadêmicos, capítulos de livros, resumos e trabalhos completos em anais de congressos nacionais e internacionais.
Com uma intensa vida acadêmica, Castanho busca despertar o interesse de leitores diversos pela história. Para isso, ele lança mão de uma escrita clara, objetiva e impregnada de um extraordinário gostar, cujo resultado envolve, empolga e, ao mesmo tempo, exige o entendimento de ideias trazidas de outros autores, nos remetendo à consulta de diferentes trabalhos.
A obra aqui resenhada traz uma apresentação da teoria da história em âmbito geral e específico e sua relação com a memória, o tempo presente e a prospecção do futuro, além da análise da história cultural – tratados com base no materialismo histórico de Marx.
É um livro composto de cento e dez páginas, divididas em prefácio, apresentação, dois capítulos, considerações finais, referências bibliográficas, nota sobre o autor e texto de quarta capa de Dermeval Saviani. O prefácio, escrito por José Luís Sanfelice,1 apresenta o conteúdo da obra de forma resumida e bastante envolvente, demonstrando a relevância que tem o estudo feito por Castanho, em especial para a área da história e de forma geral para as outras áreas do conhecimento. Já a apresentação elaborada pelo próprio autor sintetiza seus objetivos com o livro, bem como demonstra o caminho trilhado por ele na pesquisa que antecedeu a obra. Essas duas primeiras partes situam o leitor, dando-lhe subsídios para iniciar a leitura dos capítulos com maior segurança, antevendo o que virá.
O primeiro capítulo, intitulado “Teoria da história”, está subdividido em três partes: Marx e a história; Materialismo histórico, antiestruturalismo, projeto social e defesa da história diante do pós-modernismo; Memória, tempo presente e prospecção do futuro. Nele, Castanho discorre sobre a teoria da história sob o olhar de sua “postura marxiana genesíaca” e de influências vindas das obras de Edward Palmer Thompson e de Josep Fontana. Ele inicia esse capítulo fazendo uma provocação ao leitor, para isso cita Marc Bloch, questionando a utilidade da história. Afirma, logo em seguida, que a história serve, ao menos, para distrair-se e conta como sempre se sentiu entusiasmado ao ler narrativas. A partir daí, Castanho propõe um diálogo com diversas obras de Marx, nas quais se assentam o conceito do materialismo histórico e o da teoria da história produzida pelo historiador.
Afirmando que a história é a própria vida do ser humano (p. 4), o autor a considera, concordando com Marx, a partir de dois aspectos: o global (social) e o unitário (individual), que se fundem o tempo todo nas múltiplas e infindáveis relações sociais, as quais não ferem a unidade histórica, mas sim lhe conferem tendências e dimensões variadas e necessárias a cada contexto social, que servirão como categorias para explicá-lo ou historiá-lo.
No diálogo com Thompson, Castanho resgata o argumento de que “o materialismo histórico é válido […] como orientação geral de conhecimento, teoricamente orientado, de um processo, conhecimento esse que se origina no trato da experiência histórica” (p. 47). De Fontana, o autor vai buscar a ideia de que o historiador deve sustentar seu trabalho com uma metodologia baseada na própria história, considerando, para isso, um tripé composto pela “história (narração), economia política (descrição científica e imparcial do funcionamento da sociedade) e projetos sociais (destinados a resolver problemas do presente)” (p. 49). Para Fontana, cada etapa da evolução social teve sua própria “roupagem”, estando contextualizada em uma visão histórica específica a ela, gerida pelos projetos sociais que expressam a proposta política daquele contexto, projetando seu futuro (evolução da sociedade). Castanho destaca que Marx já havia postulado essa evolução, “mas em harmonia com o desenvolvimento das relações sociais” (p. 50).
Castanho ainda menciona Ellen Meiksins Wood e John Bellamy Foster ao discutir sobre as ideias marxianas no contexto pós-moderno. Segundo uma das citações trazidas,
a lógica de transformação de tudo em mercadoria, de acumulação, maximização do lucro e competição satura toda a ordem social. E entender esse sistema “totalizante” requer exatamente o tipo de conhecimento totalizante que o marxismo oferece e os pós-modernos rejeitam. (Wood, 1999, p. 19)
Assim, Castanho deixa claro que olhar para o contexto social com base em sua totalidade e de dentro dele próprio é essencial. Novamente cita Wood (idem, p. 11) para justificar seu argumento: “[…] nenhum padrão externo de verdade, nenhum referente externo para o conhecimento existe para nós fora dos ‘discursos’ específicos em que vivemos”.
Sobre a memória, o autor constrói seu discurso destacando-a como o aspecto que define a identidade do sujeito e da sociedade, pois é um conceito que se assenta em conhecimentos acumulados pela história de vida de cada um e, portanto, de cada grupo. Já o tempo presente, “da minha geração” (p. 64), como ele afirma, configura-se como objeto da história ou como “fornecedor de categorias para análise da história passada” (p. 73). Ao futuro cabem prospecções, cujo objetivo é o de apontar tendências gerais (p. 71) que podem nortear a detecção de tendências específicas. Isso é possível de ser feito por meio das categorias de análise fornecidas pela memória e pelo tempo presente.
Ainda no primeiro capítulo, o autor explicita que, por suas especificidades, a história pode ser tratada em “dimensões diversas da realidade social” (p. 95), que legitimam seu aspecto específico, sem contudo quebrar a totalidade e a unidade, uma vez que ambas se articulam, gerando assim campos como o da história política, história demográfica, entre outros.
Ao segundo capítulo, cujo título é “História cultural e história da educação”, coube a seguinte subdivisão: Formação da história cultural e história cultural, educação e história da educação. Nessa parte, Castanho, além de explicitar os conceitos de história cultural e história da educação e suas relações, procura, assim como Marx, também ressaltar a “importância da dimensão cultural da existência da humanidade” (p. 75). O posicionamento do autor em relação à história cultural denomina-se contextualista, uma vez que considera imprescindíveis “as relações existentes entre o universo das ideias – ou intelectual – com o da sociedade” (p. 82), ou seja, as ideias têm valor e significação dentro do “contexto social em que são geradas” (p. 82).
A história da cultura e a história da educação constituem-se como campos autônomos, porém com profunda relação de mutualismo, buscando uma na outra (ou nas outras) elementos que tangenciem suas necessidades, auxiliando em suas interpretações e ressignificações.
Ao tecer suas considerações finais, Castanho didaticamente retoma os objetivos postos em sua apresentação no início da obra, dando um destaque para a legitimidade que a história da educação alcançou, em virtude de sua articulação com a “totalidade histórica” (p. 96). Assim, destaca ele, é possível estudar objetos mínimos e específicos, situados em um processo mais amplo, determinado pela história de uma maneira geral, e que em sua visão têm uma identidade marcada pelo materialismo histórico e suas relações de produção material.
Ler essa obra é de fato um deleite histórico, com ênfase em Marx e suas ideias, além de um verdadeiro passeio por importantes conceitos de serem compreendidos com rigor, embora também seja exigente por esses tantos conceitos e fatos citados. Trata-se, certamente, de uma leitura de grande valia aos especialistas ou estudantes da área de história e educação, e também para aqueles, de outras áreas, que queiram ampliar os conhecimentos sobre questões fundamentais para o entendimento da história humana.
Referências
Bloch, Marc. Introdução à história. 6. ed. Trad. de Maria Manuel e Rui Grácio. Mem Martins, Publicações Europa-América, s.d. [ Links ]
Fontana, Josep. História: análise do passado e projeto social. Trad. de Luiz Roncari. Bauru, EDUSC, 1998. [ Links ]
Thompson, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser. Trad. de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. [ Links ]
_____. A formação da classe operária inglesa. Trad. de Denise Bottmann. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 3 v., 1987a.
_____. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Trad. de Denise Bottmann. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987b. [ Links ]
_____. Costumes em comum. Trad. de Rosaura Eichemberg. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. [ Links ]
_____. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Organização de Antonio Luigi Negro e Sérgio Silva. Campinas, Editora da UNICAMP, 2001. [ Links ]
Wood, Ellen Meiksins. “Introdução: O que é a agenda pós-moderna?”. In: ______.; Foster, John Bellamy (Orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Trad. de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999. p. 7-22.
Nota
1. Professor titular de história da educação na Faculdade de Educação da UNICAMP e pesquisador vinculado ao HISTEDBR.
Rita de Cássia Ventura Pattaro – É diretora pedagógica da rede particular de ensino na cidade de Indaiatuba/SP e mestranda em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). E-mail: [email protected].
CASTANHO, Sérgio. Teoria da história e história da educação – por uma história cultural não culturalista (T). Campinas: Editora Autores Associados, 2010, 110 p. Resenha de: PATTARO, Rita de Cássia Ventura. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.17, n.51, set./dez. 2012. Consultar a publicação original [IF].
Ensaios: teoria, história e ciências sociais – MALERBA (HH)
MALERBA, Jurandir. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011, 240 p. Resenha de: GONÇALVES, Sérgio Campos. Enfrentamentos epistemológicos: teoria da história e problemática pós-moderna. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p.187-196, abril 2012.
“Papai, então me explica para que serve a história”. A pergunta infantil com que Marc Bloch (2001, p. 41) inaugura seu último escrito introduz um chamado para que o historiador preste contas acerca da legitimidade de sua profissão. É esse mesmo “ajuste existencial” que Jurandir Malerba busca em seu livro Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Porém, enquanto a autorreflexão de Bloch se deu ao aguardar o próprio fuzilamento, na condição de prisioneiro das tropas alemãs do final da Segunda Guerra, a inquietude do pensar o ofício de Malerba é de outro tempo e coloca outras perguntas: Diante da crise do racionalismo moderno e dos desdobramentos da linguistic turn, qual a validade epistemológica da história? Quando a cientificidade de sua profissão parece em xeque, qual o remédio para a angústia do historiador? No centro da questão está a objetividade da história, motivo de variadas reações daqueles que se debruçam sobre o assunto e na qual reside a diferença entre o tempo de Bloch e o do debate contemporâneo do qual Malerba está inserido.1 No pósguerra, segundo Peter Novick (1988, p. 522-572), já não existiria mais o consenso da ampla comunidade de discurso formada por estudiosos unidos por interesses, propósitos e padrões comuns no qual se baseou a disciplina da história até o início da década de 1960. Pois, a partir de então, teriam reinado o ceticismo diante da promessa iluminista de progresso e a crise cognitiva do historicismo, devido à historicização e à relativização do próprio conhecimento, da qual a ansiedade generalizada da comunidade acadêmica seria sintomática.
É nesse campo de batalha em que Jurandir Malerba cava sua trincheira, de onde é franco-atirador contra a dita história pós-moderna, a qual se ampararia, notadamente, na teoria da linguagem e na negação do realismo.
Reunindo suas reflexões sobre a história e o ofício do historiador em oito capítulos, os Ensaios de Malerba compõem um manual de teoria da história que é espelho de sua trajetória intelectual. Ao mesmo tempo em que permitem acompanhar a evolução da erudição e da maturidade do autor, oferecem uma proposta de solução às inquietações epistemológicas que o conhecimento histórico passou a enfrentar no século XX, através de estudos sobre os temas e conceitos que se tornaram incontornáveis para o historiador: ficção e escrita da história, memória, acontecimento, estrutura, narrativa, historiografia, processos e representações. O fio condutor que os perpassa é a problemática pós-moderna, a questão da legitimidade e da objetividade da história.
Abre-se o livro com um escrito de juventude, de ar irônico, em que trata da noção de representação e de narrativa para demarcar a distância entre o escritor de ficção e o escritor-historiador de história. Para o jovem Malerba, o estatuto científico e de objetividade da história ancorar-se-ia na interdisciplinaridade, isto é, a proximidade com as ciências humanas é o que distanciaria o historiador do ficcionista. O tom juvenil contrasta com o capítulo II, que apresenta um texto inédito sobre as concepções de memória e suas discussões no campo historiográfico, no qual Malerba versa sobre “o quadrante memorial avassalador no qual estamos vivendo”, tempo em que efemérides são acompanhadas de “estardalhaços” mercadológicos – vide os 200 anos da chegada da Corte portuguesa ao Brasil, mas que convida a refletir acerca do processo de significação do passado e sobre a operação de seleção entre memória e esquecimento.
Os próximos três capítulos abordam, nas palavras do autor, “questões que se constituem nos maiores desafios que assolaram o pensamento de historiadores e cientistas sociais há décadas” (MALERBA 2011, p. 55).
Respectivamente, a tarefa a que Malerba se propõe é pensar acontecimento, estrutura e narrativa através de suas relações com tempo, sujeito e causalidade, tratando de como tais conceitos podem estar conectados ou apartados em correntes de reflexão teórica da história específicas.
Malerba trata das definições e propriedades do acontecimento na história em relação à noção de estrutura. Objeto e unidade da história, o acontecimento existiria dentro de uma rede causal e inserida em determinada duração temporal: “os acontecimentos existem objetivamente, como dados, e […] os historiadores fazem deles diferentes usos conforme sua visão de que os fatos são únicos e singulares ou manifestação de fenômenos que se repetem” (MALERBA 2011, p. 70); ao historiador caberia narrar e/ou estabelecer as tramas causais que ligam os fatos. O propósito de Malerba é aprofundar a “questão da ‘realidade’ ou ‘objetividade’ do fato”, diferenciando fato de acontecimento a partir de um itinerário de reflexões sobre o caráter histórico dos fatos e sobre como tal processo de diferenciação perpassa as questões ligadas à construção da memória e do exercício do poder. Contudo, a tônica do capítulo III, e que perpassa todo o livro, é a crítica à concepção de história narrativista e suas implicações acerca da objetividade do ofício do historiador. O principal alvo é Paul Veyne (1982, p. 14-18), autor que afirmaria ser contraditória a cientificidade da história, pois, se seu objeto é constituído de eventos individuais e, portanto, impassíveis de serem analisados em série, a história não estaria habilitada a construir tipologias de guerras, culturas e revoluções. Com isso, o historiador estaria fadado a elaborar sua trama apenas a partir dos acontecimentos que conseguiu “caçar” e, invariavelmente, com as muitas lacunas daqueles inúmeros eventos de que não obteve registro. Essa visão sobre a história é, para Malerba, equivocada e impregnada de “conservadorismo epistemológico”. Em Veyne, a história seria anedótica, uma síntese narrativa, quase ficcional, e não uma síntese explicativa da realidade do passado, dado que compreende o fato histórico, antes de tudo, como um atributo da percepção e da linguagem, estabelecido pela intervenção seletiva e subjetiva do historiador. Para Malerba, no entanto, tal perspectiva demonstra “extrema debilidade conceitual”, pois confunde o plano ontológico da história e da sociedade com o plano epistemológico, isto é, com os modos de conhecê-la: O fato histórico, reconstituído pelo historiador, só existe no segundo plano, epistemológico. É o resultado de uma operação intelectual, a qual é moderada por regras metódicas preestabelecidas e amparada no uso de fontes, ou indícios, ou vestígios. Não se trata de ciência, que seria uma atitude gnosiológica limitada e insuficiente para resolver o problema do conhecimento histórico, o qual lida com operações mentais e obstáculos operacionais infinitamente mais complexos do que os apresentados pela operação cientificamente regulada (MALERBA 2011, p. 85).
Da mesma maneira que a estrutura, Malerba compreende que o acontecimento é um constructo intelectual, que ambos são “elaborações teóricas que o historiador produz e das quais se utiliza para conhecer a história” (MALERBA 2011, p. 87).
Malerba explica que, associado à concepção positivista ou metódica, o conceito de acontecimento foi preterido pela proposta de renovação historiográfica da primeira geração dos Annales, a qual se opunha ao que denominava história événementielle, acusada de factual e narrativa, advogando em favor de uma história explicativa, científica e, a partir de Braudel, estrutural.
No capítulo IV, Malerba apresenta uma contextualização do estruturalismo e seus impactos nas ciências humanas, traçando uma distinção entre estruturalismo e história estrutural, apoiada, sobretudo, na articulação conceitual de Koselleck entre acontecimento, estrutura e narrativa. Com isso, constrói uma linha de raciocínio em que o sujeito da história se libertaria das “prisões do imóvel”, diante da ontologização da estrutura, e o historiador se reabilitaria como sujeito cognoscente, diante da ruptura entre conhecimento e verdade, provocada pela “exorbitação da linguagem” de Foucault (MALERBA 2011, p. 97).
Narrativa, história e discurso compõem a temática do capítulo V. Malerba abre o texto de forma inusitada, descrevendo imagens de desastres e problemas sociais para chocar o leitor. Estético, o objetivo é proporcionar um choque de “realismo histórico” para intimar o historiador a comprometer-se com sua profissão. Como no prefácio dos Combats pour l’historie, de Lucien Febvre (1992), propõe-se que a história deve ser um compromisso apelo à vida.
Contudo, Malerba detecta um problema: “em função do próprio cenário intelectual vigente em nosso tempo”, o historiador não tem apresentado respostas aos problemas que lhe caberia responder. Tal cenário intelectual que Malerba diagnostica como causa da angústia e inércia dos historiadores configurou-se, conforme entende, através dos desdobramentos radicais da epistemologia pós-estruturalista que se converteram na historiografia pós- -modernista, antirrealista e narrativista: Num sentido muito geral, o pós-modernismo sustenta a proposição de que a sociedade ocidental passou nas últimas décadas por uma mudança de uma era moderna para uma pós-moderna, a qual se caracterizaria pelo repúdio final da herança da ilustração, particularmente da crença na Razão e no Progresso, e por uma insistente incredulidade nas grandes metanarrativas, que imporiam uma direção e um sentido à História, em particular a noção de que a história humana é um processo de emancipação universal. No lugar dessas grandes metanarrativas surge agora uma multiplicidade de discursos e jogos de linguagem, o questionamento da natureza do conhecimento junto com a dissolução da ideia de verdade […] (MALERBA 2011, p. 124).
Na visão de Malerba (2006, p. 13-14), esse “cenário intelectual” se fundamentaria em dois postulados da teoria do conhecimento pós-moderna: na tese da negação da realidade e na teoria da linguagem. A primeira, a tese do antirrealismo epistemológico, sustentaria “que o passado não pode ser objeto do conhecimento histórico ou, mais especificamente, que o passado não é e não pode ser o referente das afirmações e representações históricas”. A segunda, a tese do narrativismo, conferiria aos “imperativos da linguagem e aos tropos ou figuras do discurso, inerentes a seu estatuto linguístico, a prioridade na criação das narrativas históricas”, com isso, em essência, não haveria diferença entre a narrativa do ficcionista e a do historiador, já que ambas “seriam constituídas pela linguagem e igualmente submetidas às suas regras na prática da retórica e da construção das narrativas”. Fundada no antirrealismo histórico e no narrativismo, a prática da escrita da história pós-moderna colocou em xeque “a objetividade do conhecimento histórico e, consequentemente, os limites estruturais da verdade e de seus enunciados”.
Entretanto, a opinião de Malerba é que “a teoria pós-moderna da linguagem é produto das interpretações enviesadas pós-estruturalistas do trabalho do linguista suíço Ferdinand de Saussure”, que conformam uma espécie de “filosofia idealista, uma espécie de filosofia metafísica fundada em assertivas não provadas e improváveis a respeito da natureza da linguagem” (MALERBA 2011, p. 126).
Malerba procura desmontar os postulados do antirrealismo e do narrativismo: enquanto o narrativismo, ao eliminar a distinção entre as narrativas históricas e ficcionais, nega à historiografia a aspiração de verdade que ela reclama em suas abordagens do passado, tornando inócuo o ofício do historiador, o antirrealismo, por sua vez, seria uma consequência infeliz de “uma compreensão tacanha da relação cognitiva”, pois ignora que a história é uma forma distinta de conhecimento que tem a experiência dos seres humanos no tempo como seu objeto: Talvez a melhor resposta que pode ser dada ao ceticismo pós-moderno é a de que a ideia de um passado independentemente real ou atual não se apoia em qualquer teoria e não é uma conclusão filosófica. Ela é, antes, uma exigência da razão histórica e uma necessidade conceitual, autorizada pela memória, bem como implicada na linguagem humana, que inclui sentenças no tempo passado, e é imposta pela ideia de história como uma forma distinta de conhecimento que tem a experiência dos seres humanos no tempo como seu objeto. Negar a existência do passado como algo real a que os historiadores podem se referir e conhecer é, portanto, algo fútil, porque se trata de uma condição essencial da possibilidade da história como campo de conhecimento cientificamente regulado (MALERBA 2011, p. 134).
Contra tais postulados, Malerba propõe um enfrentamento teórico que se ampara nos conceitos de realidade social e de habitus de Pierre Bourdieu (MALERBA 2011, p. 138) e na teoria simbólica de Norbert Elias (MALERBA 2011, p. 145) – tal solução é retomada e aprofundada nos capítulos finais do livro. O que Malerba evidencia no pensamento de Bourdieu é que a linguagem não é uma categoria independente do real, pois, antes de tudo, a realidade social é que configura os meios através dos quais se percebe a realidade e se constrói atos de fala para representá-la. Assim, argumenta Malerba, ao contrário do que prescreve a concepção estruturalista da linguagem e sua epistemologia pós-moderna, “a constituição de uma língua, por meio da qual representamos o mundo (social inclusive), é um processo eminentemente histórico e social e o sujeito do conhecimento é sempre coletivo”. Por conseguinte, os signos, conceitos e discursos sobre o mundo seriam formulados “a partir de um conjunto de determinantes sociais que são interiorizadas pelo indivíduo, a partir das quais ele constrói as lentes (os conceitos) com os quais apreende (percebe, classifica, narra) o mundo” (MALERBA 2011, p. 141). Além disso, Malerba procura religar o discurso ao mundo real, ou a linguagem ao mundo real, que teriam sido separados pelos pós-modernos. Através da teoria simbólica de Elias, busca mostrar que o elo entre o processo de representação e o real é o “fundo social do conhecimento”, isto é, a língua de uma comunidade linguística contém as experiências sintetizadas historicamente (MALERBA 2011, p. 145-147). A articulação entre realidade e conhecimento que Malerba advoga seria um ponto de convergência entre o conceito de habitus de Bourdieu e a teoria simbólica de Elias; tal articulação valeria plenamente também entre narrativa e história, ou entre narrativa e mundo real. Desse modo, para Malerba, assim como para Jörn Rüsen (2001, p. 54), a consciência histórica nasceria da experiência do tempo, e isso, invariavelmente, perpassaria a relação entre realidade e conhecimento histórico: A história existe, como resultado do conflito de interesses e ações complexas dos indivíduos em seus grupos; o conhecimento desse processo de transformações de si e do mundo a que chamamos de história é possível, não deixando-se de fora o que há no sujeito do conhecimento de tudo o que lhe constitui como ser humano (imaginação criadora, instinto, paixão…), mas “controlando” racionalmente o processo do conhecimento. A história existe e pode ser conhecida, como vem sendo feita cada vez mais e melhor. O resto é discurso (MALERBA 2011, p. 153).
Os desdobramentos conflituosos da epistemologia pós-moderna, na concepção de Malerba, transcendem as questões da cientificidade da história e suas alternativas teóricas e metodológicas. De fato, Malerba aproxima-se das assertivas de José Honório Rodrigues (1966, p. 23), para o qual “não há história pura, não há história imparcial” e “toda história serve à vida, é testemunho e compromisso”, ao afirmar que a relação entre conhecimento, vida e realidade diria respeito, em verdade, à função da história nas sociedades e à responsabilidade social do historiador. A perspectiva de Malerba é que a fixação do conhecimento dentro dos limites do discurso seria uma “atitude escapista, evasiva da realidade, que é virulenta e ameaçadora”, e, consequentemente, argumenta, “a opção pelo discurso desvinculado da realidade não deixa de ser, igualmente, uma posição submetida, submissa ao status quo, portanto, conservadora” (MALERBA 2011, p. 152-153).
Nos Ensaios de Malerba, à crítica à epistemologia pós-moderna sucede uma busca por uma definição do conceito de historiografia, conformado, sobretudo, a partir da teoria da história de Rüsen (2001), para o qual a função da teoria seria enunciar “os princípios que consigam a pretensão de racionalidade da ciência histórica de tal forma que eles valham também para a historiografia”. Assim, cumprindo o papel de garantia de cientificidade epistemológica, soma-se à teoria da história a função de racionalizar a pragmática textual exercida pela teoria da história na historiografia. Com isso, a historiografia passaria a ser parte integrante da pesquisa histórica, cujos resultados se enunciariam na forma de um saber redigido, textual, mas cientificamente satisfatório. No capítulo VI, Malerba defende que a teoria da história deve refletir sobre as formas de apresentação do conhecimento histórico como um dos fundamentos da ciência histórica e que, também, deve valorizar a historiografia como seu campo específico. A historiografia, então, é compreendida enquanto produto intelectual dos historiadores, mas, concomitantemente, como prática cultural necessária de orientação social que é resultante da experiência histórica da humanidade. Apresentando-se duplamente como objeto e fonte histórica, a historiografia estaria vinculada à história das ideias e dos conceitos (MALERBA 2011, p. 171-175).
Os dois últimos capítulos trazem uma tentativa de xeque-mate contra a problemática pós-moderna. Retomando e aprofundando algumas das discussões desenvolvidas no capítulo V, Malerba propõe que o antídoto para o questionamento sobre a validade epistemológica da história e a cientificidade do ofício do historiador seja concebido a partir de uma via metodológica estabelecida pelo conceito de habitus de Bourdieu e pela teoria simbólica de Elias. Assim como o ceticismo pós-moderno havia historicizado e relativizado o conhecimento científico, a estratégia de Malerba é mostrar que a crise do racionalismo moderno também é uma contingência historicizável. Isto é, Malerba relativiza a própria problemática pós-moderna ao observar que tal “fratura epistemológica” da modernidade, da qual advém a concepção antirrealista e narrativista da história, se dá no Renascimento, no momento em que o conhecimento sobre o mundo se objetiva e, como consequência, cria-se a problemática da percepção do humano entre o que é ilusão e o que é realidade. É nesse contexto, segundo Malerba, em que se inicia a problemática da representação, da dúvida sobre a correspondência entre os conceitos (as palavras) e o real (as coisas). A problemática epistemológica contemporânea, assim, seria fruto do “questionamento ao niilismo pós-moderno em relação à suposta inacessibilidade do conhecimento a um mundo caótico ou irreal” (MALERBA 2011, p. 209). A preocupação de Malerba é compreender as representações e resolver o problema da verdade no conhecimento. Para tanto, contudo, adverte que seria preciso superar o hábito enraizado desde o Renascimento de se separar o real e o abstrato.
Daí se amparar na solução eliaseana, assumindo que não há correspondência entre conhecimento e o mundo que não seja representacional, socialmente herdada e constituída. Para Malerba, se a representação é uma prática social, seria um absurdo se conceber as representações como discurso e linguagem sem referente.
Dada à amplitude temática, cada um dos oito capítulos poderia gerar apreciações distintas, iniciando, cada qual, discussões novas ou reeditando velhos debates, cada um apontando para uma direção, sem necessariamente convergir.
As teses que o livro contém, ao pôr em relevo a questão da legitimidade e da objetividade da história, entretanto, orbitam o mesmo centro de gravidade temático: a problemática pós-moderna. Mas a linha que perpassa as partes e as articula ao todo não é somente temática, também revela uma forma específica de compreensão sobre o que é a problemática pós-moderna que é bastante comum entre os historiadores.
Grosso modo, aos olhos do filósofo, a problemática pós-moderna sucede à crise do racionalismo moderno, nascida da crítica à tradição iluminista e à razão ocidental. De maneira violentamente sumária, pode-se dizer que se trata de uma crise acerca do fundamento do conhecimento humano: a partir da “revolução copernicana” do conhecimento de Kant, o fundante da operacionalização da correspondência entre o concreto e o pensamento deslocou-se de Deus para o Homem; com isso, o sujeito do conhecimento deixa de ser um ente fixo, atemporal, e o fator “tempo” passa a ser decisivo para o conhecimento – a razão está no homem, com suas capacidades e limites, há uma morte epistemológica de Deus – tal concepção está cristalizada em Hegel, em sua acepção de que o movimento do espírito humano se desdobra no tempo; no entanto, com Nietzsche há uma ruptura total com o racionalismo moderno (da racionalidade argumentativa, da lógica, do conhecimento científico, da demonstração), o qual, segundo ele, era a causa da decadência e da fraqueza do homem – o objetivo de sua crítica é revelar os pressupostos das crenças e preconceitos (a construção do sentido no tempo), e não legitimar o conhecimento ou a moral – agora, a morte epistemológica é do Homem (cf.
DELEUZE 2009; HABERMAS 2000; MACHADO 1999). Nesse contexto, o que ficou marcado como “virada linguística” (linguistic turn) começa a entrar em cena a partir da tentativa de fundar a razão do conhecimento ocidental na linguagem, começando por Wittgenstein, para o qual a lógica da linguagem corresponderia à lógica do mundo – não a concretude, mas o que é inteligível: o mundo social (CONDÉ 2004). Daí em diante, na filosofia contemporânea, vários foram desdobramentos da busca de solução para a problemática pósmoderna (RORTY 2007, p. 25-129).
De modo geral, o historiador parece captar essas questões da filosofia de forma bastante singular, entre apropriações acertadas e errôneas. Ao se sentir afetado pelos desdobramentos da problemática pós-moderna, frequentemente, o historiador entra em debates e toma posições (tanto prós quanto contras) despertando um olhar indulgente do filósofo, seja ao confundir as noções de discurso e de ideologia, como faz Jenkins (2001), seja ao afirmar que há uma “exorbitação da linguagem” responsável por uma ruptura entre conhecimento e verdade e por uma negação da realidade, como faz Malerba; acreditar que há antirrealismo, por exemplo, na compreensão foucaultiana acerca da forma como o discurso de certa época constrói determinadas verdades é partir, desde o início, de pressupostos equivocados, pois não se discute se o mundo real (concreto) realmente existe e se os fatos que nele ocorrem são positivos, mas se trata de pensar o mundo inteligível, socialmente construído e compartilhado (VEYNE 2011, p. 9-65).
Isso não significa, no entanto, que a leitura de Malerba sobre a problemática pós-moderna e suas correlativas preocupações profissionais seja ilegítima e desprovida de valor. Ao contrário, ela é autêntica representante da compreensão generalizada que os historiadores têm da questão. De tão disseminada essa compreensão acerca do que é e de quais são os desdobramentos da problemática pós-moderna e da linguistic turn, para bem ou para mal, criou-se, entre os historiadores, uma comunidade de sentido em que todos se entendem, na qual percebem e reagem à questão da mesma maneira ou de forma bastante semelhante, como se compartilhassem o mesmo aquário; um aquário diferente dos filósofos. Por isso, ainda que talvez os Ensaios de Malerba não despertem o fascínio do filósofo, o livro tem méritos inquestionáveis por oferecer uma proposição original de solução e de enfrentamento que, dentro do aquário do historiador, faz completo sentido e representa uma proposta teóricometodológica plausível.
Referências
APPLEBY, Joyce; HUNT, Lynn; JACOB, Margaret. Telling the truth about history. New York: W. Norton & Company, 1994.
BLOCH, Marc. A apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
CLARK, Elizabeth A. History, theory, text: historians and the linguistic turn. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. As teias da razão: Wittgenstein e a crise da racionalidade moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2004.
DELEUZE, Gilles. A filosofia crítica de Kant. Lisboa: Edições 70, 2009.
FEBVRE, Lucien. Les idées, les arts, les sociétés. Combats pour l’historie. Paris : Libraire Armand Colin, 1992.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
IGGERS, Georg G. Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge. Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1997.
JENKINS, Keith. A história repensada. Tradução de Mario Vilela. Revisão técnica de Margareth Rago. São Paulo: Contexto, 2001.
MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. São Paulo: Graal, 1999.
196 Sérgio Campos Gonçalves História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8 abril 2012 187-196 MALERBA, Jurandir. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
____________. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011.
NOVICK, Peter. That noble dream: the “objectivity question” and the American historical profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
REIS, José Carlos. A história, entre a filosofia e a ciência. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
RODRIGUES, José Honório. Vida e história. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966.
RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. Brasília: UNB, 1982.
VEYNE, Paul. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
WINDSCHUTTLE, Keith. The killing of history: how literacy critics and social theorists are murdering our past. Paddington, NSW: Macleay Press, 1996.
Nota
1 Para compreender o impacto da chamada linguistic turn na história e a dificuldade que seus desdobramentos trouxeram para os historiadores, ver APPLEBY; HUNT; JACOB 1994; CLARK 2005; IGGERS 1997; REIS 2006; WINDSCHUTTLE 1996.
Sérgio Campos Gonçalves – Doutorando Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho [email protected] Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr. Antonio Petráglia 14409 -160 – Franca – SP Brasil.
Saber dos arquivos – SALOMON (HH)
SALOMON, Marlon (org.). Saber dos arquivos. Goiânia: Edições Ricochete, 2011, 110 p. Resenha de: SILVA, Taise Tatiana Quadros da. Transgredir a ordem do arquivo. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p.197-204, abril 2012
A reflexão epistemológica relativa à produção historiográfica concentra- -se, muitas vezes, na análise das estratégias narrativas empregadas pelos seus autores. Isso exige que se faça uma larga investigação sobre a construção do gênero narrativo, sobre suas regras de composição e sobre seus usos no período e lugar de sua produção. Em outro nível, a investigação do texto historiográfico restringe-se a construção dos objetos históricos, dos temas e problemas que o caracterizam, podendo abarcar igualmente os acontecimentos que condicionaram a idealização de seu projeto temático e de seu conteúdo. A perspectiva da reflexão, então, converge para uma interpretação crítica da produção historiográfica e de seus efeitos políticos e culturais.
Essa não é a intenção da obra Saber dos arquivos, organizada pelo professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG), Marlon Salomon. De fato, a obra oferece um olhar epistemológico sobre o estatuto dos arquivos. Por meio da desnaturalização de seu estatuto, os textos apresentados na coletânea permitem indagar sobre a construção da evidência na sociedade contemporânea. Tal investigação implica importante exame sobre a “evidência”, ou seja, daquilo que “arquiva”, que permite, fragmentariamente, a sobrevivência em traços do que não é mais presente. É esse aspecto inquiridor que marca a originalidade da obra em questão. Ao deslocar-se do lugar comum de muitas obras que ainda se restringem apenas ao texto, ou, em outro sentido, das produções que visam a discutir o arquivo como dado, como resultado objetivo; na coletânea Saber dos arquivos, volta-se à pergunta “o que é o arquivo”? Em que sentido as evidências são traços de uma relação entre o presente e o passado? E mais: em que medida nossos arquivos, concebidos outrora, não guardam as “marcas” dessa relação, estabelecida em período pregresso? O arquivo, assim, não é considerado como um espaço neutro, mas como um lugar de poder, onde o sentido do que merece ser arquivado, foi anteriormente definido segundo interesses e concepções que sustentaram e legitimaram o “arquivável”, construindo-o.
Assim, o acervo documental não é um laboratório onde o historiador encontra suas evidências, mas um lugar de memória que obedece a um regime de memória e que deve ser problematizado pelo historiador. Em outras palavras, ao nos confrontarmos com o arquivo, posicionamo-nos não apenas diante de um espaço onde o atual e o inatual se encontram, pois o traço, não representa o passado, mas aquilo que foi considerado arquivável, ou seja, o documento exprime políticas onde se definiu o traço que deveria ser resguardado do tempo, presentificado. Para pensar a história é preciso não dispensar uma arqueologia do “traço”, do “resquício”.
Os arquivos, assim, constituem fundamental problema e desafio da investigação historiográfica, apresentando acervos que limitam e mesmo delimitam aquilo que podemos designar por “passado”. Além da crítica interna e externa dos documentos é preciso que passemos hoje a pensar o lugar dos arquivos na sociedade que ocupamos. Os significados e implicações presentes nas políticas arquivísticas que herdamos e adotamos. Entender tais práticas é também importante meio para compreendermos nossa relação com o passado, a forma como, ao constituirmos arquivos, realizamos usos políticos da história.
Ao introduzir a obra, Salomon, destaca essas questões sublinhando os conflitos que têm envolvido a abertura de arquivos no Brasil e no mundo. Para o organizador, a tensão atual a respeito do assunto inscreve-se entre os temas que devem ser abordados ao tratarmos da relação contemporânea com o passado. São muitos e complexos os usos a que estão suscetíveis os arquivos no presente, como, por exemplo, em relação aos usos do arquivo no jogo político partidário – como se viu na última campanha presidencial no Brasil.
Entre o “direito à memória” e, como estratégia política, os arquivos tornam-se espaço central de disputas, algumas claras; outras ainda pouco evidenciadas.
Entre as disputas travadas em meio aos documentos históricos, talvez uma das mais pungentes seja aquela relativa ao anseio individual e familiar quanto à própria história e ao seu embate com o Estado pelo direito de conhecê-la.
Apenas esse conhecimento pode conferir também a possibilidade do esquecimento, como Salomon destaca: “O direito de se apropriar da memória não significa recalcar o morto ou denegar o outro, como pretendiam as ditaduras, mas poder esquecê-lo para poder continuar a viver” (SALOMON 2011, p. 12). A gestão dos acervos, muito mais do que se reduzir a uma mera questão técnica, diz respeito à gestão do passado. As tensões entre sociedade e Estado, políticas presentes e eventos passados inscreve-se, assim, nas atuais políticas e leis concebidas para tratar dos acervos, que devem ser observadas como parte de um conflito sobre o lugar do passado no presente e sua possibilidade futura.
O controle do passado pelo Estado é tema no artigo da pesquisadora do Instituto de Ciências Sociais do Político (CNRS) da Universidade de Paris, Sonia Combe. No artigo “Resistir à razão de Estado” a autora traz à tona as transformações e limites das políticas arquivísticas francesas. No texto, as disputas e batalhas pela abertura irrestrita dos arquivos, travadas desde a década de setenta do século passado até a aprovação de nova lei de arquivos em 15 de julho de 2008, são reconstruídas de forma a serem analisados os principais aspectos que as caracterizaram, bem como seus prováveis avanços.
Assim, na escrita de Sonia Combe, uma análise retrospectiva e crítica em relação à legislação dos arquivos na França tem espaço. Em primeiro lugar, Combe, reavalia o efeito e recepção da lei de 3 de janeiro de 1979, que restringia a consulta dos arquivos recentes ao prazo de 30 anos. Tal lei, embora representasse uma vitória em relação aos arquivos da Segunda Guerra Mundial, mantinha inacessíveis os arquivos relativos às guerras da descolonização. Em relação à lei de 2008, no entanto, a autora afirma que “a criação de uma categoria de arquivos confidenciais e a manutenção da confusão entre vida privada e vida pública e a do sistema de derrogação” (SALOMON 2011, p. 21) tornam a nova lei mais aproximada daquela de 1979 do que se poderia suspeitar.
Isso se deve ao fato de que se, de um lado, não parecia mais haver na França o que a autora chama de “mito do fechamento dos arquivos”, de outro, o Estado finda por atuar nesse sentido. Os abusos do Estado são, afirma a autora, evidentes na condução administrativa que prevê a revogação parcial de acesso aos arquivos conforme o solicitante seja considerado “confiável” ou não para acessá-los. Segundo Combe, “A solicitação de derrogação introduz um laço de dependência entre o solicitante e o Estado via administração de arquivos” (SALOMON 2011, p. 25).
A ideia de que existem leitores privilegiados, ou melhor, habilitados para a leitura dos arquivos, presente na legislação atual francesa é, para Combe, um instrumento comum do Estado fundado na diferença entre os sujeitos e no segredo, como na França do Antigo Regime. A autora retoma, então, o pensamento de Gabriel Naudé, bibliotecário do Cardeal Mazarin e um dos idealizadores da abertura das bibliotecas.
Segundo Robert Damien, estudioso da obra de Naudé, o surgimento das bibliotecas públicas marcaria o fim da “era do segredo”. Para a autora, então, a presença de tal distinção entre pesquisadores “confiáveis” e “não confiáveis” é um claro sinal da fragilidade e dos atrasos da democracia francesa. A análise da autora, desse modo, constrói-se não apenas como retrospectiva, mas como denúncia das fragilidades da política dos arquivos em França.
No artigo seguinte, intitulado “A danação do arquivo: ensaio sobre a história e a arte das políticas culturais”, Marlon Salomon reflete sobre a tensão entre a abertura dos arquivos no Brasil e as políticas patrimoniais em vigor no país, entre a comemoração incessante e a negação reiterada do direito ao acesso aos documentos. Crítico em relação às políticas culturais, para o autor, a transformação da história em séries de manifestações culturais termina com a potência política ou “força que permitiria que a comunidade se separasse de si mesma” (SALOMON 2011, p. 32). Vale ressaltar as palavras do próprio autor: A escrita da história deixa de ser o espaço em que a comunidade escreve as diferentes repetições de si mesma, para se transformar no lugar em que se manifestam os eternos traços de seus costumes, com suas festassímbolo, paredes-símbolo e lugares-símbolo (SALOMON 2011, p. 32).
Em oposição às políticas patrimoniais e comemorativas em que a cultura é exaltada, Salomon ressalta a negligência perante os arquivos. Para o autor, isso se deve ao fato de que, diversamente do imaginado, os arquivos não são espaços de preservação e de conservação, mas se constituem como “desvio”, como “novo”, instância em que não se comemora o mesmo, ou se preserva a identidade, mas que desafia a pensar o outro e que nos coloca em um confronto com um real, desconhecido, ignorado e que desafia o pensamento. O autor indaga, então, pela condenação do texto, pela marginalização filosófica do escrito, do arquivo como instrumento para conhecer a história. A história ameaça o mesmo, ela instaura o diverso. Por isso, hoje, é muito mais fácil celebrar por meio da cultura, do que indagar os arquivos e fazer da investigação uma experiência social tão marcante quanto são as comemorações que exaltam o costume, que reafirmam o mesmo e preservam a identidade.
Para Salomon, de modo drástico, “o anúncio do fim da história e a ascensão desse regime [das políticas culturais] pertencem à mesma época” (SALOMON 2011, p. 36). A história, transformada em memória, torna-se a busca pelo comum e o arquivo (e a produção de sentido) são então substituídos pelo patrimônio histórico. Da mesma maneira, a arte, uma vez reduzida à expressão cultural reduz seu potencial como atividade criativa. A ideia de arte, segundo a qual o papel da mesma era o de questionar os costumes passa, então, a ser o seu oposto. A arte e o documento histórico, lugar em que o diverso e o inusitado eram uma vez experienciados, são esquecidos em detrimento da manutenção e afirmação da identidade. Para Salomon, é preciso que nos questionemos sobre os rumos que nossas políticas culturais têm assumido, mormente tendo em vista a oposição entre abertura de museus e não abertura dos arquivos. “Talvez”, afirma o autor “a abertura de museus seja a contrapartida negativa da não abertura dos arquivos” (SALOMON 2011, p. 41).
O terceiro artigo da obra, intitulado “Um saber histórico de Estado: os arquivos soviéticos”, tem como autora Antonella Salomoni, professora de história na Universidade de Bolonha. Nele, Salomoni apresenta um rico quadro da constituição das modalidades dos acervos soviéticos sob a administração do Partido. Para a autora, que estudou a sistematização dos arquivos a partir da Revolução de 1917, os registros soviéticos, longe de serem um simples depósito de informação, foram “o resultado de um projeto de fazer a história da ascensão do comunismo na sociedade russa, projeto formulado ao mesmo tempo que a fundação do novo Estado” (SALOMON 2011, p. 45). Em sua análise, Salomoni proporciona um interessante panorama de como, em meio ao processo revolucionário e seguido a ele, os arquivos se tornaram parte das práticas de poder. A exposição sistemática da Reforma Arquivística que ocorre na Rússia, a partir do novo contexto político, é clara em pontuar de que modo o Estado entendeu a importância dos registros históricos na legitimação do novo regime.
Contudo, tal processo não seria imediato. Segundo afirma a autora, entre 1918 e 1920, a arquivística russa teria permanecido “sob o controle de funcionários do velho aparelho, culturalmente hostis ao poder soviético e intelectualmente refratários a uma requalificação de seus métodos de trabalho” (SALOMON 2011, p. 53). Essa e outras passagens do texto da autora remetem à complexidade do tema estudado e à abordagem conferida. A pesquisadora italiana não se restringe nem em construir a imagem de um Estado soviético que imediatamente assumiu o poder em todos os âmbitos, mas também não nega a tomada de consciência sobre a importância de documentos que foi, paulatinamente, acentuada entre os membros do partido. No artigo, é apresentada também a organização e cuidado tomado com os arquivos da Revolução, a construção de métodos e abordagens pelas novas equipes de arquivistas formados pela política soviética e que transformariam a própria noção de arquivo, ao trabalhar com uma nova perspectiva sobre a importância das fontes orais para a construção da história da Revolução. Assim, a “memória de classe” e a instrumentalização da pesquisa para a escrita de uma história de Estado teriam traçado os novos rumos da investigação e salvaguarda documental na Rússia. Na compreensão da autora, embora a memória tenha sido colocada a serviço da história da Revolução e “inscrita na narrativa da constituição material do Estado soviético” (SALOMON 2011, p. 69) sua investigação é ainda um primeiro passo para pensar como se escreveu a história “na época em que o comunismo estava no poder” (SALOMON 2011, p. 72).
A pesquisa de Salomoni, publicada primeiramente em número da revista Annales de 1995, e felizmente agora traduzida para o português, oferece um passo inicial e intransponível para os que se dedicam não só à escrita da história, mas também aos principais temas da história contemporânea.
Ao texto de Salomoni segue o artigo do professor de filosofia da Universidade de Tel Aviv, Adi Ophir. Intitulado Das ordens no arquivo, o texto de Ophir é, sem dúvida, o que apresenta, em relação aos demais, aspecto mais teórico, caracterizando-se por retomar a reflexão de Michel Foucault que, de modo geral, é bastante presente na reflexão apresentada pelo organizador Marlon Salomon. O professor de Tel Aviv, como Salomon, empenha-se em oferecer uma leitura renovada de Foucault, na qual a preocupação com o saber e com a formação dos discursos de saber é então central.
Como filósofo, no entanto, Ophir não se preocupa em discutir o arquivo em seu aspecto institucional, como prática apenas, mas sim como conceito, problematizando uma relação central para a filosofia contemporânea e, mormente, para um leitor muito especial de Foucault: Giles Deleuze. O autor retoma, assim, relações importantes para ambos os filósofos, como por exemplo, a organização dos discursos e a relação entre discurso e arquivo. O lugar do registro histórico, sua dimensão na sociedade ocidental, já anteriormente problematizado pelos artigos anteriores, é então explorado em seu aspecto epistemológico. Nesse sentido, a obra Saber dos arquivos evoca um novo tipo de problematização que escapa à mera apresentação formal dos usos do documento, da conformação das práticas de investigação e revela talvez a sua maior intensão editorial: a de romper com o silêncio teórico sobre o que é o registro. No artigo “Das ordens no arquivo”, Ophir aborda o arquivo como um fenômeno central da vida moderna, como um elemento substancial na construção do sujeito ocidental, então conformado e atravessado pelo traço, pelo rastro. Ao seguir a crítica de Foucault à ordem dos discursos, Ophir também propõe uma crítica à ordem dos arquivos. Para o autor, deve o historiador vencer os limites que restringem a produção historiográfica. O registro, retornando, assim, a um Foucault como lido por Deleuze, já é uma “episteme” e é nesse sentido que ele deve ser objeto de crítica e de superação: “a episteme constitui um conjunto de objetos manipuláveis. […] à medida que o campo do manipulável é redefinido, eles o transformam (ou vice-versa)” (SALOMON 2011, p. 88).
Desse modo, Ophir propõe uma crítica do social que passe por uma arqueologia da ordem dos arquivos, onde o historiador, considerado como arqueólogo, deve ter como objetivo historiar “a fusão de estruturas que governam uma ordem epistêmica passada e o arquivo do presente, o que significa uma fusão do horizonte das pessoas e de textos do passado com o horizonte do discurso histórico contemporâneo” (SALOMON 2011, p. 93). O autor, ao concluir, contrapõe a história antiquária, criticada por Nietzsche, com a que possa promover uma vida presente mais criativa e, para tal, afirma Ophir, é preciso romper com o sistema de possíveis subscrito no arquivo. Fica a sugestão da leitura e também a da transgressão da ordem do arquivo.
O livro, por fim, encerra com um breve, porém interessante texto do professor do Instituto Interdisciplinar de Antropologia do Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (CNRS-EHESS) de Paris, Philippe Artières. Intitulado “Monumentos de papel: a propósito de novos usos sociais dos arquivos” o autor propõe uma análise do que chama de “o arquivo fora dos arquivos”. Para Artières, há um movimento contemporâneo de uso dos arquivos que foge daquele formalizado pelos grandes arquivos nacionais, onde centraliza- -se o acervo de milhares de documentos. O autor, assim, destaca a importância de entender os usos do passado na vida cotidiana e não apenas dentro dos arquivos ou cerceados por políticas públicas. Para abordar essa questão, Artiéres trata de uma prática que se torna cada vez mais comum: a de vender papéis velhos. Para o autor, a compra e venda de manuscritos ordinários, nos quais emerge a biografia de indivíduos desconhecidos, expressa uma forma importante de discurso histórico. Além desse mercado emergente de histórias, também no cinema e em exposições de arte contemporâneas a questão das novas formas de arquivo em que avultam rastros e fragmentos de experiências ignoradas parecem centrais. A internet, nesse sentido, surge como lugar excepcional de arquivo, revolucionando todos os parâmetros de armazenagem. Nela, são fomentadas formas voláteis, formas líquidas de memória, na qual a possibilidade de manipulação dessa memória e a velocidade dessa manipulação oferecem interessante objeto de estudo. O autor examina práticas de disponibilização online de arquivos, que adquiriram grande força devido à popularização da digitalização. A facilidade em registrar, conjugada à de armazenar imagens e documentos digitalizados modificou a relação das pessoas mais comuns com a produção de registros de vida. Esses registros passam a compor um museu pessoal em que o uso privado e público confunde-se. Ao mesmo tempo em que a arte contemporânea transforma-se no “ogro dos arquivos”, utilizando-os como tema de suas exposições, um novo mercado de serviços de proteção e acervo de arquivos pessoais ganha espaço.
Entre esses diversos movimentos, Artiéres destaca a obra do artista plástico Tino Sehgal, que se nega a produzir arquivos, registros, rastros de seu trabalho. O artista, na leitura de Artières, situa-se em outra configuração, na qual prevalece o que ele classifica como “resistência ao arquivo”: “trata-se de um conjunto de práticas que visam não a reificar os arquivos, mas a imaginar dispositivos que escapem precisamente ao imperativo da inscrição, a imaginar sociedades do esquecimento” (SALOMON 2011, p. 110).
Para Artières, o mundo contemporâneo apresenta uma modificação de grandes dimensões na forma de compreender o arquivo e a memória. Nesse mundo, não mais há espaço simplesmente para centros arquivísticos, tendo em vista que os arquivos são produzidos e arquivados de forma individual. Da mesma forma, eles são manipulados de forma pessoal e expressam uma forma nova de relação com o passado. Vive-se, de fato, uma experiência outra sobre o que se pode considerar como passado. Assim, Artiéres nos permite questionar esses movimentos: seriam eles manifestações de uma nova forma de relação com o passado? Sem dúvida, é preciso que tenhamos sensibilidade para pensar esses novos veículos de produção de arquivo e suas consequências para a compreensão geral da passadidade. A história, aquela que ao menos conhecíamos e pela qual ainda consideramos importante dialogar é certamente um dos tantos discursos e formas de relação com o passado e com a memória.
É preciso, assim, observar que outros regimes e formas de relação com o passado se instauram para entendermos, afinal, o que representa a historiografia hoje. Nesse sentido, o texto de Artières nos permite formular uma série de ponderações sobre o estatuto da disciplina histórica e sobre o lugar de nossos arquivos públicos.
Os artigos do livro Saber dos arquivos, na sua maioria textos já anteriormente publicados, porém não em português ou no Brasil, permitem uma densa viagem pelo sentido das práticas que conformam a disciplina da história. O teor dos artigos demonstra a preocupação, por parte dos envolvidos na sua tradução e publicação, de trazer, ao debate teórico e historiográfico no Brasil, uma perspectiva de análise renovada em que tanto a contribuição de Michel Foucault, quanto a atual investigação sobre o lugar do arquivo deve ser considerada. O que é o arquivo? Qual o seu lugar na sociedade contemporânea? Avivados com essas perguntas e com as diferentes possibilidades de abordálas, iniciamos e terminados a leitura da boa coletânea organizada por Marlon Salomon. Esteja aberto o debate.
Taise Tatiana Quadros da Silva – Professora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás [email protected] Rua 75, 433/32 – Setor Central 74055-110 – Goiânia – GO Brasil.
A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX – MARTINS (HH)
Teoria da história; Historiografia; Século XIX.
MARTINS, Estevão de Rezende (org.). A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX. São Paulo: Contexto, 2010, 256 p. Resenha de: BENTIVOGLIO, Julio. Entre a história e o cânone: a ciência histórica oitocentista e seus textos fundadores. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, 175-18, abril 2012.
É deveras conhecida a relação intrínseca entre a produção do conhecimento histórico e sua dimensão narrativa. Desde Aristóteles (1989) esta dimensão tem sido pensada em maior ou menor grau por diferentes teóricos e historiadores, de Luciano de Samósata (2009) a Paul Ricoeur (1994). Muito já se escreveu sobre o fato de que a história além de ciência é arte – tal como no célebre texto de Leopold von Ranke, que integra a coletânea aqui resenhada – visto ser ao mesmo tempo reflexão, pesquisa e método, mas, também, escritura.
O que dá forma e confere sentido a todo e qualquer estudo sobre o passado brota da pena dos historiadores, do modo como refiguram os acontecimentos através de narrativas com começo, meio e fim; cujas ações encontram-se ordenadas em torno de uma intriga. Vista sob este ângulo, a ciência histórica e por conseguinte toda a historiografia integram um vasto e instigante conjunto de textos, dentre os quais alguns se destacam, pela qualidade de suas proposições, por sua abordagem, pelo modo como abarcam seu objeto, enfim por sua natureza distintiva.31 O campo da teoria da história, que reúne reflexões epistemológicas, discussões sobre o método, sobre a história da historiografia ou a respeito das filosofias da história, não é indiferente a isso e dele, frequentemente, emergem textos canônicos. Textos que se tornam modelares no conjunto das obras históricas, que são reconhecidos como tal pelos praticantes do ofício. Assim, também os historiadores, em diferentes épocas, reconhecem a presença de seus textos clássicos. Entenda-se aqui um clássico como uma obra especial, um modelo exemplar, uma narrativa que reúne enorme potência criativa, expressando de maneira particular as possibilidades cognoscitivas e estéticas de seu tempo e que, além disso, torna-se referência obrigatória a exercer, direta e indiretamente o que, parafraseando Harold Bloom, poderíamos chamar de angústia da influência (cf. BLOOM 1995). Como negar o peso da tradição rankeana nos estudos históricos? Como não localizar em Buckle, por exemplo, momento vetorial na historiografia anglo-saxã? Autores como estes provocam e estimulam o debate epistemológico posterior, decisivamente. Em outras palavras, clássico seria todo texto cuja capacidade de produzir reflexão impressiona por sua longevidade, atraindo e desafiando leitores. O século XIX, por ser o século no qual se constituiu a disciplina da historiografia no sentido contemporâneo do termo (MARTINS 2010, p. 4), quando se estabeleceu a ciência histórica autônoma, apartada da filosofia e da literatura, foi, não por acaso, bastante pródigo em nos oferecer obras canônicas que constituíram um primeiro corpo de regras e normas para o ofício do historiador, configurando um momento estratégico para se pensar o surgimento da História como um novo saber (cf. BENTIVOGLIO 2009, p. 8-11). É sobre este momento que se debruça esta obra pioneira no Brasil, organizada pelo professor titular de teoria da história na Universidade de Brasília (UnB), Estevão de Rezende Martins – A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX, publicada em 2010.
Membro da direção da Comissão Internacional de História e Teoria da Historiografia, ao lado de Georg G. Iggers, Charles-Olivier Carbonell, Jörn Rüsen, Hayden White e Frank Ankersmit, o professor Estevão Martins reuniu um pequeno conjunto de renomados pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo da teoria da história para analisar alguns dos textos fundadores da ciência histórica oitocentista europeia, a maioria deles sem tradução em português e outros que já tinham sido traduzidos, mas jaziam em revistas de difícil acesso e pequena tiragem. Iniciativa pioneira entre nós,2 que repete o êxito de obras similares e inspiradoras como The varieties of history de Fritz Stern (1973), lançada originalmente em 1956 nos Estados Unidos, ou ainda Theories of history lançada em 1959 por Patrick Gardiner (2004), que, como se observa, ilustram uma anterioridade significativa. Em solo brasileiro, deve-se mencionar a pequena coletânea organizada por Maria Beatriz Nizza da Silva, Teoria da história lançada em 1976. De qualquer modo, ao contrário da comunidade anglo-saxã, não havia no Brasil a publicação de coletâneas que integrassem a tradução de textos seminais no campo da teoria da história oitocentista, apresentados e discutidos por especialistas. Só isso bastaria para destacar sua importância e sublinhar o mérito da obra em tela. Mas o caráter representativo, em que pese algumas ausências, dos autores e textos selecionados diz muito sobre o estado do campo naquele período. Nesse sentido, não seria ocioso reconhecer o peso da tradição historiográfica germânica na composição do cânone histórico durante o século XIX, bem como nesta coletânea de Estevão Martins: dos dez textos clássicos reunidos, sete são oriundos daquele universo. À primeira vista, portanto, ressalta-se a virtude incontestável deste livro, ao brindar pesquisadores, estudantes e interessados nos estudos históricos em conhecer momentos altos da reflexão historiográfica ocidental, com textos que constituíram os fundamentos da teoria e da metodologia histórica contemporâneas, tratando-se, portanto de obra essencial e obrigatória. Convite mais que justificado para sua leitura.
Não resta dúvida de que Thomas Carlyle, Johann Gustav Droysen, Ernst Bernheim, Wilhelm von Humboldt, Theodor Mommsen, Karl Lamprecht, George Macaulay Trevelyan, Burckhardt, Leopold von Ranke e Thomas Buckle são altamente representativos do momento de definição de um novo campo do saber, em que ocorreu um verdadeiro renascimento dos estudos sobre o passado, na virada do Iluminismo para o Romantismo, por meio de um diálogo fecundo com o historicismo, no qual a reivindicação da pesquisa e da crítica de fontes originais se coadunou com a formulação de princípios teóricos e métodos de abordagem, que conferiram um caráter científico à história (MARTINS 2010, p. 10).
Embora não seja obra exaustiva na seleção de textos e autores representativos daquele processo, A história pensada vale não somente por reunir alguns textos fundamentais, mas, sobretudo pela qualidade analítica das apresentações que situam e discutem aqueles mesmos textos. Sua leitura permite que se faça a conexão dos progressos vividos pela historiografia durante o século XX tendo em vista o diálogo e os contrastes produzidos face à historiografia do século anterior. Outro aspecto favorável do livro reside no fato de seu organizador ter escolhido fragmentos de obras e determinados textos que estabelecem um claro diálogo entre si, lendo-os vislumbra-se um conjunto de preocupações mais ou menos comuns e constantes que são compartilhadas entre os diferentes historiadores oitocentistas. Primeiro ao indagar sobre o que é e como se faz a história. Segundo ao levantar questões que ainda hoje recebem atenção, referentes ao sentido do passado, sobre a peculiaridade do objeto da investigação histórica, sobre o método histórico e, por fim, sobre a natureza da escrita da história.
Ao se debruçar sobre o século da história, em que ocorreu formação das primeiras escolas históricas, vislumbra-se a possibilidade efetiva de localizar um processo de institucionalização daquele saber, que se consolida e se autonomiza como um lugar no interior dos estudos acadêmicos, através do surgimento de inúmeras cadeiras de história nas universidades europeias.
Institucionalização que é acompanhada por outros elementos fundadores, criando espaços de poder em meio à sociedade, detectados em seu reconhecimento pelos Estados, seja mediante sua adesão aos nacionalismos triunfantes, seja através da ocupação de cargos importantes no interior dos governos – muitos historiadores foram ministros, conselheiros, diretores de academias científicas, administradores dos arquivos e instituições de memória.
Esses lugares são acompanhados por um renovado interesse de publicação e leitura de obras históricas. Ou seja, materializam um processo no qual um tipo de saber se configura como um poder, parafraseando Michel Foucault (2002), ao criar uma nova disciplina acadêmica que efetiva dispositivos de validação de seu discurso científico reconhecidos e acolhidos pelos historiadores, que passam a adotá-los e praticá-los, aderindo a determinados regimes de autoridade e de escrita da história.
os mestres do ofício e que configurarão, através do conjunto de artigos publicados e das diretrizes editoriais impostas, uma verdadeira fisionomia para os estudos históricos, indicando alguns traços que permitem reconhecer linhas de força, características e grupos mais influentes, dentre outros aspectos. Nesse sentido, vale a pena lembrar que o século XIX conheceu importantes escolas históricas: como a escola liberal (whig) inglesa, a escola romântica francesa, a escola histórica alemã e suas multifacetadas subcorrentes, em especial a escola histórica prussiana, além da escola metódica francesa de Gabriel Monod e seus discípulos. Evidentemente, este recurso classificatório não se faz sem dificuldades, haja vista a existência de determinadas escritas da história que se inspiram em outros modelos, como é o caso da historiografia portuguesa e sua adesão ao realismo literário que, de certo modo, inspirou Adolpho Varnhagen no Brasil5 ou ainda de alguns historiadores que não se vinculam, pelo menos sem tensão, àqueles regimes de escrita e modelos de abordagem, como é o caso de Karl Lamprecht, por exemplo.
Destacando-se determinados textos que informam caminhos de leitura e de método, constitui-se uma tradição de leituras de ordem teórico-metodológica, com suas diretrizes e reflexões, que se tornam clássicas. E, como afirma Italo Calvino, um clássico é uma obra que nunca termina aquilo que quis dizer, são livros “que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessam” (CALVINO 2001, p. 15). Eles estabelecem uma linhagem, uma genealogia. E são leituras que nos trazem surpresas, que oferecem descobertas, ou ainda nas palavras daquele autor: O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos saber), mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele de maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência (CALVINO 2001, p. 12).
Assim, como não reconhecer a linhagem historicista nos textos apresentados nesta coletânea em que se evidencia uma forte tradição germânica, observada desde a agenda proposta por Humboldt e Ranke, passando pelas definições teórico-metodológicas de Droysen e Bernheim que se desdobram de maneira lírica em Burckhardt e agônica em Lamprecht? Como não vislumbrar, tal como as discussões promovidas na obra levam a sentir, ou promover a refutação do mito de uma historiografia positivista tanto nos metódicos alemães, quanto em Buckle, em torno da questão do fato histórico? Estas são constatações que surgem tanto nas apreciações críticas introdutórias dos colaboradores, quanto na leitura dos próprios textos desta coletânea. Elas revelam, entre outras coisas, de que maneira aqueles historiadores relacionavam, em suas obras, de maneira complexa, empiria e pragmatismo. Compreender estas questões torna-se tarefa imprescindível para se compreender as críticas posteriores que lhes são feitas, por exemplo, pelos fundadores dos Annales aos metódicos franceses – como Gabriel Monod ou Victor Seignobos, os quais, infelizmente, não figuraram neste volume.
Renato Lopes, professor na Universidade Federal do Paraná, abre o livro com sua apresentação sobre Thomas Carlyle (1795-1881), historiador escocês marcado pelo recurso à retórica e com um estilo primoroso de escrita, que propunha “uma mistura peculiar entre o histórico e o literário, o biográfico e o heroico, o figural e o literal, o histórico e o mítico” (MARTINS 2010, p. 18). Fato compreensível visto ele ter iniciado sua carreira exercendo a crítica literária. Dos românticos alemães e da literatura passou a redigir obras históricas, devotadas às ações de figuras destacadas como Cromwell, Luis XVI, Goethe, ou seja, preservando a mística em torno dos heróis, considerados como uma encarnação do universal. Segue-lhe a tradução de Sobre a história de 1830 e Sobre a história, outra vez de 1833, onde são feitas digressões inspiradas a respeito da relação entre os fatos e a escrita da história, sobre as ações humanas e seus sentidos possíveis, nas quais aquele autor revela que “o evento mais relevante é talvez o que de todos é o menos comentado” (MARTINS 2010, p. 27). De modo semelhante a Ranke, Carlyle postula a existência de uma história universal que não deve desprezar as existências singulares, a homens “cuja vida heroica fora outrora uma nova revelação e um novo desenvolvimento da própria vida. Homens, cuja vida heroica fora um bem comum” (MARTINS 2010, p. 29).
Arthur Assis nos apresenta Johann Gustav Droysen (1808-1884), cuja tradução do texto de 1868, Arte e método ficou a cargo de Pedro Caldas. Devo salientar que esta feliz junção, reuniu os dois maiores conhecedores daquele historiador alemão no Brasil. Lamentavelmente ainda pouco conhecido entre nós, Droysen foi, ao lado de Ranke, um dos maiores historiadores do século XIX e sua obra representa um ponto de convergência metodológica central para boa parte da historiografia germânica posterior. Nas palavras de Assis, A originalidade da teoria da história de Droysen decorre da sua inusitada síntese de filosofia da história, teoria do conhecimento, metodologia, e teoria da historiografia. Tal síntese foi concebida por Droysen no contexto da autonomização da História enquanto disciplina acadêmica nas universidades alemãs (MARTINS 2010, p. 33).
O mérito maior da Historik, obra fundamental daquele autor, reside na clareza com que postula um método e um objeto específico para a história, contrapondo-a aos estudos filosóficos e às ciências naturais. Essa particularidade seria depois desenvolvida pela análise de Wilhelm Dilthey, quando funda as ciências humanas ou do espírito, propondo-lhes um método específico: a compreensão (Verstehen) (DILTHEY 2010). Em Arte e método, Droysen busca demonstrar as tensões e os limites entre a ciência e o diletantismo, este último muito comum naqueles estudiosos do passado que não haviam recebido formação de historiador.
Estava claro para Droysen que o conhecimento da crítica histórica, desenvolvida em Göttingen e materializada na História romana de Barthold Niebuhr era obrigatório. Ao mesmo tempo, ele criticava a presença dos modelos retóricos estrangeiros, tão apreciados pelos alemães. E acentuava a necessidade de se valorizar o lado científico, metodológico e empírico dos estudos históricos.
Ernst Bernheim (1850-1942) e seu Metodologia da ciência histórica de 1908 são apresentados e traduzidos, novamente, por Arthur Assis. Bernheim é famoso por seu Manual do método histórico, publicado em 1889, que serviu de modelo e inspiração para o famoso manual de Langlois e Seignobos de 1898.6 Valorizando o cultivo à erudição e à crítica histórico-documental, Bernheim foi um dos pioneiros na produção de um livro especificamente devotado ao método histórico, filiado à tradição de Johan M. Chladenius e de Johann G. Droysen.
Nele se esforça para sublinhar a relação entre o método de abordagem e a síntese (Auffassung) analítica dos fatos. Esta conexão, já tinha enlevo nas reflexões de Humboldt e Ranke, afinal, “tudo está conectado”, diz este último (MARTINS 2010, p. 67). Singularidade e universalidade, confiabilidade e incerteza, recurso à comparação, desafio ao ceticismo e ao relativismo são ainda momentos importantes do referido texto, cuja tradução é mais que bem-vinda.
Pedro Caldas apresenta Wilhelm von Humboldt (1767-1835) e traduz sua famosa conferência proferida na Universidade de Berlim em 12 de abril de 1821, Sobre a tarefa do historiador. Um dos pilares do historicismo alemão, Humboldt embora tenha escrito pouco a respeito da história, ofereceu uma verdadeira agenda para a historiografia alemã. Aliás, duplamente. Primeiro ao reorganizar uma universidade que, de periférica, se tornaria um centro de excelência e uma verdadeira referência às congêneres alemãs e também europeias, situando Berlim no coração do pensamento europeu oitocentista, reservando à história um lugar destacado junto aos demais campos do saber cultivados e projetando seus mestres em toda Europa, tais como Ranke, Hegel ou Droysen e, também ao indicar o cerne da operação historiográfica: pesquisar, encontrar nexos, compreender e narrar. Humboldt não foi somente estadista, pensador e escritor, mas, sobretudo, o disseminador de um novo espírito, cujos fundamentos se localizam na pesquisa científica e na formação (Bildung) humana. Ler seu verdadeiro manifesto aos estudiosos do passado dissipa qualquer preconceito ingênuo de que os historiadores alemães apenas se limitavam a narrar os fatos como ocorreram, afinal, após a triagem dos fatos o historiador deveria buscar seus nexos, buscar a parte invisível, recorrendo à imaginação e à criatividade, partes integrantes da análise documental e da exposição do passado através da escrita.
Estevão Martins se encarrega de analisar e apresentar Theodor Mommsen (1817-1903) e seu discurso de posse na Reitoria da Universidade de Berlim em 15 de outubro de 1874, O ofício do historiador. Curiosamente mais uma vez aqui temos a confluência entre história, literatura e narrativa – esta última uma verdadeira cicatriz de origem às primeiras –, visto seu livro sobre a história de Roma ter sido agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1902, consagrando-se, duplamente, como cânone: entre literatos e historiadores. O ponto alto daquela obra é o modo como nela se urde o enredo em torno da ascensão e queda de uma figura singular da história romana: Caio Julio Cesar. E no texto traduzido se destaca, mais uma vez, a relação entre história e arte, no qual Mommsen reconhece que “o historiador pertence talvez mais aos artistas do que aos intelectuais” (MARTINS 2010, p. 109). Conforme entende Estevão Martins, a síntese entre os elementos científicos oriundos da crítica documental e o recurso à erudição com a forma da argumentação conferem à história mommseniana sua principal marca. Ou seja, A erudição se alcança, no entanto, ao longo da disciplina metódica da investigação, como projeto de vida e de inserção social e política, é a que habilita à síntese interpretativa, à narrativa histórica e historicizante, cuja riqueza estilística recorre à beleza estética da escrita para dar forma à rigidez da pesquisa das fontes (MARTINS 2010, p. 109).
Karl Lamprecht (1856-1915) e seu História da cultura e história publicado em 1910 são habilmente esquadrinhados por Luiz Sérgio Duarte, professor de teoria e metodologia da história na Universidade Federal de Goiás, na breve apresentação e respectiva tradução, embora deva ser dito que aquele historiador carece de maiores estudos e traduções, pois, representa uma verdadeira inflexão nas ciências históricas alemãs e na própria trajetória do historicismo germânico, rumo a uma nova fase. Como aponta Duarte, Lamprecht é um dos pivôs do Methodenstreit e eu diria que, ao lado de Dilthey, abriu uma nova seara para os estudos sociais e culturais, aproximando-os da psicologia social e promovendo uma interdisciplinaridade mais radical a fim de propor seu conceito de épocas culturais.
Novamente Estevão Martins aparece apresentando George Macaulay Trevelyan (1876-1962) e o seu Viés na história publicado em 1947 e traduzido por Pedro Caldas. E mais uma vez ressurge, tal como preconizava aquele influente historiador britânico, a imagem da historiografia como uma variante da arte literária, visto reivindicar a satisfação do universo de leitores, especialistas ou não, e alimentar sua desconfiança dos historiadores científicos. À sentença de morte declarada por Lord Acton em 1903, quando diz que a história não é um ramo da literatura, muito semelhante aos esforços de Fustel de Coulanges na França décadas antes, Trevelyan reivindica um retorno ao romantismo e “opera com uma noção restritiva de ciência” (MARTINS 2010, p. 135). Se a história não podia pleitear a certeza tal qual as ciências naturais, seria o caso, concorda Martins, de extrair disso a sua força. Não por acaso, definirá o viés como sendo “toda interpretação pessoal de eventos históricos que não é aceitável por toda a raça humana” (MARTINS 2010, p. 139) e afirmará que “os argumentos de Carlyle têm peso não por causa de seu viés, mas apesar dele” graças à sua à genialidade como escritor (MARTINS 2010, p. 142). Neste texto seminal, Trevelyan discute ainda temas candentes da reflexão historiográfica relacionados à objetividade, à imparcialidade, relacionando-os concretamente a grandes escritores como Gibbon, Burke, Tocqueville, Taine, Treitschke e Mommsen. Sobre estes últimos sentencia: “em vão vocês tentarão encontrar tal imparcialidade em Treitschke e Mommsen”. Ou ainda sua consideração quanto às funções do historiador: a) revelar as consequências e permanências das ações do passado no presente e b) identificar sentimentos e interesses humanos no passado, ou seja, compreender como as pessoas viviam e sentiam. De modo mais categórico: “compreender o passado em todos os seus lados” (MARTINS 2010, p. 153).
Em seguida, Cássio da Silva Fernandes, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, traduz e apresenta a introdução da História da cultura grega publicado em 1872 por Jacob Burckhardt (1818-1897), historiador que teve como aluno o futuro filósofo Friedrich Nietzsche e, em seguida a aula inaugural de seu curso de história da arte na Universidade da Basileia intitulada Sobre a história da arte como objeto de uma cátedra acadêmica publicada em 1874.
Ocioso dizer que Fernandes é o maior conhecedor da obra de Burckhardt no Brasil.7 O esforço distintivo para a narrativa histórica e sobre o melhor modo de empreender a exposição do que foi pesquisado é explicitada da seguinte maneira: Fazer a história dos modos de pensar e das concepções dos gregos é indagar quais forças vitais, construtivas e destrutivas, agem na vida grega.
Então, não em forma narrativa, porém muito mais em forma histórica – já que sua história constitui uma parte da história universal […]. O indivíduo particular e o assim chamado acontecimento serão citados aqui apenas como testemunho do universal, não por si mesmos; porque a realidade de fato que procuramos é constituída pelos modos de pensar, também estes são fatos históricos (MARTINS 2010, p. 168).
Preconizando a necessidade da erudição, de leitura dos clássicos e sem descuidar de outros tipos de fontes documentais, Burckhardt convida a discutir a relação entre particularidade e universalidade, pensando a história da civilização grega como uma seção da história da humanidade (MARTINS 2010, p. 173).
Do mesmo modo, pensa a arte como um objeto específico a ser pesquisado pelos historiadores historicamente e não apenas esteticamente.
Ponto alto da obra é o capítulo sobre Leopold von Ranke (1795-1886) de Sérgio da Mata, bem como sua tradução d´O conceito de história universal de 1831. Ali não somente encontramos o maior historiador do século XIX como também uma das melhores análises já feitas a seu respeito, desde a célebre introdução de Sérgio Buarque de Holanda (1981). Com precisão, Sérgio da Mata esmiúça e investiga aspectos centrais do célebre historiador germânico, desmistificando o mito historiográfico construído em torno de sua figura, indicando o percurso de sua formação, bem como suas principais contribuições à ciência histórica contemporânea. Dada a erudição do ensaio, por sinal o mais extenso na coletânea, seriadifícil sintetizar aqui todas suas virtudes, no entanto, forçoso é sublinhar o modo como discute o suposto apartidarismo rankeano, o problema da objetividade, bem como sua complexa faceta política como editor da Revista Histórico-Política entre 1832 e 1836. No texto traduzido, vemos uma lúcida análise de Ranke sobre o ofício do historiador e a operação historiográfica, inscrita criticamente entre o trabalho com as fontes e a exposição narrativa, entre a filosofia e a poesia, afinal “a História não é uma coisa nem outra”, dirá ele, “ela promove a síntese das forças espirituais atuantes na poesia e na filosofia sob a condição de que tal síntese passe a orientar-se menos pelo ideal – com o qual ambas se ocupam – que pelo real” (MARTINS 2010, p. 202).
Fechando a obra em grande estilo há ainda a análise de Valdei Araújo sobre Buckle (1822-1862) e sua tradução da Introdução geral à história da civilização na Inglaterra de 1857, que, de maneira semelhante a Sérgio da Mata no capítulo sobre Ranke, procura romper com o “j’accuse” de Pierre Bordieu em relação à ilusão biográfica (BORDIEU 2005). Ali vida e obra preservam liames, indicam momentos de pertenças e conexões, pois, nas palavras de Valdei Araújo “as explicações de Buckle permanecem no interior do senso comum historiográfico inglês da era vitoriana” (MARTINS 2010, p. 219), embora manifestasse também contrastes. Assim, apesar de compartilhar com a crença excessiva no evolucionismo progressista, no papel modelar da História, ou com o orgulho nacional dos historiadores escoceses, Buckle demonstra sensíveis divergências metodológicas aproximando-se do pensamento de John S. Mill e de Auguste Comte. De maneira arguta, Araújo sublinha a necessidade de uma reavaliação crítica da historiografia oitocentista e de sua heterogeneidade “encoberta por rótulos ingênuos como “tradicional, não crítica ou positivista” (MARTINS 2010, p. 219). E assevera: mesmo esses rótulos, herança de uma história das ideias muito rígida, deveriam ser substituídos por objetos mais capazes de recuperar a complexidade dos fenômenos que neles se escondem, desde a formação de tradições de linguagens político-intelectuais e de conceitos históricosociais até a montagem de instituições e ideologias. Insistir em uma história intelectual internalista e desencarnada pode ser um passatempo louvável, mas pouco contribuirá para a compreensão efetiva da formação de nosso modo de pensar e escrever a história e, por isso, em nossa capacidade de fazê-la avançar (MARTINS 2010).
Penso que essa avaliação resume o tom geral de A história pensada e confirma seu lugar ímpar dentre os livros recentemente publicados a respeito, ao trazer a lume um momento decisivo da historiografia ocidental, localizando autores e problemas fundamentais que foram transformados em clássicos pela tradição, ao mesmo tempo em que nos convida a problematizá-los e questioná- -los, mobilizando e desmobilizando sua força canônica nos labirintos da temporalidade e de sua própria historicidade, a fim de rever rótulos, mitos historiográficos e sugerir novas linhas interpretativas.
Referências
ARISTÓTELES. A poética. In:_____. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1989.
BENTIVOGLIO, J. A Historische Zeitschrift e a historiografia alemã do século XIX. História da Historiografia, n.6, p.81-101, 2011.
_________________. Apresentação. In: DROYSEN, Johann G. Manual de teoria da história. Trad. Sara Baldus e Julio Bentivoglio. Petrópolis: Vozes, 2009.
BLOOM, Harold. O cânone ocidental: os livros e a escola do tempo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
BOURDIEU, Pierre. A Ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes; PORTELLI, Alessandro. Usos e abusos da história oral. 6ª ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2005.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
CERTEAU, Michel de. A operação historiográfica. In:_____. A escrita da história.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
CESAR, Temístocles. Quando um manuscrito torna-se fonte histórica: as marcas da verdade no relato de Gabriel Soares de Souza (1587). Ensaio sobre uma operação historiográfica. História em Revista, v.6, p.37-58, 2000.
DILTHEY, Wilhelm. Introdução às ciências humanas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
FERNANDES, C. S. Biografia e autobiografia na civilização do renascimento na Itália de Jacob Burckhardt. História, questões e debates, v.1, p.155- 198, 2004.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
GARDINER, Patrick. Teorias da história. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004.
HARTOG, François. Regimes d’historicité: presentisme et experience du temps. Paris: Editions du Seuil, 2003.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Ranke. São Paulo: Ática, 1981.
LANGLOIS, C.; SEIGNOBOS, C. Introdução aos estudos históricos. São Paulo: Renascença, 1946.
LUCIANO DE SAMÓSATA. Como se deve escrever a história. Belo Horizonte: Tessitura, 2009.
MALERBA, Jurandir. Lições de história. Rio de Janeiro: Porto Alegre: FGV, Editora PUC-RS, 2010.
MARTINS, Estevão de Rezende. A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX. São Paulo: Contexto, 2010.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tomo I. Campinas: Papirus, 1994.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Teoria da história. São Paulo: Cultrix, 1976.
STERN, Fritz. The varieties of history. New York: Vintage Books, 1973.
WHITE, Hayden. O texto histórico como artefato literário. In:_____. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: Edusp, 1994.
Notas
1 A referência explícita aqui é Hayden White (2004), ao compreender as narrativas históricas como artefatos literários, que podem ser examinadas em sua forma literária, através das modalidades de urdidura de enredo, segundo princípios estilísticos e à luz das figuras de linguagem.
2 Em seguida acompanhada pela publicação de outra coletânea também obrigatória: Lições de história de Jurandir Malerba (2010).
3 Alguns textos começam a ser vistos como modelos e consagram obras de alguns historiadores como referenciais. Naquele momento surgem também as revistas de história como mais um importante instrumento de institucionalização do campo e, consequentemente, das escolas históricas.4 Esse é o caso da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro criada em 1839, da Historische Zeitschrift de 1859, da Revue Historique de 1876 ou da American Historical Review de 1883, dentre outras. São essas revistas que irão consagrar 3 A esse respeito são exemplares as contribuições de Michel de Certeau (2002) e de François Hartog (2003), pensando o aspecto disciplinar em torno da escrita da história.
4 Em que pese a dificuldade de localizar escolas e delimitar seus integrantes a partir da criação e publicação em periódicos, ver a tentativa que fiz em relação à Historische Zeitschrift e a historiografia alemã no século XIX (BENTIVOGLIO 2011).
5 Tal como demonstra Temístocles Cezar (2000) em artigo recente.
6 Trata-se do muito citado, mas pouco lido: Introdução aos estudos históricos.
7 Àqueles que desejam iniciar-se naquele historiador, recomendo o texto pontual publicado em História: questões e debates (FERNANDES 2004).
Julio Bentivoglio – Professor adjunto Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: [email protected] Avenida Fernando Ferrari, 514 29075-910 – Vitória – ES Brasil.
Estudos de Historiografia Brasileira | Lucia Maria Bastos Pereira Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães
Estudos de Historiografia Brasileira revela o sentido histórico e plural da produção historiográfica no Brasil. Trata-se de uma competente avaliação de percursos, teorias, métodos e autores que, no conjunto, fornece um panorama variado sobre as nossas formas de interrogar as relações dos homens no tempo.
A coletânea, afinal, resulta do I Seminário Nacional da História da Historiografia Brasileira, realizado no IFCH/UERJ em 2008. Neste evento, ficou claro aos participantes que as reflexões sobre a temática cresceram muito nos últimos anos, e que, além disso, fazem parte de um campo de conhecimento específico: a história da História. O livro – organizado por Lucia Maria Bastos Pereira das Neves, (PUC-RJ), Lucia Maria Paschoal Guimarães (UERJ), Marcia de Almeida Gonçalves (UERJ/PUC-RJ) e Rebeca Gontijo (UFRJ) – traduz, portanto, um diálogo instigante entre historiadores de várias gerações e quadrantes brasileiros que se dedicam a pensar a história de seu próprio ofício. Leia Mais
Capítulos de História: o trabalho com fontes / Marcela L. Guimarães
Verificamos, nos últimos anos, um notável crescimento da produção acadêmica brasileira que se dedica ao estudo da teoria da história, a saber, como devemos pensar e escrever sobre os acontecimentos do passado. De fato, nossa disciplina possui a qualidade da renovação: teorias, metodologias e técnicas diferentes estão sempre surgindo, tendo em vista que cada novo momento histórico ocasiona uma nova dinâmica no campo intelectual. No entanto, notamos que grande parte desses trabalhos apresentam uma narrativa densa e uma linguagem excessivamente técnica, o que acaba restringindo o público leitor de tais obras. Dessa forma, muitos estudantes e professores, que não sejam propriamente dito “especialistas” na área, veem-se privados de grande parte desse importante conhecimento à disciplina histórica. Porém, interessantes inovações no campo da escrita estão surgindo e alterando gradualmente esse panorama. Uma obra que, nesse sentido, contribui para alargar o campo de recepção da teoria da historiografia, mantendo o nível de excelência da escrita e pensamento acadêmicos, é Capítulos de História: o trabalho com fontes (2012), de Marcella Lopes Guimarães. Graduada e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, a autora apresenta, ao longo dos cinco capítulos de sua obra, uma série de orientações, do ponto de vista teórico e metodológico, para aqueles que desejam analisar fontes e iniciar uma pesquisa histórica.
O capítulo inicial da obra intitula-se Do Livro de cozinha da infanta D. Maria de Portugal às receitas eletrônicas: o sabor e saber no tempo, momento em que a autora ressalta o fato da cultura alimentar de uma época ser um importante objeto de investigação para os historiadores, pois é um indicio revelador dos costumes, práticas e preferências dos homens e mulheres do passado. No sentido de exemplificar tal questão, Guimarães recorre a uma documentação do século XVI, o Livro de cozinha da infanta D. Maria de Portugal, apontando que os ingredientes e temperos de tais receitas podem ser considerados indicativos dos sabores buscados pela sociedade daquela época. Como um dos seus exemplos, a autora aponta que, na receita da “Galinha Mourisca”, presente no livro da referida infanta “(…) sobressaem os temperos, em especial a hortelã, bastante apreciada entre os muçulmanos” (GUIMARÃES, 2012, p.28). Paralelamente à sua observação do passado, a autora provoca o leitor a avaliar os gostos e as sensações do seu próprio presente, o qual se faz marcar de modo intenso pela cultura alimentar do fast /slow food.
O capítulo seguinte, O que revelam nossos álbuns de família?, instiga o leitor a observar atentamente as fotografias que possui em casa, as quais devem ser consideradas também reveladoras fontes históricas. Para Guimarães, os registros fotográficos (e as artes visuais) imprimem a passagem do tempo e podem assinalar o fluxo de mudanças nos comportamentos e ações das pessoas; pois, para a autora, “Os primeiros fotógrafos tiveram de confrontar desafios científicos dos quais hoje estamos libertos” (GUIMARÃES, 2012, p.49). Como exemplo, a autora apresenta uma série de fotos, dentre as quais está o registro da neve em Curitiba, em 1975 – um acontecimento singular.
No terceiro capítulo da obra, Crônicas de jornal e crônicas régias: a transformação de um gênero histórico, Guimarães coloca em seu foco de análise o modelo narrativo cronístico. Em sua reflexão, a autora volta-se para a Idade Média com o intuito de apontar a transformação que as crônicas literárias atuais demonstram em relação às crônicas históricas medievais. Como exemplo do passado, Guimarães apresenta uma crônica composta no século XIV intitulada Crónica del rey D. Pedro y del rey D. Henrique su hermano hijos del rey D. Alfonso onceno, escrita por Pero Lopez de Ayala (1332-1407). Uma obra como essa, cuja característica principal era a narrativa organizada por datas, deve ser vista, segundo a autora, como um importante resquício para se analisar as atitudes mentais do passado. Ora, para Guimarães, o homem é o espectador das transformações históricas: “É irresistível muitas vezes apontar para o que nos aproxima, para as continuidades e para as analogias que provariam que o homem é o mesmo, no caso da crônica, o narrador como espectador do mundo” (GUIMARÃES, 2012, p.85).
O caráter interdisciplinar atribuído pela autora a sua obra está claramente presente no quarto capítulo, História e Literatura: um debate desde Aristóteles, no qual se faz indicar como a História e a Literatura travam um embate entre o verdadeiro e o verossímil (possível). Para essa discussão, Guimarães tem por apoio a obra Arte Poética, de Aristóteles, autor que atribui uma perspectiva universal para a Literatura e particular à História. Guimarães demonstra que a escrita historiográfica modificou-se sensivelmente ao longo do tempo – de Heródoto até os dias de hoje -, e que nela podemos perceber uma vinculação direta para com a Literatura. Conforme suas próprias palavras, “A Literatura exercita possibilidades, como previra o estagirita” (GUIMARÃES, 2012, p.119). Como exemplo para a discussão dessa questão, a autora apresenta uma reflexão tendo por base o livro do escritor português José Saramago, História do cerco de Lisboa, de 1989, o qual possui duas partes definidas: a histórica e a fictícia. Com relação a essa obra de Saramago, Guimarães ressalta justamente a contribuição da ação literária no sentido de estimular a problematização da História.
No quinto e último capítulo da obra, Notas sobre possibilidades de trabalho com fontes não escritas, Guimarães ressalta que a investigação histórica, em sua escolha documental, deve continuar cada vez mais se utilizando da cultura material na busca de informações sobre o passado. De fato, Guimarães chama a nossa atenção para a grande quantidade de fontes materiais que temos à nossa volta, espalhadas por nossos centros urbanos. Museus, praças, monumentos, prédios históricos são locais que, por sua historicidade, devem ser frequentados e analisados pelo historiador. Como exemplos nesse sentido, Guimarães traz imagens do Alcácer de Sevilha e da Mesquita Catedral de Córdoba (arquiteturas situadas na atual Espanha), monumentos que, por sua beleza, suscitam nosso interesse e estimulam nosso desejo pelo conhecimento do passado. Portanto, para a autora, “Inúmeras são hoje as possibilidades de trabalho histórico quando convocamos a cultura material, ou seja, quando convocamos os vestígios materiais, concretos, com os quais os grupos humanos fizeram sua vida” (GUIMARÃES, 2012, p.143).
A leitura de Capítulos de História: o trabalho com fontes, competente trabalho da historiadora Marcella Lopes Guimarães, é uma experiência que instiga o público leitor a querer investigar sobre o passado, uma tarefa que se torna possível graças ao recurso às diversas categorias de fontes históricas que dispomos perto de nós: seja dentro de casa (utensílios/livros antigos e álbuns de fotografia da família) ou no espaço público de nossa cidade (museus e monumentos). Guimarães realiza o paralelo passado/presente ao longo de toda sua obra, demonstrando que a fonte motivadora para o estudo do historiador são as questões de seu próprio tempo, seguindo, dessa forma, a importante perspectiva de Marc Bloch. Todas as ideias da autora são apresentadas em uma narrativa muito agradável; ademais, no canto lateral das páginas, foram colocados pequenos textos explanativos sobre determinados termos ou acontecimentos/pessoas que foram mencionados. Nesse sentido, a obra ganha em valor didático. E é provavelmente pensando nisso que a autora apresenta, ao final de cada capítulo, sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelos professores de História junto aos seus alunos. Portanto, para todos aqueles que demonstram interesse pela investigação e conhecimento do presente e do passado, acadêmicos ou não, a obra de Marcella Lopes Guimarães é uma considerável recomendação, pois ela cumpre muito bem com seu papel de estimular a crítica e a reflexão no público leitor da atualidade.
Elaine Cristina Senko – Doutoranda PPGH-PR. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: [email protected].
GUIMARÃES, Marcella Lopes. Capítulos de História: o trabalho com fontes. Curitiba: Aymará Educação, 2012. p.175. Resenha de: SENKO, Elaine Cristina. Reflexões sobre a Escrita, Metodologia e Teoria da História. Outros Tempos, São Luís, v.9, n.14, p.240-243, 2012. Acessar publicação original. [IF].
Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857) | Manoel Luiz Salgado Guimarães
O livro de Manoel Luiz Salgado Guimarães, Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857), [1] me fez reviver, pelo que recordo, a primeira vez em que a História me chamou atenção: uma visita ao Museu Histórico Nacional, no começo da década de 1970. Lembro ter notado a convergência entre o que aprendia nos livros didáticos, nas revistas ilustradas, nas festas cívicas e na narrativa das professoras e o que via no Museu: uma história de grandes homens que superavam as limitações de seu tempo e o moldavam à sua vontade. O livro de Manoel Guimarães esclarece as origens da cultura histórica que engendrou a constatação feita por mim, naquela visita.
Ao desvendar as raízes da historiografia brasileira, Manoel Guimarães aponta os signos que a demarcaram desde o início. Essa, desde onde percebo, é uma contribuição importante e oportuna, no momento em que a formação do historiador passa por uma inflexão decisiva e o seu mais significante campo de atuação vive uma crise surda. A distinção dos cursos de bacharelado e licenciatura e os questionamentos sobre a importância da área de História na Educação Básica reeditam questões análogas àquelas presentes na origem da disciplina no Brasil.
O livro abarca os primeiros vinte anos de atuação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Nesse período, Manoel Guimarães identifica o “processo de promoção da nação brasileira”, quando os estudos históricos buscaram atender aos objetivos de consolidação do Império e de formação da nação. Daí terem assumido importância política, a qual condicionou os seus primeiros passos e lhes delegou algumas de suas características mais duradouras.
A análise encaminha as conexões havidas entre os objetivos políticos e ideológicos do Império e a escrita produzida pelo IHGB. Identifico, nela, três movimentos. Primeiramente, as questões que importavam ao recém-constituído Império do Brasil: o contexto geopolítico no qual o país estava inserido; as relações entre as diversas regiões do Império; o perfil populacional, com imensas parcelas da população consideradas impróprias, diante do modelo de nação almejado. Em seguida, o perfil dos intelectuais ligados ao instituto. Em que pesem as diferenças de origem social, tinham em comum a formação – a Universidade de Coimbra – e a carreira – marcadamente dependente das oportunidades abertas pelo serviço público. Finalmente, a produção do IHGB. A questão indígena, o reconhecimento do território e os fatos históricos regionais ocuparam grande parte da produção da revista trimestral do instituto.
Os três movimentos sustentam um exame minucioso da cultura histórica que deu origem à historiografia brasileira. A análise que deles resulta desvenda os vínculos que ligavam o IHGB ao Estado imperial, tanto do ponto de vista programático (dos objetivos do instituto) quanto do ponto de vista operacional (a sua manutenção). Ela estabelece a identificação do instituto brasileiro com o modelo francês no qual se pautava. Ela esquadrinha a produção de seu sócio mais importante, Francisco Adolfo de Varnhagen, percebido como o formulador “da base da nacionalidade brasileira” a partir da perspectiva da elite imperial.
Trata-se de uma história da historiografia brasileira, demarcada pela indicação do significado assumido por ela, em meados do século XIX: para os sócios do instituto, a História constituía uma instância política – tanto de seu aprendizado, quando do seu exercício. Nesse sentido é que Manoel Guimarães encaminha a visão de história compartilhada pelos homens do instituto: uma história que se pretendia um manancial de exemplos e lições para os governos e comprometida com o progresso, desde certa perspectiva. Tal visão sustentou o caráter civilizador da escrita de uma História do Brasil, pelo IHGB, concretizado, sobretudo, pela consolidação de uma narrativa histórica que integrava os diversos elementos da população em acordo com uma ordenação que designasse o lugar de cada um, segundo uma hierarquia bem definida.
Da consideração da obra de Varnhagen, para quem a herança europeia deveria constituir a matriz da nacionalidade, emerge o argumento central do livro. A escrita da história do IHGB, demarcada pelos compromissos políticos com o Império, elegeu o Estado como principal agente, como “o motor da vida social”, instituindo um ideal de nacionalidade profundamente dependente dos interesses da classe dirigente e por ela demarcado. Da mesma forma, ela pretendeu “gerar sentimentos condicionadores de uma comunidade como passo relevante para o surgimento da nação brasileira” (p.229-258). A história formulada a partir desses princípios acentuava a participação dos colonos brancos no passado e encaminhava a sua liderança no presente e no futuro. Ela orientava uma visão do passado que delegava para as margens imensas parcelas da população brasileira.
A reflexão presente em Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857), desde a publicação de seu resumo, deu azo a diversos estudos sobre a trajetória da disciplina, conforme apontam Paulo Knauss e Temístocles Cézar.[2 ]Essa, porém, não é sua única contribuição. Ela nos convida a refletir, também, sobre o quanto aquelas raízes permanecem latentes na cultura histórica, especialmente aquela difundida pelo saber histórico escolar. Esse, me parece, é um desafio importante que deriva da obra de Manoel Luiz Salgado Guimarães.
A remissão inicial à visita ao Museu Histórico Nacional e a relação que estabeleci, quando criança, entre o seu acervo e a narrativa que a disciplina História me apresentava não é fortuita. Ela ilustra a permanência daquele signo inicial que demarcou a historiografia brasileira e, sobretudo, a memória histórica. Manoel Guimarães deixa claro que a historiografia brasileira nasceu livre dos vínculos acadêmicos e em estreita relação com os imperativos políticos. Essa condição inicial foi decisiva para a produção subsequente, mesmo após a emergência de uma historiografia abalizada pelos ditames acadêmicos, determinando os rumos e usos da História entre nós. É certo que, desde a década de 1930, a historiografia problematiza tal herança, mas é igualmente certo que se a historiografia deixou de cumprir aquela função inicial e traçou outros rumos para si, o Ensino de História ainda se vê às voltas com ela.
Ainda na década de 1970 e na seguinte, os historiadores que refletiam sobre o Ensino de História assumiram um novo compromisso: formar o cidadão – um objetivo relacionado aos ideais democráticos que lutavam para afirmar-se ao longo e ao final da Ditadura Militar. Desde então, ‘formar o cidadão crítico’ tem se constituído no apanágio do Ensino de História. A partir do que pontua a reflexão de Manoel Guimarães, poder-se-ia argumentar que a matriz inicial não foi superada, mas substituída.[3] Não obstante, ela provoca a reflexão sobre o estatuto recentemente proposto e, principalmente, sobre a função e a importância do Ensino de História na Educação Básica, sua relação com a historiografia e seu lugar na constituição da memória histórica do Brasil de hoje.
Por mais de século e meio, os professores de História foram vistos (e se viram, também) como os responsáveis por transmitir a narrativa que inseria crianças e adolescentes no universo do qual faziam parte. Mesmo diante das críticas formuladas nas décadas de 1970 e 1980, essa responsabilidade permaneceu inalterada. Grande parte das aulas de história configura narrativas sobre o passado brasileiro e ocidental, ainda de uma perspectiva eurocêntrica – resultado, também, da matriz dos cursos de formação de professores. Dois fatores provocam a alteração desse quadro, desde fora, e colocam em questão a função da disciplina História em sala de aula: em primeiro lugar, a emergência de outros espaços a partir dos quais a memória histórica se constitui; em segundo lugar, a inclusão de novos agentes na narrativa sobre a formação do Brasil (refiro-me à inclusão da História da África, da Cultura Afro-brasileira e da História Indígena, na Educação Básica).
O livro de Manoel Luiz Salgado Guimarães sinaliza os caminhos a serem percorridos pelas reflexões que pretendam elucidar a trajetória da disciplina. Ele permite, portanto, entrever as questões que devem ser discutidas no que se refere à dimensão que incorpora e exige a atuação de um número imenso de historiadores: a Educação Básica. Desde onde falo, percebo três linhas de investigação necessariamente interligadas: a reflexão sobre a trajetória dos cursos de formação de professores em História – uma História da Formação; a reflexão sobre a prática docente em História – uma História do Ensino de História; e a reflexão sobre o estatuto do ensino de história na Educação Básica – uma História da Cultura Histórica Escolar.
Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857) nasceu clássico. Ele não somente demarca uma periodização para a História da Historiografia, indicando o significado assumido por ela em dado momento, como inicia um campo de estudos. Isso já seria suficiente para torná-lo obra obrigatória. Mas, além de soberbamente escrito (o que acrescenta prazer à leitura), seu brilhantismo decorre das questões que suscita não apenas sobre o passado da disciplina, mas sobre seu presente e seu futuro. Ao desvendar as origens da historiografia brasileira, ele nos convida a pensar os percursos traçados por ela e seus desdobramentos. Neste momento, segundo me parece, esse convite deve ser aceito, de modo a refletir sobre seus rumos. Há que se discutir qual o lugar da História ensinada, qual a formação engendrada por ela, que compromissos lhe são pertinentes. Nosso agradecimento ao saudoso historiador pelo ensinamento e pela provocação. Boa leitura a todos!
Notas
1 Originalmente uma tese de doutoramento defendida em 1987 na Universidade Livre de Berlim, sob a orientação do professor Hagen Schulze. Desde 1988, um resumo da tese orienta um sem-número de reflexões sobre o período: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: FGV, n.1, p.5-27, 1988.
2 Ambos assinam o belíssimo ensaio que apresenta a obra: KNAUSS, Paulo; CEZAR, Temístocles. O historiador viajante: itinerário do Rio de Janeiro a Jerusalém (Prefácio). In: Historiografia e Nação no Brasil: 1838-1857. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 2011. p.7-21. Acrescento ao rol elaborado por eles as seguintes obras: D’INCAO, M. A. História e ideal: ensaios sobre Caio Prado Jr. São Paulo: Brasiliense; Ed. Unesp, 1989; SAMARA, Eni de Mesquita; SOIHET, Rachel; MATOS, Maria Izilda S. de. Gênero em debate: trajetórias e perspectivas na historiografia contemporânea. São Paulo: Educ, 1997; FREITAS, Marcos Cézar de (Org.) Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2001; SILVA, Rogério Forastieri da. História da historiografia: capítulos para uma história das histórias da historiografia. Bauru: Edusc, 2001; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira; GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal; GONÇALVES, Márcia de Almeida; GONTIJO, Rebeca. Estudos de historiografia brasileira. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2011.
3 Sobre isso ver COELHO, Mauro Cezar. A história, o índio e o livro didático: apontamentos para uma reflexão sobre o saber histórico escolar. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luís; MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Org.) A história na escola: autores, livros e leituras. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. p.263-280.
Mauro Cezar Coelho – Faculdade de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: [email protected]
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857). Trad. Paulo Knauss e Ina de Mendonça. Rio de Janeiro: Editora Uerj, 2011. Resenha de: COELHO, Mauro Cezar. Historiografia e Nação no Brasil – um clássico e suas possibilidades, da gênese da historiografia ao lugar da História Ensinada nos dias de hoje. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.1, p. 329-333, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
MAYNARD Dilton Cândido Santos (Aut), Escritos sobre história e internet (T), Fapitec (E), Multifoco (E), LUCCHESI Anita (Res), Revista História Hoje (RHH), Internet, Séc. 20-21
Uma das mais belas apresentações de livros que já li começava assim: “Apresentar um livro é fazê-lo presente”. Ora, mas não é óbvio? Contudo, continua argutamente o autor: “Mas, qual poderia ser seu presente? O da escritura, que já não é, ou o da leitura, que ainda não é?”. Repito as palavras e questionamentos de Jorge Larrosa1 pensando na velocidade com que se transformam as paisagens da seara em que Dilton Maynard decidiu se enveredar ao eleger como tema central de seu livro as relações entre história e internet.
Sendo assim, a obra Escritos sobre história e internet chama a atenção por um particular interesse pelo tema dos ambientes telemáticos e provoca, em virtude disso, certo conforto antecipado em, ao menos, podermos esperar que sua leitura abrace as discussões sobre o elemento digital e suas implicações para o nosso métier, historicamente analógico e papirofílico. Assim, recomendo o livro desejando que as presenças que dele fizerem, consoantes ou dissonantes à minha, venham incrementar o debate acerca deste Novo Mundo para onde as agitadas águas do ciberespaço nos levam. Por enquanto navegamos à deriva.
O breve mas consistente volume de Maynard se apresenta nos moldes de um pequeno códex, composto por quatro artigos que foram escritos em momentos distintos e posteriormente linkados uns aos outros sob a tag dos problemas que a internet traz para o dia a dia da Oficina da História. Decerto o livro não pretende esgotar o assunto, mas sim, apresentar reflexões e propor questionamentos de caráter introdutório que possam, em um horizonte augurável, ser desdobrados mais à frente por outros pesquisadores. Mesmo porque a publicação é uma cápsula de perguntas, um convite a novas investigações sobre a internet e através dela. Aliás, a grande pergunta do livro talvez seja justamente aquela não dita, mas todo o tempo presente no background dessa leitura: “Afinal, por que não trabalhar com internet?”.
Para evidenciar como a internet pode ser um objeto-problema e também uma ferramenta-problema para os historiadores do nosso século, Maynard primeiro nos apresenta o que é essa tal Rede Mundial de Computadores, para depois trazer alguns casos de estudos resultantes de sua experiência com a internet nos últimos anos e pesquisas que vem realizando nessa área.
No capítulo de abertura, o autor esboça uma breve história da internet. Descreve a trajetória dessa inovadora tecnologia, pontuando, sobretudo, quais foram as circunstâncias históricas que favoreceram seu surgimento. Apresenta a emergência da internet como um produto do seu tempo, de demandas sociais específicas e condições propícias para o desenvolvimento de seu caráter aberto, descentralizado e colaborativo. Características que se acentuaram principalmente a partir da década de 1990, depois que a rede se libertou dos grilhões de sua missão como tecnologia militar do Departamento de Defesa norte-americano e começou a ser viabilizada também para fins comerciais.
Segundo Maynard, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e orientador de diversos trabalhos sobre cibercultura, intolerância e extrema-direita na internet, teriam sido o cenário bipolarizado da Guerra Fria e, concomitantemente, o ambiente descentralizado dos protestos pacifistas e contraculturais das décadas de 1960 e 1970 a proporcionarem as condições ideais para o surgimento e desenvolvimento da ‘rede das redes’. Para o autor, “a verdadeira questão não é ser contra ou a favor da internet. O importante é compreender as suas mudanças qualitativas” (p.42).
É nessa esteira que o autor segue apresentando outros três principais filões por onde tem espreitado as implicações da internet nas dinâmicas sociais do Tempo Presente e, consequentemente, os desafios que tal panorama vem apresentando para a história. Na realidade, os capítulos centrais do livro dialogam todo tempo entre si. Isto porque ambos vão tratar em maior ou menor escala das apropriações que grupos de extrema-direita têm feito da internet. Suas preocupações referem-se ao modo como, cada vez mais, a internet se apresenta como “uma espécie de novo oráculo, como um espaço autônomo do conhecimento” (p.43). Do deslumbramento com essa realidade, e do fato de a internet ser uma espécie de zona neutra, território sem lei, ele alerta que decorrem graves perigos. Um deles, senão o principal, é o tema da engajada exposição do autor no Capítulo 2: a facilidade de produção de suportes pedagógicos na rede mundial de computadores e sua apropriação por grupos ou indivíduos de extrema-direita.
Para lidar com história em meio à superinformação característica da world wide web, em plena ‘Era Google’, tomando emprestada a expressão de Carlo Ginzburg,2 toda cautela é pouca, pois, como nos diz o historiador italiano, “No presente eletrônico o passado se dissolve”. Como assim? O ‘dissolver-se’ de Ginzburg pode ser lido em muitas direções, uma das quais é a que diz respeito aos dilemas da memória e do esquecimento na rede, como e o que preservar dos arquivos digitais neste século XXI. Entretanto, a preocupação do nosso autor é mais específica. A ‘dissolução’ do passado, para Maynard, está nas possíveis manipulações da história que podem ser feitas na internet. Uma das evidências desse problema, para ele, são os espaços virtuais destinados a servir de suportes pedagógicos para projetos de doutrinação, alguns deles comprometidos, por exemplo, com retóricas revisionistas. Tais iniciativas pretendem fazer reconstruções historiográficas, tentam estabelecer falsificações e forjar narrativas que classifiquem, por exemplo, as memórias sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial como meras conspirações. Ele chama a atenção:
Em inversões interpretativas, os algozes são vítimas, qualquer tipo de documentação que evidencie tortura, prisão, assassinatos e a racionalização das mortes em campos de concentração e câmaras de gás é descartada como ‘falsificação’ … Em meio a apropriações simbólicas e batalhas da memória, estes portais são exemplos de ferramentas eletrônicas dedicadas a promover uma leitura intolerante da história sob pretensa pátina de luta por liberdade de expressão. (p.45)
Dentre as tentativas de reescrita da história, um dos casos destacados pelo autor é o do portal Metapedia,3 autodenominado ‘enciclopédia alternativa’, que traz, entre outros, verbetes sobre líderes e representantes da extrema- -direita, em que estes são apresentados sem nenhuma menção aos seus xenofobismo ou racismo. Mesmo o führer nazista, Adolf Hitler, é descrito com benevolentes esquecimentos. Fica para a nossa reflexão a importância de um inventário, como esse que empreende Maynard, de ódios e revisionismos soltos pela rede. Se não nos ocuparmos deles, a quem os delegaremos? Às inteligências estatais ou às polícias? Mas, e pela história, quem fará vigília?
Cabe lembrar que essa batalha das memórias e dos lugares de memórias é atualíssima e extrapola as fronteiras do ciberespaço. É importante ressaltar, portanto, que apesar dos limites dessa obra, o esforço que nela se faz para advogar em favor da sistemática investigação histórica do e no ciberespaço, embora se baseie majoritariamente em exemplos e documentações disponíveis na própria rede, guarda estreita relação com a realidade ‘não virtual’.
A intolerância promovida na rede por grupos extremistas como os skinheads, os carecas paulistas e outros, desgraçadamente faz vítimas reais para além dos frios números de audiência que podemos verificar em web-estatísticas. O alcance das páginas de ódio, como o www.radioislam.org, o www.ilduce.net e o www.valhalla88.com, [4] ou ainda o www.libreopinion.com (infelizmente os exemplos são vastos e de várias nacionalidades), é grande. E como lembra o título do terceiro capítulo, esses sites não trabalham isolados, em muitos casos se montam verdadeiras ‘Redes de Intolerância’, com troca de links, apoio ‘cultural’ (pela troca de banners etc.) e mesmo assistência mútua em caso de um site precisar ser hospedado em outra ‘casa’ para poder fugir ao rastreamento da polícia. Organizados e rápidos, eles conseguem escapar mais facilmente das investigações e das consequências, graças à transnacionalidade do mundo virtual, que permite, em certos aspectos, essa “anomia geográfica” (p.103-104), e assim prorrogam indeterminadamente a impunidade dos integrantes desses grupos. O que mais precisamos viver para lembrar o fascismo? Se a resposta for neofascismos, aí vamos nós. Preparem suas mentes, corações e hard disks para o caso de carregamentos muito pesados: xenofobia, machismo, homofobia, misoginia, racismo… eugenias.
Por fim, Maynard nos introduz no fantástico campo do ‘ciberativismo’ ou ‘hacktivismo’. Temas por onde esbarraremos também com os profissionais de Relações Internacionais preocupados com a diplomacia clássica em crise (será?) em tempos daquilo que algumas nações vêm chamando de ‘ciberguerra’ (guerra de informação) ou ainda ciberterrorismo. O autor demonstra como os Estados Unidos se apropriaram dos escândalos midiáticos referentes ao Cablegate [5] para alimentar uma interpretação belicista do momento, condenando as denúncias do Wikileaks e os atos de protestos do grupo de hackers Anonymous em 2010 como terrorismo. Para Maynard, o perigo dessa manipulação de opinião a partir de apropriações políticas do ativismo cibernético é a criação de uma atmosfera promissora para um “indesejável remake dos dias da Guerra Fria” (p.141). A saber, com quais intencionalidades políticas, a troco de que esquecimentos…
Os problemas expostos nesse livro nos remetem a vários estudos sobre história e internet, ou, como já batizaram alguns estudiosos, ‘Historiografia Digital’. Todos, contudo, bastante recentes e também marcados, uns mais, outros menos, por uma levada introdutória, da apresentação de problemas e tímidas formulações de hipóteses, em virtude da relativa novidade do tema.[6] Entretanto, pensando especialmente nas variantes ética, moral e política da história, gostaríamos de fazer referência aqui ao trabalho do historiador francês Denis Rolland, que, assim como Maynard, também entende a internet como uma nova fonte e objeto para a história, inscrita no Tempo Presente e demandando cautelosos e redobrados exames críticos. Para Rolland, na rede, a história assume frequentemente a forma de narrativas de ‘costuras invisíveis’, cujo nível de credibilidade científica é quase sempre desconhecido ou inverificável, o que pode acabar levando a um ‘mal-estar da história’, por ser, muitas vezes, repleta de dissimulações ou amnésias-construtivas, uma “história sem historiador”,[7] exposta, portanto, aos riscos de reconstruções historiográficas tal qual nos adverte Maynard no Capítulo 2 (p.43-66). É por tudo isso que, como afirma o autor já no início do livro, “pesquisar a história da internet, assim como navegar, é preciso” (p.42).
Notas
1. LARROSA, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Trad. Cynthia Farina. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p.7.
2. GINZBURG, Carlo. História na Era Google. Fronteiras do Pensamento, 29 nov. 2010. (Conferência). Disponível em: www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=wSSHNqAbd7E (Vídeo); Acesso: 22 mar. 2012.
3. Página da ‘enciclopédia’ em Português: pt.metapedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal; Acesso em: 23 mar. 2012.
4. Cujo conteúdo hoje se encontra disponível em outro endereço: www.nuevorden.net/portugues/valhalla88.html ; Acesso em: 23 mar. 2012. Anita Lucchesi Revista História Hoje, vol. 1, nº 1 340
5. Termo cunhado pela imprensa mundial para nomear o escândalo gerado pelo site Wikileaks ao divulgar centenas de documentos e telegramas ‘secretos’ de autoridades da diplomacia norte-americana sobre vários países.
6. Para uma apreciação mais detida dos problemas de ordem teórico-metodológica na relação entre história e internet, sob o ponto de vista da Historiografia Digital, ver: COHEN, Daniel J.; ROSENZWEIG, Roy. Digital History: a guide to gathering, preserving, and presenting the past on the web. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006. Disponível em: chnm.gmu.edu/digitalhistory/; Acesso em: 22 mar. 2012; RAGAZZINI, Dario. La storiografia digitale. Torino: UTET Libreria, 2004. Em língua portuguesa, ver: LUCCHESI, Anita. Histórias no ciberespaço: viagens sem mapas, sem referências e sem paradeiros no território incógnito da web. Cadernos do Tempo Presente, ISSN 2179-2143, n.6. Disponível em: www.getempo.org/revistaget.asp?id_edicao=32&id_materia=111; Acesso em: 23 mar. 2012.
7. ROLLAND, Denis. Internet e história do tempo presente: estratégia de memória e mitologias políticas. Revista Tempo, Rio de Janeiro, n.16, p.59-92. jan. 2004. p.2. Disponível em: www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-4.pdf ; Acesso em: 23 mar. 2012.
Anita Lucchesi – Mestranda, Programa de Pós-Graduação em História Comparada, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
MAYNARD, Dilton Cândido Santos. Escritos sobre história e internet. Rio de Janeiro: Fapitec; Multifoco, 2011. Resenha de: LUCCHESI, Anita. Oficina da história no ciberespaço. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.1, p. 335-340, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
SPOSITO Fernanda (Aut), Nem cidadãos/ nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845) (T), Alameda (E), MOREIRA Vânia Maria Losada (Res), Revista História Hoje (RHH), Povos Indígenas, Estado Nacional, Província de São Paulo, América – Brasil, Séc. 19
A temática indígena ainda não entrou de maneira firme na história política do Império. É essa, pelo menos, a impressão deixada por algumas obras coletivas publicadas recentemente. Ao não tratarem dos índios e das nações indígenas, essas historiografias, que se apresentam como visões panorâmicas sobre o século XIX, terminam ajudando a propagar a falsa ideia de que os índios não eram uma preocupação política dos contemporâneos, ou não representavam uma ‘variável’ importante para a análise da experiência histórica brasileira do período. Em Nação e cidadania no Império: novos horizontes, 1 por exemplo, existem 17 capítulos e nenhum deles se dedica aos índios e às suas experiências durante o Oitocentos. O mesmo acontece em Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade, 2 com 23 capítulos, nenhum dos quais enfocando a questão indígena como eixo central da análise. Não é aceitável, contudo, continuar discutindo a formação do Estado, a consolidação do território nacional e a cidadania, durante o Império, sem considerar de maneira clara, direta e corajosa o problema dos índios, das comunidades indígenas já integradas à ordem imperial e das inúmeras nações independentes que, progressivamente, foram conquistadas ao longo do próprio século XIX. A recente publicação de O Brasil Imperial, coleção em três volumes, com 33 capítulos, um deles dedicado aos índios,3 é digna de menção, pois representa um avanço significativo.
Uma questão importante para a compreensão política do Brasil, mas ainda muito negligenciada pela historiografia, é a posição do índio no processo político de organização do Estado nacional durante o Oitocentos. Por isso mesmo, é muito bem-vindo o livro de Fernanda Sposito Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). 4 O livro está dividido em duas partes: na primeira, intitulada “Os índios no Império: política e imaginário”, a autora dedica-se a analisar o indigenismo e a política indigenista imperial, com destaque para o período entre a Independência e a emergência do Segundo Reinado.
Com sólida base empírica, a autora demonstra que, depois da Independência, a monarquia, a escravidão e a convivência com os índios tiveram de ser refundados “em novas bases, no contexto do liberalismo e do modelo constitucional moderno” (p.14). Desse ponto de vista, a questão indígena tornou-se um dos assuntos importantes da pauta política do período e foi “reenquadrada à vista de temas como cidadania, soberania nacional, mão de obra etc.” (p.14). Nessa parte do texto, o objetivo central da autora é o de “perceber como os dirigentes do Estado e da nação em construção elaboraram políticas e pensamentos referentes às comunidades indígenas” (p.257). Para isso, Sposito explorou e percorreu várias searas do debate político sobre os índios, investigando a Assembleia Constituinte de 1823, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, as legislaturas do Senado, a legislação editada sobre os índios, a imprensa etc. O apetite da historiadora pelas fontes históricas é uma das marcas mais salientes de seu trabalho e, sem sombra de dúvidas, uma de suas maiores contribuições.
Na segunda parte, intitulada “No palco das disputas entre paulistas e indígenas”, a autora traça uma história mais social do que política, realizando uma reflexão sobre a expansão das fronteiras da província de São Paulo sobre os territórios dos Kaingang, Xokleng, Guarani e Kaiowa. Explora, portanto, a história das zonas de contato e os conflitos entre ‘índios’ e ‘paulistas’. Também aqui, a autora mobiliza um importante corpo documental sobre a província de São Paulo, fornecendo sólida base empírica à segunda parte de sua reflexão.
A conexão que Fernanda Sposito faz entre as duas partes de seu trabalho é também digna de destaque. Isso ganha especial evidência na discussão que ela realiza sobre a abolição das cartas régias do príncipe regente d. João, que mandavam mover guerras ofensivas contra os índios de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. As cartas régias, publicadas em 1808 e 1809, foram debatidas no Senado em 1830 e revogadas pouco depois, em 1831. De forma muito apurada, Sposito demonstra, por um lado, que aquela legislação joanina ainda estava em vigor na província de São Paulo, onde os moradores se valiam dela para manter índios no cativeiro. Por outro, evidencia que a pauta política nacional movia-se, muitas vezes, em função das injunções regionais. Afinal, foi em razão da intervenção dos dirigentes paulistas que o Senado se viu na contingência de discutir a revogação das guerras e a persistência do cativeiro indígena em certas regiões do Império (p.91).
A pesquisa de Fernanda Sposito amplia o atual debate historiográfico sobre cidadania durante o Oitocentos. É importante aprofundar, por isso mesmo, a reflexão sobre algumas hipóteses e conclusões centrais sustentadas pela autora. Sobre isso, faço duas observações: a primeira diz respeito ao uso do conceito Antigo Sistema Colonial que, ao contrário de ajudar a autora na problematização das fontes, leva-a a desenvolver uma interpretação sobre a transição da política indigenista colonial para a imperial pouco satisfatória. De acordo com Sposito,
A novidade da questão indígena no Estado nacional brasileiro foi que a situação de colonização que caracteriza a relação ente os dois universos ao longo do período colonial não cabia mais no modelo de um Estado moderno. Isso foi colocado desde a época de crise do Antigo Sistema Colonial, através das políticas pombalinas para os indígenas na segunda metade do século XVIII. (p.260)
Do ponto de vista dos índios, a ‘situação de colonização’ não foi superada com a emergência do Estado imperial, pois a sociedade nacional, numa espécie de colonialismo interno, continuou avançando e conquistando os territórios e as populações indígenas. A segunda parte do livro de Sposito é, aliás, um testemunho eloquente sobre isso. A diferenciação que a autora faz entre as políticas indigenistas colonial e nacional não se baseia na análise dos fatos. É antes caudatária de uma avaliação limitada sobre a política portuguesa em relação aos índios, entendida fundamentalmente como uma “política ofensiva de extermínio e escravização” (p.36), temporariamente suspensa durante o regime do Diretório dos Índios, quando prevaleceu a política de incorporação deles na qualidade de vassalos da monarquia portuguesa (p.37). Nem a documentação primária, citada pela própria autora, nem a historiografia mais recente sobre a política indigenista colonial corroboram sua interpretação.5 Afinal, se uma das faces da política indigenista colonial foi, de fato, a guerra, o extermínio e o cativeiro, a outra foi a territorialização6 dos índios por meio dos aldeamentos, transformando-os em súditos e vassalos da Coroa, com uma série de direitos e obrigações.7 Mais ainda, os aldeamentos – nos moldes preconizados por Manoel da Nóbrega e, posteriormente, regulamentados pelo Regimento das Missões de 1686 – e o Diretório pombalino foram as duas experiências coloniais nas quais os políticos e os intelectuais do Império se basearam para pensar e propor uma nova política de Estado para a incorporação dos índios à ordem imperial.8
A segunda e última observação diz respeito a uma das teses centrais do livro, ou seja, a de que o pacto político selado depois da Independência excluiu os índios da sociedade civil e política, porque eles não foram mencionados no texto constitucional (p.78). Assim, entre a Independência e a promulgação do Regulamento de Catequese e Civilização dos Índios, em 1845, “os indígenas não eram reconhecidos como cidadãos e tampouco como brasileiros” (p.258). Ainda segundo a autora, essa exclusão serve para explicar acontecimentos importantes, como a continuidade de ‘práticas coloniais’ no Império, como as guerras e as escravizações.
A ausência de uma definição precisa sobre o estatuto jurídico dos índios ou de um capítulo específico sobre a ‘civilização dos índios bravos’ na Constituição de 1824, tal como queria José Bonifácio e vários constituintes da Assembleia de 1823, não são condições suficientes, contudo, para postular a exclusão dos índios do pacto político imperial. Afinal, a situação jurídica dos índios pode ter ficado incerta e sob disputa, mas isso não significa que eles ficaram de fora do pacto político do período. Além disso, a própria autora demonstra que a demora em se criar uma legislação global sobre como lidar com os índios ‘bravos’ não se deveu à falta de interesse político pela questão, já que existiam diferentes projetos e propostas, mas sim à falta de consenso sobre o assunto (p.259).
Os constituintes de 1823 insistiram no argumento de que existiam no território do Império dois tipos diversos de índios, os ‘bravos’ e os ‘domesticados’, e cada um deles exigia um enfoque político diferente. Em relação aos ‘bravos’, sugeriu-se que eles precisavam ser, primeiro, ‘civilizados’ e integrados à sociedade para, depois, gozarem dos direitos políticos de cidadãos. Quanto aos índios ‘domesticados’, não se disse muito sobre eles na Constituinte. Mas o pouco discutido desenvolveu-se no sentido de considerá-los homens livres e nascidos no território brasileiro, por isso mesmo plenamente capazes de gozarem do título de cidadãos brasileiros. A política indigenista do Primeiro Reinado tampouco autoriza a afirmação de que os índios ficaram de fora do pacto político do período pós-Independência. Apesar de ter permitido bandeiras contra grupos indígenas considerados agressores, também mandou formar aldeamentos para outros considerados ‘selvagens’, mas não inimigos, e tratou como cidadãos certos grupos aldeados e avaliados como suficientemente ‘civilizados’, mandando regê-los segundo as leis ordinárias do Império. Os próprios índios, além disso, apropriaram-se da alcunha de ‘cidadãos brasileiros’ para lutarem por seus interesses, sem que isso soasse como uma reivindicação inapropriada ou extemporânea (Moreira, 2010).
Concluo estas considerações lembrando o que disse o índio Marawê, do Parque Nacional do Xingu. Para ele, a história dos índios se divide em a.B. e d.B., isto é, em “antes e depois do branco”.9 Na longa história indígena d.B., a transição da Colônia para o Império não representou uma ruptura profunda, mas trouxe algumas mudanças significativas que precisam ser, de fato, salientadas. A mais significativa foi, do meu ponto de vista, o crescente desuso de uma perspectiva de cidadania típica do antigo regime, quando ser índio e parte do corpo político e social, na qualidade de vassalo, era situação perfeitamente aceitável e ajustável.10 Em outras palavras, com o aprofundamento do liberalismo e do nacionalismo na ordem social e política do Império, aprofundou-se, também, a política de ‘assimilação’, entendida e praticada com o objetivo de dissolver o índio na sociedade nacional. Desse ângulo, Fernanda Sposito está bastante certa ao afirmar que a expectativa política dominante no período era a de considerar o índio “brasileiro ou, hipoteticamente cidadão, se deixasse, justamente de ser indígena” (p.143). Durante o Império, portanto, um dos desafios da política indígena foi lidar com os processos de cidadanização e nacionalização da política indigenista, que foram especialmente vorazes depois da promulgação da Lei de Terras de 1850, quando se intensificou a liquidação de aldeias e a desamortização das terras indígenas.
Notas
1 CARVALHO, José Murilo de. Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
2 Carvalho, José Murilo de; Neves, Lúcia Maria B. P. (Org.). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
3 SAMPAIO, Patrícia Melo. Política indigenista no Brasil imperial. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial – 1808-1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.175-206.
4 SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012.
5 Perrone-Moisés, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista no período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; Fapesp, 1992. p.115-132.
6 OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. Mana, v.4, n.1, p.47-77, 1998.
7 Almeida, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003.
8 MOREIRA, Vânia Maria Losada. De índio a guarda nacional: cidadania e direitos indígenas no Império (vila de Itaguaí, 1822-1836). Topoi, Rio de Janeiro, v.11, n.21, p.127-142.
9 CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.129.
10 MOREIRA, Vânia Maria Losada. O ofício do historiador e os índios: sobre uma querela no Império. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.30, n.59, 2010, p.53-72.
Vânia Maria Losada Moreira – Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: [email protected]
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012. Resenha de: MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os índios na história política do Império: avanços, resistências e tropeços. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.2, p. 269-274, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
Almeida Maria Regina Celestino de (Aut), Os índios na História do Brasil (T), Editora FGV (E), ALMEIDA NETO Antonio Simplicio de (Res), Revista História Hoje (RHH), Povos Indígenas, Séc. 18-19, América – Brasil
A Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que torna obrigatório o estudo de história e cultura indígenas (além da africana e afro-brasileira) nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado, explicita algumas importantes questões sobre o ensino dessa disciplina escolar. A mais evidente é o fato de não haver esse componente curricular nos cursos de Graduação e Licenciatura em História, salvo raras exceções, o que traz uma série de implicações àqueles professores que desejam cumprir a determinação legal, pois devem suprir essa lacuna na formação pelos mais diversos meios disponíveis. Entre eles, certamente, destaca-se o livro didático – esse ‘produto cultural complexo’, como disse Stray –, que acaba por exercer inusitado e importante papel na formação docente.
Outro aspecto, no entanto, ganha relevância na abordagem dessa temática em sala de aula: o fato de a cultura indígena não ser a dominante em nossa sociedade, tanto que é objeto dessa legislação específica. Assim, é considerada ‘a outra’, diferente, diversa, exótica e estranha, frente à cultura dominante, ocidental, branca, europeia, civilizada, cristã e ‘normal’. Sujeita aos estigmas classificatórios, a cultura desse ‘outro’ será identificada como primitiva, étnica, inferior e atrasada, será entendida como essencialista, ou seja, pura, fixa, imutável e estável, portanto, a-histórica. Dessa forma, o indígena que não se apresenta nesse suposto estado puro será considerado aculturado, não índio, sem identidade e sem tradição, daí os índios serem representados predominantemente como figuras do passado, mortas ou em franco processo de extinção, fadados ao desaparecimento.
Embora não seja destinado especificamente a suprir a demanda desses conteúdos pelos professores da educação básica, o livro Os índios na História do Brasil de Maria Regina Celestino de Almeida apresenta importante e denso panorama da temática, dentro dos limites de um livro de bolso (coleção FGV de bolso, Série História), e bem serviria a esse propósito. Baseia-se na produção historiográfica mais recente, em novas leituras decorrentes de documentos inéditos, novas abordagens fundamentadas em novos conceitos e teorias, bem como em pesquisas interdisciplinares, e começa, justamente, pela complexa discussão sobre a concepção de cultura indígena que acabou por alijar esse grupo social da História.
Desempenhando papéis secundários ou aparecendo na posição de vítimas, aliados ou inimigos, guerreiros ou bárbaros, escravos ou submetidos – nunca sujeitos da ação, uma vez dominados, integrados e aculturados –, desapareciam como índios na escrita histórica e, não à toa, estariam condenados ao desaparecimento também no presente, prognóstico derrubado pelas evidências apontadas pelo censo demográfico do IBGE de 2010, que aponta crescimento de 178% no número de indígenas autodeclarados desde 1991, bem como a existência de 305 etnias e 274 línguas.
O reconhecimento aos povos indígenas do direito de manter sua própria cultura, garantido pela Constituição de 1988, assim como sua maior visibilidade em lutas pela garantia de seus direitos, tiraram esses grupos dos bastidores da história – para usar uma imagem da própria autora –, garantindo-lhes um lugar no palco, despertando o interesse dos historiadores que passaram a percebê-los como sujeitos participando ativamente dos processos históricos. Tal percepção foi ainda favorecida pela imbricação entre história e antropologia na perspectiva de “compreensão da cultura como produto histórico, dinâmico e flexível, formado pela articulação contínua entre tradições e novas experiências dos homens que a vivenciam” (p.22), possibilitando novos entendimentos das ações dos grupos indígenas nos processos em que estavam envolvidos.
Ao discutir hibridação cultural, Canclini afirma que “quando se define uma identidade mediante um processo de abstração de traços (língua, tradições, condutas estereotipadas), frequentemente se tende a desvincular essas práticas da história de misturas em que se formaram”, o que torna impossível para esse antropólogo “falar das identidades como se se tratasse apenas de um conjunto de traços fixos, nem afirmá-las como a essência de uma etnia ou de uma nação”.1 Nesse sentido, Almeida chama nossa atenção para o necessário entendimento das “identidades como construções fluidas e cambiáveis que se constroem por meio de complexos processos de apropriações e ressignificações culturais nas experiências entre grupos e indivíduos que interagem” (p.24), que tornou possível nova mirada dos historiadores sobre a identidade genérica imposta sobre esses grupos, a começar pela denominação ‘índios’, como se constituíssem um bloco homogêneo, desconsiderando não só as diferenças étnicas e linguísticas, mas também os diferentes interesses, objetivos, motivações e ações desses grupos nas relações entre si e com os colonizadores europeus que, como não poderia deixar de ser, foram se modificando com a dinâmica da colonização.
Importante ressaltar que as considerações da autora sobre cultura e identidade são fundamentais para compreender a perspectiva adotada pelos historiadores que se debruçam sobre essa temática, mas igualmente necessárias para o leitor que pretende conhecer um pouco mais sobre os índios na História do Brasil e, por que não dizer, indispensáveis aos professores do ensino básico que, tendo de se haver com o ensino de história e cultura indígenas nos estabelecimentos de ensino público e privado, deparam com toda sorte de preconceito, racismo e etnocentrismo.
Imbuída dessa concepção dinâmica de identidade e cultura, a autora nos apresenta ao longo dos seis capítulos do livro alguns dos principais debates e pesquisas acadêmicos sobre a temática, sem entrar na discussão historiográfica sobre haver ou não uma história indígena, propriamente dita, ou sobre a controversa denominação etno-história, daí a interessante solução encontrada para o título da obra: Os índios na História do Brasil.
A autora esclarece que para o estudo das relações entre os colonizadores e indígenas, já nos primeiros contatos torna-se necessário não tomar estes últimos como tolos ou ingênuos dispostos a colaborar com os portugueses em troca de quinquilharias, mas compreender seu universo cultural. Discutindo, por exemplo, a peculiar relação com o outro na cultura Tupinambá, implicada na guerra, nos rituais de vingança, escambo e casamento, nos alerta que “embora eles tivessem grande interesse nas mercadorias dos europeus, suas relações com estes últimos significavam também oportunidades de ampliar relações de aliança ou de hostilidade” (p.40). Da mesma forma, afirma que “eles trabalhavam movidos por seus próprios interesses, e quando as exigências começaram a ir além do que estavam dispostos a dar, passaram a recusar o trabalho” (p.42), o que se somou ao fato de que no universo cultural desse grupo o trabalho agrícola era considerado atividade feminina.
Embasada em vasta bibliografia e em fontes primárias, a autora percorre a complexidade das relações indígenas nas diversas regiões do país – capitanias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Itamaracá, Ilhéus, Bahia, Ilhéus, Espírito Santo, São Tomé, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro etc. Nesse percurso, reafirma a identidade dos grupos indígenas como característica dinâmica, como é o caso dos temiminós do Rio de Janeiro, que provavelmente seriam uma construção étnica do contexto colonial, oriunda do subgrupo Tupinambá no processo de relações e interesses dos grupos indígenas e estrangeiros, pois “afinal, se a identidades étnicas são históricas e múltiplas, não há razões para duvidar de que os índios podiam adotar para si próprios e para os demais, identidades variadas, conforme circunstâncias e interesses” (p.61).
A condição de agentes históricos atribuída aos indígenas ganha evidência na análise da política de aldeamentos que, conforme demonstra Maria Regina Celestino de Almeida, possuía diferentes funções e significados para a Coroa, religiosos, colonos e índios. Para estes, poderia significar terra e proteção frente às ameaças a que estavam submetidos nos sertões, como escravização e guerras, o que não os impedia de agir conforme seus interesses e aspirações na relação com os outros grupos, não obstante as limitações de toda ordem a que estavam sujeitos nesses espaços de conformação. Dessa forma, valendo-se da legislação decorrente das políticas indigenistas, os índios aldeados “aprenderam a valorizar acordos e negociações com autoridades e com o próprio Rei, reivindicando mercês, em troca de serviços prestados. Sua ação política era, pois, fruto do processo de mestiçagem vivido no interior das aldeias. Suas reivindicações demonstraram a apropriação dos códigos portugueses e da própria cultura política do Antigo Regime” (p.87).
Nesse sentido, afirma a autora, os aldeamentos devem ser pensados como “espaços de reelaboração identitária” (p.98), seja ressignificando os rituais religiosos católicos, aprendendo a ler e escrever o português ou estabelecendo relações complexas e ambíguas com os diferentes grupos sociais, inclusive indígenas, segundo seus interesses.
Esse processo pode ser ainda observado na Amazônia de meados do século XVIII, quando índios tornaram-se vereadores, oficiais de câmara e militares (p.120), e se prolonga pelo século XIX, quando indígenas eram recrutados compulsoriamente para os serviços militares, notadamente a Marinha (p.147). Interessante lembrar o episódio da Guerra do Paraguai (1864-1870), na qual lutaram índios Terena e Kadiwéu, não sem utilizar diversas estratégias para escapar ao alistamento como Voluntários da Pátria. Mais tarde, no último quartel do século XX, essa participação foi evocada na reconstituição da memória desses grupos para reivindicar direitos territoriais no Mato Grosso do Sul ancorados no heroísmo e colaboração com o Estado (p.149). Sujeitos históricos no presente e no passado, condição que dialoga com as possibilidades de romper a invisibilidade indígena no passado e no presente.
Nota
1CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2008. p.23.
Antonio Simplicio de Almeida Neto – Departamento de História, Universidade Federal de São Paulo. E-mail: [email protected]
Almeida, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. Resenha de: ALMEIDA NETO, Antonio Simplicio de. Indígenas na história do Brasil: identidade e cultura. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.2, p. 275- 279, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
ALEKSIÉVITCH Svetlana (Aut), As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial (T), ROSAS Cecília (Trad), Companhia das Letras (E), FLÔR Dalânea Cristina (Res), OTTO Claricia (Res), Revista História Hoje (RHH), Crianças, Segunda Guerra Mundial, Testemunhas, Séc. 20
No livro As últimas testemunhas, Svetlana Aleksiévitch, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015, apresenta uma centena de relatos de adultos que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial durante a infância. Com apenas duas pequenas citações “Em lugar de prefácio…”, o restante do livro é todo marcado pelas vozes dos entrevistados, e as conclusões da leitura ficam a cargo de cada leitor.
Os relatos, coletados entre os anos de 1978 e 2004 e somente traduzidos para o português em 2018, trazem o modo como cada adulto, na época criança, viu, sentiu e viveu a guerra. Tratava-se, na maioria, de crianças de 2 a 14 anos, com exceção de algumas que nasceram a partir de 1941, e de um garoto que nasceu no ano em que o conflito acabou (1945), mas que parece ter vivido a guerra tão intensamente quanto os demais, quando afirma: “Nasci em 1945, mas lembro da guerra. Conheço a guerra”, nos remetendo ao conceito de “acontecimento vivido por tabela” (Pollak, 1992).
Ao iniciar a leitura, fica-se buscando uma apresentação, uma contextualização do que virá, mas a interferência explícita da autora se restringe às citações tomadas como prefácio; à apresentação de cada entrevistado informando seu nome, a idade que tinha quando a Alemanha invadiu a União Soviética, em 1941, e a profissão que exercia na época em que Svetlana o entrevistou; e por fim, à seleção da parte do relato a ser apresentada. No mais, Svetlana dá voz aos entrevistados. São vozes que chocam, assustam, emocionam, indignam, provocam compaixão, deixam atônito o leitor.
Entre pausas, choro, verbalização do quanto é insuportável relembrar e afirmação de que pelo mal que lembrar faz preferem não recordar, relembraram e contaram, o que faz pensar que a autora, cuja prática com esse tipo de trabalho é reconhecida, deve ter conseguido construir uma relação de confiança e ou demonstrar a importância de suas histórias serem contadas, e assim conseguiu se colocar, verdadeiramente, na posição de escuta (Pollak, 1989). Com certeza, apesar do sofrimento que poderia lhes causar a rememoração daquelas vivências, perceberam na autora uma possibilidade de escuta de suas vozes, de suas vivências, e como resultado o leitor veio a conhecer suas histórias.
Para uma compreensão mais ampla e completa da realidade, é necessário que as “memórias subterrâneas” (Pollak, 1989) sejam trazidas à tona, e essa parece ser uma das principais contribuições de Svetlana, que entrevista pessoas comuns, com diferentes formações, que ocupam ou ocuparam postos de trabalho diversos e que tiveram experiências pós-guerra também diversas.
As experiências, ainda que do mesmo “evento” e que, de certa forma, compõem uma memória coletiva, são experiências individuais e, portanto, relatadas de forma particular por cada um dos entrevistados, e trazem vozes que destoam da história oficial.
Para além de toda a dor, fome, medo e sofrimento, chama atenção a percepção que algumas crianças de mais idade tinham do seu papel na guerra, segundo o relato dos entrevistados. Algumas delas faziam questão de ir para o front, lutar junto aos adultos. Ainda que por vezes fossem rejeitadas, pela idade e por seu tamanho, algumas não desistiam e, por fim, acabavam sendo aceitas e participando efetivamente junto aos soldados. Outras atuavam como auxiliares de profissionais de saúde nos postos e hospitais para tratamento de feridos de guerra. Percebe-se que havia nelas uma “formação nacionalista” do que seria “ser cidadão da nação”, e esse sentimento parece ter sido tão fortemente construído em algumas delas que, ao relatar, verbalizam ou deixam entender que, na época, não sentiram medo, não tiveram dúvida de seu dever de participar da guerra. Parece ter havido, naquela época, para aqueles sujeitos ainda com tão pouca idade, um “enquadramento de memória” (Pollak, 1989) em que o dever de cada sujeito estava acima do risco de morte eminente.
Ao pensar na infância como um período em que os sujeitos deveriam ser cuidados e protegidos por adultos, mereciam ter tempo para brincar, estudar e vivenciar momentos de lazer entre seus pares, pensar uma infância vivida na guerra, com crianças assumindo papel de adulto de modo aparentemente naturalizado, é certamente chocante para quem imagina, à distância, os fatos.
No geral, os relatos demonstram que todas as crianças, com “consciência nacionalista” ou não, viveram situações que ninguém, independentemente de idade, deveria viver. Elas viram as mais diversas crueldades. Viram seus pais serem fuzilados e jogados em valas, crianças serem queimadas ou fuziladas, adultos serem enterrados vivos, avós mortos, pessoas caídas cheias de marcas de tiros, comunidades inteiras sendo queimadas. Elas caminhavam entre mortos, entre tantas outras brutalidades. Eram crianças pequenas que foram afastadas de seus pais, que foram deixadas sozinhas ou, por vezes, tiveram de cuidar de seus irmãos, ainda menores, sem ter o que comer e beber, sem saber o que fazer, para onde ir e a quem recorrer. Sentiam tanta fome que a vegetação por onde passavam era devastada e dividida entre os sobreviventes como o único alimento. Na falta absoluta de comida, a água com cheiro do couro da cinta velha fervida virava sopa, e terra com leite derramado virava produto caro entre as terras vendidas como alimento. O medo era tanto que houve quem tenha ficado sem voz por mais de ano, ou quem tenha esquecido o próprio nome e a própria história. Foi um período em que os orfanatos passaram a ser a casa de muitas crianças, e poucos foram os que reencontraram os pais.
O cenário é o mesmo para todos os entrevistados, de modo que poderíamos falar de uma “memória coletiva” (Halbwachs, 2006), mas observa-se, pela variedade dos relatos e, principalmente, pelo sentido dado por cada um, que não há uma coesão, pelo menos não para todos. Há, aparentemente, dois grupos: aqueles que se percebiam como combatentes, que consideravam ter um dever a cumprir, faziam questão de cumpri-lo e se sentiam cidadãos ao ter sucesso, e aqueles que se viam como crianças que eram, perdendo seus portos seguros, sentindo medo, fome e dor. Todos seguiram uma trajetória infinita em busca de se reconstituir dentro de suas redes restritas de contato, ao longo de toda a vida. E suas lembranças, por serem opostas à memória nacional e provocarem desconforto, dor ou constrangimentos, ou ainda por buscarem preservar “os seus” de sofrimento, são marcadas pelos “não ditos”, por silêncios e por ressentimentos (Pollak, 1989).
É preciso entender que quem fala nesses relatos não são as crianças em si, que vivenciaram a guerra, mas os adultos que naquela época eram crianças e que hoje dão sentido àquele vivido com base em sua experiência da época e em sua trajetória de vida.
A leitura de As últimas testemunhas apresenta um período histórico-social extremamente dramático e cruel, que causou muito sofrimento e deixou marcas definitivas em muitas pessoas, mas esse quadro confirma, ao mesmo tempo, que memória, mesmo que seja influenciada, ao longo do tempo e por diversas formas, pelo meio social, continua sendo “um ato e uma arte pessoal de lembrar os acontecimentos” (Portelli, 1997), e somente ouvindo essas pessoas é possível ir montando o “mosaico” que é a história.
É preciso continuar ouvindo as memórias subterrâneas, como faz Svetlana, de modo a trazer à tona e manter viva a história que a história oficial gostaria de esquecer.
Referências
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução: Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006.
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na história oral. Projeto História, São Paulo, n. 15, p. 13-49, abr. 1997.
Dalânea Cristina Flôr – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
Claricia Otto – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
ALEKSIÉVITCH, Svetlana. As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial. Tradução do russo: Cecília Rosas. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Resenha de: FLÔR, Dalânea Cristina; OTTO, Claricia. A escuta como forma de testemunhar o sofrimento vivido por crianças na Segunda Guerra Mundial. Revista História Hoje. São Paulo, v.8, n.16, p. 256-259, jul./dez. 2019. Acessar publicação original [DR]
SCHMIDT Maria Auxiliadora Moreira dos Santos (Aut), Didática reconstrutivista da história (T) CRV (E), PINA Max Lanio Martins (Res), SILVA Maria da Conceição (Res), Revista História Hoje (RHH), Didática Reconstrutiva da História, Ensino de História, Séc. 20-21, América – Brasil
O livro Didática Reconstrutivista da História da professora e historiadora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, publicado em 2020 pela Editora CRV, sediada em Curitiba, é o que existe de mais recente como reflexão teórica e metodológica para o campo da Didática da História no país. A autora percorre o caminho realizado pela influência do pensamento intelectual alemão, da mesma maneira que ressalta o influxo das reflexões realizadas no contexto da linha de investigação da Educação Histórica ibérica (portuguesa) e anglo-saxônica, da qual faz parte, sendo a principal referência dessa área em solo brasileiro.
Maria Auxiliadora Schmidt, carinhosamente conhecida como “Dolinha” por seus pares, possui uma longa trajetória na educação brasileira, que começou no final dos anos de 1970. Foi professora da educação básica por vários anos na cidade de Curitiba, apropriadamente do Ensino Fundamental II, o que a possibilitou conhecer a realidade do ensino na escola pública no Brasil. Como docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou na formação de professores e pesquisadores das áreas de História e Educação e colaborou, e até o momento colabora, com instituições acadêmicas brasileiras, europeias e ibero-americanas. Atualmente, a pesquisadora é professora titular aposentada e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e ao Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH) da UFPR, tendo sido a fundadora deste.
O LAPEDUH transformou-se numa referência para o Ensino de História, e pode ser considerado o espaço que possibilita a professora Maria Auxiliadora Schmidt realizar suas pesquisas, bem como efetuar a orientação de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com vistas ao desenvolvimento de investigações no campo da Educação Histórica, tendo como princípio o paradigma da aprendizagem histórica. A historiadora é presidente da Associação Iberoamericana de Pesquisadores da Educação Histórica (AIPEDH), mantendo vínculos com uma de rede de pesquisadores e intelectuais na Europa (Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha e Itália), na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México) e na América do Sul (Chile, Colômbia e Argentina). A pesquisadora também é bolsista de produtividade em pesquisa 1B do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), e, ainda, dispõe de vários artigos, livros e capítulos de livros publicados ao longo de sua carreira.
O livro Didática Reconstrutivista da História está divido em quatro capítulos, que possuem a finalidade de apresentar a trajetória intelectual da pesquisadora, assim como explicitar sua construção teórico-metodológica para o Ensino de História, que poderia ser chamada de novo paradigma para a aula de história. Sua perspectiva está focada na aprendizagem fundamentada na epistemologia da ciência de referência. A obra é produto de revisão da tese defendida pela autora em 2019, para progressão na sua carreira funcional no magistério superior como Professora Titular na UFPR.
A apresentação do livro ficou sob responsabilidade da pesquisadora Marlene Cainelli, professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que procurou, no prefácio, responder qual a motivação, o sentido e as carências de orientação que conduziram a historiadora Maria Auxiliadora Schimdt a escrever a obra. Além dessas questões, Marlene Cainelli enfatiza que o exemplar é uma possibilidade de leitura inovadora sobre a natureza didática do conhecimento histórico, tendo em vista que recupera a proposta de um ensino de História denso, estruturado e fundamentado, principalmente, na ciência histórica.
A introdução da obra visa responder o porquê de uma Didática Reconstrutivista da História, que segundo a autora foi formulado por meio do debate existente na Filosofia da História, com vista à sua relação com a aprendizagem do passado, fugindo assim, das discussões do campo da ciência da Educação. Partindo do consenso de que a Didática da História é a ciência da aprendizagem histórica, a pesquisadora conceitua a Didática Reconstrutivista da História como uma adesão ao fato de que a aprendizagem e a cognição histórica precisam ser referenciadas na História, na intenção de estabelecer metodologias que privilegiem, durante a aula de História, a relação passado, presente e futuro como uma reconstrução que possibilite novas narrativas históricas.
O capítulo inicial apresenta a visão da autora sobre o conceito transposição didática do francês Yves Chevellard e como ele esteve presente no Ensino de História em suas variações e adaptações, que foram efetuadas por intelectuais no decorrer do século XX. Ainda nessa primeira parte da obra, a pesquisadora analisa o pensamento de intelectuais brasileiros que, desde o início do século XX, trouxeram contribuições metodológicas para o estabelecimento do Ensino de História, a começar pelo intelectual Jonathas Serrano e sua proposta de 1917, finalizando com a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998, editados pelo Ministério da Educação (MEC). Em oposição à ideia da transposição didática, Maria Auxiliadora Schmidt apresenta o conceito de cognição histórica situada. Nesse sentido, a autora intenciona demonstrar, por meio do desenvolvimento das pesquisas em Educação Histórica e sua relação com a Didática da História alemã, que a aprendizagem histórica está relacionada à adoção de uma metodologia de ensino vinculada à ciência de referência, na mobilização da consciência histórica e, sobretudo, nas influências da História pública, que necessita ser levada em consideração no espaço escolar.
O capítulo seguinte discute a aprendizagem como fundamento da Didática Reconstrutivista da História. A autora inicia questionando por que se deve aprender História, o que para ela não é uma resposta simples, dado que, conforme os intelectuais que são apropriados, as respostas serão múltiplas. Todavia, encarar esse fundamento coloca a questão elementar que é a reconstrução do passado na aula de História como ponto de partida, o que, de acordo com a pesquisadora, permite a adesão ao pressuposto da narrativa como forma e função da aprendizagem histórica. A reconstrução do passado é necessária à medida em que as carências de orientação individuais ou sociais se modificam e são transformadas em outras carências. Nesse caso, o passado precisa ser novamente interpretado e reinterpretado pela consciência histórica, para permitir a orientação temporal dos sujeitos. Por isso, existe a necessidade do aluno (criança e jovem) aprender a pensar historicamente. Isso não significa transformá-lo num pequeno historiador, mas permitir que alcance as mesmas categorias mentais que os historiadores atingem quando estão analisando o passado e produzindo historiografia. Sendo assim, a pesquisadora sugere que a aprendizagem histórica precisa começar e terminar na consciência histórica. Para ela, o conceito de literacia histórica, de autoria do historiador inglês Peter Lee, consegue responder bem, porque é através do aprender a pensar historicamente que as crianças e jovens absorvem as categorias da História e do sentido histórico.
No capítulo três, a historiadora apresenta como a formação do pensamento histórico é a finalidade de uma Didática Reconstrutivista da História. Ela acredita que a formação do pensamento histórico é um desafio para a aprendizagem histórica, visto que é necessário ocorrer por meio da apropriação da produção histórica de sentido. Isso ocorre quando a experiência do tempo é alcançada pela dimensão da interpretação do tempo. O indivíduo tem que saber lidar com a história individual e com a história coletiva, organizando sua vida dentro da estrutura do tempo, com a finalidade de orientar intencionalmente seu futuro. Nesse contexto, Maria Auxiliadora Schmidt defende que a aprendizagem histórica precisa acontecer a partir das carências de orientação dos indivíduos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Seria preciso, então, ocorrer uma mudança nos currículos de História no Brasil, visto que eles estão fechados dentro de uma visão quadripartite eurocêntrica do tempo e também estão a serviço dos interesses do Estado.
Outro ponto importante do capítulo três é o momento que, dialogando com os autores Peter Seixas, Carla Peck, Peter Lee e Jörn Rüsen, a autora propõe uma matriz para as competências do pensamento histórico. Essa matriz tem como objetivo principal servir de referência para o modo como opera a aprendizagem histórica, tendo em vista atingir uma das metas da Didática da História, que é construir a competência de atribuição de sentido pela narrativa histórica. As categorias apresentadas pela pesquisadora são as seguintes: argumentação, significância, evidência, mudança, empatia, interpretação, explicação, motivação, orientação e experiência (percepção). Todas essas categorias estão pensadas e fundamentadas no contexto da Filosofia da História germânica, ibérica e anglo-saxã. Para finalizar o capítulo, a autora ainda debate dois influentes pensadores, Jörn Rüsen e Paulo Freire, para demonstrar o humanismo como fundamento da Didática Reconstrutivista da História, indicando a necessidade de pautar o Ensino de História dentro dessa perspectiva, para contribuir com as formas básicas do processo de formação para a humanização.
No quarto e último capítulo, Maria Auxiliadora Schmidt apresenta sua proposta intitulada de Aula Histórica. Nela, demanda apresentar uma teoria e uma metodologia que estão pautadas na ideia de uma Didática Reconstrutivista da História, que foi amadurecida por meio de diálogo e reflexões com intelectuais europeus e canadenses. Há que ressaltar que o primeiro modelo tipológico de Matriz da Aula Histórica foi utilizado no ano de 2016, como referência das Diretrizes Curriculares para o Ensino de História da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no estado do Paraná. Inspirada na Aula Oficina da professora e pesquisadora portuguesa Isabel Barca, a autora buscou subsídios na Matriz da Didática da Educação Histórica de Peter Seixas, na Matriz da Didática da Educação Histórica de Stéphane Lévesque, na Matriz Disciplinar da História e também na Matriz da Didática da História de Jörn Rüsen, para elaborar tanto a primeira, quanto a segunda Matriz da Aula Histórica.
Em sua última matriz, Maria Auxiliadora Schmidt estrutura a aula de História na mesma perspectiva de Jörn Rüsen, quando aborda a relação tipológica entre a vida prática (embaixo) e a ciência (em cima) numa circunferência em que existem essas duas divisões. A novidade acrescida pela autora é o fato da vida prática estar subsidiada em categorias entre a Cultura Infantil e Juvenil e a Cultura da Escola. É a partir dessas categorias que são entrelaçados os conteúdos Memória, Patrimônio e História Controversa, que necessitam ser levados em conta em suas formas horizontal e vertical durante a aula de História. Percebe-se que a História Controversa ocupa um ponto importante nas reflexões da autora, que, citando o historiador e didaticista alemão Bodo von Borries, espera que os historiadores-professores possam continuar enfrentando todos os temas difíceis, controversos e desconfortáveis da História.
Seguindo as introduções realizadas pela pesquisadora na sua segunda matriz, observa-se também que, no campo superior da circunferência, precisamente onde está representada a ciência, encontram-se articuladas a Cultura Histórica e a Cultura Escolar. É nesse campo que a metódica da Ciência Histórica necessita ser considerada, para que ocorra a reconstrução do passado na Aula Histórica. No centro da Matriz proposta para uma Didática Reconstrutivista da História encontra-se a categoria sentido, em específico a atribuição de sentido pela narrativa histórica. Neste ponto, percebe-se que a proposta articulada pela pesquisadora leva em consideração que historiadores-professores necessitam articular todos os elementos categoriais da Matriz, não para realizar uma transposição didática dos conteúdos acadêmicos de História, mas para atuarem a partir da reconstrução do passado pela perspectiva do método histórico.
Para finalizar seu último capítulo, a historiadora discute um tema polêmico, porém necessário, a ser enfrentado, posto que dicotomizou a práxis na História, colocando-se de um lado o historiador (aquele que pesquisa) e do outro, o professor (aquele que ensina). Por meio de um processo histórico longo que estabeleceu essa separação, a situação precisa ser superada, tendo em vista o avanço da pedagogia das competências no Ensino de História, que elimina a atribuição de sentido do pensamento histórico na vida prática como orientação temporal dos sujeitos no tempo presente. Assim, a pesquisadora afirma sem titubear, que o historiador que pesquisa é também um professor, e o professor que ensina é também um historiador, encontrando dessa maneira o elo que justifica sua Didática Reconstrutivista da História.
O livro Didática Reconstrutivista da História é, sem dúvida, um marco conceitual que visa à construção de uma teoria e uma metodologia para o Ensino de História no Brasil. Assegura-se que a obra é uma robusta reflexão intelectual, construída ao longo de anos de experiência, com a finalidade de propor, a partir dos reais problemas que são enfrentados por milhares de professores no chão da sala de aula, uma teoria do ensino e da aprendizagem histórica fundamentada na ciência de referência, valorizando principalmente a função do historiador-professor-pesquisador.
Max Lanio Martins Pina – Universidade Estadual de Goiás (UEG), Porangatu, GO, Brasil. E-mail: [email protected]
Maria da Conceição Silva – Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil. E-mail: [email protected]
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. Didática reconstrutivista da história. Curitiba: CRV, 2020. Resenha de: PINA, Max Lanio Martins; SILVA, Maria da Conceição. A Didática Reconstrutivista da História: uma proposta teórica e metodológica para o Ensino de História. Revista História Hoje. São Paulo, v.9, n.17, p. 228-233, jan./jun. 2020. Acessar publicação original [DR]
Cartografias imaginárias: estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço – PEIXOTO (HH)
PEIXOTO, Renato Amado. Cartografias imaginárias: estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço. Natal: EDUFRN; Campina Grande: EDUEPB, 2011, 182 p. Resenha de: OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. Margens e interstícios do espaço. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p.345-349, nov./dez. 2011.
Enviado em: 29/9/2011 Aprovado em: 23/10/2011 345 Margens e interstícios do espaço 346 Tratar o espaço requer cautela e definição de abordagem. O espaço se amplifica na percepção e compreensão, ao mesmo tempo em que implica dicotomia de interpretação, sugerindo posições diversas e complementares como lugar ou território. Para Certeau (1994), em Invenção do cotidiano, o espaço é um lugar praticado, porque envolve vetores como tempo, direção e velocidade, ao contrário da estabilidade do lugar. Para o mesmo autor, “o espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais” (CERTEAU 1994, p. 202).
Desse modo, as práticas espaciais refletem a junção de objetos e operações que se traduzem em vários tipos de estruturas narrativas, como relatos e mapas. Os produtos gerados a partir das práticas condensam informações que as expressam. “Pensar o espaço não é apenas entender sua representação, considerar sua inscrição, perscrutar sua construção; é também necessário buscar suas conexões” (PEIXOTO 2011, p. 157).
Na direção dessas reflexões, o livro Cartografias imaginárias de Renato Amado Peixoto descortina uma edificante abordagem do espaço com base na cartografia. Para o autor, a cartografia deve ser problematizada para além da sua escrita, enveredando mais […] em torno dos processos cognitivos que a originam e dos métodos em que se investe sua inscrição. Para se pensar o espaço é necessário considerar antes um espaço imaginário onde se produz uma linguagem através de múltiplas experiências de outras linguagens; é preciso pensar os pressupostos que possibilitaram as condições de composição da gramática e da sintaxe dessas linguagens; entender cada um dos mapas das imaginações e das geografias pessoais que extrapolaram em um dado momento seus limites para constituir uma gramática e uma sintaxe cartográfica. Pensar o espaço significa investigar uma construção humana que só existe enquanto parte de um campo de forças no qual a energia é o falante e a linguagem seu gerador […] (PEIXOTO 2011, p. 159, grifos do autor).
Ao encontro de tal referencial teórico, Peixoto apresenta seus oito artigos.
O que se mostra, em princípio, como fomento ao debate dentro do Programa de Pós-Graduação da qual faz parte, extrapola-o. Segundo o autor, os quatro primeiros artigos discutem a construção do espaço nacional, objeto de sua tese de doutoramento, em consonância com as proposições da linha de pesquisa Literatura, Espaço e História. Os demais artigos explicitam a sua posição teórica no debate de ideias do Programa, articulando as contribuições de Jacques Derrida e Michel Foucault, assim como as reinterpretações de Karl Marx na interlocução entre sujeito e ideologia na produção do espaço. Em todos eles, o fio condutor são o espaço e a cartografia.
A problematização da cartografia desdobra-se em estudos de caso que elucidam a urdidura de circunstâncias que extrapolam as configurações materiais e iconográficas dos mapas. A atuação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o seu papel na construção da história do espaço nacional no século XIX oferecem a oportunidade de averiguar o jogo de interesses e de poder que os envolve. No seu primeiro texto, “Enformando a nação”, Peixoto se esmera nos desdobramentos que direcionam os olhares para a relação espaço e identidade nacional. Essas reflexões se completam nos textos posteriores “A produção do espaço no Terceiro Conselho de Estado (1842-1848)”, “Impertinentes, desinteressados ou sem escolha”, “O espelho de Jacobina”, “O mapa antes do território” e “Os dromedários e as borboletas”.
Na construção da memória nacional, como afirma Sandes (2000), o IHGB precisava se apoiar nos referenciais espaciais. Afinal, como bem avaliou Halbawchs (1990), não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. Nesse sentido, estabelece-se uma tessitura, ainda que não explícita, entre o IHGB, a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros (SENE) e o Conselho de Estado. É nessa trama que se localiza a cartografia, pois é um processo coletivo, qualificado e de múltiplas etapas que incluía planejamento estratégico, execução no campo e confecção no gabinete e atelier gráfico, realizado, muitas vezes, em conjunto pelo Estado e pela iniciativa privada, dado o seu grau de complexidade (PEIXOTO 2011, p. 18).
No empenho em desenredar essa trama, o autor expõe premissas para o estudo cartográfico em face da pesquisa histórica: 1) Expor, investigar e questionar os processos cognitivos e as relações de forças que constituem e resultam em determinado saber cartográfico ou atividade cartográfica; 2) Entender esta atividade cartográfica não como um fim, mas enquanto um processo mesmo, que depende da formação de um saber sobre o espaço e que se desdobra a partir de suas estratégias e práticas; 3) Compreender que a investigação da atividade cartográfica não se resume ao trabalho sobre o mapa, mas que antes deve resgatar um regime da exequilibilidade dos mapas que nos permite discernir certas continuidades ou descontinuidades, especialmente no que tange ao agenciamento das técnicas e das condições da escrita e à distribuição e atribuição de tarefas […]; 4) Analisar os produtos cartográficos cuidando de entender que suas particularidades, estilos, especificidades técnicas e características de mercado das quais se revestem ou são investidos emprestam novos sentidos à compreensão desses produtos […]; 5) Buscar uma leitura hermenêutica dos produtos cartográficos por meio de uma investigação semiológica e iconológica dos elementos disponibilizados no mapa (símbolos, colorações, legendas etc.) e a sua volta (decoração, ilustrações, grafismos etc.), considerando o contexto cultural e social dos seus produtores; 6) Entender o espaço registrado nos mapas como um campo sobre o qual são rebatidos enunciados e discursos, que se revelam nos enquadramentos utilizados […] e nos silêncios ou silenciamentos […]; 7) Procurar perscrutar os usos e as funções que estes produtos assumem inclusive procurando-se entender sua disseminação em outros produtos cartográficos ou mesmo outros saberes, sua divulgação e circulação (PEIXOTO 2011, p. 19-20, grifos do autor).
Observa-se a construção de uma metodologia que ampara o uso da cartografia como fonte na pesquisa histórica. Jeremy Black, em seu livro Mapas e história: construindo imagens do passado (2005), cujo original é de 1997, já dava mostras da potencialidade dos mapas como fonte das investigações históricas. Contudo, o que se sobressai nessa metodologia é a compreensão de que a produção do espaço depende de um jogo de significados e ressignificações do próprio espaço instituídos por quem a manipula.
Apesar de uma tênue aproximação com Lefebvre (1991), quando diz que a produção do espaço deve ser entendida dentro da estrutura social, abarcando- -a em toda sua complexidade, Peixoto afirma seu suporte em Roger Chartier, no seu livro À beira da falésia, que defende a análise epistemológica em que os dispositivos de representação desencadeiam modos de compreensão dos discursos dos que os sustentam e de quem os atribui. Essa postura articulada por Chartier sustenta a aproximação da história em relação à filosofia e à crítica literária, posição endossada por Peixoto.
Em “O mapa antes do território”, Peixoto afirma que “o mapa é construído, a priori, no conjunto das representações culturais dos narradores e está sujeito a constantes reinvenções, que são também reelaborações de sua identidade”, ou seja, “mapear o território significa inscrevê-lo num determinado espaço e, ao mesmo tempo, possibilitar que a escrita desse território possa transformar o mapa” (PEIXOTO 2011, p. 111).
Dessa forma, o autor transita com maestria pela literatura e sua crítica, bem como pela filosofia, referendando Chartier. Essa interlocução é conduzida nos textos “Impertinentes, desinteressados ou sem escolha”, “O espelho de Jacobina”, “Por uma análise crítica das políticas do espaço” e “Espaços imaginários” que se apoiam em narrativas de H. P. Lovecraft e de Machado de Assis, bem como no pensamento de Arthur Schopenhauer, Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida e Michel Foucault. Destacam-se especialmente os diálogos com Foucault sobre as relações de poder e de Schopenhauer acerca da representação, aplicado nos seus objetos de estudo, especificamente, a construção do espaço e da identidade nacional no século XIX ou no século XX.
Para a compreensão dos jogos do poder e as relações com a construção dos mapas, apoiado no conceito de biopoder de Foucault, Renato Peixoto discute a geopolítica como um saber sobre o espaço, amplificando o seu conceito para as políticas de espaço dela derivadas. Nessa articulação constitui-se uma cartografia desses saberes e políticas descortinando sobreposições de mapas com linguagens autônomas e passíveis de compreensão. Aqui, nomeia essa discussão como geopoder e oferece caminhos metodológicos para os que se interessam em investigar as dinâmicas do espaço desencadeadas com base nos grupos que exercem políticas de poder ancoradas nos saberes espaciais.
Concentra-se ainda no encontro das desrazões foucaultianas ao lado das razões implícitas na elaboração dos mapas e, por conseguinte, da condução da cartografia. Os espaços e mapas imaginários imprimem-se naqueles materiais e visíveis. Para tal, contextualiza a questão do espaço em relação à própria obra de Foucault, em especial aquela que tece observações sobre Antonin Artaud.
Ao final, Peixoto empreende uma síntese em que coloca o historiador dos espaços como cartógrafo. O exercício da cartografia que defende é aquele em que se reconhecem os interstícios e as margens dos mapas, mas também a economia de suas linguagens, que está na sua produção e reelaboração. Em certo sentido, reconhece-se a argumentação de Sueli Rolnik (1989, p. 65) que diz que “o cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar”.
Referências
BLACK, Jeremy. Mapas e história: construindo imagens do passado. Tradução de Cleide Rapucci. Bauru: Edusc, 2005.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1994.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Laurent Leon Shaffter. São Paulo: Vértice; Ed. Revista dos Tribunais, 1990.
LEFEBVRE, Henri. The production of space. Translated by Donald N. Smith. Blackwell Publishing, 1991.
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 1989.
SANDES, Noé Freire. A invenção da nação: entre a Monarquia e a República. Goiânia: Ed. UFG; Agepel, 2000.
Adriana Mara Vaz de Oliveira – Professora adjunta Universidade Federal de Goiás. E-mail: [email protected] Rua 5, 361/601, Condomínio Veladero – Setor Oeste 74115-115 – Goiânia – GO Brasil.
O pequeno x: da biografia à história – LORIGA (RBH)
LORIGA, Sabina. O pequeno x: da biografia à história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 231p. Resenha de: ARIENTI, Douglas Pavoni. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.33, no.66, JUL./DEZ. 2013.
Em obra publicada na França sob o título de Le Petit x: de la biographie à l’histoire, que foi recentemente traduzida e publicada no Brasil pela Editora Autêntica, integrando a coleção “História e historiografia”, sob o título de O Pequeno x: da biografia à história, a historiadora e professora da École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), de Paris, Sabina Loriga revisita a historiografia do século XIX e nos brinda com um trabalho que discute o espaço destinado ao indivíduo no Século da História. Retomando a discussão sobre biografia, já trabalhada no capítulo “A biografia como problema”, publicado no livro organizado por Jacques Revel e traduzido no Brasil como Jogos de escala, a autora se aprofunda e nos oferece uma análise acerca da atualidade de obras soterradas em nome de uma história mais científica.
Com uma produção acadêmica conhecida no Brasil, seu primeiro trabalho traduzido foi “A experiência militar”, publicado no livro História dos Jovens, organizado por Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt. Destaquemos aqui também o capítulo “A tarefa do historiador”, do livro Memórias e narrativas (auto)biográficas; o artigo “A imagem do historiador, entre erudição e impostura”, da coletânea Imagens na história: objetos de história cultural; o artigo intitulado Ser historiador hoje, publicado pela revista História: debates e tendências, e duas entrevistas: para a revista Métis: história e cultura, realizada por Benito Schmidt e intitulada “Entrevista com Sabina Loriga: a História Biográfica”, e outra mais recente, realizada por Adriana Barreto de Souza e Fábio Henrique Lopes, professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e disponível na Revista História da Historiografia, intitulada “Entrevista com Sabina Loriga: a biografia como problema”.
Profissional atenta ao estado atual do debate historiográfico, a autora tem se dedicado a compreender os desafios e os limites do trabalho historiográfico e as tarefas da história nos aspectos epistemológicos e teóricos, a relação entre história e biografia, memória e história e construção do tempo histórico. Assim, O Pequeno x se junta a outros trabalhos que se dedicam a discutir a tão em voga relação entre história e biografia, como, por exemplo, o trabalho de François Dosse, publicado no Brasil em 2009 sob o título de O desafio biográfico. Embora tanto Dosse como Loriga centrem suas discussões na relação biografia-história ou indivíduo-coletivo, as duas obras se distinguem principalmente pelo foco: a autora opta pelo século XIX, ao passo que o historiador francês passa pelo gênero biográfico de maneira mais geral, dos gregos à publicação de sua obra. Com o objetivo de discutir do ponto de vista teórico o que é escrever uma vida, o autor identifica três tipologias que, apesar de não serem estanques, permitem localizarmos temporalmente os diferentes gêneros de narrativas biográficas: os modelos heroico, modal e hermenêutico. Segundo Dosse, a biografia modal “consiste em descentralizar o interesse pela singularidade do percurso recuperado a fim de visualizá-lo como representativo de uma perspectiva mais ampla … O indivíduo, então, só tem valor na medida em que ilustra o coletivo” (Dosse, 2009, p.195).
Esse momento que o autor intitula de “eclipse da biografia”, localizado no século XIX, período em que a disciplina se aproxima das outras ciências sociais ávidas por cientificidade, principalmente da sociologia durkheimiana, contribui para o desdém dos historiadores (mas não só destes) em relação à biografia. É exatamente esse o período em que se centra a obra de Sabina Loriga. Ao recuperar autores como Carlyle, Humboldt, Meinecke, Burckhardt, Dilthey e Tolstoi, ela nada contra a corrente e busca perceber a importância das individualidades em um período marcado por explicações totalizantes, cujas preocupações obscureciam os sujeitos históricos ou até os excluíam das narrativas.
Tomando o indivíduo como mote do seu trabalho, embora não se restrinja a discutir somente aspectos referentes à biografia, Loriga escreve uma história da historiografia em um período posterior aos abalos provocados pelo linguistic turn na História, e chega a ser bastante ácida nas suas críticas aos relativismos da pós-modernidade. Assumindo explicitamente que não se trata de um “retorno à ordem”, acredita ter encontrado no século XIX trabalhos heurísticos ainda úteis aos historiadores contemporâneos, obras essas que a autora analisa de uma perspectiva hermenêutica.
Pouco contextualizados, por vezes lançados num vazio, segundo a visão dos menos íntimos da historiografia europeia do século XIX, tais autores aparecem como figuras valorizadas sob uma análise interpretativa crítica. A autora dá voz à imaginação ao aproximá-los às preocupações atuais dos historiadores – são obras do seu tempo lidas por um olhar do século XXI. Além do trabalho de transposição temporal e de inserção desses autores em um debate contemporâneo, Loriga aproxima-os dos problemas enfrentados atualmente na escrita da história, sem deixar de nos apresentar os limites, contradições e paradoxos presentes em suas obras. Todavia, inegavelmente, advoga em favor deles com base em fontes convencionais para quem trabalha com historiografia, principalmente livros e conferência, por vezes cruzados a missivas. Dessa forma, a autora lê e interpreta, mergulha nas obras e proporciona um debate entre autores em que ela atua como árbitro, selecionando e orientando as falas, criando coesões e dando sentido aos textos, pinçando os pontos positivos aos olhares do historiador contemporâneo e elucidando projetos distintos daqueles vencedores, ou cristalizados como vencedores, que expulsaram os indivíduos das narrativas históricas no século XIX.
Apresentando-nos esses velhos historiadores como sábios anciãos, Loriga demonstra que muitas críticas e preocupações consideradas pós-estruturalistas já estariam presentes nesses autores do século XIX: como as críticas de Droysen à ideia de origem, comungada por Tolstoi, e a assumida perspectiva hermenêutica do autor, assim como o posicionamento acerca da impossibilidade de reconstrução do passado, apregoada pelo autor a partir da metáfora de que a justaposição de todos os cacos de um prédio não o recriaria. Também nos expõe as denúncias de Hintze às naturalizações e de Meyer às generalizações, além da valorização da subjetividade do historiador como fonte de conhecimento por parte de Meinecke. O assumido posicionamento de Dilthey acerca da impossibilidade da racionalidade humana pura e da sua perspectiva analítica que considerava a dinamicidade da vida, e que por isso não deveria ser fragmentada na escrita da história, também entra na pauta da historiadora. Já para Carlyle, como a vida não era coesa, não era função dos historiadores atribuírem sentido a ela.
Humboldt, por sua vez, valorizava a imaginação do historiador, mas se afastava da ficção, o que, para a autora, pressupõe o dever do historiador. Loriga também analisa Dilthey com base na assumida postura do autor diante da relação entre indivíduo, meio e temporalidade, suas relações estabelecidas com as expectativas do futuro, suas memórias e seu presente. O historiador da arte Burckhardt também nos é apresentado com base em sua relação com o tempo, ou melhor, em seu problema com o próprio tempo. Além da valorização dos mitos por parte do autor suíço, suas críticas à ideia de progresso – uma vez que para ele o único ponto positivo da modernidade seria a consciência histórica –, a autora mobiliza fragmentos da sua obra que ilustram a sua descrença na existência de um método universal para a história e destaca a importância da imaginação do historiador, ideia comungada por Humboldt quando este se refere aos preenchimentos lacunares.
Em O Pequeno x, a perspectiva multicausal de Tolstoi também é valorizada. Ademais, as diferenças existentes entre a realidade e a narração histórica, o passado compreendido como inacessível e as causas dos fenômenos inalcançáveis à razão, as relações do autor com a memória e o testemunho, a possibilidade de alcançar a liberdade apenas como experiência interior e suas estratégias narrativas, possibilitam uma leitura heurística das obras de Tolstoi. A lucidez desses autores, ou a lucidez dos desenhos criados por Loriga desses intelectuais é surpreendente.
Partindo desses autores, Sabina Loriga retorna ao século XIX e, longe de propor uma análise acusatória contra historiadores que excluíram os sujeitos da história, pinça os que atuaram na valorização das individualidades e escreveram histórias que se aproximavam do que a autora aprecia atualmente no fazer historiográfico, sobretudo com base na atual importância adquirida pelas biografias. Por mais que existam silenciamentos, recortes e por vezes uma demasiada valorização dessas obras, o livro de Loriga possibilita questionarmos a pretensa hegemonia das explicações que excluíam as atuações individualizadas dos sujeitos no século XIX e problematizarmos a construção e valorização de uma memória científica da História. Além disso, sua leitura proporciona o debate sobre as atuais análises críticas ao modelo científico de história que tem proliferado nos trabalhos que discutem historiografia e que excluem de suas narrativas obras que fogem aos modelos que buscavam bases científicas, estáveis e objetivas para a história, seus alvos principais.
Douglas Pavoni Arienti– Mestrando, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista CNPq. [email protected].
Writing and Empire in Tacitus | Dylan Sailor
Públio Cornélio Tácito é reconhecido hoje como um dos maiores historiadores do Principado. Considerando Ronald Haithwaite Martin [157] e Fábio Joly podemos afirmar que, ao pensarmos sobre vida e obra de Tácito, percebemos que sua obra histórica abarca o relato sobre as duas primeiras dinastias – dos Júlio-Claudianos e dos Flavianos – e a guerra civil de 69. Além de obras do gênero histórico, Tácito escreveu outras obras – Germânia, Agrícola e, possivelmente, Diálogo dos Oradores – e exerceu uma gama de cargos políticos dentro do Principado, entre eles estãoo de questor em Roma, no ano 81, e de procurador na Germânia, ainda no mesmo ano. Suas obras teriam sido compostas nos principados de Domiciano, Nerva e Trajano. Martin destaca ainda que os escritos de Tácito foram de grande importância e influência para os autores de século III e para os epitomadores dos séculos IV e V.
É na busca pela delimitação do estilo tacitista de escrita que Dylan Sailor compõe a obra Writing and Empire in Tacitus. Nesse livro o autor tenta mostrar como as obras e o estilo de Tácito são frutos de seu tempo e de sua carreira. Para isso , ao analisar as obras de Tácito, Sailor mostra como se desenvolvia a produção literária no Principado, não somente no tempo de Tácito, mas comparando com outros momentos da história do Principado, como quando remete a Sêneca e a outros autores citados nas próprias obras deTácito. É perceptível que, seguramente, a obra de Sailor segue a mesma linha de Sir Ronald Syme (Tacitus, 1958), em que credita o estilo de escrita de Tácito à carreira política e ao tempo em que escreveu. E que se contrapõe a O’ Gorman (Irony and Misreading in the Annals of Tacitus. Cambridge University Press, 2000) e Haynes (The history of make-believe: Tacitus on Imperial Rome. University of California Press, 2003) que creditariam o estilo taciteano a uma tradição em Roma, abalando o vínculo entre Tácito, sua obra e a realidade mais imediata. Evidentemente, para esses dois autores, Tácito estaria mais próximo de Tito Lívio, enquanto, para Syme e Sailor, um bom marco comparativo seria Salústio. Notoriamente, podemos ver que a opção tomada por Sailor parece mais adequada ao analisar a obra taciteana. Porém, ao contrário de Salústio, Tácito é envolto pelo regime imperial. Um regime que oprime por vezes a liberdade de se escrever o que pensa. A obra de Sailor aborda, de maneira muito enfática e convincente, que não é possível analisar as obras de Tácito sem conseguir enxergar o contexto de sua carreira, de sua obra literária e de sua vida social nas entre linhas de suas obras historiográficas.
O livro é dividido em seis capítulos: “Introdução”, “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado”, “Agrícola e a crise de representação”, “Os encargos de Histórias”, “Em outros lugares de Roma”, “Tácito e Cremutio” e “Conclusão: conhecendo Tácito”. O autor constrói a sua obra mostrando como podemos distinguir o autor, do político e do homem aristocrata nas obras de Tácito.
A opção de Sailor por iniciar o livro com um capítulo focando os conceitos sobre os quais ele debate ao longo de sua obra parece ser a estratégia mais adequada. Isso porque nesse capítulo o autor discute justamente o caminho pelo qual seguirão seus argumentosao longo de sua obra. O autor começa o capítulo introdutório “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado” se indagando sobre a possibilidade de Tácito ter criticado tão claramente a hipocrisia do Principado – do qual fez parte como deixa claro sua extensa carreira política. Nesse capítulo percebe-se que é indispensável, para Sailor, termos em mente que, para os romanos, era essencial a separação entre o autor e a voz narrativa da obra.
Esse primeiro capítulo nos permite entender que, para Sailor (assim como para Ronald Syme) somente foi possível a Tácito exercitar esse distanciamento entre a pessoa e a obra porque ele eraa membro de uma elite de origem provincial. Segundo Sailor, as obras no mundo romano tinham várias funções, mas a principal seria se tornar um monumentum tanto para o presente quanto para a posteridade, sendo algo perdurável, simbólico com intenção de se tornar permanente. É a obra que dava peso ao nome do autor e lhe propiciava a noção de “grande dever” cumprido. Sailor apresenta nesse capítulo a ideia, que defende em toda em sua obra, de que Tácito, por estar presente no principado, não age apenas como um simples escritor, mas também como um agente social nesse meio. Essa ideia apresentada por Sailor, de que o historiador também é um agente social é bem interessante, e também se adéqua a outras personalidades do mundo romano que também registraram seus posicionamentos sobre o poder enquanto estavam dentro das estruturas de poder.
Os demais capítulos seguem a mesma linha de raciocínio, porém, é notório que o autor não aborda as questões conceituais como abordara no primeiro, tornando assim o capítulo inicial de mais relevância à obra. No segundo capítulo, intitulado “Agrícola e a crise de representação”, o autor comenta sobre o monopólio por parte da casa imperial dos triunfos militares e sobre como era perigoso se destacar à frente do Imperador. Essa crise das representações gera um processos de exageração das vitórias ou até mesmo a fabricação dessas. A partir das narrativas de Tácito, Sailor interpreta que Agrícola teria achado uma alternativa para esse processo, reconciliando realidade e representação. De acordo com Sailor, em certa medida a obra Agrícola, de Tácito, [158] se preocupa tanto com a representação quanto com o restabelecimento da verdade, ligada à negação do triunfo à Agrícola. Desse ponto, surgem duas questões. Se é negado à elite e à não-elite as honras pelo triunfo, o que as diferenciam? Se não existe mais o mérito pela honra, o que poderia motivar os membros da sociedade romana a se esforçarem pelo Império? Um dos pontos tocados pelo autor é a questão da virtude. Nesse momento do Império, qual seria o caminho para os homens ilustres mostrarem suas virtudes? Em uma seção do capítulo, Sailor apresenta como era fácil em outros tempos apresentar as virtudes para sociedade, e como era possível produzir esta noção de representação de modo claro.
No terceiro capítulo “Os encargos de Histórias”, Sailor diferencia os objetivos e o estilo de Agrícola e das Histórias. Sailor demonstra como ambas obras trazem a tona problemas políticos, mas em Agrícola, Tácito visa a enaltecer a memória de seu sogro em contraposição ao antagonista, Domiciano. Segundo a análise de Sailor, em Histórias pode se notar um amadurecimento de Tácito ao comentar sobre a tirania que foi se formando, até culminar no desfecho de Domiciano/Agrícola. Sailor aponta como a história da escrita de Tácito se confunde com a história política de Roma por mostrar as mudanças institucionais do Império e as reviravoltas que mudaram os poderes dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, Tácito descreve a relação entre o historiador e o príncipe. Para Sailor, Tácito realizaria uma história da historiografia para explicar os motivos da escrita de seu livro.
Primeiramente, Tácito aponta a mudança de poder quanto à escrita da história que, a partir da batalha de Actium, esteve condicionada a uma pessoa: o príncipe. E que, após isso, as histórias estiveram condicionadas a analisarem as res gestae deste homem. A partir da instauração do principado há uma troca da eloquentia e libertas, comuns na escrita da história antes da batalha de Actium, pelo servilismo que passa existir em relação ao imperador. Outro ponto que o autor levanta é que as biografias realizadas até então foram presas à adulatio. Parece sensato destacar um ponto bem abordado por Sailor: nas Histórias, Tácito se livra da relação de poder entre súditos e imperador (caracterizada por uma relação de servilismo) removendo a figura de Trajano do prefácio. Assim, pode a Tácito ser configurada uma liberdade, que a meu ver é o grande diferencial de Tácito para os demais autores da era imperial.
No quarto capítulo “Em outros lugares de Roma”, o autor discute a relação que existe entre a história escrita por Tácito, o regime do Principado, a cidade de Roma, e os demais componentes do Império. Para isso, Sailor analisa o uso da semiótica presente na obra de Tácito contrapondo, princeps a súditos, escravos a senhores, romanos a estrangeiros. O texto mostra como era a relação do princeps com a monumentalidade da cidade de Roma através de passagem que mostra obras erguidas por imperadores. Sailor mostra como Tácito trabalha com a crise da semiótica durante o período de Guerra Civil e que possibilita que os romanos matem uns aos outros. Esse, a meu ver, é o capítulo que Sailor tenta tirar Tácito de seu contexto político e o leva para o contexto social do Império. Sailor mostra nesse capítulo como o historiador latino se relacionava com os costumes dos antepassados e como os comparava com os do seu presente. É certo, pela obra de Sailor, identificar a inquietação de Tácito ao exercer uma reflexão sobre seu tempo.
No quinto capítulo “Tácito e Cremutio”, Sailor aponta para a dificuldade de recepção das obras de Tácito em seu tempo. Valendo-se de uma análise da obra Anais, de Tácito, demonstra os perigos existentes em se escrever tal tipo de obra, e os recursos utilizados para demonstrar tal fato. Para Sailor, diante de tal contexto, a obra Anais serve para nos convencer de todas as dificuldades que rondavam a escrita do historiador, e o risco destas obras despertarem desconfiança ou indiferença no contexto imperial. O que Sailor aponta é que Tácito, através do exemplo de Cremutio, expõe que escrever sobre o Principado era perigoso para o historiador, e que mesmo falando de imperadores mortos (mesmo de uma linhagem já morta!) continuava sendo perigoso tanto para a obra quanto para o autor. Esse capítulo faz um contraponto com o primeiro, quando discute a questão do mártir. Sailor chega à conclusão de que a obra Anais é perigosa porque ajuda os leitores da época a entenderem a natureza dos príncipes e os meios de tirar vantagem deles.
Em “Conclusão: conhecendo Tácito”, o autor fecha com duas ideias em torno do programático e da representação, que se cruzam constantemente na historiografia taciteana. A primeira, sobre a representação do papel do historiador e da história dentro da História, e, a segunda, das relações históricas de atores para obras do passado ou o futuro da história. Tácito, de acordo com Sailor, buscaria mostrar a finalidade de sua obra apresentando a representação do Império, da cidade ou até mesmo do julgamento de Cremutio. Por outro lado, não se abstém de uma discussão programática de seu ofício inserindo o leitor no contexto político que cerca a escrita de sua obra. O que Sailor aponta com esses dois elementos é que a obra de Tácito apresenta como escrever história poderia ser um modo de vida. A obra de Tácito teria permitido a ele se mostrar em um meio público e ao mesmo tempo indicar como o historiador latino se postava contra a ordem de poder existente.
Faço ainda duas ponderações sobre a obra de Sailor. A primeira é que, mesmo abordando grandes obras como Agrícola, Histórias e Anais o autor se abstém de uma análise de outras duas obras taciteanas: Germânia e Diálogo dos Oradores. Essas duas obras poderiam fundamentar ainda mais a tese dele, já que a primeira trata justamente do período em que Tácito esteve inserido como parte operante da política romana e que a segunda trata de uma reflexão sobre a oratória em seu tempo (ainda que sua autoria siga em debate). Nesse mesmo ponto, é visível que o autor se concentra por demais na análise de Vida de Agrícola e História, o que empobreceu a análise sobre Anais, obra com a mesma importância que as duas anteriores. A segunda ponderação, é que, em muitos momentos de sua obra, Sailor não torna possível reconhecer que um conceito usado na análise de uma obra se estende às demais. Por exemplo, se a mesma noção de virtude em Agrícola está presente em Anais. Ele consegue deixari bem clara a ideia de que todas as obras de Tácito são marcadas pela ambiguidade (porque o Principado é ambíguo), masdeixa obscuro se as demais ideias seriam percepctíveis em todas obras. Apesar disso, não vejodúvidas sobre o grande valor que a obra de Sailor traz aos pesquisadores de história antiga e de historiografia porcontribuir gerando uma bem fundada interpretação da escrita de Tácito
Notas
157. CF. MARTIN, R.H. Tacitus. In: Hornblower, Simon and Spawforth, Antony (Ed.). The Oxford classical dictionary. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1469-1471.
158. Agrícola – obra de cunho biográfico que Tácito teria composto em louvor ao sogro ao qual o Imperador Domiciano teria o negado o triunfo pelas campanhas na Bretanha.
Willian Mancini – Mestrando pela Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
SAILOR, Dylan. Writing and Empire in Tacitus. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Resenha de: MANCINI, Willian. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.129-132, jul./dez., 2011.
Desconstruindo a história – MUNSLOW (HH)
MUNSLOW, Alun. Desconstruindo a história. Petrópolis: Vozes, 2009, 271 p. Resenha de: CASTELO, Sander Cruz. O sublime, a narrativa e a história The sublime, the narrative and history. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.213-217 março 2011.
Alun Munslow, professor visitante de história da Universidade de Chichester (Inglaterra), é coeditor da Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, publicação acadêmica vanguardista criada, em 1997, para expandir os limites de uma disciplina engessada em pressupostos modernistas por meio da divulgação de produções historiográficas experimentais e do debate teórico do assunto. Não surpreende, logo, que a obra analisada destoe das traduções que sumariam as teorias contemporâneas da história, correntemente, lançadas no Brasil.
Como? Basicamente, de duas formas interligadas: salientando a historiografia pós-moderna, pouco divulgada no país, excetuando-se a produção foucaultiana, e privilegiando a narrativa dentre os elementos envolvidos na produção historiográfica. Outra singularidade da obra, derivada das duas características anteriores, advém da publicização, no Brasil, da historiografia anglo-americana, cuja linhagem, originada na filosofia analítica, é, comumente, desconsiderada em prol daquela esteada na antropologia, de matriz francesa.
Por isso, a linguagem norteia as proposições do autor a favor da revisão da forma como os historiadores abordam o passado. Esses, grosso modo, resistiriam, não obstante alguns avanços (novo empirismo, Annales, etc), a abandonar uma ingenuidade epistemológica fundamental: a ideia de que a realidade do passado pode ser revelada. Essa crença na objetividade do saber derivou do método científico, erigido, na modernidade, para abordar a natureza e estendido ao mundo social com o Iluminismo, período em que o ideal civilizatório adquiriu matizes teleológicos. Compreende-se, logo, que a história estabeleça-se como disciplina, no século XIX, reproduzindo dualismos como sujeito-objeto, fato-ficção e progresso-atraso.
Para combater esse legado, elegendo a forma, e não o conteúdo, como âncora da história, Munslow mapeia as forças em negociação e em confronto no campo historiográfico. A mais tradicional ou a mais infensa às mudanças é devota do “reconstrucionismo”. Filho do historismo rankeano, para o “reconstrucionismo”, resumidamente, o passado pode ser desvelado mediante a reconstituição das intenções e das ações dos agentes históricos na sua sucessão no tempo. O “construcionismo”, por sua vez, reconhece, mais do que o anterior, o caráter apriorístico do conhecimento, fazendo uso, em decorrência, de modelos de análise provindos de disciplinas afins, como a sociologia, a economia e a antropologia. Sem descurar, contudo, dos vestígios históricos, por meio dos quais se escolhem e se testam as teorias utilizadas, passíveis, consequentemente, de abandono ou de reformulação. O “desconstrucionismo”, enfim, renega a possibilidade de acessar o pretérito, dada a impropriedade da teoria da correspondência ou da referencialidade. Sendo a relação entre significante, significado e signo, fundamentalmente, social e cultural – ou seja, a um tempo arbitrária e convencionada –, a “realidade do passado” (MUNSLOW, 2009, p. 12) apresentando-se, pois, mais como um “relato escrito” do que “como ele realmente foi”, resta à história “não o estudo das mudanças através do tempo per se, mas o estudo das informações produzidas pelos historiadores ao se lançarem nesta tarefa”(Idem, Ibidem).
O autor verticaliza sua abordagem dirigindo quatro questionamentos a essas três correntes da historiografia contemporânea. O fato de que o faça aglutinando, nos mesmos capítulos, a história “reconstrucionista” e a “construcionista” demonstra, de imediato, que, para ele, elas mais se aproximam do que se distanciam. Somando-se a isso a existência de dois capítulos expondo as críticas mútuas entre elas e a linha “desconstrucionista” e de outros dois dedicados a Michel Foucault e a Hayden White, autores baluartes da história pós-moderna, evidencia-se a intenção de firmar e ampliar as posições conquistadas pelo “desconstrucionismo” na historiografia. Aliás, suas próprias respostas às questões explicitadas, no último capítulo do livro, arrimam-se em uma “estratégica combinação da concepção de infraestrutura tropológica/ epistêmica” do filósofo francês com o “modelo formalístico de imaginação histórica” do historiador estadunidense (Ibidem, p. 218).
A primeira indagação, de cunho epistemológico, versa sobre a suficiência do empirismo para legitimar o estatuto autônomo da história. A resposta de Munslow é negativa. A disciplina é, na verdade, uma variante da literatura que almeja produzir conhecimento. Logo, a epistemologia da história dista do indutivismo, na medida em que reconhece a existência do efeito de realidade e não a noção fantasiosa da verdade histórica; nega que possamos descobrir a intencionalidade do autor; aceita a cadeia de significação interpretativa e não o significado original recuperável; recusa as seduções de um referente fácil; debate a objetividade do historiador em seu trabalho com a estrutura figurativa da narrativa; aceita a natureza sublime do passado imaginada como o sentido do “outro” e admite que a relação entre forma e conteúdo é mais complexa do que como é frequentemente concebida nas duas tendências similares principais [construcionismo e reconstrucionismo] (Ibidem, p. 221).
A segunda trata do caráter e da função da evidência ou das fontes primárias. Inicialmente, Munslow afirma que as evidências são recontextualizadas a cada época: “[…] por exemplo, a evidência do Império se tornou, para a próxima geração de historiadores, a evidência para uma nova interpretação pós-colonial (Ibidem, p. 224). Em seguida, afirma não crer que a proximidade da evidência equivalha à verdade: Não discuto que a correspondência da evidência com a realidade funciona de forma razoavelmente satisfatória no nível básico da sentença única que tem como suporte a evidência (o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi baleado em 14 de abril e morreu no início da manhã de 15 de abril de 1865). Porém, tal correspondência não existe quando passamos para o nível da interpretação através da imposição de um enquadramento ou um argumento (Abraham Lincoln foi assassinado antes que pudesse colocar seus planos de reconstrução em ação). É preciso repetir: a narrativa histórica não é o passado, é a história” (Ibidem, p.224).
A terceira, com escopo na teoria, diz respeito ao imposicionalismo [sic] do historiador, especificamente, com o uso de teorias sociais como suportes explicativos. Apoiado em Vico e Foucault, o autor receita ao historiador uma conceitualização distinta do dedutivismo. Este, formulado para estudar a natureza, é insuficiente para a análise da sociedade ao longo do tempo, o que exige atenção ao discurso (episteme). A história depende mais da retórica do que da lógica para gerar a ilusão de transparência do passado: A maneira complexa como usamos a linguagem e a linguagem nos usa para mediar a realidade do passado sugere que nenhuma quantidade de sofisticada verificação hipotética da ciência social pode evitar a relação interativa entre o historiador, a palavra e o mundo. A narrativa não é simplesmente uma representação do mundo da realidade do passado, uma reprodução das coisas e das relações que subsistem entre elas. Embora a linguagem seja usada pelos principais historiadores como se ela tivesse a capacidade de reprodução, ela é principalmente um meio inovador que tem o poder de inventar e criar nosso conhecimento do passado (Ibidem, p. 230).
A quarta, por fim, diz respeito à significação da narrativa na explanação histórica. Apresentando o pensamento de White, Munslow assevera que a narrativa é o dispositivo por excelência da história, funcionando primeiro no plano da linguagem e da consciência, através da articulação de quatro níveis de explanação, seguidamente, implicados: tropo, enquadramento, argumento e ideologia. O tropo (metáfora, metonímia, sinédoque, ironia) refere-se à prefiguração mental do objeto de estudo, ou seja, sua base poética. O enquadramento (romântico, trágico, cômico e satírico) diz respeito ao poder do protagonista da trama em relação ao meio, gerando o efeito estético. O argumento (formista, mecanicista, organicista e contextualista) consiste na inter-relação de eventos, de personagens e de ações, produzindo o efeito cognitivo. A ideologia (anarquismo, radicalismo, conservadorismo e liberalismo), por fim, desvelando as opções políticas do historiador, homem situado no presente, atesta os efeitos éticos da disciplina.[1] Pode-se, logo, afirmar, resumidamente, que a função do historiador é […] oferecer uma estória que seja possível de ser acompanhada. Tal possibilidade de ser acompanhada emerge da coerência e da plausibilidade da estória que o historiador conta, à luz da evidência disponível. A realidade do passado não existe em um mármore bruto, necessitando apenas da habilidade do historiador de desbastá-lo para revelar o objeto existente dentro dele (Ibidem, p. 230).
Para finalizar, duas questões, ainda referentes à narrativa, permanecem não resolvidas pelo autor (e os desconstrutivistas em geral). Haveria uma narrativa pré-existente àquela inventada pelo historiador, ou melhor, os historiadores recontariam uma história já explanada pelos personagens históricos? Finalmente, é suficiente saber que a história é um empreendimento que envolve, ao mesmo tempo, estética, lógica e ética; que a “vontade de saber” (lógica) deriva da “vontade de poder” (ética), como disse Foucault; que White, mesmo, aventou a possibilidade de situar a ideologia como primeiro nível trópico; para afirmar, como o faz Munslow, que se “a estética precede à história, então a ética precede à estética” (Ibidem, p. 212).
Acredita-se que é necessário prudência aqui. O desejo de distinguir o bem do mal é, certamente, o motor do conhecimento (BLOOM 1989, pp. 49-50). Mas a vontade imperativa de saber não resulta, por vezes, de uma vontade de morrer, como alertava Nietzsche? A árvore do conhecimento não abriga uma serpente? Babel não atesta a benignidade de um pouco de relativismo, impedindo que bem e mal se irmanem em razão do dogmatismo? Por esse prisma, a história não podia servir à vida prezando, igualmente, o esquecimento, o incognoscível, a beleza, o mistério, o sublime, como o próprio autor intui, em algumas passagens da obra? Referência bibliográfica BLOOM, Allan David. O declínio da cultura ocidental. 2 ed. São Paulo: Best Seller, 1989.
1 Esses quatro tropos corresponderiam a quatro epistemes que se sucederam na modernidade, identificadas por Foucault: a da Renascença (até o final do século XVI), baseada na semelhança; a Clássica (séculos XVII e XVIII), ancorada na diferença; a Moderna ou Antropológica (final do XVIIIinício do XX), amparada no homem; e a Pós-Moderna (em andamento), fundada nas transformações da linguagem.
Sander Cruz Castelo – Professor assistente Universidade Estadual do Ceará [email protected] Rua Marechal Deodoro, 1395/322 B 60020-061 – Fortaleza – CE Brasil.
Urdidura do Vivido: Visão do Paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos 1950 – NICODEMO (HH)
NICODEMO, Thiago Lima. Urdidura do Vivido: Visão do Paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos 1950. São Paulo: EdUSP, 2008, 248 p. Resenha de: MONTEIRO, Pedro Meira. Permanência e mudança: em torno de Sérgio Buarque de Holanda. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p. 221-227, março 2011.
Urdidura do Vivido, de Thiago Lima Nicodemo, é uma contribuição fundamental à fortuna crítica de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Tratase do primeiro livro dedicado, inteiramente, a Visão do Paraíso, obra-prima do historiador, publicada como tese, em 1958, e, no ano seguinte, na forma de livro.
A escolha de uma palavra rara no título (“urdidura”) revela, inicialmente, um leitor atento às sugestões da obra buarquiana: aquilo que se urde é o reflexo de uma imaginação voltada para os espaços móveis e cambiantes, indefinidos e porosos, que constituem o centro das preocupações de Sérgio Buarque. Assim, indica-se o leque metafórico aberto pelos títulos de seus livros e ensaios produzidos depois de Raízes do Brasil, a partir da década de 1940: caminhos, fronteiras, veredas, redes, todos evocando a fluidez de territórios refratários à cristalização, através dos quais ideias e técnicas conjugam-se, confrontam-se e adaptam-se “com a consistência do couro, não a do bronze”, para lembrar uma passagem célebre de Monções, de 1945.
A ideia de um espaço em que o vivido é urdido, tramado, submetido a uma amarração singular e sempre passível de novas combinações, sugere também que Thiago Nicodemo deve muito – como aliás todos os que nos dedicamos ao estudo da obra buarquiana – às reflexões de Maria Odila Dias, para quem o problema da permanência e da mudança é central. Como fixar, com as palavras, um universo que, entregue a um fluxo complexo como os que estão presentes nos estudos históricos, é em si mesmo contrário à fixidez? Essas e outras questões são abordadas pelo livro de Thiago Nicodemo, que revisita, por meio de um criterioso trabalho de pesquisa, o terreno híbrido no qual se pode situar a obra de Sérgio Buarque. Ainda no plano das condições de produção de um estudo como este, vale lembrar que, na década seguinte à morte do autor de Visão do Paraíso, abriram-se as sendas para que os estudiosos prestassem atenção à indissociabilidade entre o historiador e o crítico literário.
A publicação de Capítulos de Literatura Colonial, em 1991, e da crítica literária esparsa, com O Espírito e a Letra, de 1996, por iniciativa, respectivamente, de Antonio Candido e Antonio Arnoni Prado, permitiu sondar a zona em que os dois campos – a análise histórica e a literária – dialogam, constituindo um objeto singular, apontando para os problemas comuns da permanência e da mudança. Em outros termos, trata-se de avaliar aquilo que é irredutível, compreensível apenas em certo tempo e espaço, e aquilo que parece escapar em direção a outros tempos e espaços, reduzindo-se a fórmulas que atravessam as fronteiras para reaparecer aqui e ali, sem que saibamos, num primeiro momento, qual a sua proveniência. A questão fundamental, que constitui o cerne da investigação de Urdidura do Vivido, é o balanço irresolúvel entre a “vida”, de um lado, e a possibilidade de inscrevê-la no corpo de um conhecimento sem reduzi-la a uma fórmula morta e vã, de outro. Não à toa, estes são problemas comuns aos dois campos, e é de uma peculiar combinação entre o crítico e o historiador que nasce a escrita de Visão do Paraíso.
Urdidura do Vivido situa, em um quadro de largo alcance, o problema do rompimento com o passado, do momento em que se torna possível abandonálo.
Ou ainda, nos termos de Goethe, trabalhados por Thiago Nicodemo, tratavase da fantasia de que pudéssemos nos emancipar dele, livrando-nos do seu jugo para prometeicamente (ou fausticamente) avançar em direção ao futuro, finalmente liberados da tralha fantasmática que nos ata ao passado. Esse é o ponto de partida da análise, que recorda que o fazer histórico é, necessariamente, uma intervenção no tempo, conforme a croceana ideia de uma história sempre, inevitavelmente, “contemporânea”.
À medida que se avança na leitura de Urdidura do Vivido, aprende-se como, da escrita de Bloch à refundação moderna do romanismo em Curtius, encontra-se uma questão agônica, incompreensível sem que se considere a Segunda Guerra: a necessidade de não mais permitir que a história fosse um instrumento de manipulação ideológica. Nesse sentido é que o romanismo de Curtius surge como uma maneira de se imaginar um espaço europeu anterior aos nacionalismos mais estritos e restritivos, fundados em equívocas mitologias locais. Para se pensar em termos ainda mais amplos, Urdidura do Vivido permite lembrar que a própria ideia de uma civilização baseada na herança das línguas românicas era uma forma de reagir à atomização pela qual passara a Europa, postulando uma espécie de eixo central que organiza a cultura que viria a ser chamada “ocidental”. Assim, uma senda e uma pergunta abrem-se aos pesquisadores: como avaliar as leituras, fascinações e influências de Sérgio Buarque de Holanda a partir do fim da Segunda Guerra, em contraste àquilo que foram as leituras de sua fase “alemã” (1929-1930), para lembrar expressão de Antonio Candido também recordada por Thiago Nicodemo? O primeiro capítulo, intitulado “O Historiador Encontra o Crítico”, traz algumas pistas interessantes nessa direção, uma vez que se aprende, detalhadamente, como a tópica de Curtius, retrabalhada e “historicizada”, permitiu a Sérgio Buarque rebater o caráter ahistórico que ele repudiava nas análises “formalistas” (os anos 50 foram o tempo de glória do New Criticism), aliando, a um profundo senso de mudança, a possibilidade de pensar fórmulas retóricas e lugares literários que atravessam o tempo – como o serão as tópicas do paraíso terrenal estudadas nos textos de viajantes e cronistas.
Torna-se então fundamental perceber a gestação de Visão do Paraíso não apenas como possibilitada pelos anos que Sérgio Buarque passou em Roma (1952-1954), mas também por esse amplo debate, e pela tentativa de compreender que fórmulas à primeira vista atemporais são, na verdade, utilizadas dentro de quadros históricos específicos. Ademais, como lembra Thiago Nicodemo, as investigações de Sérgio Buarque foram, em certo momento, parte de um esforço coletivo pela compreensão da “história da literatura brasileira”, segundo o projeto capitaneado por Álvaro Lins, que teria Sérgio como responsável pelo segmento de “literatura colonial”. Nas pesquisas do historiador da literatura, portanto, começa a surgir a atenção pelo recorrente tema das delícias da terra, que jamais deveria ser confundido com um sentimento protonacionalista, evitando assim que as fantasias patrióticas do século XIX se imiscuíssem à análise do texto colonial.
Todo o problema da “originalidade” e do quadro retórico e analógico em que se desenvolve a literatura colonial revela-se neste ponto. Teria sido interessante um diálogo entre Thiago Nicodemo e Alcir Pécora, que, em um texto originalmente publicado em 2002, analisou a interpretação buarquiana do padre Vieira e de Tomás Antonio Gonzaga, voltada, segundo o crítico, às “diferenças do passado”. Pécora resolutamente advoga que Sérgio resguarda-se das leituras teleológicas da poesia setecentista e o faz de forma especialmente interessante ao considerar os seus modelos internacionais, sobretudo os italianos, permitindo-lhe adotar uma crítica convincente do vocabulário usualmente empregado no tratamento dos árcades (PÉCORA 2008, p. 26).
A questão é também candente, hoje ainda, no âmbito da teoria literária, sempre que se discute o quanto o crítico pode ou deve reportar-se ao conjunto de verossímeis e de valores que conformam a produção colonial, por exemplo.
Como se tal crítico, em suma, devesse mergulhar em um tempo alheio ao seu próprio. Em outros termos, trata-se de verificar até onde a atenção à teia retórica (onde se situa a crítica de Pécora e de João Adolfo Hansen, para citar apenas dois nomes fundamentais) prende um autor a “seu tempo”, e até onde categorias forjadas a partir do século XIX devem ser simplesmente descartadas na análise de textos coloniais.
Dialogando com as teses maiores de Visão do Paraíso, o capítulo seguinte (“Idade Média, Renascimento e a Escrita da História em Visão do Paraíso”) enfrenta a questão, central para Sérgio Buarque, de uma suposta ausência de ruptura em relação ao mundo medieval, na forma mentis dos portugueses. O desafio era saber como, diante da paisagem do Novo Mundo, ressuscitou-se todo um complexo universo de referências tradicionais e como, no caso específico dos portugueses, as formas do pensar não teriam sido radicalmente alteradas diante da “novidade” da América, que fica assim subsumida a concepções mais “realistas” e “pedestres” do novo. Um dos méritos da investigação de Thiago Nicodemo é o de iluminar a questão por meio da análise dos debates registrados durante defesa de tese na Universidade de São Paulo, quando o então candidato Sérgio Buarque de Holanda retomava seu diálogo com Eduardo D’Oliveira França, membro da banca examinadora que aprovaria Visão do Paraíso e permitiria a Sérgio assumir a cátedra de História da Civilização Brasileira naquela instituição. O debate corria em torno da continuidade ou da quebra de uma visão “medieval” portuguesa, e da possibilidade ou não de se compreender a ação humana por meio de conceitos abrangentes e desencarnados.
Uma vez mais, assoma o problema da “ruptura”, isto é, do momento em que permanência e mudança confrontam-se. A explicação básica de Sérgio Buarque é a de que o caráter prematuro da centralização política em Portugal (o primeiro Estado moderno, por assim dizer) desobrigou as novas classes (aí o caráter “burguês” da Casa de Avis) de se constituir em agentes novos, permitindo que se aferrassem a um “estranho conluio de elementos tradicionais e expressões novas” (NICODEMO 2008, p. 111), como se lê em Visão do Paraíso, que neste ponto explicita os andaimes de uma tese já presente em Raízes do Brasil: a de que o povo português é, em certo sentido, refratário à novidade do Renascimento e ao espírito especulativo da ciência moderna em sua aurora. O caráter prático, chão e pedestre da forma de pensar de portugueses vai marcar, finalmente, sua visão do paraíso, que seria sempre mais crédula e simples (ou antes: pacificamente analógica) que a dos espanhóis.
Retomando cuidadosamente a história da conceituação da “Idade Média”, do humanismo italiano ao idealismo alemão e à periodização romântica de um tempo progressivo, Thiago Nicodemo deslinda o que lhe parece ser uma “flexibilização”, em Visão do Paraíso, da dualidade que contrapõe o medievo à era moderna (idem, p. 117), e nesse aspecto é novamente Curtius quem aparece como principal referência, ao lado de um autor como Panofsky. O pano de fundo desse intrincado debate (especialmente, embora não exclusivamente, alemão) é a questão dos limites entre a Idade Média e o Renascimento (tema que recende a Burckhardt), mas é também a possibilidade de encontrar resquícios de um no outro, ou antes, de buscar, no outro, aquilo que se imagina exclusivo de um dos polos. Aí, o berço dos debates sobre o “dionisíaco”, e da entrada em cena de elementos “irracionais” para o desvendamento da lógica e dos limites do legado “racional” que o senso comum atribui ao corte operado pelo Renascimento. Alinham-se então intelectuais como Huizinga, Bloch e Warburg [que] vivenciaram o ambiente de crítica ao racionalismo e positivismo de antes da Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, formularam concepções de história atentas a significados de um mundo pré-industrial no qual as crenças e os mitos tinham papel fundamental. Isso implicava a revisão de certos temas em comum, tais como o da ideia da Idade Média como lugar desinteressante, de trevas e irracionalidade. No outro extremo, foi necessário rever o Renascimento como sinônimo de racionalidade e equilíbrio (NICODEMO 2008, p. 127).
Teria sido interessante, aqui também, ver Thiago Nicodemo reagir à leitura, profundamente cética, de Maria Sylvia Carvalho Franco (citada de passagem nas “Considerações Finais”) a respeito da tese da continuação do medievo no Renascimento, em Visão do Paraíso. Afinal, o encantamento com o mítico e o pré-moderno não seria um ponto em que os debates historiográficos em questão encontram certa potência “regressiva” já presente no modernismo brasileiro? Foi nas águas desse modernismo, encantado por um mundo não cartesiano, que se formara a imaginação do jovem Sérgio Buarque, muito antes de ele se tornar o historiador erudito reconhecido por todos. Além disso, haverá, todavia, um ponto cego a trabalhar em Visão do Paraíso: grande parte da argumentação sobre o senso de “maravilha” que rege a imaginação espanhola, em oposição ao realismo pedestre dos portugueses, está baseada nos relatos de Colombo, cuja visão do mundo é um tema em si complexo, e ainda aberto a investigações. Identificar a imaginação colombina à face “espanhola” da descoberta da América pode ser um rico problema a contraditar, de forma a revisitar e homenagear a grandeza de Visão do Paraíso.
Ainda no segundo capítulo, recupera-se a tensão entre a irredutibilidade e unicidade do fenômeno histórico e o desejo de subsumir tais fenômenos, em seu âmbito individual, a macro-estruturas ou estruturas profundas que regeriam e explicariam o social. Tratava-se do grande debate entre a história e a antropologia de corte estruturalista, o qual, como lembra Thiago Nicodemo, tem no Brasil um momento inaugural, quando os jovens Braudel e Lévi-Strauss ensinavam na USP. Entre a lentidão das mudanças estruturais e o torvelinho das mudanças de superfície, projetava-se, novamente, o tema do movimento e do fluxo, e o problema de onde (e como) encontrar o ponto em que a permanência dá lugar à mudança, ou ainda a zona em que ambas – permanência e mudança – convivem. Esse é o pano de fundo contra o qual se coloca o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, que se pode compreender como uma alta expressão brasileira do debate historiográfico europeu, em meio ao qual se legitimariam, a partir dos anos 50, as várias matrizes do marxismo acadêmico.
A oscilação entre o ponto pequeno da análise individual, com a atenção voltada para os mínimos detalhes da vida, e as grandes correntes mentais que se deixariam codificar em conceitos e termos abrangentes, forma o núcleo do debate historiográfico moderno, às vezes pensado por meio da tensão entre o conhecimento idiográfico e o saber nomotético. A solução buarquiana para tal problema metodológico seria a busca incessante, nos documentos (aí incluída a literatura), dos “vestígios” de sensibilidades passadas, que caberia ao historiador assumir momentaneamente, sempre que quisesse compreender o ponto em que a ação individual encontra o horizonte coletivo de sensibilidades e expectativas, sendo que apenas tal horizonte permitir-lhe-ia, afinal, pensar a história como algo para além do anedótico.
O terceiro e último capítulo (“Sentidos da Colonização”) evidencia as articulações do pensamento buarquiano, conectando preocupações presentes em Raízes do Brasil (1936) a Visão da Paraíso, passando pela inédita dissertação de mestrado apresentada, ainda em 1958, à Escola de Sociologia e Política: Elementos Formadores da Sociedade Portuguesa na Época dos Descobrimentos.
Trata-se de uma interessante reconstrução da ideia prevalecente de um espírito “aventureiro”, como se lia em Raízes do Brasil, a orientar a exploração lusitana.
Uma espécie de mal de origem – tão fundamental na imaginação negativa do que foi a formação do Brasil contemporâneo – explicita-se na ideia de que a colonização portuguesa funda uma sociedade voltada para fora, incapaz de desenvolver-se com vistas a si mesma.
A interlocução com Caio Prado Jr., bem como a importância das teses principais de Raízes do Brasil, ilumina assim a feitura de Visão do Paraíso. O que não impede Thiago Nicodemo de corroborar a noção corrente – a meu ver redutora – de que entre Raízes do Brasil e os trabalhos históricos posteriores haveria uma espécie de evolução, de um Sérgio Buarque que se profissionaliza e que, portanto, abandona o que, em seu ensaio de estreia, teria sido a “rigidez de conceitos e modelos explicativos” (NICODEMO 2008, p. 182). É amplamente sabido que Sérgio Buarque renegou, até certo ponto, Raízes do Brasil, confrontando-se, em vários momentos de sua vida, com o fantasma daquele livro que durante tanto tempo causou mal-estar (especialmente na USP, há que lembrar), seja pelo seu caráter ensaístico, seja por seu suposto reducionismo sociológico (que facilmente seria identificado como “ideológico”).
O quanto tal reducionismo é fruto de uma leitura pobre de Raízes do Brasil é ainda matéria controversa, assim como a mutação de um Sérgio Buarque “sociólogo” em “historiador”, que pauta não poucas leituras de sua obra, pode também ser questionada.
Embora não se detenha sobre tais aspectos, e por momentos corrobore a visão negativa do próprio Sérgio Buarque sobre Raízes do Brasil, Thiago Nicodemo nota como a centralização precoce do Estado português é o núcleo explicativo do “desleixo” da empresa lusitana nos trópicos, com fortes implicações para a compreensão do “sentido” da colonização. Uma pergunta do presente, portanto, organiza o passado, sem pretensões teleológicas ou messiânicas, mas simplesmente como parte daquela tarefa original do historiador, trabalhada na “Introdução”, de “exorcizar” o fantasma do passado, desencantando-o pelo conhecimento. Nesse ponto, justamente, Urididura do Vivido promove um brilhante curto-circuito entre as reedições de Raízes do Brasil e Visão do Paraíso, notando como a mudança de tom, da primeira para a segunda edição de Raízes, é já o fruto de uma oscilação entre a ideia de um “acerto” português nos trópicos e uma dúvida sobre o mesmo acerto, como se o “taumaturgo” (no primeiro caso) tivesse cedido ao “exorcista” (no segundo momento), de acordo já com os termos do prefácio à segunda edição de Visão do Paraíso.
O nó da questão é, em certo sentido, o futuro do Brasil: com aquelas raízes, que fazer? Tal pergunta faz com que a investigação regresse, inevitavelmente, aos anos modernistas de Sérgio Buarque e à sua insatisfação declarada com a forma final da nacionalidade, isto é, com sua arquitetura ideal.
O livro de Thiago Nicodemo tem o imenso mérito de recordar essas conexões entre o modernista de primeira hora e o pesquisador maduro, mostrando, ao mesmo tempo, que há ainda muito a percorrer no terreno da análise da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Entretanto, com a publicação de Urdidura do Vivido, qualquer investigação passa agora a contar com uma compreensão densa e ampla dos caminhos do pensamento buarquiano nos anos 1950. Lastro e muita vela.
Referências
PÉCORA, Alcir. A importância de ser prudente. In: MONTEIRO, Pedro Meira; EUGÊNIO, João Kennedy (org.). Sérgio Buarque de Holanda: perspectivas. Rio de Janeiro/ Campinas: EdUERJ/ Editora Unicamp, 2008.
Pedro Meira Monteiro – Professor Princeton University [email protected] 349 East Pyne 08544 Princeton – NJ.
Teoria da história; Historiografia; Ceticismo.
Em terreno movediço: biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de Sousa – GONÇALVES (HH)
GONÇALVES, Marcia de Almeida. Em terreno movediço: biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de Sousa. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009, 348 p. Biografia e historiografia brasileira. Resenha de: TOLENTINO, Thiago Lenine Tito. Biografia e historiografia brasileira. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.199-203, março 2011.
Apesar de, historicamente, preencher espaços volumosos nas estantes de bibliotecas e nos catálogos editoriais, o gênero biográfico brasileiro é objeto de poucos estudos no âmbito da história da historiografia brasileira. Desde a criação do IHGB, em 1838, até meados do século XX, o fazer biográfico esteve, não sem sofrer mudanças significativas nos modos da escrita e das concepções acerca do gênero, sempre no horizonte da atividade do historiador brasileiro. O livro de Marcia de Almeida Gonçalves, fruto de sua tese de doutorado defendida em 2003 na FFLCH/USP, contribui, nesse sentido, de forma primordial aos estudos acerca do gênero biográfico brasileiro. A obra revela a riqueza de um debate, hoje esquecido, que, já nos anos 1920, pautava-se em torno de questões como as das relações da biografia com a história e com a literatura, assim como, no reconhecimento do gênero biográfico como perspectiva capaz de contemplar a importância da compreensão do indivíduo durante o pós-guerra, em diálogo com as descobertas psicanalíticas e com a consolidação da sociedade burguesa.
Na construção de uma análise historiográfica acerca do gênero biográfico, a autora optou por ter um personagem como ponto de partida: Octávio Tarquínio de Sousa. A escolha é bastante acertada. Tarquínio de Sousa (1889-1959), historiador/biógrafo relativamente desconhecido, foi o autor de uma série de biografias que, em 1958, foram reunidas sob o título de História dos Fundadores do Império do Brasil (1958). Vinte anos, porém, separam a História dos Fundadores da publicação da primeira biografia escrita pelo autor: Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo (1937). Durante todos esses anos, as reflexões de Octávio Tarquínio acerca do gênero biográfico ganharam variados contornos relacionados às diferentes influências intelectuais com as quais teve contato.
O livro de Gonçalves é particularmente fértil, justamente, na recomposição das perspectivas desenvolvidas acerca da biografia desde os anos 1920 até a década de 1950. Tais perspectivas tiveram ressonâncias distintas no interior da obra de Tarquínio de Sousa.
A produção biográfica de Tarquínio de Sousa desenvolveu-se em uma época que foi tida pelos escritores contemporâneos como um período de uma “epidemia biográfica”. Essa constatação pode ser verificada no fato de o gênero biográfico figurar, nos anos 1930/40, entre os cinco mais publicados pelas grandes editoras da época, como, por exemplo, a Cia Editora Nacional, a José Olympio, a Editora Globo e a Editora Irmãos Pongetti. A expressão “epidemia biográfica” foi cunhada pelo crítico literário e líder católico Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima). Segundo Tristão, o fenômeno seria motivado pela emergência de um “estado de espírito”, na sociedade daquela época, que estaria desenvolvendo uma “grande tendência à realidade”. A ideia de uma sedução realista que compeliu a intelectualidade a desenvolver um esforço cognitivo para decifrar e para apreender a realidade, principalmente, a realidade nacional, encontra ressonâncias em, praticamente, toda produção dos anos 1930 subscrita no topos “Estudos Brasileiros”.
O fazer biográfico, porém, era mobilizado segundo diferentes perspectivas e foi, justamente, em relação a este “anseio realista” que as biografias revelaram-se ora fugidias à exigência realista do conhecimento historiográfico, devido a suas relações com o literário e o ficcional; ora como, fundamentalmente, apropriadas à construção do saber histórico, justamente, por sua capacidade de humanização dos processos passados ao revelar suas conexões mais intrínsecas. Uma das concepções acerca da biografia que mais teria gerado debates na intelectualidade brasileira, durante os anos 1930/40, foi a “biografia moderna”.
A autora retrata a trajetória da “biografia moderna” desde seus criadores europeus – André Maurois, na França, Emil Ludwig, na Alemanha, e Lytton Strachey, na Inglaterra – até sua recepção pela intelectualidade brasileira.
Identificada com o contexto posterior à primeira guerra mundial, a “biografia moderna” estava inserida em um contexto de revolta antipositivista “revolta antipositivista”, no qual emerge uma nova concepção de natureza humana mediada pelo conceito de inconsciente, pela valorização do meio histórico e cultural na compreensão das possibilidades e limites da ação dos indivíduos no mundo, pela junção, em escalas diferenciadas, do intuitivo e do racional nos métodos cognitivos (GONÇALVES, 2009, p. 154-155).
A recepção da “biografia moderna” em terras brasileiras rapidamente assumiu um sentido de identificação entre o fazer biográfico e a criação literária.
Em 1929, o crítico literário Humberto de Campos comemorava o fato de, a partir do surgimento da “biografia moderna”, ficar reservado ao Instituto Histórico a “missão soturna e benemérita de arquivar certidões de batismo, de coligir testemunhos de contemporâneos, de colecionar citações de historiadores eminentes” (CAMPOS apud GONÇALVES, 2009, p. 110). As biografias, porém, seriam agora escritas por “homens de pensamento – pelos romancistas, pelos poetas, pelos críticos literários –, porque ela deixará de ser história, isto é, ciência, para tornar-se arte em uma de suas expressões mais puras e legítimas” (CAMPOS apud GONÇALVES, 2009, p. 110). A “biografia moderna” passou, então, a ser sinônimo de biografia romanceada, contrapondo-se às biografias históricas.
Autores como Sérgio Buarque de Hollanda, Alceu Amoroso Lima, Lúcia Miguel Pereira, Sylvio Elia, Nelson Werneck Sodré e Luiz Viana Filho iriam, nos anos 1930/40, compor o debate intelectual em torno da biografia, ora defendendo seu caráter histórico, ora promovendo sua relação com a ficção.
Na maior parte dos casos, procurava-se uma conciliação entre as duas perspectivas.
Octávio Tarquínio de Sousa, fio condutor da obra de Gonçalves, percebia o sentido daquela epidemia biográfica como um sintoma de uma época que seria caracterizada pela “inumana anulação do indivíduo” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 207) e que, por “reação inevitável” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 207), era ávida por livros em que os “homens apareçam de alma nua, homens particulares, homens diferentes uns dos outros, homens como a vida modela e destrói […] a vida, toda a vida em suas mais opostas e diversas faces” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 207).
E foi a partir de um teórico reconhecido por seu destaque à importância do conceito de ‘vivência’ [Erlebnis] para a compreensão nas ciências humanas que Octávio Tarquínio sintetizou suas perspectivas acerca do fazer biográfico.
De fato, segundo o biógrafo brasileiro, “sua tarefa biográfica inspirou-se em boa parte das lições de Dilthey” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 296).
Nota-se, portanto, que Octávio Tarquínio de Sousa percebia no gênero biográfico um viés valioso para a compreensão das realidades passadas. Reconhecia o valor historiográfico inestimável de biografias clássicas como Estadista no Império (1897-1898), de Joaquim Nabuco, e Dom João VI no Brasil 1808-1821 (1908), de Oliveira Lima. Ao mesmo tempo, Octávio Tarquínio considerava como fundamentais as inovações trazidas ao gênero biográfico por meio do surgimento da “biografia moderna”. Não obstante, foi com base no teórico alemão Wilhem Dilthey (1833-1911) que Tarquínio de Sousa conseguiu sistematizar o valor do gênero biográfico para a compreensão da história.
Tratava-se de se perceber a “conexão estrutural de uma época ou período” não em que o indivíduo e o mundo histórico tornam-se distintos, porém, infinitamente, relacionados: assim como os homens não podem ser compreendidos se extraídos de sua época histórica, seria impossível compreender os processos históricos sem a atuação dos indivíduos.
Nesse sentido, observa-se, em Octávio Tarquínio, a possibilidade de indivíduos tornarem-se representativos de determinadas épocas, pois os sujeitos seriam um “ponto de cruzamento” de nexos efetivos e estruturais expressivos de comunidades e de sistemas culturais históricos. As trajetórias individuais trazem como que marcada, em seus corpos e em suas mentes, todo um mundo histórico que assume sentidos singulares através de cada experiência individual. Ao mesmo tempo, considera-se a existência de “sujeitos supraindividuais” como o direito, a arte, a religião e a nação. Eles seriam “um sujeito especial, preso a uma unidade que envolveria muitos sistemas particulares” (GONÇALVES, 2009, p. 306). A compreensão em ciências humanas e, especificamente, na historiografia, teria, portanto, um caráter hermenêutico marcado pela compreensão e pela revivência e sempre associado ao reenvio constante dos feitos individuais aos traços mais gerais de um mundo histórico.
A perspectiva historista trazia em seu bojo o caráter irrepetível do passado, a sua desvinculação de qualquer sentido teleológico (providência, progresso, liberdade) e a impossibilidade de redução da vivência histórica a uma explicação que a esgotasse.
Conforme demonstra a autora, Octávio Tarquínio de Sousa foi seletivo na apropriação tanto do pensamento de Dilthey, quanto das demais perspectivas com as quais teve contato. De fato, em sua busca pela renovação e, mesmo, pela validação do gênero biográfico como viés epistemologicamente legítimo à produção do conhecimento historiográfico, Octávio Tarquínio de Sousa sistematizava uma série de referências na composição da narrativa biográfica: Documentos de época, como cartas, jornais e atas oficiais, eram relacionados tanto com a historiografia mais antiga sobre a história do Brasil, como Southey e Armitage, quanto com autores renovadores do saber histórico brasileiro, como Gilberto Freyre. O gênero biográfico traduziria tanto uma inovação, fruto da demanda contemporânea por uma interpretação das realidades passadas segundo significados que remetessem à “compreensão” e à “vivência”, quanto um esforço revisionista, que objetivava reavaliar e reestruturar o saber histórico constituído.
O livro de Gonçalves traz, portanto, uma inestimável contribuição à história da historiografia nacional, justamente, por abordar discussões acerca de gêneros pouco, ou quase nunca, observados pelos especialistas da disciplina. De fato, o que a renovação dos estudos em história da historiografia brasileira deve revelar é a complexidade de temáticas e de perspectivas nas quais os historiadores brasileiros debruçavam-se, principalmente, entre o fim do século XIX e a metade do século XX. As relações da história com a literatura, da história com a época na qual é produzida, as possibilidades da história na constituição das identidades regionais e nacional, os conflitos em torno do passado mais legítimo e verdadeiro e, portanto, os sentidos políticos inerentes à produção historiográfica constituíram temáticas centrais nas discussões historiográficas brasileiras do período citado. Trata-se, portanto, de revisitar autores e obras que, por muito tempo, foram considerados como, justificadamente, esquecidos, e tantos outros sequer lembrados, em função de seu atraso segundo uma concepção evolucionista da “ciência” histórica. Em tempos de problematização acerca do sentido evolucionista da “ciência histórica”, o diálogo com aquela produção passada torna-se, cada vez mais, inescapável à reflexão historiográfica contemporânea.
Referências
NABUCO, Joaquim. Estadista no Império. Rio de Janeiro: H Garnier, 1897- 1898. 3 vols.
LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil 1808-1821. Rio de Janeiro: Tipografia do Jornal do Comércio, 1908.
SOUSA, Octávio Tarquínio de. Fundadores do Império do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. 10 vols.
SOUSA, Octávio Tarquínio de. Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. Coleção Documentos Brasileiros.
Thiago Lenine Tito Tolentino – Doutorando Universidade Federal de Minas Gerais [email protected] Rua Henrique José Ribeiro, n 30, Trevo 31545010 – Belo Horizonte – MG Brasil.
A História pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX – MARTINS (PH)
MARTINS, Estevão de Rezende (org.) A História pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX. São Paulo: Contexto, 2010. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Escrita da história no século XIX. Projeto História n. 41. 662 Dezembro de 2010.
A escrita da história no século XIX, já foi tema de diversas interpretações. Mas, no Brasil ainda carecemos de traduções de textos fundamentais sobre teoria, metodologia e história da historiografia. A iniciativa de Estevão de Rezende Martins, junto a outros historiadores (preocupados com essas questões), apenas por essa razão já deve ser saudada. Contudo, o livro não se limita a tradução de textos de Thomas Carlyle (1795-1881), Johann Gustav Droysen (1808-1884), Ernst Bernheim (1850-1942), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Theodor Mommsen (1817-1903), Karl Lamprecht (1856-1915), George Macaulay Trevelyan (1876-1962), Jacob Burckhardt (1818-1897), Leopold von Ranke (1795- 886) e de Henry Thomas Buckle (1822-1862), agrupados, respectivamente, em três partes: a História faz sentido (os três primeiros), o sentido produzido pela História (os outros quatro), e a História e seus campos (os últimos três).
Há também apresentações didáticas sobre o pensamento e a escolha do texto traduzido, que auxiliam na compreensão. E numa sugestiva introdução ao conjunto, Estevão Martins discorre ainda sobre o renascimento da história como ciência, nas últimas décadas, o que teria favorecido mais o empreendimento, visto que o século XIX foi o momento crucial para sua institucionalização, definição metodológica, organização de fronteiras, corpus documentais, funções na sociedade e, em resumo, o que fez da história também uma ciência, ainda que peculiar.
A perscrutar essas questões, nota que a polissemia do termo ‘história’ permitiria pelo menos quatro usos correntes naquele período: a) “o conjunto (mesmo desconhecido) da existência humana no tempo, ainda que não se saiba quando começou ou quando há de terminar (…) [pois] recobre qualquer ação humana e é nesse contexto que se fala, mais comumente, do ‘curso da história’”; b) “diz respeito à memória consciente daqueles agentes e daquelas ações que qualificam a identidade pessoal e social dos integrantes de uma dada comunidade (…) essa história continua sendo, contudo, um registro amplo do agir no tempo, restrito dessa feita a uma sociedade particular”; c) “enquanto conhecimento controlável e demonstrável, chamada de científica, ou ciência da história”; d) e “para designar as narrativas (de todos os tipos) com que se relata o agir passado dos homens no tempo” (p. 8-9). Nesse sentido, igualmente ao renascimento, senão da ‘história ciência’ tal como pensada no XIX, ao menos nas reflexões recentes sobre História e Literatura, numa redemarcação de fronteiras, funções e procedimentos, pois: A História cujo renascimento se organiza e estrutura na passagem do Iluminismo para o Renascimento e se consolida ao longo do século XIX nos cenários do positivismo, do historicismo, das escolas metódicas – e que orienta a organização deste livro –, é a História como ciência. História como ciência, cujos resultados historiográficos são expressos em narrativas que encerram argumentos demonstrativos articuladores da base empírica da pesquisa e da interpretação do historiador em seu contexto. A historiografia, assim, encerra em si as História, Historiadores, Historiografia. 663 características de ser empiricamente pertinente, argumentativamente plausível e demonstrativamente convincente (p. 10).
Assim, eles procedem a uma reflexão instigante sobre como os letrados do XIX pensaram a História como ciência, e os historiadores contemporâneos, organizadores da coletânea, a interpretam, utilizam e pensam-na nos anos iniciais do século XXI. De início, abordam questões que circunscrevem o questionamento/afirmação de se a História faz sentido. Para isso, Renato Lopes apresenta as principais ideias e o contexto em que surgiria a obra de Carlyle, para dar ensejo a seus textos: ‘Sobre a História’, de 1830, no qual argumentaria que “toda ação é estendida em três direções, e a soma geral da ação humana é todo um universo, com todos os seus limites desconhecidos, somente assim a História se mantém seguindo caminho após caminho, através do instransponível, em diversas direções e intersecções, para nos assegurar uma visão parcial do todo” (p. 25); e ‘Sobre a História, outra vez’, de 1833, em que indica que a “História (…) antes de tornar-se a História universal, necessita primeiramente ser comprimida”, pois, se “não houvesse a glorificação da História, ninguém conseguiria lembrar-se de fatos ocorridos após uma semana” (p. 28).
No mesmo caminho estará à apresentação de Arthur Assis a obra de Droysen, e o texto ‘Arte e método’, de 1868, expressaria um momento singular do debate na Alemanha, onde “enquanto alguns dos grandes poetas e pensadores de nossa nação mergulhavam nas questões teóricas do conhecimento histórico, desenvolvia-se no escopo dos trabalhos históricos a precisão e a solidez da crítica que, qualquer que fosse a área da História em que se a aplicasse, trazia resultados inteiramente novos e surpreendentes” (p.
39), donde sintetizá-los “em pensamentos comuns, desenvolver seu sistema e sua teoria e assim determinar as leis da pesquisa histórica, e não as leis da história: essa é de fato a tarefa da teoria da história” (p. 46), a que Droysen se propunha elaborar, e que este texto demarcaria um de seus esboços.
Igualmente fará ao apresentar Ernst Bernheim, e seu texto ‘Metodologia da ciência histórica’, de 1908, onde entenderá que o método “é o procedimento utilizado por uma ciência para obter resultados cognitivos de um dado material empírico”, mas o “material com que trabalham os historiadores é peculiar”, por isso, o método histórico encontraria dificuldades para agrupar e proceder à análise dos dados sobre o passado, de modo a lhes dar sistematicidade expositiva e lhes tornar confiáveis, uma vez que na “pesquisa histórica, designamos ‘prováveis’ aqueles fatos que consideramos como tendo acontecido porque dispomos de relatos e razões que são mais fiáveis ou plausíveis do que os relatos e razões em contrário, ainda que reconheçamos a possibilidade de que estejamos errados” (p. 66).
Num segundo momento, são apresentados textos que discorrem sobre o sentido produzido pela História. Abre a seção o texto de Humboldt, ‘Sobre a tarefa do historiador’, de 1821, apresentado por Pedro Caldas, no qual discorre que “o historiador será passivo caso se limite a reproduzir os fatos, e, o que seria ainda pior, acredite que nisso consiste sua tarefa”, tendo em vista que o “sentido não está previamente dado, mas é uma construção do historiador” e “tal construção (…) também está longe de se restringir a um arroubo romântico vulgar” (p. 71-2), como notará Caldas. Para Humboldt a “tarefa do historiador consiste na exposição do acontecimento”, mas para fazê-lo adequadamente “o historiador não pode largar o seu domínio sobre a sua exposição ao se limitar a procurar tudo na matéria objetiva; ele precisa, ao menos, deixar espaço para a ação da ideia; mais adiante, ele precisa, com o tempo, deixar a alma receptiva para a ideia e mantê-la viva, intuí-la e reconhecê-la; precisa, acima de tudo, se precaver em não atribuir à realidade suas próprias ideias, ou ainda, em não sacrificar ao longo da pesquisa a riqueza viva das individualidades em prol do contexto totalizante” (p. 100).
Na sequência, o texto de Mommsen, ‘O ofício do historiador’, que foi seu discurso de posse na reitoria da universidade de Berlim, em 15 de outubro de 1874, com apresentação de Estevão Martins, e onde o autor indica que a “História nada mais é do que o conhecimento nítido de acontecimentos efetivos, estabelecidos parte pela descoberta e análise dos testemunhos sobre eles disponíveis, parte pela conexão entre eles, a partir do conhecimento das personalidades atuantes e das circunstâncias existentes, numa narrativa que articule causa e efeito” (p. 117). Por sua vez, Luiz Sérgio Duarte nos História, Historiadores, Historiografia. 665 apresenta Lamprecht, e seu texto ‘História da cultura e História’, de 1910, em que argumenta que para “nós, historiadores, o que resta é o conjunto dos eventos históricos, e se nós queremos compreendê-los e organizá-los procedemos cronologicamente” (p. 129). Encerrando a seção, Estevão Martins apresenta Trevelyan, e seu texto ‘Viés na História’, de 1947, no qual aborda as circunstâncias que definem as escolhas que fazem os historiadores ao elegerem seus objetos de pesquisa, assim como a dos agentes envolvidos nos acontecimentos narrados, visto que a “História não seja uma ciência exata, mas uma interpretação de circunstâncias humanas, a opinião e variedades de opiniões se imiscuem como fatores inevitáveis”, da mesma forma como o “viés interpretativo de um homem sobre um problema histórico pode coincidir com a verdade, mas é bem mais provável que esteja parcialmente correto e parcialmente errado” (p. 138-39).
Na última seção, são reunidos textos que discorrem a História e seus campos. Nos dois primeiros de Burckhardt, ‘História da cultura grega: Introdução’, de 1872, e ‘Sobre a história da arte como objeto de uma cátedra acadêmica’, de 1874, como também sugere a apresentação de Cássio da Silva Fernandes, ele se preocuparia em apresentar um programa de pesquisa, para se proceder ao estudo da história da cultura, com ênfase na história da arte. Mas não apenas isso, também elenca certas vantagens da história da cultura, como a de “proceder por reagrupamentos, e pode dar relevo aos fatos segundo a sua importância proporcional, e não é obrigada a desprezar todo sentido de proporção, como costuma ocorrer nos tratamentos antiquários e histórico-críticos [das abordagens tradicionais da pesquisa histórica]” (p. 170). E demonstra ainda como a história da arte seria promissora para estudar vanguardas, movimentos, transformações socioculturais, e ainda permitir ao pesquisador “não se abandonar cegamente ao mundo das intenções, mas permanecer aberto ao conhecimento objetivo das coisas, quer dizer, não ser um sujeito comum” (p. 184). Já Sérgio da Mata nos apresenta Ranke, e seu texto ‘O conceito de história universal’, de 1831, que de certo modo anteciparia certas constatações de Burckhardt, apesar das diferenças óbvias entre ambos, ao ressaltar que a “História se diferencia das demais ciências porque ela é, simultaneamente, uma arte”, ou seja, ela é “ciência na medida em que recolhe, descobre, analisa em profundidade; e arte na medida em que representa e torna a dar forma ao que é descoberto, ao que é apreendido” (p. 202). Por fim, Valdei Araujo nos apresenta Buckle, e seu texto ‘Introdução geral à História da Civilização na Inglaterra’, de 1857, no qual abordaria outros campos propícios a pesquisa histórica, apesar de uma “grande atenção te[r] sido aplicada à história da legislação, bem como a da religião”, também haveria um “considerável trabalho, embora inferior, [que] tem sido empregado em traçar o progresso da ciência, das literaturas e belas artes, das invenções úteis e, ultimamente, dos costumes e comodidades dos povos” (p. 226).
Vistos em conjunto, portanto, os textos aqui agrupados, traduzidos e apresentados nos revelam um rico painel sobre as várias formas de se escrever a História no século XIX. Ao contrário do que comumente é pensado, os textos nos revelam autores mais complexos, com debates que não se limitaram a circunstanciar a história como ‘ciência’, mas em apresentar também as peculiaridades que a tornam tão híbrida, a ponto de ser um canteiro aberto tanto para a ‘ciência’, quanto para a ‘arte’, e coexistindo entre ambas, não deixar de informar, apresentar e interpretar o processo histórico e o agir humano no tempo.
Diogo da Silva Roiz – Doutor em História. E-mail: [email protected].
Breve história do século XX – BLAINEY (CTP)
BLAINEY, Geoffrey. Breve história do século XX. [?]: Fundamento Educacional, 2008. Resenha de: DAMASCENO, Natália Abreu. Uma Breve História do Século XX: Entre os Perigos e as Benesses da Síntese. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 01 – Outubro de 2010.
Após o sucesso do bestseller Uma Breve História do Mundo publicado em 2000, o australiano Geoffrey Blainey, professor em Melbourne e em Harvard, apostou novamente na síntese de períodos de longa duração. Em 2005, lançou o livro Uma Breve História do Século XX, cuja primeira edição brasileira só foi lançada pela editora Fundamento Educacional em 2008. Esta obra narra, mais que os grandes acontecimentos do século, o extenso processo de transformação vivenciado pela humanidade ao longo dos novecentos.
Evidentemente, ao tentar abarcar todo o século XX, incluindo seus diversos conflitos e dilemas políticos, econômicos e sociais, a narrativa de Blainey revela um previsível grau de superficialidade. Afinal, trata-se de um século descrito em 309 páginas. Porém, ao optar por abandonar muitos dos jargões e reflexões densas, típicas das obras historiográficas, o autor produz uma narrativa leve e acessível aos aficionados de diversas áreas do conhecimento.
Deste modo, a isenção de uma análise robusta dos acontecimentos, do número excessivo de datas, nomes e dados científicos afasta esta obra do mundo acadêmico e coloca-a nas mãos do grande público. Vale lembrar que as freqüentes inferências do autor sobre o cotidiano, seu recurso a conceitos como “mentalidade” e “espírito de época”- explorando curiosidades e por vezes adentrando na história da vida privada – despertam o interesse de um público mais heterogêneo e distanciam a obra das frias narrativas dos livros didáticos.
Uma Breve História do Século XX foca-se nos três grandes conflitos mundiais ocorridos neste século: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria. A Primeira, descrita como as demais com vivacidade jornalística, é entendida por Blainey como uma ruptura no otimismo que vinha se estabelecendo nas civilizações devido aos avanços conquistados no fim do século anterior. O século XX era um século promissor: a Europa era o lar de vastos impérios e de poderosas nações consolidadas, os Estados Unidos eram a terra da inventividade e do rápido crescimento econômico. A democracia e a liberdade começavam a invadir os territórios ainda que apenas em uma parte do mundo. Tudo levava a crer que, nas regiões não atingidas pela prosperidade, os ventos da mudança chegariam mais cedo ou mais tarde.
Geoffrey Blainey chama de “segunda era inventiva” o período que vai de 1850 até a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, segundo ele, as diversas inovações tecnológicas como o telefone, o gramofone, a câmera e o avião, tornavam o mundo menor, mas “O fato de o mundo estar se tornando menor não significava que necessariamente ficava mais amigável” (BLAINEY, p. 41, 2008). Os crescentes gastos com armas, navios de guerra e com o exército foram o prenúncio de que as batalhas de pequena escala freqüentes no início do século, período que até então era considerado pacífico entre as grandes potências, culminariam num estrondoso conflito mundial.
A Europa, até então leito das grandes economias e acontecimentos, é retratada como palco de diversos conflitos étnicos, econômicos, políticos, religiosos e ideológicos há muito iniciados, mas que se acentuaram neste século. Assim, eventos como a Revolução Russa, a crise de 1929, as tensões do tratado de Versalhes, a criação da Liga das Nações, a ascensão de regimes totalitários autoritários e fascistas nos anos 20 e 30 e o nascimento de uma Turquia independente do islamismo são abordados sob um ponto de vista que enxerga o século XX como um período de intensificação das diferenças através da supressão do espaço.
Já a Segunda Guerra Mundial, que contou com armas e estratégias mais avançadas, aparece nesta obra de Blainey como um atestado temporário de colapso das democracias, agravado pela tomada da França pelos nazistas em 1941. O massacre de judeus, ciganos, homossexuais, a invenção de armas letais sofisticadas, a voraz expansão do império japonês na Ásia Oriental e o mistério da vida na União Soviética compuseram o cenário de terror e incertezas que assolou o mundo durante este conflito. O fim da guerra trouxe mais dúvidas que explicações. As nações européias deixam de ser as grandes potências e o mundo polarizou entre os Estados Unidos e a União Soviética. O mapa europeu mudou novamente e grandes investimentos científicos começara a ser feitos. Iniciara a chamada Guerra Fria.
Ao tratar da segunda metade do século XX, que o autor entende como o momento de triunfo e consolidação da verdadeira democracia, Blainey não desenha somente um panorama das batalhas, dos acordos e dos impasses políticos e militares que ocorreram durante a Guerra Fria. Evidencia também, nesse período, a emergência de movimentos ecológicos, pacifistas, musicais e feministas enquanto partes de um processo de mudanças que configurariam mais tarde os valores, o comportamento e a moral da sociedade do século XXI. Delineia este processo inclusive, englobando diversos âmbitos como o dos esportes, das línguas globais e da urbanização das cidades.
Deste modo, Uma Breve História do Século XX é repleto de escolhas feitas pelo autor (umas louváveis, outras nem tanto). Afinal de contas, ao mesmo tempo em que fornece um painel dinâmico dos principais acontecimentos históricos ocorridos no referido século, falha na problematização de alguns e até no esquecimento de outros, como por exemplo, da política do Apartheid (1948-1990), relevante problema na história dos novecentos que não é sequer mencionado na obra. Por fim, Geoffrey Blainey possui o mérito da boa síntese, em uma obra relevante que compila informações históricas de diversas naturezas. Porém, a crítica que por vezes é ausente no livro, não deve faltar ao leitor.
Referências
DAMASCENO, Natália Abreu. Uma Breve História do Século XX: Entre os perigos e as benesses da síntese Revista Eletrônica Boletim do TEMPO, Ano 5, Nº08, Rio, 2010.
Natália Abreu Damasceno – Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe. Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET)/UFS. Grupo de Estudos do Tempo Presente/CNPq/UFS. [email protected]@gmail.com.
Escrituras da história: da história mestra da vida à história moderna em movimento (um guia) – ANHEZINI (HH)
ANHEZINI, K. Escrituras da história: da história mestra da vida à história moderna em movimento (um guia). Guarapuava: Unicentro, 2009, 80 p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. As metamorfoses da “escrita da história”. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.223-227 setembro, 2010.
A história mestra da vida possui certidão de nascimento grega [com a obra de Tucídides], o nome cunhado em latim [por Cícero], os primeiros exemplos que a compunham eram profanos. […] Todavia, no século XVIII, essa forma de conceber a história se dissolveu.
Um novo espaço de experiência criou um novo horizonte de expectativas e, nesse processo, a concepção de tempo foi transformada. (ANHEZINI 2009, p. 76).
Nesses termos, Karina Anhezini (professora de teoria da história na UNESP, campus de Assis) sintetiza as mudanças da “escritura da história”, entre os séculos IV antes de Cristo e o século XVIII, como uma passagem da história mestra da vida (e fornecedora de exemplos) para a história enquanto processo contínuo, empreendida originalmente pelas “filosofias da história”, produzidas pelo “movimento iluminista” na Europa. Sua obra é voltada para o aluno que está ingressando no curso de história – estando inserida no projeto de ensino semipresencial da Universidade Estadual do Centro-Oeste (a Unicentro/PR), de oferecimento do curso de licenciatura plena em história à distância –, mas por suas qualidades pode facilmente ser útil ao especialista e a todo interessado em temas de história. Por outro lado, o livro chega também em boa hora, pois, se acrescenta a uma bibliografia ainda escassa em nosso meio, de obras introdutórias ao campo da teoria da história, da historiografia e da introdução aos estudos históricos, durante muito tempo limitados aos manuais acadêmicos de Jean Glénisson, José van den Basselaar, José Honório Rodrigues, José Roberto do Amaral Lapa, Francisco Iglésias, e, mais recentemente, por obras como História e teoria (2003) de José Carlos Reis e Teorias da história (2004) de Astor Antônio Diehl.
Seu principal objetivo foi, tomando de empréstimo a ideia de “operação historiográfica” de Michel de Certeau (1925-1986), mostrar que o “fazer história” inevitavelmente carrega as marcas de um “lugar” (um recrutamento, um meio, uma profissão), de “procedimentos de análise” (uma disciplina) e de uma “escrita”, que é a construção de um “texto” (uma literatura), que fazem com que o exercício de “escritura da história”, seja uma “prática” efetuada pelo historiador. Com esse intento, a autora procurou mostrar a importância do contexto para o indivíduo, e como ele age na produção da obra, na formação e nas experiências do autor (que limitado à sua época, carrega as suas marcas), como e por que ele escreve a sua obra e a quem ele a direciona, quais as estratégias narrativas que foram utilizadas e como o autor forma o seu estilo, de que modo a obra foi publicada e qual a herança crítica que ela deixou.
Mas que não se engane o leitor mais apressado, imaginando que pelo texto ter esse perfil didático, não deixe de carregar erudição. A própria simplicidade com que o leitor é conduzido pelo livro, fruto de um estilo de exposição dos dados, lhe deixará com a impressão de superficialidade.
Entretanto, esse não é o caso, e vejam-se tão somente alguns pontos para se demonstrar o argumento.
O primeiro ponto importante diz respeito à forma como a autora demonstra que embora a história mestra da vida constituísse um modelo de escrita da história, houve muitas variações no modo sutil com que cada autor, grego ou romano da Antiguidade (e mesmo depois no período medieval e moderno), apropriou-se dele na sua apresentação dos dados, por meio de uma narrativa.
Ela inicia essa demarcação fornecendo subsídios para que o leitor possa perceber como a História, antes de se distinguir como gênero específico, utilizou-se da epopeia, porque a “narrativa heroica de ações grandiosas, a construção da memória do aedo e a descoberta de um regime de historicidade são, nas palavras de Hartog, as condições que possibilitaram o que, alguns séculos mais tarde, será nomeado por Heródoto, história” (p. 16). Nesse processo, demonstra que questões como: verdade, testemunho, diferenças entre realidade e imaginação, real e ficção, e “o fato de ver paralelamente os dois lados abre a possibilidade de pensar […] [qual o] papel para o historiador” (p. 17). Por isso, também ressalta o que caracterizou a epopeia, com os exemplos da Ilíada e da Odisseia, e quais as diferenças e aproximações entre ela e a (escrita da) História, por que: A organização do texto épico se pautava na narrativa dos feitos dos homens e dos deuses. Com Heródoto, a história não pretendeu romper completamente com essa característica central da palavra épica, mas, sem dúvida, provocou algumas fraturas. […] a preocupação com a memória; a renúncia às certezas do aedo; a narrativa dos feitos dos homens, pois os feitos dos deuses escapam às possibilidades do historiador investigar; diferente do aedo o historiador viaja com os próprios pés e pelos relatos de outros e não mais por inspiração divina (p. 21).
Com Tucídides (455-404 a.C.), a escrita da história agrupa o valor de “prova”, seja com a participação direta do historiador quanto aos eventos narrados, seja por demarcar uma abordagem adequada ao espaço do observador no presente (que, evidentemente, será depois criticada por visualizar a “história política”, com esta exclusividade). Ao eleger a Guerra do Peloponeso, um fato marcante em sua época, Tucídides começou a dar ênfase à história baseada em “exemplos”. Ainda que ambos considerassem “a tradição oral superior à tradição escrita” e confiassem “em primeiro lugar em seus olhos e ouvidos e depois nos olhos e ouvidos de testemunhas confiáveis”, diferenciavam-se na medida em que “Tucídides nunca se contentava em registrar algo sem assumir a responsabilidade pelo que registrava” e também “raramente indicava as fontes porque queria ser digno de confiança” (p. 25-26). Outro aspecto importante, ao comentar tais autores, foi o destaque que a autora deu ao informar os diferentes usos (e abusos) que tanto a obra como os autores tiveram ao longo do tempo, em função das características políticas e culturais de cada momento, que fará com que em cada período histórico “os textos” tenham “significados diferentes e que, por isso, precisamos ficar atentos para questionarmos os cânones literários, filosóficos e, sobretudo, historiográficos” (p. 29).
Com Aristóteles (384-322 a.C.) e Políbio (210-130, aprox.) houve uma preocupação especial em se diferenciar os papéis de cada campo do saber, que, para o primeiro, a História seria incumbida do “particular”, enquanto a Poesia (épica) do “geral” (fato marcante durante séculos, por excluir a capacidade de reflexão filosófica nos estudos históricos), e o segundo lhe responde ao pretender escrever a “primeira história universal”. Com Cícero (106-43 a.C.), a escrita da história passará a dar importância sobre alguns temas, como: “exemplos, imparcialidade, biografia, história dos grandes homens e imitação”. Para ele, “a história, para ser verdadeiramente escrita, para deixar de ser apenas o registro nos anais, deve ser escrita para o orador e ninguém melhor que ele, o próprio orador, para escrever tal história, pois domina a arte da palavra, a eloqüência”.
Não será sem razão que a história passara a ser mestra da vida, ao fornecer os exemplos descritos pelo orador. E: Para escrever a história são necessários fatos e palavras. O historiador pode ordenar esses fatos, apresentá-los por meio das palavras, mas nunca poderá instaurá-los, criá-los, instituí-los. Os fatos são verdadeiros, eles existem, seu aproveitamento e composição pertencem à competência do orador (p. 37).
Por outro lado, as críticas levantadas por Luciano de Samósata (125- 181) são descritas pela autora como um momento de reflexão teórica pouco usual na Antiguidade, e de profundo interesse para se entender os caminhos da escrita da história, e os usos políticos a que foi submetida. Ao demonstrar como Flávio Josefo se utilizou das características desse modelo de “escritura da história”, com vistas a criticar tanto gregos como romanos que foram seus criadores, por a praticarem de forma inconsistente e inadequada, este acreditará que “sua história é verdadeira não somente pelos procedimentos da autópsia aprendidos com Tucídides, mas porque uma instituição [a Igreja] atesta a veracidade dos fatos narrados” (p. 47). O aparecimento de uma instituição, neste caso a Igreja, para demarcar a autenticidade e veracidade dos fatos narrados pelo historiador, constitui o início da fundação do “lugar”. Com Eusébio de Cesareia (265-340) e Santo Agostinho (354-430) essa questão será ainda mais marcante nos contornos que tomaram a escrita da história, tendo em vista a importância que terá a instituição na demarcação dos temas e objetos a serem escolhidos, analisados e descritos pelo historiador.
Depois de descrever as variações e a durabilidade da história mestra da vida na “escritura da história”, a autora, tendo por base a obra de Reinhart Koselleck (Futuro passado), passará a demonstrar a sua dissolução no século XVIII. Para isso foi necessária a formação de “novas” expectativas sobre o passado, o presente e o futuro. E que se deram em função de uma mudança na compreensão da História (enquanto processo contínuo), não mais como fornecedora de exemplos sobre o passado, mas como indicação da maneira que se dará o processo histórico (no presente e no futuro), apreendendo o “conceito de coletivo singular”, ao destacar que “acima das histórias” está a História. Nesse aspecto, o surgimento, nesse momento, das “filosofias seculares da história” fará com que a história adquira “um caráter processual cujo fim é imprevisível” (p. 72) e, com isso, favorecerá a inauguração de um novo futuro, por meio da reelaboração do passado. Além disso, a modernidade marcará o aparecimento de uma experiência conjunta de aceleração e de retardamento, com as revoluções e suas contraofensivas. Para ela, Koselleck explicará como a “aceleração causada pela Revolução Francesa modifica a forma de compreensão do tempo e, portanto, altera o próprio tempo” (p. 74).
Nesse sentido, além de fornecer subsídios para que o ingressante ao ofício de historiador possa compreender o que é a teoria da história, e de que modo a escrita da história muda com o tempo, a autora também dá base para que este perceba que qualquer modelo de “escritura da história” não é homogêneo, que sua elaboração é mediada por questões políticas e culturais, que este traz as marcas de seu tempo, que seus fundamentos visam atingir a um fim e este fim pode também direcionar a maneira com que os dados são apresentados (seja numa forma narrativa ou outra). Contudo, mesmo considerando seus objetivos didáticos, não há como negar que em alguns pontos os argumentos poderiam ter ficado mais consistentes, com o aporte de outros autores, como: Carlos Ginzburg (de Relações de força, e de O fio e os rastros), Luiz Costa Lima (de História.Ficção.Literatura, e de O controle do imaginário & a afirmação do romance), François Cadiou (de Como se faz a história) e Maria das Graças de Souza (de Ilustração e história) – para ficar apenas em alguns. Muito embora essa questão e alguns pequenos erros tipográficos da edição, que em nada interferem nos méritos da obra, esta deve ser muito elogiada pelo seu caráter didático. A lamentar apenas a política editorial da Universidade Estadual do Centro- Oeste (a Unicentro/PR), que, com pequenas tiragens (como a deste livro de 400 exemplares, ainda que reconheçamos a especificidade do projeto em questão), não comercializa suas obras, que seriam fundamentais para um intercâmbio entre outros cursos de história e de ciências sociais, além de disponibilizar as obras para um público mais amplo.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando Universidade Federal do Paraná (UFPR) [email protected] Rua Tibagi, 404/100 – Centro Curitiba – PR 80060-110 Brasil.
Senhores da história e do esquecimento: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX – MELO (HH)
MELO, Ciro Flávio de Castro Bandeira. Senhores da história e do esquecimento: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, 224pp. Resenha de: CARVALHO, Rosana Areal de; RODRIGUES Elvis Hahn. Manuais didáticos de História do Brasil: entre a memória e o esquecimento. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.314-319 março 2010.
O livro Senhores da história e do esquecimento: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX publica a tese de doutoramento defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 1997, pelo professor Ciro Flávio de Castro Bandeira de Melo que, além da reconhecida trajetória no ensino de História, se faz amigo do tempo. Sem pressa, como bom mineiro, vem cunhando a vida de professor sustentada em experiências riquíssimas, seja proveniente dos níveis de ensino nos quais atuou, seja pelo gosto de estudar que sempre manifestou.
Trata-se de um estudo comparativo entre dois manuais escolares de história, em momentos distintos da educação brasileira: Lições de História do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo e História do Brasil, de João Ribeiro. São obras de referência sobre o conhecimento histórico, no âmbito didático. Em comum, além da produção de um manual escolar (termo mais apropriado para a época), os dois autores estiveram vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, e foram professores do Colégio Pedro II. Logicamente, em medida e tempos diferentes.
A partir daqui, a resenha deste livro se faz muito difícil, pois se trata de uma tese defendida em 1997. Uma resenha nos moldes tradicionais trataria de confrontar a obra com a produção historiográfica da época. Neste caso, temos outra possibilidade: que influências essa obra exerceu na produção historiográfica posterior? Qual seria o melhor caminho a tomar? Independente do caminho a tomar, não temos dúvida de que a jornada empreendida pelo Prof. Ciro exigiu muito fôlego. Primeiro, porque trilhou por várias áreas do conhecimento: aborda a historiografia brasileira, ao tratar das produções vinculadas ao IHGB e as influências de historiadores como Varnhagen e Capistrano de Abreu. Trata do ensino de história, dado que os autores foram professores do “Pedro II”, modelo de ensino secundário instituído no Brasil na mesma década da criação do IHGB. E, junto com o ensino de história, temos o cerne do trabalho, que é compreender e confrontar dois manuais didáticos nos aspectos relativos à elaboração, às influências recebidas pela historiografia disponível e ao processo de didatização do conhecimento histórico. Perpassa, portanto, as representações sobre a história do Brasil: o que deve ser memória e o que deve ser esquecimento. Segundo, porque para tratar de cada uma dessas áreas se fez necessário outros tantos estudos que estão presentes na obra. Por exemplo, parte da trajetória do IHGB, envolvendo os autores-mestres como Varnhagen e Martius. Ainda inclui o Imperial Colégio de Pedro II, chamado Ginásio Nacional após a Proclamação da República. São os “agentes”.
O trabalho se debruça sobre dois momentos. O primeiro – Os agentes – abarca o lugar de produção das obras em seus respectivos momentos históricos. Enuncia as influências presentes em cada uma das obras e como estas se remetem à tradição historiográfica produzida pelo IHGB, a partir de sua fundação, em 1838. O segundo momento – Os livros – faz um estudo comparativo de como os manuais abordam temas consagrados e emblemáticos da História do Brasil tais como: o Descobrimento, os indígenas, as invasões estrangeiras, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, a Chegada da Família Real, a Independência, Escravidão e Abolição. Melo aborda esses temas a partir das continuidades e rupturas, na medida em que defende a hipótese da obra de Macedo ser destinada à educação dos súditos da Coroa, e a obra de Ribeiro comprometida com a educação do cidadão republicano.
Nesta primeira parte da tese, Melo enuncia seus referenciais teóricos a partir dos conceitos de hegemonia, direção e controle sobre o todo social e político. Direção aos aliados e domínio sobre os opositores. O ensino de história se insere nesta relação como forma não violenta de hegemonia de uma visão de mundo, segundo os enunciados de Gramsci.
A partir destes conceitos, Melo compreende a obra Lições de História como expressão da centralidade e estabilidade da monarquia, para a formação do súdito. E História do Brasil, por outro lado, significa ruptura dos modelos construídos por Varnhagen, no sentido de formação do cidadão republicano; expressão de um tempo de esperanças políticas a partir da República e da abolição. Neste sentido, lança mão do historicismo alemão e dos estudos antropológicos (sob a égide da biologia e eugenia), conceitos predominantes no Brasil ao final do século XIX. Em síntese, Melo dá um trato de historicidade aos seus objetos, observados à luz de seu tempo.
Esta historicidade é desenvolvida a partir dos referenciais que conduzem a produção das obras. Para tanto, discorre sobre a fundação e o papel do IHGB na construção do saber histórico e na produção historiográfica brasileira. Destaca Von Martius e Varnhagen, por conta de suas contribuições e importância a partir das premissas enunciadas em suas obras Como se deve escrever a história do Brasil e História Geral do Brasil, respectivamente. Recorre, também, aos traços biográficos dos autores pesquisados, seus papéis enquanto professores do Imperial Colégio de Pedro II/Ginásio Nacional, compreendido como lugar da intelectualidade brasileira do século XIX.
A análise destes “agentes” é importante para se compreender o deslocamento das linhas explicativas da história brasileira. A obra de Macedo, ou Dr. Macedinho, como era conhecido, é, em última instância, uma síntese da obra de Varnhagen, preparada para uso didático dos alunos do Colégio Pedro II.
A obra de Ribeiro, por outro lado, busca romper com os paradigmas da obra anterior, que perdurou ao longo do século XIX neste colégio e em outras escolas secundárias pelo país afora, pois era uma obra obrigatória nos exames preparatórios para ingresso nos cursos superiores no Brasil.
A obra de Von Martius, para Melo, influencia a obra de Ribeiro, mais do que este enuncia em seu prefácio, que apenas diz que Martius deu indicações vagas e inexatas como modelo de investigação sobre a história brasileira. A propósito desta assertiva, Múcio Leão, autor contemporâneo de João Ribeiro, ao redigir a apresentação da obra Trechos Escolhidos, cuja coletânea reúne diferentes ensaios e enxertos de João Ribeiro sobre diferentes áreas, já anunciava a influência de Martius sobre a obra de Ribeiro: “[Martius] que escreveu um pequeno mas lúcido trabalho ensinando Como se deve Escrever a História do Brasil, trabalho em cujas linhas gerais João Ribeiro em parte se inspirou” (LEÃO, 1960, p. 10). Ainda que, pela análise documental, possamos chegar à mesma conclusão, e a obra de Leão esteja citada na bibliografia da tese, Melo não a anuncia no seu trabalho, ou seja, não informa que tal questão já havia sido colocada por um estudioso que lhe é anterior – a obra fora publicada pela Livraria Agir em 1960.
Macedo, por outro lado, apesar dos elogios a Martius, segue na esteira de Varnhagen, inclusive no tom encomiástico próprio ao historiador oficial da Monarquia. Por exemplo: não reconhece a participação das três raças que constituem a nacionalidade brasileira. Esta estaria restrita à civilização branca, católica e portuguesa, que seria o legado da nação independente e monárquica, como manda a tradição do povo aqui constituído e ungido pela vontade divina.
Ao longo da segunda parte da tese se debruça sobre o cotejamento entre os manuais em questão e demonstra a importância dos mesmos quanto ao ensino de história do Brasil. Joaquim Macedo compõe sua história tendo como centro os reis e príncipes e, em alguns casos, subalternos mais ilustres que deixaram suas marcas na expansão e consolidação do império português.
O Brasil independente, neste sentido, é uma continuação autônoma, sem dúvida, da civilização portuguesa. O tratamento dado a questões como a escravidão africana, a independência do Brasil, as sedições no período colonial, é marcado pela contenção, sem esboçar qualquer conflito com a Coroa. No entanto, e isso Melo deixa bem claro, as concepções mais pessoais de Macedo estão em obra literárias, utilizadas como parâmetro de comparação para problematizar o sentido da história em Lições que não expressa, necessariamente, o posicionamento do autor sobre o tema.
Macedo aborda a história política sob um ângulo jurídico, tratando as sedições, como a Inconfidência, a Conjuração Baiana e a Revolução de 1817, como crimes de lesa-majestade, causa da acertada repressão da Coroa, além de serem movimentos que não respeitaram as tradições e os costumes brasileiros. Nesta linha interpretativa, a monarquia era o caminho mais adequado às tradições brasileiras, sobretudo, quando comparada às Repúblicas hispanoamericanas, que se esvaíam em guerras civis. O que era um excelente argumento para Macedo explorar e criticar os ideais republicanos presentes em segmentos políticos no Brasil à sua época.
Ribeiro, por sua vez, explora a ação de outros agentes, como o povo, para designar a formação do país e da nacionalidade brasileira. Isto implica em tratar a questão da miscigenação, negada e/ou omitida em Macedo, como formadora da raça mameluca, especificidade da nacionalidade brasileira. A Monarquia, para Ribeiro, significou um atraso, que impediu o povo de se apossar do Estado e desenvolver a democracia. Por outro lado, tem na Monarquia o legado da unidade política nacional que, possivelmente, teria se fragmentado em diversas repúblicas, a exemplo da América hispânica. A interpretação de Ribeiro segue a linha de evolução do povo e das instituições brasileiras que tem, na República, o seu regime definitivo e consoante com o estágio de desenvolvimento do caráter real da nacionalidade brasileira.
Melo explica-nos a superioridade das reflexões na obra de Ribeiro, que contava com mais de 50 anos do IHGB no âmbito da produção e organização das fontes; sem contar com as reflexões filosóficas mais sofisticadas, como as de Tobias Barreto e Silvio Romero, da Escola de Recife, expoentes do germanismo nas ciências humanas no Brasil, ao final do século XIX. No contexto em que Macedo produziu sua obra a história do Brasil estava por fazer. Por isso, apenas sintetiza a obra mestra – História Geral, de Varnhagen. Contudo, em aspectos como a chegada da Família Real e a Independência, Macedo tem certa autonomia em relação à obra de Varnhagen, com reflexões próprias e distintas. Ribeiro assimila bem o materialismo alemão, que coloca na cultura e na economia o sentido das ações e do desenvolvimento da história brasileira, numa contraposição à obra de Macedo, imbuída de teologia, como uma das determinantes do desenvolvimento de nossa história.
Entendemos que o mérito do trabalho está em resgatar, no âmbito das idéias e discursos, os caminhos do ensino de história ao longo do século XIX e primeira metade do século XX. Se, por um lado, não explora a fundo os significados históricos nas linhas interpretativas dos autores, por outro, abre caminhos para discussões que lhe sucederam em torno da nacionalidade brasileira no ensino de história, como Feições e fisionomias: a história do Brasil de João Ribeiro de Patrícia Hansen.
Neste sentido, entendemos que os referenciais de Gramsci não esgotam os significados históricos. Ou seja, mais do que expressão de uma relação de forças presentes na sociedade brasileira do século XIX, são elementos constituinte da realidade, na medida, em que dirigem opiniões, que se desdobravam em ações políticas, valores e costumes e mesmo preconceitos, notadamente, sobre os negros e as nações indígenas.
Há que se destacar, ainda, uma antiga discussão: o papel do livro didático na difusão do conhecimento histórico. Em que medida um manual didático pode acompanhar os resultados mais recentes da pesquisa historiográfica? Nos trabalhos analisados por Melo ao mesmo tempo em que está explícita a historicidade de cada manual, identifica-se a posição política dos autores.
Seguindo esse raciocínio, não é difícil compreender o papel do livro didático de História num contexto de repressão como foi caracterizado o período da Ditadura Militar no Brasil, por exemplo. No entanto, os anos 80 nos colocam frente a uma outra realidade. Por um lado, surgem as novas correntes historiográficas que vão redirecionando o fazer histórico, consoante a uma nova concepção de história, de documento, de sujeito histórico. Nesses anos, o livro didático foi profundamente discutido enquanto instrumento pedagógico.
Por outro lado, convive-se com a reconstrução democrática e seus desdobramentos, muito especialmente no campo educacional e, para os fins deste trabalho, a “revolução” no ensino de história. De uma forma simples, podemos dizer que os anos 80 foram anos de experiências, de busca de alternativas para romper com as amarras tão duras experimentadas pelo ensino de História nos anos anteriores. Essa “revolução” atingiu também os livros didáticos, incluindo as ações do Ministério da Educação e Cultura com a criação do Plano Nacional do Livro Didático. Estabeleceu-se, então, o grande desafio: em que medida o livro didático é capaz de difundir o conhecimento histórico no que este tem de mais atualizado, seja do ponto de vista do conteúdo seja quanto aos procedimentos metodológicos.
Mas, então, prevaleceu a lei de mercado: livros descartáveis em oposição à longevidade das obras analisadas por Melo; projetos gráficos elaboradíssimos, em detrimento do conteúdo; e, ainda pior, livros de qualidade que colocam em suspenso a formação do professor. Mas também devemos reconhecer que a “verdade” histórica é hoje cada vez mais questionada, menos estável. Ao mesmo tempo em que a pesquisa histórica é cada vez mais veloz. Em alguma medida, sem dúvida, tal realidade está refletida nos livros didáticos do final do século XX.
Também fica claro que as obras didáticas são expressão do tempo, do debate e dos conceitos de uma época, mas isso não significa a inexistência de outros caminhos, de outras possibilidades de escrita, ou de outras posições políticas. É isso que nos mostra Melo, em particular com o trabalho de Joaquim Macedo que, em suas obras literárias, era mais liberal do que se apresenta no livro didático; reforçando que este está destinado a uma missão e um público específicos. Hoje, da mesma forma, não é difícil identificar o posicionamento político dos autores nos livros didáticos; quando não, encontrarmos uma obra que se curvou aos ditames do mercado em detrimento da excelência do conteúdo.
Rosana Areal de Carvalho – Professora Adjunta Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) [email protected] Rua do Seminário, s/n – Centro Mariana – MG 35420-000 Brasil Elvis Hahn Rodrigues Mestrando Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) [email protected] Campus Universitário – Martelos Juiz de Fora – MG 36036-900 Brasil.
Caio Prado Júnior: o sentido da revolução – SECCO (HH)
 Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
SECCO, Lincoln. Caio Prado Júnior: o sentido da revolução. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. MONTALVÃO, Sergio.[1] Biografia intelectual como exercício de escrita da história. História da Historiografia, Ouro Preto, n.4, p.306-313, mar. 2010.
Ensina-nos Ítalo Calvino que os clássicos são livros acerca dos quais não se costuma dizer: “estou lendo”. E sim: “estou relendo”. Desde a sua publicação, nas décadas de 1930 e 1940, a obra histórica de Caio Prado Júnior foi lida de diferentes maneiras, suscitando aplausos e críticas, de acordo com o próprio deslocamento da historiografia, mantendo vivo, no entanto, o interesse dos leitores. Chegado o ano de 2008, pouco depois de completar-se o centenário de nascimento do autor de Evolução Política do Brasil (1933) e Formação do Brasil Contemporâneo (1942), a sua biografia, feita por Lincoln Secco em Caio Prado Júnior: o sentido da revolução, da editora paulistana Boitempo, apresenta não apenas o intelectual dedicado à interpretação do Brasil, mas o ativista e parlamentar de esquerda, o publisher da editora Brasiliense. Voltado para o grande público, esse estudo não perde, em nenhum momento, o rigor analítico, tendo o mérito de reunir o pensador e o homem de ação, de traçar um retrato de corpo inteiro de um dos mais formidáveis historiadores do século XX.
O livro de Lincoln Secco se beneficiou da voga de estudos caiopradianos que se sucederam a partir da segunda metade da década de 1990 (IUMATTI, 1998 e 2007; MARTINEZ, 1998; RICUPERO, 2000, GNERRE, 2001 e SANTOS, 2001). A abertura dos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP) e a descoberta dos cadernos políticos de Caio Prado Júnior – parcialmente apresentados na tese de Paulo Iumatti, que elegeu as anotações sobre o ano de 1945, o último do Estado Novo de Vargas –, hoje abertos à consulta pública no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), abriram um campo sobre o qual historiadores e cientistas sociais puderam descortinar as suas relações políticas e pessoais.
A nova ordem documental levou à mudança de foco, da historiografia ao historiador. Este movimento acompanhou as possibilidades de pesquisa atuais, que permitem maior variação nos jogos de escala. Parte evidente do regime de historicidade do século XIX, a biografia, depois de impactada pela história estrutural, renasceu a partir do final da década de 1960, em pesquisas que tiveram como objetivo revelar o cotidiano e a cultura dos “excluídos da história” (LORIGA, 1998). A partir de então teve início um movimento de revisão da história social, até então seduzida pelos expedientes de quantificação da chamada história serial. A crise do “paradigma galilaico” implicou na saturação da ideia de se levar a história ao limite de uma ciência em construção (GRENIER, 1998). A fortuna da biografia, porém, não se limitou apenas à história social, mas teve acolhida e espaço crescentes na história política renovada, que se dispôs a refletir sobre a ação dos indivíduos na esfera pública e de poder, recusando não somente a abordagem heróica, que fazia com que poucos personagens do passado gozassem de dignidade pessoal, mas também a abordagem totalizante, prefigurada em concepções teleológicas, que negavam o valor da experiência e do vivido.
A arte de tornar pública a sua opinião, criação, interpretação ou tese, que caracteriza os intelectuais e o seu relacionamento com a pólis, se inicia como atividade solitária e permanece associada ao autor ou à autora dos diferentes de obras e intervenções. Mesmo no caso dos “intelectuais orgânicos”, conforme o conceito gramsciniano, o empenho em servir a uma classe social depende de esforço próprio, que não pode ser delegado a terceiros. Na política, o intelectual está constantemente envolvido com processos e escolhas, nem sempre coerentes, de um lado e de outro. As suas escolhas políticas se fazem em meio a processos e acontecimentos históricos. Guerras, revoluções, torturas, genocídios, injustiças e desrespeito ao que consideram direitos individuais ou coletivos marcaram a entrada dos intelectuais na arena pública. Denúncias, acusações de desvios ou exacerbações daqueles que eles próprios apoiaram em um primeiro momento, levaram-nos à contestação ou ao silêncio. Se sujeito a tantas singularidades e idiossincrasias, haveria como tratar o intelectual além da biografia? Este me parece o desafio do livro de Lincoln Secco: tornar a biografia de Caio Prado Júnior um exercício de história política e, ao mesmo tempo, um exercício de história da historiografia.
O livro resenhado divide-se em cinco partes: “Os anos de formação”, “O parlamentar”, “O revolucionário”, “O historiador” e a “Questão agrária”. É interessante acompanhar esta divisão e, a partir dela, ver a atualidade e a originalidade dos enfoques utilizados. A origem familiar de Caio Prado Júnior, nascido do casamento de Caio da Silva Prado com Antonieta Penteado da Silva Prado, remete de imediato à elite paulistana, tendo Lincoln Secco ressaltado a importância do ramo materno, geralmente esquecido, ao escrever que “uma parcela importante da fortuna de seus pais provinha da família Penteado, que enriqueceu com a fabricação de sacos de juta demandados pela comercialização do café” (SECCO, 2008, pp. 19-20). Assim, a educação escolar e o convívio com os hábitos e a cultura da alta burguesia levaram Caio Prado Júnior a seguir os padrões típicos de sua classe social, identificáveis na frequência à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pela qual recebeu o título de bacharel em 1928, e no casamento com Hermínia Cerquino, em 1929, no Mosteiro de São Bento.
A participação política do historiador teve início no movimento de cisão da oligarquia paulista, sintomaticamente demonstrada pela criação do Partido Democrático em 1926, do qual participou ativamente, inclusive na campanha presidencial de Getúlio Vargas e João Pessoa para as eleições de 1930. A revisão da sociedade oligárquica e a ânsia pela sua democratização formam o emblema político de Caio Prado Júnior. O fracasso da Revolução de 1930 em desarmar o pêndulo que, para o historiador, a fez retroceder mais do que avançar no sentido da autêntica superação do mando tradicional, ancorado na permanência da estrutura colonial e dependente da economia brasileira, o fez procurar, entre as opções da época,[2] a forma mais pertinente de expandir o radicalismo de suas ideias.
O comunismo dos anos 1930 foi vivido por Caio Prado Júnior como a experiência mais autêntica e radical de democratização e modernização aceleradas, conhecida pessoalmente por ele em sua viagem à União Soviética, depois defendida em sua possível aplicação ao Brasil, pelo que demonstram seus artigos na imprensa, escritos no tempo da Aliança Nacional Libertadora (ANL), da qual foi vice-presidente da regional de São Paulo. A crença nas ideias do marxismo soviético[3] e a imobilidade dessa crença no decorrer da sua vida levaram Caio Prado Júnior a se engajar numa “quase religião laica”. A expressão foi retirada por Lincoln Secco da autobiografia de Eric Hobsbawm e expõe, muito elucidativamente, o sentimento de dois intelectuais e historiadores marxistas de grande expressão em face daquilo que conformou as suas respectivas identidades públicas. Passar à esquerda comunista significava fazer parte de uma comunidade doutrinária, com regras e direcionamentos de difícil questionamento, e aceitar o modelo soviético como exemplo incontestável de sucesso político. Os posicionamentos de Caio Prado Júnior sempre revelaram a sua retidão em relação aos cânones da era stalinista, não passando por revisões e autocríticas devido a comportamentos heréticos, como outros intelectuais do partido, entre os quais podemos citar Astrojildo Pereira, Heitor Ferreira Lima e Octávio Brandão. A prisão em 1935 e o exílio na Europa nos primeiros anos da ditadura varguista tornaram-no um exemplo da inteligência engajada.
Mesmo sem negligenciar a importância desses anos de formação, nos quais Caio Prado Júnior escreveu os dois livros mais importantes de sua bibliografia, Lincoln Secco destaca a sua experiência parlamentar, no final da década de 1940, durante o pequeno intervalo de legalidade do Partido Comunista do Brasil (PCB). Depois de não ter apoiado a causa da “constituinte com Getúlio”, preferindo uma aliança tática dos comunistas com a União Democrática Nacional (UDN), o historiador e proprietário da Editora Brasiliense,[4] lançou-se candidato a deputado estadual pelo PCB, foi eleito e compôs a bancada comunista com mais dez deputados. Os Anais da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) o apresentam em debates nos quais demonstrou o trato polido e a fina ironia das suas colocações. Segundo Lincoln Secco, o ápice da sua presença no parlamento foi o projeto destinado à criação de uma fundação de amparo à pesquisa científica, concessora de bolsas e incentivos a estudantes e professores universitários.
A cassação do registro eleitoral do PCB causou novamente a prisão de Caio Prado Júnior e o fez ingressar, nos anos 1950 e 1960, em ativa “luta cultural”, entrincheirado na Revista Brasiliense. Foi nesta publicação que o historiador avaliou o tempo presente e discutiu o tema da revolução brasileira.
Sabe-se que Caio Prado Júnior olhava com desconfiança o governo João Goulart (1961-1964) e toda a agitação em torno da sua persona. O personalismo da política brasileira, germe do populismo e de toda a desgraça da esquerda que havia entendido a política de massas, induzida a partir dele, como a antecâmara da política revolucionária, chegava ao clímax em 1963, após o plebiscito de 6 de janeiro, que encerrou o período parlamentarista iniciado dois anos antes e devolveu a Goulart a inteireza dos poderes presidenciais. Reforma agrária na lei ou “na marra”, superação dos “resquícios feudais”, “dispositivo militar”, “burguesia nacional-progressista” e a máxima de Luís Carlos Prestes dizendo-se próximo ao poder, na visão de Caio Prado Júnior, pouco acrescentavam à revolução brasileira, que representava a passagem da colônia à nação e não ocorreria de maneira explosiva, no tempo curto dos acontecimentos políticos.
A entrada do historiador no debate político teve a retaguarda do filósofo.
Neste ponto, é muito interessante a contribuição de Lincoln Secco, pois a filosofia de Caio Prado Júnior pouco tem sido investigada e quando inquirida se apresenta com outras matrizes teóricas que não o marxismo. Encontra-se nela a recepção do positivismo lógico de Bertrand Russel e do Círculo de Viena, a partir da qual Caio construiu uma apreciação da história em que só há processos e relações, sem um sentido encontrado de antemão. Essa observação já havia sido feita por Jacob Gorender (1989, p.261), mas ganhou um destaque especial na biografia aqui comentada, pois é apresentada como fundamento lógico-teórico das análises políticas do historiador, sempre avessas a esquemas classificatórios feitos a priori.
As páginas sobre a circulação das ideias de Caio Prado Júnior acerca do tema da revolução brasileira, da maneira pouco entusiasmada como foram recebidas entre a intelectualidade de esquerda à sua consagração, materializada pela entrega do prêmio Juca Pato, de intelectual do ano de 1966, demonstram o conhecimento de Lincoln Secco sobre a história do marxismo no Brasil. É o que se pode notar pela seguinte passagem da biografia: Independentemente da opinião que temos sobre aquele livro [A revolução brasileira, 1966], ele enfim fez com que Caio Prado Júnior deixasse de ser apenas um comunista politicamente marginal no interior do partido para se situar no centro de uma polêmica sobre as razões da derrota da esquerda.
Isso porque sua leitura do Brasil agora encontrava um novo ambiente cultural e o próprio marxismo cedia lugar a uma era de vários marxismos, como já vimos. Caio Prado Júnior se tornou o novo paradigma das leituras críticas da nossa história e passou da condição de herege à do mais brilhante e modelar pensador marxista brasileiro. (SECCO, Op. Cit. pp. 117-118).
Enquanto a consagração de Caio Prado Júnior como intelectual de esquerda teve que aguardar a derrota da sua vanguarda política, o mesmo não aconteceu com o historiador que utilizou o materialismo histórico como método de investigação. A quarta parte de O sentido da revolução se inicia com a frase: “A história estava no alfa e ômega do seu pensamento” (Idem, p. 153). A história e não o marxismo. Mesmo que tenha sido reverenciado como o primeiro a retirar os frutos advindos dos conceitos de Marx para entender os cinco séculos da História do Brasil e sua relação com o capitalismo na Idade Moderna e Contemporânea, Caio Prado Júnior cultivou, em toda a sua trajetória de pesquisador, o melhor dos hábitos tradicionais de leitura e interpretação das fontes históricas. No entanto, não se pode deixar de incluí-lo no sopro de renovação dos estudos históricos e sociais da década de 1930. A intenção de Evolução Política do Brasil foi superar a tradicional historiografia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e, ao mesmo tempo, contestar os devaneios acerca da presença do feudalismo em nossa formação social, presente numa incipiente produção de autores marxistas. O capítulo sobre o período regencial expõe o ímpeto revisionista da historiografia caiopradiana. Nele se encontra a primeira tentativa de se chegar ao solo dos conflitos políticos do século XIX, colocando o povo em cena. Organizado como síntese, o livro traça um roteiro das revoltas acontecidas na década de 1830, revelando personagens como os irmãos Antônio e Francisco Vinagre, que lideraram os cabanos do Pará, e o escravo Cosme, fundador de um quilombo no Maranhão durante a Balaiada. A entrada do povo na política não foi vista com ingenuidade. Francisco Vinagre, após se insurgir contra o governo de Félix Clemente Malcher e controlar o poder, buscou se aproximar do governo imperial e negociou um acordo (PRADO JÚNIOR, 1991 [1933], pp. 75-76). O escravo Cosme, logo intitulado “imperador, tutor e defensor de todo o Brasil”, “vendia a seus companheiros títulos e honrarias” (Idem, p. 80).
A interpretação histórica do Brasil feita por Caio Prado Júnior encontra a sua metodologia mais definida em Formação do Brasil Contemporâneo e História Econômica do Brasil.[5] Ambos obtiveram apreciável aceitação crítica, estando na raiz da história econômica praticada na Universidade de São Paulo (USP), como se observa da leitura de Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial, de Fernando Novais. Críticas a essa interpretação e, em especial, aos excessos relativos à determinação externa da economia brasileira e à falta de acumulação interna de capitais viriam mais de três décadas depois. Ao apresentar essa polêmica, Secco defendeu o biografado contra as acusações da sua obra marxista ter-se apoiado mais nos aspectos da circulação de capitais (movimentos do mercado mundial capitalista da era moderna) do que nos aspectos da produção, mais especificamente do modo de produção predominante na colônia, apresentado como escravista.[6] Escreveu que os críticos: não atentaram para o fato de que, na periferia, o estudo da esfera da distribuição é que conduz à totalidade. Isso porque o dinamismo do modo de produção está no centro do sistema e é este que dita a lógica da reprodução global sistêmica ou, nas palavras de Caio Prado Júnior, dá o ’sentido da colonização’ (SECCO, Op. Cit. p. 177).
O capítulo final, Questão agrária, tratou também da atualidade de Caio Prado Júnior. Foi este um ponto de atrito entre o intelectual e o partido no início dos anos 1960, quando, em artigos da Revista Brasiliense, Caio defendeu a introdução da legislação trabalhista no campo e criticou as propostas do agrarismo pecebista. A especificidade do trabalhador rural, sujeito a relações capitalistas e à nossa herança rural, leia-se patriarcal e autoritária, levaram o historiador a bater-se pela cidadania daqueles que então eram a maior parte da população nacional. O problema segue até hoje e mostra a complexidade de tempos históricos embutidos na modernidade brasileira.
Para finalizar, é importante destacar a qualidade do projeto gráfico do livro, o caderno de fotos que revela os hábitos sociais do biografado e, sobretudo, os documentos anexados à edição. Entre estes documentos, a carta enviada a Carlos Nelson Coutinho comentando um escrito acerca da revolução baiana de 1798 diz muito sobre a concepção de história de Caio Prado Júnior. Não vou comentá-la aqui, preferindo deixar a curiosidade aos leitores que tiverem a oportunidade de ler esse valioso estudo sobre um dos fundadores de nossa moderna historiografia.
Bibliografia
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Cia. das Letras, 2007.
CÂNDIDO, Antônio. “A revolução de 30 e a cultura”. Novos Estudos CEBRAP, vol. 2, São Paulo: 1984, pp. 27-36.
GNERRE, Maria Lúcia Abaurre. A Forma e a Nação: Estilo Historiográfico em Formação do Brasil Contemporâneo. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (Dissertação de Mestrado em História), 2001.
GORENDER, Jacob. “Do pecado original ao desastre de 1964”. In. D’INCAO, Maria Ângela. História e ideal: ensaios sobre Caio Prado Júnior. São Paulo: Brasiliense/UNESP, 1989, pp. 259-269.
__________. Escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1988.
GRENIER, Jean Yves. “A história quantitativa ainda é necessária?” In. BOUTIER, Jean e JULIA, Dominique. Passados recompostos: campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed. FGV, 1998.
IUMATTI, Paulo Teixeira. Diários políticos de Caio Prado Júnior. São Paulo: Brasiliense, 1998.
__________. Caio Prado Júnior: uma trajetória intelectual. São Paulo: Brasiliense, 2007.
LORIGA, Sabina. “A biografia como problema”. In. REVEL, Jacques (Org.) Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1998.
MARTINEZ, Paulo Henrique. A dinâmica de um pensamento crítico: Caio Prado Júnior (1928-1935). São Paulo: Universidade de São Paulo (Tese de Doutorado em História), 1998.
NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), 8ª edição. São Paulo: Hucitec, 2006.
PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução política do Brasil, 19ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1991.
RICUPERO, Bernardo. Caio Prado Júnior e a nacionalização do marxismo.
São Paulo: Editora 34, 2000.
SANTOS, Raimundo. Caio Prado Júnior na cultura política brasileira. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.
[1] Doutorando Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV) [email protected] Praia de Botafogo, 190/14º andar Rio de Janeiro – RJ 22250-900 Brasil.
[2] Escrevendo sobre a Revolução de 1930 e a cultura, Antônio Cândido tratou das diversas formas de radicalização do período, decorrentes do “convívio íntimo entre a literatura e as ideologias políticas e religiosas” (1984, p. 30), que levaram os intelectuais a vivenciar experiências radicais no catolicismo, no fascismo e no comunismo.
[3] Aqui penso o marxismo soviético enquanto ideologia e razão de Estado, não enquanto interpretação histórica das sociedades.
[4] Fundada em 1943, a Editora Brasiliense teve como demais sócios: Arthur Neves, Caio da Silva Prado e Leandro Dupré.
[5] Este livro retoma em grande parte as teses do livro anterior, sobretudo em relação ao período colonial.
[6] 5 A tese do modo de produção escravista colonial foi defendida por Jacob Gorender em um estudo que procurou encontrar sua lógica interna, descrita em leis específicas de reprodução histórica.
Exercícios de micro-história | Carla M. C. Almeida e Mônica R. Oliveira
Não há dúvidas de que atualmente a micro-história desfruta de grande ressonância no âmbito historiográfico brasileiro. Contudo, o sucesso desta perspectiva metodológica carrega consigo uma considerável dose de incompreensão. Para grande parte dos acadêmicos brasileiros o termo “micro-história” esteve (ou ainda está) se tornando sinônimo da figura de Carlo Ginzburg, ou da figura de Menocchio, moleiro do século XVI estudado pelo proeminente historiador italiano em seu livro O queijo e os vermes. No Brasil, muitas vezes tomada como teoria, a micro-história também é freqüentemente confundida com a história das mentalidades praticada, sobretudo, pelos franceses dos Annales.
Todas estas confusões são, em grande medida, frutos do percurso trilhado pela historiografia brasileira nos últimos trinta anos. Com a crescente ampliação do público acadêmico consumidor, durante a década de 1980 um amplo conjunto de leituras historiográficas estrangeiras foram traduzidas quase que simultaneamente para o português. Entre as principais traduções podemos citar: a historiografia produzida pelo grupo dos Annales, especialmente autores como Jacques Le Goff, Georges Duby e Michel Vovelle; os historiadores ingleses e anglo-americanos, como Edward P. Thompson, Natalie Zemon Davis e Eugene Genovese; discussões que surgiam do âmbito filosófico e sociológico francês, como Michel Foucault e Pierre Bourdieu; além dos frutos da micro-história italiana, quase que exclusivamente com Carlo Ginzburg. Portanto, a recepção desta massa de textos, idéias e sugestões de pesquisa (que não raramente caminham em direções divergentes, claro sintoma do desmoronamento dos paradigmas estruturalista e marxista) foi mediada – como talvez não pudesse deixar de ser – por leituras parciais e apressadas. Leia Mais
História e masculinidades: a prática escriturística dos literatos e as vivências no início do século XX – CASTELO BRANCO (REF)
CASTELO BRANCO, Pedro Vilarinho. História e masculinidades: a prática escriturística dos literatos e as vivências no início do século XX. Teresina: EDUFPI, 2008. 168 p. Resenha de: VIANA JÚNIOR, Mário Martins. Os machos nos papéis e os papéis dos machos: masculinidades através da escrita literária no Piauí do início do século XX. Revista Estudos Feministas v.18 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2010.
Pedro Vilarinho Castelo Branco se graduou em História no ano de 1992 pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), deslocando-se para Pernambuco onde concluiu o mestrado em 1995 e o doutorado em 2005, ambos em História. Ali desenvolveu sua pesquisa e escrita relacionando mulheres e cidade, e avançou em estudos ligados às relações familiares e às identidades de gênero e literatura, mediante uma abordagem sociocultural e sempre privilegiando o contexto da virada do século XIX para as primeiras décadas do XX no Piauí. Hoje, como professor adjunto da UFPI e tutor do PET de História, desenvolve atividades de ensino e extensão, além de pesquisas na área de gênero, como a coordenação do projeto de pesquisa História e masculinidades, do qual o presente livro parece ser tributário.
Tal obra mostra como o estudo das relações de gênero vem se desenvolvendo no Brasil. De acordo com Raquel Soihet e Joana Maria Pedro, em artigo publicado na Revista Brasileira de História, o momento atual é aquele de busca de legitimidade acadêmica para o campo, e não mais o de reparar as múltiplas exclusões expressas e denunciadas pela “história das mulheres”.1
No bojo desse movimento historiográfico, o trabalho de Pedro Vilarinho vem contribuir para alargar e diversificar as abordagens, ao enfatizar a importância dos estudos sobre masculinidades. Soma-se, portanto, a trabalhos como o de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, anteriormente apontado pelas historiadoras acima como voz isolada na região nordestina, e possibilita dar novas tonalidades aos estudos de gênero e de subjetividades, além de apontar, na contemporaneidade, para uma circularidade de ideias e interesses acerca dessa temática no Nordeste brasileiro, onde profissionais de outras áreas se debruçam sobre as problemáticas de gênero.
Isso fica patente, por exemplo, no prefácio da obra elaborado pela professora Teresinha de Jesus Mesquita Queiroz. Ainda que sua carreira acadêmica seja marcada pela atenção direcionada à literatura, nesse momento ela convida o/a leitor/a a pensar a escrita dos literatos sob uma perspectiva de gênero, ao contextualizar a produção das obras piauienses, sinalizar o embate travado entre escritores/as e analisar os diferentes discursos literários que tentariam configurar comportamentos específicos conforme o sexo. Articula e instiga a observar, portanto, temáticas presentes e imbricadas em todo o livro de Pedro Vilarinho, tais como história, literatura e gênero.
Pedro Vilarinho escolhe como recorte temporal o momento de transição do século XIX para o XX, ou seja, o intenso período de modificações e transformações da sociedade brasileira e, em específico, da piauiense, marcado pela aceleração do urbanismo e do avanço do capitalismo, expressos no distanciamento do mundo rural, no aparelhamento da cidade e na busca pela concretização dos ideais de civilidade e modernidade. Nesse contexto, traça como principal objetivo a análise de como os modelos comportamentais foram atingidos pelos discursos proferidos, principalmente, pelos literatos, os quais, imersos em uma cultura bacharelesca, teriam atribuído ênfase às identidades femininas e, sobretudo, às masculinas.
No desenvolvimento da pesquisa e no tratamento das fontes, a vasta produção literária é escolhida entre obras na íntegra, romances, crônicas, contos, além de artigos, notícias e comentários em jornais e revistas que expressam vários discursos. Paralelamente, o autor busca informações nos relatos de vida, concedidos por meio de entrevistas, nos textos autobiográficos, submetidos à crítica, encarados e problematizados como fragmentos e vestígios de memória e elucidadores de práticas e vivências.
Seguindo uma forma de escrita dialética, nos três capítulos do livro ele constrói sua argumentação contrastando as práticas e as vivências de homens e mulheres com os discursos elaborados pelos literatos, dando foco especial aos conflitos inerentes às identidades masculinas e às suas formas de subjetivação.
Diante da modernização de Teresina e da adoção de novos costumes e outras sociabilidades, observa-se um conflito expresso na escrita literária pela negação do mundo rural e de seus aspectos diante do progresso do universo urbano. Nesse novo espaço, os discursos literários teriam uma função reformuladora, ao delinearem as formas de os sujeitos se comportarem no espaço citadino e prescreverem os modos de a sociedade vir a ser. Formariam uma espécie de teia discursiva com a função de controle dos indivíduos e de configuração de identidades de gênero.
Práticas e discursos representariam o jogo dialético (tese e antítese), enquanto as formas de recepção, tratamento e consumo dos discursos pelos indivíduos implicariam diferentes modos de subjetivação, isto é, as sínteses nesses jogos de gênero e, dessa forma, os objetivos maiores da análise de Pedro Vilarinho.
Para pensar essa dinâmica, o autor fundamenta seu trabalho em estudiosos de diferentes vertentes, como a de base hermenêutica e a de perspectiva pós-estruturalista, expressas, respectivamente, nos trabalhos de Michel De Certeau e Michel Foucault. Mediante as ideias e os conceitos trabalhados por esses filósofos, tais como consumo, prática escriturística e subjetivação, haveria a possibilidade de contrastar a produção e a recepção dos discursos, ideia essa que já havia sido sinalizada por De Certeau em crítica à ênfase dada por Foucault em relação à força e ao alcance das práticas discursivas.2
Ainda no tratamento dos escritos de Michel Foucault, é válida uma observação quanto à leitura e à atenção dispensada por Castelo Branco a esse filósofo. De forma interessante e intrigante, ele encontra no autor de Vigiar e punir subsídios para pensar não apenas o sujeito como produto, mas também os processos de subjetivação, dinâmicos, contínuos e ininterruptos, afastando, assim, a passividade do sujeito.
O autor aponta para uma abordagem intrigante na medida em que podemos observar, por exemplo, as antinomias levantadas por Stuart Hall. De acordo com esse sociólogo, Michel Foucault teria passado por três grandes momentos em sua rica produção intelectual e somente na década de 1980, com as duas obras incompletas sobre história da sexualidade, teria se inclinado a pensar o que se chama de “sujeito”:
Trata-se de um avanço importante, uma vez que, sem esquecer a existência da força objetivamente disciplinar, Foucault acena, pela primeira vez em sua grande obra, à existência de alguma paisagem interior do sujeito, de alguns mecanismos interiores de assentimento à regra, o que livra essa teorização do “behaviorismo” e do objetivismo que ameaçam certas partes do Vigiar e Punir.3
São os posicionamentos contrários que tornam ainda mais interessantes essas múltiplas possibilidades de apropriações do pensamento de Foucault, tão bem expressas na obra de Pedro Vilarinho e direcionadas para a análise das diferentes masculinidades piauienses.
De forma ampla, as masculinidades são percebidas escalonadas nas diversas fases da vida dos homens. Nesse sentido, a divisão do livro em capítulos, tal como as etapas e o desenvolvimento do corpo humano, é estruturada a partir da infância, juventude e fase adulta. Entretanto, longe de significar linearidade e homogeneidade, esses momentos apontam para a complexidade, na busca da definição das masculinidades dos indivíduos, expressa nos choques de perspectivas, temporalidades e anseios.
É assim, por exemplo, que a escola surge como espaço segregado e afastado do mundo familiar e contribui significativamente para se pensar a infância como uma fase específica, com cuidados e tratamentos específicos às crianças, antes percebidas como adultos pequenos. Mudam-se, portanto, os discursos e as sensibilidades em relação à vida dos infantes e às formas de os meninos se subjetivarem como jovens, à medida que eles percebem outros elementos valorativos da masculinidade através do processo de escolarização.
A escola agiria como pêndulos intermitentes que ligariam as crianças a novas percepções de juventude e, em seguida, os jovens à vida adulta por meio da faculdade e da cidade, preparando-os para as novas atividades do espaço urbano.
Os discursos que influenciariam a inserção dos infantes no mundo escolar seriam contíguos àqueles que incentivariam os rapazes a darem continuidade aos seus estudos, a se inserirem no universo das letras e, cada vez mais, a se distanciarem do mundo rural e de seus tradicionalismos, isto é, de características masculinas desvalorizadas na cidade. Em termos discursivos, o aprendizado obtido através da cultura escrita seria de suma importância para os novos modos de condução das famílias e para a ocupação dos empregos urbanos e dos inéditos espaços de lazer e sociabilidade materializados na moderna Teresina do início do século XX, tais como o footing, o futebol e o cinema, espaços e dinâmicas que ofereciam outras formas de subjetivação masculina aos jovens.
Feitos homens, na idade adulta, os discursos incidiriam principalmente sobre os novos sentidos atribuídos à paternidade e às relações afetivas, além das preocupações em torno da formação do homem produtivo ligado à ideia de trabalho, de comportamentos ordeiros e disciplinados, que deveriam compor a cena urbana, o espaço público, de caráter eminentemente masculino nessa nova configuração moderna.
Em suma, o que marca as diferentes fases da vida dos homens (a infância, inclusive, inventada nesse meio) é a tentativa de modelação discursiva de suas experiências a partir da atividade literária, que, a todo custo, buscava se distanciar dos elementos e do tradicionalismo rural, através da transformação dos aspectos que compunham a masculinidade. Esses discursos, ainda que tentassem alterar o que era tido como ser macho, guardavam em seu bojo uma essência indiscutível: a dominação masculina sobre a feminina. Nesse processo, o que se alterava era apenas o modo como isso era exercido: de forma mais branda e menos violenta, pelo menos em termos.
Os alcances desses discursos são apresentados pelo autor como paradoxais e contraditórios, sinalizando uma realidade dinâmica e plural na Teresina da virada do século. Os aspectos traduzidos pela permanência de hábitos tradicionais e rurais na cidade, principalmente, pela presença de características masculinas consideradas anacrônicas, a todo instante, entravam em conflito com os discursos dos literatos.
O estudo de Pedro Vilarinho vem contribuir, assim, com uma análise mais detida e localizada das mudanças na sociedade piauiense, que pareciam sinalizar uma crise das identidades de gênero e, mais especificamente, de masculinidades, aspecto que, anteriormente, foi apontado por Elizabeth Badinter como uma grande crise de masculinidade no Ocidente, entre fins do XIX e início do XX, na qual a figura do cowboy nos EUA e a construção do tipo nordestino macho no Brasil seriam formas de reação.4
Ainda que os movimentos de valorização de novas masculinidades sejam apontados de forma ampla e genérica, o estudo de Castelo Branco denota a importância das análises mais localizadas, do escrutinar da atividade do historiador. E é somente a partir dessa ação que é possível marcar a peculiaridade e a diferença do Piauí em termos de gênero na região nordestina.
Se tomarmos, por exemplo, os estudos comparativamente, poderemos observar que tanto em Durval Muniz como em Pedro Vilarinho há a argumentação de que houve um processo reacionário, expresso nos discursos dos literatos, contra a feminização da sociedade. Para Albuquerque Júnior, a tonalidade dos discursos literários era a de condenar as transformações sociais e valorizar o passado patriarcal. Houve um resgate dos elementos que compunham a masculinidade rural diante da frivolidade do mundo urbano.
No Piauí, todavia, essa configuração ocorreu de forma diferenciada. A proposta dos literatos era a de afastamento do mundo rural, de aproximação com o mundo das letras e de configuração de novos homens urbanos e intelectualizados. Enquanto o Movimento Regionalista em Pernambuco, do qual Gilberto Freyre fazia parte, via na figura do homem de letras a ameaça do patriarcalismo rural e a feminização da sociedade, os literatos do Piauí enxergavam nesse mesmo homem novas formas positivas de ser masculino. Enfim, delinearam-se expectativas de masculinidades distintas para uma mesma região, o Nordeste, que, assim apontadas, denotam a importância da continuidade de pesquisas sobre essa temática na atualidade.
Notas
1 Rachel SOIHET e Joana Maria PEDRO, 2007.
2 Michel DE CERTEAU, 2008.
3 Stuart HALL, 2000, p. 125.
4 ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003.
Referências
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nordestino: uma invenção do falo. Maceió: Edições Catavento, 2003. [ Links ]
DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2008. [ Links ]
HALL, Stuart. “Quem precisa de identidade?”. In: SILVA, Thomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. P. 103-133. [ Links ]
SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. “A emergência da pesquisa da história das mulheres e das relações de gênero”. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 27, p. 281-300, 2007. [ Links ]
Mário Martins Viana Júnior – Universidade Federal de Santa Catarina.
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
O livro História: a arte de inventar o passado, do Doutor em História Social Durval Muniz de Albuquerque Júnior, professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, reúne em dezesseis capítulos artigos anteriormente publicados em periódicos. Os textos, que discutem as mudanças dos paradigmas na ciência histórica, estão divididos em três partes: a primeira aborda a relação entre história e literatura; a segunda apresenta as contribuições de Foucault para a história e a última traz alguns aspectos sobre o trabalho do historiador.
Uma ideia que perpassa todo o livro é a da “invenção”. Segundo o autor, a própria utilização desta palavra já indica mudanças no campo histórico, simbolizando que o historiador não trabalha com verdades e que, quando lida com as suas fontes, não se desvencilha de sua subjetividade. Se pensarmos a história do prisma da invenção, nos afastaremos das categorias homogeneizantes e universais, pensando a ciência como uma construção. Leia Mais
Esquizohistoria: la Historia que se enseña en la escuela, la que preocupa a los historiadores y una renovación posible de la historia escolar | Gonzalo de Amézola
A obra Esquizohistoria faz parte da linha “Formación Docente” da Ediciones del Zorzal, uma nova editora argentina que tem centrado seu trabalho exatamente na área de atualização e formação dos professores das diversas áreas das disciplinas escolares. O título decorre de um artigo da década de 1990 publicado por Amézola juntamente com Ana Barleta, no primeiro número da revista Entrepasados, que hoje se caracteriza como uma das mais importantes revistas de história na Argentina. Esse artigo foi motivado pela magnitude das diferenças e contradições entre a visão do passado que os jovens ingressantes na Universidade de La Plata traziam do ensino médio, a que viam durante o curso e, de volta, a que deveriam enfrentar novamente com o planejamento para as atividades de estágio nas escolas. Amézola aponta que não se trata de erudição ou não, mas de natureza da história em cada âmbito, dentro de um processo de contínuo afastamento. O que explica esse espaço crescente entre a história na universidade e na escola é que “história acadêmica” tornou-se conhecimento especializado, e a escola sedimentou sua forma própria de conceber e de ensinar história, o que praticamente bloqueia a inovação com seus preceitos. Os termos esquizohistoria e historiofrenia indicam que essa fratura entre as histórias assumia e continua assumindo uma característica patológica, mesmo passados mais de dez anos entre aquele artigo e este livro. Mudaram radicalmente as características institucionais da educação argentina, mas permanece, todavia, a incerteza do valor educativo da história que se estuda na escola.
A primeira questão que cumpre responder é sobre o interesse da obra para os historiadores não argentinos, especialmente os historiadores brasileiros interessados nas questões relativas ao ensino de História. O motivo mais imediato é a comparação de experiências históricas e temas atuais na área entre Brasil e Argentina, que a obra permite largamente, e que a realidade demanda de maneira cada vez mais intensa no contexto da integração cultural motivada pelo Mercosul, bem como pela integração latino-americana mais ampla.
A obra permite também a identificação das formas pelas quais os colegas argentinos equacionaram ou vêm equacionando problemas educacionais ou teóricos dentro de suas fronteiras, mas que na realidade são problemas comuns. Nessa vertente, poderemos talvez nos beneficiar da experiência já desenvolvida no enfrentamento daqueles problemas comuns, por caminhos distintos dos que viemos tentando ao longo do tempo.
Outro fator que torna o livro interessante para a comunidade de história no Brasil é o fato de permitir o conhecimento da bibliografia com a qual os colegas argentinos equacionam algumas das suas questões de interesse, que em alguns pontos são relativamente novas para nós, e em outros são velhas questões da reflexão didática da história tal como se realiza no Brasil, mas por outros caminhos e com outros autores. Esse conhecimento mútuo, que em muitos casos ainda está totalmente por fazer, tem grande potencial para impulsionar a pesquisa e a reflexão teórica e didática, assim como as contribuições dos pesquisadores à escola.
O livro está estruturado em duas partes. A primeira traça um histórico que permite vislumbrar como se refletiu na escola a visão dos historiadores da segunda metade do século XIX (ou como se constrói o que se pode chamar hoje de tradição do ensino de História). Se essa parte é útil ao professor de história argentino por ajudar a apreender a historicidade do seu métier, para o professor de história brasileiro e/ou pesquisador brasileiro do ensino de história, a narrativa desse percurso permite, além de conhecer melhor a experiência do país vizinho, ir reconhecendo e colecionando elementos que começam a sugerir universais do fenômeno social que é o ensino escolar da história, para além da especificidade das histórias particulares.
A segunda parte do livro é composta por um panorama crítico das alternativas de mudança para que a história no ensino médio se torne mais significativa. No final das contas, o desenho do problema central da obra é dado pelo esquadrinhamento e presença constante da diferença de natureza, ritmo e até mesmo de objeto entre a história ensinada e a pesquisada institucionalmente hoje, final de uma trajetória cujo início é marcado por uma quase identidade entre a história acadêmica e a história escolar.
Como se estabeleceu na escola uma visão de história tão resistente às inovações? Ao buscar as respostas a esse problema, Amézola indica as considerações de dois pesquisadores, Cuesta Fernández, que aporta o conceito-chave de “código disciplinar” a partir da história social da cultura, e Pilar Maestro, cuja análise ocorre a partir da teoria da historiografia e de sua relação com aspectos psico-cognitivos e traz a reflexão sobre a grande influência das histórias gerais de construção de narrativas nacionalistas no século XIX para a criação de uma forma curricular para a história em diversos âmbitos educativos. Para Maestro, esse momento estabelece uma imagem tão forte da história e da nação – além do próprio conceito de história – que permanece marcada no imaginário coletivo. A primeira parte do livro é dedicada a testar essas teorias – desenvolvidas para o caso espanhol – na história argentina do ensino de História.
Depreende-se que, para o autor, a história do ensino de História na Argentina é periodizada de forma própria, ainda que seja balizada por alguns dos marcos da história política. Do surgimento da Argentina em 1810/1815 até 1930, temos o período de constituição da disciplina (pois lá, como aqui, a criação da disciplina escolar coincide com a criação da disciplina científica) e de seu conteúdo, que poderia ser intitulado como “organização do panteão dos heróis”. Outro período delimitado por Amézola vai de 1930 a 1955, marcado pelo nacionalismo e pelo peronismo. É a conformação do início de um combate pela história, revisionista, no qual os nacionalistas recuperam a imagem de Juan Manuel de Rosas e o incorporam ao panteão de heróis nacionais. Perón, aliás, tratou inicialmente de associar sua imagem à de Sarmiento, e no período posterior, de 1955 (queda de Perón) a 1976, a “desperonização” da educação teve como uma de suas marcas a associação de Perón a Rosas, caracterizando seu período como “segunda tirania”. Nesse período, Amézola identifica o incremento da velocidade de distanciamento entre a história escolar e a história acadêmica. O outro período é o da segunda ditadura militar e da redemocratização, de 1976 a 1993 (ano da reforma educativa que institui os Contenidos Basicos Comunes), em que a psicologia cognitiva passa a ter um papel de peso na definição da história na escola. O período atual, por sua vez, é marcado pela reforma de 1993 e a intenção – não tão bem-sucedida – de aproximar ambas as histórias.
A segunda parte do livro dedica-se a apontar os principais temas da discussão do ensino de História na Argentina, que constituem as várias frentes a partir das quais se procura aproximar um pouco mais a história pesquisada e a história ensinada.
Amézola cita Zavala (Uruguai), Finocchio e Lanza (Argentina) para demonstrar que hoje o conhecimento escolar no campo da história é um conhecimento à parte, composto de diversas fontes, e que as formas de promovê-lo em sala de aula são distintas, com predomínio de uma perspectiva positivista, complementada por um olhar idealista, com raros matizes de uma abordagem hipotético-dedutiva.
O autor coteja o tema do ensino de história com as proposições da psicologia e da pedagogia, opondo assim os graduados em história a pedagogos e psicólogos no enfrentamento das questões do ensino de história. Sem desprezar suas contribuições, reivindica o espaço do historiador no debate educativo, já que esse profissional é quem tem o domínio da matéria, sem o que as inovações técnicas ficam no vazio ou reforçam objetivos e práticas educativas já superadas epistemologicamente no campo da história e das ciências humanas.
Nessa chave interpretativa, o autor percorre as discussões sobre o ensino e a operação com os conceitos de tempo e espaço; a periodização; a complexidade do tempo histórico; os sujeitos históricos; sobre o que se busca com o ensino – “saber história” ou “saber historiar” -, e assim aborda o tema dos conteúdos procedimentais.
Com o debate dos conteúdos procedimentais, Amézola constrói o encerramento da obra, considerando o malefício que é a “procedimentalização” do ensino de história quando ocorre sem um profundo conhecimento da disciplina. Oferece ao professor-leitor uma sugestão de encaminhamento didático em que se aplica a construção do conhecimento histórico, atendendo, assim, à demanda pelos conteúdos procedimentais, sem perder de vista a complexidade do tempo histórico e das demandas epistemológicas contemporâneas da disciplina. Afinal, por mais que se distanciem pesquisa e ensino, continuam sendo essas as balizas comuns do trabalho de historiadores-professores ou professores-historiadores. Lidar com essa relação entre a história que se pesquisa e a história que se ensina, relação que para o autor chega às raias da patologia, é o desafio cotidiano desses profissionais.
Luis Fernando Cerri. Professor do Departamento de História e do Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Rua Conrado Schiffer, 60, bl. 4, ap. 304 – Vila Estrela. 84050-280 Ponta Grossa – PR – Brasil. [email protected].
AMÉZOLA, Gonzalo de. Esquizohistoria: la Historia que se enseña en la escuela, la que preocupa a los historiadores y una renovación posible de la historia escolar. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008. Resenha de: CERRI, Luis Fernando. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.29, no.57, JUN. 2009. Acessar publicação original [IF].
Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia – NEVES (RHR)
NEVES, Erivaldo Fagundes. Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia. Feira de Santana: UEFS Editora, 2016. Resenha de: MARTINS, Flavio Dantas. Revista de História Regional, v.24, n.1, p.213-221, 2019.
O livro Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia1, do professor da Universidade Estadual de Feira de Santana Erivaldo Fagundes Neves, a principal referência para pesquisa em história dos sertões da Bahia, é um livro esperado para aqueles que acompanham a produção do autor. Erivaldo Neves já havia abordado o tema de teoria e metodologia da história regional2, que complementava e desenvolvia argumentos apresentados em texto sobre corografia e historia regional.3 Crônica, memória e história abrange estes estudos e contempla as incursões do autor aos temas da escravidão4, história regional e local7 desde o período colonial, passando pelo império e república, até a produção contemporânea. Além de um exaustivo levantamento bibliográfico, o trabalho é um comentário desenvolvido para o longo percurso de textos históricos apresentados.
A obra tem um prefácio do professor Paulo Santos Silva da UNEB, uma introdução, considerações finais e se divide em três partes, i) leituras sobre a colonização dos sertões baianos, ii) as crônicas, memórias e histórias sobre os mesmos no império e primeira república e iii) as perspectivas historiográficas posteriores a 1930, todas subdivididas em seções. Crônica, memória e história se justificaria por várias razões, mas julgamos duas de vulto: a tipologia apresentada para um extensivo levantamento de textos sobre os sertões baianos que abrange cinco séculos e a história do pensamento histórico sobre um tema que se desenvolve desde crônicas e memórias até uma historiografia técnica e disciplinar produzida em programas de pós-graduação em história de universidades. A polissemia do livro revela a paciência com a qual o mesmo foi gestado: o livro é resultado de um projeto de 25 anos que se desdobrou em outros trabalhos do autor, cuja obra é referência para uma geração de historiadores dos sertões baianos que lhe seguiram e que retornaram ao livro como exemplares de novas perspectivas historiográficas.
Vamos às partes. A primeira delas recua para crônicas, registros históricos e memórias coloniais sobre os sertões baianos. Aqui a produção textual que versa sobre o tema se confunde com a escrita da história no período colonial e são comentados Gabriel Soares de Souza, frei Martinho de Nantes, André Antonio Antonil, Miguel Pereira da Costa, Joaquim Quaresma Delgado, Sebastião da Rocha Pita, Luiz dos Santos Vilhena, entre outros. Além da exegese dos trabalhos destes autores no tocante ao que escreveram sobre os sertões baianos, Erivaldo Neves embasa seus comentários na historiografia contemporânea que investiga temas correlatos.
A segunda seção aborda os trabalhos escritos no Império sobre a colonização, se detém especialmente em estudo das memórias históricas e políticas da Província da Bahia de Ignácio Accioli de Cerqueira da Silva. Para Erivaldo Neves, faltam obras abrangentes com a pretensão do trabalho de Ignácio Accioli e a já datada e importante reedição comentada de Braz do Amaral demandaria uma nova edição crítica desse texto fundamental para a história da Bahia e dos seus sertões, bem como de sua importância como empreendimento historiográfico.
A seguir, Neves trata das obras históricas sobre a colonização dos sertões produzidas na primeira república. É uma seção que inicia com a análise da obra de João Capistrano de Abreu, e Basílio de Magalhães. O autor destaca a importância do discurso histórico do bandeirante teve na historiografia sobre os sertões baianos devido a centralidade paulista na primeira república. O historiador Pedro Calmon é abordado como alguém que dialogará com o pensamento histórico paulista, sobretudo a partir dos anos 1920, no tema do bandeirantismo, entre outros de sua vasta obra. Neves também analisa a obra de Urbino Viana. É desse período, destaca o autor, que começa uma repetição de “informações sem origem conhecida” retiradas das obras de Francisco Borges de Barros12.
Na seção posterior Erivaldo Neves apresenta as leituras históricas sobre a colonização entre as décadas de 1930 e 1960, levando em conta o contexto de produção, a recepção que fazem dos trabalhos que lhes precederam, sua inovação, sobretudo conceitual e metodológica e dialogando com a bibliografia contemporânea sobre o tema. Nesse período surge um gênero novo de escrita, chamada pelo autor de memória histórico-descritiva de municípios baianos. São analisadas mais detidamente as obras de Pedro Celestino da Silva sobre Caetité, Lycurgo de Castro Santos Filho sobre a fazenda Campo Seco em Rio de Contas. Nesse período, em decorrência da profusão, Erivaldo Neves analisa com mais atenção obras que representaram inovação teórica e metodológica, caso do estudo de Santos Filho que é uma história do cotidiano de uma fazenda no sertão riquíssima em dados empíricos graças à excepcionalidade dos registros particulares que teve acesso. É desse período em que pautas como a questão Nordeste e a questão hidráulica de aproveitamento do rio São Francisco ganham importância, e o pensamento histórico regional floresce.
São testemunhos dessa época de busca por definições regionais, embora sejam produções às vezes demasiado frágeis em termos metodológicos e empíricos, alguns estudos apresentados no Congresso de História da Bahia13 ou dos trechos sobre história dos municípios nos verbetes da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE14
No última seção da primeira parte, Erivaldo Neves trata das elaborações historiográficas sobre a colonização posteriores a 1970. Nesse período marcado pela profissionalização da historiografia, pelo aumento quantitativo da produção, pelas modificações dos enfoques temáticos que deixam de lado a prioridade sobre a nação, a região e o município, surgem novas abordagens teóricas e metodológicas e uma profícua historiografia sobre os sertões baianos do período colonial, embora ainda relativamente limitada se comparados com outros períodos. Nesse capítulo, Erivaldo Neves resenha uma profusão de dissertações e teses que revelam os enfoque plurais que as inovações da pesquisa historiográfica permitiram no tratamento do passado colonial dos sertões.
A segunda parte do livro do livro trata da produção de pensamento histórico sobre o império e a primeira república. Erivaldo Neves inicia com uma seção sobre as crônicas e memórias históricas produzidas durante o período. Aborda autores como Tranquilino Leovigildo Torres, Gonçalo de Athayde Pereira, João Paulo da Silva Carneiro, Francisco Borges de Barros e mesmo a inusitada memória de Anísio Teixeira sobre o sertão. A análise de Francisco Borges de Barros é importante porque Erivaldo Neves identifique nele a fonte para vários autores posteriores que tomaram suas metáforas como fatos – por exemplo, Antonio Guedes de Brito ter sido o regente do São Francisco – ou mesmo reproduzirem suas afirmações sem embasamento documental. O autor desenvolve uma discussão sobre os desenvolvimentos teóricos e metodológicos da ciência histórica no império e na primeira república, o desenvolvimento institucional e as influências dos autores que trabalharam nesse período sobre o sertão baiano, destacando o IHGB e o IGHB.
Na seção seguinte, Neves trabalha com as crônicas e memórias produzidas após 1930 sobre os sertões baianos do período imperial e da primeira república. Ele destaca a influência da retórica euclidiana nas construções narrativas. Aí são analisados Wilson Lins, Marieta Lobão Gumes,
Flávio Neves, Helena Lima Santos, Mozart Tanajura e Pedro Pereira e seus escritos sobre o médio São Francisco, Caetité, Brumado e Livramento. Depois, Neves trata da historiografia posterior a 1930 e destaca a importância inicial, de Caio Prado Júnior. São analisados os trabalhos de Walfrido de Moraes, Américo Chagas, Fernando Machado Leal, todos sobre a Chapada Diamantina, e destaca o estudo de Eul-Soo Pang sobre o coronelismo baiano15. A seguir, uma profusão de artigos, teses e dissertações é comentada pelo autor – a seção tem o total de 76 páginas – agrupando-as em textos sobre coronelismo e poder local, economia, ocupação, desenvolvimento de comunidades rurais e municípios, conflitos sociais, entre outros temas. A novidade é o desenvolvimento de programas de pós-graduação em história, inicialmente em Salvador, mas não só já que muitos trabalhos foram desenvolvidos em outras universidades, e posteriormente nos programas de pós-graduação nas universidades estaduais sediadas em Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, além de cursos universitários de história em Vitória da Conquista, Alagoinhas, Itabuna, Conceição do Coité, Jacobina, Eunapólis, alguns deles com mestrados interdisciplinares que abrangem pesquisa histórica ou mestrado em história. Neves destaca a importância da interiorização do ensino universitário para a pesquisa histórica.
A terceira parte do livro trata das perspectivas historiográficas posteriores a 1930 sobre os sertões da Bahia. A primeira seção aborda as crônicas, memórias históricas sobre o período posterior a 1930 e inicia com algumas páginas sobre da questão do rio São Francisco a partir das memórias de Manoel Novaes, recuperando outros estudos sobre o rio desde o século XIX – como Orvile Derby, Teodoro Sampaio – passando pelos contemporâneos de Novaes como Geraldo Rocha e Wilson Lins. Em outra seção, Neves analisa os estudos técnicos sobre o período posterior a 1930 com destaque para pesquisadores oriundos dos Estados Unidos, como Rollie Poppino, Charles Wagley, Donald Pierson em colaboração com pesquisadores brasileiros como Thales de Azevedo, Eduardo Galvão e Luiz Antônio da Costa Pinto. Também são abordados estudos técnicos da Comissão de Planejamento Econômico da Bahia e pesquisas acadêmicas sobre o período.
As duas últimas seções abordam os fundamentos historiográficos entre o período 1930 e 1970 e as perspectivas historiográficas desde 1970, destacando a profissionalização da pesquisa histórica, o desenvolvimento de programas de pós-graduação e a diversificação e sofisticação conceitual e metodológica ocorridas no campo. Mais uma vez, Neves analisa livros, artigos, dissertações, teses e outros tipos de trabalho, especialmente as crônicas e memórias que não cessam de aparecer, mas se desenvolvem em paralelo à pesquisa acadêmica, sobre temas diversos como independência, escravidão, ocupação, modernização, família escrava, negros no pós-abolição, redes familiares, religião, cotidiano, vida material, relações de gênero, poder local, secas, mineração, identidades nos sertões baianos, entre outros temas.
Percebemos algumas questões importantes que podem ser levantadas pelo livro de Erivaldo Neves. Primeiro, a problemática do sertão, investigada não só pelos historiadores, mas também pela literatura e antropologia. Percebemos no exaustivo levantamento do autor, considerado “introdutório” pelo mesmo16 a crescente mudança que há entre o sertão pelo olhar estrangeiro, especialmente na colonização e no império, quando os produtores de textos são estranhos aos espaços objeto do discurso, e o sertão que fala de si, sobretudo no século XX, com destaque para a crescente lavra feita por historiadores oriundos dos sertões, caso do próprio Erivaldo Neves. Embora seja um dos temas fundamentais do pensamento nacional e há muita gente que ainda o aborda numa perspectiva exógena, inclusive autores que nasceram nas áreas consideradas sertanejas, a pesquisa de Erivaldo Neves parece indicar uma transição de uma identidade atribuída para uma identidade reivindicada. Quando a identificação de sertão e sertanejo é exógena, os sertanejos são simplórios, violentos, incivilizados – incivilizáveis para alguns autores -, exóticos, folclorizados e romantizados. Com a proliferação dessa identidade reivindicada, a fala de dentro do sertão aos poucos vai abandonando os estereótipos herdados dessa literatura anterior, sobretudo os euclidianos, e vai ganhando complexidade, sofisticação, contradição e conflito. O final da linha é o desaparecimento do sertão e a multiplicação dos sertões cada vez menos sertanejos e mais barranqueiros, catingueiros, brejeiros, alto-sertanejos, geraizeiros, quilombolas, serranos, chapadenses entre outros. O trabalho particular, sobre o pensamento histórico acerca dos sertões baianos, permite uma formulação de uma hipótese geral, a transição entre a identidade atribuída ao outro pelo olhar estrangeiro para uma identidade reivindicada – que reconstrói-se numa diversidade de formas a partir das atualizações dos conflitos – pelos olhares de dentro do sertão.
Essa transição ocorre, na hipótese aqui levantada a partir da análise de Crônica, memória e história de Erivaldo Fagundes Neves, pela apropriação por parte dos sujeitos internos aos sertões, inicialmente das classes médias e abastadas, posteriormente das classes subalternas, daquilo que Johann Michel chama de tecnologias discursivas de si17.
A partir de uma síntese das contribuições de Michel Foucault e Paul Ricoeur, Michel define a tecnologia discursiva de si como a capacidade de formulação de uma identidade narrativa individual ou coletiva a partir de uma configuração poética que inova ao mesmo tempo em que se utiliza do acervo cultural disponível para o autor enquanto leitor e agente do mundo. Daí a importância decrescente de Euclides da Cunha para as identidades narrativas reivindicadas que em algum momento, em alguns textos e autores, reproduzem estereótipos, mas devido a influências externas, terminam por criticá-los e expurgá-los das definições de sertão. Erivaldo Neves destaca que as primeiras elaborações do século XX eram influenciadas pela retórica euclidiana, mas ela perde relevo à medida em que as novas produções, sobretudo as acadêmica, se ancoram em conceitos, teorias e metodologias produzidas na disciplina da história e em outros campos do conhecimento, o que contribui para a complexificação e sofisticação dos sertões como objeto de estudo histórico. Com isso não pretendemos que a produção historiográfica seja apenas entendida como uma expressão identitária. Ao contrário, é a história que é demandada pela identidade narrativa de modo que aquela lhe fundamente, isso ocorre tanto no sentido de demandar um modo de escrita, quanto na própria interpretação realizada na leitura da obra. Quando poucos podiam escrever e dispunham de poder de representar os outros que não podiam ser representados, aí tínhamos uma identidade atribuída no sentido de estabelecimento de características homogêneas a grande grupo humano. Com o desenvolvimentismo da historiografia e com a democratização da escrita, as novas produções historiográficas implodiram a identidade do sertão e do sertanejo. No lugar do idêntico, estabeleceram o diverso e substituíram o local pelo universal, o singular pela pluralidade. Ao mesmo tempo, negar a existência de vínculos entre essa produção historiográfica interna dos sertões e processos de luta e resistência que passam pela reivindicação de identidades e busca por reconhecimento – não mais representadas por outros, mas capazes de se representar – seria ocultar uma das forças motrizes da demanda por novas histórias que são as transformações do presente que exigem novas narrativas.
É possível, graças à tipologia da pesquisa de Neves, perceber como mesmo os primeiros sertanejos que produzem isso que chamamos de identidade reivindicada, já no século XX, como Geraldo Rocha, Anísio Teixeira ou Wilson Lins, eram oriundos dos grupos dominantes daquilo que em outro estudo Neves chamou de “oligarquia fardada”18
Com o passar dos anos, acessam ao universo da produção escrita da história novos sujeitos, de classe média rural e urbana, mas também das classes populares. A sofisticação e diversificação da escrita sobre o passado dos sertões vem também da mudança dos sujeitos que a escrevem, agora destacando-se mulheres, mas também filhos e netos dos vaqueiros, remeiros, quilombolas, trabalhadores rurais e das pequenas cidades e vilas.
O livro também instiga uma reflexão conceitual importante. Neves define a crônica como “registro de fatos em ordem cronológica”, recurso muito utilizada no período colonial para a produção de conhecimentos sobre os sertões para fins políticos e administrativos da Coroa19
Ao contrário, memória já é um conceito mais problemático. Neves a define como “capacidade intelectual fundamentada em um conhecimento que permite sistematizar informações, através das quais se podem atualizar impressões ou saberes do passado, tanto individuais quanto coletivos”.20
A dificuldade reside em utilizar o termo que define uma faculdade mental para designar um gênero de escrita da história distinto da história ou historiografia – mais técnicas e institucionalizadas, digamos assim – e da crônica. O uso do termo memorialista, para designar um escritor que produz textos que não são nem história, nem crônica, dá uma definição mais precisa que a utilização de memória para o gênero, mas não exclui a problemática de encaixar textos individuais na tipologia. Para textos distanciados no tempo, podemos perceber principalmente um registro escrito do passado a partir de uma memória individual e/ou coletiva, sem esmero técnico ou metodológico com pretensões objetivas para além da verdade do testemunho, mas o mesmo não pode ser dito para textos produzidos mais recentemente. Com o surgimento de um campo disciplinar da história e um mercado editorial de nicho, muitos escritores que preocupam-se em registrar suas histórias municipais a partir de uma memória individual e coletiva terminam por ler de forma assistemática obras históricas e realizarem pesquisas documentais. Se esses textos não podem ser considerados historiografia devido à ausência do crivo dos pares – geralmente os memorialistas lançam obras com edição do autor – por meio de bancas, congressos ou avaliação em periódicos ou por pareceristas anônimos, não é possível dizer que estes alguns desses textos não obedecem a certa “operação historiográfica”, já que há pesquisa de documentos, confronto de testemunhos e uso de metodologias ou conceitos explicativos. Daí, talvez, tratarem-se de memórias híbridas com a história acadêmica, para além de testemunhos ou registros de memórias comunitárias compartilhadas – ainda que selecionadas às conveniências dos interesses e da visão de mundo do autor. Todavia, isso trata-se apenas de um levantamento de hipótese a partir da leitura do livro de Neves e não da identificação de uma lacuna. Apenas pesquisas mais pormenorizadas desse gênero poderiam confirmar essa afirmação. Outra dificuldade adicional é que o termo memória, utilizado para gênero de escrita, tem o problema de não distinguir um registro de testemunho pessoal ou familiar de uma pretensa história municipal.
Memória, crônica e história local de Erivaldo Fagundes Neves é uma contribuição relevante para a história da historiografia e obra que deve se tornar referência para pesquisadores dos mais diversos campos que tenham os sertões baianos – ou fronteiriços – como objeto de estudo.
Notas
2 NEVES, Erivaldo Fagundes. História regional e local: fragmentação e recomposição da história na crise da modernidade. Feira de Santana: UEFS; Salvador: Arcádia, 2002.
3 NEVES, Erivaldo Fagundes. Narrativa e interpretação: da corografia à história regional e local. In ARAÚJO, Delmar Alves de; NEVES, Erivaldo Fagundes; SENNA, Ronaldo de Salles. Bambúrrios e quimeras (olhares sobre Lençóis: narrativa de garimpos e interpretações da cultura. Feira de Santana: UEFS, 2002.
4 NEVES, Erivaldo Fagundes. Escravidão, pecuária e policultura: Alto Sertão da Bahia, século XIX. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012 , ocupação territorial5 5 NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura fundiária e dinâmica mercantil: Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX. Salvador: EDUFBA, 2005. , caminhos coloniais6 6 NEVES, Erivaldo Fagundes; MIGUEL, Antonieta (org.). Caminhos do sertão: ocupação territorial, sistema viário e intercâmbios coloniais nos sertões da Bahia. Salvador: Arcádia, 2007.
7 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local). 2 ed. Revista e ampliada. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2008. , cultura8
8 NEVES, Erivaldo Fagundes. O Barroco: substrato cultural da colonização. Politeia: História e sociedade. Vitória da Conquista, 2007, vol. 7, n. 1. , sertão9
9 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertão recôndito, polissêmico e controvertido. KURRY, Lorelai Brilhante (org.). Sertões adentro: viagens nas caatingas séculos XVI a XIX. Rio de Janeiro: Andrea Jakobson, 2012 , história da família, pecuária10
10 NEVES, Erivaldo Fagundes (org.). Sertões da Bahia: formação social, desenvolvimento econômico, evolução política e diversidade cultural. Salvador: Arcádia, 2011. e historiografia11
11 NEVES, Erivaldo Fagundes. Perspectivas historiográficas baianas: esboço preliminar de elaborações recentes e tendências hodiernas de escrita da História da Bahia. In: OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos (org.); REIS, Isabel Cristina Ferreira dos (org.). História regional e local: discussões e práticas. Salvador: Quarteto, 2010.
12 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 100.
13 IGHB – Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Anais do Primeiro Congresso de História da Bahia. Salvador: Tipografia Manú Editora Ltda, 1955. 5 volumes.
14 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: Edição do IBGE, 1957. 36 volumes.
15 NEVES, op. cit. p. 211.
16 NEVES, op. cit. p. 15,
17 MICHEL, Johann. Sociologie du soi – essais d’herméneutique appliquée. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012. p. 60.
18 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local). op. cit. .
19 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 18 .
20 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 16.
Flavio Dantas Martins – Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás. Professor do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E-mail: [email protected].
Teoria da História (v.3) História Viva: formas e funções do conhecimento histórico | Jörn Rüsen
 Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.
Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.
RÜSEN, Jörn. História Viva: teoria da história - Formas e funções do conhecimento histórico. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora UNB, 2007, 159p. Resenha de: ROCHA, Sabrina Magalhães.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.1, ago. 2008.
História Viva: teoria da história: formas e funções do conhecimento histórico é a mais recente publicação brasileira da obra do historiador alemão Jörn Rüsen.
Lançada pela editora da Universidade de Brasília e traduzida pelo professor Estevão de Rezende Martins em 2007, essa obra corresponde ao último volume da trilogia intitulada Teoria da História, cujos dois primeiros volumes se encontram publicados pela mesma editora. Trata-se, certamente, de uma importante publicação que viabiliza ao leitor brasileiro o contato com a reflexão desse importante historiador, ainda pouco conhecido nos círculos acadêmicos nacionais.
Sua significação se revela também na medida em que a obra preenche um espaço importante no que se refere à discussão teórica sobre o conhecimento histórico, contribuindo para minorar essa grande lacuna em nosso mercado editorial.
Configurando-se, portanto, como último volume de uma trilogia, essa obra conclui a reflexão que Jörn Rüsen vinha desenvolvendo nos dois números anteriores: Razão Histórica e Reconstrução do Passado. Compreendida nesse sentido, a obra pode ser considerada como parte de um sistema. Contudo, e embora guarde uma conexão íntima com os volumes anteriores, História Viva pode ser apreendida isoladamente, tendo em vista que se dedica a refletir com profundidade sobre dois pontos específicos desse sistema mais amplo. Essa questão que se está tratando como um “sistema” da trilogia de Rüsen refere-se à reflexão, pela perspectiva da teoria da história, sobre a matriz disciplinar da ciência da história. Nesse sentido, enquanto nos volumes anteriores se trata de idéias e métodos, nesse terceiro a reflexão é dedicada às formas e funções do conhecimento histórico.
A perspectiva central da obra de Rüsen é refletir sobre o conhecimento histórico a partir da teoria da história, ou, em seus próprios termos, entender a teoria da história como autocompreensão da ciência da história. Trata-se de uma produção situada em um contexto de retomada das discussões teóricas acerca do conhecimento histórico. Rüsen faz parte de um conjunto de pensadores contemporâneos, como Reinhart Koselleck, Hayden White, Michel Foucault, François Hartog, Frank Ankersmit, dentre muitos outros, que, especialmente a partir da segunda metade do século XX, defrontou-se com os desafios impostos pelas novas configurações nas esferas econômica e política, e, por sua vez, com a crise de paradigmas nas ciências humanas e sociais. Tratava-se de conjunturas originais que transmitiram suas incertezas para o âmbito do conhecimento histórico, colocando-lhe questões relativas à sua fundamentação, seu estatuto de cientificidade, sua relação com as artes. Configurou-se, portanto, um quadro que demandava reflexões teóricas, mas não mais nos moldes dos grandes modelos explicativos elaborados no século XIX. A teoria será revestida por outras formas, as respostas oferecidas não serão sistemáticas, unívocas ou finalistas, mas múltiplas, e, em grande medida, fragmentárias.
Partindo desse contexto, pode-se compreender o desejo de Rüsen de entender a teoria da história como autocompreensão da ciência histórica, como sua resposta, sua formulação particular. Formulação essa que se desenvolve a partir da argumentação de que a história continua sendo um conhecimento, uma disciplina científica, ainda que uma ciência formatada por uma racionalidade particular. Esse será, portanto, o pressuposto básico que perpassa os três volumes de sua obra. Em História Viva, o autor aborda as formas e funções do conhecimento histórico, ou, a historiografia e a formação histórica, procurando pensá-las a partir da própria cientificidade da história. A tese desenvolvida aqui é que mesmo nesses dois âmbitos, constantemente tratados como acessórios, como externos, se revela a racionalidade do conhecimento histórico, a história enquanto uma ciência. Sobretudo, esses dois aspectos, historiografia e formação histórica, são partes constituintes dessa racionalidade, momentos da investigação nos quais o saber histórico efetivamente se completa; como o próprio autor insinua no título da obra, se torna vivo.
No primeiro capítulo, “Tópica: formas da historiografia”, Rüsen reflete sobre a formatação historiográfica do conhecimento histórico, sobre a escrita da história propriamente dita, sua constituição em uma narrativa. Partindo da elaboração de uma diferenciação entre pesquisa histórica e historiografia, demonstra-se como essas duas operações, apesar de distintas, guardam conexões entre si e se constituem em operações científicas. Uma das principais singularidades dessa análise, portanto, é a atribuição de estatuto de cientificidade também ao procedimento de escrita da história. Na construção de Rüsen esse argumento justifica-se na medida em que reconhece a interpretação como uma operação cognitiva da pesquisa. Nesse sentido, é a pesquisa que revela um sentido narrativo à historiografia, e não essa que lhe impõe tal característica.
Há aqui o pressuposto de uma organização do real preexistente, um sentido que não deve ser imputado, mas apreendido pelo pesquisador. Rüsen afirma que a historiografia não deve criar, mas “rememorar sentido”.
Compreendendo pesquisa e historiografia como racionalidades, Rüsen associa a primeira a uma função cognitiva e a segunda a uma função comunicativa, desenvolvendo um raciocínio kantiano. A historiografia, através dos procedimentos da estética e da retórica, transmite a “razão pura”, a análise teórica obtida pela pesquisa, a uma “razão prática”, que se relaciona diretamente com as formas de vida. Pesquisa e historiografia seriam, portanto, processos da constituição narrativa de sentido. Propõe-se então que essa constituição pode ser configurada em uma tipologia, apresentando assim quatro topoi: o primeiro, o tradicional, volta-se para as origens, tendo a interpretação da experiência do tempo determinada pela categoria continuidade; o segundo, o exemplar, é um topos cujas determinações de sentido são mais abstratas que no topos tradicional, refere-se às formatações historiográficas no modelo da historia magistra vitae, em que as expectativas são orientadas pelas experiências; já o terceiro, o topos crítico, seria aquele que esvazia os modelos de interpretação histórica dominantes, problematiza-os, desestabiliza-os, representa a ruptura da continuidade; por fim, o topos genético refere-se à interpretação da experiência do tempo em que o foco central é a própria mudança temporal, sendo marcado por categorias como “processo”, “progresso”, “evolução”, “revolução”.
Esses tipos não seriam formas puras já que estariam sempre articulados uns com os outros em contextos complexos, em grande medida contextos de tensão. Para o autor, essa seria uma tensão responsável por conferir à historiografia uma historicidade interna própria. Tal afirmação parece-nos ser um dos pontos menos seguros da obra ou, pelo menos, pouco esclarecido. Ao afirmar que a tensão entre os tipos dota a historiografia de historicidade, Rüsen está concebendo-os em uma perspectiva de epocalidade, de sucessão temporal.
Poder-se-ia vislumbrar em sua elaboração até mesmo uma perspectiva evolutiva, em que o topos genético supera, em um sentido hegeliano, os demais. Ao que nos parece, tal abordagem da história da historiografia demanda alguns cuidados, especialmente pelo fato de que ao se trabalhar com uma perspectiva evolutiva corre-se o risco de não historicizar devidamente o objeto. Contudo, como se disse, essa é uma questão que parece passar pela obra de forma um pouco obscura, especialmente porque a própria construção em tipos ideais parece apontar não para a sucessão, mas para a convivência entre os quatro topos.
Uma outra questão que se pode colocar a essa tipologia refere-se a sua operacionalidade. Certamente, essa não é a preocupação central de Rüsen; mas se trata de uma questão relevante, especialmente para aqueles que se dedicam à história do conhecimento histórico. Rüsen constrói uma análise sofisticada teoricamente e em muitos pontos esclarecedora, contudo, podermos nos interrogar sobre sua utilização como ferramenta teórica, como categoria que auxilia e viabiliza a compreensão histórica da historiografia. Ao que nos parece, a tipologia construída pelo autor coloca alguns problemas ao historiador, especialmente por minimizar as relações das formatações historiográficas com seus contextos de produção. Uma possível aplicação direta dessa formulação incorreria, portanto, no risco de apagar o caráter propriamente histórico da historiografia. No entanto, esse é um risco apresentado por quaisquer categorizações, no qual por vezes é produtivo incorrer a fim de se buscar aspectos poucos iluminados por uma análise mais particularista. Nesse sentido, pode-se compreender que a construção de Rüsen poderia sim se prestar como um importante instrumento teórico de análise para a história da historiografia, desde que conjugada com esse olhar mais “individualizante”.
Já o segundo e último capítulo, “Didática: funções do saber histórico”, tem como tema central a práxis como fator determinante da ciência histórica. Nesse sentido, Rüsen se propõe a elaborar os pontos da didática da história que são relevantes para a teoria da história, compreendendo tanto a historiografia quanto o aprendizado como operações constitutivas da ciência histórica. Rüsen defende que o pensamento histórico só se “forma” plenamente quando se relaciona diretamente ao todo, ao agir e ao eu de seus sujeitos. A formação histórica representa, então, o conjunto de competências de interpretação do mundo e de si próprio, articulando orientação do agir com autoconhecimento. Em outros termos, formação histórica seria a capacidade de constituir sentido narrativamente, uma capacidade que não é inata, que requer aprendizado.
Parece se processar, assim, um salto quanto ao capítulo anterior no que se refere à constituição narrativa de sentido. Como se analisou, o autor coloca à historiografia o papel de “rememorar” um sentido pré-existente no real e que se revela através da pesquisa histórica. Tratando da formação histórica, a operação parece ser invertida. Rüsen defende que é importante conhecer essa construção que denomina de “história objetiva”, mas que os sujeitos não se constituiriam se aprendessem somente ela. É necessário possuir a própria capacidade de constituir sentido, apropriar subjetivamente esse aprendizado histórico objetivo, e, logo, imputar-lhe novos sentidos. A formação histórica cumpre assim uma função de orientação cultural, na medida em que viabiliza a consciência da própria relatividade histórica e da dinâmica temporal interna da relatividade histórica. Nas palavras de Rüsen, viabilizando o autoconhecimento e a orientação para o agir, ela abre uma chance para a liberdade.
Expressos esses pontos, faz-se necessário retornar à questão inicial de Rüsen: “o saber histórico pode ser utilizado na prática sem perder sua cientificidade?” Sua resposta passa pela própria fundamentação da formação histórica. Rüsen afirma que quando se completa, quando está “formado”, o saber histórico dos sujeitos estabelece um equilíbrio argumentativo entre o relacionamento com a experiência e o relacionamento com o sujeito, correspondente, portanto, ao nível argumentativo da história como ciência. É interessante observar que mesmo construindo um “sistema” que busca afirmar a história como uma disciplina científica, Rüsen argumenta contrariamente ao excesso de especialização e de metodologização da ciência histórica, afirmando que esse caminho a desvincularia de sua função e de sua própria fundamentação, qual seja, a relação, o contato com a práxis, com a experiência.
O autor conclui sua obra remetendo-se à relação entre história e utopia e argumentando que se pode visualizar em ambas um superávit de expectativas, a vontade humana de querer ser outro. Contudo, entre elas há a diferença substancial de que a história não ficcionaliza o real como a utopia, mas historicizao, logo, o desejo de mudança, de transcendência, aparece como possível, esperável, pois é fundado na experiência. Com isso, podemos também concluir retomando a tese que perpassa toda a obra e também se revela nessa construção história-utopia. Todo o esforço de Rüsen pode ser compreendido a partir de seu anseio em demonstrar que a história é uma disciplina científica, com uma racionalidade particular, que tem como princípio e como fim a relação com a experiência, com a práxis. Utilizando a teoria da história como autocompreensão da ciência histórica, essa se revela, então, como uma disciplina científica, mas em íntima relação com a experiência histórica, que emerge de seus anseios e tem como função responder a eles.
[1] Mestranda em História Universidade Federal de Ouro Preto Rua Prefeito João Sampaio, 80 - São Gonçalo Mariana - MG 35420-000.
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz Albuquerque Junior
Às vezes sigo o (dis)curso, às vezes saio das margens, transbordo, alago, arrasto em meu caminho outras formas organizadas e as transformo em novas formas, e ambas compõem o meu existir de rio. Às vezes objetivado, às vezes sujeitado, às vezes objetivo, às vezes subjetivo, sempre os dois ao mesmo tempo, eu sou rio e eu sorrio, eu, natural e humano, cursivo e discursivo, invento na história e a História (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 36).
O livro de Durval Muniz Albuquerque Junior História: a arte de inventar o passado reúne uma coletânea de 16 artigos que têm por objetivo refletir sobre a escrita da História, com destaque para a relação entre História e Literatura, bem como fazer uma análise sobre o pensamento de autores de significativa importância para a historiografia contemporânea, entre eles Michel Foucault. Leia Mais
A escrita da História: livro didático e ensino no Brasil (1970-1990) – GATTI JÚNIOR (AN)
GATTI JÚNIOR, Décio. A escrita da História: livro didático e ensino no Brasil (1970-1990). Bauru: EdUSC; Belo Horizonte: Editora da UFU, 2004. 252p. Resenha de ROIZ, Diogo da Silva. Anos 90, Porto Alegre, v.14, n.25, p.229-235, 2007.
A escrita da história nos livros didáticos de ensino fundamental (e médio) no Brasil é tema que vem despertando a atenção de estudiosos de Educação, Ciências Sociais e História desde, pelo menos, os anos de 1980. Evidentemente, encontram-se estudos pioneiros antes desse período, muito embora fossem esparsos. Com o desenvolvimento dos programas de pós-graduação no país, a partir dos anos de 1970, avançou-se consideravelmente no número, densidade e discussões da historiografia brasileira sobre a história dos livros didáticos no país. A tese de Circe Bittencourt, Livro didático e conhecimento histórico, que foi defendida em 1993 na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é um bom exemplo da forma como as pesquisas sobre a produção, divulgação e usos dos livros didáticos de história se desenvolveram de lá para cá. Foi seguindo os passos dessa historiografia que, em 1998, Décio Gatti Júnior defendeu, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, sua tese Livro didático e ensino de história: dos anos sessenta aos nossos dias.
Edusc, em co-edição com a Edufu. Uma alteração substancial do texto, ora publicado, foi a exclusão das entrevistas que o autor fez em 1997 com autores de livros didáticos e editores, provavelmente em função da quantidade de páginas do material. O livro permaneceu dividido em três capítulos.
Na apresentação assinada pela professora Ester Buffa, orientadora do trabalho, desenvolvido entre 1994 e 1998, esta já esclarece as características do texto para o leitor, dando ênfase às suas contribuições para o tema. Para ela:
Ao buscar uma explicação, depois de analisar toda uma enorme coleção de livros didáticos de História, o autor, apoiado num referencial teórico-metodológico adequado, empreende uma análise do livro didático que passa pela sua escrita e confecção. Mostra como se passou, quanto à escrita, do autor individual à equipe técnica responsável (cap. 1) e quanto à confecção, da produção artesanal à indústria editorial (cap. 2).
Finalmente, focaliza as transformações ocorridas na escola e na sociedade brasileiras que fizeram com que o livro didático se tornasse definidor do processo de ensino-aprendizagem (cap. 3).(Gatti Júnior, 2004, p. 12-3).
Indica ainda que, por seu recorte inédito e suas análises, a leitura do livro é recomendada para os alunos de cursos de graduação em História, Ciências Sociais e Pedagogia, e ainda para os estudiosos da História da Educação e das Teorias do Currículo de História do Ensino Fundamental e Médio das escolas publicas do país.
Na introdução, o autor indica o que o levou a fazer essa pesquisa (além da questão formal do título de doutor na área de Educação), quais foram seus questionamentos e suas hipóteses. Segundo ele, “part[iu]-se da idéia de que, a partir da década de 1960, quando teve início o ainda inconcluso processo de massificação do ensino brasileiro, tenha ocorrido: a transformação dos antigos manuais individual à equipe técnica responsável pela elaboração dos produtos editoriais voltados para o mercado escolar; e a evolução de uma produção editorial quase artesanal para a formação de uma poderosa e moderna indústria editorial” (Idem, p. 16). Cada uma daquelas características correspondeu a cada um dos três capítulos do livro, tal como, acima, Ester Buffa já havia referido. Ressalta ainda que “a delimitação espacial foi se solidificando concomitantemente ao avanço do desenvolvimento da investigação, na qual os sujeitos envolvidos encontravam-se nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e João Pessoa, bem como os empreendimentos editoriais enfocados concentravam-se na região sudeste do Brasil” (Idem, p. 17). Para atingir seus objetivos, pautou-se metodologicamente nos procedimentos de André Chervel sintetizados no texto História das disciplinas escolares, traduzido no Brasil em 1990. Observa que:
[…] a partir dos relatos feitos pelos autores e editores de diversas coleções didáticas, foi possível perceber que a constituição dos conteúdos disciplinares, expressos nos livros didáticos, não era a transposição dos saberes produzidos na pesquisa científica, mas sim, resultado de um leque amplo de fatores, tais como: as novidades produzidas no âmbito das ciências, que são selecionadas conforme as opções teóricometodológicas dos autores e, por vezes, dos editores; as mudanças curriculares e programáticas provenientes dos diversos órgãos que legislam sobre a educação escolar; a sociedade civil, especialmente a mídia que por vezes conduz o aparecimento ou a valorização de certas temáticas em detrimento de outras. (Idem, p. 18).
Assim, ao destacar a escolha do período, do recorte do tema e das fontes, o autor preocupou-se em expor a procedência dos livros didáticos que pesquisou e onde pesquisou. Por outro lado, o tema e as fontes para a pesquisa justificavam-se ainda, segundo ele, porque além “de desempenhar esse papel central no cotidiano mencionar, no exercício profissional dos educadores dos mais diferentes níveis, os livros didáticos desde há muito são ainda o produto mais vendido pelas editoras nacionais” (Idem, p. 26).
E desde que surgiram, “os livros didáticos ganhavam, em pleno século XVII, uma função que conservam até os dias de hoje, a de portadores dos caracteres das ciências. De fato, durante os séculos subseqüentes, a palavra impressa, principalmente aquela registrada na forma de livros científicos, ganharia um estatuto de verdade que ainda hoje se dissemina em grande parte dos bancos escolares e da vida cotidiana das pessoas” (Idem, 36).
Como estariam caracterizados os processos de editoração e distribuição dos manuais escolares e dos livros didáticos no Brasil? Como definir a sua periodização? Essas questões foram fundamentais para o autor definir precisamente o seu recorte, e ao mesmo tempo pensar a história dos livros didáticos de ensino fundamental (e médio) no Brasil. Nas suas palavras:
O período compreendido entre as décadas de 1930 e 1960 caracterizou-se, no que diz respeito aos manuais escolares, da seguinte forma: foram livros que permaneceram por longo período no mercado sem sofrer grandes alterações; livros que possuíam autores provenientes de lugares tidos, naquela época, como de alta cultura, como o Colégio D. Pedro II [fundado em 1838]; livros publicados por poucas editoras que, muitas vezes, não os tinham como mercadoria principal e, por fim, livros que não apresentavam um processo de didatização e adaptação de linguagem consoante as faixas etárias às quais se destinavam. Nesse sentido, a década de 1960 foi o momento da transição desses manuais escolares para os livros didáticos do final da década de 1990, pois todas as características mencionadas foram paulatinamente sendo transformadas e adaptadas a uma nova realidade escolar […]. (Idem, p. 37).
A proposta do autor no livro começava, nesse sentido, por estudar, no primeiro capítulo, o lento e gradual processo de transição do autor individual para a equipe técnica responsável pela produção, diagramação e editoração dos livros didáticos de História de ensino fundamental (e médio) (e médio). Para demonstrar essa passagem, o autor contou com a contribuição da professora Joana Neves, que escreve livros didáticos desde 1975, do professor José Jobson de Andrade Arruda, autor de livros didáticos desde 1976, e dos professores Ricardo de Moura Faria, que escreve desde 1975, e Flávio Costa Berutti, que começou em 1986. Todos eles, a partir de entrevistas, permitiram que o autor fosse historiando as mudanças na linguagem, na adaptação ao público, na profissionalização do processo de editoração e na distribuição dos livros didáticos, a partir da década de 1970. O autor, demonstrando as diferenças e proximidades, compara as trajetórias acadêmicas de cada um dos entrevistados. Finaliza a análise do capítulo discutindo questões como a formação da memória nacional, da verdade no discurso histórico, da periodização em história, a rotina de trabalho, a relação com os editores e a maneira como cada um deles percebeu as mudanças que foram ocorrendo na escrita e na editoração dos livros didáticos.
No segundo capítulo, volta-se para a forma como ocorreu a passagem de uma produção tipicamente artesanal, para uma verdadeira indústria editorial especializada na produção de livros didáticos de História (e outras áreas do saber) de ensino fundamental (e médio) no país. Para contribuir com essa demonstração, também como no capítulo anterior, o autor se pautou em entrevistas realizadas em 1997 com os editores Alexandre Faccioli, da Saraiva, Lino Fruet, também da Saraiva, José Orlando Cunha, da Editora Lê, e João Guizzo, na época diretor da Ática. Também procurou indicar as semelhanças e diferenças entre cada um deles, como viram o desenrolar do processo nas suas editoras e no mercado editorial brasileiro, e como se relacionavam com os autores de livros didáticos durante esse período.
No terceiro capítulo, procurou evidenciar a passagem da escola voltada para as elites, para uma escola de massas, na qual o produto central passava a ser o livro didático. Nesse capítulo, o autor mescla as contribuições dos autores de livros didáticos e dos editores entrevistados, para melhor demonstrar essa passagem e como ela foi recebida pelo mercado editorial brasileiro. Evidencia como autores e editores passaram a se preocupar com o currículo, os programas oficiais, a diversidade regional, e em conseqüência disso melhorar o serviço de distribuição e editoração de livros didáticos e paradidáticos.
Nesse processo, o autor mostra a importância que os livros didáticos passaram a ter na veiculação de conteúdos escolares, no processo de ensino-aprendizagem, norteado por procedimentos metodológicos que incluíam o uso de letras de música, filmes e imagens no trabalho dos professores com seus alunos. Finaliza o capítulo evidenciando como os livros didáticos passaram a ser o produto central de várias editoras, que, para melhor distribuírem seus títulos no mercado, definiam sofisticadas estratégias de divulgação e publicidade perante a sociedade, as escolas e os professores do ensino fundamental (e médio) no país.
A leitura desse livro, nesse sentido, oferece ao leitor um conhecimento pormenorizado de como os livros didáticos de história de ensino fundamental (e médio) foram escritos e produzidos nas últimas décadas, com destaque para a passagem do autor individual para a equipe técnica especializada, da produção artesanal à indústria editorial de confecção de livros didáticos e paradidáticos e, finalmente, das mudanças da escola voltada para a elite se ampliar e abranger as massas. Nas suas palavras:
O governo federal, maior comprador de livros didáticos das editoras privadas, passava a observar com mais atenção aquilo que adquiria para distribuir à população carente [em função da inflação do mercado editorial de livros didáticos no país e da definição, pelo MEC, de formas mais eficientes de avaliação dos livros didáticos produzidos e distribuídos massas, que suplantou o de elite do início do século XX, ganhava em qualidade, ainda que faltassem livros aos alunos do ensino médio e verbas suficientes para a aquisição de livros pelas bibliotecas escolares. (Idem, p. 238).
De modo que o texto é uma bela contribuição para o tema, e certamente será um convite para novas pesquisas sobre o assunto
Diogo da Silva Roiz – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação da UNESP, Campus de Franca. Coordenador do curso de História da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Campos de Amanbaí.
[IF]
PINSKY Carla Bassanezi (Org), Fontes históricas (T), Contexto (E), ROIZ Diogo da Silva (Res), Anos 90, Fonte histórica, Ensino de História, Metodologia da História, Pesquisa histórica
PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 302p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Anos 90, Porto Alegre, v.14, n.26, p.227-233, 2007.
Diogo da Silva Roiz – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação da UNESP, Campus de Franca. Coordenador do curso de História da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Campos de Amanbaí.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Paisagens da História – Como os historiadores mapeiam o passado | John Lewis Gaddis
A historiografia é abordada como tema nessa obra de John Lewis Gaddis, que consiste em um conjunto de conferências proferidas por ele na Examination Schools em High Street. Influenciado por Marc Bloch e E. H. Carr, o autor discute o papel do historiador e seus métodos, visando a uma complementação e reflexão embasada no pensamento desses autores. Isso é feito de modo interessante e original, com o levantamento de questões – como o objeto de estudo desses profissionais, seu modo de pensar e analisar a realidade – cuja discussão é permeada por exemplos advindos desde a história, até as artes – como a pintura, a literatura e o cinema –, e pelo uso de metáforas; recursos, esses, que facilitam o entendimento e entretêm a leitura.
A discussão se inicia com a análise da pintura O viajante sobre o Mar de Névoa, de Casper David Friedrich, que desencadeia uma reflexão sobre a posição do historiador em relação ao seu objeto. Ele, assim como o personagem do quadro, observa os acontecimentos com o distanciamento que o tempo exige, uma vez que o passado chega até nós inacessível, sendo somente possível sua representação pelos artefatos sobreviventes. Esta pode ser feita sob um prisma mais amplo, quando comparado ao daqueles que viveram a experiência, já que o historiador pode variar entre o geral e o particular, fazendo uso também das diferentes escalas de tempo e espaço, conforme for necessário. Dessa forma, para o autor, o que deve ser buscado é uma abstração, não uma descrição literal dos eventos ocorridos. A história deve ser como um mapa: que simplifica a realidade, destacando aspectos de acordo com o que se pretende compreender e explicar. Leia Mais
A leitura e seus lugares | Júlio Pimentel Pinto
Júlio Pimentel Pinto, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), é um historiador que, em sua produção, tem se voltado para os estudos acerca das relações entre a História e a Literatura. Seu trabalho de doutoramento, intitulado Uma memória do mundo: ficção, memória e história em Jorge Luis Borges (publicado pela Editora Estação Liberdade, em 1998), já apresentava um pesquisador instigante, um narrador eficaz e, acima de tudo, um crítico preocupado em não perder a especificidade das áreas pelas quais transita.
Seu trabalho mais recente, A leitura e seus lugares (2004), como o próprio título sugere, reúne ensaios cuja temática principal é a leitura e, mais especificamente, os lugares ocupados por esta prática na historiografia e na ficção. Os textos apresentados no livro – estruturado em quatro blocos ou partes, com três ensaios cada um – foram escritos em diferentes momentos e são, em sua maioria, fruto de reflexão acadêmica (quatro destes textos já haviam sido publicados em revistas especializadas), sendo que cinco dos doze ensaios derivam de cursos de graduação e pós-graduação. Leia Mais
La marche des idées – histoire des intellectuels, histoire intellectuelle – DOSSE (RBH)
DOSSE, François. La marche des idées – histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. Paris: La Découverte, 2003. 339p. Resenha de: RODRIGUES, Helenice. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.24, n.48, 2004.
Em momentos de crise e de impasse, nos quais a nebulosidade do pensamento e das ações impossibilita uma inteligibilidade política, a “intelligentsia” francesa tende a se auto-atribuir uma missão. Do “caso Dreyfus” à guerra da Bósnia, passando por Maio de 68 e pela guerra da Argélia, a “intelligence” esteve presente em todas as frentes de combate do século XX, em nome do dever de uma “consciência crítica”. No entanto, as mutações históricas e intelectuais dessas últimas décadas modificaram radicalmente a tradicional imagem do intelectual: a representação do indignado, militante e crítico, cedeu lugar à figura e à cultura do especialista e do chamado “intelectual midiático”.
Ao lado de uma história intelectual e dos intelectuais, François Dosse, nesse recente livro, retraça, em filigrana, uma história da história dos intelectuais, mostrando, através de uma vasta literatura, as imbricações que subtendem sua relação com o espaço público, a história e os esquemas de pensamento. Revisitando as diversas publicações francesas e estrangeiras sobre esses dois domínios, o autor apresenta um importante trabalho de síntese. Embora estruturadas separadamente, a história dos intelectuais e a história intelectual, em razão mesmo de suas indeterminações e indistinções epistemológicas, se justapõem ao longo desse livro, revelando assim o caráter interativo e transversal desses dois objetos.
Paralelamente a uma história dos intelectuais, desenvolvida na França a partir da década de 1980, emerge uma história intelectual tendo por ambição elucidar as obras intelectuais na sua historicidade. Esse “obscuro objeto” que constitui a história intelectual surge, segundo o autor, do intercruzamento de uma história das idéias, de uma história das mentalidades e de uma história cultural. Com efeito, a sua gênese encontra-se na própria tradição epistemológica francesa: a história do pensamento cientifico (Koyré, Bachelard, Foucault), assim como no projeto arqueológico desse último: o pólo crítico e hermenêutico.
Menos preocupado com definições e com problemáticas, François Dosse opta por mostrar as diversas tendências dessa história intelectual: contextualismo (Skinner), semântica histórica (Kosseleck), hermenêutica (Ricoeur), assinalando a necessidade, para a sua prática, de ultrapassar as análises internalistas e externalistas. Para tal, a hermenêutica, como método, parece constituir uma das suas condições de possibilidade: “Cabe à história intelectual como à história dos intelectuais a interrogação da vida das idéias através de um vai-e-vem constante entre o passado e as questões que formulamos, ao passado, a partir do presente”.
Ora, tributária do contexto histórico nacional, a história dos intelectuais, na versão francesa, apresenta-se, na maioria das vezes, sob a forma de uma abordagem política, tendo por principais referenciais os engajamentos, as gerações e os lugares institucionais. Do ponto de vista ético, o intelectual é, antes de mais nada, portador de valor, de engajamento e de missão.
A pluralidade de acepções semânticas sobre o objeto “o intelectual” conduzem François Dosse a explorar os trabalhos de autores clássicos que, de maneira diversa, pensaram a relação do intelectual com o poder. De Benda a Said, passando por Sartre e Gramsci, esse autor apresenta um vasto panorama de análises onde se combinam, igualmente, comentários críticos sobre as obras e sobre os autores. Esse “obscuro objeto”, no contexto intelectual francês, remete, fatalmente, ao modelo do “caso Dreyfus” e às representações, positivas ou negativas, de um engajamento político. Complementando essa abordagem histórica dos intelectuais, os estudos sociológicos inspirados nos trabalhos de Pierre Bourdieu contribuem, sobretudo, para a elucidação das redes de poder e dos mecanismos de produção de idéias, fortemente dependentes dos lugares de enunciação (estudos comparativos entre “campos” intelectuais diversos). Mas, se essa perspectiva sociológica, como pretende François Dosse, revela seus limites, a história dos intelectuais, fundada na versão da história política, por sua vez, não permite a apreensão da própria produção intelectual.
Ora, a atividade intelectual encontra-se presente, segundo o autor, nas modalidades diversas de leitura e de apropriações de textos. A propósito, como ele bem salienta, a teoria de recepção de Hans Jauss é, por exemplo, fundamental em um trabalho de apreensão da produção intelectual. Nesse sentido, a nova história cultural francesa (em forma da história do livro, da edição, da recepção, dos símbolos e da prática cultural, por exemplo), pela própria complexidade da sua abordagem, possibilita explorar as diversas maneiras de pensar e representar o mundo. Desse modo, “a atividade intelectual na história cultural” (um dos capitulos, a nosso ver, mais pertinentes) permite uma melhor compreensão das múltiplas interações entre essas duas fronteiras: cultura e intelecto. Através de diferentes obras, intermediárias entre a história cultural e a intelectual, François Dosse apresenta exemplos de sua prática: os lugares de elaboração e de produção cultural (Carl Schorske em Viena, fim de século), os momentos de apropriação e de recepção de autores estrangeiros (Elias, Weber, Freud, Hegel), e a complexidade mesmo do ato de leitura (Menocchio de Carlo Ginzburg).
Outra variante da história intelectual, a história dos conceitos, em suas diferentes versões (a escola de Cambridge, a semântica histórica com Reinhart Kosseleck e a história conceitual da política, com Pierre Rosanvallon), situando-se nas margens de uma história da epistemologia, da filosofia política e da disciplina história, é tributária de contextos intelectuais diversos. François Dosse percorre esses diferentes campos de investigação, mostrando como a partir de um corpus de textos já tidos por esgotados (os textos de Maquiavel, por exemplo), “a posição enunciativa e a natureza dos destinatários dos mesmos sugere profundos deslocamentos de sentido”. Significativa da guinada hermenêutica, essa abordagem questiona o pensar e o agir nas sociedades passadas e presentes.
Se, como mostra o autor, a escola de Cambridge é passível de críticas em razão de um certo historicismo, o desenvolvimento mesmo da história conceitual no mundo anglo-saxão, graças às contribuições da “linguistic turn”, contribuiu, substancialmente, para uma abordagem mais filosófica da história política. A história intelectual, por exemplo, ilustrada através dos trabalhos de Rosanvallon sobre a democracia, apresenta-se sob a forma de uma “história conceitual do político”. François Dosse destaca a importância particular da “begriffsgeschichte”, pelo viés dos trabalhos de Reinhart Kosseleck e da sua difusão nos países ocidentais. Aliás, a influência dessa corrente intelectual se manifesta, atualmente, através da formação de uma rede internacional de pesquisadores.
Domínio incerto e hesitante, a história intelectual, como conclui o autor, pressionada entre uma lógica diacrônica da história das idéias e sincrônica das cartografias e dos cortes socioculturais, reveste uma “indeterminação epistemológica”. Para os leitores que conhecem os trabalhos anteriores desse autor em história intelectual, essa conclusão, no entanto, parece insuficiente, uma vez que ela exclui toda tentativa de questionamento metodológico e epistemológico. Apesar de se tratar de um livro de referência em história intelectual, a “marche des idées”, talvez pela sua própria proposta, não responde às expectativas daqueles que a praticam e que buscam, através dela, novas respostas.
Helenice Rodrigues da Silva – Résidence Les Récollets, 150-154, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, Tel: 00 – 33 153262149.
[IF]
Il gênio dello storico: le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e Ia tradizione metodológica francese | Massimo Mastrogregori
Resenhista
Raimundo Barroso Cordeiro Junior – Professor da Universidade Federal da Paraíba.
Referências desta Resenha
MASTROGREGORI, Massimo. Il gênio dello storico: le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e Ia tradizione metodológica francese. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1987. Resenha de: CORDEIRO JUNIOR, Raimundo Barroso. História Revista. Goiânia, v.7, 1-2, p.157-167, jan./dez.2002. Acesso apenas pelo link original [DR]
Metahistory. The Histórica, Imagination in Nineteenth-Century Europe / Hayden White
O papel da historiografia na construção social da cultura e, por conseguinte, na conformação da identidade dos integrantes dos respectivos grupos é um tema relevante na reflexão histórica contemporânea.
O ponto fulcral para a contribuição historiográfica ao processo de construção das identidades está no pensamento histórico e nas formas culturais de fixação deste pensamento. Esse tema tem ocupado debates e colóquios pelo mundo afora, além de conduzir a um grande número de publicações, desde a década de 1980.
Destacar e explicar o caráter multifacetado e mutante dos modos de expressão histórica do pensamento identificador da individualidade e da sociedade foi um dos objetivos principais do modelo narrativista inaugurado pelo livro de Hayden White, Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth- Century Europe} Rapidamente essa obra veio a ser considerada como o sinal de uma mudança de paradigma na historiografia contemporânea, com a pretensão de ter superado ingenuidades passadas quanto à isenção metódica da história. A idéia é a de que o pensamento histórico de cada geração (mesmo dentro de uma “mesma” cultura) elabora seu modo próprio de ler e reler seu tempo e seus textos, a exemplo das teorias literárias estruturalistas, semióticas, desconstrutivistas, formalistas, intertextualistas, analíticas do discurso, enfim pós- e até mesmo pós-pós-modernas. O “choque” provocado pela teoria narrativista, ao pôr em evidência os limites da ciência histórica — questão que o paradigma “libertário” do modelo positivista e do seu culto às fontes, em sua influência sobre os modos de fazer história desde meados do século 19, havia amplamente ignorado. Um exagero parece ter acarretado o outro. As reações à teoria de Hayden White foram muitas. Aqui não se busca examinar este debate, mas registrar um de seus efeitos benéficos. A conside ração da diversidade historiográfica como um ganho para a produção do pensamento histórico e de sua inserção cultural em um mundo cada vez mais interativo e interdependente decorre, ao menos em sua valorização recente, deste debate, prevalente nos últimos vinte anos. Não há nisso apenas a (re)descoberta do outro como identidade própria (e não sempre reduzido à do observador ou a ela submetido), mas igualmente uma revalorização do recurso à teoria da história como sistema de equacionamento dos inúmeros fatores que constituem o “objeto” da análise social, inclusive no caso da história.
A coletânea editada por Jôrn Rüsen e Sebastian Manhart, Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada, Frankfurt/Main, Alemanha: Humanities On Line, 2002) tem por objetivo imediato abrir acesso, a todos os interessados, aos espaços culturais em que a memória e a narrativa, como constituintes do pensamento histórico, contribuem para a construção das identidades. Os dois primeiros volumes dessa colerânea trazem textos e comentários do espaço sul-asiático: Südasien — Von den A.nfàngen bis %ur Gegenwart (Ásia do Sul — dos primórdios ao presente). Stephan Conermann edita, introduz e comenta a visão muçulmana do século 13 ao século 18 (Die muslimische Sicht, 2002, ISBN 3- 934157-22-X, 350 p.), e Michael Gottíob faz o mesmo com o pensamento moderno da Ásia do Sul, de 1786 até os dias de hoje {Historisches Denken im modernen Südasien, 2002, ISBN 3-934157-23-8, 474 p.). Um terceiro volume encontra-se em preparação, versando sobre poética histórica indiana, a cargo de Georg Berkemer (Vom Rigveda %ur historischen Versdichtung — Hinduismus, Jinismus, Buddhismus und orale Traditionen, 2003, ISBN 3-934157-30-0, 344 p.).
A inspiração culturalista e historiográfica dessa coletânea deve seu impulso principal à teoria crítica da história elaborada por Rüsen,2 desde seu tempo como professor na Universidade de Bochum, mas fundamentalmente nos projetos que dirigiu no Centro de Pesquisa Interdisciplinar da Universidade de Bielefeld (ZiF, Bielefeld, Alemanha) e nos que dirige há quase dez anos no Instituto de Ciências da Cultura (Kulturwissenschaftliches Instituí), em Essen. Rüsen é certamente um dos principais autores contemporâneos de teoria e metodologia da história. Seu diálogo internacional é amplo e sua preocupação com a tarefa esclarecedora do pensamento histórico como fator de resgate da autonomia crítica dos indivíduos e como fator de entendimento multicultural são mundialmente reconhecidos Um dos desafios enfrentados por Rüsen está na forte pressão que o paradigma ocidental da ciência história vem sofrendo, nos últimos anos. Exige- se desse paradigma e de seus praticantes a revisão de seus fundamentos, não apenas por causa dos avanços significativos e da inovações de sua especialidade, mas igualmente pela consciência crescente de que o sistema ocidental de interpretações, predominante até o presente, está sendo cada vez mais posto em cheque pelas tradições historiográficas não-ocidentais, amplamente ignoradas, subestimadas ou menosprezadas. Apesar de o conhecimento das culturas não-européias ter progredido gradualmente — o que se deve também ao fato de que o circuito de influências da globalização produz efeitos reversos sobre os centros de irradiação da pressão econômica, comercial ou culrural — o conhecimento das múltiplas formas não-ocidentais de lidar com o passado ainda continua sendo absorvido de modo apenas superficial, tanto na ciência histórica como no senso comum. A perspectiva da historiografia ocidental continua claramente hegemônica, e até a história da historiografia permanece concentrada na historiografia ocidental desde os gregos (uma espécie de eurocentrismo expandido). Uma provável causa desse déficit cognitivo não se reduzia à mera falta de interesse pelas formas de pensar e de exprimir-se não-ocidentais, mas pode estar nas grandes dificuldades em se ter acesso aos textos básicos dessas culturas. As dificuldades mais freqüentes são duas: a barreira da língua e a inexistência de corpora sistematizados.
A falta de conhecimento acerca da relevância de determinados textos e das relações entre os diferentes gêneros textuais dificulta igualmente a compreensão de seus discursos quando não se está por dentro das respectivas ciências especializadas (por exemplo: sinologia, arabologia, indologia e assim por diante). A diversidade das tradições historiográficas, cujo significado somente se alcança no contexto da respectiva história social, religiosa e discursiva, tampouco vem a ser apreendida e avaliada adequadamente sem a intermediação de especialistas.
A edição comentada de textos “O pensamento histórico das culturas” contribui para diminuir os obstáculos referidos ao estudo dos discursos historiográficos não-ocidentais e para criar um acesso às formas mais representativas do modo de lidar com o tempo, com a lembrança e com a história, fora do âmbito eurocêntrico. A coletânea procura fornecer ao leitor um primeiro panorama de diversos textos de diferentes feituras, de modo a permitir construir uma representação adequada das respectivas tradições historiográficas. O período coberto vai dos primeiros inícios das tradições orais e escritas na forma de lendas religiosas, anais tribais, crônicas da corte ou do Estado, até os textos cada vez mais marcados pelo modelo da historiografia ocidental (ou a ela opostos, a partir de um passado recente).
Os critérios adotados pelo procedimento de seleção têm, obviamente, uma conseqüência inevitável: de um corpus sempre cada vez maior só se pode apresentar uma parte relativamente pequena. Ademais, quase sempre é preciso fazer a primeira tradução na história desses textos em uma outra língua, além de os ordenar e comentar cientificamente. A escolha e o comentário dos textos vão, pois, bem além do âmbito de uma única ciência especializada.
A edição destina-se tanto ao especialista em história ou outras ciências sociais da cultura como aos demais interessados, abrindo-lhes o acesso à história e à cultura das regiões em questão. Até os dias de hoje, não há, em inglês, francês ou alemão, nenhuma coletânea de fontes históricas dessas culturas. Para o público de língua neo-latina, como o leitor do português, a barreira da língua continua, mesmo se forma relativa, na medida em que o alemão não é um idioma correntemente praticado. Mas a barreira diminui, certamente, pois é ainda mais difícil encontrar quem possa ler e comentar textos em mandarim, hindu ou japonês.
O conceito diretor da coletânea, “pensamento histórico”, tem por intenção dar conta do amplo espectro das mais diversas maneiras e práticas de refletir sobre a experiência do tempo, o relacionamento com o tempo e as atribuições de sentido ao passado. A antologia reúne, por conseguinte, além de excertos da historiografia dinástica chinesa e dos discursos mais recentes sobre a especificidade científica da concepção indiana de história desde a independência, inscrições chinesas em ossos de oráculo ou em tablitas indianas, lendas de templos budistas, epopéias persas ou ainda trechos de romances populares árabes. A grande quantidade de gêneros literários, assim como sua classificação e seu comentário permitem apreender a amplitude dos modos de lidar com o passado, fora das tradições que nos são familiares. Pode-se desvelar, assim, a evolução constante de determinados gêneros literários, por vezes ao longo de séculos, e sua diferenciação, influência recíproca e mescla.
Ter colocado lado a lado conteúdos e linhas de tradição diversas permite também elaborar uma primeira representação da complexidade das respectivas culturas e relações sociais, determinantes dos processos de intercâmbio intercultural contemporâneo, no plano regional como global.
O plano geral da obra inclui ainda duas outras coletâneas já em andamento: sobre a China e sobre os países centrais do islamismo. Nas três coletâneas fica claro que a periodização estabelecida pelos autores foge do eurocentrismo, que colocaria o domínio colonial e a independência com marcos delimitadores. As obras procuram inserir-se em referências cronológicas internas aos textos e às culturas em que foram concebidos — embora, obviamente, as datas obedeçam ao calendário gregoriano hoje universalmente praticado na vida civil. Uma vantagem está em que as obras estão disponíveis também em formato eletrônico (www.humanities-online.de). E de se recomendar a todo interessado em abrir seus horizontes e conscientizar-se da diversidade social e cultural do mundo — mais importante talvez do que sua pasteurização “globalizada” — que faça uso dessa(s) coletânea(s), enriquecendo sua própria cultura com o aprendizado dos idiomas que lhes dão acesso — que seja começando pelo alemão.
Notas
1 O edição original, em inglês, foi publicada em 1973 pelajohns Hopkins University Press (Baltimore e Londres). Como em diversos outros países, o livro de H. White só veio a ser traduzido no Brasil em 1992 (EDUSP), omitindo-se no título em português de que se trata da imaginação histórica na Europa do século 19. A polêmica suscitada pela obra talvez explique a opção os editores. Com efeito, Metabistory tornou-se um clássico do assim chamado pensamento pós-moderno acerca da historiografia, a ponto de duas das mais importantes revistas dedicarem números especiais ao tema: History and Tbeory (vol, 19,1980) e Storia delia Storiografta (vols. 24 e 25,1993 e 1994).
2 A Editora da Universidade de Brasília já publicou o primeiro volume da teoria da história de J. Rüsen: Razão Histórica, 2000). Os dois volumes que completam o tríptico deverão ser publicados em 2003.
Estevão C. de Rezende MARTINS – Universidade de Brasília.
WHITE, Hayden. Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth-Century Europe. Johns Hopkins University, 1973; RÜSEN, Jörn; MANHART, Sebastian (Ed.). Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada). Frankfurt/Main: Humanities On Line, 2002. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Pensamento histórico, cultura e identidade. Textos de História, Brasília, v.10, n.1/2, p.214-219, 2002. Acessar publicação original. [IF]
Das Ráísel der Vergangenheit / Paul Ricoeur
As questões da apreensão da multiplicidade cultural do mundo contemporâneo e da compreensão de sua complexidade histórica e social são objeto da série “Conferências de Essen sobre Ciências da Cultura”, promovida e editada pelo Instituto de Ciências da Cultura.
Este Instituto, fundado em 1988 e sediado na cidade de Essen (Alemanha) é integrante do Centro de Ciências da Renânia do Norte/Vestfália. O Instituto (conhecido por sua sigla KWI, homólogo do Institute for Advanced Studies de Princeton ou do Wissenschaftskolleg de Berlim) é uma instituição pública, voltada para a pesquisa científica realizada mediante projetos de investigação dedicados aos problemas da sociedade e da cultura marcadas pelo desenvolvimento científico, pela sofisticação tecnológica e pela industrialização. Os projetos são desenvolvidos por grupos de estudo interdisciplinares, com temas vinculados à pesquisa fundamental no campo das ciências da cultura. O arco temático dos projetos apoiados pelo Instituto vincula-se aos problemas atuais de orientação das sociedades modernas no contexto internacional e intercultural.
Pesquisas dessa natureza não atraem facilmente a atenção do público. Seus resultados, contudo, são habitualmente incorporados pelas próprias ciências setoriais e continuam a surtir efeitos nelas e por intermédio delas. A interdisciplinaridade e o trabalho em grupo dos especialistas são uma condição importante para o êxito desse tipo de projeto. No entanto, o KWI considera ser também incumbência sua fundamentar a necessidade e a relevância de suas atividades e fazê-las perceber pelo grande público. Isso ocorre de forma multifacetada: conferências, mesas redondas, debates públicos, cursos de extensão.
A série de livros das “Conferências” publica textos escolhidos do programa de conferências do Instituto. Esses textos se originam em palestras abertas ao grande público, e ao especializado, elaboradas e completadas para os fins de publicação. O amplo leque temático documenta a amplitude e o alcance das questões ligadas às ciências da cultura, assim como o fascínio das constelações interdisciplinares de pontos de vista, perspectivas e estratégias de argumentação. Cada conferência representa, por si, uma faceta desse leque.
Cada uma é um componente do vasto complexo de abordagens do conhecimento, no qual as experiências do homem consigo mesmo e com seu mundo são interpretadas, as interpretações são refletidas e transformadas em orientações práticas, para afinal serem incorporadas nas mais diversas formas de determinações de sentido, em função das quais o homem age e interage com os outros.
A pesquisa em ciências da cultura requer distanciamento da atualidade do cotidiano imediato, independência com relação às lutas pelo poder e atitude crítica com respeito às polêmicas e dos conflitos de pessoas. A aparente ausência de aplicação prática imediata não raro traz à pesquisa básica e às ciências humanas a fama de serem um luxo, um desperdício. No entanto, o pragmatismo imediatista da pressão tecnológica — que decorre muito mais da lógica econômica da lucratividade — exige justamente que se desenvolvam reflexões que se libertem a prisão “dourada” em que os resultados “imediatos” parecem ser o máximo dos máximos. O longo prazo, a profundidade do alcance, a multiplicidade das perspectivas — esses e outros fatores fazem das ciências da cultura as que apreendem, descrevem, analisam, interpretam e explicam os complexos códigos de sentido — as estruturas de significado — que produzem, consolidam e reproduzem a(s) cultura(s). A ciência da cultura torna-se assim, ela mesma, um fator ativo da cultura como patrimônio coletivo e imaterial da sociedade. Ela desempenha o papel relevante de pensamento crítico e de diretriz interpretativa para a orientação — aí sim — prática do agir humano em todos os campos. A série de “Conferências” busca, assim, na apresentação de seu editor principal, Jórn Rüsen (Presidente do KWI), dar forma concreta a essa tarefa constante da crítica científica e social.
Da série estão disponíveis, até o final de 2003, doze pequenos volumes:
- Friedrich Kambartel. Pbilosophie und politische Òkonomie. Gõttingen: Wallstein Verlag, 1998 (3-89244-332-7) 85 p.
- Paul Ricoeur. Das Ráísel der Vergangenheit. Erinnern — Vergessen — Vençiben. 1998 (3-89244-333-5) 156 p.
- Klaus E. Müller. Die fünfte Dimension. So^iale Raum^eit und Gescbichtsverstàdnis inprimordialen Ku/turen. 1999(3-89244-348-3) 158 p.
- Jürgen Straub. Veriehen, Kritik, Anerkennung. Das Eigene und das Fremde in der Erkenntnisbildung interpretativer Wissenscbaften. 1999(3-89244-366-1) 95p.
- Burkhard Liebsch. Moralische Spielràume. Menschbeit und Anderheit, Zugehorigkeit und Identitãt. 1999 (3-89244-383-1) 128 p.
- Helwig Schmidt-Glinzer. Wir und China — China und wir. Kulturelle Identitãt im Zeitalter der Globalisierung. 2000 (3-89244-426-9) 101 p.
- Hans Schleier. Historisches Denken in der Krise der Kultur. Fachhistorie, Kulturgescbichte undAnfànge der Kulturwissenschaften in Deutschland. 2000 (3- 89244-427-7) 127 p.
- Gertrud Koch. Medien der Kultur. Film: Beivegungin derLatenç. (3.89244- 428-5). no prelo 9. Rolf Wiggerhaus. Wittgenstein und Adorno. Zwei Spielarten modernen Phi/osophierens. 2000 (3-89244-429-3) 143 p.
- Bernhard Waldenfels. VerfremdungderModerne. Phãnomenologische Ansãtze. 2001 (3-89244-459-5) 162 p.
- Hans-Ulrich Wehler. Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts. 1945-2000. 2001 (3-89244-430-7) 108 p.
- Ludwig Amman. Die Geburt des Islam. Historische Innovation und Offenbarung. 2001 (3-89244-460-9) 111 p.
Seus títulos representam efetivamente a variedade de perspecdvas que compõem o espectro ilimitado das questões culturais: Kambartel preconiza a crítica filosófica da economia política, sustentando a necessidade de ampliação da economia social de mercado (vol. 1); o respeitado filósofo Paul Ricoeur relembra um enigma amiúde negligenciado pela tecnologia da pesquisa: o passado só subsiste na memória e em seus vestígios, lidar com ela é questão de lembrar, esquecer, perdoar (vol. 2); como ecoando Ricoeur, o antropólogo Klaus Müller reforça a tese da memória na concepção de história, de origem, de pertencimento e de constituição do espaço social nas sociedades originárias (vol. 3).
Jürgen Straub, professor de comunicação intercultural, aborda a compreensão, a crítica e o reconhecimento: imagens de si e do outro nas ciências que recorrem à interpretação — um problema espinhoso, sobretudo para a interface entre história e psicologia social (vol. 4); Liebsch, professor de filosofia em Bochum, reflete sobre os campos — virtuais — do agir moral como espaço de relacionamento entre afirmação de si e reconhecimento da alteridade — com os problemas decorrentes da “etnicização” dos grupos e subgrupos nas sociedades (vol. 5). Como transparece ao longo de todos os volumes desta série, a referência de origem é a perspectiva cultural européia e o “déficit” de conhecimento e de compreensão da outras culturas [inclusive levando- se em conta a história colonial e seus efeitos perversos] — assim, a alteridade “radical” da cultura chinesa e a contraposição a ela histórica cultural européia, forçada pela globalização, e a impossibilidade de se entronizar novamente uma cultura hegemônica ocupam a reflexão de Schmidt-Glintzer, um dos maiores sinólogos alemães e diretor da famosa Biblioteca do Duque Augusto, em Wolfenbüttel (vol. 6).
A diversificação do tecido cultural da sociedade abriu, também para os historiadores, a crise da identidade em sua especialidade e a instrumentalização da historiografia para projetos políticos passou a ser problematizada. Hans Schleier os primórdios das ciências da cultura na Alemanha e o papel da ciência da história no contexto da crise da cultura contemporânea, a partir da experiência da desconstrução e da reconstrução alemãs entre 1880 e 1930 (vol. 7). O fenômeno da mídia — em particular da crítica social no cinema — e seu impacto na concepção do pertencimento social é o tema estudado por Gertrud Koch, professora de cinema em Berlim, ainda a ser publicado (vol.8). Wittgenstein e Adorno como representantes de dois formatos de crítica filosófica no século 20: a analítica, formal, que não se manifesta sobre o inverificável, e a dialética, engajada, que não admite que não se manifeste sobre o inefável e o subentendido são os objetos de Rolf Wiggerhaus, filósofo e jornalista (vol. 9). Bernhard Waldenfels, professor de filosofia prática e fenomenologia em Bochum, desenvolve uma forte e consistente crítica à alienação do projeto (incompleto) da modernidade por causa de seu individualismo pretensioso que concebe o global como projeção de si — e por isso mesmo compromete a racionalidade como faculdade do indivíduo e como liame do coletivo (vol. 10). O historiador Hans-Ulrich Wehler, um dos chefes de fila da escola de história social de Bielefeld, faz um balanço comparativo dos resultados obtidos pela reflexão historiográfica na segunda metade do século 20 — por exemplo, acerca do caráter “ocidental” das grandes conquistas políticas, como o estado de direito e o sistema parlamentar e eleitoral universal —, e os parcos efeitos que esses conhecimentos tiveram, até o presente, sobre a crítica social, política, econômica e cultural do mundo contemporâneo (vol. 11). O contraste inquietador que as culturas não-européias provocam nas sociedades de feitura européia é uma espécie de enigma adicional que intriga e mesmo atemoriza a “matriz” européia. A longa experiência das sociedades européias (ocidentais) e da norte-americana de ver as demais sociedades ser-lhes submissas ou ao menos delas discípulas, leva Ludwig Ammann, especialista em islamismo e jornalista, a sistematizar as circunstâncias do nascimento do islã (o aparecimento de Maomé e de sua pregação do monoteísmo, à maneira de um messias) e o choque que provoca nas tribos politeístas árabes e nas respectivas relações sociais, ao enunciar a necessidade da conversão como o sentido de uma missão transcendental instituída por revelação divina — e de como foi possível o fenômeno da islamização das culturas árabes a partir do século 7o (vol. 12).
Duas reflexões se impõem, diante da variedade e da complexidade dos temas abordados pelos textos da série. A primeira é relativa ao caráter pioneiro de abrir espaço de discussão e de contraponto, no âmbito de culturas tradicionalmente avançadas e extremamente seguras e cheias de si, como a alemã. Essa iniciativa do KWI se entende bem pela forma característica de Jõrn Rüsen de conceber o papel da reflexão histórica como um dos fatores relevantes na interculturalidade da comunicação social. Trata-se de uma contribuição de importância tanto para incrementar o arejamento do debate público e científico alemão e europeu como para resistir à crescente intolerância para com o outro e o diferente, que distorce as relações intra- e intersociais, em um mundo cada vez mais marcado pela produção e pela circulação ilimitada de informações. Essa abertura científica e cultural protagonizada pelo KWI reveste-se de duas qualidades adicionais: coragem pública e exemplaridade.
A segunda reflexão refere-se à utilidade de publicações desta natureza para sociedades multiculturais, como a brasileira. A dupla constatação de que há fissuras (bem-vindas) na torre de marfim do eurocentrismo e de que se toma consciência da necessidade de apreender o outro não para reduzi-lo a si é uma perspectiva alvissareira de fecundação da ciência pratica no Brasil. A história é um eixo de constituição da identidade que incorpora, à luz de estudos críticos como os desta série “Conferências sobre Ciências da Cultura”, a dimensão do processamento intelectual e cultural da diversidade como integrantes dialéticos do retorno a si mediante a afirmação do outro, e não por sua eliminação. A leitura historiográfica da cultura e da sociedade pode enriquecer-se com os pontos de vista da interculturalidade, superando assim a constante tentação do nombrilismo nacionalista.
Estevão C. de Rezende Martins – Universidade de Brasília.
RICOEUR, Paul. Das Ráísel der Vergangenheit. Erinnern — Vergessen — Vençiben. 1998. 156p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura, multiculturalismo e os desafios da compreensão histórica. Textos de História, Brasília, v.10, n. 1/2, p.225-230, 2002. Acessar publicação original. [IF].
O Hitler da História – LUKACS (HE)
LUKACS, John. O Hitler da História. Trad. de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, 250p. Resenha de: FERRAZ, Francisco César Alves. Hitler, a História e a Historiografia. História & Ensino, Londrina, v. 5, p.169-170, out. 1999.
Adolf Hitler foi, sem dúvida, a personalidade mais importante da história do século XX. Por mais que possamos reagir com merecida indignação a qualquer esforço de legitimação ou reabilitação dos atos que, direta ou indiretamente, desencadeou, não podemos negar que, para o bem e para o mal, o século que está terminando não seria o mesmo sem ele e o que ele representou e ainda representa.
Mas o que significa a trajetória de um único homem no fluir da história? Pergunta interessante, sempre presente nas discussões sobre a biografia como uma modalidade do conhecimento histórico. Nos bancos escolares, aprendemos que homens sozinhos não fazem a história, mas grupos sociais (sejam estes classes, estamentos, grupos políticos, religiosos, étnicos, etc). Mas será que o caso de Hitler se encaixa neste princípio geral? Afinal, qual o lugar de Hitler na história da Alemanha, da Europa e do século XX?
Essas e outras questões importantíssimas para o entendimento da história mais recente da civilização ocidental são a base para O Hitler da História, livro de John Lukacs, historiador húngaro radicado nos Estados Unidos. Nele, o autor analisa a imensa variedade de biografias e estudos sobre Adolf Hitler, uma massa historiográfica que soma mais de uma centena de títulos, se ficarmos apenas nas obras consideradas “mais sérias” ou de maior repercussão.
Lukacs inicia seu rigoroso balanço das biografias e interpretações sobre Hitler com um pressuposto básico: embora moralmente compreensível, a demonização de Hitler não contribui em nada para entender seu papel na história. Mais do que simplesmente condenar Hitler pelos males da guerra e do nazismo, é preciso compreendê-lo historicamente, cotejar as fontes documentais, entender os influxos do passado e do presente nas interpretações sobre o líder nazista.
Somos apresentados, assim, a um debate que envolveu historiadores que procuravam entender o fenômeno Hitler e, ao mesmo tempo, entender o lugar dos alemães naquele passado. Esse debate foi marcado ideologicamente pela Guerra Fria e seus maniqueísmos. Enquanto historiadores “de esquerda” procuravam definir Hitler e o nazismo ora como fenômenos da extrema-direita alemã e européia, ora como decorrências históricas do imperialismo capitalista, outros, auto-denominados “conservadores”, procuravam explicar o Terceiro Reich como uma anomalia, um desvio da história alemã, ou mesmo como uma resposta histórica a um mal maior, que seria representado pelo então totalitarismo comunista. Na esteira dessas variadas interpretações, documentos de toda espécie eram invocados para corroborar tais afirmações, enquanto outros seriam desprezados por negá-las ou colocá-Ias em dúvida.
Dessa maneira, o leitor é sempre lembrado de que não basta ser uma interpretação tradicional ou mesmo inovadora, se ela não estiver respaldada em metodologias e aparatos documentais coerentes e abrangentes. Neste ponto, Lukacs é particularmente ácido nas críticas a obras que, nos meios acadêmicos brasileiros, são bastante prestigiadas, como Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt (que critica pelo uso arbitrário e assistemático de fontes, “cheio de falhas e desonesto”) e Ascensão e Queda do Terceiro Reich, de William Shirer (“superficial e germanófobo”).
Após esse breve balanço, Lukacs elegeu alguns problemas históricos e historiográficos da vida de Hitler e qual a relação desses com a história da Alemanha e do mundo na primeira metade do século XX. Alguns desses problemas são tão fundamentais como polêmicos, para o entendimento do lugar de Hitler na história.
a) As idéias e crenças de Hitler a respeito da política, dos judeus e do papel da Alemanha no mundo consolidaram-se em Munique, após a primeira Guerra Mundial.
Para Lukacs, se existem indícios suficientes para apontar
o período vienense como a base para o seu germanismo e antisemitismo, a consolidação dessas idéias e a luta para transformálas em realidade, porém, só puderam acontecer após a derrota alemã e o fracasso da revolução comunista na Baviera em 1919. Em Munique, Hitler descobriu ser um orador de talento, e que suas idéias encontravam ressonância: o repertório de ódios explícitos aos judeus, aos comunistas, aos “traidores da Alemanha”, aos inimigos de Versalhes (p.50-61) encontrou terreno fértil na Baviera e, depois, no resto do país.
- b) Hitler foi, a seu modo, mais revolucionário do que reacionário.
Depois de discorrer sobre os problemas da definição do que é ser revolucionário e/ou reacionário, Lukacs afirma algo que apenas alguns inimigos contemporâneos a Hitler (como Winston Churchill) intuíram: Hitler era perigoso por ser revolucionário, e não por ser reacionário. Muitas das idéias de Hitler eram modernas. Em que pese seus métodos, sob sua liderança, a Alemanha transformou-se numa potência econômica e tecnológica mais respeitável do que era antes da Primeira Guerra Mundial, com auto-estima e prosperidade recuperadas (p.78). E dentre os ingredientes da modemidade de Hitler, estava sua habilidade para conquistar tanto as classes conservadoras quanto as massas em um mesmo discurso de transformação e mudança. Nas palavras de Lukacs,
o que isso significa para o passado recente o historiador pode -e tem o dever –de reconhecer: que Hitler foi um novo tipo de revolucionário, um revolucionário populista em uma era democrática, não obstante os elementos mais antigos das instituições e da sociedade alemã ainda existentes em sua época, muitas das quais ele sabia usar para seus próprios fins (p.88).
- c) Ele era mais nacionalista que racista.
Embora a questão racial fosse fundamental para toda sua ideologia, sua racionalidade política buscava, quando lhe convinha, apoio em japoneses, chineses, árabes, croatas, romenos, etc, desde que isso significasse auxflio no combate aos inimigos dos “arianos” (p.94). Além disso, a despeito de não se encontrar claramente uma definição diferencial de Hitler se a “Raça Ariana”ou a “Nação Alemã” é que iria governar seu mundo, existem indícios suficientes de que seu pensamento e ação elegiam a Nação Alemã, concebida sob prisma mais cultural que biológico. A Nação seria a realização histórico-cultural do Volk (Povo), liderada não por um Estado tradicional de funcionários públicos, mas por um Volkgenossenstaat, um “Estado de camaradagem do Povo”. Assim, segundo Lukacs, diferenças entre arianos e negros, amarelos, etc não chamavam tanto a atenção de Hitler quanto àquela que dizia respeito à “luta dentro da raça branca, entre arianos e judeus”. Os judeus seriam sua obsessão, por viverem entre os “legítimos membros da nação alemã”. E nesse ponto, seu ódio obsessivo aos que considerava “inimigos da nação” era insuperável (p.98).
- d) De certa maneira, Hitler foi um estadista e estrategista competente
Assim como o êxito do líder alemão deveu-se, em grande parte, à sua subestimação pelos seus inimigos e aliados de ocasião, muitos historiadores desprezam-no a priori como estadista e estrategista. Lukacs, no capítulo mais longo do livro, recoloca em discussão o problema. Para ele, Hitler demonstrou, principalmente no período que antecedeu a guerra, atitudes de estadista que eram esperadas de líderes de potências européias daquele tempo. Embora condenáveis moralmente, sua política possuia uma celia racionalidade na adequação dos meios (muitas vezes ultrajantes) para os fins que se propunha. Na Alemanha de Hitler, a política interna e externa se apoiavam mutuamente.
Do ponto de vista estratégico, suas decisões, se examinadas friamente, tiveram sucessos retumbantes embora, a longo prazo, terminassem em fracassos flagrorosos. Apesar da oposição de alguns generais do Exército, a prioridade às forças terrestres de rápida mobilidade não apenas garantiu as vitórias iniciais alemãs como contribuiu para drásticas mudanças nas doutrinas de guerra de então. Mesmo aquele que é apontado como como seu maior equ ívoco estratégico -a criação da Segunda Frente, ao invadir a União Soviética -pode ser entendido a partir da suposição de Hitler de que as principais potências capitalistas (Inglaterra e Estados Unidos) hesitariam em combater mortalmente a nação que pudesse subjugar a ameaça bolchevique. Lukacs chama a atenção para documentos que mostram que, até as vésperas do fim, Hitler acreditava que a aliança “improvável” entre o Ocidente capitalista e a potência comunista poderia ser rompida (p.115 e segs.). E conclui com uma ressalva: se por um lado sentiu-se “obrigado a enfatizar que ele [Hitler] possuía talentos políticos e militares”, por outros, esses “coexistiam com obsessões não raro fanáticas”. Além disso, embora Hitler não tenha sido o autor de todas as decisões e ações do Terceiro Reicl1, ele sabia que suas principais diretrizes eram cumpridas fielmente. E por isso é que “ele foi sem dúvida responsável pelas maldades mais brutais cometidas por seus esbirros (p.126)”.
- e) Não há como dissociar Hitler da “Solução Final” dos Judeus.
Embora tenha havido tentativas, como a de David Irving, de eximir Hitler de qualquer responsabilidade de planejar e ordenar a execução em massa dos judeus (afirmando que quem planejara e ordenara tudo foram os auxiliares de Hitler, sem seu conhecimento e autorização), o que a vasta documentação e as interpretações mostram é que ele ordenou -ou pelo menos consentiu com -o extermínio em massa dos judeus, o que ficou conhecido como a “Solução Final”. Se não foi encontrada sua “assinatura” em documentos dessas espécie, isso só prova uma coisa: havia um mínimo de consciência de que o que se estava cometendo era uma atrocidade sem pararelos, e isso obviamente não podia ser documentado, ainda mais na iminência de uma invasão aliada (p.135). O que merece ser ainda melhor pesquisado é o quanto a população germânica realmente sabia sobre os campos de concentração e sobre a “Solução Final” e como quem sabia de algo lidava com isso.
- f) Hitler foi parte da história alemã, e não um “desvio” acidental e indesejável.
Segundo Lukacs, há entre os alemães uma tendência em ver Hitler como um episódio antinatural na história do país. No entanto, o Terceiro Reich representou muito mais uma continuidade do que uma aberração na história alemã. Isso não quer dizer que Hitler e o nazismo seriam inevitáveis. Mas a ascensão de Hitler e as crenças e atitudes do povo alemão da primeira metade do século estavam intimamente interligadas:
o nacionalismo e a unidade nacional alemã constituíram também forças poderosas durante a I Guerra Mundial. Hábitos nacionais profundamente enraizados de obediência e disciplina persistiram e culminaram na /I Guerra Mundial. A estrutura psíquica (e social) dos sucessos do povo alemão na /I Guera Mundial, porém, mudou, e isto foi tanto condição quanto resultado da ação de Hitler. Sem Hitler, os alemães não poderiam ter conseguido o que conseguiram, e Hitler tampouco poderia ter realizado oque realizou sem opovo alemão –ou mais exatamente, sem a aceitação esmagadora de sua pessoa pela maioria (p. 142).
É preciso separar o movimento historiográfico de “reabilitação” de Hitler e dos alemães sob o Terceiro Reich das tentativas conhecidas como “revisionistas”. Esses últimos sequer podem ser considerados como dignos de figurar no debate historiográfico, pois além da pobreza e má fé documental de seus escritos, são sectários escrevendo para um número limitado de leitores, que já estavam convencidos de antemão ou prontos para sê-lo (p.156). De outra natureza são especialistas, alguns com assento nas universidades e institutos de pesquisa e que, inadvertidamente ou não, tentam minimizar os apectos sombrios do Reich e de Hitler, bem como distribuir responsabilidades para outros agentes históricos, como no caso do desencadear da 11 Guerra Mundial, atribuída aos “objetivos bélicos e inflexível má vontade de seus inimigos”. No entanto, Lukacs não aprofunda os porquês de tal posicionamento. Talvez, o que se deve perguntar é como o clima da Guerra Fria e de anti-comunismo contribuiu para justificar e promover aberrações interpretativas como essas…
Trata-se, portanto, de um balanço histórico e historiográfico de grande importáncia, para todos aqueles que se interessam por conhecer melhor Hitler e o nazismo, bem como o debate historiográfico a respeito. É uma obra admirável, de estilo agradável e que aprofunda pontos bastante polêmicos de nossa história mais recente. Para não ficar apenas nos elogios, acredito que pelo menos dois problemas devem ser comentados, embora não comprometam a grandeza do conjunto.
Um deles é seu sistemático desprezo às abordagens marxistas sobre seu tema. Embora tenha alguma razão ao apontar a pouca variação dos argumentos marxistas, ele não desenvolve nehuma discussão aprofundada sobre quais seriam os equívocos dessa corrente, preferindo refugiar-se no chavão de que o marxismo padece de determinismo econômico, como se não existissem abordagens bem distantes desses lugarescomuns.
O outro problema é que, depois de passar o livro todo chamando a atenção para a necessidade de abordagens sem demonizações de qualquer espécie, discorre ao final sobre as “características malignas espirituais” de Hitler, e propõe “a necessidade de uma interpretação cristã de Adolf Hitler (p. 180 e
- 240, n. 49 e segs.)”. Particularmente, prefiro sua proposta inicial, de que por mais que provoque nossa indignação moral, é preciso compreendê-lo historicamente, e não como o Anticristo ou a emanação do Mal em seu estado mais absoluto.
Mostrar a crueldade, a monstruosidade e tudo o que é mais abjeto, obscuro e inumano no nazismo é imprescindível, mas nunca será o suficiente. Por mais de 50 anos partilhamos a condenação moral do que acreditamos ser a origem da maior tragédia do século. No entanto, seu espectro resiste, se fortalece e se diversifica (como os grupos neonazis, skinheads, nacionalistas de extrema-direita e os defensores de “limpezas étnicas”, por exemplo), num mundo sem utopias libertadoras e regido pelo pensamento único do mercado. Até agora nos satisfizemos em condenar o nazismo. O desafio, para o presente e o futuro, é compreendê-lo. Mais do que um avanço historiográfico, é um ato de militância pela dignidade da política. E este livro proporciona considerável contribuição para isso.
Francisco César Alves Ferraz – Professor-Assistente do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina-PR.
[IF]
Pontos e bordados: escritos de história e política | José Murilo de Carvalho
Em animada polêmica que movimentou o meio acadêmico em 1997, o historiador Boris Fausto admirava-se de que sua colega, Maria Sylvia de Carvalho Franco, autora do (arrisquemo-nos, vá lá) clássico Homens livres na sociedade escravocrata, tenha se aborrecido tanto com a inclusão de seu livro entre aqueles que Fausto achava merecerem ser chamados, justamente, de clássicos. Espantado com a reação da colega, Fausto escreveu: “Se perguntarmos a vinte especialistas na área de ciências humanas o que é um clássico, estou seguro de que a resposta será mais ou menos a seguinte: um livro muito relevante, marco de referência obrigatória para os trabalhos subseqüentes e que já realizou um percurso no tempo maior ou menor, conforme o caso, permitindo que a condição de clássico se afirmasse.” E acrescentava alguns exemplos de livros clássicos: Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Jr., Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre. A lista encerrava-se com a dupla A construção da ordem e Teatro de sombras, de José Murilo de Carvalho.
Os que acompanham a trajetória de José Murilo de Carvalho já conhecem a maior parte dos artigos que estão reunidos em Pontos e bordados. Muito justamente, boa parte deles pode fazer companhia aos dois livros citados por Boris Fausto: são obras de leitura e referência obrigatória nos temas de que tratam. Leia Mais
Colônia e nativismo: a história como “biografia da nação” | Rogério Forastiere da Silva
Uma essência nacional que esteja presente qualquer que seja a situação histórica do Brasil, no passado, no presente e no futuro: essa é a base do pensamento nacionalista construído a partir de cima, usuário da história e de seu ensino para fazer-se presente na memória coletiva. Isso fica claro – exemplo banal, mas com o mérito de ser contemporâneo – na propaganda da Rede Globo para as comemorações dos 500 anos do descobrimento, que não são chamadas dessa maneira. Diversamente, o locutor não se cansa de repetir todos os dias: faltam tantos dias para os 500 anos do Brasil. Não do descobrimento ou do que lhe equivalha. Sem outras palavras, a história que aí se ensina pondera que o Brasil é um ente trazido definitivamente à luz por Cabral e que, a partir daí, existe de forma cada vez mais completa e complexa, alcançando-nos no presente.
Esse olhar sobre a história nacional toma o seu objeto central, a nação, como um corpo, como um sujeito no tempo: existe potencialmente no passado como um embrião, nasce com a chegada dos portugueses à costa, emancipa-se com a Independência e alcança a maturidade num passado bem recente. Segundo Forastieri da Silva, a partir de Antonio Gramsci, essa é a perspectiva que lê a história como biografia da nação, como se a mesma fosse uma vontade ou um desígnio homogêneo, e por isso silencia todos os eventos em que essa unidade é posta à prova. Silencia ou integra, modificando o seu sentido e integrando-o a uma marcha em que tudo conduz, inexoravelmente, para o que há hoje. Leia Mais
Los Enigmas de Tarteso – ALVAR; BLÁZQUEZ (PR)
ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J. M. (Eds.). Los Enigmas de Tarteso. Madrid: 303p. Ediciones Cátedra. Historia/Serie Menor. 1993. 303p. Resenha de: VIVANCOS, Alejandro Egea. Panta Rei – Revista de Ciencia Y Didáctica de la Historia, Murcia, n.1, p.108-111, 1995.
Alejandro Egea Vivancos
Acesso somente pelo link original
[IF]
El ”48” Chileno. Igualitarios, reformistas, radicales, masones y bombeiros
Tornando como punto de partida la opinión de Benjamín Vicuña Mackenna respecto a la influencia del 48 europeo en Chile, Cristián Gazmuri desarrolla en su especificidad histórica el grado de esta influencia, Aunque Gazmuri comparte con el historiador decimonónico aquella premisa fundamental, va mucho más allá de este al proporcionar un visión global y coherente del desarrollo político del período, y al hacer uso no sólo de fuentes primarias, sino que también de nuevas técnicas historiográficas. Gazmuri demuestra además la insuficiencia de la historiografía conservadora, que no ha tendido a minimizar el impacto del 48 europeo en círculos nacionales.
La tesis fundamental del libro de Gazmuri es que el 48 chileno introdujo nuevas formas de sociabilidad, sobre todo en el sentido de un énfasis laico, racionalista y modernizante, que tendría poco impacto en el corto plazo, pero uno mayor en el mediano. El impacto inmediato del 48 europeo fue a través de la Sociedad de la Igualdad y su ingerencia en la revolución de 1851. Sin embargo, este impacto no logró alterar de manera fundamental las grandes corrientes políticas y culturales del período, dominadas por el catolicismo conservador, por una parte, y por un liberalismo modemizante en lo económico y educacional, pero conservador en lo social y político, por la otra. Es en el mediano plazo que las nuevas formas de sociabilidad arraigan en el mundo cultural y político chileno. Gazmuri identifica un gran número de actores en los acontecimientos del 51 que tendrán grandes papeles públicos en las décadas siguientes. Son estos actores los que consolidan un estado laico, inspirados en gran medida por las influencias europeas, pero también por sus propias experiencias de juventud. Tanto ellos como una gran cantidad de personalidades menos conocidas expresan las nuevas formas de sociabilidad mediante afiliaciones’a nuevas organizaciones políticas, culturales y filantrópicas. El conocido dicho «radical, bombero y masón» refleja la naturaleza de estas afiliaciones, todas las cuales traen una impronta laica y racionalista, y demuestran una estructuración organizativa moderna (con la excepción parcial de la masonería, que tiene algunas raíces medievales). Gazmuri revela la íntima conexión entre esas afiliaciones, y demuestra empíricamente, en un anexo de 46 páginas, la cantidad de personajes decimonónicos que pertenecen a estas tres categorías simultáneamente. Leia Mais
Anales del Instituto de Chile | Carlos Tuiz-Tagle
Abordar la personalidad de Ricardo Donoso Novoa es, sin duda, una tarea compleja. Polémica y a la vez atrayente por sus ideas, trabajos historiográficos y forma de ser, la figura de Donoso surge con vitalidad propia entre los historiadores chilenos.
Carlos Ruiz-Tagle, escritor, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y Conservador del museo Benjamín Vicuña Mackenna, nos presenta, en un ameno trabajo redactado con el fino sentido del humor que le es característico, la figura del destacado historiador. Se trata de un breve artículo que tiene el mérito de provenir de alguien que lo conoció personalmente y en situaciones ajenas a la rigurosidad del “mundo” intelectual. Leia Mais
Coloso: Una aventura histórica | Floreal Recabarren, A. Antonio Obilinovic e Juan Panadés
Resenhista
Sergio Villalobos R. – Universidad de Chile.
Referências desta Resenha
R., Floreal Recabarren; A., Antonio Obilinovic; PANADÉS, Juan. Coloso: Una aventura histórica. Universidad de Antofagasta, 1983. Resenha de: R., Sergio Villalobos. Cuadernos de Historia. Santiago, n.4, p. 195-198, julio, 1984.
O silêncio dos vencidos – DE DECA (PH)
DE DECCA, Edgar. 1930: O silêncio dos vencidos. São Paulo: Brasiliense, 1981. Resenha de: AUN-KHOURY, Yara. Projeto História, São Paulo, v.2, 1982.
Yara Aun-Khoury
Acesso apenas pelo link original
[IF]




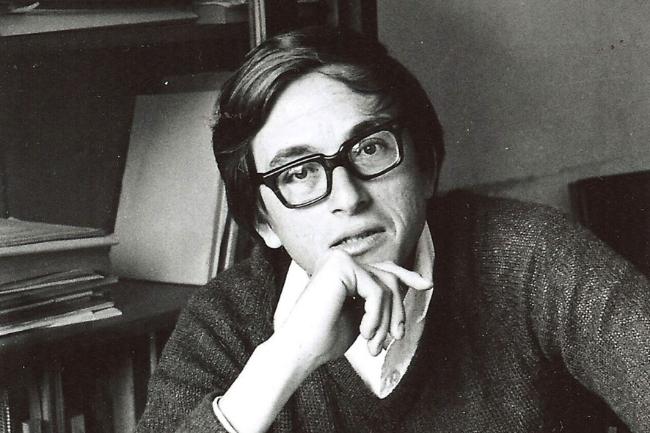




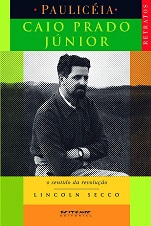 Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
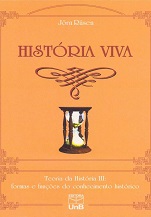 Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.
Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.