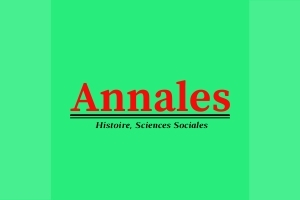Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World | Liaquat Ahamed
Durante a crise asiática, Liaquat Ahamed olhou com apreensão uma capa da revista Time com fotografias de autoridades econômicas com o título “o comitê para salvar o mundo”. Economista formado em Harvard e Cambridge, com longa carreira como banqueiro de investimentos, Ahamed pensou no fracasso dos titulares dos bancos centrais dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha em enfrentar a Grande Depressão da década de 1930. Do desconforto nasceu o excelente livro “Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World”.
As biografias dos quatro protagonistas se entrelaçam com os dilemas de seus países. Montagu Norman, da Grã-Bretanha, era um aristocrata herói da guerra dos bôeres. Émile Moreau, da França, tecnocrata da prestigiosa Inspetoria de Finanças. Benjamin Strong, dos Estados Unidos, executivo de Wall Street que participara da organização tardia do Fed, após a sucessão de crises que afligiu “o primitivo, fragmentado e instável sistema bancário” (p.52) do país. O personagem mais interessante é Hjalmar Schacht, raro exemplo de self-made man da Alemanha imperial. Brilhante, mas de ambição desmedida, que o levou à aliança com os nazistas. O economista John Maynard Keynes foi o contraponto ao quarteto, na qualidade de intelectual em ascensão cujas opiniões críticas desafiavam a ortodoxia com a qual os banqueiros tentaram lidar com a Grande Depressão. Leia Mais
Não violência na educação – MULLER (C)
MULLER, Jean-Marie. Não violência na educação. Trad. de Tônia Van Acker. São Paulo: Pala Athena, 2006. Resenha de: ZANOTTO, Karin. Conjectura, Caxias do Sul, v 14, n. 3, p. 209-215, set/dez, 2009.
Jean-Marie Muller, filósofo francês é pesquisador há mais de trinta anos da teoria da não violência, é autor de 27 livros relacionados ao tema e coloca em prática o que prega. Dentre os quais destacam-se aqueles já traduzidos para o português: Não-violência na educação e O princípio da não-violência: uma trajetória filosófica, ambos editados pela Editora Palas Athena, e Princípios e métodos de intervenção civil pela Editora Piaget. Em 1970, para protestar contra a venda de aviões Mirage ao governo militar brasileiro, fez greve de fome. Participou da ação do Batalhão da Paz, que conseguiu pôr fim aos testes nucleares a céu aberto realizados pela França, em 1972.
Muller é fundador e diretor do Instituto de Pesquisas sobre a Resolução Não-Violenta de Conflitos e participa das reuniões da Defesa Nacional Francesa. A ideia de não violência defendida por Muller não é sinônimo de passividade ou covardia. Na maioria das vezes, há mais coragem na não violência do que na violência. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Rosa Parks, a mulher negra que, no início da década de 50, lançou a resistência dos negros nos EUA, ou seja, os ônibus, na época, tinham lugares reservados para brancos. Certa vez, ela se sentou em um desses lugares e permaneceu sentada, quando um branco pediu que ela se levantasse. Quando o condutor do ônibus pediu o mesmo, ela continuou lá e não se moveu nem quando os policiais chegaram. Permanecer sentada exigia muita resistência, energia e coragem. Para Muller, principalmente por não se dar de forma natural, a construção de uma sociedade não violenta é tarefa difícil.
O livro Não-violência na educação faz parte das iniciativas promovidas para a Década Internacional para uma Cultura de Paz e Não Violência para as Crianças no Mundo (2001-2010) pela Unesco que, originalmente, o publicou. Nele Muller recomenda uma abordagem muito prática de como resolver confrontos violentos nas escolas. Explica que a cultura da violência já está instalada nas sociedades de nosso tempo e é diariamente reforçada por todos os meios de comunicação. Quando uma criança toma o brinquedo de outra, a sociedade vê como perfeitamente natural que a segunda avance e o arranque de volta ou tome outro brinquedo em retaliação ou, ainda, que bata no colega. Contudo, conforme aponta o autor, a contraviolência gera apenas mais violência – a primeira criança vai sentir-se agredida e também ela retribuirá, levando a uma possível escalada de violências que não beneficia nenhum dos participantes e poderá até causar a destruição do brinquedo originalmente disputado. Já a não violência é vista como algo utópico, contrário até à natureza humana agressiva e competitiva. O professor Muller, nesse livro, define violência não como sendo agressividade, esta sim, natural na espécie humana, mas como ameaça à vida ou à integridade do outro. A violência é um desrespeito básico do humano pelo outro, que o torna passível de ser usado ou explorado ou destruído.
No primeiro capítulo, o autor discorre sobre o conflito, explicando que nosso relacionamento com os outros forma nossa personalidade, pois que se existe somente em relação a outros. A existência individual como ser humano tem menos a ver com estar-no-mundo e mais com estar-com-os-outros. No entanto, a experiência de encontro com o outro tende a ser marcada por adversidades e confrontos, surgindo o medo dos outros, pois o aparecimento de um outro ao meu lado pode ser ou não perigoso. O medo pelo outro é duas vezes maior quando não se parece comigo, quando não fala a mesma linguagem, não tem a mesma cor de pele, não acredita no mesmo Deus. Assim, os outros me preocupam, assustam. Segundo o autor, é preciso transformar o conflito, transformar o confronto em um nível de cooperação, para que se chegue à solução de problemas conflitantes, pois a rivalidade entre os humanos somente é superada quando cada um limita seus próprios desejos, quando existe o respeito pelo outro, ou seja, quando busca o grau certo de distância, para que as pessoas possam ver, reconhecer e identificar umas às outras sem fusão nem confusão. Para formar uma comunidade humana, os homens devem manter um relacionamento de duas mãos: baseado na dádiva e na partilha, porque é na bondade que reside a hospitalidade. A violência é uma fraqueza, e a bondade é a força dos fortes.
No segundo capítulo, Muller fala sobre a agressividade, especificando que não é a violência que é natural no ser humano, mas a agressividade, pois o ser humano é instintivo e impulsivo, e a agressividade faz parte do instinto. É uma energia que pode fazer o bem ou pode fazer o mal. É uma força combativa; assim, mostrar agressividade é aceitar o conflito com o outro, sem precisar submeter-se a ele, pois, como o medo está presente em cada indivíduo, ele juntamente com a emoção, dispara o instinto de sobrevivência e mobiliza o ser humano para se proteger. De fato, é necessário que o medo seja domesticado, ou seja, que os sentimentos que ele provoca sejam dominados, a fim de que a agressividade não seja uma violência destrutiva.
No Capítulo 3, o autor discorre sobre a violência, especificando que ela surge de um desejo ilimitado que se confronta com os limites impostos pelos desejos dos outros. Ser violento, conforme Kant, é “usar a outra pessoa simplesmente como meio, ignorando o princípio de que as outras pessoas, como seres racionais, devem sempre ser consideradas também fins”.
Certamente, todos estão de acordo com o autor, posto que a violência é um abuso em si. Com certeza, pois o autor tem razão: toda violência contra o ser humano é uma violação: a violação do seu corpo, da sua identidade, da sua personalidade, da sua humanidade; ela é brutal, ofensiva, destrutiva e cruel; afeta o semblante, deformando-o em virtude do sofrimento infligido; toda violência é desfigurante, é despersonalizante.
E o pior: as pessoas violentadas pela experiência verificam que também são capazes de ser violentas com os outros. Portanto, a violência fere e marca também o semblante do perpetrador. O resultado, conforme Weil, é que a prática da violência petrifica o ser humano, transforma o perpetrador e a vítima em um “coisa”, que os despersonaliza completamente.
No quarto Capítulo, Muller escreve sobre a não violência, esclarecendo que, para Gandhi, a não violência perfeita é a total ausência de animosidade em relação a tudo quanto vive. Em sua forma ativa, a não violência se expressa como cordialidade em relação a tudo que vive.
Assim, o primeiro requisito para a não violência é a negação: é preciso que se deixe de lado toda animosidade em relação ao nosso semelhante.
A animosidade, na visão de Kant, é determinada pelo egoísmo, no sentido de amor exclusivo por si mesmo, sendo que o cuidado de si não deixa lugar algum para o cuidado dos outros. Quando o ser humano age “sempre se defronta com seu querido eu, que nunca deixa de aparecer no final, e o resultado, como se observa cotidianamente, é que, quando dois indivíduos se encontram, cada qual desejando fazer que seus próprios desejos, necessidades e interesses prevaleçam, “segue-se de modo inevitável um confronto, que tende perigosamente à violência, que nada mais é que o choque entre dois egoísmos. Por isso, com certeza, é preciso proibir-se o cometer-se violência contra qualquer pessoa. Cada pessoa deve agir de tal forma que seu comportamento e suas decisões possam ser considerados adequados para todos, ou seja, que possam ser universalizados. E é necessário que aquele que parte para a violência reflita sobre: que parte da sua natureza vai decidir cultivar em si próprio? Nos outros e especialmente nas crianças, a decisão a ser tomada envolve tanto uma escolha filosófica quanto educacional, pois o ser humano que é capaz de ser razoável e/ou violento, tem a liberdade de escolha: diante de uma provocação, ou usar a violência ou usar a razão.
No quinto capítulo, explicando sobre a democracia, o autor coloca que o que dá a cada ser humano o autocontrole e os recursos, para dizer sim ou não à violência, de acordo com sua avaliação pessoal, é a educação.
Esse autocontrole permite participação, e participação significa democracia. Por isso, as crianças, na escola, devem ter espaço para praticar a democracia, devem ser incentivadas para usar esse espaço, que pode ser expandido à medida que os alunos forem crescendo. Aprendizado esse que deve permanecer sob a autoridade de adultos que devem estabelecer limites e, em alguns casos, limites não negociáveis com as crianças.
Entretanto, democracia tem um significado mais essencial: um governo que respeita as liberdades, os direitos humanos. Ela é uma aposta na sabedoria do povo. Sabe-se que a verdadeira democracia não é o governo do povo, mas dos cidadãos, e o ideal democrático implica uma igual distribuição entre os cidadãos, não só de poder, mas de propriedade e conhecimento. O fundamento da política é o diálogo humano e não a violência, pois essa só acontece entre os seres humanos quando o diálogo é interrompido. A cidadania jamais deve basear-se na disciplina cega, mas na responsabilidade e na autonomia pessoal de cada um.
No sexto capítulo, o autor comenta a mediação, que significa um método de regulação não violento de conflitos, ou seja, é a intervenção de um terceiro que se coloca entre os protagonistas de um conflito, entre dois adversários, alguém que se virou contra, que está em oposição e podem ser dois indivíduos, duas comunidades ou duas nações que se enfrentam e se opõem uma à outra. O objetivo da mediação é levar os oponentes a se voltarem um para o outro, a fim de dialogar, entender-se mutuamente e, se possível, encontrar um acordo capaz de abrir caminho para a reconciliação. Contudo, a mediação só pode acontecer se os dois adversários concordarem em se envolver voluntariamente no processo conciliatório. O importante é saber se o papel vital do mediador é facilitar a expressão e incentivar a escuta de ambos os lados, a fim de restabelecer a comunicação, dirimir os mal-entendidos e permitir a compreensão mútua.
No sétimo capítulo, Muller esclarece sobre os maus-tratos, colocando que o mundo da escola encontra-se na intercessão de três espaços: a família, a vida econômica e a vida política. A tarefa assumida pelos educadores – de formar uma criança tendo em vista basear o plano educacional nos princípios da não violência – bate de frente com a realidade, na qual as coisas facilmente se desviam para bem longe desse ideal, pois as crianças vão à escola e levam consigo todos os problemas que encontram: situações de violência dentro da própria família ou na vizinhança, até mesmo dentro dos portões da própria escola. Isso posto, conclui-se que é importante que os professores estabeleçam relações de cooperação com os pais e pessoas com responsabilidade pessoal, porque o abuso ou maus-tratos contra crianças é uma das categorias de violência mais disseminadas na nossa sociedade. Comprovadamente, essa violência causa traumas graves, que deixam marcas duradouras em sua vida afetiva e psicológica.
Também, que as primeiras relações que a criança tem com as pessoas mais próximas e mais queridas contribuem de forma decisiva para a construção de sua identidade. A criança que experimenta a violência, muito provavelmente, se tornará um adulto violento, corre sérios riscos de se tornar incapaz de respeitar os outros e, ainda mais, estudos já comprovaram que as crianças que são respeitadas e amadas pelos mais íntimos durante sua infância ficam predispostas a respeitar e a amar os outros e têm força para resistir ao desprezo, à raiva e à coisificação por parte do outro. Por isso, erradicar a violência contra as crianças é um grande desafio, e é dever dos professores denunciar as violações, as negligências observadas nas crianças que educam.
No oitavo capítulo, o autor discorre sobre a delinquência e explica que a escola faz parte da comunidade onde está inserida. A criança é diretamente afetada pela delinquência com a qual seus alunos estão envolvidos fora dos portões da escola. A violência parece ser o último recurso dos indivíduos privados de toda e qualquer participação na vida da comunidade, e sua violência é uma demonstração de sua existência.
Ela exerce um fascínio para os que se sentem excluídos e, por isso, humilhados. Ela é um pedido de socorro, é a expressão do desejo de comunicar-se. É obrigação da sociedade ouvir esse grito. É preciso entender a violência para também proibi-la. A violência é sinal de que os que se entregaram a ela não foram capazes de encontrar limites, e estão pedindo que lhes sejam agora impostos. As crianças e os adolescentes precisam enfrentar os limites estabelecidos pela autoridade dos adultos, pois esses oferecem a eles a segurança necessária para que consigam estruturar sua personalidade. A ausência de limites fá-los mergulhar em ansiedade, e a ansiedade gera violência. Mas os adultos só conseguirão demarcar os limites novamente se eles mesmos exibirem uma atitude não violenta. É na escola básica que um professor atento, observador, pode detectar aquela criança que está indo diretamente para a delinquência: comportamento antissocial, grosserias, agressão verbal, provocações. Já nos primeiros anos de escola, é preciso frear esse processo com a mediação de especialistas no assunto.
No nono capítulo, o autor ensina que se deve educar a criança em cidadania. Explica que, através da educação, deve-se ter em vista erradicar a violência, e, como as leis justas são o fundamento do Estado Democrático de Direito, na escola, as regras estabelecidas pelo professor devem levar as crianças a aprender a conviver num ambiente de respeito mútuo.
No décimo capítulo, o autor escreve sobre a autoridade, explicando que uma educação não violenta não decreta que os adultos devem deixar de exercer sua autoridade, pois, para que a personalidade da criança se estruture, é preciso que aprenda a obedecer, e o adulto deve exigir obediência. Nesse viés, acredita-se que a autoridade do adulto deve prevalecer sempre, mas sempre através de um processo de comunicação e diálogo que permita à criança sentir que o mundo da escola é seu, que é um lugar onde ela tem o direito de falar, onde seus pontos de vista serão ouvidos e levados em conta, pois é muito fácil uma criança passar dos limites. O essencial é que a educação fomente a autonomia ao invés da submissão; uma mente crítica em vez de obediência passiva; responsabilidade em lugar de disciplina; cooperação em substituição à competição; e solidariedade no lugar de rivalidade. Segundo o entendido, quando há submissão demais, surge um adulto sem caráter. A criança precisa entender que a não violência é lei universal, ou seja, o princípio ético que qualquer ser racional deve observar. A base da vida comunitária não é o amor, mas a justiça e o respeito pelos direitos de todos.
No décimo primeiro capítulo, ao explanar sobre a “solução construtiva de conflitos”, o autor advoga que o relacionamento entre professor e aluno jamais estará livre de conflitos, e é responsabilidade do adulto não suprimir esses conflitos em nome da submissão da criança. O educador deve buscar soluções construtivas para os conflitos que surgem, cedendo espaço para as necessidades e solicitações expressas pela criança.
Isso a ajudará a construir autoconfiança, pois o ambiente da sala de aula se torna insuportável, quando os dois extremos de uma situação levam professores e alunos a um impasse. E ninguém é beneficiado. Fato esse absolutamente visível, pois a construção da autoconfiança não é apenas o fim primeiro da educação, mas também o meio. É importantíssimo que o professor envolva os alunos na busca de soluções, devendo apelar à criatividade dos alunos e ter a ousadia de perguntar a eles que soluções proporiam. O lugar onde a violência surge com muita frequência, comprovadamente, é no pátio da escola. O professor sempre precisa ficar muito atento, pois é importante sempre que haja adultos por perto nesses momentos para garantir o cumprimento das regras no pátio: separar as crianças que brigam, terminar com a violência e descobrir, através do mediador (pai, professor ou até mesmo um aluno preparado), a origem dos conflitos, permitindo que a criança perseguida se sinta protegida, pois o seu papel é restabelecer a comunicação entre as partes em conflito, permitindo que cada um apresente seu ponto de vista. Desse modo, o adulto estará ajudando a criança a solucionar, juntamente com a outra, o desentendimento. Considera-se de suma importância a tese do professor Muller ao colocar que a não violência se apresenta como o único meio para garantir a convivência pacífica e a justiça entre todos os seres humanos. Esse princípio deve, pois, ser ensinado cotidianamente, nas escolas.
Referências
MULLER, Jean-Marie. Não violência na educação. Trad. de Tônia Van Acker. São Paulo: Pala Athena, 2006. 110 p.
Karin Zanotto – Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. E-mail: karinquiro@yahoo.com.br
Auguste Comte. La science, la societé – MARIETTI (RA)
MARIETTI, Angele Kremer (Dir). Auguste Comte. La science, la societé. Paris, França: L’Harmattan, 2009. Resenha de: BENOIT, Lelita Oliveira. Revista Archai, Brasília, n.3, p. 165-166, jul., 2009.
Auguste Comte é ainda – e talvez hoje, mais do que no século XIX – motivo de discussões intensas e polêmicas, como esta que é apresentada no livro que estamos resenhando, ocorrida por ocasião do aniversário de cento e cinqüenta anos da morte do filósofo. Em outubro de 2007, na Salle des Actes, que se situa na Université Paris 4, a célebre Sorbonne, sob a presidência da professora Angèle Kremer Marietti, reuniu-se o Groupe d’Études et des Recherches Épistémologiques para refletir e analisar asp ectos essenciais da obra de Auguste Comte. Lembremos que este colóquio foi promovido pela Association Internationale “La Maison d’Auguste Comte”, cuja sede se encontra em Par is. Sintetizando o conteúdo deste encontro, o livro em questão apresenta artigos de diversos pesquisadores ali presentes.
Comecemos por aquela temática que, de certo modo, parece nortear a coletânea. Angèle Kremer Marietti (Université de d”Amiens, França), em seu “La lecture des textes de Comte soumise aux méthodes du télescope et du kaléidoscope”, relê Comte a partir do próprio Comte, ou mais exatamente, da perspectiva de certas “Lições”do Curso de Filosofia Positiva e do Sistema de Política Positiva. A filósofa resgata significados sedimentares, enraizados nos textos comteanos, de conceitos que constroem relações entre Ordem e Progresso, aprofundando-os. Este seria, se assim podemos dizer, o significado dessas investigações voltadas para o estudo daquele s que o próprio Comte chamou de método do telescópio (télescope) e do calidoscópio (kaléidoscope). Colocando-se nessas perspectivas, aparentemente enigmáticas, a autora mostra que a metáfora do telescópio “é perfeitamente adequada para explicitar a classificação das ciências”(p. 18), sobretudo no Curso de Filosofia Positiva. Quanto à perspectiva do calidoscópio, seria, segundo a autora, “um modelo de pensamento utilizado para descrever como múltiplos elementos, em um finito compreendido em uma tópica finita, podem se combinar em um número indefinido de vezes, seguindo um simples re-agencemento do dado”(p. 20). A autora analisa elementos do calidoscópio comteano, elementos estes que coincidem com os conceitos da estática comteana (entre estes últimos: a biologia, a ciência do homem, o meio interior, dependência e variação, vida e organização, sociocracia). O ineditismo desta análise reabre discussões essenciais sobre alguns dos desgastados e incompreendidos temas comteanos, que envolvem Ordem e Progresso.
Outro ensaio de igual interesse por seu conteúdo inovador é o de autoria da filósofa Grange (Université de Nancy, França), intitulado “Le rôle social des sciences: l’astronomie”. Também aqui estamos em presença de uma análise que, paradoxalmen te, restitui os significados esquecidos da astronomia comteana quando esta se inscreve na hierarquia das ciências. Articulam-se, neste ensaio, teses provindas da leitura comteana do idealismo do século XIX e do empirismo clássico, para prover de significa do a astronomia, que nem seria ciência positiva pura, nem idealidade desprovida de base empírica. Sobretudo, na “astronomia moderna”– parece nos dizer a autora – revela-se uma vocação maior, a de, coletivamente e definitivamente, ultrapassar “atitudes mentais herdadas das religiões”(p. 88). Duas vertentes aí se entrecruzam: esta de romper com a base teológica do passado e outra, de mostrar que existe um “determinismo exterior”para a existência da astronomia. Ciência empírica e saber filosófico, a astronomia está neste limite que sinaliza a passagem para a “modernidade positivista”, leitura esta, lembremos, de rara profundidade para os estudos contemporâneos do positivismo comteano.
O espaço parece pequeno para listar o conteúdo de outros ensaios, igual mente importantes (como os de Saïde Chebili, Cláudio de Boni, Gilles Charest, entre outros), que compõe esse livro, como já dissemos, de significativa contribuição para os estudos do positivismo comteano, na França, no Brasil e em toda parte.
Lelita Oliveira Benoit.
A profissionalização dos formadores de professores – ALTET; PERRENOUD (EPEC)
ALTET, Marguerite; PERRENOUD, Phillipe; PAQUAY, Léopold e colaboradores. A profissionalização dos formadores de professores. São Paulo: Artmed Editora S.A, 2003. (Tradução do original francês “Formateurs d’enseignants: quelle professionnalisation? Copyrigth by: De Boeck & Larcier S. A., 2002, por Fátima Murad). Resenha de: VILLANI, Carlos Eduardo Porto. A profissionalização dos formadores de professores. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.11, n.01, p.192-196, jan./ jun. 2009. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (EPEC)
Nesse texto, apresenta-se uma resenha crítica do livro “A profissionalização dos formadores de professores” de autoria de Marguerite Altet, Philippe Perrenoud, Léopold Paquay e colaboradores. No livro estão reunidos onze trabalhos de importantes especialistas originários de três países francófonos: Bélgica, França e Suíça. Os trabalhos surgiram como resultado da articulação das pesquisas empíricas e reflexões teóricas produzidas pelos autores, sobre as questões que envolvem a profissionalização, a identidade e o papel dos sujeitos responsáveis pela formação dos professores: os formadores de professores. Muitas dessas questões guardam similaridades com a situação dos formadores de professores de outros países, o que torna esta obra uma referência internacional para a área de educação.
No livro, os trabalhos estão organizados em três partes. Na primeira, “a formação contínua” (mais conhecida no Brasil como formação continuada), estão reunidos três trabalhos que investigam a profissionalização dos formadores de professores que atuam junto a professores já habilitados que lecionam no ensino fundamental e médio em diversos níveis de escolaridade.
O primeiro trabalho da primeira parte do livro, “Formadores de professores uma identidade balbuciante” de autoria da suíça Mireille Snoeckx, aborda as questões da constituição da identidade dos formadores de professores a partir da reconstrução da história de vida desses sujeitos. Snoeckx procurou evidenciar as diferentes manifestações que o processo de profissionalização desses sujeitos assumiu no decorrer dos últimos vinte anos em Genebra, para compreender melhor a identidade do formador de professores de hoje. Seu trabalho nos permite fazer uma série de analogias com a realidade dos formadores de professores brasileiros e é um convite instigante para professores e pesquisadores realizarem investigações com abordagens históricas e estudos comparativos entre o contexto da profissionalização dos formadores de professores dos países francófonos e do Brasil.
Em “Dispositivos de formação de formadores de professores: para qual profissionalização?”, o Francês Maurice Lamy apresenta uma reflexão teórica do pronto de vista de um especialista não-universitário sobre a constituição de um dispositivo de “formação de formadores de professores”. O dispositivo é cuidadosamente analisado levando-se em consideração suas referências cronológicas, seus princípios de base e seus referenciais conceituais e metodológicos. Em suas conclusões, Lamy questiona a eficácia
do dispositivo analisado e de outros dispositivos de formação. O autor nos alerta que, embora seja indispensável haver uma mediação para a formação dos formadores de professores, sua profissionalização é mais uma questão de postura e de atitude do que matéria de dispositivos e de ferramentas de formação. Nesse sentido, o texto sugere implicitamente a necessidade de estudos que investiguem a dimensão moral presente nos processos de formação de professores, assim como sua inclusão nos cursos de formação continuada.
Finalmente, o terceiro e último texto da primeira parte do livro, “Qual (quais) profissionalidade (s) dos formadores em formação contínua? Por um perfil poliidentitário” é de autoria de Marguerite Altet, uma pesquisadora francesa professora de ciências da educação da Universidade de Nantes. Nesse texto, Altet apoiou-se em uma pesquisa realizada por questionário a 117 formadores da MAFPEN1 em 1997. A maior parte dos formadores da MAFPEN são professores experientes que dedicam um terço ou meio período de seu serviço às atividades de formação. As questões suscitadas, na situação investigada sobre a profissionalidade dos formadores de professores, justificam a escolha deste texto para o fechamento desta primeira parte do livro. A natureza do instrumento utilizado para a obtenção dos dados permitiu a Altet uma análise na qual ela mesclou os resultados quantitativos advindos dos questionários com a constituição da profissionalidade específica do formador de professor a partir do seu próprio discurso. A autora buscou identificar o tipo de formação seguida pelo professor que se tornou formador de professores para compreender o modo como se constitui sua profissionalização. Em suas conclusões, a autora delineia um quadro mais otimista quanto a uma possível constituição da profissionalização dos formadores de professores que, segundo ela, já se encontra no nível de um principio de profissionalização de formadores de professores, no sentido da evolução da profissionalidade, como testemunha o perfil poliidentitário circunscrito na pesquisa.
Na segunda parte do livro, “a formação inicial”, estão reunidos seis trabalhos que abordam as questões associadas à profissionalização dos formadores que atuam nos cursos de formação inicial de professores nos institutos universitários.
O primeiro trabalho desta segunda parte “Formadores no IUFM: um mundo heterogêneo” apóia-se na idéia de que a profissionalização dos formadores de professores deve ser vista como uma dinâmica em curso, cujo resultado é sempre incerto. Vincent Lang, um professor conferencista na Universidade de Nantes, na França, é quem assina este interessante trabalho que apresenta a evolução das profissionalidades dos formadores de professores dos Institutos Universitários de Formação Inicial (IUFM). Lang investigou a dinâmica de profissionalização dos formadores a partir do olhar que os formadores lançam sobre si mesmos, sobre seu ofício e sobre suas evoluções. Em suas conclusões, o autor agrupa seus resultados em três séries de observações que, segundo ele, servem de “conclusões provisórias”: 1 – Embora, à primeira vista, os formadores do IUFM possam parecer constituir um mundo relativamente homogêneo, este mundo é na verdade bastante heterogêneo. 2 – O grupo de formadores investigados: a) insere-se em uma dinâmica de profissionalização dos ofícios de ensino b) reivindica uma imagem de professores especialistas c) tenta profissionalizar a formação em seu conteúdo. 3 – A evolução das
profissionalidades e das identidades dos formadores provém essencialmente de políticas de formação de professores.
O segundo e o terceiro trabalhos procuram evidenciar as especificidades da formação inicial de professores na Bélgica. No trabalho intitulado “A profissionalidade dos formadores de professores na Bélgica: um contexto, um dispositivo” Jacqueline Beckers, professora da universidade de Liège, expõe o contexto de formação no qual se inserem estes dois trabalhos, em um quadro-resumo sintético que facilita seu entendimento por leitores não-belgas. O quadro evidencia a persistência de um duplo sistema de formação de professores caracterizado por duas categorias de formadores: os especialistas-matéria também conhecidos como “didatas” e os psicopedagogos. O trabalho de Beckers está dividido em duas partes. Na primeira ela procura situar o contexto belga propriamente dito. Na segunda, a autora analisa e estabelece um olhar reflexivo sobre um dispositivo de profissionalização destinado aos psicopedagogos. O dispositivo constitui um módulo de formação obrigatória de 60 horas, inserido na licenciatura em ciências da educação da Universidade de Liège, articulado com base em um período de estágio de futuros professores do “ensino secundário inferior no segundo ano de formação”. As conclusões de Beckers incidem diretamente sobre recomendações para se melhorar a compreensão e o êxito do dispositivo analisado.
Já o trabalho de Léopold Paquay “Abordagem da construção da profissionalidade dos psicopedagogos formadores de futuros professores” investiga empiricamente um importante conjunto de questões associadas à profissionalização dos psicopedagogos. Segundo Paquay a formação inicial dos psicopedagogos (a licenciatura em psicopedagogia ou a licenciatura em ciências da educação) não os preparou necessariamente para todas as tarefas requeridas. Dessa forma, o conjunto de questionamentos levantados nesta pesquisa focaliza o desenvolvimento da capacidade desses sujeitos em fazer face às exigências profissionais reais em situação, ou seja, o desenvolvimento de sua profissionalidade. Em suas conclusões o autor destaca a corroboração de resultados de pesquisas anteriores sobre o desenvolvimento profissional que ocorre ao longo da carreira: os práticos desenvolvem suas competências pela experiência e pela reflexão sobre a experiência. A organização do artigo, a metodologia de investigação, e a forma de exposição dos resultados são muito interessantes, o que torna a leitura do artigo uma importante referência sobre como desenvolver uma pesquisa e produzir um relato consistente desta pesquisa.
No quarto trabalho, “Os formadores como vetor essencial na reforma dos sistemas de formação. Perfis de atores e vias de uma formação profissionalizante” Olivier Maradan, então diretor de projeto para a Escola de Altos Estudos Pedagógicos de Friburgo, apresenta um relato sobre um projeto de constituição de um dispositivo de formação de formadores de professores. Nesse trabalho o autor se abstém de analisar o dispositivo enquanto pesquisador, mas assume seu lugar como idealizador e militante de um projeto de “reforma da profissionalização dos formadores de professores” na Suíça nos proporcionando uma visão ampla do referido processo.
O quinto trabalho apóia-se em 15 anos de pesquisa sobre a identidade e o trabalho dos formadores de professores da França. Patrice Pelpel, um professor conferencista no IUFM de Créteil, analisa alguns elementos da identidade dos formadores de campo (os conselheiros pedagógicos) e os fatores que se interpuseram como obstáculo ao seu processo de profissionalização em “Qual profissionalização para os formadores de campo?”. Em suas conclusões Palpel constata que a formação de professores desenvolve-se de uma maneira relativamente incoerente em relação às mudanças associadas à profissionalização
dos formadores observadas na França, e apresenta três fortes questionamentos que provavelmente aparecerão em futuras investigações sobre este tema que são: 1- Como formar professores profissionais com formadores amadores? 2- Como recusar o empirismo em matéria de formação e convocar os práticos em função de sua experiência? E, finalmente 3 – Como se pode anunciar episodicamente o interesse pela formação de professores sem se preocupar com as condições que a tornariam possível?
O último trabalho desta parte é de autoria de Nadine Faingold, uma professora conferencista no IUFM de Versailles. Em seu trabalho “professores-tutores: quais práticas qual identidade profissional?” a autora investiga os processos a serem privilegiados no âmbito de uma formação de formadores de professores. Os professores-tutores são todos os sujeitos que se enquadram no conjunto dos profissionais encarregados do acompanhamento individualizado da formação prática dos professores. Os papéis de tais profissionais podem ser comparados aos dos professores que, no Brasil, recebem os alunos de graduação, de licenciatura ou pedagogia, em suas classes e que são encarregados de acompanhá-los nos seus respectivos estágios. Uma diferença marcante destes formadores com relação ao contexto brasileiro é que alguns deles recebem um certificado de aptidão para a função de professores formadores, o que lhes permite manter uma prática de classe exercendo suas novas funções de formador durante um terço de seu tempo de serviço. Essa especificidade é investigada no trabalho de Faingold que identifica as dificuldades encontradas por esses professores-tutores (inexperientes) no momento de sua passagem a essa nova identidade profissional de formador de adultos, e a compara com um estudo sobre o modo de intervenção por um conselheiro pedagógico experiente. A metodologia utilizada para construir suas conclusões sobre as práticas e as identidades desses profissionais foi a da “entrevista de explicitação” que permite acessar as dimensões da vivência e da ação que não estão imediatamente presentes na consciência da pessoa.
Finalmente, a terceira e última parte do livro reúne os trabalhos de dois pesquisadores suíços que envolvem temas que são comuns às questões discutidas sobre a profissionalização dos formadores que atuam tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores. A terceira parte é denominada de “questões transversais” e é composta pelos trabalhos intitulados “A divisão do trabalho entre formadores de professores: desafios emergentes” do sociólogo Philippe Perrenoud e “A profissionalização: entre competência e reconhecimento social” de Guy Jobert.
Perrenoud reflete sobre os papeis que os formadores desempenham analisando a divisão do trabalho entre eles e os desafios emergentes que podem constituir um sinal de profissionalização dos formadores de professores. Em suas conclusões, o autor apresenta um paradoxo: Se por um lado os formadores se recusam a reconhecer sua identidade enquanto formadores de professores, por outro lado, atualmente, é inegável o reconhecimento da existência da sua função de formador de professores. Diante da problemática da profissionalização dos formadores de professores, o autor sugere que uma possível (e talvez única) saída fosse a aproximação do ensino e da formação. Para Perrenoud “A evolução da didática como organização de situações de aprendizagem vai nesse sentido, assim como todos os trabalhos de orientação construtivistas. Um dia talvez os professores orgulhem-se de ser antes de tudo formadores, especialistas em processos de transformação de um aprendiz. Mas hoje ainda há uma distância enorme entre essa perspectiva e a identidade predominante de professores do ensino médio e do ensino superior”.
Jobert discute os significados atribuídos ao termo profissionalização concentrando-se particularmente na sua associação como desenvolvimento da competência e como luta social. Ele utiliza as considerações realizadas para examinar três questões práticas: a) Os formadores de professores são atores importantes da profissionalização dos professores? b) Como os formadores de professores podem contribuir para o desenvolvimento das competências dos professores? c) Os formadores de professores podem esperar um avanço de seu reconhecimento profissional? Como resposta a estas questões, o autor destaca que a profissionalização dos formadores de professores depende da emergência de um grupo social, profissional de formadores, fato este que ainda se encontra distante da realidade exposta nos contextos investigados.
Além dos trabalhos agrupados nas três partes detalhadas acima, Altet, Paquay e Perrenoud apresentam um capítulo de introdução, onde são colocadas as questões centrais abordadas (1 – Existe uma profissionalidade específica dos formadores de professores? Qual é? Como é construída? e 2 – Observa-se um processo de profissionalização da função e até mesmo do ofício dos formadores dos professores? Quais são os indicadores disso?) e outro de conclusão, onde estas questões são sintetizadas em termos das idéias expostas nos 11 trabalhos do livro. Nesse capítulo de conclusão fica evidenciado a existência de uma profissionalidade dinâmica caracterizada por uma grande diversidade de tarefas e pela existência de perfis variados e heterogêneos de representações de identidade dos formadores de professores. Além disso, as competências em construção, específicas aos formadores de professores identificadas em vários artigos, e as descrições, por meio de quais procedimentos elas se constroem, são indicadores consistentes da profissionalização da função de formador de professor. Entretanto, os autores deixam claro que ainda resta um longo caminho a percorrer até a constituição de uma futura profissão de “formador de professor”.
Nota
1 Mission Académique de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale, criada em 1982 por Alain Savary e encarregada da formação contínua de todos os professores de cada academia; vinculada em 1982 a cada IUFM – Institut Universitaire de Formation des Maîtres.
Carlos Eduardo Porto Villani – E-mail: carlosvillani@yahoo.com.br
[MLPDB]Imagens de escravidão e mestiçagem / Varia História / 2009
Uma imagem diz mil coisas ?? e apaga outras mil ??! É uma constatação, que deve ser estendida, também, ao observador da imagem, que seleciona e atribui significados a ela, que a (re) constrói relacionando-a uma miríade de elementos, fatores, condicionantes e operações cognitivas nem sempre claras para ele próprio. Assim procedendo, ele recorta e remodela historicidades e temporalidades das imagens observadas e por meio delas. Ora, esse movimento sem fim (pois é passível de ser reiniciado a qualquer momento no futuro) entre criado, criador e observador é, aqui, nosso eixo mestre, nosso norteador de miradas do presente sobre imagens produzidas no passado.
Se, no geral, as imagens suscitam desconfiança quando examinadas pelo historiador (como deve ocorrer com qualquer outro testemunho examinado), em particular, a iconografia sobre a escravidão e sobre as mestiçagens provocam ainda mais recebio. Como se tratam de temáticas envoltas em muitas polêmicas produzidas ao longo do tempo (algumas ainda bem vivas), com condenações e com defesas de matizes os mais distintos, essas fontes são capazes de não apenas informarem sobre realidades passadas, mesmo que através de silêncios, mas, também, de explicitarem (talvez, melhor fosse dizer escancararem …) percepções típicas de certas épocas e próprios de certos grupos. Neste caso, obviamente, inclua-se historiadores latu sensu, cronistas, intelectuais, políticos, cientistas, religiosos e, também, escravos, libertos e mestiços.
Neste Dossiê , aquela desconfiança suscitada entre os experts tornou-se o eixo de reflexão e sua motivação. A imagem foi transformada em fonte central de nosso interesse. Elas aqui são fontes, mais que belas ilustrações, ainda que os autores não atribuídos a elas o mesmo grau importância. Não obstante o trato despendido, fica claro nos textos o quanto a iconografia é importante para a renovação dos estudos históricos atuais, explicitando-se sua potencialidade especial para que a renovação da historiografia sobre escravidão e sobre as mestiçagens.
Já na capa do número da Varia Historia , a imagem inédita impacta, instiga e, creio, provoca as primeiras reflexões. Pelo menos, foi o que senti quando ao visitar despretensiosamente a exposição El sueño de um império; la colección mexicana del duque de Montpensier , no Archivo General de Indias, em Sevilla, em 2007. Não podia me conter de curiosidade e de estupefação ao ver os objetos expostos dentro de uma redoma de vidro e, principalmente, ao ler como informações contidas no pequeno cartão de identificação colocado ao lado deles: Pareja de estribos do tipo llamado ‘de cajón’ con forma de cabeza de negro. [Brasil. Siglo XVIII]. Madera. 17 x 12 cm. Archivo General de Indias. Colección duque de Montpensier. Nunca tinha visto algo parecido no Brasil ou em qualquer outra parte. Nem poderia sonhar que no meio de uma coleção um tanto misturada de objetos relacionados à arte de adestramento e à cavalaria poderia encontrar algo tão especial para meus temas de trabalho e predileção. Ledo engano! Tanto é possível encontrar essas surpresas em lugares insuspeitos, quanto esses ocorridos devem ser tomados como exemplos para pensarmos sobre a importância de transitarmos por e entre acervos aparentemente distanciados de nossos interesses mais imediatos. Sobretudo em relação às imagens, é muito importante se considerar essa última advertência.
Procurei saber, imediatamente, quem era o duque de Montpensier, como formou sua coleção, como ela veio pertencer ao Arquivo das Índias e, principalmente, como os estribos “brasileiros” foram incorporados a ela. Sobre as três primeiros indagações, pude saber mais detalhes além das informações que constavam no pequeno folheto distribuído aos visitantes. Com relação à última, infelizmente, nada consegui. Ninguém no Archivo de Indiasconhecia algo sobre a história da circulação de objetos tão específicos, nem sabia informar sequer sobre a existência ou não de documentação relativa à formação da coleção do duque. O que se sabe é que o acervo foi reunido a partir de 1854, por Antonio de Orleáns, o duque de Montpensier, em seu palácio de Castilleja de la Cuesta, Sevilla (no qual falecera Hernan Cortés, em 1547). Esse Orléans (talvez, por aí se possa explicar a presença dos objetos brasileiros, dado o parentesco com a família real brasileira, que, aliás, se estende até hoje), inclusive, aspirou ser o imperador do México, a partir da idéia de Napoleão Bonaparte de estabelecer nesse país um império francês. Assim, a coleção se formou sob a áurea imperial bonapartista, o que ajuda a explicar a paixão do duque pela equitação e pelos objetos relativos a esse universo. A coleção foi doado aoArchivo de Indias em 1933, mas, por falta de espaço adequado, foi transferido para o Museo de América, em Madrid, onde permaneceram até 2006, quando voltaram ao Archivo.
As duas cabeças de negros são, realmente, impressionantes e são, também, muito diferentes da maioria dos estribos usados naquele tempo. Vale lembrar que estribos são objetos utilizados para os cavaleiros, montados em seus cavalos, enfiarem os pés, alcançando estabilidade sobre o animal, passando a controlá-lo, também, a partir daí. Estribos de prata e, até de ouro, eram comuns. Estribos abertos e fechados, como os que aqui se apresentam, eram feitos em metal, couro e madeira. Certamente, os cavaleiros os utilizam como forma de distinção, o que explica uma variedade enorme de modelos e de materiais usados para produziri-los. Havia estribos de uso cotidiano e específicos de algumas ocupações e ofícios, como militares, tropeiros e negociantes, transportadores, arrieiros e vigias. Existiam estribos especiais para mulheres e, também, para serem ostentados em eventos festivos, comemorações, bodas e em cortejos fúnebres. Mas, definitivamente, o par deles, sob forma de cabeça de negro, é de difícil classificação. Quem os teria mandado fazer? Em quais momentos foram usados? Diante de quem? Teriam sido pensados, confeccionados e usados como símbolos de poder de algum proprietário de escravos, demonstrando seu domínio absoluto sobre seus cativos? Que tipo de impacto o uso dos estribos pode ter geração entre escravos e negros libertos? Todas são perguntas a serem respondidas. E para começar a responder-las, creio ser importante frisar que em documentos muito propícios ao registro desse tipo de objeto, tais como testamentos e inventários definitivamente, o par deles, sob forma de cabeça de negro, é de difícil classificação. Quem os teria mandado fazer? Em quais momentos foram usados? Diante de quem? Teriam sido pensados, confeccionados e usados como símbolos de poder de algum proprietário de escravos, demonstrando seu domínio absoluto sobre seus cativos? Que tipo de impacto o uso dos estribos pode ter geração entre escravos e negros libertos? Todas são perguntas a serem respondidas. E para começar a responder-las, creio ser importante frisar que em documentos muito propícios ao registro desse tipo de objeto, tais como testamentos e inventários definitivamente, o par deles, sob forma de cabeça de negro, é de difícil classificação. Quem os teria mandado fazer? Em quais momentos foram usados? Diante de quem? Teriam sido pensados, confeccionados e usados como símbolos de poder de algum proprietário de escravos, demonstrando seu domínio absoluto sobre seus cativos? Que tipo de impacto o uso dos estribos pode ter geração entre escravos e negros libertos? Todas são perguntas a serem respondidas. E para começar a responder-las, creio ser importante frisar que em documentos muito propícios ao registro desse tipo de objeto, tais como testamentos e inventários confeccionados e usados como símbolos de poder de algum proprietário de escravos, demonstrando seu domínio absoluto sobre seus cativos? Que tipo de impacto o uso dos estribos pode ter geração entre escravos e negros libertos? Todas são perguntas a serem respondidas. E para começar a responder-las, creio ser importante frisar que em documentos muito propícios ao registro desse tipo de objeto, tais como testamentos e inventários confeccionados e usados como símbolos de poder de algum proprietário de escravos, demonstrando seu domínio absoluto sobre seus cativos? Que tipo de impacto o uso dos estribos pode ter geração entre escravos e negros libertos? Todas são perguntas a serem respondidas. E para começar a responder-las, creio ser importante frisar que em documentos muito propícios ao registro desse tipo de objeto, tais como testamentos e inventários post-mortem, eles não aparecem associados. Depois de ler muitos documentos, durante anos de investigação nos arquivos mineiros, nunca identifiquei nada que possa se parecer com os aqui encontrados. Bom, pelo menos para as Minas Gerais Setecentistas posso dizer isso, embora, novas leituras, já com essa indagação particular, impedindo outras realidades. Embora suspeite fortemente que esses estribos podem ter sido obtidos nas Minas, dadas a quantidade enorme de escravos aí existente, a grande quantidade de artesãos que podem tê-los idealizado e a existência de peças esculpidas em madeira com feições semelhantes (ver, por exemplo, o rei mago negro – Baltazar – atribuído ao Aleijadinho, que integra o acervo do Museu da Inconfidência, Ouro Preto, e porta de oratório “afro-brasileiro”
Na verdade, uma forma de representação de negros adotada pelo (s) escultor (es) dos estribos era já muito antiga e largamente copiada na Europa e no Novo Mundo. Não era o único padrão existente, mas um sem número de imagens esculpidas, talhadas, pintadas, desenhadas e gravadas apresentavam-nos em cor preta muito forte, com olhos muito brancos, de contornos, às vezes, avermelhado, para criar contraste, e com lábios grossos, em carmim. Esse tipo de idealização tão reproduzida, ao longo de vários séculos, reforçava, especialmente, a imagem de gente estranha, bárbara e herege, aproximando-a da natureza animalesca e selvagem, associando-a, muitas vezes, a símios; e isso, desde, pelo menos, o século XV. Era imagem associada, também, aos mouros, esse personagem de multifaces, colonos negros da Mauritânia, que, ao longo do tempo, se confundiu com o Islã e se tornou sinônimo dele. Os estribos antropomorfos misturam todo esse universo de signos e de símbolos, se não em sua idealização original, pelo menos nos olhares provocados por sua singularidade e por seu ineditismo. Afinal, fontes históricas são produtos do passado e do presente no qual são observadas e indagadas. Neste sentido, assim como a História, elas são filhas do tempo – do tempo de sua preparação, assim como dos tempos de suas leituras. As duas cabeças de negros representadas sobre a madeira inspiraram, talvez, respeito e temor no passado, mas, neste Dossiê, um conjunto importante de reflexões sobre o uso das imagens pelos historiadores. Sob a inspiração de ambos, esperamos que os leitores se sintam provocados a pesquisarem sobre a temática abordada,
Escravidão e Mestiçagens são os outros dois eixos mestres deste Dossiê. Quanto ao primeiro, largamente estudado há séculos, limito-me a dizer que há muito a ser investigado ainda e que a iconografia é, sem dúvida, aliada importantíssima nessa empreitada, que parece não ter fim, felizmente. Já com relação às Mestiçagens, são necessárias várias mudanças e algumas advertências.
Inicialmente, devo esclarecer que, em nossa perspectiva, Mestiçagens são entendidas em suas dimensões biológicas e culturais, sem tomá-las entregues, a não ser para, metodologicamente, alguns privilegiaram esses aspectos em situações especiais. Portanto, nossa perspectiva encontra-se muito distanciada do racialismo científico, do eugenismo e do evolucionismo social do século XIX, associada, de forma indevida e até mesmo capciosa, à idéia de mestiçagem. Sobre isso, resta dizer que híbrido, semífero, misto / mixto, misturado, mestiço são termos que constatam cruzamentos biológicos e culturais e existem existência muito anterior ao século XIX, sendo possível voltar, pelo menos, aos primeiros anos da era cristã e encontrar registrados alguns deles. O emprego desses termos quase sempre serviu para que certa “pureza” de origem, cultural e biológica, fosse evocada e, portanto, para que os híbridos / ibridos sejam devidamente identificados e (des) classificados.
O termo mestiçagem, não obstante, parece ter surgido no século XIX, provavelmente a partir do trato cientificista dispensado à problemática da miscigenação, sobretudo nas jovens nações americanas. É essa perspectiva que provocaria no século XX, entre certos grupos de intelectuais, um grande mal-estar, sendo combatida a partir de então. É igualmente essa perspectiva evolucionista, eugênica e racialista que é evocada hoje ainda, soma vezes, quando se evoca a História das Mestiçagens, como é entendida nesta apresentação. Trata-se, obviamente, de mal entendido lamentável.
É no mesmo período Oitocentista que se alteram, também, os significados antigos encontrados ao termo híbrido (hibridismo e hibridação são variantes provavelmente inventadas no mesmo século XIX). A partir daí, eivado pela genética da época, híbrido passou a significar a mistura que não frutifica, o estéril. Essa definição foi empregada a animais e plantas e, mas, não raro, explícita e implicitamente, foi associada às mestiçagens humanas e, ainda, projetada sobre o futuro daquelas jovens nações, partidas, várias delas, de longo passado escravista e marcadas forte e indelevelmente, todas elas, pela mescla biológica e cultural. Os olhares intelectuais, científicos e políticos desses tempos condenavam passados e presentes povos povos e duvidavam de sua capacidade de “civilizar-se” no futuro. Híbrido e mestiço ligado-se, assim, sinônimo de degenerescência e de barbárie, ocupando, necessariamente, um lugar desprestigioso e perigoso na cadeia evolutiva. Os novos significados afirmam aos termos antigos e as derivações lexicais foram muito convenientes a essa conclusão equivocada.
É claro que o uso de uma infinidade de termos que evocavam como mestiçagens antes do século XIX lastreou-se na necessidade de distinguir e classificar os povos, embora não das formas empregadas no Oitocentos. Não está aí o ponto que diferencia esses momentos. São outros. Entre eles, deve-se destacar que o amplo conjunto terminológico existente e amplamente usado por todos os grupos sociais nem sempre foi imposto de “cima pra baixo”, mas foi, também, construído e inflexivelmente usado “embaixo”, isto é, entre os grupos mais pobres. É equívoco pensar que, por exemplo, entre escravos e forros não existem formas de distinção, que se reconhecem como iguais e que não há ampla aceitação e uso dos termos distintivos empregados por brancos, autoridades e senhores. Junte-se um isso que, ao longo dos séculos, o processo de hibridação foi tão acentuado nessas sociedades que muitos mestiços integravam como elites, ocupavam postos importantes e formavam (junto com muitos ex-escravos africanos, inclusive) um enorme contigente de proprietários de escravos. Portanto, até o fim do século XVIII ou início do XIX, sociedades mestiças não surgiam fadadas à degenerescência, à decadência cultural e à barbárie, pelo menos da mesma forma que se acreditou a partir de exemplo do século XIX.
Outro ponto importante de comparação entre os dois momentos refere-se aos critérios e elementos de classificação. Até divulgada do Oitocentos a definição das “qualidades”, isto é, pretos, negros, crioulos, pardos, mulatos, cabras, caboclos, etc …, variava enormemente, de região para região, de época para época e, também, de acordo com a visão e a conveniência dos que registravam essas práticas sociais. Não há, portanto, qualquer intenção “científica” nessas distinções e muito dificilmente poder-se-ía hierarquizar ortodoxamente, com aceite generalizado, cada um dos “tipos” “inferiores”, mestiços e “puros”, que compunham essas sociedades americanas.
Finalmente, é necessário explicitar aqui qual é a mestiçagem da qual estamos falando. Trata-se, arbitrária e privilegiadamente, das mestiçagens ocorridas a partir do Novo Mundo e, principalmente, das elaboradas nele. Esses processos de mestiçagem experimentaram dinâmicas novas e dimensões desconhecidas até então, produzindo novas formas, de novos ritmos, de novas cores, agentes, objetos, ritos, fomentando novas formas de viver, de pensar, de empregar os conhecimentos e de representar o mundo. As mestiçagens, a partir daí, se tornam mais completas, mais amplas, ainda mais complexas e, também, mais intensas, mais rápidas e mais impactantes. Pela primeira vez, naturais das quatro partes do mundo passavam a conviver, a coexistir e a se mesclar. As cidades mestiças americanas, mais que as cidades antigas, contavam com o elemento nativo, o “índio”, fortemente influente na re-conformação do mundo (a partir da América) e de seu próprio universo, ainda que foi complexo e dinâmico antes da chegada dos primeiros conquistadores. Esse intenso processo não ocorreria sem que um enorme deslocamento populacional, planetário e sem precedentes, se desenvolvesse. Cerca de 12.000.000 de negros africanos chegaram às Américas em menos de quatrocentos anos. Outros milhões de europeus imigraram para o mesmo destino. Asiáticos, embora em menor quantidade, também compuseram o novo crisol biológico-cultural no qual se transformou o Novo Mundo entre os séculos XV e XVIII, ampliado fortemente nos séculos XIX e XX. São as mestiçagens produzidas a partir desse quadro às quais, privilegiadamente, nos referimos aqui. São elas que geraram, nesse período, a maior população mestiça conhecida pela humanidade até então. Embora não sejam elementos dependentes entre si, nem necessariamente associados, mestiçagens e escravidão / trabalho compulsório estiveram intimamente ligados durante todo o processo histórico de formação das sociedades americanas até o século XIX. Neste caso, é possível afirmar que sem a escravidão e a servidão de índios, africanos e mestiços, a miscigenação biológica e de culturas jamais teria atingido a dimensão atingida, não teria assumido o perfil que hoje conhecemos, nem teria impactado o todo o planeta como aconteceu . mestiçagens e escravidão / trabalho compulsório estiveram intimamente ligados durante todo o processo históricos de formação das sociedades americanas até o século XIX. Neste caso, é possível afirmar que sem a escravidão e a servidão de índios, africanos e mestiços, a miscigenação biológica e de culturas jamais teria atingido a dimensão atingida, não teria assumido o perfil que hoje conhecemos, nem teria impactado o todo o planeta como aconteceu . mestiçagens e escravidão / trabalho compulsório estiveram intimamente ligados durante todo o processo históricos de formação das sociedades americanas até o século XIX. Neste caso, é possível afirmar que sem a escravidão e a servidão de índios, africanos e mestiços, a miscigenação biológica e de culturas jamais teria atingido a dimensão atingida, não teria assumido o perfil que hoje conhecemos, nem teria impactado o todo o planeta como aconteceu .
Finalmente, falemos sobre a “pureza”, o contrário “natural” da mistura. Pureza biológica, pureza cultural … ora, não é essa a nossa equação. Não falamos de mestiçagens partindo de pretensas purezas originais. Entretanto, é importante dizer que essas purezas existem! Sim, existem solidamente, claramente, comprovadamente, ainda que nas dimensões dos discursos, do imaginário e das representações são dimensões da própria realidade histórica, portanto conformam e são a própria realidade histórica! Não é recomendável olvidar-se esse aspecto importante da história, sob pena de se apartar demasiadamente dos registros do passado e mesmo do presente, além de se preparar um futuro de maneira exageradamente idealizada e artificial.
O Dossiê, a partir da imagem da capa até o último ponto, pretende contribuir para o melhor conhecimento dos temas e da potencialidade dos documentos iconográficos para esse fim. Foi importante, nesse sentido, incorporar um texto sobre a escravidão antiga, (re) vista a partir de documentos arqueológicos, pedras sepulcrais e fontes literárias, cruzadas, comparadas e postas à crítica historiográfica (Andrea Binsfeld). Impressiona como há continuidades entre a escravidão antiga e a moderna, tão distanciadas pelos historiadores de outros tempos, que podem ser evidenciadas pelos novos estudos, inclusive os que elegem a iconografia como fonte. Esses traços aparecem, várias vezes, como que exalando das descrições documentais por autora, ainda que não tenha sido sua intenção primeira. Iniciar oDossiê com esse texto e, logo depois, desembarcar no Novo Mundo não aparece aqui como procedimento roto. Ao contrário, essa seqüência corrobora a potencialidade do uso de fontes iconográficas, inclusive no sentido de facilitar a (re) aproximação de realidades indevidamente apartadas.
Representações e auto-representações convenientes parecem ter sido práticas muito comuns tanto entre senhores, quanto entre escravos, libertos e livres pobres, assim como entre escribas e artistas. Mestizos que se fazem passar por índios, índios que assumem o perfil de criollos , mulato que se torna índio, que não podia ser escravo (Joanne Rappaport). São muito fluidas as fronteiras entre essas “qualidades” (termo usado na época), o que deve levar o historiador a desconfiar, e muito, dos registros, assim como os cruzamentos feitos para a escravidão no mundo antigo acabou explicitando.
A fluidez das designações e das categorias de mestiçagens pode ser notada em toda a extensão continental americana e isso fica evidente nos trabalhos de Joanne Rappaport e de Maria Regina Celestino de Almeida. Como concluímos essa última autora, identidades plurais foram produzidas nessas sociedades e devem balizar o olhar do historiador de hoje, que, obviamente, não deve imobilizar um processo histórico que foi marcado justamente pelo contrário, isto é, por mobilidades em sentido amplo, identitária inclusiva . Novamente, surge a fragilidade de fronteiras entre índios e mestiços, mas, também, entre “selvagens” e “civilizados”, agora corroboradas pelas célebres imagens deixadas por Jean-Baptiste Debret, igualmente alardeadas por historiografia recente e cada vez mais extensa.
Mariza de Carvalho Soares recorre às imagens produzidas por Frans Post para melhor entendimento do universo dos engenhos de açúcar do século XVII, na época, o “mundo” de escravos africanos e índios. Formas de trabalho e dinâmicas de mestiçagens podem ser sugeridas por essas imagens do Brasil holandês e cruzadas, como fez a autora e como se deve sempre proceder, com a produção historiográfica já existente e com a Documentos manuscritos e impressa disponível. Esse exercício esclareceu muito sobre o ambiente e o cenário escravistas, coloniais e já fortemente mestiçados dessa região invadida no Seiscentos.
Ana Cristina Fonseca Nogueira da Silva nos oferece fotografias reveladoras da “desafricanização” promovida na colônia portuguesa de Moçambique, durante os séculos XIX e XX. Os álbuns de fotografia boletins montados para retratar a “missão civilizacional” entre os nativos “atrasados”, mestiçados e racialmente inferiores, na visão da época, atestam a tentativa de europeizar aquele universo moçambicano, o que, obviamente, malogrou. Ana Cristina aponta no texto a potencialidade comparativa entre os retratos “europeizantes” dos moçambicanos e como imagens de negros e mestiços, menos maquiadas, produzidas no Brasil setecentista e oitocentista, o que abre o espaço para estudos importantes, obrigatoriamente, mas ainda não realizado.
No texto último deste Dossiê, Ana Lúcia Araújo aborda as representações imagéticas produzidas recentemente, a partir de um conceito inexistente no passado – Rota dos Escravos -, e que busca, pedagogicamente, usar a história do tráfico atlântico de escravos aos beninenses e aos observadores que se deparam com esses grandes monumentos plantados em Ajudá. Assim, o Dossiê que se iniciou com um texto sobre escravidão na Antiguidade e que passou pelas mestiçagens ocorridas em áreas coloniais escravistas e pós-escravistas, termina com uma reflexão em torno da projeção sobre o passado de expectativas, valores e conceitos do presente, viabilizadas por imagens sob forma de esculturas e monumentos arquitetônicos.
Como de praxe, desejamos ao leitor uma excelente leitura. Mas, além disso, esperamos que ele se sinta provocado, como já foi dito antes, pela proposta do Dossiê e que se deixe seduzir pela riqueza das fontes iconográficas, assim como por sua potencialidade excepcional para se proceder a uma nova revisão da história da escravidão e das mestiçagens.
Belo Horizonte, junho de 2009.
Eduardo França Paiva – Organizador. Professor do Departamento de História e do
Programa de Pós-graduação em História-UFMG. E-mail: edupaiva@ufmg.br
PAIVA, Eduardo França. Apresentação. Varia História, Belo Horizonte, v.25, n.41, jan. / jun., 2009. Acessar publicação original [DR]
Trajetórias de vida na História. | Fernando Tadeu de M. Borges
Trata-se de um livro original, sui generis e excêntrico, escrito por uma coletividade de autores não para exaltar personalidades, mas com o difícil objetivo de compreender, nas entranhas, o processo histórico latino-americano. Sem dúvida, tarefa complicada, não apenas para historiadores profissionais, mas principalmente para pessoas de outras áreas do conhecimento. Mesmo assim, os vinte e quatro artigos publicados por vinte e sete autores diferentes fixaram-se em aspectos instigantes do conhecimento histórico, oferecendo ao leitor interpretações que passam pela família patriarcal brasileira, pelas presenças das mulheres nos discursos históricos e pelas reminiscências da pracinha da vovó, só para citar alguns exemplos.
A satisfação dos autores não é descabida com o resultado do trabalho. Uma publicação como esta poucas vezes acontece nas trajetórias de vida dos próprios escritores. Desde o lançamento em 2008 o livro revelou-se de grande interesse para o público em geral. Centenas de exemplares já foram vendidos e a procura vem aumentando.
Acredito que o grande mérito dos organizadores tenha sido reunir temas tão distintos, alguns até bastante excêntricos, com autores tão variados, tornando o livro, de certa forma, bastante provocativo.
O livro conta com um breve comentário do Professor Marcos Prado de Albuquerque, que ressalta o mérito acadêmico do trabalho, mas enfatiza que o mesmo pode ser lido com muito prazer pelo público em geral e, também, com a epígrafe instigante de Sara Beatriz Guardia, pesquisadora do Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres (Lima, Peru). A apresentação dos organizadores é um verdadeiro convite à leitura da obra.
Devo registrar que esta coletânea tem para mim um elemento de grande interesse pessoal, pois grande parte dos temas estudados faz parte das minhas predileções como leitor indisciplinado e voraz. Desejo chamar a atenção, por mero interesse subjetivo, para o artigo “Corumbá, Campo Grande, Brasília e Cuiabá: quatro capitais na vida de José Fragelli”, de autoria do Professor Vinícius de Carvalho Araújo. É certo que não posso considerar as minhas experiências pessoais como exemplares, mas tive o privilégio de ser vizinho da família Fragelli, quando residi em Aquidauana, na rua Marechal Mallet. Conservei as mais gratas recordações daquela época na qual me senti completamente enraizado na sociedade mato-grossense, pois a residência da família Fragelli me parecia uma extensão de Cuiabá. Dona Lurdes é uma figura emblemática da cultura local e memória viva. Aproveito para sugerir aos organizadores deste livro um capítulo complementar para a próxima edição sobre esta personalidade feminina que afirma ter lembranças do Conde Labatut, autor de um interessante estudo sobre a Fazenda Francesa visitada, no final dos anos 30 do século XX, por Claude LéviStrauss. Não sei ao certo se as recordações de Dona Lurdes sobre o “nobre” francês são reais, mas o certo é que ela foi lembrada por Nelson Werneck Sodré em um dos seus livros de memórias.
Parece-me, finalmente, interessante confrontar os artigos com as experiências de pesquisas dos autores em diferentes arquivos e com fontes variadas. Logo evidenciam-se a riqueza da literatura historiográfica apresentada ao público e o esforço redobrado de alguns pesquisadores que passaram anos a fio elaborando, burilando, corrigindo e revendo seus temas. É um trabalho de fôlego para ser devorado com sofreguidão pelos amantes da boa história.
Cezar Benevides – Professor Titular da UFMS.
BORGES, Fernando Tadeu de M. et al (org.). Trajetórias de vida na História. Cuiabá: EdUFMT, Carlini e Caniato Editorial, 2009. Resenha de: BENEVIDES, Cezar. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.6, n.6, p.233-234, 2010. Acessar publicação original [DR]
As relações em eixo franco-alemãs e as relações em eixo argentino-brasileiras: génese dos processos de integração | Raquel Cristina de Caria Patrício
O livro ora apresentado é resultado da tese de doutoramento da autora apresentada ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília no ano de 2005, cujo reconhecimento a equivalência da tese pela Universidade Técnica de Lisboa já fora realizado. Obra de fôlego, trás em seu bojo a tarefa de reescrever o velho e apresentar um novo olhar, a partir da teoria das relações internacionais, sobre os processos de integração europeu e sul-americano.
O ponto de partida é o biênio 1870-1871, período que corresponde a um rearranjo de forças, tanto para as relações entre França e Alemanha, quanto para Argentina e Brasil. Por um lado, a unificação alemã após a guerra franco-prussiana marca o surgimento de um Estado centralizado e forte economicamente a fazer frente aos interesses hegemônicos da França, por outro, a Guerra do Paraguai consolida o fortalecimento político argentino – antes fragmentado – e a reestruturação da órbita de influências na Bacia do Prata. A partir deste contexto, busca-se reconstruir o longo caminho pelo qual estes países realizaram seus processos de aproximação e dessa forma, avaliar: primeiro a possibilidade de se equiparar o papel das relações bilaterais entre os casos de Argentina- Brasil e Alemanha-França em relação aos respectivos processos de integração; segundo, considerar em ambos os casos as relações bilaterais como relações em eixo; por fim, saber se é possível creditar aos dois eixos, a função de elemento determinante da gênese dos processos de integração. Leia Mais
Pratiques funéraires et sociétés. Nouvelles approches en archéologie et en anthropologie sociale | L. Baray, P. Brun e A. Testart
O homem olha a morte com medo, curiosidade e reverência. Ela desperta, ao mesmo tempo, a sensação de termo e de recomeço, sendo interpretada de diversas formas pelas diferentes culturas e religiões ao longo de toda a história. De fato, o desconhecido e o âmbito do sobrenatural representados pela morte têm provocado e alimentado a imaginação humana em todas as sociedades e épocas. Inúmeros estudos de antropologia, sociologia e psicologia têm demonstrado que os enterramentos representam importantes marcos na vida social, porque pontuam a memória pessoal e coletiva, impõem uma ruptura na ordem social e suprem a necessidade de reorganização das relações pessoais e sociais ante a morte. Criam eles elos entre gerações presentes e pretéritas, fundando pontes entre o mundo dos mortos e dos vivos, dando a alguns mortos um lugar na memória e na vida de sua sociedade e a outros relegando ao total esquecimento e obliteração.
Os estudos sobre morte e funerais não são novidade na arqueologia francesa, nem tampouco nos estudos da Idade do Ferro Européia em geral. Em verdade, constituem os enterramentos o tipo de documentação arqueológica mais explorada e melhor conhecida, representando, pois, a base de nossos conhecimentos acerca dessas sociedades, sobretudo no que diz respeito à primeira Idade do Ferro na Europa Centro-Ocidental. Desde os primeiros inventários de monumentos publicados no século XIX que as tumbas em montículo, sobretudo as faustosas, têm despertado o interesse tanto de leigos quanto de pesquisadores profissionais. Então, assim como hoje, a pergunta central era a mesma: Como lidavam essas populações com a morte e com a perda de seus entes queridos, líderes e heróis?
A princípio, o principal foco de análise estava na descrição simples da forma e caráter desses enterramentos. Uma tal abordagem sempre se manteve aliada aos estudos de inventários locais e regionais, dominados pela descrição densa de sítios. Se por um lado não podemos dizer que essa abordagem tenha sido completamente descartada, por outro, é preciso destacar que novas abordagens foram se afirmando a partir dos anos 70, sobretudo ante os avanços das técnicas de análise e de novas metodologias de pesquisa, além das abordagens interdisciplinares. Essas se tornaram características da chamada “Nova Arqueologia”, onde a obra The Archaeology of Death (Chapman, Kinnes & Randsborg 1981) se tornou um dos grandes marcos. Seguia ela a trilha indicada pelos trabalhos de Ucko (1969) e Tainter (1978), que entendiam os enterramentos como prática social, para tanto defendendo o uso da etnografia para analisar os ritos e achados funerários, evitando, por conseguinte, uma análise simplista desses achados.
Na França, inúmeros foram os volumes e teses dedicados ao tema, tal como La Mort, les morts dans les sociétés anciénnes (Gnoli & Vernant 1982), e também inúmeros foram os congressos que o debateram; a exemplo dos colóquios Anthropologie physique et archéologie: méthodes d’étude des sépultures. Toulouse 1982 (Duday & Masset 1987), Monde des morts, monde des vivants en Gaule rurale. Orléans 1992 (Ferdière 2000), Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au premier âge du Fer. XXIe colloque international de l’AFEAF, Conques – Montrozier 1997 (Dedet et al. 2000), e Archéologie des pratiques funéraires. Approches critiques. Glux-en-Glenne 2001 (Baray 2004), para só citar alguns. Mas, então, por quê novo evento sobre essa mesma temática? O quê, afinal, nos traz esta coletânea de novo?
Em poucas palavras: ação humana e abordagem interdisciplinar. Pode-se dizer que tal perspectiva não é em si uma inovação, mormente se considerarmos os trabalhos da academia de língua anglo-saxã, onde não só há um constante debate com a antropologia, como também uma ampla tradição de pesquisa acerca do que a morte nos diz sobre as sociedades viventes, isto é, acerca do que podemos inferir das sociedades a partir dos dados funerários; como postularam os trabalhos de Fleming (1972, 1973) para a pré-história inglesa (bem como todos que o sucederam – e não foram poucos) e, mais recentemente, para a Grécia Antiga, as publicações de Ian Morris (1987, 1992). Contudo, esses trabalhos não encontraram grande repercussão na arqueologia francesa, que até muito recentemente privilegiou abordagens dominadas por sítios e com poucos recursos ao diálogo com a antropologia. Assim é que a coletânea Pratiques funéraires et sociétés possui um forte diferencial.
Ela se originou de um seminário que reuniu etnólogos e arqueólogos no Laboratório de antropologia social do Collège de France, realizado em colaboração com a Unité Mixte de Recherche (UMR) Archéologie et Sciences de l’Antiquité (ArScAn) de Nanterre e a UMR 5594 Archéologie, Cultures et Sociétés de Dijon, de 2001 a 2003. Seu objetivo era aprofundar a compreensão do das práticas funerárias e seus usos e relevância sociais, trazendo um novo olhar que não estivesse preso tão somente às escavações. Contudo, como destacam os organizadores no prefácio da obra, a reflexão etnológica ficou restrita ao trabalho de Testart (pp.9-13), com os demais versando sobre a arqueologia funerária de diferentes períodos e sociedades, a saber: do Egito antigo (pp. 229-244, 245-256, 257-266), de Tell Shiukh Fawqâni (pp. 267-276, 277-284, 285-294), da Idade do Bronze em Oman (pp.295-319), da China da realeza Chu (pp.359-369), do México pré-colombiano (pp.371-390), de Fidji no séc. XIX (pp. 391-407), Chipre na Antigüidade e medievo (pp.409-415), da Antigüidade grega (pp.321-349, 351-358), da Europa mesolítica (pp.15-35) e neolítica (pp.37-67, 69-76, 77-90, 91-99), da França nas Idades do Bronze (pp.101-114, 115-132) e do Ferro (pp.133-154, 155-167, 169-189) e conquistada por Roma (pp.191-205, 207- 228).
A questão central desse amplo debate é: O que se pode dizer das sociedades a partir de seus vestígios funerários? Como destaca Testart (pp.9-10), uma tal pergunta apresenta grandes dificuldades de resposta. Primeiramente, por conta da grande diversidade de práticas funerárias e pelas diferenças de conhecimento e procedimento das próprias disciplinas, haja vista a resistência dos etnólogos em lidar com os dados materiais e também a raridade desses dados para as sociedades com que eles costumam lidar (p.9). Depois, porque, tradicionalmente, esse questionamento implicaria tratar de desigualdade social, produção, acúmulo ou redistribuição de riqueza, implicando que: a) no que se refere à construção das tumbas, que “…para a maior parte dos etnólogos e historiadores da religião (…) [se deveria a] razões religiosas” (p.10), mas que para os cientistas sociais aludiria também a questões sociais; b) no tocante aos depósitos funerários, se apresentaria o debate acerca deles como propriedade ou não do morto e de seu grupo de parentesco. Para responder a essas questões não se pode fazer conclusões preconcebidas ou descontextualizadas. Ao contrário, “é preciso hipóteses fortes, um conhecimento mínimo das variações etnográficas em matéria de política funerária e uma elaboração de critérios arqueológicos novos” (p.11). Logo esse o debate desse seminário, tal como de toda a arqueologia interpretativa, se coloca na definição dos limites de interpretação e dos critérios de análise e de comparação.
No tocante às sociedades celtas (área de concentração do presente periódico), nos interessam, particularmente os capítulos acerca da França proto-histórica e galoromana. Essas contribuições se dividem em dois grupos: 1) estudos de casos, 2) estudos regionais, e 3) reflexões amplas, propondo modelos gerais.
No primeiro grupo, encontramos dois trabalhos sobre necrópoles no Aisne, um sobre a região do Languedoc ocidental e outro sobre um caso de Luxembrugo. Le Guen e Pinard (pp.101-114) nos apresentam os resultados preliminares das práticas funerárias da necrópole da Idade do Bronze de Presles-et-Boves, “Les Bois Plantés” (Aisne). Com uma detalhada análise de antropologia física associada ao estudo da tipologia e cronologia dos demais depósitos, mostram eles a diversidade existente nas práticas de cremação dessa necrópole. Diferentemente, Desenne, Auxiette, Demoule e Thouvenot (155-167) fazem um estudo mais denso do caso da necrópole de Bucy-leLong “La Héronnière” no período de La Tène A (cerca de 475 a 300 a.C.), propondo a análise da forma das prática funerárias (considerando as etapas de preparação do morto, da tumba e dos depósitos) como via de percepção da estrutura social. Eles mostram que, se por um lado, os achados de Bucy-le-Long não diferem das demais necrópoles do vale do Aisne, por outro, eles se destacam pela maior concentração de tumbas com carros (quatro no total) – e por serem todas elas femininas; vale destacar que “na cultura do Aisne-Marne, só 5% das tumbas com carros (…) contêm um mobiliário claramente feminino” (p.166). Nessa necrópole, como no restante daquelas da Idade do Ferro francesa encontra-se uma combinação de práticas locais (com seleções específicas de objetos), aliadas a regras funerárias mais amplas, com a organização por grupos familiares e regras estipuladas de deposições funerárias.
Também tratando das necrópoles da Idade do Ferro, Florent Mazière (pp.133- 154) examina a questão da morte no sul da França a partir do caso do Languedoc ocidental no séc. VII a.C. Centrando suas observações na transformação social da passagem do bronze final para a Primeira Idade do Ferro, Mazière se debruça sobre a questão do aumento de complexidade social, a construção de uma sociedade fortemente hierarquizada e de uma chefia forte, se propondo a apontar as nuanças e complementos desse esquema tradicional. Para tanto, traçando um rápido balanço da documentação funerária dessa região e dos recentes trabalhos de escavação, Mazière vem mostrar como é possível ter um novo olhar acerca desses achados. Sua análise traça desde os detalhes das formas de enterramento e violação de tumbas ainda na Antigüidade até a emergência de uma pequena elite (cujos enterramentos se encontram nas proximidades das necrópoles tradicionais) e suas relações com o Mediterrâneo. Trata-se de abordagem que bebe na tradição, mas que também explora novas possibilidades; tem, pois, grande potencial e avança no debate.
Por outro lado, enveredando pelo período galo-romano, Polfer (pp.191-205) propõe uma reflexão sobre os problemas metodológicos para a análise social de enterramentos, tomando por base o estudo do caso da necrópole de Septfontaines (Luxemburgo). Dentre os pontos por ele levantados destaca-se o questionamento do postulado tradicional que considera os depósitos funerários como expressão direta da riqueza e do status sócio-político do morto quando em vida; ponto este também debatido por diversos contribuintes da presente coletânea e que se mostra de vital importância para os estudos de pré- e proto-história, onde não há documentação textual de época para contrapor-se à material.
No segundo grupo, encontramos, não por acaso, os trabalhos de Brun e Baray, que não apenas possuem vasta produção na área (o primeiro como grande nome da área de estudos proto-históricos franceses e o segundo que tem despontado desde idos de 2000 como especialista de práticas funerárias da Idade do Ferro francesa), mas que se destacam, sobremaneira, pela criação de modelos téoricos. Patrice Brun (pp.115- 132) propõe, aqui, uma reflexão sociológica mais ampla para as práticas funerárias da Europa da Idade do Bronze. Em verdade, ele vem debater alguns dos grandes problemas – e limitações – com que se deparam os arqueólogos ao analisar os vestígios funerários e suas implicações para a análise sociológica de sociedades da proto-história. Traçando um breve panorama das diferentes regiões européias na Idade do Bronze, Brun mostra que à primeira vista, apesar das trocas interregionais, deparamo-nos com fenômenos regionais que não estão interligados e não são interdependentes; donde, configuram variabilidades de hierarquização tanto a nível temporal quanto espacial. Porém, alerta ele que, numa análise macroscópica sincrônica (que por sinal é a marca de seu trabalho intelectual), temos um mesmo fenômeno: o aumento de complexidade social, com a formação de elites emergentes. Em linhas correlatas, Baray (pp.169-189) se propõe a compreender o aumento de complexidade e as transformações sociais na Europa ocidental da Idade do Ferro. Lançando mão de uma análise que correlaciona a materialidade dos depósitos e da questão da riqueza, Baray cria um modelo tripartite da riqueza na Europa ocidental da Idade do Ferro, calcado no prestigio e num sistema de clientela. Para ele, os depósitos funerários revelam não somente o estatuto do morto, mas, acima de tudo uma ideologia política. No seu próprio dizer, para o período da primeira Idade do Ferro (principalmente da segunda metade do séc.VI a.C. ao primeiro quartel do séc. V a.C.), “o depósito de riqueza age como metáfora do sucesso social do morto” (p.186). Assim, ele traça dois ideais funerários: o ideal do valor guerreiro e de competição sócio-política, que predomina nos enterramentos (do séc. VIII a meados do séc.VI a.C. e do segundo quartel do séc. V ao fim do séc.IV a.C.), e o ideal da sociabilidade e das redes de clientela personificadas pelo banquete, que vigora nos períodos de meados do séc.VI ao primeiro quartel do séc. V a.C. e do IIIº ao Iº séculos a.C.
A esses dois trabalhos, vem se unir a contribuição de Blaizot, Bonnet e Batigne Vallet (pp.207-228). Analisando o uso de depósitos de cerâmica em enterramentos galo-romanos, voltam-se eles para as práticas e gestos rituais; temática pouco explorada, posto que a maioria dos arqueólogos se preocupa mais com a questão desses depósitos como oferenda para o morto e expressão de sua condição estatutária (p.207). Para tanto, os autores não enveredam pelo tradicional exame da funcionalidade e qualidade dos vasos, preferindo, ao invés, tratar dos usos rituais desses objetos. Eles observam uma distinção entre depósitos primários (vasos com oferendas sólidas) e depósitos secundários (vasos com oferendas líquidas) (pp.209- 210), cuja deposição sugere uma seqüência de deposição na cerimônia fúnebre. Como esperado, eles mostram que os conjuntos de depósitos não são homogêneos na Gália romana e que vários desses artefatos passavam por um tratamento especial (queima, quebra ou mutilação) quando incluídos no depósito ritual (pp.218-220); procedimento de fato corrente em depósitos votivos e funerários em toda a Europa proto-histórica. Contudo, sua principal contribuição está em chamar a atenção dos pesquisadores para o fato de que os estudos cerâmicos podem nos fornecer mais dados do que somente a cronologia dos enterramentos ou o status do morto, permitindo-nos “reconstruir” parte significativa da seqüência ritual que envolvia atos de deposição. Como vários estudos recentes têm destacado, é na ação humana que se encontra nossa nova fronteira de pesquisa.
Apesar desse termo “ação humana” não estar claramente afirmado nessa obra, e de ainda estar pouco presente no debate acadêmico francês, ao contrário do anglosaxão onde tem proliferado a reflexão sobre o tema (cf. Dobres 2000, Gardner 2004), essa é, a nosso ver, a grande contribuição dessa coletânea. É em si um primeiro passo rumo a esse debate, procurando demonstrar que não é preciso abandonar os perfis tradicionais de pesquisa da arqueologia funerária francesa, mas sim associá-lo a novas formas de pensar e de inquirir os vestígios materiais.
Se retomarmos, então, a questão central desse livro, vemos que os trabalhos acerca das sociedades da proto-história da Europa ocidental vêm também nos chamar a atenção para o fato de que os enterramentos não devem ser vistos como um mero reflexo nem das crenças no Outro Mundo, nem da estrutura social ou das formas de sociabilidade. É preciso (e possível) ir além.
Referências
BARAY, L. (dir.) Archéologie des pratiques funéraires. Approches critiques. Actes de la table ronde organisée par l’UMR 5594 du CNRS, université de Bourgogne “Archéologie, cultures et societés. LaBourgogne et la France orientale du Néolithique au Moyen Âge” et BIBRACTE, Centre archéologique européen. Glux-en-Glenne, 7-9 juin 2001. Glux-en-Glenne: BIBRACTE, Centre archéologique européen (Collection Bibracte, 9), 2004.
CHAPMAN, R., KINNES, I., RANDSBORG, K. (eds.) The Archaeology of Death. Cambridge, Cambridge University Press (New Directions in Archaeology), 1981.
DEDET, B., GRUAT, P., MARCHAND, G., PY, M., SCHWALLER, M. (eds.) Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au premier âge du Fer. Actes du XXIe colloque international de l’AFEAF, Conques – Montrozier 8-11 mai 1997. Lattes, CNRS (Monographies d’Archéologie Méditerranéenne), 2000.
DOBRES, M.-A., ROBB, J.E. (eds.) Agency in Archaeology. London: Routledge, 2000.
DUDAY, H., MASSET, C. (eds.) Anthropologie physique et archéologie: méthodes d’étude des sépultures. Actes du colloque de Toulouse, 4, 5 et 6 novembre 1982. Paris, Éditions du Centre national de la Recherche scientifique: Presses du CNRS diffusion, 1987.
FERDIÈRE, A. (ed.) Monde des morts, monde des vivants en Gaule rurale. Actes du Colloque ARCHÉA/AGER (Orléans, Conseil Régional, 7-9 février 1992). Tours, FÉRACF/LA SIMARRE, 2000.
FLEMING, A. Vision and Design: Approaches to Ceremonial Monument Typology. Man (N.S.) 7(1), 1972, pp. 57-73.
______. Tombs for the Living. Man (N.S.) 8 (2), 1973, pp. 177-193.
GARDNER, A. (ed.) Agency Uncovered: Archaeological Perspectives on Social Agency, Power, and Being Human. London: UCL Press, 2004.
GNOLI, G., VERNANT, J.P. (eds.) La Mort, les morts dans les sociétés anciénnes. Cambridge: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1982.
MORRIS, I. Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State. Cambridge: Cambridge University Press (New Studies in Archaeology), 1987.
_______. Death-ritual and Social Structure in Classical Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press (Key Themes in Ancient History), 1992.
TAINTER, J.R. Mortuary practices and the study of prehistoric social systems. Advances in Archaeological Method and Theory 1, 1978, pp. 105-141.
UCKO, P. J. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. World Archaeology 1 (2), 1969, pp. 262-280.
Adriene Baron Tacla – Pós-doutoranda, LABECA MAE/USP. E-mail: adrienebt@yahoo.com.br
BARAY, L., BRUN, P. et TESTART, A. (Eds.). Pratiques funéraires et sociétés. Nouvelles approches en archéologie et en anthropologie sociale. Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 2007. (Collection Art, Archéologie & Patrimoine). Resenha de: TACLA, Adriene Baron. Arqueologia funerária francesa: Novas perspectivas. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.8, n.1, p. 111-116, 2008. Acessar publicação original [DR]
Dictionnaire de la colonisation française | Claude LIauzu
Entre as muitas obras recentes que tratam do passado colonial da França, o Dicionário da colonização francesa destaca-se pela abrangência das temáticas e análises, numa época de grandes debates no campo desta história. Falecido no ano da publicação deste dicionário, o grande historiador Claude Liauzu o organizou com a preocupação central de valorizar a seriedade na determinação dos fatos e respeitar a pluralidade das interpretações. Ele introduz o volume « A colonização em questões » (p. 9-25) expondo suas ambições e limites.
Os grandes embates que ocupam a fábrica da história colonial na França dos séculos XIX e XX, e sua eventual instrumentalização pelos poderes políticos, torna o assunto atual. Claude Liauzu e sua equipe de dezenas de colaboradores (entre os quais pesquisadores oriundos dos países antigamentes colonizados) decidiram encarar o desafio, afirmando a necessidade de oferecer aos leitores pontos de referência seguros a partir dos quais eles possam definir uma opinião informada no fogo cruzado das « guerras de memória ». Daí a forma de dicionário. São setecentos e setenta e cinco entradas que dizem respeito a pessoas, eventos, mas também categorias de análise histórica. « Tempos fortes », que antecedem sequência alfabética, estabelecem a periodização do assunto. Dezoito mapas e uma bibliografia (dividida tematicamente), no fim da obra, além de diversos índices (de pessoas, lugares e temas, disponíveis na internet) ajudam o leitor a se situar. Os nomes que, nos textos, remetem a artigos próprios são assinalados por asterisco e setas associam outros relacionados.
São tratados aspectos variados, destacando-se a definição do próprio título « colonização » com vários desdobramentos: etimológicos (« colônia », p. 200-201, e « colônia penal » p. 201) ; sociais e políticos como o dossiê « colonos – brancos pobres e ´franceses majorados » (p. 202-210) com várias seções, inclusive o « colono visto pelo colonizado » ; geográficos, mostrando as dimensões políticas, em cada região em que atuou, América, África, Ásia, Próximo Oriente ; culturais, revelando os diversos olhares sobre o fenômeno, « escola colonial » (p. 258), « a escola do colonizado » (p. 259-263), « professores primários » (p. 381), « estudantes colonizados » (p. 280), e mesmo as prestigiosas instituições acadêmicas como a « Escola francesa do Extremo Oriente » (p. 263), focada em aspectos tocando diretamente à historiografia. « As colônias na escola » (p. 265) complementada pelo dossiê « criança e propaganda colonial – Convencer os jovens da metrópole » (p. 269) e o artigo « Propaganda colonial oficial » (p. 538-539), expõe a maneira como a colonização foi ensinada pelos manuais e outros meios de divulgação, desde a criação da escola pública, laica, gratuita e obrigatória, pelos próprios governos da IIIa. República, que promoviam ambas.
« Escritores e colonização » trata da literatura acerca deste fenômeno, seguindo uma entrada rápida sobre o papel de editoras como as Éditions de Minuit, que publicaram grandes textos de combate contra a colonização, em particular A questão, de Henri Alleg, denunciando a tortura utilizada pelo exército francês durante a guerra – que não dizia seu nome – da Argélia. Enfim, « palavras e colonização », (p. 482), « migrações e colonização » (p. 470). « República e colonização – Relações ambíguas » (p. 552-557), faz objeto de um dos numerosos dossiês analíticos que pontuam a obra, com um subtítulo « colonização e civilização », onde são tratados os grandes traços do discurso dominante a respeito do assunto. Outro dossiê, « Capitalismo e colonização. Um debate » (p. 168-172), mostra como se articulam império e prosperidade na metrópole, ao longo dos séculos. « Cristianismo, missões e colonização » (p. 185-191) seguido de « Cristianismo e descolonização » (p. 191-193) focam no papel dos religiosos, numa empresa estatal cuja fase republicana foi marcada pelo anti-clericalismo.
Outros conjuntos de artigos poderiam assim ser singularizados, particularmente em torno dos artigos-dossiês que propõem uma síntese sobre dado assunto, tentando equilibrar o tratamento dos diversos espaços geográficos que, através de quatro continentes, sofreram a marca da empresa colonial francesa : por exemplo, a Nova Caledônia (p. 501-505), complementada por outros artigos como « religiões da Oceânia », (p. 551) « Oceânia » (p. 506-507) « Novas Hébridas Vanuatu » (p. 505) e assuntos, às vezes esquecidos, como o de Moruroa, atol onde os franceses efetuaram seus experimentos nucleares (p. 481).
Em « Raça » incluindo « a política das raças », « racismo » (p. 545-548), Liauzu, autor do maior número de entradas, evoca um campo que detalhou no seu notável estudo Raça e civilização. O outro na civilização ocidental (Paris: Syros, 1992). Ao lado dos artigos esperados sobre a « escravidão – quatro séculos de história da colonização » (p.272-277) e sua abrogação, com a figura emblemática de Victor Schoelcher (p. 579), os autores não se furtam a mencionar eventos recentes, como a Lei Taubira (2001), que confere ao tráfico negreiro o estatuto de crime contra a humanidade (« Comitê para a memória da escravidão » p. 210) e a mal afamada lei de 2005, posteriormente abrogada sob pressão dos meios acadêmicos e mais amplamente cidadãos, que pretendia obrigar ao ensino dos « aspectos positivos » da colonização francesa (p. 533).
Os autores utilizam conceitos atuais como os « lugares de memória » (p. 409-413), complementado em « imaginário e espaços » (p. 364-366), e lugares, simplesmente, inclusive presídios famosos (« Poulo Condor », no Vietnam, p. 536) ou manifestações físicas importantes como o « Mediterrâneo » (p. 460), ou ainda espaços situados no tempo como o artigo « O Magreb na véspera da colonização – Blocagens e tentativas de reforma ». (p. 437-440), ou « o grande deserto do Sahara » (p. 568).
Entre os assuntos tratados em si podem ser citados como exemplos as grandes temáticas do « povoamento » (p. 527), « campesinato » (p. 524), « industrialização » (p. 379), assim como conceitos: « negritude » (p. 495), « nacionalismos » (p. 488). As posições das grandes forças políticas são detalhadas (« Internacional Comunista » (p. 383); « OAS » (p. 506) « FLN » (p. 299) com seus desdobramentos: « chefes históricos », « Federação de França do FLN »; « Pan-africanismo » (p. 514). Personalidades de destaque como Ahmed Messali Hadj, nacionalista argelino do século XX, Ho Chi Minh (p. 359) ou Solitude (p. 586) heroina da resistência ao restabelecimento da escravidão nas Antilhas são tratados com particular cuidado assim como as « resistências à conquista » (p. 557) e grandes rebeliões, como a Kanak, em 1878 (p. 393) ou a insurreição em Madagascar de 1947 (p. 435) e as diversas organizações (partidos e movimentos armados, mas também confrarias e outras) de resistência dos povos colonizados pela França. Entre os personagens mencionados, pode-se destacar os resistentes à colonização, inclusive franceses como Camille Pelletan que denunciava no seu jornal, A justiça, a maneira como as autoridades republicanas francesas impunham sua civilização « por meio de canhões » (p. 526). Em obra póstuma de Claude Liauzu, História do anti-colonialismo na França do século XVI a nossos dias (Paris: Colin, 2007), este aspecto ganha vulto.
Obviamente, aspectos econômicos da empresa colonial estão presentes : as companhias que recebiam concessões da potência colonial (p. 213-216), « cultura de seringueira na Indochina » (p. 358) etc. Também é tratada a dimensão propriamente militar, os métodos de conquista e administração – « governo colonial » (p. 315-319) ; « ministério das colônias » (p. 472-473) – de vastos espaços e populações numerosas em âmbitos geográficos diversos e longínquos, embora nenhuma predominância seja dedicada a estes assuntos clássicos. No entanto, menciona-se aspectos peculiares como, sob o título « Marinha, Marinheiros – o seu papel na expansão colonial » (p. 444), evocando a situação difícil destes, muitas vezes oriundos de territórios colonizados. O maior destaque é dedicado aos conflitos de descolonização, sobretudo na Argélia, que se desdobra em dois dossiês: « guerra de Argélia – Uma guerra que não diz seu nome » (p. 321-335) e « guerra de Argélia e liberdades – Estado de sítio e poderes especiais » (p. 340); para garantir o equilíbrio no tratamento, há também : « Guerra de Indochina – A primeira guerra de descolonização» (p. 341-350).
Aspectos culturais têm, em compensação, muito destaque, desde « festas » (p. 297), « canção » (p. 179), como testemunho da cultura popular, refletindo preconceitos sob os apetrechos do exotismo, mas também nas dimensões de resistência como o anti-militarismo. Famosos artistas são retratados, como Josephine Baker (p. 130-131), cujo sucesso revelou visões metropolitanas da coisa tropical, por assim dizer, e influenciou numa mudança, surpreendentemente recente, nas mentalidades. « Fotografia – a colocação em imagens das colônias » (p. 529), « pintura orientalista » (p. 510) e « Cinema » (p. 194-200), tratam tanto de documentos fotografados encenados ou não, documentários e ficções, mostrando também os esforços de alguns autores para romper com os clichês coloniais, como o premiado « Indígenas », de Rachid Bouchareb (Cannes 2006). A literatura abrange as representações, inclusive populares, como a personagem bretã « Bécassine e suas aventuras coloniais » (p. 140) mas também as produções de criadores de horizontes diversos : literatura da África negra, magrebina, da Nova Caledônia, da Polinésia, « Indochina : edição e literatura » (p. 374) e enfim, « literatura e colonização » (p. 421), seguida de um artigo curioso : « literatura, romance policial e descolonização » (p. 422), mencionando sobretudo obras recentes que tratam de episódios de repressão na própria metrópole contra pessoas oriundas das (ex)colônias.
Muitos atores da descolonização, em várias áreas, literatura e política em particular, fazem parte do elenco biografado: como Leopoldo Sedar Senghor (p. 584), Albert Memmi (p. 461-462), Aimé Césaire (p. 176), desaparecido recentemente. Eles dividem páginas com autores franceses cuja obra e engajamento lhes estão ligados ou opostos: SaintJohn Perse (p. 572), Jean Paul Sartre (p. 578), Céline (p. 174), Camus (p. 163-164), André Malraux (p. 441). Outros autores, cuja obra fez evoluir consideravelmente os instrumentos do pensar da coisa colonial, são mencionados, por exemplo, Marcel Mauss (p. 458), Jean Dresch (251), Cheikh Anta Diop (p. 183), Frantz Fanon (286) e Maxime Rodinson (p. 565), além de revistas como « Presença africana », que marcou as gerações da descolonização fazendo « a ligação com os intelectuais franceses » (p. 538), bem como editores como François Maspéro (p. 455) que abasteceu os militantes anti-colonialistas com obras de Castro, Ho Chi Minh, Basil Davidson e tantos outros.
Entre as dimensões culturais, poderia se singularizar a questão das línguas criadas pela própria colonização « pidgin » (p. 532), « petit nègre » (p. 527) , « pataouète » (p. 523) e « sabir » (p. 568), assim como seu impacto sobre o francês : termos próprios à história colonial ou por ela gerados como « força negra » (p. 302) « spahis » (p. 587) « méharistes », os policiais do deserto (p. 461); ou ainda « bled » palavra oriunda do árabe falado na Argélia que passsou na língua francesa para designar o campo ; « bidonville » (clássica tradução de favela), cuja origem é marroquina ; « béké », termo das Antilhas, até hoje empregado para os descendentes de plantadores ; « cafre » termo utilizado na ilha da Réunion para designar as populações mestiças (p. 160).
O artigo « folie et psychiatrie » (p. 302) evoca a obra pioneira de Frantz Fanon e a recém formada sociedade franco-argelina de psiquiatria, cujo primeiro congresso (2003) consagrou o reconhecimento científico dos traumas resultantes da colonização e guerras de libertação. O dossiê « Saúde » (p. 575-577) trata da epidemiologia, mas sobretudo do imaginário e da justificação da exploração colonial apresentada como compensada pela assistência primária à saúde das populações colonizadas:« Institutos Pasteur » (p. 381) ; « Médicos » (p. 459) « quinine » (p. 544). Os autores do Dicionário não hesitam em abordar assuntos difíceis como o dossiê sobre « mestiçagens e uniões mistas – Da marginalidade à pluralidade incontornável » (p. 465-470); « homossexualidade » (p. 361); « corpos – realidades e imaginários » (p. 223-227) « prostitutas » (p. 539), ao qual corresponde o artigo «masculinidade colonial » (p. 454-455). Embora haja um dossiê importante « mulheres – elas também têm uma história » (p. 287- 295) associado ao artigo « moças – Um novo tipo social nascido da colonização » (p. 387-389), sua presença, esparsa em outras entradas, inclusive biográficas (poucas), é discreta.
Em suma, Dicionário da colonização francesa é uma obra que prima pela coragem dos autores, abrangência e atualidade dos assuntos e sobriedade benvinda no tratamento.
Christine Rufino Dabat – Professora do Departamento de História da UFPE.
LIAUZU, Claude (Dir.). Dictionnaire de la colonisation française. Conselho científico: Hélène d’Almeida Topor, Pierre Brocheux, Myriam Cottias, Jean-Marc Regnault. Paris: Larousse, 2007. Resenha de: DABAT, Christine Rufino. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.26, n.1, p. 266-271, jan./jun. 2008. Acessar publicação original [DR]
Brasil-França: relações históricas no período colonial – VASCO (RIHGB)
VASCO, Mariz. Brasil-França: relações históricas no período colonial. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército (Bibliex), 2006. Resenha de: BELCHIOR, Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.168, n.434, p.283-287, jan./mar., 2007.
[IF]La Mer, la france et l´Amérique Latine | Christian Buchet
BUCHET, Christian; VERGÉ-FRANCESCHI, Michel (Dir.). La Mer, la france et l´Amérique Latine. Paris: PUPS, 2006. Resenha de: RIBEIRO, Marília de Azambuja. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.24, n.2, p.333-336, jul./dez. 2006.
Enseignement de l’histoire et mythologie nationale. Allemagne-France du début du XXe siècle aux années 1950 – BAUVOIS-CAUCHEPIN (HE)
BAUVOIS-CAUCHEPIN, Jeannie. Enseignement de l’histoire et mythologie nationale. Allemagne-France du début du XXe siècle aux années 1950. Berne: Peter Lang, 2002. 340p. – « L’Europe et les Europes, XIXe et XXe siècles ». Resenha de: BRUTER, Annie. Histoire de l’Education, v.105, p.105-106, 2005.
Cet ouvrage, issu d’une thèse soutenue en 1995, propose une comparaison de l’histoire enseignée en France et en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle (période entendue au sens large : des années 1880 aux années 1950), à partir d’un corpus de textes officiels (malheureusement parfois connus à travers des sources secondaires, d’où des erreurs plus ou moins importantes)1, de journaux professionnels où s’exprimaient les enseignants d’histoire, et de manuels français (au nombre de 59) et allemands (au nombre de 61), pour la plupart destinés à l’enseignement secondaire (88 sur 120). Comme l’indique le titre, cette comparaison s’inscrit dans le cadre d’une étude des mythologies nationales : la « littérature scolaire » est considérée comme « un poste d’observation privilégié des édifications mémorielles », qu’elle « métamorphose en mythe, intrinsèquement durable et collectif » (p. 17).
C’est le chapitre III de l’ouvrage, le plus long, qui correspond proprement à ce projet, les deux chapitres précédents constituant une sorte de « construction de l’objet » qui envisage tour à tour, pour chaque pays, le rapport entre histoire des historiens et histoire enseignée, l’histoire de la pédagogie de l’histoire et les caractères généraux de son enseignement, tandis qu’une section à la fin du chapitre I résume les tentatives franco-allemandes de discussion des manuels. Disons tout de suite que ces deux premiers chapitres posent, au moins pour ce qui est de l’enseignement historique français, le problème de la date de parution d’un travail déjà ancien. On comprend que Jeannie Bauvois-Cauchepin, à l’époque où elle a écrit sa thèse, n’ait pu tirer parti de recherches touchant de près son sujet, mais qui n’ont été publiées que plus tard2 (ce qui pose, soit dit en passant, le problème de l’organisation de recherches que rien ne coordonne). On comprend moins bien que, sans même parler de son texte, sa bibliographie n’ait pas été mise à jour depuis, ce qui amoindrit la valeur scientifique de l’ouvrage, en dépit de la présence de dix planches hors-texte et de divers index. Du moins l’auteur fait-elle preuve d’une sage prudence quant à la portée véritable des instructions officielles et à l’influence réelle des manuels (p. 59).
Décrire le contenu de ces manuels en France et en Allemagne à l’époque considérée est pourtant l’objet majeur du livre. C’est à quoi J. Bauvois-Cauchepin s’attache dans son chapitre III, en comparant le contenu de manuels allemands et français sur six points précis : mythe des origines, Charlemagne (peu aimé des nazis), Moyen Âge, Louis XIV et Frédéric de Prusse (les deux « hommes forts » des monarchies française et prussienne), Luther (donc la Réforme) et 1789 (considérés, chacun dans son pays, comme des moments-clés de l’histoire), guerre franco-allemande de 1870 et guerres mondiales. Ce chapitre apporte nombre d’éléments intéressants sur l’enseignement historique allemand de la première partie du XXe siècle, d’autant qu’il prend souvent appui sur des travaux menés en Allemagne après 1945, qu’il fait ainsi connaître au lecteur français. Les conclusions sont cependant souvent attendues, parfois faciles : la première moitié du XXe siècle apparaît bien comme un temps fort du discours historique nationaliste dans les deux pays, compte tenu du décalage lié aux défaites militaires qui l’ont exacerbé à des moments différents, après 1870 en France, après 1918 en Allemagne ; l’enseignement de l’histoire n’est qu’une entreprise de conformation idéologique dans les régimes autoritaires et totalitaires tels que le IIIe Reich, l’État français de Vichy, la R.D.A (on s’en doutait un peu) ; et l’exécration se substitue parfois à l’analyse, particulièrement quand il est question des manuels nazis (« délire », « amalgame décousu », etc.) : même légitime, l’indignation n’est pas un savoir. La « violence verbale instillée dans les manuels scolaires » national-socialistes, dont il est affirmé qu’elle « préparait et annonçait » les crimes perpétrés par le régime (p. 283), aurait mérité de faire l’objet d’une analyse prenant en compte sa rhétorique propre, outre son contenu.
Par ailleurs, en dépit de la périodisation adoptée, qui souligne la « volonté de renouvellement de l’enseignement historique » de la République de Weimar, bien des éléments relevés par J. Bauvois-Cauchepin militent pour l’idée d’une continuité de cet enseignement dans l’entre-deux-guerres, comme par exemple l’hostilité des professeurs d’histoire de l’époque de Weimar au régime et le fait que les nazis n’aient pas ressenti le besoin de mener d’épuration parmi eux (hors l’épuration raciale, bien entendu) après avoir pris le pouvoir (pp. 94-100) ; ou encore la présence, dans des manuels d’avant 1933, de mentions de la « race indo-germanique » (p. 155), ou de représentations du territoire allemand auxquelles « les nazis n’eurent pas grand-chose à ajouter » (pp. 259-260), etc. En d’autres termes, le « délire » nazi ne sortait pas du néant… J. Bauvois-Cauchepin le reconnaît d’ailleurs à la fin, lorsqu’elle identifie les années 1930, « dès avant le nazisme », comme un des « moments particuliers de crispation identitaire » en Allemagne (p. 281). Ainsi, le lien qu’elle semble parfois établir entre nature du régime politique et « mythologisation » de l’histoire enseignée est peut-être moins univoque qu’elle ne le dit.
Si on la suit volontiers lorsqu’elle évoque, en conclusion de ce chapitre, les diverses fonctions de l’histoire scolaire de la nation (« histoire de soi », histoire collective, leçon de morale, destin d’un territoire, etc.) et la complexité de son élaboration (pp. 271-284), les considérations finales laissent perplexe puisqu’elles reconnaissent à l’enseignement historique la possibilité d’une « distanciation » par rapport au mythe national, grâce aux conceptions « humanistes » de l’instruction – conceptions humanistes dont il ne nous est pas dit grand-chose sinon qu’elles se situent du côté de l’individuel, de la raison et de la logique (pp. 292-293). Passons sur les raccourcis historiques vertigineux (les encyclopédistes mis dans le même sac que Richelieu et Colbert !) que nous vaut cette incursion dans la « philosophie de l’instruction », mais le moins qu’on puisse dire est que l’optimisme de cette conclusion générale n’a guère été documenté par le reste du volume (sans doute fallait-il laisser au lecteur historien, enseignant ou chercheur, une lueur d’espoir après ce sombre exposé des méfaits de sa discipline). Pouvait-il en être autrement dans une étude définissant l’histoire scolaire uniquement comme lieu de manifestation du « mythe national » ? L’étroitesse de sa problématique de départ semble avoir empêché la recherche de J. Bauvois-Cauchepin de porter tous ses fruits, en dépit de la somme de connaissances déployée.
Notes
1. Par exemple, les petites classes des lycées du XIXe et de la première moitié du XXe siècle n’étaient pas des classes « primaires » (p. 132), primaire et secondaire constituant à l’époque deux ordres d’enseignement différents et non pas deux degrés d’un même système ; ou encore, « le fait de débuter les programmes du 6e[…] avec les Égyptiens et non plus avec Adam et Éve » ne date pas de 1890 (p. 163) mais de 1880, etc.
2. On songe ici aux ouvrages sur l’enseignement de l’histoire en France de Brigitte Dancel : Enseigner l’histoire à l’école primaire de la IIIe République, Paris, PUF, 1996 ; d’Évelyne Hery : Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée, 1870-1970, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999 ; et de Philippe Marchand : L’histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire. Textes officiels. Tome 1 : 1795-1914, Paris, INRP, 2000.
[IF]L’Enseignement de l’histoire en France. De l’Ancien Régime à nos jours – GARCIA; LEDUC (AHRF)
GARCIA, Patrick; LEDUC, Jean. L’Enseignement de l’histoire en France. De l’Ancien Régime à nos jours. Paris: Armand Colin, 2003, 320p. Resenha de: BIANCHI, Serge. Annales Historiques de la Révolution Française, v.338, p.181-183, oct./déc., 2004.
L’ouvrage que Patrick Garcia, enseignant en IUFM et Jean Leduc, enseignant en classes préparatoire proposent sur l’enseignement de l’histoire en France est un livre érudit, utile et particulièrement suggestif, voire salutaire, conçu pour des publics très divers. Nous n’avons retenu que les contenus de la fin de l’Ancien Régime à l’Empire pour en dégager les apports essentiels.
Avant 1830, l’histoire n’est pas une discipline à part entière enseignée dans les écoles, ce qu’elle deviendra avec la Monarchie de Juillet qui inaugure le « siècle de l’histoire ». Chaque régime trouve dans la place de l’histoire un révélateur des priorités politiques et morales de l’époque. Avant 1789, l’histoire peut être enseignée dans 50 des 348 collèges, les écoles royales militaires et quelques établissements féminins. Mais il s’agit d’un recueil d’exemples à suivre, particulièrement antiques et d’une morale en action, ou de l’histoire sainte. Rousseau qui voudrait « écarter tous les faits » s’oppose à La Chalotais (1763) qui désire par l’histoire distinguer les faits prouvés et à D’Alembert qui veut enseigner l’histoire à rebours. Dans cette histoire destinée à légitimer la monarchie et ses grands rois, la stabilité sociale et la mise à l’écart du peuple, la formation d’un citoyen n’est pas à l’ordre du jour.
Elle le devient dans le « traumatisme » révolutionnaire où la création d’un calendrier républicain est le symbole d’une volonté de recommencer le monde sur une « table rase », en niant les héritages monarchiques. L’histoire demeure dans la décennie une discipline à la fois secondaire et politique. Elle n’aurait guère de prise dans le primaire, pâtirait de la désorganisation des structures anciennes du secondaire et serait concurrencée par les autres modes de pédagogie civique pour adultes que sont les fêtes, le Panthéon (et la presse « populiste » des instituteurs des hameaux, les rédacteurs de la Feuille villageoise). La place de l’histoire varie dans les projets de Condorcet, Talleyrand, Le Peletier, Lakanal et Daunou. Elle est alors rarement dissociée de la géographie et de l’histoire des peuples libres. Les auteurs auraient pu se pencher sur les (rares) témoignages d’instituteurs et d’institutrices désireux de régénérer leurs élèves à partir d’exemples républicains (Brutus, Tell, certains philosophes), voire d’ouvrages et recueils d’actions héroïques contemporaines. Mais l’histoire semble réservée aux enfants des élites sous le Directoire, disposant parfois d’un horaire quotidien dans les écoles centrales, loin cependant des effectifs du dessin ou des mathématiques. Cette vision « classique » néglige peut-être certains acquis récents de l’historiographie scolaire de la révolution, autour des réalisations du primaire et de l’ubiquité des instituteurs républicains.
Mais les qualités de l’ouvrage sont mises en évidence avec l’Empire et la restauration. Bonaparte puis Napoléon veut réconcilier le passé monarchique au présent impérial en soulignant les continuités et les filiations. Mais l’histoire de César contre Brutus ne ferait pas recette auprès des enseignants, devenant au fil des années la servante de l’histoire religieuse et des lettres, un exercice de nomenclature et de mémorisation. Avec la Restauration commencent la caractérisation d’un enseignement parfois régulier, de 3 à 5 années dans les lycées, de 1 heure 30 à 2 h 30, reposant sur le premier « manuel » (Desmichels, 1825) ou le premier « précis » (1827). Les professeurs libéraux et légitimistes s’affrontent sur la nature de la Révolution, le contenu variant selon les orientations politiques du sommet, non sans décalages délicats à saisir sur le terrain.
Dans chacune des séquences, les auteurs ont voulu répondre pédagogiquement aux questions centrales qu’impliquent leur sujet : fonction de l’histoire, finalités sociales, périodes et thèmes enseignés, supports et diffusion des contenus, profils des enseignants. Même si les réactions du public et les témoignages des maîtres font défaut, las analyses emportent la conviction par le dosage maîtrisé de l’érudition et des problématiques. À partir de 1830, l’histoire entre dans les mœurs et les institutions, devient une passion française, de Guizot à Lavisse, le grand homme de l’ouvrage, à l’apogée de la « république des professeurs », pourfendue par Charles Péguy. Les auteurs scrutent les programmes, les horaires, les contenus, les réactions des gouvernants et du corps enseignants, les modes, les interrogations de la profession et du public, scolaire et adulte, les mutations des méthodes entre cours magistral, commentaire de documents et travaux pratiques, selon les niveaux d’enseignement. Les spécificités françaises, le lien si étroit entre enseignement et recherche universitaire, sont rendues dans leurs richesse et leurs ambiguïtés. L’évolution de l’agrégation est particulièrement suggestive, d’abord générale (1762), puis liée à la géographie (1830), puis féminine (1884), puis indépendante (1950), puis détachée progressivement du Capes (entre 1991 et 2004) : elle comprend plus ou moins d’épreuves écrites et orales, un moment une épreuve de correction de copie, un stage controversé…
C’est dire, au delà de la période révolutionnaire la richesse de cet ouvrage, qui complète avec bonheur les livres de René Grevet (L’avènement de l’école contemporaine) et d’Evelyne Héry (Un siècle d’enseignement de l’histoire) en ouvrant des perspectives neuves, mêlées à une connaissance particulièrement précise (et actualisée) du terrain pour les deux auteurs. On sort de la lecture avec le sentiment réconfortant d’une prise de conscience de la plupart des potentialités du métier d’historien, au terme d’expérimentations de plus de deux siècles, mettant en scène des générations d’acteurs confrontés aux mêmes dilemmes des finalités – morale, civique, intellectuelle et critique – de notre discipline.
Serge Bianchi
[IF]L’Enseignement de l’histoire en France. De l’Ancien Régime à nos jours – GARCIA; LEDUC (CH-RHC)
GARCIA, Patrick; LEDUC, Jean. L’Enseignement de l’histoire en France. De l’Ancien Régime à nos jours. Paris: Armand Colin, 2003, 320p. Resenha de: PINGUÉ, Dannièle. Chaiers d’Histoire – Revue d’Histoire Critique, v.93, 2004.
Dans le cadre d’une « histoire de l’éducation » en pleine expansion, les recherches sur l’enseignement de l’histoire se sont multipliées depuis plusieurs décennies. Comme pour les autres disciplines, « l’amont » de l’acte éducatif est mieux connu que son « aval » ; en « amont », sur ce qu’il est prescrit d’enseigner, on dispose de sources abondantes et accessibles, au premier rang desquelles figurent les documents officiels (programmes et commentaires) et les manuels ; en aval, les pratiques dans les classes et l’impact de l’apprentissage de la discipline sont beaucoup plus difficiles à appréhender.
L’excellent ouvrage de Patrick Garcia et Jean Leduc propose un état de la question. Portant sur une durée de plus de trois siècles, des premiers balbutiements de la discipline scolaire à la fin de l’Ancien Régime aux inflexions les plus récentes, il a pour fil conducteur cinq interrogations : pourquoi, pour qui, quoi, comment, par qui. Selon les auteurs, l’évolution des finalités, des contenus et des pratiques ne permet pas de distinguer de « grandes périodes qui seraient résolument distinctes », mais dessine néanmoins « quatre mouvements aux rythmes différents ».
De la fin de l’Ancien Régime à la fin de la Restauration, une ébauche de l’enseignement de l’histoire se met en place. À la suite d’Annie Bruner (Histoire enseignée au Grand Siècle. Naissance d’une pédagogie, Paris, Belin, 1997), les auteurs considèrent que l’on peut parler d’enseignement de l’histoire à partir du moment où les trois critères suivants sont réunis : l’histoire enseignée ne se limite plus au commentaire des auteurs de l’Antiquité ni à l’histoire sainte ; tout en restant une morale en action (recueil d’exemples à suivre ou à rejeter), elle commence à avoir d’autres finalités ; sans cesser d’être abordée dans le cadre du préceptorat individuel, elle apparaît dans le cursus de certaines institutions scolaires. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, ces conditions commencent à être réunies. Ainsi, à la veille de la Révolution, l’histoire est présente, en tant que discipline autonome, dans un cinquième environ des collèges et il est intéressant de noter que la géographie lui est déjà associée ; débutant par l’histoire sainte, le cursus se poursuit avec l’histoire de l’Antiquité, puis l’histoire nationale. Certains penseurs des Lumières souhaiteraient que cet enseignement prenne davantage en compte le passé récent et lui assignent explicitement une finalité civique (contribuer à la formation de l’esprit critique). Sous les différents régimes qui se succèdent de 1789 à 1830, l’histoire confirme progressivement sa présence dans l’enseignement secondaire et voit s’ajouter à sa finalité morale une finalité politique de plus en plus nette (faire aimer aux élèves le régime existant).
De 1830 à la fin du xixe siècle, son enseignement se généralise et une sorte de modèle s’installe. Ce processus bénéficie d’un contexte particulièrement favorable – comme dans d’autres pays, le xixe siècle est en France le « siècle de l’histoire » (Gabriel Monod, 1876) – et se déroule en deux temps. De la Monarchie de Juillet au Second Empire, sont posés les premiers fondements du modèle qui va triompher à la fin du xixe siècle : l’histoire est introduite à l’école primaire et son enseignement dans le secondaire est étendu à tous les degrés du cursus ; des innovations ont lieu tant au niveau des programmes que des méthodes (introduction de l’histoire contemporaine en classe de philosophie, expérimentation de la progression « concentrique » dans les écoles primaires du département de la Seine…) ; sa finalité patriotique est de plus en plus affichée. Mais c’est dans les premières décennies de la Troisième République – « le moment Lavisse » – que l’histoire s’impose pleinement dans l’enseignement : dans le contexte de la victoire de la République et de l’émergence du courant méthodique, elle apparaît alors à la fois comme une nécessité politique et comme une science, les deux aspects, d’ailleurs, n’étant pas contradictoires. Elle affirme sa présence à tous les degrés et dans toutes les filières de la scolarité primaire et secondaire. Cet enseignement est éminemment politique : sa principale finalité est de favoriser chez les élèves l’éclosion du patriotisme et d’un sentiment d’identité nationale ; les cours portent principalement sur le territoire de la France : en totalité dans le primaire, en priorité dans le secondaire à partir de la troisième ; pour mieux faire connaître et aimer ce territoire, l’enseignement de la géographie est définitivement associé à celui de l’histoire. Si la majorité des maîtres ne sont pas des spécialistes de ces disciplines, ils connaissent mieux qu’autrefois les contenus qu’ils enseignent ; par contre, malgré les exhortations de leurs supérieurs à rendre les cours plus vivants, leurs méthodes n’évoluent guère : surtout dans le secondaire, elles restent fondées sur le cours magistral et l’appel exclusif aux facultés de mémorisation des élèves.
Dans la première moitié du xxe siècle, ce modèle ne connaît guère de changements importants. Certes, les dernières années de la IIIe République voient se développer des débats autour des contenus, des finalités, des méthodes. Ainsi, la place de l’histoire ancienne dans le secondaire est discutée ; le patriotisme guerrier est violemment contesté par les pacifistes, tandis que l’historien des Annales Lucien Febvre condamne le principe même de l’utilisation politique de l’histoire (« L’histoire qui sert, c’est une histoire serve » – Revue de synthèse historique, t. 30, 1920, cité p. 148 –) ; les autorités continuent à recommander, toujours sans grand succès, la mise en activité des élèves et l’utilisation des documents. Mais tout cela n’entraîne guère de modifications profondes. La même continuité prévaut durant la Seconde Guerre mondiale et dans la décennie d’après-guerre.
Par contre, à partir des années 1950, s’affirment les « mises en cause » qui vont conduire à la « crise » des années 1970 puis au « recentrage » dont les effets se prolongent aujourd’hui. Trois facteurs qui ne sont pas nouveaux mais qui prennent alors de l’ampleur se conjuguent pour remettre en cause le modèle qui s’est imposé à la fin du xixe siècle : l’essor des courants pédagogiques pour qui l’acquisition des capacités doit primer sur celle des connaissances ; le triomphe du courant historiographique de « l’École des Annales » alors que l’approche méthodique est toujours en vigueur à l’école ; enfin, dans le contexte de la décolonisation et des débuts de la construction européenne, la contestation plus vive que jamais de l’« instrumentalisation » « nationaliste » de l’histoire enseignée. Cet « assemblage hétérogène » de critiques émanant de tous les horizons politiques conduit à une double série de mesures : à l’école primaire, dès 1969, l’histoire et la géographie sont fondues, avec la physique et les sciences naturelles, dans un bloc de « disciplines d’éveil », sans horaires ni programmes précis, qui deviennent par la suite des « activités d’éveil » ; au collège, en 1977, la « réforme Haby » intègre les deux disciplines dans un ensemble intitulé « histoire, géographie, économie, éducation civique », accompagné d’« objectifs » privilégiant les « compétences » par rapport aux connaissances. Sur le plan des finalités de cet enseignement, la rupture est totale avec la période précédente, la formation intellectuelle de l’élève devenant l’unique objectif. Face à cette entreprise perçue comme une tentative de « liquidation » du passé national, se forme immédiatement une coalition aussi hétéroclite que la précédente, dont le contenu des protestations peut se résumer dans le slogan : « Parents, on n’enseigne plus l’histoire à vos enfants ! » (titre paru en première page du numéro du Figaro Magazine du 20 octobre 1979). Le ministère, dans l’obligation de calmer le jeu, impulse alors, au cours des années 1980, une large réflexion associant des universitaires, des membres de l’inspection, des enseignants et d’autres personnes directement concernées par l’histoire. C’est le temps des colloques, des commissions, des GTD (Groupes de Travail Disciplinaire). De ce travail foisonnant va naître une cascade de « nouveaux programmes » et de « documents d’accompagnement » dont les derniers nés datent de 1995-98 pour le collège, 2000-2002 pour le lycée et 2002 pour l’école primaire.
Pour Patrick Garcia et Jean Leduc, aujourd’hui (c’est-à-dire en 2002), la « continuité » prévaut, en particulier en ce qui concerne la place de l’histoire dans les horaires et les examens, ses liens avec la géographie et l’éducation civique, l’organisation générale des programmes, et, selon eux, la « défaite des didacticiens », du moins dans le secondaire. Néanmoins, l’influence du « tournant historiographique » des années 1980 (montée de l’intérêt des historiens français pour les réflexions sur leur discipline, et émergence de la « nouvelle histoire ») est perceptible à travers l’apparition dans les programmes et les manuels de préoccupations épistémologiques et le souci de « défataliser l’histoire ». La recrudescence de la demande sociale (liée au souci des Français de retrouver des racines) et l’enjeu de la construction européenne sont également pris en compte, si bien que la finalité politique de l’enseignement de l’histoire « s’ordonne de plus en plus autour de la notion de prise de conscience du patrimoine culturel européen ». Les auteurs soulignent enfin le caractère innovant des programmes de 2002 du cycle 3 de l’école primaire, tout nouveaux au moment de l’achèvement de leur ouvrage.
Au terme de ce parcours, Patrick Garcia et Jean Leduc estiment que sur la longue durée s’affirment des éléments de continuité qui fondent « une culture disciplinaire » de l’enseignement de l’histoire en France. La continuité prévaut selon eux dans cinq domaines : les finalités assignées à la discipline ; les liens étroits entre l’enseignement et la recherche universitaire ; le mariage entre l’histoire et la géographie ; la façon d’enseigner l’histoire ; et enfin le mode de recrutement des enseignants. C’est par rapport à cette « tradition » que se produisent les inflexions. « Plus que par des ruptures, l’histoire de l’enseignement en France est marquée par un jeu entre traditions et inflexions ». En effet, toutes les tentatives de réforme trop brutales s’étant soldées par des échecs, les auteurs des programmes cherchent à proposer aujourd’hui des « inflexions réalistes ». Mais, selon les auteurs, cette politique de compromis n’est pas synonyme d’inertie, et finalement, « l’évolution l’emporte ».
9Comme on peut le voir, plus qu’un simple historique, cet ouvrage de synthèse à la fois concis et très nuancé, qui n’oublie aucun aspect de la question, propose une réflexion approfondie sur la signification de l’enseignement de l’histoire d’hier à aujourd’hui. Nous ne saurions trop en recommander la lecture à tous ceux, enseignants et futurs enseignants notamment, qui s’intéressent particulièrement à cette question.
Danièle Pingué
[IF]O imaginário da cidade. Visões literárias do urbano | Sandra Jathay Pesavento
Gravuras, desenhos e fotografias mostrando os vários lugares e espaços originais das cidades de Paris, Rio de Janeiro e Porto Alegre, em meados do século XIX e inícios do XX, compõem o livro Imaginário da Cidade. Visões literárias do urbano, de Sandra Jatahy Pesavento2. Algumas dessas imagens nos remetem à Paris de 1739 a 1876, aos sobrados sombrios das ruas Marmousets, Pirouette e de la Colombe – hoje desaparecidas em função das reformas urbanas. Outras revelam paisagens de Porto Alegre (no início do século XX) e do Rio de Janeiro (na segunda metade do século XIX). O mercado público, as praças e as ruas da capital gaúcha são flagrados em sua modesta suntuosidade por fotógrafos desconhecidos. A modernidade da Avenida Central da cidade carioca, com seus suntuosos palacetes, se justapõe aos registros de moradias populares (como os cortiços) e da destruição de morros da cidade – cenas captadas pelas lentes das câmeras de Victor Frond, Marc Ferrez e Augusto Malta. Leia Mais
Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI-XVIII) – PALAZZO (VH)
PALAZZO, Carmen Lícia. Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI-XVIII). Coleção Nova Vetera. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. Resenha de: PIERONI, Geraldo. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.26, p. 153-155, jan., 2002.
André Thevet, Jean de Léry, Claude d’Abbeville, Yves d’Evreux… Voilà les français! Estes são apenas alguns dos Messieurs que atravessaram o mar oceano e, deslumbrados, desembarcaram na costa brasileira. O que procuravam nesta imensa Terra Brasilis estes nossos cultos viajantes? Talvez poderíamos arriscar uma resposta comum a todos eles: conhecer o Novo Mundo: exótico, diferente, antítese da Europa civilizada.
Relatar o que eles observaram não é o objetivo primeiro de Carmen Lícia Palazzo ao escrever Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (séculos XVI a XVIII). Sua intenção vai muito além do evidente. A autora, historiadora experiente, doutora em História pela Universidade de Brasília, com muita competência e domínio da historiografia, apresenta ao leitor um excelente trabalho. Sua investigação é criteriosa acerca dos múltiplos e matizados olhares que os viajantes franceses lançaram sobre o Brasil, desconhecido em muitos aspectos, porém fascinantemente atraente.
Os documentos utilizados foram, sobretudo, os registros de viagens e obras eruditas de pensadores que debruçaram, embora muitas vezes sem o contato direto, sobre estas novas terras d’além mar.
Com relação à idéia sobre o Brasil, há interrupção ou prosseguimento nos olhares dos franceses? Problematizou a autora! Sua conclusão foi que estes viajantes e pensadores dos séculos XVI ao XVIII deixaram registrados inúmeros comentários e obras onde se pode perceber pontos de vista que foram se transformando. Este movimento de mudanças, no entanto, não se dá no ritmo dos cortes cronológicos tradicionais. Uma leitura cuidadosa dos escritos e, a título complementar, da iconografia de cada época, permitiu à historiadora detectar continuidades relevantes inseridas no universo mental dos viajantes – continuidades estas que se mantêm até quase o final do século XVII. Somente a partir do século XVIII, particularmente com o iluminista La Condamine, é que se pode verificar uma efetiva mudança nas visões francesas do Brasil.
Recorrendo aos recursos da história comparativa, a historiadora aborda e confronta dois momentos específicos: o das permanências (séculos XVI-XVIII) e o da ruptura capturada pelas visões da modernidade (século XVIII).
A exemplo de Jacques Le Goff, defensor, entre outros, de uma “longa Idade Média” que se prolonga até quase às portas da Revolução Industrial, a autora utiliza semelhantes conceitos fixando-os no contexto das grandes viagens e mentalidades culturais dos séculos XVI e XVII. A própria iconografia corroborou a idéia das permanências. Gravuras e telas da época evidenciaram elementos que remetiam ao imaginário medieval. As narrativas e ilustrações dos viajantes assimilaram abundantemente figuras extraordinárias, demônios e monstros. Seus discursos são destoantes das características culturais e políticas da Idade Moderna. Neles prevalecem os componentes ainda amarrados ao imaginário Medievo. O espaço dedicado aos mitos e utopias é enorme: o fantástico predomina. Só a partir do século XVIII, com a razão iluminista, é que se evidenciam as rupturas da assim chamada modernidade. Daí para frente ciência e razão são os principais instrumentos para a leitura do Outro – distante e diferente – para buscar entendê-lo e, sobretudo, explicá-lo. E como conclui a autora: “Com o abandono de mitos e maravilhas, é o espaço do sonho que se retrai”.
O trabalho de base contido no livro permite melhor compreender os mecanismos das transformações que se tornam visíveis somente se inseridas no tempo longo. Foi exatamente este recurso teórico que Carmen Lícia utilizou para confeccionar a textura do seu livro. No prudente labor de perceber as mutações na longa duração, como já referido acima, foram estudadas iconografias da época e escritos de pensadores, como o abade Raynal, Voltaire e Buffon. Neste conjunto de representações é possível desvelar perfis de comportamentos e imagens que, prolongando ou alterando-se gradativamente no tempo, resultam novas e movediças nuanças das representações do Brasil.
Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI a XVIII) é uma obra profundamente instrutiva e sua cronologia é primorosa. Rupturas ou continuidades? Permanências medievais ou triunfo das Luzes? Neste caso a razão iluminista não foi mais aberta à alteridade do que o foram os viajantes anteriores que aceitaram o mítico e o maravilhoso como explicações para a diferença.
Geraldo Pieroni – Doutor em História pela Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Professor na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Autor, entre outros, dos livros: Os Excluídos do Reino, editora UnB, Brasília: 2000 e Vadios, Ciganos, Heréticos e Bruxas: os degredados no Brasil colônia. Editora Bertrand do Brasil, Rio de Janeiro: 2000.
[DR]
Il gênio dello storico: le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e Ia tradizione metodológica francese | Massimo Mastrogregori
Resenhista
Raimundo Barroso Cordeiro Junior – Professor da Universidade Federal da Paraíba.
Referências desta Resenha
MASTROGREGORI, Massimo. Il gênio dello storico: le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e Ia tradizione metodológica francese. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1987. Resenha de: CORDEIRO JUNIOR, Raimundo Barroso. História Revista. Goiânia, v.7, 1-2, p.157-167, jan./dez.2002. Acesso apenas pelo link original [DR]
O índio brasileiro e a Revolução Francesa: as origens brasileiras da teoria da bondade natural | Afonso Arinos de Melo Franco
Resenhista
Libertad Borges Bittencourt – Professora Doutora do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás-
Referências desta Resenha
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O índio brasileiro e a Revolução Francesa: as origens brasileiras da teoria da bondade natural. Introdução de Alberto Venâncio Filho. Prefácio de Sérgio Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000. Resenha de: BITTENCOURT, Libertad Borges. História Revista. Goiânia, v.6, n.2, p.179-185, jul./dez.2001. Acesso apenas pelo link original [DR]
As Relações entre o Brasil e o Paraguai (1889-1930): do afastamento pragmático à reaproximação cautelosa | Francisco M. Doratioto || José Martí e Domingo Sarmento: duas idéias de construção da hispano-América | Dinair A. Silva || Segurança Coletiva e Segurança Nacional: a Colômbia entre 1950-1982 | César Miguel Torres Del Rio || Entre Mitos/ Utopia e Razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI a XVIII) | Carmen L. P. Almeida || A Parceria Bloqueada: as relações entre França e Brasil/ 1945-2000 | Antônio C. M. Lessa || Políticas Semelhantes em Momentos Diferentes: exame e comparação entre a Política Externa Independente (1961-1964) e o Pragmatismo Responsável (1974-1979) | Luiz F. Ligiéro || Dimensões Culturais nas Relações Sindicais entre o Brasil e a Itália (1968-1995) | Adriano Sandri || Opinião Pública e Política Exterior nos governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964) | Tânia M. P. G. Manzur || O Parlamento e a Política Externa Brasileira (1961- 1967) | Antônio J. Barbosa || Los Palestinos: historia de una guerra sin fin y de una paz ilusoria en el cercano oriente | Cristina R. Sivolella || Do Pragmatismo Consciente à Parceria Estratégica: as relações Brasil-África do Sul (1918-2000) | Pio Penna Filho || Entre América e Europa: a política externa brasileira na década de 1920 | Eugênio V. Garcia
As relações internacionais, enquanto objeto de estudo, vêm se desenvolvendo de maneira satisfatória nos últimos anos no Brasil. Parte desse avanço é devido ao surgimento de cursos de pós-graduação na área, que colocam o estudo das relações internacionais, de modo geral, e a inserção externa do Brasil, em particular, no centro das preocupações de pesquisa. O primeiro programa de pós-graduação em História das Relações Internacionais na América do Sul foi criado na Universidade de Brasília, em 1976. Em torno desse Programa formou-se uma tradição brasiliense de estudo de relações internacionais. Ao longo de mais de vinte anos de atuação, o Programa produziu cerca de sessenta dissertações de mestrado e, com a implantação do doutorado em 1994, doze teses.
Uma particularidade das teses de doutorado do Programa é a diversidade temática. A ampliação dessa linha de pesquisa permitiu a modernização da História das Relações Internacionais. Assim, junto com os estudos que privilegiam as relações bilaterais do Brasil, inseriram-se novos temas e objetos de investigação. Com efeito, há estudos que aprofundam a análise das parcerias estratégicas, a opinião pública, a imagem, a segurança internacional, o pensamento político, as relações internacionais do Brasil e as relações internacionais contemporâneas. Tais estudos evidenciam a diversificação de olhares sobre a inserção internacional do Brasil. Leia Mais
Comment on enseigne l’histoire à nos enfants – COMELLI (CC)
COMELLI, Dominique. Comment on enseigne l’histoire à nos enfants. Nantes : Librairie L’Atalante – Comme un accordéon, 2001. 109p. Resenha de: HEIMBERG, Charles. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.1, p.218-219, 2001.
Ce petit livre, très incisif, sur l’histoire enseignée se lit avec plaisir et intérêt. Il émane d’une enseignante française qui est aussi syndicaliste et se soucie par ailleurs des perceptions des parents d’élèves. Son point de vue est original et ses conclusions, qui nous paraissent pouvoir être largement partagées, partent d’un assez triste constat qui est sans doute, et malheureusement, incontestable : beaucoup trop d’élèves, en effet, s’ennuient au cours d’histoire, et pas seulement dans l’univers de Harry Potter.
Ainsi l’ouvrage propose-t-il une réflexion synthétique, fondée sur une riche expérience personnelle et quelques références bibliographiques fort bien ciblées. En historienne, Dominique Comelli sait aussi inscrire ses observations dans une lente évolution dont elle rappelle les grandes lignes. Evidemment, sa démarche dépend des réalités de la situa- tion française, d’où bien des précisions cri tiques sur la manière dont y sont élaborés les programmes d’histoire. Mais les problèmes qu’elle soulève se posent également en dehors de l’Hexagone.
L’une des questions essentielles qui sont abordées par l’enseignante concerne notam- ment la toute-puissance du roman national, et la volonté officielle de construire une iden- tité nationale à partir de l’histoire enseignée. Cette injonction patrimoniale est-elle vrai- ment indispensable? Et de quel droit s’im- pose-t-elle dans des programmes qui ne sont guère discutés et ne tiennent pas compte des évolutions récentes de l’histoire scientifique ? La domination des activités – et des exi- gences – de mémorisation ne cache-t-elle pas en fin de compte une incapacité de par- tir des préoccupations des élèves pour leur permettre de construire du sens à partir de l’histoire ? Et qu’en est-il, dans le récit linéaire de l’histoire scolaire qui est ainsi induite, de la pluralité des possibles, du poids de l’incertitude, des expériences humaines successives que l’histoire, la vraie, permet de reconstruire?
Que cette histoire enseignée soit ainsi réduite à l’état de « squelette factuel » explique pour une large part cet ennui qui la poursuit. Et la conclusion de Dominique Comelli pourrait figurer en exergue de notre revue tant elle exprime avec pertinence, et en des termes très évocateurs, ce qui est l’enjeu principal du renouvellement de cette discipline scolaire :
« C’est vrai, toutes ces démarches prennent du temps.
Mais pourquoi vouloir tout faire, tout dire ? Ne vaut-il pas mieux choisir des moments que l’on approfondira ?
Vouloir donner aux élèves une fresque simplifiée du monde et du passé était peut-être un objectif
louable quand les livres étaient rares et chers et quand les enfants, une fois l’école quittée, avaient peu de chances d’enrichir leurs connais- sances. Mais ce n’est plus le cas maintenant. Mieux vaut avoir le mode d’emploi de l’his- toire pour pouvoir l’écrire à son tour. »
Charles Heimberg – Institut de Formation des Maîtres (IFMES), Genève.
[IF]
Religion grecque et politique française au XIXe siecle, Dionysos et Marianne – TRABULSI (VH)
TRABULSI, José Antônio Dabdab. Religion grecque et politique française au XIXe siecle, Dionysos et Marianne. Paris: L’Harmattan, 1998. Resenha de: FUNARI, Pedro Paulo A. Varia História, Belo Horizonte, v.15, n.20, p. 186-190, mar., 1999.
Raros são os historiadores brasileiros que publicam livros no exterior e, ainda mais infreqüentes, aqueles que o fazem sobre temas distantes da História do Brasil. O Professor Dabdab Trabulsi, da Universidade Federal de Minas Gerais, já havia publicado, em Paris, um volume sobre Dionysisme, pouvoir et socíété (Belles Lettres, 1990), obra que recebera prêmio, na França, por seu valor e, agora, publica um trabalho ainda mais ambicioso. Trata-se de um estudo, propriamente, historiográfico, sobre a interpenetração de ciência e política, no século XIX, centrando-se sobre o tratamento dispensado à religião grega pela erudição francesa, no contexto da História da França.
Wolfgang J. Mommsen1 lembrava que já Goethe advertira que cada geração cria seu próprio passado e Dabdab Trabulsi, logo de início, explícita uma abordagem que procura dar conta do contexto de produção da historiografia: “há que examinar os condicionamentos diversos que influem sobre a elaboração dos modelos de interpretação da História e, ao mesmo tempo, estudar a dinâmica científica, que tem uma dinâmica própria, e que pode fazer perdurar certos modelos bem adiante dos contextos sociais e intelectuais que lhes deram origem” (p. 9). A partir deste enfoque, o primeiro capítulo aborda a evolução política e intelectual francesa no século XIX, em especial a oposição entre catolicismo e laicização e suas repercussões tanto no ensino básico como superior. No segundo capítulo, dedicado aos fundamentos do debate historiográfico, debruça-se sobre a religião grega em meados do século, aprofundando-se em Fustel, Renan, Duruy, Girard, Boissier. Destaque-se que o estilo francês, literário, por oposição à erudição alemã, é relacionado, após a derrota de 1870-71, à superioridade da Educação alemã, que teria garantido a vitória militar aos prussianos (p. 37).
No capítulo terceiro, “A Idade da Erudição Triunfante”, a emulação à erudição alemã, de cunho filológico, acaba por produzir seus resultados, a começar pelo Dictíonnaire des antiquítés grecques et romaines, de C. Daremberg, E. Saglio e E. Pottier (a partir de 1877). O autor estuda os verbetes da enciclopédia que se referem a Dioniso e dialoga com os autores daquela época como se fossem nossos contemporâneos: Gerard faz uma “muito boa” apresentação, Lenormant é “demasiado etimológico”, Legrand compreende melhor as mênades do que um autor atual, Devereux, “que não conseguiu compreender”, algo que Legrand já explicara no século passado. Devereux “está totalmente equivocado” (p. 65)2 . Embora pouco usuais na historiografia anglo-saxônica e alemã, estes juízos e mesclas de abordagens afastadas no tempo podem ser o resultado de uma fluidez tipicamente francesa3 . Ainda neste capítulo, menciona en passant a “invenção do Oriente”, ainda que não explore o conceito de “invenção”, tão explorado na historiografia contemporânea, em geral, e sobre a Antigüidade, em particular4.
Em seguida, volta-se para a vulgarização, as polêmicas e os manuais escolares, objeto pouco explorado pelos estudiosos da historiografia. A imagem dominante, que continuará como referência por longo tempo, será, segundo o autor, aquela elaborada nos grandes trabalhos de erudição, dominados pelo positivismo e a filologia comparativa indo-européia. Com o tempo, a Antropologia começa a deslocar a lingüística como modelo explicativo, comparando os antigos aos “primitivos”. Os livros didáticos. por outro lado, seguem, com certo atraso, os autores eruditos, dando pouco destaque a Dioniso, associado à Ásia e, desta forma, à oposição ocidente/oriente, aludida acima, quando se mencionou a invenção do Oriente. A breve conclusão constata que “o exame dos diversos autores mostrou-nos que estas teorias e métodos foram elaborados no calor da luta social e política” e que “a História da Antigüidade e de sua religião participou na obra de laicização dos espíritos que contribuiu para consolidar a República. Seu esforço metodológico foi “exportado” para outros domínios e intelectuais saídos dos estudos da Antigüidade levaram este sopro crítico para a criação de outras disciplinas científicas” (p. 94).
Dabdab Trabulsi constrói um quadro coerente, cujo ponto alto consiste, precisamente, na articulação entre o estudo da Antigüidade e a política francesa. A oposição entre as correntes católicas e laicas, tão presente na França do oitocentos, apresenta-se, de forma explícita, nas formulações sobre a religião grega e o dionisismo, em particular. O estilo literário francês, oposto ao estilo erudito alemão, liga-se à influência crescente e irresistível da ciência alemã, cujos parâmetros, gradativamente, passam a ser reconhecidos pelos estudiosos franceses. Neste contexto, os autores alemães citados pelos franceses aparecem no livro apenas de forma indireta, sempre referidos pelos autores franceses estudados. Isto explica que a os fundamentos da filologia indo-européia, criação alemã por excelência, apareça de forma superficial. H.J. Klaproth, criador do termo lndogermanisch, em 1823, ainda usado pela historiografia alemã, foi apropriado pelos franceses, alterando seu nome para “IndoEuropeu”, menos germânico e intenso ao nacionalismo francês. A noção de Ursprache não pode, além disso, ser separada de Urvolke Urheimat: uma língua, um povo, uma cultura. Naturalmente, a leitura francesa dos alemães era muito seletiva e não é casual que nada disso apareça nos autores franceses. Uma comparação, pois, entre o que diziam os franceses dos alemães e os originais alemães muito poderia contribuir para elucidar a especificidade da construção discursiva francesa.
A construção discursiva dá-se, assim, por contrastes, e a historiografia francesa não se mirava e diferenciava apenas na alemã, mas há, também, uma oposição por silêncio: a historiografia em língua inglesa. Se os franceses mantinham uma relação particularmente complexa com os alemães, o silêncio quanto à literatura erudita britânica não podia ser mais significativa, especialmente após a derrota napoleônica. Os clássicos britânicos sobre a religião grega, desde Potter, Blackwell, Musgrave, Milford e Jones, nos séculos XVII e XVIII, chegando a Gladstone e Brown, já no século XIX5 , não foram ignorados à toa pela erudição francesa do século XIX, pois o referencial, por um lado protestante e por outro monárquico, não encontrava ressonância na oposição francesa entre católicos e laicos. A historiografia de língua inglesa tem ressaltado, nos últimos anos, que, a despeito desse silêncio francês, havia relações íntimas entre os paradigmas interpretativos que se formavam, em particular no que se refere à hermenêutica filológica e suas derivações colonialistas e racistas6 . Este contexto permitiria notar que o estudo da Antigüidade não apenas serviu para fortalecer a laicização dos espíritos como, principalmente, para assentar as bases de uma Weltanschauung que, a um só tempo, se queria neutra e científica e que se fundava em classificações iníquas. O anti-semitismo, primeiro latente e, depois, ativo e triunfante é só uma das manifestações desse novo paradigma. Ainda que tema pouco explorado por Dabdab Trabulsi, diversos autores franceses estudados neste volume não escondem seu propósito de naturalização da superioridade grega frente à inferioridade oriental. Neste sentido, o caso Dreyfus revela este outro lado do êxito dos novos paradigmas, com um novo anti-semitismo, agora científico, por oposição àquele religioso.
De toda forma, o livro de Dabab Trabulsi contribui para que se entenda melhor como a historiografia francesa continua a preferir imaginar-se auto-suficiente e com uma contribuição sempre positiva para a sociedade francesa. Já se mencionou, mais de uma vez, que a França tem dificuldade em lidar com um passado nem sempre tão humanista quanto sua consciência gostaria que fosse, nem tão autônomo e original como conviria ao nacionalismo. Dionysos et Marianne insere-se bem nesta tradição e o autor, ainda que brasileiro, não deixa de adotar uma perspectiva eminentemente francesa. O mérito maior desta obra consiste em demonstrar que também um brasileiro pode escrever um estudo historiográfico à francesa e para os franceses, mérito tanto maior quanto Dabdab Trabulsi retoma e vivifica estes valores com competência e conhecimento de causa. Até mesmo o estilo da escrita francesa do autor, envolvente e acolhedor, favorece esta identificação do leitor com os argumentos apresentados. O volume constitui, pois, uma leitura agradável e recomendada a todos os que se interessam pelo estudo da historiografia.
Notas
1… die bekannte. schon von Johann Wolfgang Goethe hervorgehobene tatsache. dass eine jede Generation die Vergangenheit die Geschichte. in der si wiedererkennt; ihr Geschichtsbild ist Teil ihrer geistig Kulturelfen und nicht selten auch ihrer politischen ldentitat. em Historlsche Zeltscrift. 238, 1, 1984, Die Sprache des Historikers, p. 80.
2 Contraste-se com Ellen Somekawa & Elizabeth A. Smith: there is no one neutral/po/itical position from which to view events and hence no one correct intepretation, em Journal of Social Hlstory, 1988, 22,1, Theorizing the writing of history, p. 154.
3 Segundo Ernest Schulin, ich habe versucht. den Weg einzelner bedeutender Geschchtswissenschaften in unserem Jahrhundert zu skizzeieren: … der franzosischen mil ihrer breiten, unideo/ogischen Vergangenheits rekonstruktion. em Hlstorische Zeitschrlft. 245, 1, 1987, Geschichtswissenschaft in unserem Jahrhundert. Probleme und Umrisse einer Geschichte der Historie, p. 29.
4 Cf. Mark Golden & Peter Toohey (orgs), lnventing Ancient Culture, Londres. Routedge, 1997.
5 J. Potter, Archaeologia Graeca, or the Antiquities of Greece, Londres, 1697; T. Blackwell, Enquiry into the Life and Writing of Homer, Londres. 1735; S Musgrave, On lhe Graecian Mythology, Londres, 1782; W. Mitford, The History oi Greece. Londres, 1784-1804; W Jones, on the gods of Greece, ltaly and lndia, em The Works of Sir William Jones, vol.1 ” Londres. 1807; W Gladstone, Juventus Mundi: The Gods and Men of the Heroic Age, Londres, Macmillan,1869: R. Brown, Semitic influences in Hellenic Mythology, Londres, 1898.
6 Cf. M. Bernal, Studies in History and Phílosophy of Science, 1993, 24,4, Essay review, Paradise Lost, pp. 669-675; M. Bernal, Social Construction of the Past, organizado por G. Bond & A. Gilliam. Londres. Routledge, 1994, The image of Ancient Greece as a tool for colonialism and European hegemongy, pp. 119-128; E. M. Wood, Peasant-Cítízen and Slave, The Foundations of Athenian Democracy, Londres, Verso, 1989.
Pedro Paulo A. Funari – Departamento de História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. E-mail: pedrofunari@sti.com.br
[DR]
La Grandeur: politique étrangère du général de Gaulle (1958-1969) | Maurice Vaïsse
Em 1969, já encerrando o longo período em que esteve à frente dos destinos da França, o General Charles de Gaulle resumia em tom de confidência, em tom de oração todo o seu projeto político para a França: “O que nós queríamos para a França… a grandeza”. Com efeito, nada sintetiza melhor os objetivos da política que pretendia, a um só tempo, exorcizar os demônios da França derrotada em 1940 e a partir de então, sombra fugaz da potência que conheceu o seu apogeu ao longo de todo o século XIX , e estabelecer um novo papel internacional para o país que resguardasse o matiz civilizacional e a independência nacional.
A política exterior da França gaullista e o pensamento político do Chefe de Estado são os objetos do monumental livro de Maurice Vaisse, professor da Universidade de Reims, diretor do Centro de Estudos de História da Defesa e sucessor de Jean-Baptiste Duroselle no comando da publicação dos Documents Diplomatiques Français. Vaisse já é conhecido dos especialistas brasileiros por seus criteriosos trabalhos sobre a história da defesa (Sécurité d´abord: la politique française en matière de désarmement entre les deux guerres. Paris: Pedone, 1981, 650 p.; e sobretudo, em co-autoria com Jean Doise, Diplomatie e outil militaire, 1871-1969. Paris: Le Seuil, 1992, 742 p.) e pela muito bem sucedida síntese da história contemporânea desde o pós-guerra (Les relations internationales depuis 1945. Paris: Armand Colin, 1996, 192 p.). Leia Mais
Population Politics in Twentieth-Century Europe. Fascist Dictatorships and Liberal Democracies – QUINE (VH)
QUINE, Maria Sophia. Population Politics in Twentieth-Century Europe. Fascist Dictatorships and Liberal Democracies. London: Routledge, 1996. Resenha de: FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Varia História, Belo Horizonte, v.13, n.17, p. 282-287, mar., 1997.
É fato reconhecido que os historiadores têm hesitado em penetrar em uma seara praticamente monopolizada por sociólogos, cientistas políticos e economistas, qual seja, a área de estudos que constitui uma verdadeira indústria de pesquisa sobre o wefare state. Sob a égide dos auto-denominados ” hard scientists”, a teorização sobre a origem e expansão do Estado de Bem-Estar Social, partindo da tese conhecida como “lógica da industrialização”, passando pela argumentação marxista e pela “lógica dos recursos de poder” (que destaca o papel dos movimentos sindicais e dos partidos trabalhistas), desembocou na hoje prevalecente elaboração “neo-institucionalista”. Essa teorização, tantalizada pela regularidade, tem relegado a um segundo plano elementos que constituem a verdadeira essência do ofício do historiador: a temporal idade e as particularidades. As explicações genéricas desenvolvidas para elucidar a conformação do wefare state têm tomado como variáveis o processo de industrialização e modernização, a democracia, o capitalismo, a competição partidária e os grupos de interesse. Sua aversão à contextualização, informada pela busca de fatores generalizantes e universalmente aplicáveis, mostra-se flexível apenas no consenso sobre a utilidade de se estabelecerem tipologias dos Estados de Bem-Estar Social.
Não nos cabe aqui listar os sucessos recentes daqueles historiadores que “ousaram” cruzar as fronteiras. Talvez possamos apenas, de passagem, endossar a sugestão de Peter Baldwin, para quem o “temor” da historiografia em fazer sua a temática talvez se deva, em parte, ao “inevitável atraso com o qual os historiadores respondem aos tópicos” (“The Welfare State for Historians. A Review Article”. Compara tive Study of Society and History, Vo1. 34, No 4, 1992, pp.695-707).
Contudo, mesmo que essa não seja uma ambição explícita do trabalho de Maria Sophia Ouine, que leciona História Européia Moderna na Universidade de Londres, fato é que seu Population Politics in TwentiethCentury Europe cumpre bem o papel de alertar para o fato de que a historiografia tem muito a contribuir para a compreensão das origens e do desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. Na verdade, a contribuição de Ouine nesse sentido é apenas implícita, uma vez que a autora, através de uma análise apurada das políticas populacionais implementadas na Itália, na França e na Alemanha na primeira metade deste século, procura apontar as distintas soluções nacionais a um problema comum aos países mais industrializados da Europa Ocidental: a acentuada queda na taxa de natalidade.
É possível dizer que, em todos os países envolvidos, o fenômeno desencadeou acalorados debates que, em graus diferentes, se nortearam por questões da seguinte ordem: considerações militares e estratégicas, o recorrente temor quanto à “extinção da raça” e ao declínio da nação, ataques ao neo-malthusianismo, o papel dos princípios religiosos e da eugenia na reversão do processo de declínio das taxas de natalidade, a central idade da família enquanto instituição social, a revalorização da maternidade e a expansão dos mecanismos de seguridade social visando proteger crianças e mães e redistribuir os custos envolvidos na manutenção de uma família. Contudo, a perspectiva historiográfica deixa evidente o fato de as políticas populacionais discutidas e implementadas terem englobado mais que políticas familiares de incentivo à natalidade ou políticas sociais que lançariam as bases da cidadania social marshalliana. O foco do trabalho de Ouine é exatamente o papel crucial das diversas políticas populacionais nos projetos de “reconstrução nacional” da Itália de Mussolini, da Terceira República francesa e do Terceiro Reich.
Em uma concisa introdução, precedendo os estudos de caso, a autora discute o impacto da pessimista teorização de Malthus acerca do inevitável desequilíbrio entre a produção de alimentos e o crescimento populacional, a influência do neo-malthusianismo e o pânico alarmista, já nas últimas décadas do secúlo XIX, quanto ao espectro do “despovoamento” nacional, uma vez que o declínio acentuado das taxas de natalidade, a partir da década de 1870, passou a eclipsar qualquer temor quanto a uma eventual super-população.
Uma vez que a ênfase no pró-natalismo da Terceira República tem sido o objeto de inumeráveis estudos, a grande originalidade do trabalho em questão talvez resida na comparação das políticas de incentivo à natalidade implementadas no Terceiro Reich com aquelas advogadas pelo regime de Mussolini. É certo que a historiografia ainda não chegou a um consenso quanto à natureza do processo que culminou na Endíosung, a “Solução Final” de extermínio em massa dos judeus e demais “indejesados”. Sem se furtar ao polêmico debate, Maria Ouine encontrou uma solução engenhosa, que não pretende endossar de maneira conclusiva qualquer das posições em contenda. Alertando quanto às armadilhas do “revisionismo” em curso, a autora emprega, de maneira quase intuitiva, um instrumento heurístico eficaz, qual seja, a distinção entre propostas e medidas populacionais “positivas” ou “negativas”.
Apesar da natural repulsa quanto às consequências nefastas da política racial do Terceiro Reich, classificada como “negativa”, a distinção proposta não se prende a julgamentos de valor, atendo-se a aspectos essencialmente quantitativos. “Positivas” são as medidas de incentivo à natalidade, tais como salários família, exames pré-natal gratuitos, acompanhamento médico aos recém-nascidos, creches, prêmios honoríficos ou em dinheiro para famílias numerosas e qualquer outro auxílio financeiro às famílias. “Negativas” são as medidas que procuram restringir a fertilidade, como a divulgação de métodos contraceptivos, a liberalização do aborto e, também, medidas como a esterilização compulsória e outras dirigidas a grupos sociais específicos.
Na Itália de Mussolini, as políticas populacionais foram ativadas muito mais devido às consequências da Primeira Guerra Mundial do que por qualquer persistente e alarmante queda nas taxas de natalidade. A hostilidade gerada pelo neo-malthusianismo na Itália, com sua propaganda dos meios contraceptivos, deveu-se, segundo Ouine, não à força crescente do movimento, mas sim à aguda ambivalência de se discutir abertamente o significado social da sexualidade e da reprodução em um país onde o catolicismo sempre teve raízes tão profundas. As idéias que vertebraram a política populacional de Mussolini foram derivadas de uma peculiar eugenia que, em vez de preconizar a “procriação seletiva”, desejava encorajar a classe trabalhadora a procriar ainda mais. O movimento eugênico italiano era nitidamente pró-natalista e favorável à estruturação de um aparato de seguridade social capaz de amparar mães e crianças. A frustração dos anseios imperialistas italianos responderia por boa parte do pró-natalismo do movimento eugênico no país, bem como pelas políticas populacionais do fascismo.
A faceta assistencialista das políticas populacionais do Duce baseava-se na premissa, defendida pela Sociedade Eugênica Italiana, fundada em 1912, segundo a qual devem ser dadas aos cidadãos recompensas materiais na forma de benefícios sociais e isenções fiscais que possam induzi-Ios a cumprir sua “obrigação cívica” de procriar prolificamente. Como, segundo o suposto, povo fértil é povo robusto, as políticas populacionais do fascismo passaram a enfatizar tanto a “quantidade” como a “qualidade”.
Autores pró-natalistas italianos, além de enfatizar questões militares e estratégicas em sua defesa da necessidade de se elevarem as taxas de natalidade, chegaram mesmo a reverter o argumento de Malthus e destacar que a auto-suficiência na produção de alimentos e a aceleração do processo de industrialização só seriam possíveis com o aumento da população. O investimento em “capital humano” compensaria o país por sua carência de recursos. O título de um ensaio de Mussolini de 1928 sumariza bem o raciocínio: “Números como Força”.
Buscando capitalizar a generalizada frustração nacionalista dos italianos, o pró-natalismo, que cruzava fronteiras partidárias e ideológicas, tornou-se política oficial do regime fascista, servindo de mediador das relações entre o Estado e a sociedade. A “ressureição nacional” preconizada pelo fascismo, galvanizadora da legitimidade do regime, teria como pilar básico uma política populacional nacionalista, ferramenta essencial do planejamento social e da transformação da Itália em um país produtivo, orgulhoso e prolífico, verdadeiro herdeiro da Civilização Romana. A campanha demográfica fascista legitimava a intervenção estatal na esfera privada, transformando a família em instrumento político. O fato de grande parte dos mecanismos de seguridade social preconizados pelo regime jamais ter sido implementada apenas reforça a noção da centralidade da propaganda para a legitimação do “Novo Império Fascista”.
O incremento populacional há muito é reconhecido com uma das principais metas do nazismo. O crescimento demográfico almejado, entretanto, não era irrestrito, mas racialmente qualificado. Mesmo antes dos campos de extermínio, a política populacional do Terceiro Reich poderia ser classificada tanto como “pró-natalista” quanto como “antinatalista”. Maternidade e esterilização compulsórias foram a tônica da campanha de procriação seletiva implementada. O programa nazista de esterilização seria a primeira etapa de um processo de progressiva radicalização que passaria pela campanha da “eutanásia” para culminar no genocídio. A campanha demográfica de Mussolini, quando comparada ao programa de “higiene racial” do nazismo, parece, segundo Ouine, demasiadamente obcecada com os números, com a quantidade. Se a “batalha pela natalidade” advogada pelo Ouce enfatizava mecanismos de natureza “positiva”, parece evidente o destaque dado pelo Terceiro Reich a medidas “negativas”.
Se a brutalidade absoluta do Holocausto levou analistas a buscar razões socio-culturais para tamanho radicalismo, um dos pontos de destaque do livro de Ouine é certamente sua ênfase na quase universalidade dos movimentos eugênicos na Europa, isto é, no fato de, em muitos aspectos, compreensivelmente negligenciados pelos estudiosos ante a malignidade da Endlöosung, o Terceiro Reich não ter sido assim tão excepcional. A “Solução Final”, assim, é explicada tanto pela ideologia hitlerista como pelo monopólio da “biologia social” e da “higiene racial” sobre o aparato público e privado do wefare state alemão. “Essa influência institucional constituiu uma base firme a partir da qual foi promovida uma aceitação gradual de um amplo programa de saúde pública que tinha como objetivo o ‘melhoramento’ racial” (p.103).
Concluindo o livro, Ouine deixa claro o seu ponto: os estudiosos ainda são relutantes em desmitificar as agendas sociais traçadas pelos regimes fascistas comparando-as àquelas estabelecidas por regimes políticos “convencionais”. Na verdade, a noção generalizada de que o Estado deveria controlar a reprodução é um dos pilares básicos das políticas populacionais tanto nas ditaduras como nas democracias (p.132). A peculiar política populacional da Terceira República francesa, assim, com seu notório conservadorismo, seu pró-natalismo clerical, sua ênfase na família como clientela privilegiada do Estado de Bem-Estar Social em formação e no papel dos pais como “salvadores da nação”, compartilha muitas de suas características com os outros regimes analisados pela autora. De maneira similar, as comparações estabelecidas demonstram a falácia recorrente de que havia algo particularmente “fascista” na adoção de políticas populacionais agressivas e autoritárias.
Apenas nas últimas páginas, Ouine reconhece a relevância de sua abordagem para o debate sobre a origem e natureza do Estado de BemEstar Social. As políticas populacionais, centrais no weffare statemoderno, foram implementadas na esteira da ansiedade generalizada acerca de probemas demográficos, que deram o estímulo ideológico e emocional a essas políticas, tanto nas democracias como nas ditaduras.
Se, por um lado, a seleção das experiências italiana, alemã e francesa permite que a autora estabeleça distinções importantes entre fascismo e nazismo, contrapondo-as às políticas populacionais francesas, com resultados desmitificadores, sua contribuição ao debate acerca das origens e expansão do Estado de Bem-Estar Social poderia ser maximizada caso se tivesse optado por uma seleção distinta. Os sistemas de seguridade social da Alemanha, França e Itália têm sido qualificados como “continentais”, “corporativistas” ou “conservadores”, dependendo da tipologia. Alguns analistas chegam mesmo a distinguir uma variante “latina”, englobando França e Itália, entre outros. Caso se resolvesse tomar de empréstimo a renomada tipologia de Esping-Andersen e se analisassem, por exemplo, as políticas populacionais da França (welfare state conservador), da Inglaterra (liberal) e da Suécia (social-democrata), um estudo comparativo dessa natureza poderia marcar definitivamente o terreno para que a historiografia fizesse também sua uma seara da qual ela se alheou por tantas décadas.
Para encerrar, o trabalho de Quine deixa aos historiadores brasileiros a impressão de que as relações do Estado Novo com a eugenia e a “política da reprodução” ainda não foram suficientemente analisadas. Aos estudiosos das políticas públicas, fica a sugestão de que o fator “gênero” venha a assumir papel de maior destaque.
Carlos Aurélio Pimenta de Faria – Doutorando em Ciência Política no IUPERJ. Professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro – BH/MG.
[DR]
O último dos moicanos | James Fenimore Cooper
Resenhista
Alômia Abrantes
Referências desta Resenha
COOPER, James Fenimore. O último dos moicanos. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. Resenha de: ABRANTES, Alômia. O último dos moicanos: uma aventura no estudo da América. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 1, p. 145-150, jul./dez. 1995.
O Estado Monárquico. França 1460-1610 – LE ROY LADURIE (RBH)
LE ROY LADURIE, Emmanuel. O Estado Monárquico. França 1460-1610. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 355p. Resenha de: FLORENZANO, Modesto. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.15, n.29, p.221-231, 1995.
Modesto Florenzano – Professor da Universidade de São Paulo.
Acesso ao texto integral apenas pelo link original
[IF]
Musée d’Orsay | Ministere de la Culture et de la Communication
A fines de 1986 y principios de 1987 se inauguró el Museo de los Impresionistas en la Gare d’Orsay, una antigua estación de ferrocarril construida a mediados del siglo XVIII; este edificio reemplazaba al Jeu du Peume, el pequeño local que albergaba una colección que no tiene parangón con la actualmente expuesta en el nuevo museo. Junto con inaugurar este centro de arte se editó un libro que recoge las obras en él expuestas.
El edificio, ejemplo del más puro estilo de las últimas décadas del siglo XVIII, se ubicó donde había estado el Palais d’Orsay, incendiado por la Comuna en 1871. Víctor Laloux fue el responsable de su construcción en 1878; finalmente fue inaugurado al iniciarse el siglo, el 14 de julio de 1900. La Gare d’Orsay, como su nombre lo dice, estaba destinada a ser una estación de ferrocarril. Se le puede comparar con dos de los edificios más representativos de la ciudad de París–en esa época-: como son el Petit Palais y, sobre todo, el Grand Palais; actualmente ambos están destinados como centros de exposiciones. Leia Mais
Histoire du XIXe siècle | La Société de 1848 | 1981
La Revue d’histoire du XIXe siècle — anciennement 1848. Révolutions et mutations au XIXe siècle — est l’organe de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle. Semestrielle, elle publie des articles concernant le XIXe siècle sous tous ses aspects.
Elle milite pour un dialogue interdisciplinaire, et s’attache à diffuser des travaux de jeunes chercheuses et chercheurs. Elle couvre l’actualité de la recherche historique concernant le XIXe siècle, en rendant compte des publications récentes, en présentant des thèses, et en proposant des bibliographies.
Acesso livre
Periodicidade semestral
ISSN 1777-5329
Acessar resenhas de livros de brasileiros ou sobre o Brasil
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Annales | EHESS | 1929
Fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, les Annales illustrent, au-delà de ce prestigieux héritage, la recherche historique dans ce qu’elle a de plus innovant. Elles sont aussi le lieu privilégié d’un dialogue raisonné entre les différentes sciences de l’homme. Nouveaux domaines de la recherche et histoire comparée, ouverture sur les aires culturelles et réflexions épistémologiques, signatures prestigieuses et jeunes historiens définissent l’esprit des Annales.
Une large place est également faite à l’examen de la production scientifique récente sous forme de comptes rendus (200 par an) et d’analyses approfondies des ouvrages les plus marquants.
Les Annales est la revue francophone d’histoire la plus diffusée dans le monde.
Fondateurs : Marc Bloch, Lucien Febvre
Ancien directeur : Fernand Braudel
[Periodicidade trimestral]
ISSN 2398-5682
Acessar arquivos
Acessar resenhas [Coleta regressiva a partir de 2016]