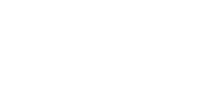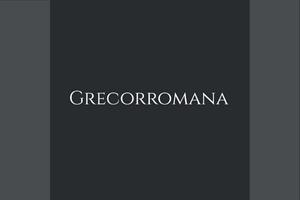Posts com a Tag ‘2019’
Rosa Luxemburgo, mulheres, liberdade e revolução | Historiae | 2019
Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo
O Convite à propositura desse dossiê se nutriu da tarefa político-acadêmica desafiadora de honrar a memória da revolucionária judia-polaco-alemã Rosa Luxemburgo, assassinada pelas mãos do partido socialdemocrata alemão, em 15 de janeiro de 1919, em Berlim, Alemanha, aos 47 anos de idade.
Sobre o assassinato de Rosa Luxemburgo, George Lukács assim analisa: Leia Mais
Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas. Londrina, v. 19, n.4, 2018.
Artigos
- Formação Continuada em EAD: Possíveis Contribuições para a Prática de Docentes em Matemática | Fátima Aparecida da Silva Dias, João Acácio Busquini, Idalise Bernardo Bagé | |
- A História das Equações Algébricas no Livro Didático da Educação Básica: Identificando as Abordagens | Francisco Wagner Soares Oliveira, Ana Carolina Costa Pereira, Suziê Maria de Albuquerque | |
- A (des)Construção da Concepção Hegemônica da Infância: um Estudo do Filme Alice no País das Maravilhas | Luana Santos Nogueira Garcia, Maritza Maciel Castrillon Maldonado | |
- The Discovery of X-Rays: a Probable Case of Second Order Observation | Marco Aurélio Clemente Gonçalves, Mariele Regina Pinheiro Gonçalves, Pablo Eduardo Ortiz | |
- A Qualidade na Educação Pública Infantil Brasileira: um Estudo de Caso em uma Cidade do Vale do Paraíba Paulista | Pétala Gonçalves Lacerda, Edna Maria Querido de Oliveira Chamon, Nilsen Aparecida Vieira Marcondes | |
- Caracterização da Aprendizagem da Docência no PIBID – Matemática Por Meio dos Relatos dos Participantes | Diego Fogaça Carvalho, Osmar Pedrochi Júnior | |
- Percursos Históricos da Escola Primária em Mato Grosso | Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida, Neuza Bertoni Pinto | |
- O Fórum no Ensino Presencial: Despertando o Interesse dos Alunos Por Meio da Integração de Conteúdos da Sala de Aula para Ambientes Virtuais | Cleonice Jose de Souza, Luciane Guimarães Batistella Bianchini, Solange Franci Raimundo Yaegashi, Juliana Gomes Fernandes, Bernadete Lema Mazzafera | |
- Fatores que Afetam a Saúde Docente: Estudo Introdutório em uma Escola de Educação Básica de São Paulo | Leandro Ferreira de Melo, Julia Bernardo, Tatiane Clair Silva, Denise De Micheli | |
- Valores que os Estudantes de Psicologia Consideram Necessários para Serem Felizes | Nelson Pedro-Silva, Marcos Henriques Freiria | |
- A Prática Religiosa e a Psicologia Positiva | Thayná Laís de Souza Arten, Plínio Marco de Toni | |
- A Importância das Ferramentas Tecnológicas para o Processo de Aprendizagem no Ensino Superior | Ediane Zanin, Anathan Bichel | |
- Trabalho em Equipe na Formação do Enfermeiro: Perspectivas e Desafios sob a Ótica do Pensamento Complexo | Raphaella Lima de souza Guimarães, Mara Lúcia Garanhani, Sarah Nancy Deggau Hegeto de Souza, Maria do Carmo Lourenço Haddad | |
- Olhares Acerca do Letramento Digital: Perspectivas da Prática | Zuleica Aparecida Cabral, Mariele A. Mickalski | |
Publicado: 2019-01-23
Machado de Assis – Antes do livro, o jornal: suporte, mídia e ficção – GRANJA (MAEL)
GRANJA, Lúcia. Machado de Assis – Antes do livro, o jornal: suporte, mídia e ficção. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018. 111 pp. Resenha de: SALA, Thiago Mio. Machado em meio à civilização do jornal. Machado Assis Linha v.12 n.26 São Paulo Jan./Apr. 2019.
Em Machado de Assis – Antes do livro, o jornal: suporte, mídia e ficção, Lúcia Granja retoma alguns de seus trabalhos relativos à produção cronística e ficcional do célebre autor de Quincas Borba e à história literária do século XIX, mas, diferentemente do que se poderia pensar num primeiro momento, não se trata da simples compilação de artigos, capítulos de livros ou trechos de teses. A obra consiste, na verdade, no reexame da produção recente da distinta pesquisadora à luz de novas ideias, reflexões e, sobretudo, de um pressuposto que confere ao livro em questão um sabor original quando se consideram as relações entre letras e comunicação: o papel do suporte editorial na produção do sentido. Em conformidade com tal perspectiva, Lúcia Granja procura examinar o fazer jornalístico e literário de Machado tendo em vista, para além da dimensão de artefato verbal do texto, a forma midiática na qual o escritor se fixou e se manteve durante grande parte de sua trajetória, isto é, o jornal.
Matriz importante para tal proposta analítica são os trabalhos do historiador francês Roger Chartier, com destaque para os estudos por ele conduzidos em torno do conceito de “mediação editorial”. Segundo Chartier (2002, p. 61-62), os escritos não existiriam “fora dos suportes materiais por meio dos quais foram veiculados, pois a construção de seus significados estaria diretamente ligada às formas que permitiriam sua leitura, audição ou visão”. Em outras palavras, para além do aparente truísmo, aquilo que costuma ser tratado como exterior e apartado da história do livro e da literatura, isto é, a análise das condições técnicas e materiais de produção ou de difusão dos objetos impressos e a dos conteúdos que eles transmitem (CHARTIER, 2002, p. 62), ganha importância quando se tem em vista, em perspectiva ampliada, os efeitos de sentido produzidos por um texto. Seguindo os passos de Chartier, mas caminhando por conta própria e com desenvoltura pela produção de Machado e por nosso jornalismo oitocentista, Granja se detém no exame das formas particulares e sucessivas de transmissão dos textos do autor em oposição a uma leitura abstrata, que desconsidera a poética do suporte periódico.
Todavia, para além de uma compreensão reduzida do papel da imprensa diária ou de uma descrição instrumental do espaço ocupado pelo texto machadiano nas diferentes folhas, Lúcia procura entender o suporte jornalístico enquanto peça-chave de um sistema midiático e civilizacional que floresce no século XIX. Para tanto, vale-se, em chave crítica, da produção de uma plêiade de autores franceses dedicados ao estudo do periódico do Oitocentos em conformidade com tal enquadramento: Dominique Kalifa, Marie-Ève Thérenty, Allain Vaillant e Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, entre outros. Em linhas gerais, tais pesquisadores procuram examinar o intercâmbio entre formas literárias e jornalísticas, bem como o novo regime de comunicação instituído: se o jornal, por um lado, emprestava à literatura atributos como o ritmo da vida moderna, coletivização da escrita (numa única página de jornal passam a conviver diferentes rubricas com espaços delimitados), remissões internas e externas, fragmentação, periodicidade, ficção da atualidade (assuntos na ordem do dia passam a oferecer temas para a produção artística) etc., por outro, recebia dela esquemas narrativos e retóricos que permitiam seu desenvolvimento.
Mais especificamente, observa-se que o livro se divide em apenas duas partes. Na primeira, Granja trata, sobretudo, das características plásticas e estruturais dos rodapés dos jornais no século XIX, promovendo o devido contraponto entre Brasil e França. Ao abordar a crônica machadiana e, em chave comparatista, a produção folhetinesca do escritor francês Théophile Gautier, a pesquisadora examina não apenas a textualidade das realizações de ambos os autores, mas a materialidade destas, ou seja, o fato de elas terem sido publicadas em suportes editoriais e em enquadramentos históricos específicos. Assim, sem prescindir da análise intrínseca (linguística e literária) dos escritos de Machado e Gautier, também ganha destaque, na pena da pesquisadora, o estudo dos significados a eles agregados no processo de sua transmissão e difusão. Além disso, ela ressalta como os escritores-jornalistas em questão, enquanto artistas dotados de consciência tipográfica e concepção metarreflexiva do texto, integraram a lógica da materialidade do jornal na própria construção de suas obras.
Estabelecidas tais bases, a segunda parte do livro dedica-se a uma análise mais vertical de um corpus reduzido, com destaque para o exame de um conto, uma crônica e aspectos de um romance. Trata-se, mais especificamente, de “Conto alexandrino” (publicado de início em 13 de maio de 1883, na Gazeta de Notícias, e, um ano depois, recolhido em Histórias sem data); crônica de 7 de julho de 1878 (estampada na série “Notas semanais” do jornal O Cruzeiro, na qual ganha atenção o caso bizarro de um homem que teria expelido um feto natimorto); e Memórias póstumas de Brás Cubas. Em chave metonímica, tal conjunto cuidadosamente selecionado permite divisar com mais clareza o modo como “as revoluções ideológicas e reconfigurações sociais operadas pelo jornal em nível mundial teriam resultado em transformações estéticas para um escritor carioca daquele século, afastado dez mil quilômetros da ‘capital do século XIX’, mas completamente inserido naquela civilização do jornal e do impresso” (GRANJA, 2018, p. 15).
De acordo com tal perspectiva, que toma as folhas periódicas não apenas como espelhos do mundo exterior, mas como espécies de substitutos dele, Lúcia procura entender os cruzamentos entre realidade (recriada pelo imaginário jornalístico) e ficção na prosa machadiana. Assim, os movimentos trepidantes da modernidade espacializados nas páginas dos jornais se tornam motivos da própria produção literária de Machado. Nesse processo, ao recuperar a divisão e a disposição da primeira versão de Memórias póstumas de Brás Cubas publicada em periódico, a autora revela a forma por meio da qual o escritor desconstrói os modos de leitura ligados ao romance-folhetim. Prosseguindo na análise da correspondência entre os efeitos produzidos pelo referido romance em jornal e no livro, Granja (2018, p. 99) caracteriza a novidade literária da narrativa concebida por um defunto autor como “uma transposição de uma manobra retórica da crônica jornalística e da própria poética da escrita dos jornais”, elevando o jornal a protagonista da originalidade e do impacto da referida obra que ganhará perenidade no suporte livresco.
Para a construção de tal percurso argumentativo em torno do papel do suporte e do fazer jornalístico-literário de Machado, Granja se vale não só de seu trabalho como professora e pesquisadora, mas também como editora. Em parceria, respectivamente, com Jefferson Cano e com John Gledson, ela esteve à frente da edição anotada, em livro, das séries cronísticas Comentários da semana e Notas semanais, ambos os volumes publicados pela editora da Unicamp em 2008. Tais experiências lhe possibilitaram o contato íntimo com o texto de Machado ambientado em seu suporte primeiro, bem como lhe conferiram a percepção in loco dos gêneros textuais nos quais o escritor investia. Desse modo, pôde articular as relações existentes entre crônicas, contos e romances com a materialidade das páginas onde tais produções foram originalmente estampadas.
A ênfase no particular permite que Granja lance um novo olhar sobre as respostas que a obra literária de Machado de Assis propõe a questões estéticas e contextuais do tempo em que circulou quer em periódico, quer, posteriormente, em livro. Nesse sentido, sem questionar o talento individual do artista, a pesquisadora interpreta a singularidade dele de acordo com as demandas da “civilização do jornal” (KALIFA et al, 2011, p. 7-21). Segundo tal perspectiva, portanto, o autor de Dom Casmurro passa a ser encarado, em sentido mais amplo, como um “escritor-jornalista” (MELMOUX-MONTAUBIN, 2003), isto é, como um intelectual e artista de seu tempo que não apenas se revelava consciente do lugar da imprensa enquanto universo textual responsável pela ampla e contínua difusão de conteúdos, mas que também se valeu das formas forjadas nesse novo e pulsante sistema de escrita para conferir à sua literatura o ritmo da vida moderna.
***
Por fim, em consonância com a orientação seguida por Lúcia Granja a respeito da importância dos diferentes suportes e das dinâmicas particulares de produção e circulação dos escritos estampados nestes, convém destacar que o livro da autora, em seu formato eletrônico e-pub, pode ser baixado gratuitamente no site da editora da Unesp (disponível em <http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788595462816,machado-de-assis-antes-do-livro-o-jornal>). Todavia, para os desejosos em ter o livro em mãos e efetuar uma leitura mais detida dele, é ainda possível, no mesmo endereço, encomendar a impressão da obra sob demanda. Se o novo procura se impor, a materialidade, a verticalidade e a contiguidade do impresso tradicional felizmente, neste caso, também estão ao alcance dos leitores.
Referências
CHARTIER, Roger. A mediação editorial. In: ______. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora Unesp, 2002. [ Links ]
GRANJA, Lúcia. Machado de Assis – Antes do livro, o jornal: suporte, mídia e ficção. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018. [ Links ]
KALIFA, Dominique; RÉGNIER, Philippe; THÉRENTY, Marie-Ève; VAILLANT, Alain. La civilisation du journal: une histoire de la presse française au XIXe siècle. Paris: Nouveau Monde, 2011. [ Links ]
MELMOUX-MONTAUBIN, Marie-Françoise. L’écrivain-journaliste au XIXe siècle: un mutant des lettres. Saint-Étienne: Éditions des Cahiers Intempestifs, 2003 (Collection Lieux Littéraires 6). [ Links ]
Thiago Mio Salla – É doutor em ciências da comunicação e em letras pela Universidade de São Paulo. Enquanto docente e pesquisador da Escola de Comunicações e Artes da USP e do Programa de Pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FFLCH/USP, dedica-se às áreas de Literatura Brasileira, Teorias e Práticas da Leitura e Editoração. E-mail: [email protected].
Virada global: tensões, limites e perspectivas / Esboços / 2019
A juventude, abertura e multiplicidade da história global são topoi recorrentes nas apresentações do campo, assim como as ressalvas diante do risco de que se trate apenas de mais uma moda acadêmica. No entanto, a multiplicação dos livros e artigos introdutórios à história global (SACHSENMAIER, 2011; OLSTEIN, 2014; KUNTZ FICKER, 2014; CROSSLEY, 2015; POTTER; SAHA, 2015; MARQUESE; PIMENTA, 2015; CONRAD, 2016; BELICH; DARWIN; FRENZ; WICKHAM, 2016; GARCIA; SOUSA, 2017; SANTOS JÚNIOR; SOCHACZEWSKI, 2017; DRAYTON; MOTADEL, 2018), com suas particulares seleções de autores precursores e modelares, aponta para a consolidação da área em um contexto onde a crítica ao chamado “globalismo” também ganha cada vez mais adeptos, espaço e voz no Brasil e no mundo (BORGER, 2018; VILELA, 2019). Mas afinal, o que é a história global? Seria a boa abordagem histórico-global aquela herdeira de Fernand Braudel (1967) ou a tributária de William McNeill (1991)? Ela se definiria pelas macro ou pelas microanálises? Sua ênfase recairia sobre a comparação, a conexão, o cruzamento ou a integração? Seu objeto seria o globo, a globalização ou as globalizações? Há uma história global ou várias?
Diversas abordagens e modos de se fazer história global convivem e/ou competem pela hegemonia. Assim, ao lado de uma renovada world history, que procura reconfigurar as narrativas da história do mundo todo (CHRISTIAN, 2014; DUNN; MITCHELL; WARD, 2016; KARRAS; MITCHELL; BENTLEY, 2017), os estudos inspirados nas teorias dos sistemas-mundo (WALLERSTEIN; ROJAS; LEMERT, 2015; KORZENIEWICZ, 2017) e do desenvolvimento desigual e combinado (ANIEVAS; MATIN, 2016; ANIEVAS; NIŞANCIOĞLU, 2015) buscam organizar analiticamente as relações entre diferentes estruturas e macrorregiões, a big history, que se propõe integrar a história em contextos espaço-temporais de escala cósmica (CHRISTIAN, 2011; SIMON; BEHMAND; BURKE, 2015), convive com a micro-história global, que demonstra a presença de processos globais em unidades de análise restritas a locais ou mesmo trajetórias individuais (ANDRADE, 2010; SACHSENMAIER, 2018), e com a história conectada, que explora os fluxos e circuitos a partir dos quais dinâmicas são construídas e efetivadas (GRUZINSKI, 2017; SUBRAHMANYAM, 2017), enquanto a história comparada supera as unidades estanques na direção de comparações integradas (POMERANZ, 2000); histórias totalizantes de séculos inteiros (CONRAD; OSTERHAMMEL; IRIYE, 2018; OSTERHAMMEL, 2014) ou de oceanos (ARMITAGE; BASHFORD; SIVASUNDARAM, 2017) convivem com histórias globais do trabalho (HOFMEESTER; LINDEN, 2018) ou da família (MAYNES; WALTNER, 2012). Ao mesmo tempo, os estudos pós-coloniais questionam epistemológica e concretamente a centralidade e/ou o provincianismo da Europa na produção de narrativas e interpretações de alcance planetário (CHAKRABARTY, 2000). As “histórias globais” são múltiplas, seja do ponto de vista dos objetos (a globalização contemporânea, as globalizações ou processos semi- ou subglobais, as redes de integração e a produção de fronteiras, as dialéticas entre o local/global etc), dos diálogos interdisciplinares (com a economia, a antropologia, a sociologia histórica etc) e de suas modalidades (dos diversos métodos comparativos à construção de narrativas singulares ou plurais). Cada abordagem combina-se de modos específicos com outras de acordo com as agendas, trajetórias intelectuais e acadêmicas dos pesquisadores. Categorias compartilhadas, tais como as de “conexão”, “fluxos”, “circuitos”, “integração” e “fronteiras” são reconfiguradas em função de seus múltiplos usos em esquemas interpretativos distintos. O contexto cada vez mais multivocal, marcado pela construção de redes de pesquisa que ultrapassam as fronteiras dos centros globais, em particular com a incorporação de vozes de historiadores do sul global, amplia a tensão acerca do sentido e da pertinência das “histórias globais” na prática historiográfica contemporânea. Trata-se, pois, de uma arena aberta, em disputa e em construção.
Se a consolidação da história global como campo e/ou abordagem, em sua multiplicidade, indica que não se trata apenas de mais uma moda historiográfica entre tantas, surge a questão dos impactos – reais ou potenciais – de seus debates específicos nos demais campos historiográficos, sejam eles definidos por períodos, objetos, fontes ou abordagens. Para seus proponentes mais otimistas, a incorporação de historiadores de diferentes especializações à história global começa a se constituir como uma “virada global” (BALACHANDRAN, 2017; DRAYTON; MOTADEL, 2018; ROMÁN, 2017). Diante disso, pode-se questionar: os debates do campo da história global têm relevância do ponto de vista dos territórios historiográficos tradicionais? A discussão sobre as conexões históricas e os processos de integração e produção de fronteiras ajuda a repensar os objetos consolidados ou, ainda, ajuda a construir novos objetos nos campos tradicionais?
As respostas a essas questões são tão variadas quanto os praticantes da história global. Mais do que realizar um levantamento das múltiplas formulações do que é ou do que deveria ser o campo, é possível analisar o fenômeno de sua consolidação considerando sua juventude: os “historiadores globais” e algumas comunidades em geral se formaram em espaços consolidados da historiografia e encontram na história global uma possibilidade de renovação dos debates e das abordagens habituais. Nesse sentido, a história global é, ao mesmo tempo, um campo no qual se encontram historiadores oriundos de diferentes contextos acadêmicos e portadores de diferentes agendas intelectuais; e uma abordagem com a qual os historiadores repensam suas agendas e contextos de formação. A proposta deste dossiê é discutir a integração da história global com áreas tradicionais, sejam elas definidas em termos de objeto, abordagem ou escopo. As estratégias dos autores do dossiê foram variadas, demonstrando os múltiplos caminhos pelos quais o problema pode ser explorado. Vejamos com mais detalhe.
Rafael de Bivar Marquese, em seu artigo “A história global da escravidão atlântica: balanço e perspectivas”, elabora uma extensa discussão historiográfica das transformações do campo da história da escravidão, em particular nos contextos caribenho, norte-americano e brasileiro, para demonstrar que o diálogo com a história global, longe de se apresentar como uma novidade radical, se dá nos termos da retomada de tradições internas já existentes que ganham força por meio do contato com os debates contemporâneos. Assim, “a história global da escravidão atlântica: balanço e perspectivas” é pensada a partir da recuperação das abordagens comparadas e integradas desenvolvidas em meados do século XX, superando tanto o nacionalismo metodológico que “peculiarizava” as instituições escravistas a cada país, quanto a recusa às análises estruturais em favor de um – segundo o autor – excessivo peso dado à subjetividade dos atores sociais. Favorecendo a leitura da história global como uma abordagem, Marquese sugere a incorporação de diferentes tradições teóricas (a perspectiva do sistema-mundo, a história comparada, o materialismo histórico- -dialético) para a construção de uma história integrada da escravidão como fenômeno total, umbilicalmente ligado ao capitalismo histórico.
Carlos Riojas, em seu artigo “Luces y sombras sobre América Latina en una historia global”, discute os lugares reais e potenciais da América Latina tanto nos principais periódicos quanto em determinadas macronarrativas da história mundial e global. A partir da análise bibliométrica dos números do Journal of World History e do Journal of Global History nos últimos anos, o autor aponta para a periferização da América Latina como tema dos artigos em vista da hegemonia da Europa e da Ásia. Tal periferização é contraposta à grande quantidade de temas e períodos nos quais a América Latina exerce um papel central em processos de escopo global, tanto no plano material quanto na produção e circulação de saberes tais como: a conquista, colonização e crise das narrativas bíblicas nos séculos XVI e XVII, a reorganização do sistema interestatal na economia mundial e nas concepções da natureza nos séculos XVIII e XIX, o impulso na perspectiva terceiro-mundista e a elaboração da teoria da dependência no século XX etc. Como hipótese, o autor sugere que a periferização se mantém em função de uma transição de “encapsulamentos”: das fronteiras das áreas de estudo, base do tão criticado nacionalismo metodológico, a história global passaria ao anglocentrismo linguístico, cuja agenda de poder e saber manteria o caráter periférico da América Latina. O autor conclui o artigo apontando as possibilidades e os caminhos para a construção de histórias que articulem a história latino-americana a fenômenos globais e vice-versa.
Um exemplo de encapsulamento, agora na perspectiva francesa, é oferecido por João Júlio Gomes dos Santos Júnior em seu artigo “A história política na hora da virada transnacional: novas possibilidades de pesquisa”. A estratégia adotada pelo autor foi a de avaliar até que ponto um dos principais nomes da nova história política, Jean-François Sirinelli, dialoga – ou deixa de dialogar – com a história global. Sirinelli, na recuperação do autor, aponta, em artigo de 2011, para o autocentramento da nova história política francesa das últimas décadas: após a reabilitação da história política por meio da multiplicação dos objetos e abordagens, o campo teria se isolado dos desenvolvimentos das demais ciências humanas e limitado excessivamente seu escopo às fronteiras do Estado nação. Com isso, apontava Sirinelli, perdia-se a perspectiva transnacional ou mundial, fundamental para a compreensão dos fenômenos políticos, em particular no contexto do século XXI. No entanto, como aponta João Júlio dos Santos Júnior, Sirinelli apresenta como solução teórica um retorno ao “jogo de escalas” de Jacques Revel: ignorando os múltiplos desenvolvimentos da história mundial, em particular o de sua matriz norte- -americana, e da história global, Sirinelli receitaria o “novo” autocentramento como remédio para o “antigo” autocentramento.
Em síntese, os três artigos do dossiê apresentam a multiplicidade de arranjos construídos pela incorporação da história global nos campos tradicionais e dos campos tradicionais na história global. A história da escravidão atlântica se enriquece no diálogo com a história global, apropriada a partir de estruturas autóctones; a história global periferiza a história da América Latina não mais pelo isolamento metodológico, mas pelo anglocentrismo linguístico e suas agendas; a história política, de matriz francesa, se emparelha com a história global pelo recurso a tradições locais, evitando um entrecruzamento talvez mais transformador. Diferentes campos, variadas combinações. Esperamos, com este dossiê, estimular a reflexão dos pesquisadores e pesquisadoras a respeito dos modos como a história global é apropriada, reforçando seu caráter aberto e essencialmente agonístico.
Referências
ANDRADE, Tonio. A Chinese farmer, two African boys, and a warlord: toward a global microhistory. Journal of World History, n. 4, p. 573-591, 2010.
ANIEVAS, Alexander; MATIN, Kamran (orgs.). Historical sociology and world history: uneven and combined development over the longue durée. Lanham: Rowman & Littlefield International, 2016.
ANIEVAS, Alexander; NIŞANCIOĞLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015.
ARMITAGE, David; BASHFORD, Alison; SIVASUNDARAM, Sujit (orgs.). Oceanic histories. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.
BALACHANDRAN, G. History after the global turn: perspectives from rim and region. History Australia, v. 14, n. 1, p. 6-12, 2 jan. 2017.
BELICH, James; DARWIN, John; FRENZ, Margret; WICKHAM, Chris (orgs.). The prospect of global history. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
BORGER, Julian. Trump urges world to reject globalism in UN speech that draws mocking laughter. The Guardian, 26 set. 2018. US news Disponível em: https://www. theguardian.com/us-news/2018/sep/25/trump-united-nations-general-assemblyspeech-globalism-america. Acesso em: 18 jan. 2019.
BRAUDEL, Fernand. Civilisation materielle et capitalisme (XVe-XVIIIe Siecle). Tome I. Paris: Armand Colin, 1967.
CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2000.
CHRISTIAN, David. Maps of time: an introduction to big history; with a new preface [to the 2011 edition]. 1. paperback print., [Nachdr.] ed. Berkeley, Calif.: Univ. of California Press, 2011.
CHRISTIAN, David (org.). The Cambridge world history. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. v. 1. Introducing world history, to 10,000 BCE.
CONRAD, Sebastian. What is global history? Princeton: Princeton University Press, 2016.
CONRAD, Sebastian; OSTERHAMMEL, Jürgen; IRIYE, Akira. An emerging Modern World: 1750–1870. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
CROSSLEY, Pamela Kyle. O que é história global? Petrópolis: Editora Vozes, 2015.
[DR]AYTON, Richard; MOTADEL, David. Discussion: the futures of global history. Journal of Global History, v. 13, n. 01, p. 1-21, mar. 2018.DUNN, Ross E.; MITCHELL, Laura Jane; WARD, Kerry (orgs.). The New World history: a field guide for teachers and researchers. Oakland, California: University of California Press, 2016.
GARCIA, Manuel Perez; SOUSA, Lucio De. Global history and new polycentric approaches: Europe, Asia and the Americas in a World Network System. 1 edition ed. New York: Palgrave Macmillan, 2017.
GRUZINSKI, Serge. La machine à remonter le temps. Paris: Fayard, 2017.
HOFMEESTER, Karin; LINDEN, Marcel Van der (orgs.). Handbook the global history of work. Berlin Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2018.
KARRAS, Alan L.; MITCHELL, Laura Jane; BENTLEY, Jerry H. (orgs.). Encounters old and new in world history: essays inspired by Jerry H. Bentley. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2017.
KORZENIEWICZ, Roberto Patricio (org.). The World-system as unit of analysis: past contributions and future advances. London: Routledge, 2017.
KUNTZ FICKER, Sandra. Mundial, trasnacional, global: un ejercicio de clarificación conceptual de los estudios globales. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux – Novo Mundo Mundos Novos – New world New worlds, 27 mar. 2014. Disponível em: http://journals.openedition.org/nuevomundo/66524. Acesso em: 20 set. 2018.
MARQUESE, Rafael de Bivar; PIMENTA, João Paulo. Tradições de história global na América Latina e no Caribe. História da Historiografia, n. 17, p. 30-49, abr. 2015.
MAYNES, Mary Jo; WALTNER, Ann. The family: a world history. 1 ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
MCNEILL, William Hardy. The rise of the West: a history of the human community, with a retrospective essay. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
OLSTEIN, Diego Adrián. Thinking history globally. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014.
OSTERHAMMEL, Jürgen. The transformation of the world: a global history of the nineteenth century. Tradução Patrick Camiller. Princeton Oxford: Princeton University Press, 2014.
POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.
POTTER, Simon J.; SAHA, Jonathan. Global History, imperial history and connected histories of empire. Journal of Colonialism and Colonial History, v. 16, n. 1, s.p., 2015.
ROMÁN, José Antonio Sánchez. Doing global history: reflections, doubts and commitments. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 30, n. 60, p. 241-252, abr. 2017.
SACHSENMAIER, Dominic. Global entanglements of a man who never traveled: a seventeenth-century Chinese Christian and his conflicted worlds. New York: Columbia University Press, 2018.
SACHSENMAIER, Dominic. Global perspectives on global history: theories and approaches in a connected world. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
SANTOS JÚNIOR, João Júlio Gomes Dos; SOCHACZEWSKI, Monique. História global: um empreendimento intelectual em curso. Tempo, v. 23, n. 3, p. 483-502, dez. 2017.
SIMON, Richard B.; BEHMAND, Mojgan; BURKE, Thomas (orgs.). Teaching big history. California: University of California Press, 2015.
SUBRAHMANYAM, Sanjay. Europe’s India: words, people, empires, 1500–1800. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2017.
VILELA, Pedro Rafael. Ernesto Araújo critica globalismo na política externa do Brasil. Agência Brasil, 3 jan. 2019. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/ noticia/2019-01/ernesto-araujo-critica-globalismo-na-politica-externa-do-brasil. Acesso em: 18 jan. 2019.
WALLERSTEIN, Immanuel; ROJAS, Carlos Aguirre; LEMERT, Charles C. Uncertain worlds: world-systems analysis in changing times. 1 ed. London: Routledge, 2015.
Fábio Augusto Morales – Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-9942-5011
Mateus Henrique de Faria Pereira – Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-7489-7365
Organizadores
[DR]Modos. Campinas, v.3, n.1, 2019.
EDITORIAL
- MODOS. Revista de História da Arte
- Maria de Fátima Morethy Couto, Emerson Dionisio Gomes de Oliveira, Marize Malta
ARTIGOS – COLABORAÇÕES
- As exposições de Arte Latino-americana no Riverside Museum de Nova York em 1939 e 1940Trâmites da organização da seção brasileira
- Renata Gomes Cardoso
- Museografia e História da ArteA experiência de Jeanron no Louvre na República de 1848-1852
- Maria Teresa Silveira
- Ativismo poéticoTranspondo a política das ruas para os espaços da arte
- Pedro Caetano Eboli Nogueira
DOSSIÊ – A EMERGÊNCIA DA IMAGEM CRÍTICA
- Apresentação. A emergência da imagem críticaThe emergence of the critical image
- Luiz Cláudio da Costa
- Ensaio Visual. Zonas de Ressaca
- Simone Cortezão – Instituto Federal de Minas Gerais
- Virada icônicaUm apelo por três voltas no parafuso
- Emmanuel Alloa
- Na caverna de TarsilaSobrevivências do primitivo como presença do não colonial
- Maria Bernardete Ramos Flores, Michele Bete Petry
- “Quem adora as imagens adora o diabo”Reflexões sobre iconoclastia no Brasil
- Pedro Hussak van Velthen Ramos
- /des/aparecer: histórias de imagens, fantasmas e espelhos
- Carolina Junqueira dos Santos
- Guerra das luzesVisão e olhar na obra de Harun Farocki
- Fernanda Albuquerque de Almeida
- Imagem, consumo e presençaAspectos de um regime visual americanista no Brasil
- Marcos Alexandre Arraes
EX-POSIÇÕES/33ª BIENAL DE SÃO PAULO
- Apresentação. 33ª Bienal de São Paulo
- Francisco Dalcol (org..
- Uma Bienal sem coesão interna
- Maria Hirszman
- Quais são os fios?
- Felipe Scovino
- Do artista-curador à (não) curadoriaDilemas da 33ª Bienal de São Paulo
- Luiz Camillo Osorio
- Questionar para reafirmarReflexões sobre o “rolezinho” curatorial e político da 33ª Bienal de São Paulo
- Clarissa Diniz
- A pregnância da forma
- Juliana Coelho Gontijo
- Artista enquanto curadorDas convergências e dissoluções entre práticas artísticas e curatoriais
- Francisco Dalcol
PUBLICADO: 2019-01-18
Toda história é história conectada? / Esboços / 2019
História global, histórias conectadas: debates contemporâneos
Acrescente bibliografia do campo da História Global elegeu como um de seus principais alvos o que foi definido como “internalismo metodológico”. Tal postura se basearia, segundo as críticas dos historiadores globais, na supervalorização dos fatores internos à unidade de análise escolhida para a explicação e a interpretação dos processos históricos (GRUZINSKY, 2001; CONRAD, 2016, p. 108; MARQUESE, 2019). As unidades de análise variam do Estado-nação, base do recorrente “nacionalismo metodológico”, a comunidade étnica, civilização, império ou região, entre outras (CONRAD, 2016, p. 79; GUARINELLO, 2003).
Em contraponto, críticos da história global argumentam que a ênfase nas conexões e nos processos de integração acabam por criar histórias sem fronteiras, reiterando ideologias que apontam para a criação de uma “aldeia global”, integrada e harmônica, em que ideias, pessoas e bens circulariam em redes cambiantes de fluxos multiformes – ideologia particularmente artificial quando observada do hemisfério sul (BLAUT, 1993). A defesa das unidades de análise tradicionais e de seus fatores internos – o Estado-nação acima de todos – seria uma resistência à ideologia globalista subjacente à história global, condenada desde a concepção.
As respostas dos historiadores globais são variadas, mas, no geral, apontam para a incorporação das fronteiras como parte fundamental dos processos de integração (GUARINELLO, 2010). Longe de eliminarem as fronteiras em favor dos fluxos, os processos de integração e conexão também promoveriam a reconfiguração das fronteiras (CONRAD, 2016, p. 67). Assim, a ênfase nas conexões reposiciona o problema das unidades de análise em outros termos – Estados-nação, impérios ou comunidades étnicas definem seus contornos e limites em contextos mais amplos de contatos e interseções de fronteiras variadas (SUBRAHMANYAN, 1997). Não mais pressupostas, as fronteiras deixam de ser fundamento da historicidade para se tornar também componentes da problemática, discutidas em função de processos concretos que as ultrapassam, sendo ao mesmo tempo seus vetores.
Assim, a revista Esboços apresenta o dossiê Toda história é história conectada?, composto por cinco artigos, com escopos temporais e espaciais variados, que abordam, sob diferentes pontos de vista, a questão das conexões e das fronteiras, bem como da própria definição da história global.
José Ernesto Knust, em “Os Pláucios, a emancipação da plebe e a expansão romana: conectando as histórias interna e externa da República Romana”, realiza uma crítica radical da divisão que estruturou a historiografia sobre o período republicano em Roma: a “história interna”, dominada pelas guerras entre ordens (patrícios e plebeus), e a “história externa”, dominada pelas guerras de conquista da Itália e do Mediterrâneo. Essa divisão, arbitrária, define como fronteira da análise uma Roma raramente definida (uma cidade?, um estado?, a comunidade cívica?) e produz alguns enigmas insolúveis fora de uma história conectada. Um deles é a ascensão meteórica de uma família plebeia, os Pláucios, à mais alta magistratura romana, o consulado, sem antes ter ocupado qualquer magistratura menor.
Com base no caso dessa família, Knust demonstra que, enigmática quando se toma a história interna de Roma como fronteira, sua ascensão é compreensível quando se incorpora a história das comunidades vizinhas de Roma, onde a família já estava inserida em redes de elites. A ascensão dentro do estado romano, por sua vez, é fundamental para a compreensão de guerras no centro da Itália, que resultarão na criação de um império formado por um arranjo complexo de alianças particulares.
A história global oferece, segundo Knust, o impulso para a superação de fronteiras historiográficas insuficientes na direção da dimensão mediterrânica da circulação horizontal das elites, da reconfiguração de suas fronteiras intraelites e externas contra as comunidades camponesas (2019).
Em “Connecting worlds, connecting narratives: global history, periodisation and the year 751 CE”, Otávio Luiz Vieira Pinto realiza um exercício de história conectada reduzindo o escopo temporal ao ano de 751, ao passo que amplia o escopo espacial à Eurásia. Discute três processos históricos que têm nesse ano um marco fundamental: o conflito entre o Califado Abássida e o Império Chinês sob a dinastia Tang; a ascensão da família carolíngia no reino franco; a guerra iconoclasta e a ascensão ao trono bizantino de um imperador de origem centro-asiática.
O autor demonstra a conexão entre esses processos tomando o Império Bizantino como ponto de ligação – a decisão bizantina de se concentrar no oriente abássida em ascensão reforça a separação com a Europa ocidental, abrindo o terreno para a separação das igrejas e a construção de um império cristão europeu, o carolíngio. Assim, o ano 751 seria um marco não para a história de uma ou outra região, mas para a história da Eurásia, pois significou o fim da Antiguidade eurasiática com a instauração da divisão em três superpotências – Império Carolíngio no ocidente, Califado Abássida no centro, China Tang no oriente –, com consequências duradouras para o período medieval. As conexões, portanto, passaram pela formulação de novas fronteiras entre macrorregiões (PINTO, 2019).
O artigo “Más allá de una simple biografía: ‘el caso Cerruti’, una historia conectada y multinivel enlazada por un ‘historiador electricista’”, escrito por Luciana Fazio, é um exército de micro-história conectada, que toma como caso a “questão Cerruti”, a qual começa com a prisão de um imigrante italiano na Colômbia oitocentista e resulta numa crise diplomática de grandes proporções entre Itália e Colômbia. Para tanto, a autora articula processos históricos de natureza e escalas diversas: das estratégias comerciais, matrimoniais e políticas de um migrante italiano na Colômbia até a formação do Estado nacional colombiano; do terror da população de uma cidade portuária prestes a ser bombardeada até a afirmação do imperialismo italiano, do hispano-americanismo espanhol e da doutrina Monroe norte-americana.
Fazio analisa a história da migração, do imperialismo, da formação de um sistema comercial, financeiro e diplomático internacional, bem como da criação do Estado nacional e do nacionalismo, como macroprocessos, à luz do local/particular, superando separações arbitrárias de historiografias internalistas. A autora conclui, no entanto, que a história global pode ser empregada somente quando há globalização e suspensão das fronteiras – para ela, algo que se deu após os anos 1970 –, que são úteis na medida em que oferecem uma caixa de ferramentas boa para pensar processos históricos integrados, entre os quais se destaca a história conectada (FAZIO, 2019).
O quarto artigo do dossiê, “Contribuições preliminares da história universal de H.G. Wells: elementos de história socioevolucionista e da world history contemporânea”, escrito por Fábio Iachtechen, discute as escolhas científicas e as implicações geopolíticas do escritor britânico H.G. Wells na redação de sua História Universal, cuja primeira edição aparece em 1919. Contra histórias centradas na Europa e nos Estados-nacionais, Wells buscou nas ciências naturais a unidade fundamental da história, que seria a base para a construção de uma Liga das Nações que superasse os traumas da Primeira Grande Guerra.
Em Wells, não se trata de relatos conectados, já que as histórias das várias civilizações e “raças” são tratadas separadamente. No entanto, a discussão científico- -evolucionista que orienta a obra fundamenta uma “história unificada” do gênero humano, que parte de uma mesma raiz (IACHTECHEN, 2019).
O último artigo do dossiê é “Bandung, 1955: ponto de encontro global”, escrito pelas historiadoras Raissa Brescia dos Reis e Taciana Almeida Garrido Resende, que discute a produção e a interação das produções narrativas – em documentos, relatórios e revistas – acerca da unidade e das fronteiras dos países do Terceiro Mundo. Em função dos sujeitos e dos contextos discursivos, diferentes fronteiras eram engajadas na definição das prioridades da ação terceiro-mundista. Tratava-se de uma aliança de países não alinhados, que excluiria os alinhados a cada potência da Guerra Fria? Qual era o maior inimigo: o colonialismo europeu ou o em geral, incluído o comunista? A luta anticolonial se sobrepunha às disputas entre os países terceiro-mundistas? O Terceiro Mundo se centrava na Ásia ou na África? A luta anticolonial deveria ser feita por estados ou por movimentos sociais?
A conexão de diferentes pautas governamentais e ideias sobre geopolítica e relações sociais, em vez de suspender fronteiras, tornou-as mais complexas, mergulhada em tramas narrativas de sujeitos que disputavam posições dentro da nova comunidade (REIS; GARRIDO, 2019).
O dossiê, portanto, apresenta múltiplas respostas ao desafio colocado pelo paradigma da história conectada, identificada ou não com a história global. Historiadoras e historiadores especialistas em períodos diferentes, e com trajetórias formativas diversas, apontam para a multiplicidade pela qual as conexões são produzidas e produzem fronteiras tanto no nível dos objetos quanto no enquadramento historiográfico das pesquisas. Sem encerrar a questão, o dossiê apresenta mais elementos para o debate sobre os limites e as possibilidades da história global como conectada.
Referências
BLAUT, James M. The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History. London: The Guildord Press, 1993.
CONRAD, Sebastian. What is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016.
FAZIO, Luciana. Más allá de una simple biografía: “el caso Cerruti”, una historia conectada y multinivel enlazada por un “historiador electricista”. Esboços, Florianópolis, v. 26, n. 42, p. 270-289, maio/ago. 2019.
GRUZINSKI, Serge. Os mundos misturados da monarquia católica e outras connected histories. Topoi, Rio de Janeiro, p. 175-195, mar. 2001.
GUARINELLO, Norberto Luiz. Ordem, integração e fronteiras no Império Romano: um ensaio. Mare Nostrum, São Paulo, v.1, p. 113-127, 2010.
GUARINELLO, Norberto Luiz. Uma morfologia da história: as formas da história antiga. Politeia: História e Sociedade, Vitória da Conquista, v. 3, n. 1, p. 41-61, 2003.
IACHTECHEN, Fábio Luciano. Contribuições preliminares da História universal de H.G. Wells: elementos de história socioevolucionista e da world history contemporânea. Esboços, Florianópolis, v. 26, n. 42, p. 290-308, maio/ago. 2019.
KNUST, José Ernesto Moura. Os Pláucios, a emancipação da plebe e a expansão romana: conectando as histórias interna e externa da República Romana. Esboços, Florianópolis, v. 26, n. 42, p. 234-254, maio/ago. 2019.
MARQUESE, Rafael de Bivar. A História Global da escravidão atlântica: balanço e perspectiva. Esboços, Florianópolis, v. 26, n. 41, p. 14-41, 2019.
PINTO, Otávio Luiz Vieira. Connecting worlds, connecting narratives: global history, periodisation and the year 751 CE. Esboços, Florianópolis, v. 26, n. 42, p. 255-269, maio/ago. 2019.
REIS, Raissa Brescia dos; RESENDE, Taciana Almeida Garrido. Bandung, 1955: ponto de encontro global. Esboços, Florianópolis, v. 26, n. 42, p. 309-332, maio/ ago. 2019.
SACHSENMAIER, Dominic. Global History, Pluralism, and the Question of Traditions. New Global Studies, v. 3, n. 3, p. 1-9, 2009.
SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected Histories: Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. Modern Asian Studies, Cambridge, v. 31, n. 1, p. 735-762, 1997.
Alex Degan – Doutor. Professor adjunto, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de História, Florianópolis, SC, Brasil. Organizador do dossiê Toda História é História Conectada? https://orcid.org/0000-0001-7359-0265 E-mail: [email protected]
Lindener Pareto Junior – Doutor. Professor titular, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Faculdade de História, Campinas, SP, Brasil. Pós-doutorando, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de História, Campinas, SP, Brasil. https://orcid.org/0000-0003-1441-4979 E-mail: [email protected]
[DR]Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil – GROESEN (RH-USP)
GROESEN, Michiel van. Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. Resenha de: FERREIRA, Bictor Bertocchi. O mundo atlântico pelo prisma da opinião pública. Revista de História (São Paulo) n.178 São Paulo 2019.
Em seu mais recente trabalho, o historiador neerlandês Michiel van Groesen dá sequência a seus estudos sobre a cultura impressa europeia referente à América e ao mundo atlântico. Se, em sua tese de doutoramento, o agora professor de História Marítima da Universidade de Leiden teve por objeto a publicação dos relatos de viagem e as estratégias editoriais da família De Bry (GROESEN, 2008), em Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil o autor escreve a história de como as ações militares, comerciais e evangelizadoras da Companhia das Índias Ocidentais (WIC) no Atlântico foram assimiladas pela população de Amsterdam, transformando-se em objeto de acalorado debate público.
O termo Print Culture (Cultura Impressa) incluído no subtítulo não expressa, entretanto, a real dimensão do livro. As mídias impressas e as práticas sociais a elas relacionadas representam, indubitavelmente, parcela substantiva do estudo de Groesen. Porém, a unidade de análise por meio da qual a história da ascensão e queda do “Brasil holandês” se apresenta em sua totalidade histórica é a da “opinião pública”. O objetivo da obra é mostrar não apenas como o mundo atlântico invadiu os circuitos de informação e discussão de Amsterdam, mas também a maneira pela qual esses mesmos canais e a própria lógica do debate público impactaram os rumos dos acontecimentos atlânticos. Nas palavras do autor,
“Print may have initiated and stimulated popular interest in Brazil, but public opinion and its reflections in print ultimately determined how and why Dutch Brazil came to be ‘Amsterdamnified’.” (GROESEN, 2017, p. 8).
Por esta razão, ao apresentar os argumentos de Amsterdam’s Atlantic, o historiador ressalta mais uma vez a centralidade do conceito de opinião pública:
“By emphasizing public opinion, I therefore aspire to achieve two broader goals. First, I will demonstrate the relevance of Atlantic history for the Dutch Republic, in that information from across the ocean transformed opinion making at home in a way other colonial ventures had never done. And, second, I will demonstrate the relevance of the Dutch Republic for Atlantic history, urging scholars to look beyond the discourse of empire that has traditionally favored Spain and Britain (and to a lesser extent Portugal and France) and appreciate the crucial role of news, information, and public opinion in the making of the Atlantic world.” (GROESEN, 2017, p. 9).
Que a unidade de análise de Amsterdam’s Atlantic ultrapassa a cultura impressa podemos constatar também pela diversidade de fontes manejadas por Groesen. Nos primeiros capítulos, os argumentos são construídos sobretudo a partir dos “jornais” (newspapers) publicados semanalmente por Broer Jansz. e Jan van Hilten, além dos “mapas de notícias” (news maps, p. 51) comissionados pela WIC e produzidos por Claes Jansz. Visscher e Hessel Gerritsz. Porém, em função do aumento da presença neerlandesa no Atlântico e o vai-e-vem contínuo de soldados, marinheiros, ministros da Igreja Calvinista, mercadores, indígenas e africanos, o conjunto de testemunhas oculares das vicissitudes americanas fez ampliar as redes informais de comunicação, dilapidando a proeminência das mídias impressas. Por meio de cartas privadas, diários, um album amicorum, panfletos avulsos, sermões, poemas e até mesmo pelas petições dirigidas à WIC, o autor consegue inferir e mapear essas redes, fazendo-nos ver a importância das relações entre familiares, vizinhos e conhecidos, o poder do púlpito e os contatos travados na região portuária, nas tabernas, bordéis, hospedarias e imediações da Bolsa de Amsterdam. Atento aqui à junção entre história urbana e história da comunicação, o autor assim reconstitui espacialmente a arena de informação e discussão por meio da qual o Atlântico penetrava a cidade.
Os seis capítulos que compõem o livro organizam o enredo de uma forma ao mesmo tempo cronológica e temática, o que torna a leitura fluida e a compreensão do texto clara. Ao passo em que a história do “Brasil holandês” vista a partir de Amsterdam se desenrola, passando pelo gradual envolvimento da população com temas brasileiros, a celebração das primeiras vitórias, o crescimento das tensões e disputas, o jogo da “culpabilização” pela derrota e a rememoração da antiga colônia, Groesen nos apresenta os elementos que definem o engajamento da opinião pública com as matérias atlânticas. Nesse sentido, reflete-se, por exemplo, sobre os gargalos da comunicação entre Europa e América, responsáveis por formatar uma “cultura de antecipação” (culture of anticipation): a demora das notícias amplificava a expectativa da população, estimulando hábeis editores a prepararem livretos e panfletos para o imediato momento da confirmação das vitórias militares.
Outro aspecto diz respeito ao já citado aumento dos canais de informação sobre o Atlântico, que não só diminuía a primazia das mídias impressas tradicionais, como também facilitava a apropriação das matérias atlânticas por segmentos médios e baixos da população, conferindo-lhes capacidade de agência frente às instâncias que geriam a Companhia. Isso pode ser visto na maneira frequente com que mães, esposas e viúvas de soldados e marinheiros traziam demandas às reuniões da Câmara de Amsterdam (um dos cinco escritórios que compunham a administração da WIC). O relativo sucesso com que tais mulheres exigiam o pagamento dos soldos de seus familiares mostra o quão bem informadas mantinham-se pelas redes de comunicação existentes sobre o que ocorria do outro lado do oceano. A aparente preocupação em receber as demandas e, acima de tudo, aceitar os pedidos, revela, por sua vez, o cuidado dos diretores em manter a credibilidade da Companhia em alta.
As tentativas da WIC de criar um consenso público em torno das iniciativas coloniais no Brasil mostraram-se, a médio prazo, infrutíferas. Se nos primeiros anos, os esforços publicísticos da Companhia e a conjuntura de vitórias marítimas foram suficientes para manter um relativo “controle” do debate público, com a Insurreição Pernambucana (1645) e o crescente endividamento da empresa, antigas fraturas antes abafadas reapareceram com virulência em panfletos anônimos, mostrando que também o mundo Atlântico estaria sujeito à feroz “cultura de discussão” (discussion culture) de Amsterdam. Esse aspecto da opinião pública é sintetizado por Groesen através do neologismo Amsterdamnified (capítulo 5), termo retirado de um panfleto escrito pelo poeta inglês John Taylor em 1641. A expressão resume a maneira como o acirramento do debate público em Amsterdam poderia, por vezes, sair da esfera de controle das autoridades municipais, adquirindo uma dinâmica própria na qual escritores profissionais e editores, protegidos pelo anonimato, inflamavam a audiência urbana. Em defesa da colônia, panfletos acusavam de traição oficiais do exército, ou mesmo regentes de Amsterdam, pela alegada recusa de apoio à WIC. Folhetos contra os defensores da Companhia, em contrapartida, também se tornaram abundantes no período, criticando o estado calamitoso da Nova Holanda. O ano de 1649, em particular, experimentou o apogeu das praatjes (diálogos), gênero de panfletos impressos nos quais os temas cotidianos eram apresentados através da encenação de conversas entre figuras típicas locais.
Ao fim, a WIC perderia a batalha doméstica pela opinião pública, erodindo parte do que lhe restava do suporte político nas Províncias Unidas e apressando, segundo o autor, a queda de Recife. Os regentes de Amsterdam, justamente no momento em que a Companhia mais precisava de auxílio financeiro, recusaram-se a salvar a colônia em apuros. O abandono do “Brasil holandês” pela cidade teria, com efeito, um papel decisivo nos rumos da guerra luso-neerlandesa.
A perda da colônia americana não significou, todavia, o fim das representações sobre o Brasil nas Províncias Unidas. No sexto capítulo, Groesen apresenta quais imagens permaneceram vivas na memória coletiva dos neerlandeses. Impulsionando tal esforço de rememoração encontrava-se, em primeiro lugar, a própria campanha publicística levada a cabo pelo conde João Maurício de Nassau, que utilizaria o conjunto de pinturas, livros e utensílios referentes ao Brasil como capital político na corte de Haia. Ao lado das obras patrocinadas por Nassau, circulavam também no mercado neerlandês os quadros feitos por Frans Post após seu retorno a Haarlem. Os temas e motivos tropicais pintados nessa fase de sua carreira passariam a impulsionar uma imagem supostamente “exótica” do Brasil, em franco contraste com as representações do período de ocupação da colônia, detentoras de “elementos etnográficos” particulares ao impulso nassoviano. Finalmente, a imagem do Brasil permaneceria indiretamente presente na celebração dos almirantes da WIC. A partir da década de 1650, dá-se início nas Províncias Unidas àquilo que ficaria conhecido como o “culto aos heróis navais” (LAWRENCE, 1992). Livros e biografias coletivas sobre as principais batalhas e almirantes dariam grande espaço à rememoração de homens que fizeram sua fama no Atlântico, como Hendrick Loncq, Jan Lichthart, Joost Banckert e Jacob Willekens. Piet Heyn, o mais célebre de todos, se tornou conhecido não apenas pelo roubo da frota de prata (1628), mas também pelos ataques a Salvador em 1624 e 1627, sobre os quais desde a segunda metade do século XVII até a segunda metade do XIX seria produzida rica iconografia.
O argumento central de Amsterdam’s Atlantic repousa no conceito que amarra o livro na Conclusão: a existência de um Atlântico Público durante o período moderno. Groesen quer com isso chamar atenção, em primeiro lugar, para o ávido interesse com que o Atlântico era acompanhado pelas audiências europeias. Vitórias e derrotas em pontos extremos do oceano repercutiam no circuito de informações e nos espaços de debate público, mostrando que a matéria atlântica havia se transformado em elemento da cultura política europeia. Mas, no caminho inverso, o autor mostra pelo exemplo do “Brasil holandês” como a cultura de discussão e o acirramento do debate público mantinham estreita relação com os rumos dos acontecimentos atlânticos. As opiniões defendidas calorosamente nos circuitos de discussão tinham a capacidade de influenciar os agentes e instituições engajadas nas tarefas coloniais: o Atlântico transformava-se, assim, em opinião veiculada na praça pública, impactando as respostas com que estados e companhias europeias reagiam aos desafios imperiais.
“Contemporaries in Amsterdam (and possibly elsewhere in Europe) realized that their own opinions might help consolidate or change the course of Atlantic developments. This not only raised the stakes of public debate in early modern Europe but also raises the significance of a ‘public Atlantic’ for the field of Atlantic history.” (GROESEN, 2017, p. 194).
Embora o livro se coloque como um estudo sobre História Atlântica – o que sem dúvida alguma é -, o conceito de Atlântico Público tal qual formulado por Groesen não é operativo para todo o mundo atlântico. Vale lembrar que o livro fornece um estudo de caso que, segundo o autor, poderia ser extrapolado para outras comunidades políticas europeias, para as quais o Atlântico também teria relevância enquanto matéria de discussão pública. Que todos os exemplos se refiram às sociedades europeias se explica pela própria unidade de análise subjacente ao estudo:
“The making of news and opinion on Dutch Brazil was an exclusively European affair.” (GROESEN, 2017, p. 4).
Com efeito, Groesen mostra implicitamente como a compreende e quais os limites de sua aplicação: o resultado, ao fim, é que embora o Atlântico seja público, o público que discute mediante opiniões não é atlântico, mas exclusivamente europeu.
A história do ocaso da WIC e do “Brasil holandês”, contada a partir da opinião pública de Amsterdam, pode por vezes tornar opacas algumas das grandes tensões políticas entre grupos e frações de classe que operavam por trás de panfletos anônimos. Em alguns momentos do livro – sobretudo no capítulo 5 – a ênfase dada à lógica do debate público – em particular a seus aspectos editoriais – acaba por relegar a um plano secundário as forças sociopolíticas rivais à WIC, que possivelmente manejaram de forma ativa tais canais. Veja-se por exemplo o ciclo de diálogos anônimos publicados em 1649 contra a Companhia, o qual Groesen limita-se a classificar como uma “poderosa campanha midiática emanada de Amsterdam”, sem questionar especificamente qual ou quais grupos poderiam ter de fato se engajado nessa polêmica. Os “diálogos” de 1649 servem, para o autor, como exemplo da citada “Amsterdamnização” do debate público. Mesmo com a dificuldade advinda da natureza das fontes arroladas – escritos anônimos -, o leitor perde a referência dos interesses econômicos e geopolíticos subjacentes. Com efeito, a dilapidação da credibilidade da WIC parece ter sido obra apenas dessa lógica do debate público e de seus “profissionais”.3
A crítica, porém, em nada reduz a qualidade e relevância de Amsterdam’s Atlantic, uma vez que a grande questão de fundo da investigação de Groesen – ponto candente dentro da historiografia da colonização europeia no Novo Mundo – gira em torno do impacto que a colonização das Américas teve para os rumos das sociedades europeias. Vale lembrar que John Elliot, em The Old World and the New: 1492-1650 – um dos primeiros a elaborar a questão em seus contornos precisos -, havia minimizado o poder do Novo Mundo como referência cultural ao Velho. No início dos anos 2000, o estudo de Benjamin Schmidt, que assim como Groesen parte da experiência colonial neerlandesa do século XVII, já respondia ao problema em novos termos, apontando a importância da América e dos americanos como referência fundamental na construção do discurso político neerlandês durante a Guerra dos Oitenta Anos (SCHMIDT, 2006). A originalidade de Groesen é enfrentar o problema por meio de uma outra unidade de análise – até então pouco explorada nos estudos sobre o mundo atlântico -, desafiando, mais uma vez, a ideia de que o impacto da América na Europa teria sido menor ou tardio.
As contribuições de Amsterdam’s Atlantic ultrapassam, portanto, o campo historiográfico do “Brasil holandês”, colocando-se no ponto de intersecção entre História Atlântica e História Moderna. O livro apresenta um rico conjunto de evidências que sustentam as teses propostas, comprovando, assim, a importância das notícias atlânticas para a cultura política europeia.
1O autor também editou o livro The Legacy of Dutch Brazil (GROESEN, 2014).
2“a powerful media campaign emanating from Amsterdam throughout 1649.” (GROSEN, 2017, p. 138). Há dois aspectos importantes na maneira como o autor lida com a questão. De um lado, a disputa é descrita como uma luta entre Zelândia e Amsterdam, sem levar em conta os grupos econômicos que, na maior cidade holandesa, apoiavam a Companhia. Por outro, a ênfase na “Amsterdamnização” do debate, promovida por uma mídia impressa sem sujeitos ou grupos concretos, nubla os interesses em jogo. “In the second half of the 1640s, the print media exploited the polarization to an extent that public discussion on Brazil could be conducted only by anonymous authors and printers whose addresses and names did not exist. At the same time, their rhetoric concretely named and shamed public figures such as Amsterdam burgomasters and the local directors of the West India Company or used stereotypically ordinary citizens to castigate the corrupted regent class.” (GROESEN, 2017, p. 156, grifo nosso).
3Como não pensar no paralelismo entre o que se discute no capítulo 5 e os acontecimentos que marcaram o ano de 2016 na Inglaterra e nos Estados Unidos? Sem embargo da distância entre o século XVII e o mundo contemporâneo, a aproximação dos dois contextos pode ter ao menos uma importante valia: tanto quanto a lógica dos canais de discussão, importa investigar a participação furtiva de agentes com desigual capacidade de intervir nos debates públicos.
Editores responsáveis pela publicação:
Iris Kantor e Rafael de Bivar Marquese.
Referências
GROESEN, Michiel van. The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590-1634). Leiden & Boston: Brill, 2008. [ Links ]
GROESEN, Michiel van . The Legacy of Dutch Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. [ Links ]
GROESEN, Michiel van . Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. [ Links ]
LAWRENCE, Cynthia. “Hendrick de Keyser’s Heemskerk Monument: The Origins of the Cult and Iconography of Dutch Naval Heroes”. Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art, Vol. 21, No. 4, 1992, p. 265-295. [ Links ]
SCHMIDT, Benjamin. Innocence Abroad. The Dutch Imagination and the New World, 1570-1670. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. [ Links ]
Victor Bertocchi Ferreira – Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, processo 2016/21278-5). E-mail: [email protected].
Língu@ Nostr@. Vitória da Conquista, v.6, n.2, 2018.
Apresentação
- Apresentação da 11ª Edição
- Alceu Vanzig | PDF
Artigos – Dossiê
- Práticas de leitura: uma análise aplicada da metodologia docente com base na matriz de referência da língua portuguesa
- Karoliny Lima de Oliveira, Shirley Maclaine Lima Oliveira | PDF
- Poder ou assimetria na relação médico-paciente? – Costurando o tema a partir de flutuações teóricas e aplicadas dentro dos estudos da comunicação e da linguagem
- Francisco Renato Lima | PDF
- Ensino-aprendizagem da língua portuguesa: um estudo acerca da gramática normativa
- Luíza Francisca de Carvalho, Adílio Junior de Souza | PDF
- A escrita no processo de alfabetização: breve análise das práticas de professoras alfabetizadoras
- Claudionor Alves da Silva | PDF
- A consciência de processos de redução fonológica no inglês como LE
- Eliane Nowinski da Rosa | PDF
Publicado: 2019-01-07
Many Cold Wars: Reconceptualizing the Post-WWII World / Esboços / 2016
A little more than a quarter of century has passed since the Cold War ended. As the frenzy associated with it now appears odd, if not surreal, the nature of inquiry cannot be the same. It’s time to change our ways of thinking about the Cold War. To this end, we are co-editing a special issue of The Esboços, one of the leading historical magazines in Brazil on “Many Cold Wars: Reconceptualizing the Post-WWII World.” The key questions we are examining in this edition are as follows: How did local situations contribute to the shaping and maintenance of the Cold War? In what ways did local people utilize, or even take advantage of, Cold War narratives? How can we re-conceptualize the Cold War? How have studies of the Cold War developed in the last two decades, and what possible directions can we explore further? In short, what we are trying to do is to question the standard narrative of the Cold War, shedding light on diverse social conflicts, culture wars, and historical struggles at home that have often been obscured under the Cold War mantle. In doing so, we hope to draw attention to many “Cold Wars,” seen from many different places and diverse points of view, and fought for various purposes in many parts of the world. Ultimately we hope to foster discussions that will question the standard Cold War narrative that prioritizes the US-USSR conflict as the most important current in the history of the second half of the twentieth century.
In this special edition, scholars from different parts of the globe analyze diverse aspects of the Cold War. Some articles look into localized or regional conflicts enhanced by the global conflict played out by the two superpowers. Others examine various aspects of the global Cold War, exploring its historical meanings and functions in societies to understand this conflict that lasted for more than four decades.
From Australia, we have three contributions. First, in “The Indonesian Coup and Mass Killings, 1965-1967: A Reconceptualization of the Influence of the Cold War,” Angela Keys and Drew Cottle investigate how Indonesian local situations contributed to the occurrence of two vital and connected Cold War events, the Indonesian coup and massacre. The authors demonstrate how an Indonesian Army General, Suharto, was able to manipulates Cold War narratives to prompt anti-communist fervour, which triggered the massacre of more than half a million supposed “communists.” The authors show that domestic factors were vital to the development of these events, which can be understood as a kind of localized Cold War.
Second, in “Seeing ‘Reds’ in Colombia: Reconsidering the ‘Bogotazo’, 1948,” James Trapani investigates an event known as the Colombian Bogotazo—a series of massive riots that followed the assassination of Liberal leader Jorge Eliécer Gaitán in 1948, which brought Colombia to the verge of civil war. The author points out that the Soviet Union had scant influence on the region prior to the Cuban Revolution, and that the U.S. State Department recognized that the Colombian Bogotazo was not related to the global Cold War. The event involved its own social struggles and local backgrounds, and did not pose any legitimate threat to the region, nor to the United States. Nevertheless, U.S. Secretary of State George Marshall, according to the author, seized the opportunity as a pretext to intervene in Latin American affairs as part of the global Cold War. Trapani contends that similar cases can be seen in other parts of the region, characterizing a pattern of Latin American ‘Cold War’ that resulted in devastating national and regional consequences.
Third, Mitchell Yates and Drew Cottle’s “Conceptualizing Localized Cold Wars in Southern Africa” investigates what its authors call “little Cold Wars” in southern Africa between 1961 to 1989, during which ‘brushfire’ conflicts erupted in the Portuguese colonial territories of Angola and Mozambique, as well as in Rhodesia (and later Zimbabwe), South-West Africa (now Namibia), and the Republic of South Africa. This article intends to reconceptualize the history of the Cold War in southern Africa by demonstrating that, although intrinsically linked, these conflicts constituted not one homogenous conflict but several “little Cold Wars,” and that localized conditions, such as the consequences of colonization and decolonization, as well as racial and ethnic tensions, were the driving forces for conflict, not solely the global East-West ideological confrontation.
From the Ukraine, Viktoria A. Sukovata’s “Soviet Spy Cinema of the Early Cold War in the Context of Soviet Cultural Politics” examines Soviet cultural consciousness during the Cold War, which was echoed in the genre of spy cinema and literature. The article points out that the spy movie was one of the most representative genres of the Cold War period, and shows that this genre emerged and evolved because spy films were expressions of basic cultural notions of the epoch, public fears, and media clichés. In the article, the author closely investigates how images of spies and secret agents transformed Soviet cinema. Sukovata contends that Soviet cinema during the Cold War focused not on nuclear fears, but on the genre of the spy and military detectives because they were more representative of the perceptions of Soviet society of the clash between Soviet and the Western societies. Finally, she argues that Soviet spies and detectives were a metaphorical representation of Soviet intellectuals’ opinions concerning the nature of Soviet authorities.
From Argentina, Fabio Nigra contributes “The Victory Was Also Ideological: The Cold War of Reagan and Hollywood,” which examines the early 1980s, when the conflict with the Soviet Union took on a new impetus following Ronald Reagan’s triumph in the presidential election. The author shows how the new president sought to defeat the enemy by pushing on all fronts, even in the cultural sphere, and how Hollywood, particularly the major studios, collaborated with what was called the “Second Cold War” through producing popular films such as Rambo, Rocky, and Terminator, among many others, which created a new consensus. According to the author, these Hollywood films constructed the image of the abnormally muscular superman, who only with his own efforts could triumph in a situation where the world was against him. The author finds a parallel between this image of a solitary man struggling against the world and the fight of Reagan against the pessimistic atmosphere in his country, showing the power of Hollywood in fighting the Vietnam Syndrome.
From Brazil, Flavio A. Combat contributes “The Centrality of William Appleman Williams’ Thinking in the Historiographical Debate on the Cold War,” discussing the importance of the founder of the Wisconsin School, William Appleman Williams. To Combat, Williams was the first American historian to offer a new interpretation in the late 1950s on the origins and consequences of the Cold War. The author explains the ways in which Williams challenged orthodoxy views through proposing a new interpretation of American society and its interests. The article aims at closely analyzing Williams’ viewpoint, with a particular focus on The Tragedy of American Diplomacy (1959), a masterpiece that summarized his interpretation of U.S. expansionism and its centrality in shaping U.S. foreign policy since the late nineteenth century. In particular, Combat looks into Williams’ “frontier thesis,” the foundation of expansionist U.S. foreign policy, contending that the “tragedy” of U.S. diplomacy in the twentieth century took place precisely as a result of the introjection of the “frontier thesis” in U.S. foreign policy.
Finally, also from Brazil, Sidnei J. Munhoz, contributes “Imperialism and anti-Imperialism, Communism and Anti-Communism during the Cold War,” which explores various regional and local conflicts during the Cold War. In particular, the article examines the ways in which the rise of dozens of new nation-states as a result of anticolonial struggles influenced international relations, impacting the superpowers’ global order projects. The author pays significant attention to regional wars, revolutions, and military coups d’état in the so-called Third World, and argues that, within each bloc, there were many rivalries and disputes among small partners in their search for the consolidation of regional hegemonies, as well as frictions inside of these societies. The article concludes that a cautious examination shows the limits of analysis based only on the bipolar perspective, arguing instead that there was less homogeneity inside of each bloc, where small actors acted in pursuing their own objectives.
As editors of this special issue, we—Sidnei J. Munhoz and Masuda Hajimu—hope that these articles will stimulate scholarly discussions about the Cold War, encourage new perspectives and approaches, and further expand the field to better understand what the Cold War really was.
Sidnei J. Munhoz – Universidade Estadual de Maringá-UEM. PhD in Economic History from the Universidade de São Paulo (1997). Associate Professor at the Universidade Estadual de Maringá and the Postgraduate Program in History (PPH-UEM, Maringá, Paraná, Brazil). Email: [email protected]
Masuda Hajimu – National University of Singapore-NUS. Ph.D. from Cornell University in 2012. Assistant Professor in the Department of History at the National University of Singapore, Singapore. Email: [email protected]
Organizers
[DR]História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.26, n.4, 2019.
- EVIDÊNCIAS científicas em homeopatia Livros & Redes
- Teixeira, Marcus Zulian
- Texto: PT
- PDF: PT
- A história das ciências e o Qualis Periódicos Carta Do Editor
- Cueto, Marcos
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Em defesa das fontes em tempos incertos Carta Dos Editores Convidados
- Heymann, Luciana; Rodrigues, Rogério Rosa
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- A morte e os milagres de frei Fabiano de Cristo: conexões entre crenças religiosas e cura de doenças no Rio de Janeiro setecentista Análise
- Martins, William de Souza
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Curas milagrosas: publicidades de medicamentos varios en la prensa santafesina, Argentina (1890-1918) Análise
- Sedran, Paula María; Carbonetti, Adrián
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- O conceito de regionalização do Sistema Único de Saúde e seu tempo histórico Análise
- Mello, Guilherme Arantes; Demarzo, Marcelo; Viana, Ana Luiza D’Ávila
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- “Do meu amor ao Paraguai e à raça guarani”: ideias e projetos do naturalista e botânico Moisés Santiago Bertoni (1857-1929) Análise
- Fleck, Eliane Cristina Deckmann
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Franco Basaglia: biografia de um revolucionário Análise
- Serapioni, Mauro
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Educação e propaganda sanitárias: desdobramentos da formação de um sanitarista brasileiro na Fundação Rockefeller Imagens
- Batista, Ricardo dos Santos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Del Hospício de Pedro II al Hospital Nacional de Alienados: cien años de historias (1841-1944) Nota De Pesquisa
- Dias, Allister Andrew Teixeira; Capela, Raisa Monteiro
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Instrumentos, objetos e coleções como fontes para a história do ensino das ciências Fontes
- Gomes, Inês
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Fontes para uma história do Hospital de Manguinhos Fontes
- Guimarães, Maria Regina Cotrim
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Homeopatia na América Latina e na Espanha: avanços locais e redes internacionais Dossier Homeopathy In Latin America And Spain
- Berrones, Jethro Hernández; Palma, Patricia
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Rompendo as barreiras da regulamentação profissional: licenciamento médico, influência estrangeira e consolidação da homeopatia no México Análise
- Berrones, Jethro Hernández
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- George Deacon e a circulação de tratamentos homeopáticos em Lima (1880-1915) Análise
- Palma, Patricia
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- A difusão da homeopatia no início do século XIX: abordagem comparativa e os casos da Suécia e do Brasil Análise
- Waisse, Silvia; Eklöf, Motzi
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Vínculos entre homeopatia e espiritismo no Rio Grande do Sul na passagem para o século XX Análise
- Weber, Beatriz Teixeira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Homeopatia, medicina alternativa: entre contracultura, Nova Era e oficialização (Brasil, década de 1970) Análise
- Sigolo, Renata Palandri
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- El “específico homeopático”: legitimación comercial de la homeopatía en Barcelona (1902-1910) Análise
- Buisan, Joel Piqué
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Defensa de los derechos adquiridos: luchas y albures del ejercicio de la homeopatía en Colombia (1905-1950) Análise
- Orrego, Victoria Estrada; Valderrama, Jorge Márquez
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Homeopatia no serviço público de saúde: pré-avaliação das ações no município do Recife (PE) Análise
- Lima, Sebastianjorge Florêncio Ferreira de; Cazarin, Gisele; Vanderlei, Carlos Eduardo Danzi
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Eugenia, crise e as incertezas do futuro Livros & Redes
- Wegner, Robert
- Texto: PT
- PDF: PT
- Alarma y control, olvido y resistencia: el devenir histórico de la poliomielitis en la Argentina Livros & Redes
- Ferreyra, Fausto Gabriel
- Texto: ES
- PDF: ES
- Do ponto de vista da espécie Livros & Redes
- Costa, José
- Texto: PT
- PDF: PT
- El legado de Hypnos Livros & Redes
- Novella, Enric
- Texto: ES
- PDF: ES
- ERRATA Errata
- Texto: PT
- PDF: PT
Tempo. Rio de Janeiro, v.25, n.3, 2019.
- Um caso raro: O moço loiro e a formação do acervo comum do romance brasileiro Artigo
- Cerqueira, Rodrigo Soares de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Santa Teresa e os fundadores: iconologia da pintura de João de Deus e Sepúlveda na Igreja da Ordem Terceira Carmelita do Recife (Séc. XVIII) Artigo
- Honor, André Cabral
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A era da crise migratória Article
- Guizardi, Menara Lube
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Liberdade entre fronteiras: libertos no Território Indígena e no Sul dos Estados Unidos Artigo
- Yarbrough, Fay A.
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O federalismo e os Estados Unidos no pensamento de Valentín Gómez Farías: convicções e suspeitas Artículo
- Dupré, Eduardo Andrés Hodge
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- O processo de tombamento da primeira sede do Museu Nacional na atual Praça da República – Rio de Janeiro Artigo
- Gomes, Ana Lúcia de Abreu; Lopes, Maria Margaret
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Introdução: História como diagnóstico Dossier History As Diagnosis
- Wiklund, Martin; Caldas, Pedro Spinola Pereira
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- A gripe de Charles Péguy: a metáfora do diagnóstico no cruzamento dos discursos históricos, sociológicos e filosóficos em 1900 Dossier History As Diagnosis
- Bauwelinck, Egon
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Espanha e os médicos: teorias históricas como diagnósticos em psicopatologia nacional Dossier History As Diagnosis
- Vega, Juan Luis Fernández
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Erguendo barreiras contra o irracionalismo: História das Ciências e diagnóstico da atualidade em Gaston Bachelard Dossiê História Como Diagnóstico
- Almeida, Tiago Santos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O conceito de evento limite: Uma análise de seus diagnósticos Dossiê História Como Diagnóstico
- Caldas, Pedro Spinola Pereira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O imenso mundo de Portugal Resenha
- Franco, Renato
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- História relacional: uma entrevista com Dale Tomich Interview
- Marques, Leonardo; Parron, Tâmis
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Errata Errata
- Texto: PT
- PDF: PT
Cadernos Pagu. Campinas, n.57, 2019
- Un recorrido por la historia trans*: desde el ámbito biomédico al movimiento activista-social Artigo
- Amigo-Ventureira, Ana María
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Perfechatividades de gênero: a contribuição das fechativas e afeminadas à teoria da performatividade de gênero Artigo
- Colling, Leandro; Arruda, Murilo Souza; Nonato, Murillo Nascimento
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Códigos corporales y tecnológicos: Los feminismos como prácticas hacker Artigos
- Pozo, Lola Martínez
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- O rolê feminista: autonomia e política prefigurativa no campo feminista contemporâneo Artigo
- Carmo, Íris Nery do
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Fluctuaciones de la energía emocional durante las clases de salsa y bachata Artigo
- Palumbo, Mariana
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Ideários da Educação Feminina na Primeira República Brasileira Artigo
- Valentim, Renata Patricia Forain de; Martins, Renata Dahwache; Rodrigues, Mariana Martelo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Loucas ou modernas? Mulheres em revista (1920-1940) Artigo
- Facchinetti, Cristiana; Carvalho, Carolina
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
Almanack. Guarulhos, n.23, 2019.
Almanack. Guarulhos, n.23, 2019.
Palavras para Debate
- Almanack para quê? | Slemian, Andréa; Chaves, Claudia EN
Fórum
- TRAJETÓRIAS MILITARES NA ERA DAS INDEPENDÊNCIAS: ENTRE PROSOPOGRAFIAS E NARRATIVAS | Costa, Wilma Peres EN
- MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS EN LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA: DE FORJADORES DE LOS EJÉRCITOS NUEVOS A ACTORES DEL DEBATE POLÍTICO1 | Puigmal, Patrick
- DOS INDIVÍDUOS COMO ATORES DA HISTÓRIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O | ARTIGO| DE PATRICK PUIGMAL1 | Neves, Lucia Maria Bastos Pereira das
- CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESENÇA DE MILITARES NAPOLEÔNICOS NO IMPÉRIO DO BRASIL | Ribeiro, José Iran
- ARGENTINE POLITICAL VIOLENCE DURING STATE FORMATION (1862-1880) AN INTERPRETATIVE ESSAY | Cucchi, Laura
Artigo
- CAPITALISM, SLAVERY AND THE MAKING OF BRAZILIAN SLAVEHOLDING CLASS: A THEORETICAL DEBATE ON WORLD-SYSTEM PERSPECTIVE | Ferraro, Marcelo Rosanova
- COMÉRCIO ILEGAL DE AFRICANOS NO INTERIOR DO BRASIL OITOCENTISTA: O CASO DO PATACHO HERMINIA (PARAÍBA – 1850) | Guimarães, Matheus Silveira
- DUAS NARRATIVAS PARA O LUGAR DOS INDÍGENAS NAS ORIGENS DA NAÇÃO: A HISTÓRIA FICCIONAL DE MAGALHÃES E ALENCAR | Ferreira, Cristina; Lenz, Thiago
- ARTESANOS HISPANOAMERICANOS DEL SIGLO XIX: IDENTIDADES, ORGANIZACIONES Y ACCIÓN POLÍTICA | Meglio, Gabriel Di; Guzmán, Tomás; Katz, Mariana
- “UM JOGO DE PARTIDOS”: EDUCAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA NO MARANHÃO IMPERIAL | Silva, Alexandre Ribeiro e; Vidal, Diana Gonçalves
- HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA ANALÍTICA E SENTIMENTAL: PROPOSIÇÕES SOBRE DISTÂNCIA HISTÓRICA, NOSTALGIA E VISÕES DA MODERNIDADE BRASILEIRA NOS OITOCENTOS1 | Silva, Rodrigo Machado da
- REPUBLICANISMO OU REPUBLICANISMOS? IDEIAS DE REPÚBLICA NA PROVÍNCIA DO ESPÍRITO SANTO, 1887-1889 | Siqueira, Karulliny Silverol
Resenha
- O CAPITALISMO NO QUADRO ESCRAVISTA DOS EUA E A MODERNIDADE INDUSTRIAL | Novaes, Fernanda
- THE PLACE OF CUBA IN THE GLOBAL HISTORY OF RECONSTRUCTION | Payne, Samantha EN EN IMPRESSOS E SUA DIMENSÃO PRÁTICA | Telles, Danielly
Errata
História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.26, n.3, 2019.
- A história e as mudanças na publicação científica: resistência ou adaptação? Carta Do Editor
- Silva, André Felipe Cândido da
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Saberes médicos y reflexiones morales durante el período rosista: Buenos Aires, 1835-1847 Análise
- Di Pasquale, Mariano
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- Como a imagem de cientista aparece em curtas de animação? Análise
- Reznik, Gabriela; Massarani, Luisa; Moreira, Ildeu de Castro
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- ¿Cosmopolitismo o subordinación? La participación de científicos latinoamericanos en programas europeos: motivaciones y dinámicas analizadas desde el punto de vista de los líderes europeos Análise
- Feld, Adriana; Kreimer, Pablo
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- A formação inicial de Antônio Luis Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto: uma trajetória rumo à saúde internacional Análise
- Batista, Ricardo dos Santos
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Anopheles gambiae no Brasil: antecedentes para um “alastramento silencioso”, 1930-1932 Análise
- Lopes, Gabriel
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Pediatría y cultura de viaje: los pensionados españoles y la apropiación del laboratorio en la periferia, 1907-1939 Análise
- Morgado, Raúl Velasco
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Memórias póstumas da loucura mulata: as apropriações de Machado de Assis sob o corte patológico Análise
- Castro, Alexandre de Carvalho
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- La metáfora energética del ser humano y su incidencia en el auge de la neurastenia, la neurosis y la depresión Análise
- De La Fabián, Rodrigo; Pizarro, Francisco; Ruperthuz, Mariano
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Escritas de si e de uma doença: um estudo sobre produções de caráter biográfico e autobiográfico de ex-portadores do mal de Hansen Análise
- Porto, Carla Lisboa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Por uma sociologia da autoajuda: o esboço de sua legitimação na sociedade contemporânea Análise
- Leite, Elaine da Silveira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Doenças midiaticamente negligenciadas e estratégias de visibilidade na percepção de atores-chave Análise
- Emerich, Tatiana Breder; Cavaca, Aline Guio; Santos-Neto, Edson Theodoro dos; Lerner, Kátia; Oliveira, Adauto Emmerich
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Governo eletrônico da vida cotidiana por aplicativos de gestão da saúde no Apple Watch Análise
- Stassun, Cristian Caê Seemann; Pich, Santiago
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- “Onde estão os botocudos?” Exposições antropológicas e olhares entrelaçados, 1882-1883 Analysis
- Fischer, Georg
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Lutas pela história da saúde: perspectivas sobre as ciências sociais em saúde a partir da trajetória intelectual de Luiz Antonio de Castro Santos Depoimento
- Santos, Luiz Antonio de Castro; Paiva, Carlos Henrique Assunção; Pires-Alves, Fernando; Teixeira, Luiz Antonio
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Documentos de arquivo produzidos pela atividade científica: uma análise dos cadernos de laboratório do Instituto Oswaldo Cruz Nota De Pesquisa
- Santos, Paulo Roberto Elian dos; Borges, Renata Silva; Lourenço, Francisco dos Santos
- Resumo: PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Edición de la Disertación sobre la manía aguda (1827) del médico Diego Alcorta Fontes
- Greif, Esteban Augusto
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- O “direito à memória”: Escola Eunice Weaver, memória individual e a constituição de um arquivo histórico em Goiás Fontes
- Silva, Leicy Francisca da; Teixeira, Ricardo Antonio Gonçalves
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O problema da agência na ciência moderna: cinco séculos de debates e controvérsias Livros & Redes
- Vital, André Vasques
- Texto: PT
- PDF: PT
- O emergir de um cânone: Roquette-Pinto e o retrato da nação Livros & Redes
- Pietta, Gerson
- Texto: PT
- PDF: PT
- Políticas públicas, gênero e moralidades Livros & Redes
- Aureliano, Waleska
- Texto: PT
- PDF: PT
- Cronos tudo devora! Livros & Redes
- Soares, Ricardo; Ferreira, Paulo Henrique Zuzarte
- Texto: PT
- PDF: PT
- Isla nerviosa: loucura, psiquiatria e reforma em Cuba, séculos XIX e XX Books & Networks
- Rodriguez, Julia Emilia
- Texto: EN
- PDF: EN
- As muitas faces do darwinismo no Brasil do século XIX Livros & Redes
- Stahl, Moisés
- Texto: PT
- PDF: PT
- ERRATA 1 Errata
- Texto: EN
- PDF: EN
- ERRATA 2 Errata
- Texto: PT
- PDF: PT
Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v.27, n.3, 2019
- · Feminismos e Gênero em tempos de mal-estar Editorial
- Ramos, Tânia Regina de Oliveira; Minella, Luzinete Simões; Lago, Mara Coelho de Souza; Wolff, Cristina Scheibe
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Gênero e ensino de Artes Visuais: desafios, armadilhas e resistências Artigos
- Dias, Taís Ritter; Loponte, Luciana Gruppelli
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Prática artística como local de visibilização das mulheres transgênero de Pereira (Colômbia) Artigos
- Silva-Cañaveral, Sandra Johana
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Tornar-se mulher negra: escrita de si em um espaço interseccional Artigos
- Weschenfelder, Viviane Inês; Fabris, Elí Terezinha Henn
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · A disforia de gênero como síndrome cultural norte-americana Artigos
- Henriques, Rogério da Silva Paes; Leite, André Filipe dos Santos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Quando o amor é o problema: feminismo e poliamor em debate Artigos
- Pilão, Antonio Cerdeira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Corpo infectado/corpus infectado: aids, narrativa e metáforas oportunistas Artigos
- Alós, Anselmo Peres
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O que sabemos sobre intervenções com autores de violência doméstica e familiar? Artigos
- Nothaft, Raíssa Jeanine; Beiras, Adriano
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- · Rumo a uma reconceituação do assédio nas ruas Artigos
- Onetto, Fernanda Maria Chacon
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Violência contra as mulheres nos textos legais da América Latina e do Caribe Artigos
- Zurbano-Berenguer, Belén; Gordillo, María del Mar García; Berenguer, Alba Zurbano
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Gênero e constitucionalismo: sobre a Lei de proteção às mulheres do Estado Plurinacional da Bolívia Artigos
- Silva, Diogo Bacha e; Vieira, José Ribas
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Um corte na alma: como parturientes e doulas significam a violência obstétrica que experienciam Artigos
- Sampaio, Juliana; Tavares, Tatiana Lopes de Albuquerque; Herculano, Thuany Bento
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Violência contra mulheres nos livros didáticos de História (PNLD 2018) Artigos
- Oliveira, Susane Rodrigues de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Violência na Internet contra feministas e outras ativistas chilenas Artigos
- Soto, Cecilia Alejandra Ananías; Sánchez, Karen Denisse Vergara
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Una aguja, una lámpara, un telar Artigos
- Allucci, Renata Rendelucci
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Mulheres Indígenas nas Missões: patrimônio silenciado Artigos
- Baptista, Jean Tiago; Wichers, Camila Azevedo de Moraes; Boita, Tony Willian
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Em nome de Maya Angelou Artigos
- Rodrigues, Felipe Fanuel Xavier
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Cronologia do movimento feminista no Chile 2006-2016 Artigos
- Alvarez, Silvia Lamadrid; Navarrete, Alexandra Benitt
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Mulheres Empresárias: Uma Abordagem da Teoria da Identidade Performativa Artigos
- Astorga, Paulina Soledad Santander
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Formas organizacionais feministas na implementação de políticas públicas Artigos
- Caicedo-Muñoz, Silvia Cristina
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Educação e gênero: histórias de estudantes do curso Gênero e Diversidade na Escola Artigos
- Oltramari, Leandro Castro; Gesser, Marivete
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Dos Museus dos Descobrimentos às Exposições do Império: o Corpo Colonial em Portugal Artigos
- Gomes, Mariana Selister
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Problematizando o discurso biológico sobre o corpo e gênero, e sua influência nas práticas de ensino da biologia Ponto De Vista
- Marin, Yonier Alexander Orozco
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · “O humor mostra… como as coisas não devem ser”: uma entrevista com Ciça Ponto De Vista
- Crescêncio, Cintia Lima
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Cooperação internacional, parcerias acadêmicas e afeto na perspectiva Sul-Sul Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Moutinho, Laura
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Herança colonial confrontada: reflexões sobre África do Sul, Brasil e Estados Unidos Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Neves, Paulo Sérgio da Costa; Moutinho, Laura; Schwarcz, Lilia Katri Moritz
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Deficiência como categoria do Sul Global: primeiras aproximações com a África do Sul Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Lopes, Pedro
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Soberania Alimentar no Machimbombo e na aldeia: gênero na perpectiva Sul-Sul Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Liberato, Rita Simone; Moutinho, Laura; Noronha, Isabel; Bagnol, Brigitte
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Construindo espaços de pertencimento: lésbicas queer na Cidade do Cabo Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Holland-Muter, Susan
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Sugar relationships: sexo, afeto e consumo na África do Sul e no Brasil Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Tiriba, Thais Henriques
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Experiências que tangenciam o (in)visível e a mobilidade: etnografias em diálogo Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Barros, Denise Dias; Mariano, Esmeralda Celeste
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · “Machamba não é trabalho!”: HIV/SIDA e Produção Agrícola no centro de Moçambique Seção Temática Nações E Memórias Em Transe: Moçambique, África Do Sul E Brasil
- Braga, Carla Teofilo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Uma escrita biográfica apaixonada Resenhas
- Pereira, João Lenon Siqueira
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Imagens do gênero nas disputas pelo poder na América Latina Resenha
- Martins, Joyce Miranda Leão
- Texto: PT
- PDF: PT
- · As freiras que resistiram: atuação de religiosas durante a ditadura militar no Brasil Resenha
- Silva, Kelly Caroline Noll da
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Por uma antropologia engajada Resenha
- Fonseca, Larissa Mattos da; Ramos, Leonardo de Miranda
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Reescrevendo a história da literatura irlandesa Resenha
- Oliveira, Leide Daiane de Almeida
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O discurso dos perversos: praticantes de BDSM em busca de legitimação Resenha
- Barp, Luiz Fernando Greiner
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Quem tem medo do feminismo negro? A urgência do debate racial no Brasil Resenha
- Malcher, Monique; Rial, Carmen Silvia
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Feminismo, filosofia e teoria social: mulheres em debate Resenha
- Santos, Patrícia da Silva
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Da teoria às práticas: a epistemologia cotidiana de um feminismo em comunhão Resenha
- Lucena, Sarah Catão de
- Texto: PT
- PDF: PT
História das Mulheres e Estudos de Gênero: novas questões e abordagens / Ars Historica / 2019
Obs.: Apresentação indisponível na publicação original.
[História das Mulheres e Estudos de Gênero: novas questões e abordagens]. Ars Historica, Rio de Janeiro, v.18, n.1, 2019. Acessar dossiê [DR]Tempo. Rio de Janeiro, v.25, n.2, 2019
- Intelectuais e culturas políticas em Portugal: à volta de Antero de Quental e António Sérgio Artigo
- Martinho, Francisco Carlos Palomanes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A (des)fortuna de Thomas Paine: um problema histórico e historiográfico Artigo
- Carvalho, Daniel Gomes de; Florenzano, Modesto
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Olhos de mosca. Peronistas, política e os lugares de ação (1945-1955) Artigo
- Rogé, Mariana Garzón
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- Vencidas a distância e floresta!: A Transbrasiliana e a Amazônia desenvolvimentista Artigo
- Andrade, Rômulo de Paula
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Da construção de uma memória de santidade ao culto público: reflexões sobre a santidade do bispo Ordonho de Astorga (? – 1066) Artigo
- Silva, Andréia Cristina Lopes Frazão da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Exílio e afastamento: considerações sobre uma hermenêutica da distância? Dossiê Apresentação
- Jensen, Silvina; Parada, Mauricio
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Falar sobre o (no) exílio no século XX: questões terminológicas, literárias e editoriais. Apontamentos sobre o exílio da Guerra Civil Espanhola Dossiê Exílio E Afastamento: Considerações Sobre Uma Hermenêutica Da Distância?
- Gerhardt, Federico
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- O exílio africano de Paulo Farias (África Ocidental, 1964-1969) Dossiê Exílio E Afastamento: Considerações Sobre Uma Hermenêutica Da Distância?
- Reis, Luiza Nascimento dos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Filantropia cultural e exílio político: a Fundação Ford entre Argentina e os Estados Unidos (1959-1979) Dossiê Exílio E Afastamento: Considerações Sobre Uma Hermenêutica Da Distância?
- Calandra, Benedetta
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- “Reaparecer no exílio”: experiências de militantes argentinos sobreviventes de desaparição forçada na Venezuela (1979-1984) Dossiê Exílio E Afastamento: Considerações Sobre Uma Hermenêutica Da Distância?
- Ayala, Mario
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- “Deixar de ser sintoma com o silêncio”: o retorno do exílio no campo da saúde mental na pós-ditadura argentina (1983-1986) Dossiê Exílio E Afastamento: Considerações Sobre Uma Hermenêutica Da Distância?
- Lastra, María Soledad
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- História digital do tráfico transatlântico de escravos: uma entrevista com David Eltis Entrevista
- Marques, Leonardo
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- O interno e o externo: o barão do Rio Branco revisitado Resenha
- Soares, Rodrigo Goyena
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
Cadernos Pagu. Campinas, n.56, 2019.
- Simone de Beauvoir e a escrita dos feminismos Dossiê Simone De Beauvoir
- Moraes, Maria Lygia Quartim de; Santos, Magda Guadalupe dos
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- O que pode ser criticado nas críticas a O Segundo SexoDossiê Simone De Beauvoir
- Candiani, Heci Regina
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Filosofía de la ambigüedad o el ambiguo lugar de las mujeres Dossiê Simone De Beauvoir
- Femenías, María Luisa
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- El bagaje filosófico de Beauvoir Dossiê Simone De Beauvoir
- Pardina, Teresa López
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Feminismo versus neoliberalismo: práticas de liberdade das mulheres numa perspectiva mundial Dossiê Simone De Beauvoir
- Vintges, Karen
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Ser e devir: Butler leitora de Beauvoir Dossiê Simone De Beauvoir
- Rodrigues, Carla
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- As ideias e os ideais que definem uma vida: Simone de Beauvoir e Carmen da Silva Dossiê Simone De Beauvoir
- Barroso, Carmen
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Os desafios da “escrita por encomenda” e o esforço de desmitificação no pensamento de Simone de Beauvoir Dossiê Simone De Beauvoir
- Santos, Magda Guadalupe dos
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- “Todas queríamos ser como Simone”: Las primeras lecturas de El Segundo Sexoen Argentina Dossiê Simone De Beauvoir
- Tarducci, Monica
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- As mulheres desiludidas: de Simone de Beauvoir à “ideologia de gênero” Dossiê Simone De Beauvoir
- Mano, Maíra Kubík
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- La noción de performatividad de género para el análisis del discurso fílmico*Artigo
- Esparza, Hortensia Manuela Moreno; Cruz, César Torres
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Militância política e relações de gênero: o caso das mulheres militantes no Curdistão* Artigo
- Amorosi, Lucia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Feminismos em movimento no ciberespaço*Artigo
- Martinez, Fabiana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Mujeres profesionales del sexo: prácticas reflexivas y posiciones en el campo* Artigo
- Ibacache, Jacqueline Espinoza; Íñiguez-Rueda, Lupinicio
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Relações de gênero e acesso à educação: migrantes nordestinas no pontal mineiro (1950-1960) * Artigo
- Silveira, Daiane de Lima Soares; Souza, Sauloéber Tarsio de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Cientistas na TV: como homens e mulheres da ciência são representados no Jornal Nacionale no Fantástico * Artigo
- Massarani, Luisa; Castelfranchi, Yurij; Pedreira, Anna Elisa
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Caracterización del liderazgo femenino en ámbitos militares. Reflexiones a partir de las experiencias de las alféreces en su fase de mando Artigo
- Husain-Talero, Soraya; Angulo, Luis Guillermo Muñoz
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Derecho y Cambio Social: Un Ejercicio Aplicado desde Vidas Trans Artigo
- Salas-Herrera, Natalia
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Jóvenes universitarias en el Valle del Mezquital: autonomía frente a la violencia Artigo
- Huerta Mata, Rosa María
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Caminos hacia la corresponsabilidad: los varones en el cuidado infantil en Uruguay Artigo
- Solari, Sol Scavino; Batthyány, Karina
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Ciberfeminismos contemporáneos, entre usos y apropiaciones Artigo
- Natansohn, Graciela; Paz, Mônica
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Gênero e violência simbólica em eventos esportivos universitários paulistas Artigo
- Michetti, Miqueli; Mettenheim, Sofia Leonor Von
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- As assembleias públicas a partir do pensamento de Judith Butler: versões emergentes e provisórias de soberania popular? Resenha
- Dal’Igna, Maria Cláudia; Scherer, Renata Porcher
- Texto: PT
- PDF: PT
- Entre desigualdades, limites e relações de gênero: a democracia no Brasil Resenha
- Rosalen, Eloísa
- Texto: PT
- PDF: PT
- Gênero e consumo no espaço doméstico em perspectiva transnacional Resenha
- Silva, Joana Mello de Carvalho e
- Texto: PT
- PDF: PT
“Maps in Newspaper: Approaches to Study and Practices in Portrayin War since the 19th Century” | André Novaes
Fazer a leitura de Maps in newspapers: approaches to study and practices in portraying war since the 19th century é, sem dúvida, percorrer uma obra ímpar. Primeiramente, por seu formato não tão comum na produção acadêmica do Brasil, trata-se de uma monografia que compõe o primeiro volume da coleção Brill Research Perspectives in Map History, da editora holandesa Brill, que propõe trabalhos aprofundados sobre uma determinada perspectiva da história da cartografia e suas abordagens.1 Em segundo, mas não menos importante, também se destaca a particular riqueza das abordagens metodológicas que o texto explora para a pesquisa e compreensão das construções cartográficas, particularmente aquelas da imprensa.
De ímpar, torna-se também uma obra necessária no sentido de colocar em diálogo as diversas abordagens para o estudo dos mapas em sua pluralidade de formas. Mais da metade de suas páginas são destinadas a essa densa discussão, que o autor desenvolve com fluidez, aportado em uma variedade de autores que nos faz sentir viajando entre ideias. Trata-se de uma espécie de confluência de todo trabalho que André Novaes vem construindo sobre o universo dos mapas na imprensa, desde seu mestrado, passando pelo doutorado, até seus mais recentes projetos de pesquisa. Leia Mais
Almanack. Guarulhos, n.22, 2019.
Almanack. Guarulhos, n.22, 2019.
Dossiê
- O OITOCENTOS VISTO A PARTIR DE SUAS DOENÇAS E ARTES DE CURAR | NOGUEIRA, ANDRÉ LUÍS LIMA; KURY, LORELAI BRILHANTE; FRANCO, SEBASTIÃO PIMENTEL
- DISCÍPULOS DE ASCLÉPIO: AS TESES MÉDICAS E A MEDICINA ACADÊMICA NO OITOCENTOS (1836-1897)1 | Abreu, Jean Luiz Neves
- “A IMPUGNAÇÃO ANALÍTICA”(…): UMA SEMIOLOGIA DAS DOENÇAS NERVOSAS, EM DEFESA DA MEDICINA DOUTA NO PERÍODO JOANINO 1 | Silva, Simone de Almeida
- MÉDICOS E CIRURGIÕES NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XIX NO BRASIL | Pimenta, Tânia Salgado
- TRÁFICO E ESCRAVIDÃO: CUIDAR DA SAÚDE E DA DOENÇA DOS AFRICANOS ESCRAVIZADOS1 | Sousa, Jorge Luiz Prata de
- DECRÉPITOS, ANÊMICOS, TUBERCULOSOS: AFRICANOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA (1867-1872) | Sampaio, Gabriela dos Reis
- CRUZ JOBIM E AS DOENÇAS DA CLASSE POBRE O CORPO ESCRAVO E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MÉDICO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX | Lima, Silvio Cezar de Souza
- CURAS ILEGAIS E REPRESSÃO NO OITOCENTOS ESPÍRITO SANTENSE: OS CASOS DE TREM E OLEGÁRIO | Franco, Sebastião Pimentel; Nogueira, André Luís Lima
Entrevista
- O CAMINHO DA HISTÓRIA: A TRAJETÓRIA ATLÂNTICA DE UM AFRICANISTA ENTREVISTA COM JOSEPH C. MILLER
Fórum
- IBERIAN DOMINANCE AND THE INTRUSION OF THE NORTHERN EUROPEANS INTO THE ATLANTIC WORLD: SLAVE TRADING AS A RESULT OF ECONOMIC GROWTH?1 | Eltis, David
- O COMÉRCIO “PORTUGUÊS/BRASILEIRO” DE ESCRAVOS NO TRANSATLANTIC SLAVE TRADE DATABASE | Soares, Mariza de Carvalho
- VARIETIES OF POLITICAL ECONOMY IN CAPITALISM WITH SLAVERY: COMMENTS ON DAVID ELTIS’S ESSAY AND HIS CONTRIBUTIONS TO BRAZILIAN HISTORIOGRAPHY1 | Slenes, Robert W.
Resenha
- O ESTADO IMPERIAL: UM SENHOR DE ESCRAVOS “POUCO DEFINIDO” | Azevedo, Larissa Biato
- O IMPÉRIO NEGOCIADO: AGENTES PROVINCIAIS NO AJUSTE DA ORDEM NO BRASIL INDEPENDENTE | Andrade, Claudia de
- HISTÓRIA SERIAL E ECONOMIA DE ABASTECIMENTO NO SUL DE MINAS | Santos, Karina Oliveira Morais dos
ERRATA
“Associações religiosas de leigos na América Portuguesa”: novas fontes e perspectivas de análise / Revista de História da UEG / 2019
As irmandades leigas surgiram na Idade Média europeia. Suas principais funções eram a ajuda mútua e o incremento do culto religioso. Na América portuguesa, elas cumpriam um papel semelhante, sendo responsáveis pelo ministério dos sacramentos e pelo socorro material e espiritual dos confrades. Presentes nas diversas instâncias da vida do indivíduo, as irmandades constituíam espaços em que, via de regra, os “socialmente semelhantes” se encontravam. Estes buscavam santos de devoção (oragos) que correspondessem simbolicamente ao estrato social ao qual pertenciam. Era comum a participação em mais de uma irmandade; entretanto, o livre trânsito entre essas associações era possível apenas para alguns, já que era algo dispendioso e algumas agremiações estavam restritas a segmentos sociais específicos. Além do pagamento do ingresso e de anuais, as irmandades de elite impunham exigências mais rígidas para a aceitação de novos irmãos, como a comprovação de “pureza de sangue” e ausência de “defeitos de cor”.
A associação para a veneração de um santo não tinha somente a intenção de reunir pessoas que partilhassem da mesma fé. Visava também agregar indivíduos com condições financeiras e sociais que seriam, em tese, semelhantes. Embora não possamos negar que a fé era o motivo que impulsionava a criação dessas associações, a demarcação das hierarquias sociais circunscrevia, sobremaneira, a participação nelas. Entre os negros e mulatos, elas constituíam – ao lado das milícias – um dos únicos canais legais de organização. Por isso, as irmandades tornaram-se verdadeiras porta-vozes das aspirações dos “homens de cor” na América portuguesa (AGUIAR, 1993).
Um dos principais motivos para o ingresso nessas associações era a preocupação com a “boa morte”, incluindo os rituais realizados nos últimos momentos de vida e aqueles post mortem, como as missas para salvação das almas do purgatório. Para além desses sufrágios e da devoção aos santos, o auxílio em caso de pobreza e doença constituía um dos principais motivos para o ingresso de irmãos. Assim, “tratava-se de fazer face à imprevisibilidade dos acontecimentos do dia a dia, assegurando a solidariedade em uma espécie de ‘família alargada’, a partir de uma valorização do sentimento cristão de fraternidade e de amor ao próximo” (PENTEADO, 1995, p. 26).
Desde os estudos pioneiros de Fritz Teixeira Salles (1963), Julita Scarano (1978), Russell-Wood (1981) e Caio Boschi (1983), emergiu uma volumosa produção historiográfica sobre as associações religiosas de irmãos leigos. Em busca realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a partir das palavras-chave “irmandade”, “confraria”, “associações religiosas” e “ordem terceira”, encontramos 46 trabalhos que investigam essas instituições no período colonial, defendidos na área de História entre 2001 e 2016. Para conhecermos os principais temas abordados, classificamos os trabalhos entre aqueles que têm essas instituições como objeto de pesquisa e os que tratam de algum assunto específico valendo-se das agremiações religiosas de leigos como um meio de compreensão dos seus temas centrais – tais como: a morte e os ritos funerários, os regimentos e a iconografia. Entre os 46 trabalhos defendidos em programas de pós-graduação stricto sensu, treze são do segundo tipo descrito acima.
Nove pesquisas se dedicaram à compreensão do funcionamento, atuação e perfil de seus membros. As demais se valeram de variados enfoques: análise de devoções, estudo da estratificação social, análise de ritos mortuários etc. As pesquisas abordaram corporações de diferentes tipos (confrarias, irmandades, arquiconfrarias, ordens terceiras e Santas Casas de Misericórdia) e que reuniam homens e mulheres de diferentes condições jurídicas (livre, forro e escravo) e qualidades (preto, crioulo, pardo e branco). As associações mais estudadas pertencem, respectivamente, aos seguintes oragos: irmandades de Nossa Senhora do Rosário, nove; Santíssimo Sacramento, três; São José, dois; Santa Ifigênia, Nossa Senhora dos Remédios, São Crispim, São Jorge, São Gonçalo Garcia, Nossa Senhora das Mercês e São Miguel e Almas, contam com um trabalho cada um. Quatro estudos tratam das Santas Casas de Misericórdia e oito das ordens terceiras.
As dissertações e teses aqui compreendidas adotaram recortes espaciais diversificados, abrangendo tanto estudos mais localizados quanto análises mais amplas que tratam de mais de uma capitania, incluindo uma pesquisa que abarca Brasil e Portugal. Contudo, dentre os trabalhos que se concentram em espaços geográficos menores, os mais recorrentes são Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
A partir dos dados arrolados podemos evidenciar a importância desse tipo de instituição durante o período colonial brasileiro, tanto no que se refere ao número de trabalhos realizados sobre a temática quanto à difusão dessas agremiações pela colônia. Apesar de o assunto contar com diversos trabalhos, ainda há bastante campo de pesquisa a ser explorado pelos historiadores, seja a partir de fontes inéditas ou por novos olhares para fontes já conhecidas.
O propósito desse dossiê é divulgar os novos debates sobre a temática das associações religiosas de irmãos leigos no período colonial, realizados por jovens pesquisadores de diferentes programas de pós-graduação do país. Os artigos aqui reunidos formam uma bela amostragem dessa produção mais recente.
Leonara Lacerda Delfino analisa como os irmãos do Rosário de São João del-Rei (MG) buscaram uma maior autonomia no interior dos seus templos, em detrimento da autoridade paroquial. Com essa intenção, a pesquisadora examinou os argumentos usados pelos próprios irmãos do Rosário para a defesa de uma auto sustentação material e simbólica dos seus bens sagrados.
Cristiano Oliveira de Sousa interpreta os critérios estabelecidos no estatuto de 1805 da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Vila Rica para o recrutamento e a seleção dos seus irmãos, verificando, ainda, o modo como foi estatuída a realização das eleições da mesa administrativa da Ordem.
Gilian Evaristo França Silva examina o surgimento das irmandades durante o período de vacância (1745-1803) da Prelazia de Cuiabá, procurando inseri-las no campo religioso católico da Capitania de Mato Grosso. Nesse contexto, o pesquisador reconstitui as posições dos grupos sociais na hierarquia local a partir das irmandades.
Edson Tadeu Pereira, coadunando-se com proposta do dossiê de pensar as devoções aos santos católicos no período colonial, discute a centralidade que determinados oragos adquiriram como intercessores dos vivos em períodos críticos de pestes e epidemias, elegendo como protetores santos especializados em certas mazelas que afligiram a América portuguesa.
Igor Roberto de Almeida Moreira dedica-se à análise da construção do perfil socioeconômico dos membros da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, instalada em Vila da Cachoeira, Bahia, durante a primeira metade do Setecentos. Para identificar a filiação de diferentes sujeitos à Ordem, tendo em vista a não preservação da documentação produzida pela agremiação, o pesquisador recorreu a fontes eclesiásticas ou judiciais. Essa estratégia de pesquisa sugere alternativas que podem contribuir para o estudo das irmandades e ordens terceiras.
Maria Clara C. S. Ferreira, em seu estudo sobre a Arquiconfraria do Cordão de São Francisco da Vila Nova da Rainha do Caeté (MG), traz à tona uma modalidade de associação religiosa de leigos pouco estudada, a arquiconfraria, analisando pormenorizadamente um complexo conjunto de elementos, debruça-se sobre uma gama de fontes de diferentes naturezas, em especial, aquelas produzidas pela própria instituição, com o fito de compreender o processo de instalação, desenvolvimento e a dinâmica interna da agremiação.
Petros José da Rocha Brandão discute como a Irmandade de Nossa Senhora dos Pretos de Recife, entre 1715 e 1730, conformava diferentes grupos sociais de ampla variedade de condições: escravos, forros e livres, no interior de uma mesma instituição, e, principalmente, como as irmandades de pretos contribuíam para a organização da sociedade colonial.
Finalmente, Monalisa Pavonne Oliveira, analisa a distribuição de diferentes segmentos sociais entre as diversas associações religiosas de leigos no período colonial, principalmente, como estas instituições colaboraram paradoxalmente por um lado, com a definição de limites hierárquicos nesta sociedade e, por outro, na busca por ascensão social; ora amortecendo possíveis conflitos, ora contribuindo para o alcance de melhores condições de vida.
A partir da colaboração de autores e autoras com pesquisas que exploram diversas fontes, abordagens e recortes espaciais e temporais pretendemos contribuir para a discussão de um tipo de instituição bastante presente no período colonial nos mais distantes locais da América portuguesa: as associações religiosas de leigos. Desse modo, reforçamos a importância dos estudos acerca das irmandades, ordens terceiras e arquiconfrarias, haja vista a centralidade que essas associações ocuparam durante o processo de colonização da América portuguesa.
Uma ótima leitura!
Referências
AGUIAR, Marco Magalhães de. Vila Rica dos Confrades: a sociabilidade confrarial entre negros e mulatos nos séculos XVIII. Dissertação Mestrado. Orientadora, Prof. Dr. Maria Beatriz Nizza Marques da Silva. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1993.
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder (Irmandades Leigas e Política em Minas Gerais). São Paulo: Ática, 1983.
PENTEADO, Pedro. Confrarias Portuguesas da Época Moderna: Problemas, resultados e tendências de investigação. Lusitânia Sacra, 2ª série, 7, 1995, p. 15-52.
RUSSEL-WOOD, A.J.R. Fidalgos e Filantropos: a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1550- 1775. Brasília: Universidade de Brasília, 1981.
SCARANO, Julita. Devoção e escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978.
SALLES. Fritz Teixeira. As associações religiosas no ciclo do ouro. Belo Horizonte: Universidade de Minas Gerais, 1963.
Daniel Precioso – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com período sanduíche em Universidade de Évora (Portugal); docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História (mestrado – stricto sensu) da Universidade Estadual de Goiás (UEG), campus Morrinhos (PPGHIS / UEG-Morrinhos). E-mail: [email protected]
Monalisa Pavonne Oliveira. Doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); docente na Universidade Federal de Roraima (UFRR).E-mail: [email protected]
PRECIOSO, Daniel; OLIVEIRA, Monalisa Pavonne. Editorial. Revista de História da UEG, Morrinhos – GO, v.8, n.2, jul / dez, 2019. Acessar publicação original [DR]
“Tiranias Ibero-Americanas”: institucionalização dos poderes, resistência social e seus agentes / Revista de História da UEG / 2019
Prefácio
Sabe-se da definição clássica de Max Weber [1] acerca do Estado Moderno como uma associação de dominação com caráter institucional que tratou, com êxito, de monopolizar num dado território a “violência física legítima” como meio de dominação. Assim podemos estabelecer, de partida, uma relação intrínseca e inextirpável entre Estado, poder e violência; violência, claro, “legitimada” pela legislação, por instituições de justiça e aparatos policiais – mecanismos de fundamentação deste monopólio estatal, entre outros, como o monopólio fiscal e o monopólio da guerra. É claro que estamos a falar em “tipos ideais”, já que tais atribuições estatais – forjadas não sem disputa ao longo de séculos – passaram ainda por longo processo de “governamentalização do Estado”[2], bem como presenciam ainda a concorrência ou mesmo simbiose com organismos paraestatais, como o crime organizado e o terrorismo, ademais do próprio terrorismo de Estado [3].
Acontece que o estabelecimento desta noção de “violência física legítima” foi acompanhada do desenvolvimento coetâneo da figura da violência iníqua, ilegal, ilegítima, condensada na construção do retrato do tirano e da tirania como o lugar da ruptura da legalidade do poder político – imagens antitéticas ao “bom governo” e que, como seu reverso fotográfico que se desejava afastar, tinham a função correlata de reforçar a legitimidade do que se considerava como a correta dominação política. De todo modo, o exercício tirânico do poder resultaria na transgressão das regras de um governo justo, no estabelecimento de um regime baseado na violência, no medo e no interesse privado do governante, acima do interesse público e do bem comum.
Ora, se levarmos em consideração a afirmação do historiador de Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours (2001), Mario Turchetti, que reivindica a utilização atual do conceito de tirania – definindo-a como “um regime que viola os direitos humanos” [4] – seria mais interessante, da nossa perspectiva, avaliar as diversas formas de governo, bem como os governantes, consoante os graus de tirania potencial ou exercida. Ou seja, segundo análise do maior ou menor respeito aos direitos humanos [5] – tanto no que toca ao aspecto do “discurso / atos de fala” [6] quanto na implementação de programas governamentais. Assim, contornaríamos o debate milenar sobre “formas de governo e suas degenerações” bem como as armadilhas do pensamento dicotômico preocupado com classificações demasiado estanques. Não se trata neste texto, por conseguinte, de algo como democracias x tiranias (autoritarismos, ditaduras, totalitarismos, terrorismos?), mas sim de evidenciar os níveis variáveis de tirania que podem ser observados lá no que há de mais tangível, o exercício do poder. A própria previsão funcional da tirania naquilo que é a forma mais elaborada e translúcida do “Estado de exceção” – imerso no corpo constitucional das democracias contemporâneas desde a Revolução Francesa – sustenta tal compreensão [7].
Sem perder de vista as concepções acima enunciadas – e afim de demonstrar ainda a manutenção da operacionalidade e viabilidade dos conceitos antigos de tirania – propomos um pequeno exercício mental através de exemplos de “tirania clássica”, devidamente adaptados ao período atual.
Quando, em idos de 2017, o presente dossiê temático foi aprovado – visando publicação no primeiro semestre do corrente ano – muitos analistas políticos não vislumbraram que a Nova República testemunhasse uma rápida transição entre as duas figuras clássicas da tirania, tais quais foram conceituadas no pensamento Greco-romano [8], ou seja, por: 1) aquisição original ilícita, como “conquista” ou ”usurpação” ao 2) exercício cruel de um poder originariamente legal.
Que a “conquista do poder” veja-se realizada mediante violência física estrangeira e / ou através da articulação conspiracionista de um “Golpe de estado” – seja este via emprego de quaisquer tipos de “Forças Armadas” (“oficiais” ou “milícias paraestatais”) e / ou com o concurso das próprias “Instituições Civis” (Golpe civil-militar); sejam as mesmas instituições civis estruturando uma “judicialização da política” que leva a uma “espetacularização da Justiça” (tal como afirma o pesquisador Wanderley Guilherme dos Santos [9]); quer ainda protocolando todo tipo de “abusos” ou “jogo duro constitucional” [10] (cujo auge estaria no “Golpe branco / suave” ou “Golpe midiático-parlamentar”) – enfim, tudo isto são apontamentos detalhados do modus operandi utilizado em cada situação concreta. Assim, o antigo conceito de tirania por 1) aquisição original ilícita, como “conquista” ou ”usurpação”, permanece um conceito heurístico de filosofia política, cuja validade e relevância para os tempos atuais é flagrante.
Passemos àquela que era a preocupação central da filosofia política greco-romana, a clássica tirania por 2) exercício cruel de um poder originariamente legal. Ou, em sua forma mais atualizada, “um regime que viola os direitos humanos”.
Boa trilha para efetuar este tipo de análise é a utilização dos relatórios anuais sobre violações de direitos humanos – produzidos por organizações não-governamentais (ONG’s) como a Human Rights Watch (HRW) e a Anistia Internacional (AI). O recente relatório da AI (2017 / 2018) resumidamente afirma que:
A situação dos direitos humanos no Brasil foi examinada pela terceira vez de acordo com o processo de Revisão Periódica Universal da ONU. O Brasil recebeu 246 recomendações, entre outras: com relação aos direitos dos povos indígenas à terra; aos homicídios cometidos por policiais; à tortura e às condições degradantes nas prisões; e à proteção aos defensores de direitos humanos. (…) Entre essas medidas retrógradas, estavam propostas que reduziam para menos de 18 anos a idade em que crianças podem ser julgadas como adultos; alteravam ou revogavam o Estatuto do Desarmamento, facilitando o licenciamento e a compra de armas de fogo; restringiam o direito de manifestação pacífica e criminalizavam os protestos sociais; impunham a proibição absoluta do aborto, violando os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas; mudavam o processo de demarcação de terras e a exigência do consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas e das comunidades quilombolas; e diminuíam a proteção aos direitos trabalhistas e o acesso à previdência social. A Lei N 13.491 / 2017 [11], assinada pelo Presidente Temer em 13 de outubro, estabelecia que violações de direitos humanos, inclusive homicídio ou tentativa de homicídio, cometidas por militares contra civis seriam julgadas por tribunais militares. Esta lei viola o direito a um julgamento justo, uma vez que os tribunais militares no Brasil não oferecem garantia de independência judicial [12] (…) As Forças Armadas foram cada vez mais designadas a cumprir funções policiais e de manutenção da ordem pública (Anistia Internacional, Informe 2017 / 18, p.88-93).
O símbolo maior foi a Intervenção Federal no Rio de Janeiro [13], que ante a elevada taxa de violência cotidiana foi veículo de uma aposta conservadora na militarização da sociedade (com cobertura corporativa aos militares através da “justiça militar”), numa política punitivista e pautada no confronto policial. Por outro lado, as diminuições na demarcação de terras de minorias étnicas, a postura reacionária quanto ao aborto – via proposta de criminalização até do aborto em caso de estupro, hoje ainda legalizado – a desconfiguração dos direitos trabalhistas (Lei 13.467 / 2017 [14]) e dos direitos previdenciários (com a proposta de reforma da previdência [15]) configura um quadro geral de escalada na retirada de direitos sociais (parte integrante dos direitos humanos), bem como de reduzida participação política da sociedade em geral.
O relatório da HRW alerta ainda sobre os ataques e perigos à liberdade de expressão já demonstrados durante as eleições de 2018:
Mais de 140 repórteres foram intimidados, ameaçados e, em alguns casos, fisicamente agredidos durante a cobertura das eleições, concluiu a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Depois de vencer a eleição, Bolsonaro disse que cortaria verba publicitária para veículos de imprensa que se comportassem de forma “indigna”. Durante a campanha, juízes de tribunais eleitorais ordenaram que universidades ao redor do país reprimissem o que consideraram “propaganda eleitoral irregular”, incluindo um evento contra o fascismo e publicações “em defesa da democracia”. Em uma decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal derrubou essas restrições por violarem a liberdade de expressão. A decisão ocorreu em um cenário em que Bolsonaro e seus aliados buscavam aprovar um projeto de lei que proibiria professores de “promover” suas próprias opiniões nas salas de aula ou de usar os termos “gênero” ou “orientação sexual”, e determinaria que escolas dessem preferência a “valores de ordem familiar” na educação moral, sexual e religiosa [16]
Tal cenário de cerceamento das liberdades democráticas (como a liberdade de imprensa e de manifestação) e do pluralismo de ideias – direitos na Constituição Federal (CF) de 1988 – tem ponto nodal no campo pedagógico: bem simbolizado no projeto “Escola sem Partido”, que críticos mais corretamente designariam como “Escola sem Liberdade” ou “Escola de Partido Único”. [17]
Poderíamos ainda sublinhar o uso sistemático das Fake / Junkie News [18] ao longo da corrida presidencial. Um estudo encomendado pela ONG Avaaz apontou que 98,21% dos eleitores do candidato vitorioso em 2018 foram expostos a uma ou mais notícias falsas durante a eleição, e 89,77% acreditaram que os fatos eram verdadeiros [19]. A prática permanece, pois em 136 dias como presidente Bolsonaro deu 186 declarações falsas ou distorcidas, segundo checagem sistemática realizada pela “Aos Fatos” [20]. Mas não bastam Fake News, é preciso um terreno fértil para que as pessoas acreditem em determinadas coisas (“terraplanismo”, “Nazismo de esquerda”, “kit gay” [21] etc.) veiculadas pelas redes sociais.
Podemos dialogar com o historiador Luiz Edmundo de Souza Moraes. Ele descarta que crises políticas e econômicas gerem automaticamente um ambiente propício para a expansão de um discurso de extrema-direita, que recusa valores como igualdade e dignidade humana, a universalidade de tratamento, princípios da democracia liberal. Na verdade, nos últimos 30 anos é possível perceber o quanto o espaço público foi sendo paulatinamente ocupado por discursos e ideias extremistas como “os bandidos não devem ser tratados legalmente”, que “o assassinato é parte do bom trabalho policial”, ou de que “não há nenhum problema no fato de você sofrer algum tipo de violação de seus direitos individuais e direitos humanos” [22]. Assim, discursos de desrespeito e restrição aos Direitos Humanos no Brasil – sintetizados no conhecido slogan “Direitos Humanos para humanos direitos” [23] – não surgiram mas ganharam força pública na presente década, estruturando um imaginário receptivo para certas Fake News. Sobre os perigos de se acreditar numa realidade ficcional, salienta ainda o historiador estadunidense Timothy Snyder: “Renunciar à diferença entre o que se quer ouvir e o que de fato é verdadeiro é uma maneira de se submeter à tirania. Essa recusa à realidade pode parecer natural e agradável, mas o resultado é o seu fim como indivíduo (…)”[24].
Aproveitando-se da efeméride de 100 dias do governo atual, o início de abril foi ocasião de diversos balanços críticos no âmbito das propostas e das políticas governamentais em fase de implementação, que vieram a lume em vários jornais, revistas, observatórios [25]. Como exemplo e na qualidade de fiscalização judiciária de atos administrativos e decretos executivos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) [26], entre várias medidas, ressalta que:
O afrouxamento das hipóteses de registro, posse e comercialização de armas de fogo no Brasil – estabelecido pelo governo federal – é ilegal e inconstitucional (…) compromete a política de segurança pública no Brasil – um direito fundamental de todas as pessoas, especialmente no tocante à vida (…). A decisão do governo federal de “supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar” a atuação de organizações da sociedade civil no Brasil também foi considerada inconstitucional (…) a PFDC destaca que a medida viola princípios da legalidade, além de impactar no controle social e no combate à corrupção (…) Em ação coordenada que reuniu Procuradorias da República em pelo menos 18 estados e o Distrito Federal, o Ministério Público Federal recomendou a unidades militares em todo o país que se abstivessem de promover ou tomar parte de qualquer manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31 de março de 1964. A medida foi adotada após a Presidência da República ter recomendado ao Ministério da Defesa para que fosse comemorado o aniversário de 55 anos do golpe (…) (Informe PFDC 2019 em 100 dias: p.6-7).
No caso da “saudade da ditadura” [27], argumenta Moraes que se trata do “fato de que durante 30 anos pouco se falou que a ditadura é um regime criminoso, pouco se falou da tortura e não [se] judicializou os torturadores” [28], ausências balizadas pela Lei de Anistia (L.A) de 1979 – que impediu o necessário trabalho de uma Justiça de Transição no Brasil – e são conhecidas as reclamações sobre a ativação da Comissão Nacional da Verdade (2011-2014) [29] e sobre tentativas de revisão da L.A [30].
Os direitos humanos foram ainda atingidos por enorme retrocesso com a Medida Provisória (MP) 870 [31]. O “Ministério de Direitos Humanos” passou a se chamar “Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos” e excluiu a população LGBTI de suas diretrizes, institucionalizando o preconceito [32]. Parece transparente que a MPV 870 contraria o artigo 3º, IV, da CF, que expressa, como objetivo republicano, a promoção do bem de todos – sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Corrobora essa ideia o artigo 5º da Carta pois “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, logo, ao excluir qualquer indivíduo de seu rol de atenção e direitos, contraria gravemente a Lei Maior do país. [33]
Empregamos aqui, em especial, a atualidade do conceito de tirania como um “regime que viola os direitos humanos”, não no sentido de um regime formal de governo, mas tendo como foco os discursos, as propostas e medidas governamentais – em suma, o exercício do poder. Observamos um recrudescimento do desrespeito e violações aos direitos humanos- nas áreas previdenciária, trabalhista, educacional , sexual e reprodutiva, na segurança pública bem como na discriminação de minorias – no recorte temporal aqui proposto (2017-2019), demonstrando assim a relevância do conceito de tirania para a política brasileira atual, com exemplos do que pode ser percebido incluso na vida cotidiana. De todo modo, este esquema de interpretação permite avaliar quaisquer governos e governantes, afastando-se, ainda, das dicotomias classificatórias das “formas de governo e suas degenerações”, em prol de uma análise mais dinâmica do poder.
Assim, as considerações enunciadas até aqui são só um pequeno exercício analítico, mas fornecem uma grade de leitura e caminhos de interpretação, bem como um esboço de método para observar os graus variáveis de tirania na conquista e exercício do poder.
Tirania: Restituir seus usos heurísticos – ou um nome forte para tempos brutos [34].
Os paradigmas e os conflitos cíclicos da sobrevivência humana em sociedade estão declarados. A busca por compreensão sobre as formas de se interagir, de interseccionar diferenças e relacionar aproximações têm sido cada vez mais importante e difícil ao mesmo tempo no campo das ciências humanas e sociais. Lançar um dossiê temático sobre um tema tão polêmico e atual é com certeza um contributo que esperamos representar algum nível de reflexão e mensuração sobre a sociedade que nos cerca, em pensar que todos nós, sem exceções, somos seres políticos e sociais. Vivemos, comemos, respiramos política, quer queira quer não. Deixamos claramente o convite ao fomento de reflexão crítica não apenas aos acadêmicos e acadêmicas, mas para os que se interessam em explorar novos temas e ângulos sobre as tiranias e resistências sociais do mundo moderno aos nossos dias.
Esse pertinente tema que calhou tão exatamente com as relações sociopolíticas que enfrentamos hoje no Brasil não seria possível sem a abertura da Revista de História da UEG, tampouco sem o total apoio, eficiência e atenção do coordenador editorial Léo Carrer Nogueira, que nos acompanhou com toda prestatividade ao longo destes meses. Agradecemos aos autores e autoras que se propuseram a adentrar neste desafio contribuindo com as mais diferentes pinceladas de objetos, visões, posições geográficas e temas que abarcaram desde a América Latina até os países Ibéricos em discussões com diferentes espaçamentos temporais, em cenários tão diversificados, porém, ao mesmo tempo conectados por similitudes: regimes autoritários e resistência social!
Buscamos agrupar os onze artigos apresentados neste dossiê por suas diferentes abordagens seja pela temática ou pelo período histórico em que se agregam. Abrimos este caderno temático partindo de discussões teóricas e conceituais sobre tirania no espaço / tempo moderno. Bruno Silva de Souza apresenta-nos um contributo importantíssimo com seu artigo sobre a reflexão dos processos de tirania ligados à razão do Estado no século XVII a partir de um viés político, buscando dialogar com a herança conceitual de certa leitura católica acerca de Nicolau Maquiavel. Já Walter Luiz de Andrade Neves guia-nos através dos “manifestos” e “papeis da restauração” como objetos para se compreender o golpe de Estado e alterações dinásticas nos seiscentos na Europa. Partindo desta temática, apresenta importantes conceitos para se compreender as problemáticas acerca da “tirania” e suas representações memoriais. No Brasil, o período moderno também passou por distintos processos não só de tirania, mas de exploração e imposição. Em seu artigo, Luiz Henrique Souza dos Santos discutirá as produções de discurso e das tomadas de posição e poder em torno de conceitos fundamentais – como a tirania-, à volta de figuras públicas na Bahia seiscentista. Por sua vez, Marcos Arthur Viana da Fonseca debate um importante movimento de uso dos conceitos e construções de argumento jurídico-político como forma de enfrentamento contra os governantes pernambucanos na segunda metade do século XVII.
Em um segundo bloco, navegando em território português contemporâneo, temos o artigo de Franco Santos Alves da Silva em um significativo questionamento sobre o caráter fascista de Oliveira Salazar durante a ditadura portuguesa, a partir do jornal Portugal Livre. Já com nuances de resistência artística e literária, Thales Reis Alecrim apresenta-nos a importante e interessante história das redes de sociabilidades subversivas no Porto durante o regime autoritário português, através do jornalista e poeta João Apolinário. Uma ruptura tão pouco discutida e conhecida no Brasil, a Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974, é trazida a baila para este dossiê como um importante evento de mudanças socioeconômicas e políticas no Portugal contemporâneo, como mostra de resistência e poder popular frente a anos de um regime autoritário e fascista do Estado Novo português, discutido no artigo de Pamela Peres Cabreira. Partindo de uma análise comparativa entre as ditaduras em Portugal e Brasil, Tiago João José Alves discute e avalia de forma dinâmica o paralelismo entre os dois regimes e como as relações diplomáticas entre os dois países foram sui generis nas cooperações e decorrências políticas engendradas por esta relação.
Atravessando o Atlântico, a ditadura civil-militar-empresarial brasileira é discutida a partir de dois artigos que balizam instituição e resistência. Destarte, no início do golpe de 1964, Roberto Porto Castro traz uma intensa discussão sobre como se constituiu a mobilização da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil no Rio Grande, buscando traçar resistência e opressão no contexto do golpe. Ao analisar os parlamentares da Legislatura entre 1963 a 1966, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Guilherme Catto abre o debate deste grupo em oposição a Jango e ao Golpe de 1964, alinhando este grupo com a Doutrina de Segurança Nacional, trazendo para o viés da história política um amplo espectro do poder e das fissuras de uma democracia em capitalismo. Saltando para o México, apresentamos o artigo de Mariana Varandas Lazzari que discutirá o conceito de tirania em torno da democracia e legalidade em uma brutal relação de forças entre o Estado mexicano e as resistências formadas, resultando em uma institucionalização antipopular.
Gingando entre história política e história social, os temas intercruzam-se e compõem um dossiê que atravessa continentes e interpela relações de poder e de resistência. Esperamos, ao abrir este leque de discussões, que novos horizontes de expectativas surjam, que a história de hoje não seja deixada a passar para depois se discutir. Desejamos que este contributo seja frutífero em engendrar-se novas perspectivas e estudos críticos acerca da nossa visão crítica enquanto cientistas sociais.
Notas
1 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1979.
2 Como se sabe, Foucault havia realizado a história da governamentalização do Estado e da vida, a partir do chamado “poder pastoral”, que seria mais tarde vinculado à prática católica da confissão (o exame de si e o processo de subjetivação através do poder), e através das teorias da “razão de Estado”, até o aparecimento da “população” enquanto fenômeno e realidade nova no século XVIII, que o poder estatal tem por função gerir através de uma tecnologia da segurança da vida. Cf. FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). Martins Fontes, São Paulo: 2008.
3Sobre a política contemporânea enquanto gestão do terror (interno e externo) cf. MBEMBE, Achille. Necropolitica. Arte & Ensaios. Revista do ppgav / eba / UFRJ nº. 32, dezembro de 2016, p.122-151. Sobre a segurança como pedra de toque os programas governamentais, cf. ESPOSITO, Roberto. Biopolítica y filosofia. In: CAPPELLI, Guido & RAMOS, Antonio Gómez (Edição e introdução). Tiranía: aproximaciones a uma figura del poder. Madrid: Dykinson, 2008, pp. 255-265.
4 Cf. o capítulo de Mario Turchetti, intitulado “’Tiranía’ y ‘despotismo’: una distinción olvidada”. In: CAPPELI, Guido; RAMOS, Antonio Gómez. (ed.). Tiranía: aproximaciones a una figura del poder. Madrid, Editorial Dykinson, S. L., 2008. p. [17-58].
5 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 500 idiomas – o documento mais traduzido do mundo – e inspirou as constituições de muitos Estados e democracias recentes. A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (e seu Protocolo Opcional), formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Uma série de tratados internacionais e outros instrumentos adotados desde 1945 expandiram ainda o corpo do direito internacional dos direitos humanos. Eles incluem a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio(1948), a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979), a Convenção sobre os Direitos da Criança(1989) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), entre outras. Disponível em: https: / / nacoesunidas.org / direitoshumanos / declaracao / e https: / / nacoesunidas.org / direitoshumanos / documentos. Acesso em maio 2019.
6 Estudar o discurso político implica estudar fatos históricos, pois faz parte desse enfoque pensar os discursos como ações – “atos de fala”, para usar o termo da filosofia da linguagem contemporânea derivada de Wittgenstein -, para reagir a fatos passados (geralmente ações humanas), modificar fatos presentes ou criar futuros. Cf. ARAÚJO, Cícero. Introdução In: POCOCK, J.G.A. Linguagens do ideário político. São Paulo: EDUSP, 2003, p.9.
7 “Diante do incessante avanço do que foi definido como uma “guerra civil mundial”, o estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como o paradigma de governo dominante na política contemporânea. Esse deslocamento de uma medida provisória e excepcional para uma técnica de governo ameaça transformar radicalmente – e, de fato, já transformou de modo muito perceptivo – a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição. O estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo”. AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. (Tradução de Iraci D. Poleti). 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2004, p.13.
8 Guido Cappelli e Antonio Gómez Ramos, na introdução que realizam ao conjunto de artigos organizado na recente obra coletiva Tiranía: Aproximaciones a una figura del poder, sublinham a presença constante da figura do tirano em toda teoria de poder desde as origens do pensamento político ocidental. É com Platão que será definida tipologicamente o tirano e a tirania em oposição à figura antitética do governante virtuoso – anteriormente rei e tirano eram imagens que se superpunham, como ressalta Guido Cappelli em La otra cara del poder. Virtud y legitimidad en el humanismo político (2008: 98). Será o filósofo das Ideias que identificará tirania com injustiça, infelicidade, escravidão e infração à lei, como salienta Francisco Lisi em Tiranía, justicia y felicidad en Aristóteles (2008: 81). São frutos do Seminário Internacional El poder y sus limites: figuras del tirano, que se deu em Madrid (junho de 2005), patrocinado pelo Instituto L. A. Sêneca, da Universidade Carlos III. O seminário abriu um pertinente debate sobre a viabilidade para a reflexão contemporânea da noção tradicional de tirania, cuja utilização atual ainda se advoga como instrumento de análise e classificação política, no que nosso texto vem à guisa de corroboração. CAPPELLI, Guido & RAMOS, Antonio Gómez (Edição e introdução). Tiranía: aproximaciones a uma figura del poder. Madrid: Dykinson, 2008. Digamos que esta antiga “confusão” entre rei e tirano oferece perspectivas mais profícuas a partir de uma concepção mais anarquista do poder do Estado.
9 Disponível em: https: / / jornalggn.com.br / justica / cardozo-falhou-diante-de-abusos-institucionais-dizcientista-politico / . Acesso em maio 2019.
10 Steven Levitsky, professor de Ciência Política da Universidade Harvard, lançou recentemente o livro Como as Democracias Morrem (Zahar), escrito em parceria com o colega de instituição Daniel Ziblatt. A tese central defendida pelos autores é que golpes de Estado clássicos, com uso de armas e fechamento do Congresso, já não são mais aplicados. As democracias, diz ele, morrem por ataques sutis e sistemáticos contra as instituições. O autor prefere falar em “Jogo duro constitucional”, isto é, usar as instituições como arma política contra o seu oponente, usar a letra da lei de maneira a diminuir o espírito da lei. Cf. Steven Levitsky: Por que este professor de Harvard acredita que a democracia brasileira está em risco. Disponível em: https: / / www.bbc.com / portuguese / brasil-45829323. Acesso: março de 2019. O livro é mais detalhado no que toca à política institucional norte americana.
11 Disponível em: http: / / www.planalto.gov.br / ccivil_03 / _ato2015-2018 / 2017 / lei / l13491.htm . Acesso em: maio de 2019.
12 “Artigo X: Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele” (DUDH – UNIC / RIO / 005, janeiro 2009. DPI / 876: p.7)
13 A decisão foi instituída por meio do Decreto n.º 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, outorgado pelo Presidente da República. Foi nomeado como interventor o general de exército Walter Souza Braga Netto. A Intervenção durou até 31 / 12 / 2018.
14 Disponível em: http: / / www.planalto.gov.br / ccivil_03 / _ato2015-2018 / 2017 / lei / l13467.htm. Acesso em: maio de 2019.
15 PEC 287 / 2016. Disponível em: https: / / www.camara.leg.br / proposicoesWeb / fichadetramitacao?idProposicao=2119881 . Acesso em: maio de 2019. Em continuidade e aprofundamento está a proposta do governo atual. Cf. Disponível em: http: / / download.uol.com.br / files / 2019 / 02 / 2265192701_pec-da-reforma-da-previdencia-bolsonaro.pdf . Acesso em maio de 2019.
16 Jair Bolsonaro, um membro do Congresso Nacional que endossou a prática de tortura e outros abusos, e fez declarações abertamente racistas, homofóbicas e misóginas, venceu a eleição presidencial em outubro. Cf. Disponível em: https: / / www.hrw.org / pt / world-report / 2019 / country-chapters / 326447 . Acesso em: maio de 2019.
17 Disponível em: https: / / profscontraoesp.org / bibliografia-referencias-academicas / . Acesso em: maio de 2019.
18 O problema se torna ainda maior pela prática de as notícias falsas trazerem elementos passíveis de verdade ou com ela mesclados / deturpados, quando seria mais preciso intitulá-las Junkie News.
19 Ainda de acordo com dados da pesquisa, 93,1% dos eleitores de Bolsonaro entrevistados viram “notícias” sobre fraudes nas urnas eletrônicas e 74% afirmaram que acreditaram nelas. A pesquisa, realizada pela IDEA Big Data de 26 a 29 de outubro com 1.491 pessoas no país, analisou Facebook e Twitter. Cf. Disponível em: https: / / www.valor.com.br / politica / 5965577 / estudo-diz-que-90-dos-eleitores-de-bolsonaro-acreditaram-emfake-news . Acesso em: maio de 2019. A Folha de São Paulo revelou que empresas contrataram disparos massivos de mensagens pelo aplicativo WhatsApp contra o Partido dos Trabalhadores, em contratos que chegavam a 12 milhões de reais. Cf. Disponível em: https: / / apublica.org / 2018 / 10 / grupos-pro-bolsonaro-nowhatsapp-orquestram-fake-news-e-ataques-pessoais-na-internet-diz-pesquisa / . Acesso em: maio de 2019. Cf. Disponível em: https: / / www1.folha.uol.com.br / poder / 2018 / 10 / empresarios-bancam-campanha-contra-opt-pelo-whatsapp.shtml. Acesso em: maio de 2019.
20 A organização deste agregador de declarações parte de uma ideia concebida originalmente pelo Fact Checker, a tradicional coluna de checagem do jornal americano Washington Post. Tal como lá fiscalizam Donald Trump, esta base agrega todas as declarações de Bolsonaro feitas a partir do dia de sua posse como presidente. As checagens são feitas pela equipe do Aos Fatos semanalmente. Disponível em: https: / / aosfatos.org / todasas-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro / . Acesso em e atualizado: maior de 2019.
21 O estudo também revelou que 85,2% dos eleitores do Bolsonaro entrevistados leram a notícia que Fernando Haddad implementou o “kit gay” e 83,7% acreditaram na história. Cf. Disponível em: https: / / www.valor.com.br / politica / 5965577 / estudo-diz-que-90-dos-eleitores-de-bolsonaro-acreditaram-emfake-news. Acesso em: maio de 2019
22 O especialista foi convidado a proferir uma palestra no âmbito do colóquio internacional “Que direita tomou o poder no Brasil?”, organizado na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais. Com o tema Entre o visível e o invisível: a afirmação lenta e certa da extrema-direita no Brasil Contemporâneo, o historiador falou para estudantes e pesquisadores que procuram entender o atual momento político e social do país. Cf. Disponível em: http: / / br.rfi.fr / brasil / 20170602-ideias-da-extrema-direita-circulam-livremente-no-brasil-diz-historiadorluis-edmundo . Acesso em: maio de 2019.
23 Disponível em: https: / / www.em.com.br / app / noticia / politica / 2018 / 11 / 01 / interna_politica,1002158 / generalheleno-defende-direitos-humanos-para-humanos-direitos.shtml . Acesso em: maio de 2019. Ora, “Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros”. Cf. Disponível em: https: / / nacoesunidas.org / direitoshumanos / . Acesso em: maio de 2019.
24 É sabido que “o estilo fascista baseia-se na repetição interminável destinada a tornar o ficcional plausível e a conduta criminosa desejável (…)”. Atualmente alguns sublinham a novidade da “pós-verdade”, pensando que o desprezo pelos fatos cotidianos e a construção de realidades alternativas sejam algo “pós-moderno”. Contudo, uma releitura atenta de 1984 de George Orwell dissiparia facilmente esta crença. “Os fascistas desprezavam as pequenas verdades da experiência cotidiana, amavam palavras de ordem que ressoavam como uma nova religião e preferiam mitos de criação à história ou ao jornalismo. Usavam os novos meios de comunicação, representados na época pelo rádio, para criar uma propaganda que apelasse aos sentimentos antes que as pessoas tivessem tempo para pensar E hoje, como naquela época, muitas pessoas confundiram a fé num líder cheio de enormes defeitos com a verdade sobre o mundo em que todos vivemos. A pós-verdade é o pré-fascismo” SNYDER, Timothy. Sobre a Tirania: Vinte Lições do Século XX para o presente. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Tradução de Donaldson M. Garschagen. (p. 32-33). Disponível em ebook em http: / / dagobah.com.br / wp-content / uploads / 2019 / 01 / Snyder-Timothy.-Sobre-a-Tirania.pdf.
25 Conferir as publicações de El País, O Globo, Carta Capital, Estado de São Paulo, Le monde diplomatique, Folha de São Paulo, Observatório da Democracia e Observatório judaico dos direitos humanos, entre tantos outros.
26 A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) nasce do compromisso constitucional do Ministério Público de proteger e promover direitos individuais indisponíveis, coletivos e difusos, desempenhando papel de ombudsman nacional. Nesses cem primeiros dias de 2019, a PFDC se manteve atenta à defesa de garantias fundamentais, em um trabalho que envolveu a articulação com movimentos sociais e organismos internacionais, o monitoramento de políticas públicas, a incidência no Judiciário, além da interlocução com o Congresso Nacional. A diretriz foi de permanente vigilância. Ver Informe PFDC 2019 em 100 dias.
27 Sublinhamos aqui a recente tentativa de “revisionismo” ou “negacionismo” histórico acerca do período de exceção de 1964-1985, assim como de rejeição da Constituição Federal de 1988, presente no “documentário” “1964: Entre Armas e Livros”. Cf. Disponível em: https: / / gauchazh.clicrbs.com.br / politica / noticia / 2019 / 03 / bolsonaro-e-militares-tentam-reescrever-historiasobre-1964-cjtuq47o601rf01llaovmi7mu.html e https: / / www.cartacapital.com.br / opiniao / o-golpe-de-1964-ea-reescrita-da-historia-do-brasil / . Acesso em: maio de 2019.
28 Disponível em: http: / / br.rfi.fr / brasil / 20170602-ideias-da-extrema-direita-circulam-livremente-no-brasil-dizhistoriador-luis-edmundo . Acesso em: maio de 2019.
29 Disponível em: http: / / cnv.memoriasreveladas.gov.br / . Acesso em: maio de 2019.
30 Disponível em: https: / / brasil.elpais.com / brasil / 2014 / 04 / 17 / politica / 1397764903_857222.html . Acesso em: maio de 2019.
31 Disponível em: https: / / www.congressonacional.leg.br / materias / medidas-provisorias / – / mpv / 135064 . Acesso em: maio de 2019.
32 “Artigo II, 1 – Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” (DUDH – UNIC / RIO / 005, janeiro 2009. DPI / 876, p.5)
33 Disponível em: https: / / www.observatoriodademocracia.org.br / 2019 / 04 / 10 / relatorio-sobre-governobolsonaro-100-dias / . Acesso em: maio de 2019.
34 Sobre o direito de resistência e o tiranicídio: o historiador Mário Turchetti ressalta que tiranicídio, num sentido mais lato, quer dizer acabar com a tirania, o que não significa necessariamente assassinar o tirano, podendo resultar, por exemplo, no seu exílio, que foi historicamente a primeira forma romana de tiranicídio. O primeiro Brutus, Lucius Iunius, condenou ao exílio a Tarquino, O Soberbo. Foi o segundo Brutus, o mais célebre, Marcos Iunius, que ficou famoso ao ser um dos assassinos de Júlio César, cometendo um tiranicídio por meio do homicídio do tirano. Assim, e adequada aos tempos atuais, a doutrina do tiranicídio podia se basear em diferentes direitos de defesa, como o de legítima defesa, de defesa dos inocentes, da pátria, e poderia redundar em deposição, exílio e, no caso mais extremo, no assassinato ou condenação à morte do tirano. TURCHETTI, Mario. ¿Por qué nos obstinamos en confundir Despotismo y tiranía? Definamos el derecho de resistência. Revista de Estudios Políticos (nueva época), n. 137, Madrid, julio-septiembre (2007), pp. 67-111, p.109. É válido ter-se em conta uma das considerações do preâmbulo da DUDH de 1948: “Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão”. (DUDH – UNIC / RIO / 005, janeiro 2009. DPI / 876, p.2).
Walter Luiz de Andrade Neves – Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); professor da Prefeitura Municipal de Itaguaí (RJ). E-mail: [email protected]
Pamela Peres Cabreira – Doutoranda em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa (UNL) – Portugal; bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
NEVES, Walter Luiz de Andrade; CABREIRA, Pamela Peres. Editorial. Revista de História da UEG, Morrinhos – GO, v.8, n.1, jan / jun, 2019. Acessar publicação original [DR]
Revista de Ensino de Geografia. Uberlândia, v. 10, n. 18, jan./jun. 2019.
APRESENTAÇÃO
ARTIGOS
- A FORÇA DO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA NA PRÁTICA DO PROFESSOR |
- Carina Copatti |
- ANÁLISE DAS TEMÁTICAS AMBIENTAIS EM UM LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA
- Fábio Pessoa Vieira | Laura Santana Rodrigues
- AULA DE CAMPO NO ENTENDIMENTO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: UM PROJETO NO CETI GOVERNADOR FREITAS NETO, TERESINA-PIAUÍ |
- Marcondes e Silva Sousa | Simone Miranda Fontineles da Silva | Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque
- AS PERCEPÇÕES DE “BRASIL” DE ESTUDANTES DE 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CENÁRIO POLÍTICO ATUAL |
- Victor Hugo Nedel Oliveira | Andreia Mendes dos Santos | Miriam Pires Corrêa de Lacerda
- PAISAGENS DO MEDO EM GEOGRAFIA: A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO |
- Wilcilene da Silva Corrêa | Amélia Regina Batista Nogueira
- LUGARES DE MEDO E DE ALEGRIA NOS DESENHOS DE ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AULA DE GEOGRAFIA | | Léia Aparecida Veiga | Eloiza Cristiane Torres | LiliamAraujo Perez
- A ESCOLA COMO LUGAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA | | Daniel Rodrigues Silva Luz Neto | Lineu Aparecido Paz e Silva
- A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE TERRITÓRIO NO ENSINO DA GEOGRAFIA NAS ESCOLAS DO/NO CAMPO |
- Lis Pimentel Almeida | Ednice de Oliveira Fontes Baitz
- CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA: TEORIA E PRÁTICA NO CURSO DE UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL |
- Klevia Lima Delmiro | Claudionor de Oliveira Silva
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS
- PAISAGEM DA JANELA: ORALIDADE, ESCRITA, DESENHO E MÚSICA PARA LEITURA DA PAISAGEM COM ALUNOS DE 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | Mariane de Oliveira Fernandes
- CONCEITOS CARTOGRÁFICOS NA ESCOLA E NA FORMAÇÃO INICIAL PARA A DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA: APROXIMANDO SABERES | | Rafael Aparecido Gonçalves Xavier
History of Education in Latin America. Natal, v.2, 2019.
ARTIGOS
- Educadores brasileiros e o despertar de aptidõesa escrita dos “Subsídios para o estudo do Ginásio Polivalente” (1969)
- Francisco das Chagas Silva Souza e16506 PDF/A
- Veinte años de dictadurala enseñanza de la última dictadura militar (1976 – 1983) en las escuelas secundarias de Argentina
- Gonzalo Amézola e17201 PDF/A (ESPAÑOL (ESPAÑA))
- A presença/ausência da produção marxiana e de Manacorda nos currículos de pedagogia das universidades federais
- Marco Antonio de Oliveira Gomes e17199 PDF/A
- A expansão do ensino primário rural na região de Birigui – Noroeste Paulista – Brasil (1920-1960)
- Áurea Esteves Serra e17200 PDF/A
- A Revista Careta e a instituição de saberes religiosos nos discursos para a educação feminina (1914-1918)
- Fernanda Conceição Costa Frazão e17295 PDF/A
- Análise de impressos no Brasil Impérioa circulação do ensino universal de Jacotot na pedagogia e homeopatia
- Suzana Lopes Albuquerque PDF/A
- Educação feminina desvalida em Sergipeo caso da Escola da Imaculada Conceição (primeiras décadas do século XX)
- Josineide Siqueira de Santana e17348 PDF/A
- Abordagem cívica e jesuítica da história do Brasil para crianças, no livro do Padre Raphael Maria Galanti
- Ligia Bahia de Mendonça e17350 PDF/A
- Ensino Profissional na nova capital mineira (1909-1927)marcadores republicanos de secularização e Estado laico
- Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Elizabeth Farias da Silva, José Carlos Souza Araujo, Carlos Eduardo Bao e17351 PDF/A
- Educação Eugênicaas recomendações de Renato Kehl a educadores, pais e escolares
- Paulo Ricardo Bonfim e17449 PDF/A
- Historiografia Educacional no Brasilreflexões a partir das publicações da Revista História da Educação (ASPHE, 1997-2006) e dos Cadernos de História da Educação (UFU, 2002-2011)
- Sauloeber Tarsio de Souza e17794 PDF/A
- Dilemas da experiência liceal em Portugal (1950-1970)relações entre psicanálise e educação na revista Labor
- Matheus Zica, António Gomes Ferreira e17734 PDF/A
- Florêncio Luciano e o Plano de Propaganda Contra o analfabetismo:modernização pela educação no Sertão do Seridó Potiguar – (1928-1929)
- Laísa Fernanda Santos de Farias, Juciene Batista Félix Andrade e19500 PDF/A
- Notas Sobre a Educação no Governo Pedro Gondim e a Criação da Escola Normal Estadual de Campina Grande (1955-1960)
- Pâmella Tamires Avelino de Sousa, Niédja Maria Ferreira de Lima, Fabiana Sena e19501 PDF/A
- Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Históriauma reflexão sobre o uso de fontes históricas em sala de aula.
- Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, Tayanne Adrian Santana Morais da Silva, Raquel Barreto Nascimento e19540 PDF/A
RESENHA
- História da formação de professores para o Ensino Primário:a Escola Normal em Natal
- Joilson Silva de Sousa, Maria Keila Jeronimo e19593
PUBLICADO: 02-01-2019
Outras Fronteiras. Cuiabá, v.6, n.2, 2019.
Tema Livre
Artigos
- SUMÁRIO
- Viviane Gonçalves da Silva Costa, Francieli Aparecida Marinato
- APRESENTAÇÃO
- Francieli Aparecida Marinato, Viviane Gonçalves da Silva Costa
- NEWTON E A CAUSA DA GRAVIDADE: REALISMO E ANTIRREALISMO
- Renato Cesar Cani
- PROFISSÃO DE ARTISTA: RELAÇÕES ENTRE A ARTE E O TRABALHO NO NEOLIBERALISMO E O ARTISTA VISUAL COMO TRABALHADOR
- Marina Jerusalinsky
- A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS PLANTAS MEDICINAIS DO PARQUE ESTADUAL ZÉ BOLO FLÔ EM CUIABÁ-MT: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA
- Roselayne Ten Cater Piper, Giseli Dalla Nora
- A (RE)OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA E A DILACERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA: O USO DO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS DURANTE A DÉCADA DE 1970
- Luciene Aparecida Castravechi
Resenhas
- UMA COMPREENSÃO HISTÓRICA DO ESTADO POR MEIO DOS AUTORES CLÁSSICOS DA LITERATURA POLÍTICA: PLATÃO, ARISTÓTELES, MAQUIAVEL E OS CONTRATUALISTAS
- Fernando Tadeu Germinatti
- NOS JARDINS DE NAPOLEÃO. A AMÉRICA DE HUMBOLDT E DOS VIAJANTES.
- Thiago Costa
Transcrições Comentadas
- DESORDENS NO MATO GROSSO COLONIAL: TRANSCRIÇÃO COMENTADA DE UM MANUSCRITO DE 1798
- Thaisa Maria Gazziero Tomazi e Camila Viais Leite
História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.26, n.2, 2019.
- História, Ciências, Saúde – Manguinhos: 25+ Carta Dos Editores
- Cueto, Marcos; Silva, André Felipe Cândido da
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- Impacto da Reforma Cabanis no ensino médico do Brasil: ensaio de arqueologia neofoucaultiana Análise
- Almeida-Filho, Naomar
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Noemy Silveira, Isaías Alves e a psicologia educacional: diálogos entre Brasil, França e EUA Análise
- Rocha, Ana Cristina Santos Matos
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Perón y las visitadoras: masculinidad, consumo sexual y resistencias militares a la abolición de la prostitución reglamentada, Argentina, 1936-1955 Análise
- Simonetto, Patricio
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- Salud pública, espacio urbano y exclusión social en la España de posguerra: la epidemia de tifus exantemático en la ciudad de Valencia, 1941-1943 Análise
- Ferrandis, Xavier García; Martínez-Vidal, Àlvar
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- José Antonio Alzate, instrumentos animales y conocimiento fiable en Nueva España, siglo XVIII Análise
- Constantino, María Eugenia
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- A face infértil do Brasil: ciência, recursos hídricos e o debate sobre (in)fertilidade dos solos do cerrado brasileiro, 1892-1942 Análise
- Silva, Claiton Márcio da
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- No meio do caminho tinha uma pedra: a história de violência e sofrimento social de jovens adultos com trajetórias de internação em hospital psiquiátrico Análises
- Rosa, Soraya Diniz; Malfitano, Ana Paula Serrata
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Del “armamento antituberculoso” al Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco en la Ciudad de México, 1920-1940 Análise
- Agostoni, Claudia
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Entre vacinas, doenças e resistências: os impactos de uma epidemia de varíola em Porto Alegre no século XIX Análise
- Kühn, Fábio; Brizola, Jaqueline Hasan
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- La temprana recepción de los rayos X en Buenos Aires, 1896-1897: medicina, esoterismo y fantasías plebeyas Análise
- Vallejo, Mauro Sebastián
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Entre jalecos, bisturis e a arte de fazer política Análises
- Petrarca, Fernanda Rios
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Luiz Nunes e o projeto de instituições de saúde em Pernambuco Análises
- Ribeiro, Cecilia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- La historiografía de la fiebre amarilla en América Latina desde 1980: los límites del presentismo Revisão Historiográfica
- García, Mónica
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- Trajetos e escolhas de Jean-Claude Schmitt Depoimento
- Schmitt, Jean-Claude; Teodoro, Leandro Alves
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O Brasil, a geo-história e Pierre Monbeig Nota De Pesquisa
- de Lira, Larissa Alves
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Evidencias del uso político de la ciencia médica en un artículo de la prensa brasileña alusivo al presidente de Chile José Manuel Balmaceda en 1891 Fontes
- Fabregat, Mario
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Belleza plástica, eugenesia y educación física en Chile: presentación de la fuente “Aspectos de la educación física”, de Luis Bisquertt (1930) Fontes
- Riobó, Enrique; Villarroel, Francisco Javier
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Una etnografía sobre personas viviendo con sida, calidad de la atención y construcción de la enfermedad Livros E Redes
- Bidegain, Evangelina Anahí
- Texto: ES
- PDF: ES
- Uma história da psiquiatria mexicana a partir das fontes clínicas do Manicomio La Castañeda Livros E Redes
- Accorsi, Giulia Engel
- Texto: PT
- PDF: PT
- A eugenia de ontem e de hoje Livros E Redes
- Habib, Paula Arantes Botelho Briglia
- Texto: PT
- PDF: PT
- La medicina popular peruana: la última reedición de un clásico Livros & Redes
- Loza, Carmen Beatriz
- Texto: ES
- PDF: ES
- O percurso das drogas no império da anfetamina Livros E Redes
- Soares, Ricardo
- Texto: PT
- PDF: PT
Recorde. Rio de Janeiro, v.12, n.2, 2019.
Artigos
- A PESQUISA SOBRE SKATE NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO BRASIL: PANORAMA E PERSPECTIVAS
- Leonardo Brandão, Giancarlo Marques Carraro Machado
- BARES DE FUTEBOL/TORCIDAS DE FUTEBOL NA AMÉRICA LATINA. UM ESTADO DA SITUAÇÃO
- Onésimo Rodríguez Aguilar, Luis Diego Soto Kiewit, Cindy Zúñiga Valerio
- O PROGRAMA DE CULTURA DOS JOGOS RIO2016: A DISPUTA SOBRE O NÃO FEITO
- Juliana Carneiro
- “É UMA COISA INDECENTE, IMORAL E ESCANDALOSA”: OS PRIMEIROS RELATOS SOBRE FOOTBALL FEMININO NA IMPRENSA DO RIO DE JANEIRO (1910-1920)
- Kelen Katia Prates Silva
- PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL FEMININO NO URUGUAI
- Tiago Sales de Lima Figueiredo
- DEFESA DA HONRA E A CIVILIZAÇÃO DOS COSTUMES: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CÓDIGO IRLANDÊS DE DUELO COM PISTOLAS DE 1777
- Narayana Astra van Amstel, Carlos Alberto Bueno dos Reis Júnior, Leonardo do Couto Gomes, Ricardo João Sonoda Nunes
- MUAY THAI – A PRESENÇA DE UMA CULTURA CORPORAL NO CINEMA TAILANDÊS
- Ivo Lopes Müller Junior, André Mendes Capraro
- SHUAIJIAO O JUDÔ CHINÊS OU JUDÔ O SHUAIJIAO JAPONÊS: A INFLUÊNCIA DO WRESTLING CHINÊS SOB O JUDÔ DE JIGORO KANO
- Everton de Souza da Silva
- BOLICHES E DISCURSO ESPORTIVO: A DISTINÇÃO E AS DISPUTAS ENVOLVENDO OS JOGOS DE AZAR NA SÃO PAULO DOS ANOS 1930
- Samuel Ribeiro dos Santos Neto, Edivaldo Góis Junior
- O TREM-DE-FERRO E O CINEMA EM MONTES CLAROS-MG: A PROJEÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PELOS TRILHOS DO SERTÃO MINEIRO
- Rogério Othon Teixeira Alves, Georgino Jorge de Souza Neto, Luciano Pereira da Silva
- ORGANIZAÇÃO SOCIAL, FUTEBOL E JUVENTUDE: A ATUAÇÃO DO FOTO BRASIL FC EM CAMPINAS/SP (1973-1985)
- Luiz Antonio C. Norder
Resenhas
- ESPORTE E CIDADE, NOVAS PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS: NOTAS SOBRE O LIVRO “ESPORTES NOS CONFINS DA CIVILIZAÇÃO: GOIÁS E MATO GROSSO, C.1866-1966”
- Mariana de Paula, Letícia Cristina Lima Moraes, Leonardo do Couto Gomes, Marcelo Moraes e Silva
- NARRATIVAS HISTORIOGRÁFICAS E ANTROPOLÓGICAS SOBRE AS DINÂMICAS TAUROMÁQUICAS NA PENÍNSULA IBÉRICA, NO BRASIL E EM MOÇAMBIQUE: REFLEXÕES SOBRE O LIVRO “POIS TEMOS TOUROS: TOURADAS NO BRASIL DO SÉCULO XIX”
- Leonardo do Couto Gomes, Duilio Queiroz de Almeida, Marcelo Moraes e Silva
- LIVE LIKE LINE: RESENHA DO FILME “UMA RAZÃO PARA VENCER”
- Miguel Archanjo de Freitas Junior, Edilson de Oliveira, Tatiane Perucelli, Bruno Pedroso
Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília, v.62, n.2, 2019.
· The role of Brazil in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) Articles
- Gonçalves, Leandra Regina
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Brazilian energy-related climate (in)action and the challenge of deep decarbonization Articles
- Basso, Larissa
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Climate governance and International Civil Aviation: Brazil’s policy profile Articles
- Gonçalves, Veronica Korber; Anselmi, Marcela
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · South-South relations and global environmental governance: Brazilian international development cooperation Article
- Hochstetler, Kathryn; Inoue, Cristina Yumie Aoki
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Myths and images in global climate governance, conceptualization and the case of Brazil (1989 – 2019) Article
- Franchini, Matias Alejandro; Viola, Eduardo
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Policy networks in global environmental governance: connecting the Blue Amazon to Antarctica and the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agendas Article
- Barros-Platiau, Ana Flávia; Søndergaard, Niels; Prantl, Jochen
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Global climate adaptation governance in the Amazon through a polycentricity lens Article
- Wit, Fronika Claziena Agatha de; Freitas, Paula Martins de
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · The changing face of environmental governance in the Brazilian Amazon: indigenous and traditional peoples promoting norm diffusion Article
- Chase, Veronika Miranda
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · A changing role in global climate governance: São Paulo mixing its climate and international policies Article
- Mauad, Ana; Betsill, Michele
- Resumo: EN
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Brazil ups and downs in global environmental governance in the 21st century Editorial
- Viola, Eduardo; Gonçalves, Veronica Korber
- Texto: EN
- PDF: EN
Signum – Revista da ABREM. Londrina, v.20, n.2, 2019.
Dossiê: Sobre margens, diversidades e ensino na/da Idade Média
- SOBRE MARGENS, DIVERSIDADES E ENSINO NA/DA IDADE MÉDIA
- Marcio Ricardo Coelho Muniz
- CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DA CATEGORIA GÊNERO NOS ESTUDOS SOBRE O MEDIEVO
- Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva
- A CONTRIBUIÇÃO DOS ESCRITOS DE MULHERES MEDIEVAIS PARA UM PENSAMENTO DECOLONIAL SOBRE IDADE MÉDIA
- Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne
- A LEGISLAÇÃO DA ORDEM DOS PREGADORES NO SÉCULO XIII: UMA APROXIMAÇÃO A PARTIR DOS ESTUDOS DE GÊNERO
- Carolina Coelho Fortes
- QUE DIZEM AS CANTIGAS DE ESCÁRNIO E MALDIZER GALEGO-PORTUGUESAS SOBRE NEGR-? DESAFIOS PARA A HISTÓRIA DE UMA PALAVRA
- Arivaldo de Souza Sacramento
- A EMERGÊNCIA DE UMA IDENTIDADE LITERÁRIA EM PORTUGAL: ENTRE HISTÓRIA, TEXTOS E CRÍTICOS
- Maria Ana Ramos
- INDO AOS MANUSCRITOS DAS CANTIGAS MEDIEVAIS NAS AULAS DE LINGUÍSTICA HISTÓRICA
- Gladis Massini-Cagliari
- JOÃO LOBEIRA (PORTUGUÊS, SÉCULO XIII), CECÍLIA MEIRELES (BRASILEIRA, SÉCULO XX), UM POEMA: NOS MEANDROS DA ANÁLISE DE TEXTO COMPARATIVA
- Lênia Márcia Mongelli
- GÊNERO, ENSINO DE HISTÓRIA E MEDIEVALIDADES: (DES)CONEXÕES COM O PASSADO
- Marcelo Pereira Lima
- LA FICCIÓN AUTORAL EN LA OBRA DE GEOFFREY CHAUCER: ENTRE LA VOZ Y LAS IMÁGENES
- María Cristina Balestrini
- PDF (ESPAÑOL (ESPAÑA))
- PROCESSOS DE CANONIZAÇÃO E RELATOS HAGIOGRÁFICOS DOS SANTOS MENDICANTES (SÉCULOS XIII E XIV): UM ESFORÇO DE SÍNTESE E UM FOCO DE ANÁLISE
- Igor Salomão Teixeira
Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v.27, n.2, 2019
- · Difícil falar do agora Editorial
- Lago, Mara Coelho de Souza; Ramos, Tânia Regina de Oliveira; Minella, Luzinete Simões; Wolff, Cristina Scheibe
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Crianças, seus cérebros… e além: Reflexões em torno de uma ética feminista de pesquisa Artigos
- Fonseca, Claudia Lee Williams
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Estrutura ou dispositivo: como (re)pensar a diferença sexual hoje? Artigos
- Pombo, Mariana Ferreira
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Sexualidade: Saber e Individualidade Artigos
- Neves, Dulce Morgado
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Diálogos entre Colonialidade e Gênero Artigos
- Ferrara, Jéssica Antunes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Quando a raça e o gênero estão em questão: embates discursivos em rede social Artigos
- Borges, Roberto Carlos da Silva; Melo, Glenda Cristina Valim de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Des(p)ejo das palavras: relendo os primeiros diários de Carolina Maria de Jesus Artigos
- Silva, Rafael Guimarães Tavares da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Masculinidades melodramáticas em três filmes de Sandro Artigos
- Navone, Santiago
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Representação e estereótipos de mulheres negras no cinema brasileiro Artigos
- Candido, Marcia Rangel; Feres, João
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- · Claudia nas décadas de 1970-1980 – Feminismo, antifeminismo e a superação de um suposto passado radical Artigos
- Mello, Soraia Carolina de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ressignificar e resistir: a Marcha das Vadias e a apropriação da denominação opressora Artigos
- Boenavides, Débora Luciene Porto
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · (Trans)tornando a norma cisgênera e seus derivados Artigos
- Silva, Felipe Cazeiro da; Souza, Emilly Mel Fernandes de; Bezerra, Marlos Alves
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- · Movimentos emaranhados: travestis, movimentos sociais e práticas acadêmicas Artigos
- Carrijo, Gilson Goulart; Simpson, Keila; Rasera, Emerson Fernando; Prado, Marco Aurelio Máximo; Teixeira, Flavia Bonsucesso
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Internacionais e glamorosas: sobre a carreira das “travestis profissionais” Artigos
- Soliva, Thiago Barcelos
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Uma história da Frente de Libertação Homossexual e a esquerda na Argentina. Artigos
- Insausti, Santiago Joaquin
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · “Eu sou Barbie e sou bruta”: o empoderamento no ciclismo Artigos
- Cavalcanti, Tássia de Souza; Santos, Anyelle Brito Leite; Moura, Camila Batista Gama; Moura, Diego Luz
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · O modelo piramidal: uma alternativa feminista para analisar a violência contra as mulheres Artigos
- Bosch-Fiol, Esperanza; Ferrer-Perez, Victoria Aurora
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · A injunção social da maternagem e a violência Artigos
- Baluta, Maria Cristina; Moreira, Dirceia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Quem está no comando? Mulher de bandido e os paradoxos da submissão Artigos
- Cúnico, Sabrina Daiana; Strey, Marlene Neves; Costa, Angelo Brandelli
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Vitimização por stalking: um estudo sobre a prevalência em estudantes universitários Artigos
- Boen, Mariana Tordin; Lopes, Fernanda Luzia
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Machismo discursivo: modos de interdição da voz das mulheres no parlamento brasileiro Artigos
- Barros, Antonio Teixeira de; Busanello, Elisabete
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Participação científica da mulher em Ciência Política e Relações Internacionais no Brasil Artigos
- Mendes, Marcos Vinícius Isaias; Figueira, Ariane Cristine Roder
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- · Estereótipos de gênero: Perspectivas em profissões de artesanato em Portugal Artigos
- Tubay, Fanny Monserrate
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Economia Solidária na politização do trabalho oculto das mulheres Artigos
- Aguayo, Beatriz Eugenia Cid; Ramírez, Loreto Patricia Arias
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · A migração invisível das mulheres mexicanas qualificadas Artigos
- Salvatori, Sara; Terrón-Caro, Teresa
- Resumo: EN ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- · A feminização do jornalismo sob a ótica das desigualdades de gênero Artigos
- Lelo, Thales Vilela
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Aproximações possíveis entre os estudos da deficiência e as teorias feministas e de gênero Artigo
- Magnabosco, Molise de Bem; Souza, Leonardo Lemos de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Trajetórias e experiências: a construção do sujeito político feminista desde uma perspectiva interseccional Artigos
- Dell’Aglio, Daniela Dalbosco; Machado, Paula Sandrine
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Ser objeto de opressão não é ser vítima: uma entrevista com Catarina Martins Ponto De Vista
- Bittelbrun, Gabrielle Vivian
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Como funciona a despatologização na prática? Resenha
- Coacci, Thiago
- Texto: PT
- PDF: PT
- · La dimensión política del cuidado Resenha
- Gasca, Ells Natalia Galeano
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Neoliberalismo sexual: o mito e a sedução da liberdade nas sociedades formalmente igualitárias Resenha
- Alves, Ismael Gonçalves
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Performatividade Pajubá Resenha
- Oliveira, João Manuel de
- Texto: PT
- PDF: PT
- · Feminismos plurais: a América Latina e a construção de um novo feminismo Resenha
- Paula, Thaís Vieira de; Galhera, Katiuscia Moreno
- Texto: PT
- PDF: PT
- · La política exterior ya no es cosa de hombres Resenha
- Salomón, Mónica
- Texto: ES
- PDF: ES
- · Voces feministas y disidentes en el Caribe hispano Resenha
- Orsanic, Lucía
- Texto: ES
- PDF: ES
- · A dor, a glória e o charme butch de Esther Newton Resenha
- Henning, Carlos Eduardo
- Texto: PT
- PDF: PT
Domínios da Imagem. Londrina, v.13, n.25, 2019.
Expediente
Corpo Editorial
Apresentação
- Apresentação
Editores da revista
Artigos gerais
- Imagens que fazem pensar: a seriedade e o grotesco na narrativa da Paraíso do Tuiuti e na transmissão da Rede Globo no carnaval carioca de 2018
- Marcia Neme Buzalaf, Allison Guilherme Gonçalves Bella
- A utilização da hipermídia QR Code como recurso interdisciplinar no livro “Oficina de História” Using QR Code Hypermedia as a Resource interdisciplinary work in the book “History Workshop”
- Ana Maria Pereira Lima, Isaíde Bandeira da Silva, Amanda Gonçalves Alboíno
- Fotografias na Praça: A produção e os usos das fotografias de atestação nos ex-votos de romeiros em Aparecida (SP)
- André Camargo Lopes, Carlos Alberto Sampaio Barbosa
- O Glam Rock brasileiro: moda e comportamento andrógino na década de 1970
- Patrícia Marcondes de Barros
- O uso de fotografias como potencialização da prática nos estudos organizacionais: uma análise à luz de Bourdieu
- João Gabriel Dias dos Santos, Rafael Borim-de- Souza, Camilla Atibaia Cestari
- O que restou da ditadura? Documentário contemporâneo chileno e as tensões da memória
- Carolina Amaral de Aguiar
Pesquisas seminais
- Imagens fotográficas sobre autoritarismo e manifestações estudantis contra os cortes na educação nas cidades de Goiânia e Londrina 15 maio 2019
- Gledson Rodrigues Nascimento
Homenagens
- Professor Paulo Alves, uma vida pela história
- Jozimar Paes de Almeida
Estudios Históricos. Rivera, n.22, dic. 2019.
Estudios Históricos. Rivera, n.22, dic. 2019.
DOSSIER:
- 1 – El mercado de esclavizados en corrientes. Una revisión a la circulación interna y la estructura económica-productiva. 1750-1850.The slaved market in currents. A review of internal circulation and economic-productive structure. 1750-1850.Fátima Valenzuela (Argentina)
- 2 – Amado Bonpland, su vida en la frontera.Amado Bonpland, your life on the border.Mabel Artigas (Argentina)
- 3 – Migración, Fronteras e Identidades en Uruguay.Migration, Borders and Identities in Uruguay.Leticia Núñez Almeida (Uruguay)
- 4 – A legislação imperial e a naturalização de estrangeiros.Imperial legislation and naturalization of foreigners.Carlos Eduardo Piassini (Brasil)
- 5 – Os Valdenses: dos alpes ao prata.The Valdenses: from the alps to silver.Arthur E. Varreira (Brasil)
- 6 – A região platina e as representações míticas de grandes lagos na cartografia do período colonial.The platine region and the mythic representations of great lakes in colonial period cartography.Yuri Batista da Silva (Brasil)
- 7 – A Revolução Federalista (1893-1895) na região fronteiriça platina: projetos políticos e a trajetória de Gaspar Silveira Martins.The Federalist Revolution (1893-1895) in the platine border region: political projects and the trajectory of Gaspar Silveira Martins.Monica Rossato (Brasil)
- 8 – Bacharéis e grupos políticos: trajetórias e o uso positivo do termo partido para a consolidação do estado imperial brasileiro.Bacharéis and political groups: pathways and the positive use of the party term for the consolidation of the brazilian imperial state.Alessandro Pereira – Leonardo Poltozi Maia (Brasil)
- 9 – Metodologias para a análise de relações de poder no espaço fronteiriço platino: as correspondências do general João Nunes da Silva Tavares durante a revolução federalista. Methodologies for the analysis of power relations in the platino border space: the correspondences of general João Nunes da Silva Tavares during the federalist revolution.Gustavo F. Andrade – Cyro Porto Martins (Brasil)
- 10 – Dois eventos a um só tempo histórico: releitura acerca do envolvimento do Brasil nas guerras mundiais.Two events at one historic time: repeal about Brazil’s involvement in world wars.Günther Richter Mros (Brasil)
- 11 – O Prata na América Latina: perspectivas das teses em história no Rio Grande do Sul.The Prata in Latin America: Perspectives of History theses in Rio Grande do Sul.Cláudio Kuczkowski – Tatiane Dumerqui Kuczkowski (Brasil)
- 12 – A Quarta Colônia e a manutenção da identidade, memoria e cultura regional.The Fourth colony and the maintenance of regional identity, memory and culture.Jorge Cruz – Ricardo Kemmerich (Brasil)
- 13 – Fragmentos sobre a memória da educação superior em Santa Maria – RS, Brasil, a partir das instituições gerenciadas pelas Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. –Fragments on the memory of higher education in Santa Maria – RS, Brazil, from the institutions managed by the Franciscan Sisters of Christian Penitence and Charity.Luciana Souza de Brito (Brasil)
- 14 – Memória e patrimônio na região das missões do Rio Grande do Sul: os usos do passado nos processos de emancipação de São Miguel das Missões e na criação do Memorial Coluna Prestes de Santo Angelo.Memory and heritage in the Rio Grande do Sul mission region: the uses of the past in the San Miguel mission processes and in the creation of the memorial prestes Santo Angelo column.Sandi Mumbach – Amilcar Guidolin (Brasil)
- 15 – Memória e patrimônio: ações de preservação documental no arquivo municipal de São João do Polêsine – RS.Memory and heritage: documentary preservation actions in the municipal file of São João do Polêsine – RS.Pablo Cruz, Higor Barbosa, Murilo Penha (Brasil)
- 16 – Quando o patrimônio cemiterial vira notícia: a agenda jornalística de Santa Maria (RS) para um espaço de memória fúnebre local.When the cemiterial heritage comes news: Santa Maria (RS) journalistic agenda for a local fumble memory space.Fernanda Kieling Pedrazzi (Brasil)
- 17 – Educação patrimonial em espaços não formais de aprendizagem.Heritage education in non-formal learning areas.Marta Rosa Borin (Brasil)
- 18 – Bomba de chimarrão, fruto de hibridação cultural.Mate straw, Cultural hybridization.Ricardo da Silva Mayer (Brasil)
- 19 – O contexto brasileiro na consolidação da independência e a emergência da Revolução Farroupilha (1835-1845).The brazilian context on consolidation of independence and the emergency of the Farroupil Revolution (1835-1845)Maria Medianeira Padoim (Brasil)
- 20 – Paisaje cultural minero: la región aurífera de Minas de Corrales (Uruguay) a través de la fotografía de época (siglo XIX).Mining cultural landscape: the gold region of Minas de Corrales (Uruguay) through vintage photography (19th century).Eduardo R. Palermo (Uruguay)
- 21 – Fronteira e nacionalização: a Segunda Guerra Mundial em Porto Novo (Brasil, 1942-1943)
- João Vitor Sausen (Brasil)
Artículos de este número:
- 01 – Repression as one of the cornerstones of the totalitarian system (on the example of Soviet Russia during the civil warof 1918-1920)La represión como una de las piedras angulares del sistema totalitario (en el ejemplo de la Rusia Soviética durante la guerracivil de 1918-1920).
- Chukanov Ivan Albertovich,Boyko Natalya Semenovna,Mukhamedov Rashit Alimovich,
- Nikolaev Evgeny Evgenyevich,Krasnova Alyona Sergeevna(Rusia)
- 02- A perda dos ervais dos povos de índios no Rio Grande do Sul. AntecedentesThe loss of indian people herbs in Rio Grande do Sul. Background
- Luiz Carlos Tau Golin (Brasil)
- 03- Levantamientos armados y “diplomacia marginal”. João Francisco Pereira de Souza y las redes políticas del gobierno uruguayo en la frontera con Brasil (1908 y 1910)Armed uprisings and “marginal diplomacy”. João Francisco Pereira de Souza and the political networks of the Uruguayan government on the border with Brazil (1908 and 1910)
- Ana María Rodríguez Ayçaguer (Uruguay)
- 04- História regional em perspectiva: a estância jesuítica de San Francisco XavierRegional history in perspective: the jesutic office of San Francisco Xavier
- Tiara Cristiana Pimentel dos Santos (Brasil)
- 05 – O GLOBO SURPREENDIDO: BRIZOLA GOVERNADOR – campanha e eleição de Leonel Brizola ao governo doRio de Janeiro em 1982THE SURPRISE OF “O GLOBO”: BRIZOLA GOVERNOR – campaign and election of Leonel Brizola to the government ofRio de Janeiro in 1982
- Marcelo Marcon (Brasil)
- 06- “Em defesa da Honra”: Violência e sociabilidade em Mallet -PR (1936-1950)
- “In defense of Honor”: Violence and sociability in Mallet -PR (1936-1950)
- Angelica Stachuk,Oséias de Oliveira (Brasil)
- 07 – Revolução Federalista sob perspectiva regional: As invasões na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Federalist Revolution under regional perspective: The invasions on the western border of the state of Rio Grande do Sul.
- Taciane Neres Moro (Brasil)
Mosaico. Goiânia, v.12, 2019.
Congadas: Memória e Tradição Afro-Brasileira
Editorial
- AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, OS ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E A HISTÓRIA
- THAIS ALVES MARINHO
Apresentação / Presentation
- CONGADAS: MEMÓRIA E TRADIÇÃO AFRO-BRASILEIRA
- Rosinalda Correa da Silva Simoni
Artigos de Dossiê / Dossier
- A RELIGIOSIDADE NOS DISTRITOS DE SOUZÂNIA E INTERLÂNDIA: ESTUDO DE CASO DAS FOLIAS DO DIVINO
- Luan Filipe Coelho, Poliene Soares Bicalho
- A MATERIALIDADE DA FÉ: SACRALIZAÇÃO DOS OBJETOS NAS FOLIAS DE REIS DE ITAGUARI – GO
- IGOR JUNQUEIRA CABRAL
- CONGADAS E REINADOS – CELEBRAÇÕES DE UM CATOLICISMO POPULAR, AFRICANO E BRASILEIRO
- Marco Antonio Fontes de Sá
- FÉ E FESTIVIDADES NAS IRMANDADES NEGRAS NO INTERIOR DO BRASIL: (RE)AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA AFRODIASPÓRICA
- Rosinalda Côrrea da Silva Simoni, Noeci Carvalho Messias
- MEMÓRIA E IDENTIDADE NA FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO DA VILA JOÃO VAZ – GOIÂNIA (GO)
- Cleber de Sousa Carvalho
Artigos Livres / Articles
- CENAS DE ATELIÊ: O AMBIENTE DE OFÍCIO REPRESENTADO PELOS PINCÉIS DE OSCAR PEREIRA DA SILVA
- Paula Nathaiane de Jesus da Silva
- RELAÇÕES DE PODER E TENSÃO NO TOMBAMENTO DA JAQUEIRA EM PERNAMBUCO – PE
- Rozeane Porto Diniz
- CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS (CTN): REFLEXÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA EM DOURADOS-MS
- Clecita Maria Moises
- OS SEMITAS NAS TERRAS DOS EGÍPCIOS – UMA SÍNTESE DE SUAS RELAÇÕES DA 12ª À 20ª DINASTIA
- Sérgio Aguiar Montalvão
Resenhas / Reviews
- BATALHAS MEDIEVAIS – AS 20 MAIS IMPORTANTES BATALHAS DA EUROPA E DO ORIENTE 1000-1500 d.C.
- Samuel Tolentino da Silva
- ENTRE RELÍQUIAS E PEREGRINAÇÕES: SER E ESTAR PEREGRINO NA IDADE MÉDIA
- Raimundo Carvalho Moura Filho
Corporativismos: experiências históricas e suas representações ao longo do século XX / Tempo / 2019
O corporativismo foi frequentemente apresentado por intelectuais, associações, grupos de poder e governos como resposta a um período de crise e alternativa às distorções do paradigma liberal na representação dos interesses produtivos. Essa terceira via entre socialismo e liberalismo pretendia criar uma nova ordem social capaz tanto de “reprimir quanto de cooptar o movimento trabalhista, os grupos de interesse e as elites, por meio dos legislativos orgânicos” (Pinto e Martinho, 2016, p. 19).
As características acima delineadas explicam como o corporativismo demonstou ter sido um projeto político, ideológico e econômico de sucesso, em especial durante os anos convulsivos do período entre as duas guerras mundiais, registrando êxito sobretudo nos regimes autoritários de direita na Europa e na América Latina.
Se é inegável que nos anos entre a promulgação da Carta del Lavoro, de 1927, e o fim da Segunda Guerra Mundial o corporativismo viveu seu apogeu em termos de especulação intelectual e vivência histórica, esse fenômeno merece também ser investigado além do marco cronológico e das correntes da direita autoritária (Schmitter, 1974). Este dossiê, inserindo-se no recente debate sobre o corporativismo como fenômeno transnacional (Pasetti, 2016; Pinto, 2017; Pinto e Finchelstein, 2018), quer investigá-lo como um acontecimento complexo e multifacetado do ponto de vista teórico e de suas experiencias práticas e representativas.
As páginas que se seguem abordam os casos inglês, brasileiro, italiano e português, num período compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a queda do regime salazarista, em 1974, tendo como fil rouge comum a análise dos sistemas políticos contemporâneos em períodos de crise e transição e o papel representado pelo corporativismo em meio a tais mudanças.
Os anos da Grande Guerra no Reino Unido são o cenário do artigo de Valerio Torreggiani. A crise política, militar, e a desconfiança em relação ao sistema liberal, em conjunto com a necessidade sempre mais premente de disciplinar as massas, deram lugar a um intenso debate entre os intelectuais britânicos acerca da necessidade de “garantir a ordem social, implementar a eficiência econômica e realizar a representação funcional-corporativa” (infra p. XX).
Por meio da análise de três momentos tópicos – a conferência organizada no Ruskin College, as atividades desenvolvidas pelo Romney Street Group e o relatório produzido pela Garton Foundation em 1916 -, Torreggiani reconstrói o intenso debate que envolveu intelectuais de várias afiliações políticas para promover uma nova democracia econômica, baseada numa tipologia de representação corporativo-empresarial, que tivesse em seu centro os representantes das associações de interesses.
Essa medida, embora elaborada para responder à crise causada pela Grande Guerra e às mudanças sociais, econômicas e políticas do século XX, além de ter por fim encontrar uma nova ordem capaz de disciplinar a sociedade e suas relações laborais, acabou, paradoxalmente, encontrando espaços limitados nas políticas promovidas pela classe dirigente conservadora, que, assustada pela exacerbação do conflito irlandês e pelas notícias provenientes de Moscou, decidiu não apoiar por completo um corporativismo que previa a cooperação entre as classes sociais.
Da mesma forma que o artigo de Torreggiani demonstra que o conceito de corporativismo foi muito versátil e que as hipóteses de suas realizações práticas foram debatidas também em estados democráticos, com a presença marginal de movimentos fascistas, o estudo de Marco Vannucchi ilustra, de modo original, como, no seio do corporativismo brasileiro, surgiram forças oposicionistas ao regime. O tema principal do artigo é a complexa relação entre o Estado e o corporativismo das classes médias na era Vargas, com enfoque específico sobre as profissões liberais.
Mais uma vez, o corporativismo, entendido como projeto político, econômico e social, se delineia nas páginas do texto como uma solução de ordem perante uma fase de transição – no caso especifico, a surgida após a revolução de 1930, com a proscrição das instituições da democracia liberal-oligárquica. Conquanto Vannucchi defina o Estado Novo como o momento forte do corporativismo, ao mesmo tempo sua análise das posições tomadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Sindicato dos Advogados nos anos 1944 e 1945 prova como a estrutura corporativa não foi granítica, sobretudo por não ter sido capaz de controlar a oposição ao regime exercida pelas profissões liberais ao fim da ditadura varguista.
O fim do regime corporativo e o papel desempenhado pelo corporativismo em meio às oposições ao fascismo é também o tema central dos artigos de Maurizio Cau e Laura Cerasi, mas o cenário é a Itália dos anos de transição democrática, em 1945. Os recentes estudos sobre o corporativismo fascista (Santomassimo, 2006; Stolzi, 2007; Gagliardi, 2010; Cassese, 2010; Cerasi, 2017) asseveram que o ordenamento corporativo previsto pelo regime de Mussolini foi um projeto político, institucional e econômico de sucesso, tanto por ter tido impacto no debate intelectual quanto pelas práticas corporativas em nível mundial (Pasetti, 2006).
Da mesma forma, evidenciam que, para compreender a fundo o corporativismo é necessário reconstruir o debate sobre esse projeto, analisando as diferentes matrizes ideológicas que o animaram desde o início do século XX até os anos imediatamente sucessivos à queda do regime. Esse é o ponto de partida dos textos de Cerasi e Cau. Os dois artigos traçam um perfil das especulações a respeito do corporativismo em meio às forças políticas democráticas italianas e seus relativos pontos de contatos, fricções e incompatibilidades com o fascismo.
A escolha da análise de longa duração é particularmente interessante, em especial quando os dois textos analisam o que resta do corporativismo, definido por Cau como uma “herança incômoda”, nos anos da definição da Constituição Republicana. Focando a atenção no mundo católico, o autor ilustra como o ponto crucial do corporativismo continuou a alimentar o debate nos anos de redefinição do sistema democrático, tornando-se um dos principais protagonistas da nova Itália republicana.
Cerasi, por sua vez, dissolve a questão da herança do corporativismo fascista sublinhando como o leitmotiv entre as forças políticas que emergiram vitoriosas da luta contra o regime e a experiência política anterior se encontra não no corporativismo per si, que já desde a metade dos anos 1930 havia perdido a força inovadora e aglutinadora, mas na dimensão fundadora desempenhada pelo trabalho, entendido como componente econômico, social e ético do Estado italiano.
Essa é uma centralidade que a autora identifica também na sua forma representativa simbólica, seja no monumento icônico do fascismo – o Palazzo del Lavoro, situado no bairro do Eur, em Roma -, seja naquele documento-monumento representado pela nova Constituição italiana, que no seu primeiro artigo afirma que “a Itália é uma República Democrática baseada no trabalho”.
A abordagem de longo prazo carateriza, do modo similar, o artigo de Dulce Freire e Nuno Estêvão Ferreira dedicado à experiência corporativa no Estado Novo português. É interessante analisar esse texto em comparação com os dois anteriores a fim de destacar os pontos de contato e as divergências entre os sistemas corporativos italiano e português. Valendo-se de um novo conjunto de fontes, Freire e Ferreira reconstroem a criação e a estabilização do sistema corporativo português e sua difusão no território, estabelecendo que esse sistema não surgiu de forma casuística ou desordenada, como afirmado em diversos estudos recentes, mas como um projeto sistemático e moldado nas várias fases do regime.
Os estudos de Cau, Freire e Ferreira provam, portanto, que, para entender completamente o fenômeno do corporativismo em cada Estado – por meio de uma perspectiva mais ampla, como um fenômeno transnacional -, este deve ser pensado não como um instrumento de retórica institucional ou mera criação de estruturas administrativas, mas como um sistema que, mesmo apresentando algumas distorções, acabou por ser funcional e dinâmico ao longo de varias décadas.
No caso português, graças à extensão cronológica maior, os autores mostram que o ordenamento corporativista do Estado Novo, assim como seu ditador, foi caracterizado por aquela “arte de saber durar” (Rosas 2012) que o tornou capaz de se adaptar aos vários momentos políticos e se moldar em função do território, de modo a manter um controle funcional sobre as principais atividades econômicas e, mais em geral, contribuir para preservar o controle político sobre a população.
Em conclusão, os estudos que apresentamos neste dossiê procuram oferecer um novo olhar acerca do fenômeno do corporativismo ao revelar sua poliedricidade política e sua duração de longo prazo. Em particular, o dado mais inovador que emerge da leitura dos textos aqui recolhidos é a análise da capacidade de adaptação e preservação – no que diz respeito a alguns aspectos -, bem como de remoção – no tocante a outros -, que o corporativismo teve dentro das grandes mudanças e os desafios que caraterizaram as sociedades ocidentais ao longo do século XX.
Referências
CASSESE, Sabino. Lo stato fascista. Bolonha: Il Mulino, 2010. [ Links ]
CERASI, Laura. Rethinking Italian Corporatism: Crossing Borders between Corporatist Projects in Late Liberal Era and the Fascist Corporatist State: Topics, Variances and Legacies. In: PINTO, António Costa. Corporatism and Fascism: The Corporatist Wave in Europe. Londres: Routledge, 2017, p. 103-123. [ Links ]
GAGLIARDI, Alessio. Il corporativismo fascista. Roma: Laterza, 2010. [ Links ]
PASETTI, Matteo. L’Europa corporativa: una storia transnationale tra due guerre mondiali. Bolonha: BUP, 2016. [ Links ]
PASETTI, Matteo(Ed.). Progetti corporative tra le due guerre mondiali. Roma: Carocci, 2006. [ Links ]
PINTO, António Costa. Corporatism and Fascism: The Corporatist Wave in Europe. Londres: Routledge, 2017. [ Links ]
PINTO, António Costa; FINCHELSTEIN, Federico. Authoritarianism and Corporatism in Europe and Latin America: Crossing Borders. Londres: Routledge, 2018. [ Links ]
PINTO, António Costa; MARTINHO, Francisco Palomares(Eds.). A vaga corporativa: corporativismo e ditaduras na Europa e na América Latina. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2016. [ Links ]
ROSAS, Fernando. Salazar e o poder: a arte de saber durar. Lisboa: Tinta da China, 2012. [ Links ]
SANTOMASSIMO. La terza via fascista: il mito del corporativismo. Roma: Carocci, 2006. [ Links ]
SCHMITTER, Philippe. Still the Century of Corporatism? The Review of Politics (Cambridge), n. XXXVI, v. 1, 1974. [ Links ]
STOLZI, Irene. L’ordine corporativo: poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista. Milão: Giuffré, 2007. [ Links ]
Cláudia Maria Ribeiro Viscardi – Universidade Federal de Juiz de Fora- Juiz de Fora (MG) – Brasil. E-mail: [email protected]
http: / / orcid.org / 0000-0002-0277-4478
Annarita Gori – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa – Lisboa- Portugal. E-mail: [email protected]
http: / / orcid.org / 0000-0002-8703-8700
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro; GORI, Annarita. Apresentação. Tempo. Niterói, v.25, n.1, jan. / abr., 2019. Acessar publicação original [DR]
Práticas autorais para uma escola do século XXI | Revista Práticas de Linguagem | 2019
O volume “Práticas autorais para uma escola do século XXI” tem como objetivo divulgar relatos de experiências com práticas pedagógicas advindas do exercício docente de alunos egressos do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Resultado do I Encontro de Egressos do PROFLETRAS/UFJF, os relatos apontam para o reconhecimento das ações formativas desse programa de pós-graduação stricto sensu em Letras, o qual se configura como um espaço de formação continuada para professores de língua portuguesa do Ensino Fundamental, alicerçado na valorização dos saberes docentes, na troca de experiências, na fundamentação teórica das práticas desenvolvidas e no constante exercício de reflexão sobre a própria prática. Leia Mais
O papel dos colégios de aplicação na formação docente | Revista Práticas de Linguagem | 2019
O ensino, a pesquisa e a extensão formam a natureza tríplice dos 17 Colégios de Aplicação existentes no Brasil. O presente volume, intitulado “O papel dos colégios de aplicação na formação docente”, convida o leitor a conhecer um pouco dessa vocação, por meio dos artigos e relatos de experiência que compõem este volume e que revelam a diversidade e a riqueza do trabalho dos docentes que atuam nos Caps.; da entrevista que coloca em foco o Programa Residência Docente da Universidade Federal de Juiz de Fora e da seção Fale para o Professor, que evidencia a importância dos estágios supervisionados no cotidiano dos Caps.
Os dois artigos científicos que compõem este número da Revista Práticas de Linguagem contribuem para o questionamento do papel da escola na construção de uma educação crítica e democrática, quer problematizando seu protagonismo na formação leitora, em disputa com outras influências, quer discutindo os discursos que a atravessam, a partir das perspectivas de gênero e corpo, apontando para a necessidade de mudanças de perspectivas em relação aos temas e para a criação de espaços e estratégias diferenciados de aprendizado. Leia Mais
As cidades entre a memória, o imaginário e o patrimônio | Revista Latino-Americana de História | 2019
Ítalo Calvino (1990), em sua obra “As cidades invisíveis”, demonstra, a partir da literatura, como as cidades relacionam-se com variadas dimensões da experiência humana – a memória, o desejo, os símbolos, as trocas, os sonhos… todas essas representações podem descrevê-las, ou desvendar as múltiplas faces de uma mesma cidade. Cada urbe descrita revela uma vivência possível dentro de um universo de possibilidades que as mais diferentes e variadas cidades oferecem aos seus moradores.
Ao propor um dossiê envolvendo cidade, memória, imaginário e patrimônio, uma vasta gama de possibilidades foi aberta aos pesquisadores. Alternando temas, fontes, problemas, metodologias e abordagens, diversos artigos foram submetidos a Revista Latino-Americana de História. No entanto, todas as pesquisas apresentam a cidade como foco de análise e objeto de reflexão por parte dos autores. Leia Mais
História do Esporte e Comunicação: para além da imprensa e da mídia como fontes | Recorde | 2019
É com imensa satisfação que apresentamos uma seleção de trabalhos envolvidos com temáticas relacionadas à História do Esporte e da Comunicação. A proposta de organizarmos o presente dossiê surgiu de nosso envolvimento em ambas as disciplinas e da percepção de que existem imensas lacunas e possibilidades na intersecção entre elas. Não obstante, a adesão de pesquisadores nos surpreendeu, tanto pela quantidade de submissões, quanto pelo atendimento a algumas das sugestões e provocações que fizemos na chamada de trabalhos.[3] Neste sentido, foi possível organizar um dossiê com temas diversificados, fato que reforça nossa perspectiva de que existe uma via em construção nos estudos do esporte para pesquisadores de diferentes áreas que dialogam com a História do Esporte e a Comunicação.
Isto posto, convidamos os leitores a apreciarem os artigos. Primeiramente, destacamos três trabalhos que abordam o evento Jogos Olímpicos e dois sobre os Jogos Paralímpicos. Elcio Cornelsen e Izidoro Blikstein escreveram “A utilização da mídia em estratégias de marketing político no contexto da Olímpiada de Berlin” buscando identificar a construção da imagem que a imprensa alemã estabelece no momento da realização do evento utilizando um arcabouço conceitual das áreas de Marketing Político, Mídia e Análise do Discurso. Intitulado “Olimpíadas Rio 2016: A (In) Sustentabilidade do nosso Legado”, o trabalho de Roberta Ferreira Brondani e José Carlos Marques apresenta uma crítica ao suposto legado olímpico a partir de uma comparação entre o que apresenta a página “Rio 2016” no Portal do Comitê Olímpico Internacional e o conteúdo de reportagem exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, dois anos após os jogos. O artigo “Os Jogos Olímpicos jamais foram modernos: um ensaio da antropologia simétrica ao longo da história olímpica”, de Carlos Roberto Gaspar Teixeira e Roberto Tietzmann, se utiliza da perspectiva teórica da antropologia simétrica para problematizar a questão da presença dos “não-humanos” nos Jogos Olímpicos, bem como questionar o caráter moderno desses eventos utilizando como referência conceitual a proposta de Bruno Latour em sua obra Jamais fomos modernos (1994).
No que concerne as Paralimpíadas, o artigo de Tatiane Hilgemberg apresenta o desenvolvimento histórico do evento paralímpico em diálogo com as transformações ocorridas nos jogos, no próprio esporte e nas representações da ideia de deficiência. A autora estabelece também um paralelo com estudos críticos da deficiência e apresenta dados de sua pesquisa sobre a cobertura das Paralimpíadas pelo diário O Globo. Em “Paralimpíadas Escolares (2006-2018): evidências em mídias digitais acerca do evento esportivo”, Giandra Anceski Bataglion e Janice Zarpellon Mazo abordam o tema a partir de uma perspectiva local, descrevendo detalhadamente as composições históricas para a organização das Paralímpiadas Escolares no Brasil e buscando identificar agentes importantes, bem como sua repercussão em mídias digitais.
Dois trabalhos que relacionam a Economia com temáticas histórico-comunicacionais não apenas trazem discussões importantes, mas apontam promissoras e pouco exploradas sendas de investigação. Anderson David Gomes dos Santos apresenta uma pesquisa sobre os direitos de transmissão em eventos esportivos no Brasil articulando o tema com um estudo sobre a legislação desportiva no país. Trata-se de uma abordagem inovadora no âmbito da discussão de políticas públicas e econômicas sobre esporte que faz parte de um trabalho comparativo mais amplo com outros países latino-americanos (Argentina e México).
O trabalho coletivo capitaneado por Ana Carolina Vimieiro parte de uma perspectiva histórica da economia política do futebol para analisar criticamente as transformações, contradições e conflitos na mais recente “onda” do processo de mercantilização do futebol no país. Para tanto, as autoras utilizam conceitos como neoliberalização, comodificação e hibridação e uma análise empírica de tradicionais aspectos da organização estrutural e das relações de poder na conformação do futebol brasileiro no século XXI.
Quatro trabalhos se voltam para países latino-americanos, utilizando diferentes fontes para debater aspectos relativos aos próprios países ou à relação com outras nações.
Andrés Morales apresenta aspectos de sua atual pesquisa de doutorado sobre a representação simbólica da final de 1950 no imaginário coletivo dos uruguaios. Trabalhando com o conceito de hibridação de Néstor Canclini para analisar o discurso em diversas fontes da imprensa do país, o autor aponta também a importância do rádio e os vínculos politicos presentes nos diferentes meios de comunicação. Uma reflexão sobre a hipótese de “Maracanização” da sociedade uruguaia e sua influência no próprio futebol do país complementam o artigo, que aponta novos caminhos de investigação sobre um tema paradigmático nos estudos que relacionam Copas do Mundo e identidade nacional tanto no Brasil quanto no Uruguai.
O artigo de Gastón Laborido apresenta uma contextualização histórica dos fatores que possibilitaram a introdução do futebol na cidade de Montevidéu e a entrada desse esporte nos veículos da imprensa no início do século XX. A hipótese de um processo de “criolização” do futebol uruguaio, que teria surgido a partir da formação de um estilo de jogo híbrido, marcado pela presença de imigrantes que se contrapunham à forma britânica de praticá-lo, é reforçada e analisada nos discursos dos periódicos citados.
A partir de uma perspectiva da Nova História Política, o artigo de Alvaro do Cabo aborda questões sobre a Copa do Mundo de futebol realizada na Espanha em 1982. A primeira parte do trabalho é uma contextualização da conjuntura histórica que possibilitou a realização do torneio no país europeu: a transição democrática após a longa ditadura franquista. O segundo item utiliza os periódicos argentinos Clarín e El Gráfico para analisar as expectativas em torno da participação da seleção argentina, então campeã do mundo, na Copa de 1982, em meio a um contexto político marcado pelo conflito bélico com a Inglaterra, conhecido como Guerra das Malvinas.
Leda Soares e Carlos Guilherme Vogel analisam a série de ficção Club de Cuervos, uma produção latino-americana ambientada no México. Além de uma interessante contextualização da propagação do espaço midiático ocupado pelos seriados televisivos nas últimas décadas, com uma nova dinâmica estética e moral a partir do aumento das televisões fechadas e os canais a cabo, os autores observam uma questões de gênero, preconceito e homofobia no enredo da série. Tendo como tema central o futebol, a série possibilita a discussão de representações sociais em um ambiente latino-americano masculinizado.
Os dois trabalhos que complementam este seleto dossiê versam sobre o futebol e os estudos das crônicas da imprensa. A pesquisa de Nei Jorge dos Santos Junior ressignifica a perspectiva crítica do cronista Lima Barreto sobre a prática do futebol no início do século XX. O olhar a partir de diversas fontes impressas demonstra que a crítica ao esporte se insere em um contexto de defesa e tensionamento mais amplo que enxerga o futebol como uma prática até então elitista e excludente inserida em um discurso preconceituoso sobre as classes menos favorecidas e o “ethos” suburbano. Antes de ser um inimigo do futebol, o literato suburbano seria um crítico das representações geradas pelo futebol amador e os ”sportsman”.
O trabalho de André Couto sobre os cronistas do Jornal dos Sports conjuga uma análise temática que problematiza as principais características do jornal no período estudado, destacando o direcionamento para questões clubísticas e denuncistas e desenvolvendo uma espécie de taxonomia sobre as especificidades dos articuladores. Trata-se de um modelo que pode servir aos estudos que relacionam cronistas esportivos e imprensa em função da tipologia proposta.
O dossiê se completa com uma entrevista realizada por Silvana Goellner com a jornalista Isabelly Morais, que marcou as transmissões sobre Copas do Mundo na televisão brasileira ao narrar a estreia da seleção brasileira no torneio realizado na Rússia em 2018. A conversa explora a trajetória profissional da narradora, desde o período em que cursou Comunicação Social/Jornalismo o trabalho como narradora de futebol no rádio e na televisão.
Agradecemos aos autores que submeteram trabalhos e ao precioso trabalho de avaliação realizado pelos pareceristas. Boa leitura!
Notas
3. A chamada encontra-se em https://historiadoesporte.wordpress.com/2018/09/14/revista-recorde-chamadapara-dossie-historia-do-esporte-e-comunicacao-para-alem-da-imprensa-e-da-midiacomo-fontes/ .
Rafael Fortes – Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Comunicação. E-mail: [email protected]
Álvaro do Cabo – Professor da Universidade Cândido Mendes. Doutor em História. E-mail: [email protected]
FORTES, Rafael; CABO, Álvaro do. Apresentação. Recorde, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, jan. / jun., 2019. Acessar publicação original [DR].
Piyo Rattansi / Circumscribere / 2019
THOMAZ, Luciana Costa Lima. Editorial. Circumscribere, São Paulo, v.23, 2019. Acessar publicação original [DR] Observação: o editorial é em vídeo.
Thinking through the body: Archaeologies of corporeality – HAMILAKIS (CA)
HAMILAKIS, Yannis; PLUCIENNIK, Mark; TARLOW, Sarah. Thinking through the body: Archaeologies of corporeality. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2002, 262 p. Resenha de: SILVA, Sergio Francisco Serafim Monteiro da. Clio Arqueológica, Recife, v.34, n1, p.194-201, 2019.
Conforme os editores, o livro está baseado na oficina Thinking through the Body, ministrada na Universidade de Wales, Lampeter, em junho de 1998. Com o mesmo nome da oficina, este volume apresenta o potencial de novas contribuições interdisciplinares para o estudo do corpo e da corporeidade, ilustradas pelos estudos teóricos e filosóficos reunidos nas “arqueologias do corpo”, similarmente ao que ocorreu com a antropologia e a história nos seus vieses de “antropologia do corpo” e “história do corpo”, que dispensam apresentações neste espaço de resenha. Pensar através do corpo pode ser similar ao pensar através dos objetos de cultura material, dentro da produção do conhecimento arqueológico.
O livro trata do “corpo”, considerado aqui como um tópico ou tema que tem dispendido debates e discussões nas humanidades e nas ciências sociais, contando com a influência de expressivos teóricos, como Bourdieu, Merleau-Ponty, Foucault, Douglas e Butler, entre outros. Os capítulos apresentam diferentes (mas relacionáveis) abordagens sobre o corpo, como por exemplo, o significado cultural do corpo humano, como um símbolo, artefato, meio ou uma metáfora.
Este volume apresenta três seções. A primeira seção, Bodies, subjects and selves, apresenta exemplos voltados ao significado do corpo e sua relação com o [eu], o self, sujeito ou, mais especificamente, com o indivíduo – já que estas são ideias relacionadas ao conceito de pessoa. O corpo, como proposto por Sarah Tarlow em Bodies, selves and individuals, pode ser compreendido de variadas formas. No caso dos corpos dos mortos, estes providenciam aos arqueólogos uma aparente fundamentação para interpretar as sociedades antigas.
O tratamento dado ao corpo do morto por sociedades do passado pode ter sido análogo ao tratamento dispensado ao mesmo em vida, representando um ‘status terminal fossilizado’ de um indivíduo. O tratamento do cadáver contém elementos relacionados ao status, saúde ou religião do morto, sobre identidade e enculturação do corpo. De várias maneiras, nesta seção, busca-se desfamiliarizar e problematizar o corpo quanto a sua constituição, seus limites e suas capacidades.
Uma dessas problematizações pode ser encontradas no texto de Foucault, ‘Neitzsche, genealogy, history’, de 1971, p. 153: nada no homem, nem mesmo o seu próprio corpo, é suficientemente estável para servir como base para o autoreconhecimento ou para compreender outro homem. O passado e os corpos do passado, estudados pelos arqueólogos, diferem das ideias modernas que temos sobre os corpos.
Torna-se um desafio aos arqueólogos pensar que a decomposição do corpo possa ter sido mais perturbadora em alguns contextos históricos que em outros.
Provenientes de tempos muito antigos, os corpos não aparentam ser mais pessoas, de algum modo, familiares a nós. O corpo humano, dentro da arqueologia, o ser humano, tem sido sinônimo de ‘pessoa’, ‘indivíduo’, ‘sujeito’ e ‘self’, termos utilizados de forma intercambiável. Mas estes termos podem ser discutidos de forma adequada na arqueologia, em consonância mínima com os pressupostos do antropólogo e sociólogo francês Marcel Mauss e da antropóloga britânica Jean Sybil La Fontaine sobre as noções de pessoa e self e de pessoa e indivíduo.
Nesta primeira seção, as arqueologias interpretativas, pós-processuais, são entendidas como incapazes de se livrar do legado do humanismo, sob o argumento de que isso é violentar a humanidade e as pessoas do passado e do presente. Nesse aspecto, Julian Thomas trata das arqueologias humanistas – pós-processuais, do anti-humanismo e os corpos neolíticos. As partes corporais, segundo Chris Fowler, funcionam como indicadoras de personalidade e de materialidade, simultaneamente, durante o neolítico de Manx. As vestimentas são tratadas como detentoras de moralidades e as usadas pelos mortos na Europa medieval são objeto de estudo de Jos Bazelmans. Ainda, a estética corporal durante o século XIX na Grã-Bretanha é estudada por Sarah Tarlow.
O alarido em torno do corpo nas várias disciplinas do conhecimento refere-se à ideia moderna de corpo como projeto dentro dos estudos sociológicos – o corpo instrumentalizado; do desenvolvimento significativos na filosofia, humanidades e ciência sociais da crítica feminista e dos estudos de gênero – a historicização do corpo, o corpo sexual; do interesse pelo corpo dentro da significância dos aspectos experimentais do passado humano, como a alimentação observada como forma de subsistência dentro de um dado contexto ecológico, como a significância social e política do consumo de alimentos.
Na arqueologia, o estudo do corpo humano se dá mediante a) a antropologia física – situada dentro do guarda-chuva paradigmático da atual bioarqueologia – voltada desde o séc. XIX ao estudo da evolução humana, das categorizações dos “tipos raciais humanos”, aspectos demográficos, de “saúde”, modificações corporais ao longo da pré-história e os estudos em paleopatologia, incluindo traumas, violência e desnutrição; b) representações das formas visuais humanas: nesse sentido, o primeiro texto, mais simples, sobre o corpo humano na arqueologia deriva de uma conferência sobre gênero e arqueologia – Reading the body: Representations and Remians in the Archaeological Record, de Rautman (2000) – , com influência do feminismo e das representações e remanescentes de corpos humanos; c) a fenomenologia aplicada ao estudo do corpo – a arqueologia fenomenológica, arqueologia dos sentidos – com os estudos de experiências rituais em paisagens monumentais a partir de dispositivos corporais sensoriais e do estudo de aspectos integrativos da experiência humana, como a emoção, memória, identidade e experiências corporais particulares como beber, comer, dar a luz, fazer sexo, praticar violência e a guerra.
A segunda parte trata da experiência e corporeidade. O gesto é estudado na arqueologia como um meio de compreender o sentir através do corpo e isso é apresentado por Christine Morris e Alan Peatfield nos estudos sobre a Idade do Bronze em Creta. Ainda a arqueologia dos sentidos relaciona o passado com a história oral no estudo de Yannis Hamilakis. Os modos de comer e de ser no epipaleolítico de Natufian foram discutidos por Brian Boyd. Um estudo de John Robb sobre o tempo e a biografia traz em discussão a osteobiografia da vida útil – vida cotidiana – dos italianos neolíticos.
Na última seção do volume, os corpos são discutidos na e como cultura material. Objetos de cultura material em folhas de ouro da Idade do Ouro na Escandinávia, associados a um gênero específico, podem ser questionados, conforme Ing-Marie Danielsson. A cova de Oseberg, em Vestfold, um dos mais conhecidos casos da Escandinávia, cuja escavação resultou na recuperação de esqueletos femininos, posteriormente reinumados, foi apresentado e discutido por Elisabeth Arwill- Nordbladh. Mark Pluciennik relaciona arte, artefato e metáfora na análise de registros rupestres da Grotta Addaura II (10.000 a 12.000 anos atrás) e cenas da Grotta dela Cala dei Genovesi, em Levanzo. Trata de estética e representação de corpos humanos e não humanos e artefatos no epipaleolítico e neolítico do sul da Itália. Em Marking the body, marking the land, Paul Rainbird estuda similaridades e continuidades temporais nas tatuagens, pinturas nas cerâmicas e gravuras rupestres na Oceania, Pacífico.
Seus modos de interação entre as comunidades insulares incluíam as tatuagens corporais e tatuagens nas rochas e nos artefatos. As futuras agendas sobre o corpo incluem a ideia da sua incorporação à arqueologia, pela historicização do corpo: este passou por mudanças e reconfigurações ao longo da história humana, incluindo a formulação de certos códigos e normas de comportamentos e performances corporais, nos espaços públicos e privados, certos hábitos de alimentação, as várias genealogias da formação do corpo e sua instrumentalização.
As fenomenologias do corpo na arqueologia são desenvolvidas pelas noções de Heidegger de habitação e de ser no mundo, da Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty ou o desenvolvimento no âmbito da geografia: incluem-se, também as categorias culturalmente influenciadas ou determinadas pelos espaços perceptivo, existencial, arquitetônico e cognitivo dos seres humanos. O biopoder e as biopolíticas do corpo, cujos conceitos são provenientes de Foucault, são importantes para o desenvolvimento das arqueologias da corporeidade. Práticas e processos concretos e materiais atuam sobre o corpo humano: práticas biopolíticas, tecnologias e instituições instrumentalizam os movimentos, a forma de alimentação e a visão dos seres humanos, por meio de gastropolíticas, por exemplo. Também, o corpo fisiológico, como simbolismo e metáfora, pode ser usado para compreender as várias características do mundo natural e cultural: os corpos compreendidos como ‘cultura material’. Os corpos de pessoas vivas podem ser mercantilizados e objetivados em trabalho, materiais, arte, prazer sexual.
Corpos inteiros ou suas partes podem ser mais artefatos do que indivíduos, podem ser fetichizados, como os corpos preservados nos museus, relíquias de santos. Produtos corporais e suas partes podem ser segregados, tabu, usados em magias, trocados, consumidos ou empregados em tratamentos de beleza.
As ‘deformações’ corporais incluem aqui a deformação do crânio e dos pés, avulsões, tatuagens, escarificações: corpos como veículos de identidade e expressão. Os remanescentes humanos, conforme as crenças religiosas, podem ser extensivamente tratados e manipulados post-mortem. Nesse sentido, os corpos e os outros aspectos da personae podem sofrer mudanças nas suas biografias quanto ao poder e suas referências simbólicas. As figuras femininas paleolíticas e os registros rupestres são exemplos de como os corpos humanos ─ suas representações ─ tem sido claramente importantes referências em vários períodos e em várias sociedades.
Existiriam numerosas formas pelas quais os arqueólogos poderiam pensar sobre o passado através do corpo. Essas formas estão representadas pelas novas oportunidades de integração por meio de recentes desenvolvimentos teóricos sobre a corporalidade e a sua importância para as interpretações sobre o passado e os modos de vida. Sobre esse aspecto, o livro editado por Robert Schmidt e Barbara Voss, Archaeologies of Sexuality, em 2000, estabelece relação profícua com Thinking through the Body. Indica parâmetros que direcionam os estudos sobre sexo e sexualidade – e sua linguagem e conceitos – na produção do conhecimento arqueológico vinculado à solução de problemas científicos voltados ao corpo, em primeiro lugar.
Sergio Francisco Serafim Monteiro da Silva – Departamento de Arqueologia, UFPE. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Assim caminhou a humanidade – NEVES et al (CA)
NEVES, Walter Alves; RANGEL JUNIOR, Miguel José; MURRIETA, Rui Sergio (Orgs.). Assim caminhou a humanidade. São Paulo: Palas Athena, 2015, 318 p. Resenha de: SILVA, Sergio Francisco Serafim Monteira da. Clio Arqueológica, Recife, v.34, n3, p.171-193, 2019.
Conforme os organizadores de Assim Caminhou a Humanidade, o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo seria o único no Brasil, em 2015, capaz de sanar a carência de publicações em português mais atualizadas sobre o tema da evolução humana. O ensino da Biologia, Antropologia, Arqueologia no nível da graduação e a divulgação científica ao grande público, seriam o foco desta publicação. A partir de um curso de pós-graduação e da disponibilidade de réplicas de hominínios da coleção Thomas Van der Lann, foi proposto o plano deste livro, onde os alunos também protagonizaram seus subtemas.
Entre algumas das publicações internacionais inacessíveis a esse ‘grande público’ brasileiro estariam, por exemplo, o The Human Lineage, de Cartmill e Smith; o The Human Career, de Richard Klein; o Handbook of Human Symbolic Evolution, de Lock e Peters; Human Evolution, Trails from the Past, de Cela- Conde e Ayala; The Human Evolution Source Book, de Ciochon e Fleagle; ou o Handbook of Paleoanthropology, em três volumes, editados por Winfried Henke e Ian Tattersall, por exemplo2. Outras, assemelhadas ao Assim caminhou a humanidade, em português, estão o Como nos tornámos humanos, de Eugénia Cunha e duas traduções, Evolução Humana, de Roger Lewin e O despertar da cultura: a polêmica teoria sobre a origem da criatividade humana, de Richard G.Klein e Blake Edgar3. Este último apresenta alguns rudimentos do The Human Career.
Sobre o mesmo tema, de uso para o ensino e a aprendizagem nas universidades e escolas nos EUA, está o Our Origins (Discovering Physical Anthropology), de Clark Spencer Larsen, do Departamento de Antropologia, da The Ohio State University e as três primeiras partes do Anthropology, de Willian A. Haviland, da University of Vermont. Também, de uso em sala de aula, destaca-se o livro Exploring Physical Anthropology, capítulos 1, 10 a 14, de Suzanne Walker- Pacheco, da Missouri State University4. Esta autora também utiliza réplicas de hominínios fósseis para ilustrar seu texto e as atividades propostas para os alunos. Nas livrarias menos acessíveis ao ‘grande público’, também disponibilizaram no Brasil, a custos módicos, o Evolution, the human story, livro ricamente ilustrado, de autoria de Alice Roberts5.
Retornando ao nosso livro em português sobre evolução humana, Assim caminhou a humanidade, vamos localizar algumas autodescrições, feitas na apresentação e na introdução. Reinaldo José Lopes, repórter e colunista da Folha de S. Paulo, acrescenta que este livro perfaz, provavelmente, o relato mais completo em língua portuguesa sobre o conhecimento que temos dos nossos parentes, também primatas e da nossa própria história como espécie. O livro trata da gênese dos primatas (incluindo aqui, a do homem anatomicamente moderno) e de forma sucinta e clara, foca nos métodos e formulações de hipóteses que caracterizam toda forma de ‘boa ciência’. Os ‘decentemente alfabetizados’ poderão ler e entender este livro. O passado remoto, para ser reconstruído, gera perguntas à ciência, que nem sempre são trivialmente respondidas, como a questão de como nos tornamos bípedes ou o que teria ocasionado a extinção dos neandertais. Reinaldo agradece os organizadores pelo lançamento do livro, com crítica a uma demora pelo seu lançamento e considera a importância do livro para o desenvolvimento e fundamentação mais adequados dos textos jornalísticos sobre evolução humana.
Na Introdução, os organizadores adiantam que o livro é uma forma de divulgar em linguagem acessível, aquilo que há demais importante e atual sobre o estudo da evolução humana, área do conhecimento científico que progride rapidamente e na qual as informações podem se tornar ultrapassadas em questão de meses. Assim, no final de cada capítulo, propõem um tema para discussão em um quadro que denominaram ‘O que há de novo no front’, para minimizar a velocidade e o atraso que caracterizam o estudo da evolução humana. Talvez esse atraso possa ser minimizado pelo poder da ditadura Genômica (comparativa) e os avanços inquestionáveis da Bioinformática (e possivelmente da Proteômica) aplicada à própria Genômica. Observar a morfologia (plausível no contexto da arqueologia, paleoantropologia, em fósseis e fragmentos de ossos e dentes) ou observar o genoma inteiro (plausíveis no contexto da genética médica, em contextos clínicos ou hígidos): compreender o todo da evolução.
Assim, os livros citados nos primeiros parágrafos desta resenha já estariam, de certo modo, ‘atrasados’ em relação ao desenvolvimento líquido da evolução humana (teoria evolutiva moderna). Esse ato retroativo, o voltar ao passado e compreender o avanço do presente e o futuro é absolutamente líquido. As novidades estariam – pois já não estão mais, obviamente – nos artigos científicos publicados entre 2013 e 2014 na área da evolução humana. A atualização é uma prerrogativa do livro e uma forma de presumivelmente mantê-la está na previsibilidade de novas hipóteses a serem verificadas no futuro. Nessa linha, os conceitos sobre espécie, especiação e gênero não são imutáveis e estão sempre em processo de construção. Desse modo, o livro está segmentado em sete capítulos relacionáveis ou sinergeticamente vinculados, sempre contendo um campo para temas novos e sugestões para leitura.
O primeiro capítulo, Nós primatas, apresenta as características físicas gerais dos primatas, sua classificação (anatômica e molecular) e diversidade; o campo especial do estudo da primatologia; o comportamento social dos primatas em sociedades complexas, variáveis e estáveis (sociobiologia dos primatas); a competição e a cooperação entre os primatas, em especial em relação as hierarquias de sexo; elementos de uma ‘cultura’ primata associados à vocalização e uso de ferramentas; os riscos de extinção dos primatas e formas de preservação de suas populações no nível global. O ‘nós’ inclui, obviamente, o Homo sapiens.
A história evolutiva dos primatas é desenvolvida no segundo capítulo. Os aspectos biológicos estão amalgamados aos estratos, à geomorfologia, ao tempo e à mudança. É traçado um panorama do cenário para a origem dos primatas, com registros paleontológicos de cerca de 56 milhões de anos atrás, no Eoceno. Neste capítulo, um texto selecionado trata da cladística para a classificação dos seres vivos e outro sobre anatomia do esqueleto. Na sequência, são discutidas a deriva continental e as mudanças climáticas; a causa do aparecimento dos primatas; os primatas ‘arcaicos’; os euprimatas do Eoceno; o surgimento dos primeiros antropoides; a origem e diversidade das famílias dos antropoides na África, Europa e América; as questões ambientais relacionadas a evolução dos antropoides; questões sobre a origem dos proconsulídeos (o conhecido Proconsul africanus, por exemplo); os hominoides (o Dryopithecus e o Sivapithecus), a origem dos mais antigos tarsiiformes e os paleoambientes dos primeiros dos primeiros hominoides.
Uma descrição sintética das principais pesquisas e descobertas dos fósseis de australopitecíneos, pré-australopitecíneos e os primeiros Homo desenvolve-se em Primeiros Bípedes, o terceiro capítulo. O surgimento da nodopedalia e da bipedia como características dos hominínios; o aparato mastigatório dos hominínios; a diversidade dos pré-australopitecíneos. Neste capítulo são apresentadas as características de três gêneros de pré-australopitecíneos que viveram entre 7 e 4,4 milhões de anos atrás (Sahelanthropous, Orrorin e Ardipithecus). Um texto incluso apresenta as técnicas de datação dos registros fósseis. O capítulo segue apresentando as origens, diversificação e morfologia dos australopitecíneos, incluindo os australopitecíneos gráceis entre 4,5 e 1,78 milhão de anos atrás (Australopithecus anamensis, A. afarensis, A. africanus, A. garhi, Kenyanthropus platyops e A. sediba) e australopitecíneos robustos, entre 2,7 e 1 milhão de anos atrás (Paranthropus aethiopicus, P. boisei e P. robustus). Quanto a diversidade dos primeiros primatas bípedes, consideram-se 4 espécies de préaustralopitecíneos e 10 de australopitecíneos, aí incluindo o A. bahrelghazali e a coabitação entre eles durante o Mioceno, Plioceno e Pleistoceno, entre 7 e 1 milhão de anos atrás. Hipóteses menos controversas indicam a relação de especiação entre A. afarensis, A. africanus, A. sediba e Homo sp. São apresentadas questões sobre o Orrorin e a sua relação ancestral com humanos e chimpanzés, a evolução da dieta dos australopitecíneos e a bipedia diversificada entre os autralopitecíneos a partir de análise de ossos dos membros inferiores de um A. sediba.
No capítulo IV é introduzida a questão da origem e dispersão do gênero Homo. A nomeação do ‘homem habilidoso’, o Homo habilis é dada por Louis Leakey aos registros fósseis anatomicamente semelhantes aos australopitecíneos e associados a artefatos líticos encontrados em Olduvai, na África, sendo este continente considerado o centro de dispersão do gênero Homo. O H. habilis estaria situado em cerca de 2,4 a 1,4 milhão de anos e produziu artefatos líticos associados a indústria lítica Olduvaiense, representados por talhadores do tipo ‘choppers’ e lascas simples. Entre eles destacam-se no capítulo o fóssil KMN-ER 1813 (H.habilis) e o KMN-ER 1470 (H. rudolfensis ou Kenyanthropus rudolfensis). Sobre o Homo erectus, foi citado o fóssil KMN-ER 3733, de 1,8 milhão de anos, encontrado no Lago Turkana, Quênia, África e o D2700 (variação de H. erectus ou de H. habilis), encontrado a 1,8 milhão de anos em Dmanisi, na República da Geórgia, no Cáucaso fora da África. A questão do H. habilis ou formas transicionais ou erectíneas fora da África, com cérebros menores e industrias líticas reduzidas é consolidada.
No mesmo capítulo, o Homo erectus aparece no registro fóssil na África há 1,6 milhão de anos e se expande até a Indonésia por volta de 27 a 70 mil anos. O fóssil LB1, crânio de Homo floresiensis, espécie com nanismo insular, teria habitado a Ilha de Flores entre 74 e 17 mil anos. Sua indústria lítica moderna contrasta com a pequena capacidade craniana de 385 a 417cm3. Este constituiria mais uma variação do Homo, para além do H. habilis e do H. erectus (ou uma de suas variações). Na China o H. erectus foi datado em 700 mil anos. Possuía estatura inferior a 1,60m. Na Europa, o H. erectus aparece entre 1,2 milhão de anos (Atapuerca, Espanha) a 450 mil anos (Ceprano, Itália).
O capítulo possui uma seção destinada à descrição da morfologia do H. erectus (incluindo o caso do ‘garoto de Turkana’, o WT-15000, COM 1,6 milhão de anos e com idade biológica estimada entre 8 e 12 anos e com estatura de 1,70m). Produziam artefatos Olduvaienses e Acheulenses (Modo 2, retocados dos dois lados). As marcas de cortes em ossos indicam descarnamento de carniças e de carcaças de animais também recém-abatidos pelo H. erectus. Entre 1,5 e 1 milhão de anos, o H. erectus utilizou o fogo. Neste capítulo é feita uma introdução ao estudo do Homo heidelbergensis , cujo holótipo teria sido encontrado nos depósitos fluviais do rio Neckar, a cerca de 10km a sudoeste de Heidelberg, na Alemanha, em 1907 e datado entre cerca de 569 a 609 mil anos. A este novo Homo, seguiram-se os de Petralona e Arago (Europa), Bodo, Ndutu, Kabwe e Elandsfontein (África) e Kocabas, Hathnora , Dali e Maba (Ásia), todos com definição de espécie um tanto complexa. Produziram artefatos líticos de indústrias Acheulenses e Musterienses e abrigos de rochas e galhos por volta de 380 mil anos. No quadro referente ao algo novo no front, os autores do capítulo apresentam evidência favorável a presença do H. erectus em Dmanisi; o H. erectus é associado ao surgimento da indústria lítica Acheulense e ao uso controlado do fogo entre 790 mil (Israel) e 1 milhão de anos atrás (África do Sul).
O capítulo V trata do tema Os Neandertais. Esta espécie de Homo teria se originado, juntamente com os denisovanos, há cerca de 500 mil anos a partir da população de Homo heidelbergensis que habitava a região da Eurásia. Na África, a população de H. heidelbergensis originou há 200 mil anos o Homo sapiens. Esta espécie de homem anatomicamente moderno dispersou-se pela região de Israel há 120 mil anos e para os demais continentes por volta de 50 mil anos. O H. neanderthalensis na Europa foi substituído pelo sapiens em um período de 10 mil anos aproximadamente. Essa dinâmica de extinções e especiação é descrita neste capítulo. O holótipo do H. neanderthalensis é a calota craniana do Neandertal 1, descoberta na caverna de Feldhofer, vale do rio Neander, Alemanha, em 1856. O artigo faz referência a produção de cerca de 250 artigos sobre o Homo piltdownensis (classificado assim por Arthur Keith), um fóssil criado por volta de 1908 (fragmentos de neurocrânio humano, mandíbula de Pongo e dentes de um Pan fóssil) e cuja fraude foi descoberta em 1953. A encefalização nesse caso teria ocorrido antes da mudança na dieta. A descoberta da fraude, do pseudofóssil, denota, segundo os autores, a autocorreção da ciência. Sobre os neandertais, ocuparam a Europa Ocidental, Oriente Médio, Rússia (Sibéria), sem, contudo, aparecerem no registro fóssil africano ou do sul da Ásia. Habitaram essas regiões entre as eras glacial e interglacial, no Pleistoceno Superior, entre 170 mil e 30 mil anos. Seus crânios são menos neotênicos que os do H. sapiens, com tórus supraorbitário característico, face projetada para a frente, abertura nasal ampla, capacidade craniana e volume craniano elevados, neurocrânio longo e baixo, dentes volumosos (taurodontia) e incisivos em forma de pá, occipital proeminente (occipital bun, ou coque occipital), ausência de queixo e espaço retromolar. Sua morfologia e volume corporal associava-se a adaptação a ambientes frios. Teriam deficiência no balanço corporal, denotada pelas características da cóclea no ouvido interno em corridas e ênfase no sistema visual, pelas dimensões orbitárias; antebraços e pernas mais curtos que os do H. sapiens; estaturas variando de 1,69m a 1,60m; tórax em forma de tonel; pelve larga. Essas características apontam adaptação a ambientes frios. Pesquisas com mtDNA de um H. neanderthalensis de 38 mil anos possibilitaram identificar um ancestral comum com o H. sapiens a cerca de 600 + 140 mil anos. Em pesquisas com DNA nuclear o gene FOXP2, relacionado à fala, está presente no neandertal e no sapiens. Em 2010, segundo pesquisadores do Instituto Max Planck, um novo sequenciamento de DNA de neandertal indicou compartilhamento de 99,84 por cento entre esta espécie e o H.sapiens. A origem do H. neanderthalensis estaria relacionada ao Homo antecessor, espécie derivada do Homo erectus na região mediterrânica. O capítulo salienta, para fins de síntese, considerar os H. neanderthalensis como uma variante do H. heidelbergensis na Europa e o H. sapiens uma variante do H. heidelbergensis na África. A árvore filogenética do gênero Homo torna-se complexa com a introdução dos denisovanos, geneticamente mais próximos do H.heidelbergensis.
Na árvore filogenética proposta no capítulo V indica que possivelmente em diferentes regiões da Eurásia, populações de H. sapiens, H. neanderthalensis, H.floresiensis, H. erectus, denisovanos teriam coexistido por um breve período de tempo, entre 20 mil e 30 mil anos, ou pouco mais. O capítulo trata da tecnologia lítica e domesticação do fogo entre as várias espécies. Estima que os neandertais, em relação ao comportamento, viviam em grupos pequenos, resultando em baixa diversidade genética. Vivendo em regiões de clima glacial, sua expectativa de vida não chegava aos 40 anos, possuíam deficiências nutricionais severas, traumas e injúrias constantes e que eram alvo de cuidados por longos períodos. Análises dos esqueletos e dentes dos neandertais indicaram que possuíam alto nível de atividade física e demandavam elevado consumo de calorias, com dieta onívora.
Deveriam organizar estratégias de subsistência (caça, pesca, coleta, cozimento dos alimentos, consumo, usos e processamento de plantas) e convivência complexas e cooperativas. O capítulo ilustra possibilidades para o desenvolvimento do pensamento simbólico entre os neandertais, pelo uso de pigmentos e conchas perfuradas. Entretanto, os autores do capítulo afirmam que existe dificuldade em aceitar a ideia de que os neandertais realizavam sepultamentos pela ‘ausência de artefatos claramente simbólicos’ no local da inumação. Trata-se de um problema, visto que a deposição mortuária de La Chapelle-aux-Saints possuía ossos de um mamífero em associação. Entretanto, a necessidade da presença de ‘artefatos claramente simbólicos’ para caracterizar deposições funerárias em qualquer população humana não é uma regra.
Ainda neste capítulo, de novo no front há a possibilidade de formas híbridas resultantes de intercruzamentos entre neandertais e sapiens; as expressões diferenciadas de mesmos genes em humanos modernos e neandertais; indicadores de possíveis intercruzamentos entre neandertais e H. sapiens arcaico.
No capítulo VI, Origem e dispersão dos humanos modernos, os autores retomam a história geral dos estudos da origem do ser humano e do pensamento simbólico e representações resultantes. Em formato linear e cronológico, o Histórico neste capítulo cita vários eventos relacionados ao estudo das origens do ser humano: antes do séc. XVIII, com viés religioso, com a criação das espécies por divindade sua explicação e repetição continuada por centenas de anos (e mesmo na história do presente): no séc. XIX, com a divulgação de ‘A Origem das Espécies’, de Charles Darwin, com a formulação da evolução das espécies e o mecanismo da seleção natural; o foco no registro fóssil, desde a primeira metade do séc. XIX, seguindo-se ao achado fortuito da calota do vale do rio Neander em 1856, holótipo do H. neanderthalensis; de remanescentes de H. sapiens (Cro-Magnon 1, 2 e 3) de Les Eyzies, na França, em 1868, de Chancelade, em 1880 e de Combe-Capelle, em 1909, na França; em toda a Europa o homem anatomicamente moderno estava presente por volta de 35 mil anos; em 1897 surge a caverna de Altamira, na Espanha e entre 1871 e 1901 as cavernas de Grimaldi, na Itália são escavadas; os sítios com artefatos líticos e em osso da República Checa, escavados entre 1881 e 1904; em Java foram localizados remanescentes de H.sapiens de 6 mil anos entre 1888 e 1890; em 1912, foram descobertas as cavernas de Les Trois Frères, em Ariège, com registros rupestres e artefatos líticos e em osso; surgem as importantes cavernas de Lascaux e Chauvet, na França, ambas com registros rupestres.
Este capítulo cita e associa o desenvolvimento do método arqueológico no início do século XX a Gordon Childe e Mortimer Wheeler e as novas direções técnicas nas pesquisas que se seguiram. A origem e dispersão do H. sapiens puderam ser estudadas a partir das descobertas de outros sítios que incluíram, entre outros, Singa, Sudão (1924); Skhul V, Israel (1932); Qafzeh 6, Israel (1933); Hofmeyer, na África do Sul (1952); Liujiang, China (1958); Omo I, Etiópia (1967); Kow Swamp, Austrália (1967); Laetoli, Tanzânia (1976); e Oase 2, na Romênia (2003).
São descritas as características anatômicas cranianas e ‘pós-cranianas’ do H.sapiens. A morfologia do nosso crânio e ‘pós-crânio’ pode ser caracterizada pela capacidade cefálica elevada (acima de 1300cc), neurocrânio alto, escama do occipital arredondada e sem tórus, dimorfismo sexual relativo, face ortognata ou mais retraída, presença de fossas caninas, presença de queixo, arco superciliar e bordas supraorbitárias substituem o tórus supraorbitário, ausência de espaço retromolar, antebraço e pernas mais longos (em relação aos neandertais), abertura nasal anterior mais estreita que nos neandertais, quadril e tronco mais estreitos (em relação aos neandertais e H. erectus), entre outras. Associados a essa análise morfológica comparada, os estudos moleculares têm sido mais intensivos e modificam paradigmas antigos a cada semana. As inferências genéticas caracterizam os fósseis de uma forma que as análises morfológicas diretas dos fósseis (mesmo a morfometria geométrica comparada e a análise epigenética) não possibilitariam alcançar: seus resultados são mais contundentes.
A reconstrução das relações entre populações pré-históricas cada vez mais prescinde das análises de mtDNA e do cromossomo Y, usados para reconstituir longas linhagens de descendência (feminina). Arvores que expressem relações evolutivas entre populações podem ser construídas considerando-se a similaridade observada entre variantes novas existentes entre as populações, fixadas pela deriva genética, ou a mudança aleatória da frequência gênica em populações de diferentes tamanhos. Nesse sentido, o mtDNA e o cromossomo Y (sua contraparte masculina), são adequados para verificar a extensão da relação entre ancestralidade e descendência entre populações humanas que compartilham um único ancestral (‘Eva mitocondrial’). Tanto o mtDNA, quanto o cromossomo Y, indicam que o ser humano teve origem na África e depois se dispersou (pelos haplogrupos M e N e os seus haplogrupos diversificados, A, B, C, D e X, presentes nos grupos humanos americanos). As técnicas de extração do DNA em ossos antigos consideram a abundância do mtDNA em relação ao DNA nuclear. É evidente que o controle ineficaz de agentes contaminantes por gerenciamentos laboratoriais deficientes prejudica e inviabiliza quaisquer análises biomoleculares.
Ainda, no penúltimo capítulo, as contribuições da arqueologia podem gerar explicações diferentes sobre um certo fenômeno evolutivo e de mudança comportamental. A origem do H. sapiens pode ser explicada mediante as hipóteses da origem multirregional ou trellis model (anos 1970); pela saída da África ou Out of África e pela hibridização. Esses modelos são explicados e consideradas as suas limitações e alcances explanatórios para a nossa origem.
Todos levam em consideração a origem africana do H. erectus, sua dispersão pelo Velho Mundo a partir de 1,8 milhão de anos. As variações nos modelos surgem em relação à forma de evolução da espécie humana moderna: no primeiro caso, do trellis model, os humanos evoluíram em um continuum a partir de um ancestral (H. erectus), ocupando os 4 continentes; no Out of África, os humanos originaram-se de populações africanas de H. heidelbergensis e foram substituindo as outras espécies de hominínios existentes; no terceiro modelo, os humanos originaram-se do H. heidelbergensis, na África, com expansão para os 4 continentes caracterizada por trocas gênicas com as outras espécies de hominínios existentes.
Sobre a antiguidade do H. sapiens, o capítulo cita os achados do sítio Omo, na Etiópia, com remanescentes de 200 mil anos; no sítio Herto, também na Etiópia, com 154 a 160 mil anos; nos sítios Qafzeh e Skhul, em Israel, com fósseis datados entre 130 mil e 90 mil anos, já em área de transição entre África, Ásia e Europa.
Assim, os humanos saíram da África pelo Oriente Médio, antes de chegar à Europa e Ásia. Outros registros fósseis indicam a presença na Europa de neandertais entre 150 mil e 30 mil anos e de H. sapiens após 40 mil anos. Na Romênia, República Checa e na França (Cro-Magnon), as datações para o H. sapiens alcançam 35 mil, 31 mil e 27 mil anos, respectivamente. Na China, em Zhoukoudien, Tianyuan e Liujiang, as datações indicam 30 mil, 40 mil e 68 mil anos para a presença do H. sapiens moderno. Na Indonésia, em Niah, foram datados entre 39 mil e 45 mil anos. Em Laetoli, Tanzânia, África, o crânio Ngaloba LH 18 foi datado em 120 mil anos. Um fóssil de H. sapiens encontrado em Singa, Sudão, apresentou idade entre 120 mil e 150 mil anos. Na perspectiva genética, com o emprego de métodos moleculares (análise de mtDNA, n DNA e cromossomo Y) o H. sapiens originou-se na África entre 220 mil e 120 mil anos. Então, o H. sapiens teria surgido a cerca de 200 mil anos, no nordeste da África.
As rotas de dispersão do H. sapiens perfazem um dos temas tratados neste capítulo. São sugeridas algumas das rotas de dispersão humana a partir da África, que levam em consideração a presença de registros fósseis humanos nos continentes e as suas relações, ‘movimentos migratórios’, ‘ondas migratórias’, ‘recolonizações’, ‘contatos’, ‘dispersões’, ‘hipóteses de colonização’. São consideradas as datações, morfologia comparada do registro fóssil e dados de modelos genéticos. O continente americano teria sido o último a ser ‘colonizado’ Entre 30 mil e 13 mil anos, o nível do mar possibilitava a passagem de hominínios entre o Alasca e a Sibéria e nesse caso, remanescentes da sua presença foram datados entre 15 mil e 13 mil anos.
Outro aspecto tratado no capítulo VI é a ‘explosão criativa do Paleolítico Superior’, caracterizado pela presença de vestígios representativos das formas de pensamentos simbólicos ou expressões simbólicas do pensamento, sob a forma de objetos de cultura material (e imaterial). Nesse subtema, a questão está na ‘evolução do comportamento simbólico’, uma ‘especificidade humana’ do H.sapiens. Essa ‘revolução’ teria ocorrido no Paleolítico Superior, por volta de 50 mil anos. Para os autores do capítulo, a palavra ‘cultura’ somente poderia ser empregada ‘em todo o seu potencial’ a partir de 50 mil anos. Existiria um ‘antes’ e um ‘depois’ de uma ‘explosão criativa’, que teria gerado inúmeros registros arqueológicos da sua ocorrência e que ‘evolui’ até os dias atuais. A identificação de uma mudança cognitiva há 50 mil anos caracteriza o modelo explicativo (especulativo) de Richard Klein, o modelo neuronal. Existiriam ‘genes’ ligados ao ‘desenvolvimento cerebral’ e a sua ‘evolução abrupta’ teria levado a essa ‘revolução cultural’. Esta perspectiva merece uma refinada revisão que não cabe nesta resenha. A palavra cultura (e não o conceito de cultura) é aclamado, sem aspas e sem restrições. Antes – de 50 mil anos – deve ser usada como ‘cultura’, com ‘restrições’.
Um dos pontos apresentados em defesa de uma ‘verdadeira cultura humana’ está na variabilidade ou substituição da matéria prima (lítica) escolhida para a construção dos artefatos; ferramentas cada vez ‘melhor trabalhadas’; substituição das lascas por lâminas; uso do fogo para queima controlada da argila, outra matéria prima da revolução cultural; construção de ferramentas compostas por mais de uma matéria prima; pontas ósseas elaboradas com propósitos específicos (abater, sangrar, agarrar, transpassar, amortecer); propulsores; uso de recursos marinhos para alimentação e adorno; construção de embarcações e instrumentos próprios para a pesca; uso de pigmentos e elaboração de tintas (a partir do momento no qual os neandertais podem ter feito uso de pigmentos, esta prática não está mais associada ao comportamento simbólico complexo do H. sapiens, exclusivamente); as formas de ‘arte’ expressas pelas representações antropomorfas tridimensionais e pelos registros rupestres de cenas diversificadas da vida cotidiana e dos outros animais e objetos. ‘Arte’ significa a demonstração de algum ‘grau de simbolismo’, com ‘complexidade significativamente maior’. As pinturas rupestres ‘bem acabadas’, esculturas que sugerem ‘xamanismo’ e as ‘pequenas esculturas simbolizando a figura feminina com traços de fertilidade exagerados’ (vênus de Brasseimpouy, de Willendorf I, de Lespugne), as figuras de animais esculpidas ou gravadas em osso e marfim (cabeça de cavalo de Mas de A’ zil, hiena de Madeleine-Dordogne e um mamute de Madeleine-Dordogne) e e os primeiros registros de ‘atividade religiosa’.
Os sepultamentos humanos são um componente social importante da revolução criativa pós 50 mil anos. Mesmo não sendo exclusivos desse período, somente nele é que passaram a ocorrer em grande número e aumentar sua incidência no registro arqueológico. Em Cro-Magnon ocorrem nos sepultamentos, conchas e dentes perfurados, com ocre abundante. Os sepultamentos foram denominados pelos autores de ‘sepultamentos ritualísticos’, numericamente expressivos no Paleolítico Superior. Outra característica da ‘revolução’ (ou ‘mutação’, no sentido genético) estaria no aumento da complexificação da organização social. Recursos ambientais escassos implicavam em grupos sociais pequenos, com menos de 30 pessoas. Recursos abundantes, grupos sociais expandidos a mais de 200 pessoas.
Instituem-se áreas específicas nos assentamentos para a elaboração de certos artefatos e práticas. O capítulo considera a ‘explosão cultural’ do Paleolítico Superior como ‘avassaladora’ em relação as suas evidências no registro arqueológico. Distinguem-se comportamento moderno de comportamento não-moderno, mediante a explicação do modelo neuronal de Klein. Entretanto, objeções à cronologia fixa dos 50 mil anos existem. Na África do Sul, os sítios de Blombos e de Pinnacle Point apresentaram conchas perfuradas, com ocre, artefatos em osso, uso controlado do fogo para a construção de objetos e caça especializada de moluscos entre 76 mil anos e 164 mil anos. Portanto, 50 mil seria pouco para a ‘explosão criativa’. Um modelo não-neural associa a origem da expressão simbólica ao surgimento gradativo e cumulativo dos comportamentos simbólicos no período de aproximadamente 150 mil anos. Para justificar essa hipótese, considerou-se a presença de oferendas e adornos em sepultamentos e uso de pigmentos encontrados em Qafzeh, Israel, com 100 mil anos, como sinônimos de comportamento simbólico complexo. A acumulação lenta de hábitos complexos pode estar relacionada a concentração de pessoas em grandes assentamentos e sua relação com outros assentamentos, propiciando o comportamento simbólico. O comportamento simbólico complexo depende, então, de uma condição demográfica favorável. Poderia existir sempre, dentro do H. sapiens, entretanto, nem sempre em condições de ser impulsionado. Funciona como uma hélice do DNA ou um cromossomo Y: seria biocultural, sociobiologicamente determinado.
Sim, a ‘evolução da capacidade cultural do ser humano é um dos temas mais intrigantes do estudo da história do H. sapiens’ e pode ser ‘datada’ com instrumentos da arqueologia, paleoantropologia, da genética e da linguística, dentro de um ‘arcabouço filogenético’. Pronto: 170 mil anos. Somente depois a quantidade de ‘cultura’ aumentaria.
Finalmente, no capítulo VII, o Neolítico: domesticação e origem da complexidade social, acredita-se que somente as novas descobertas arqueológicas e paleoantropológicas poderão ser capazes de alimentar o amplo e dinâmico debate sobre a evolução humana. Trata do homem ‘herói’, já morfologicamente moderno e capacitado culturalmente. Os modos diversos e as cronologias sobre a manipulação e domesticação de plantas, animais e a criação de novos materiais a partir do processamento da matéria prima pelo calor interessam. O manejo dos ciclos reprodutivos de plantas e animais deve satisfazer as necessidades do novo humano moderno. As privações anteriores a 170 mil ou a 50 mil anos são suplantadas pelo aparecimento da ‘complexidade social’. Entre as feições principais do Neolítico estão a domesticação de plantas e animais e o surgimento de vilas e cidades. A emergência da complexidade implica em desdobramentos sociopolíticos, culturais e ecológicos. A narrativa apresentada, segundo os autores deste capítulo, restringe-se a domesticação e a complexidade social.
Domesticação refere-se a mudanças genéticas e fenotípicas, ao manejo humano, a ação humana. Distinguem-se a não-domesticação, a pré-domesticação e a domesticação propriamente dita. Pode ser considerada como processo evolutivo, com contingências biológicas e ambientais seletivas que transformam uma população em um momento da sua história evolutiva. Assim iniciam-se os pressupostos ou aspectos elementares da domesticação neste capítulo. A complexidade social é tratada a partir da possibilidade de reuso condicional do discurso de Elman R. Service (a sequência bando-tribo-chefias-estados), de Gary M. Feinman, com a presença de elites gerenciadoras da sociedade, em estruturas hierárquicas estáveis que funcione como um nexo organizacional e estruturante do coletivo. Nesse sentido, sociedades caçadoras-coletoras, sem clãs, não seriam complexas, mas igualitárias, com tarefas generalistas, sem hierarquização social.
A complexificação (vertical e a horizontal) está associada a compartimentação, especialização, diferenciações funcionais, hierarquização dentro da estrutura social. O capítulo ainda trata da chamada “Revolução Neolítica” no âmbito do surgimento da agricultura, considerando e descrevendo as características de zonas específicas (Crescente Fértil, Egito, Bacias dos rios Yangtzé e Amarelo, Planalto na Nova Guiné, África Subsaariana, Amazônia, Norte da América do Sul, Mesoamérica e Leste dos Estados Unidos). Os debates apresentados no capítulo referem-se ao porque do aparecimento da Revolução Neolítica, relacionando-o a teoria da sociedade afluente original, do antropólogo Marshall D. Sahlins, da Uinversidade de Chicago.
Nos primórdios da agricultura, a caça e a coleta também deveriam coexistir, antes do processo de aumento crescente da produção de alimentos por muitas sociedades humanas. As primeiras domesticações teriam se originado em ambientes plenos em recursos da natureza e não em ambientes estressantes, bem mais tardios, representados pelo sedentarismo crescente, surgimento de epidemias nos períodos mais recentes, associadas ao convívio com os animais domesticados.
Os autores vislumbram, segundo o arqueólogo Brian D. Hayden, a possibilidade da projeção de informações etnográficas nos contextos pré-históricos para a compreensão das reuniões entre grupos humanos para a realização de banquetes (a partir de 50 mil anos), tocas, distribuições ou mesmo a destruição de alimentos e bens relacionados a posições de prestígio social. Alcançava-se prestígio entre os líderes locais e estímulo à produção e acúmulo de excedentes. Pelo menos, entre 10 mil e 2 mil anos, teria ocorrido um rompimento, justaposição ou sobreposição do modo de vida nômade dos caçadores-coletores ao das populações agricultoras.
A alta concentração demográfica associada a domesticação de plantas e animais passa a caracterizar a ‘complexidade social’ em várias regiões do planeta. Entre 9.500 anos e 5.000 anos, mudanças climáticas teriam favorecido a domesticação de plantas e de animais. Neste contexto estariam Jericó e ÇatalHoyuk. O livro é, minimamente, imprescindível nas escolas e universidades brasileiras.
Notas
2 CARTMILL, Matt; SMITH, Fred H. (Eds.) The Human Lineage.New Jersey: Wiley-Blackwell, 2009; KLEIN, Richard G. The Human Career. Human Biological and Cultural Origins. Chicago: The University of Chicago, 2009; CELA-CONDE, Camilo J.; AYALA, Francisco J. Human Evolution. Trails from the Past.
Oxford: Oxford University Press, 2010; LOCK, Andrew; PETERS, Charles R. (Eds.) Handbook of Human Symbolic Evolution. Oxford: Blackwell, 1999; HENKE, Winfried; CIOCHON, Russell L.; FLEAGLE, John G. (Eds.) The Human Evolution Source Book. 2ed.New Jersey: Pearson, 2006; TATTERSALL, Ian (Eds.) Handbook of Paleoanthropology. New York: Springer, 2007, 3 vols.
3 CUNHA, Eugénia. Como nos tornámos humanos. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010; LEWIN, Roger. Evolução Humana. Tradução de Danusa Munford. São Paulo: Atheneu, 1999; KLEIN, Richard G.; EDGAR, Blake. O despertar da cultura. A polêmica teoria sobre a origem da criatividade humana. Tradução de Ana Lúcia Vieira de Andrade. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2005.
4 LARSEN, Clark Spencer. Our Origins. Discovering Physical Anthropology. New York: W.W.Norton & Company, 2008; HAVILAND, Willian A. Anthropology. 7 ed. New York: Harcourt Brace Colege Publishers, partes I a III, 1994; WALKER-PACHECO, Suzanne E. Exploring Physical Anthropology. 2 ed. Englewwood: Morton Publishing Company, 2010.
5 ROBERTS, Alice.Evolution. The human story. New York: DK Dorling Kindersley, 2011.
Sergio Francisco Serafim Monteiro da Silva – Departamento de Arqueologia, UFPE. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Historiografia e História Intelectual Ibero-Americana / Projeto História / 2019
A Projeto História, revista do Programa de Estudo Pós-Graduados em História da PUC / SP, chega ao volume 64, cujo dossiê intitula-se “Historiografia e História Intelectual Ibero Americana”. Desde agosto de 1980 a revista tem contribuído com a difusão do conhecimento histórico no Brasil, por meio de um longevo programa de pós-graduação. No atual momento, quando a universidade está sob ataque de forças obscurantistas, nosso programa renova seu compromisso com a democracia, a pluralidade e o conhecimento, antídotos contra o autoritarismo que nos rodeia.
O debate sobre a historiografia e a produção intelectual em perspectiva representa uma importante dimensão dos estudos históricos, já consagrados como via de acesso aos diversos regimes de historicidade e ao repertório de interpretações do passado. A consciência histórica de uma época, bem como as forças em disputas e a própria dimensão política e cultural do saber manifestam-se nos testemunhos literários, ensaios acadêmicos e na memória visual e escrita de forma geral.
Por essa razão optou-se por abrir o dossiê com o artigo de Fernando Torres Londoño, professor dos Programas de Pós-graduação em História e em Ciência da Religião, ambos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor assina o artigo “A historiografia dos séculos XX e XXI sobre os jesuítas no período colonial conferindo sentidos a uma presença: do nascimento do Brasil à globalização”, que tem como objeto de análise a historiografia produzida nos séculos XX e XXI sobre a atuação da Companhia de Jesus no período colonial. No texto, Londoño mostra que, nos últimos quarenta anos, os historiadores têm buscado superar paradigmas apriorísticos, ou seja, a favor ou contra os jesuítas. Tem sido buscada, em seu lugar, uma abordagem capaz de abarcar a complexidade desta importante ordem religiosa, desde o seu estabelecimento e atuação, ao longo de sua existência secular, mas também a partir da imagem que se formou e transfigurou nos discursos que repercutiram.
O segundo artigo, assinado por Fernando Vale Castro, professor de História da América do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado “Os americanismos nas páginas da Revista de Derecho História Y Letras e da Revista Americana”, realiza uma análise comparada de dois periódicos latino-americanos das primeiras décadas do século XX: a Revista de Derecho, Historia y Letras (1898-1924), fundada e dirigida em Buenos Aires pelo diplomata, intelectual e político argentino Estanislao Severo Zeballos, e a Revista Americana (1909-1919), editada no Rio de Janeiro e publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, que teve no Barão do Rio Branco importante incentivador. Sabendo que estes tipos de periódicos eram uma espécie de estrutura elementar da sociabilidade intelectual — como afirma Jean-François Sirinelli — o texto busca elucidar como certas concepções de Americanismo circulavam naquelas páginas, a fim de apontar sua relevância no debate intelectual e diplomático sul-americano do período. Conferindo destaque para a contemporaneidade das preocupações que as nortearam, o estudo destaca o pioneirismo que as orientaram na formulação de um novo vocabulário político e a formação de novos circuitos intelectuais.
O professor da Universidade Federal de São Paulo, Leonardo Carnut, juntamente com a professora Áurea Maria Zöllner Ianni, da Faculdade de Saúde Pública da USP, assinam o texto “O pensamento político em saúde Latinoamericano: Floreal Antonio Ferrara e seus primeiros passos para repensar os caminhos da saúde coletiva”. Neste artigo, os professores reconstituem a biografia de Floreal Antonio Ferrara a partir do primeiro tomo de sua obra intitulada Teoria Política e Saúde. A partir de uma abordagem qualitativa mista, na qual se fez uso do levantamento históricobiográfico em conjunto com a análise do conteúdo da obra do autor biografado. Numa perspectiva bastante original, que procura somar diversos traços de sua personalidade pública e intelectual, os autores ressaltam a visão que Ferrara tinha sobre a vida política do país e do continente, sugerindo a importância em reler sua experiência no debate contemporâneo sobre o assunto.
Diogo da Silva Roiz, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, estuda uma importante mutação na construção institucional da História como disciplina em seu artigo “Ser historiador no século XX: Alfredo Ellis Júnior entre o “autodidatismo” e a “profissionalização” do trabalho intelectual de História (1938-1956)”. Nele, o autor investiga a transição entre o autodidatismo e a profissionalização do trabalho intelectual do historiador no Brasil. Para isso, Roiz analisa a obra e a trajetória do paulista Alfredo Ellis Júnior, entre os anos de 1938 e 1956, e o ativo posicionamento político daquele autor com ênfase na chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que resultou em duras críticas, esquecimentos e desinteresse de sua obra por boa parte da historiografia brasileira produzida após a década de 1980. O texto de Roiz busca compreender o modo como Ellis Junior incorporou as discussões sobre o estabelecimento da história enquanto campo disciplinar e a profissionalização do ofício do historiador, privilegiando o período em que ele lecionava no curso de História e Geografia da Universidade de São Paulo.
Na sequência, Paulo Augusto Tamanini, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) – por meio do artigo “O Holodomor e a memória da fome dos ucranianos (1931-1933): os ressentimentos na História” – busca, a partir de registros mnemônicos sobre o Holodomor, em uma perspectiva da cultura dos sentimentos e da visualidade, apreender a memória dos ucranianos acerca da fome de 1931-33. O texto busca compreender como o Holodomor ainda é “(res)sentido” pelos ucranianos. O autor também inventaria os esforços institucionais pelo reconhecimento do Holodomor como um genocídio.
O artigo intitulado “Pela mais digna de todas as revoluções”: o conceito de revolução na crise do regime monárquico brasileiro – de Juliano Francesco Antoniolli, doutor em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – busca refletir sobre o conceito de revolução, derivado da Guerra dos Farrapos, durante a crise do Império e a consequente ascenção dos ideais republicanos propagados a partir de 1870. O artigo parte da História dos Conceitos (de Reinhart Koselleck) para analisar o livro Guerra civil do Rio Grande do Sul, de Tristão de Alencar Araripe, bem como a propaganda republicana levada a cabo pelos jovens estudantes de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo.
O dossiê se encerra com a contribuição do pós-doutorando do Laboratório de Estudo de História das Américas (LEHA-USP), Renato Martins, autor do artigo “Ficção, História e Relações Internacionais na comparação das Américas de Francisco García Calderón e Sérgio Buarque de Holanda (1912- 1959)”. No texto, propõe uma reflexão comparada sobre as Américas a partir da escrita da história, da ficção e das relações internacionais realizadas pelo ensaísta e diplomata peruano, Francisco García Calderón (1883-1953), e pelo crítico e historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda (1902- 1982). As comparações entre esses autores foram realizadas a partir de uma problemática enfrentada por ambos durante a elaboração de suas obras: o arielismo. Nesse sentido, Martins aponta para a importância da geração intelectual de 1898, na América Latina, bem como para os regimes de historicidade que caracterizaram uma modernidade latino-americana, propriamente dita.
Esta edição conta ainda com três artigos livres. O primeiro deles, intitulado “A diversificação do complexo cafeeiro e a produção paulista de alimentos na primeira república: uma análise por meio das mensagens dos presidentes do Estado de São Paulo”, de autoria do professor Paulo Roberto de Oliveira, da Faculdade de Economia e Administração da USP, trata da diversificação na economia cafeeira e produção de alimentos durante a Primeira República. O estudo foi realizado, principalmente, a partir da análise do corpus documental constituído pelas mensagens dos Presidentes do Estado de São Paulo no período, 1889-1930, e busca compreender a diversificação da economia paulista e seus limites, sobretudo no que diz respeito aos gêneros alimentícios.
Por sua vez, Juliana Figueira da Hora, Wagner Magalhães e Elaine Alencastro assinam o segundo artigo livre: “Memórias do patrimônio colonial: arqueologia do sobrado dos Toledos, Iguape-SP”, em que apresentam um estudo arqueológico, ao analisar as diversas ocupações do sobrado dos Toledo, em Iguape, no estado de São Paulo. Em sua pesquisa, os autores valorizam os grupos sociais que vivem na cidade as memórias ali vividas, a fim de reconstituir a “biografia” do local através de uma arqueologia histórica.
Por fim, o terceiro artigo – “Simples e naturalmente bela: a coluna “Segredos de Beleza de Hollywood” no Anuário das Senhoras (1941-1949)” – assinado pelas professoras Jaci de Fátima Souza Candiotto e Maria Cecilia Barreto Amorim Pilla, ambas da Universidade Federal do Paraná, toma como objeto de estudo a coluna Segredos de Beleza de Hollywood, de autoria de Max Factor Jr., publicada no Anuário das Senhoras entre 1941 e 1949. As duas autoras buscam evidenciar os padrões de beleza feminina do período e apontam para o fato de que conquistar a condição de ‘ser bela’, para algumas mulheres, balizava aquilo que se considerava como feminino e dos artifícios do “ser bela”, capazes de influenciar a relação entre o protótipo da “mulher moderna” e aquela outra, que é dona de si e suas escolhas.
Este número da revista traz ainda uma nota de pesquisa. Trata-se de “Silenciamentos e desvelamentos historiográficos sobre os Waimiri-Atroari e a FUNAI (1967-1985)”, de Henri Albert Yukio Nakashima, e ainda duas resenhas. Na primeira delas, chamada “Existem limites para a Biografia?”, Igor Lemos Moreira faz um balanço do livro O que pode a biografia, organizados por Alexandre de Sá Avelar e Benito Bisso Schmidt (São Paulo: Letra e Voz, 2018). Por fim, Ana Paula Nunes da Silva, em “Memórias soldadescas de um Brasil Holandês”, resenha o livro de Viagem ao Brasil (1644-1654): o diário de um soldado dinamarquês a serviço da Companhia das Índias Ocidentais, escrito por Peter Hansen Hajstrup no século XVII, cujo material foi organizado e preparado pelos historiadores Benjamin Nicolaas Teensma, Bruno Romero Ferreira Miranda e Lucia Furquim Werneck Xavier (Recife: Cepe, 2016). Assim, espera-se que os leitores possam apreciar os trabalhos selecionados para esse número da Projeto História. Os editores agradecem aos autores dos artigos e das resenhas pelo enorme esforço de pesquisa.
Alberto Luiz Schneider
Eduardo Holderle Peruzzo
SCHNEIDER, Alberto Luiz; PERUZZO, Eduardo Holderle. Apresentação. Projeto História, São Paulo, v.64, 2019. Acessar publicação original [DR]
Diálogos com a História: Estudos interdisciplinares / Projeto História / 2019
A segunda metade do século XX foi marcada por um novo alargamento do campo da História. Ainda que os Annales, já em sua primeira geração, tenham apontado para uma verdadeira “revolução” historiográfica, apresentando novos objetos, novas possibilidades de análise, novos problemas, novas metodologias e uma forte interligação entre as diversas ciências humanas, não resta dúvida de que esse processo se ampliou e, sobretudo, foi instrumentalizado na segunda metade do século XX. Esse alargamento tornou necessário, mais do que nunca, que se estabelecesse um diálogo com o referencial teórico-metodológico de outras áreas das ciências humanas. Pesquisas interdisciplinares buscam a integração de várias disciplinas e ramos do conhecimento para analisar um objeto, a fim de garantir maior profundidade analítica. Assim, o diálogo da história com a política, sociologia, educação, psicologia, literatura, antropologia e tantos outros campos do conhecimento, pode contribuir para lançar novas “luzes” sobre pontos obscuros de um determinado objeto. Dessa forma, a Revista Projeto História promove, neste Dossiê, um diálogo da História com várias áreas das ciências humanas.
A própria capa deste volume, uma arte de Claudinei Cássio de Rezende sobre pintura de Jean-August-Dominique Ingres, François Ier reçoit les derniers soupirs de Leonardo da Vinci, 1 1818, já nos remete à ideia da interdisciplinaridade. Leonardo da Vinci (1452-1519) talvez tenha sido o mais emblemático Homem do Renascimento. Ele não é apenas uma figura histórica memorável, a menção ao florentino na capa deste volume também diz respeito ao seu conteúdo: polímata, ninguém pôde ser mais “interdisciplinar” que Leonardo da Vinci, além disso, propomos uma justa homenagem por ocasião do quinto centenário de sua morte.
Ao longo deste volume, verificamos vários artigos que propõem uma discussão interdisciplinar, a começar pelo texto de Miguel Vedda, Alegorías de la Improvisación. A Propósito de los Cuadros de Ciudades en Calles en Berlín Y en Otros Lugares, de Siegfried Kracauer. O autor, especialista em Literatura Alemã e professor da Universidad de Buenos Aires (UBA), promove uma discussão sobre a vida urbana presente na obra de Siegfried Kracauer.
Na sequência, o segundo artigo deste dossiê apresenta uma discussão sobre uma obra de Jorge Amado – Os pastores da noite, um romance escrito às vésperas do Golpe Civil-Militar de 1964 – no qual verificamos o perfeito diálogo da literatura com a História e, também, uma “[…] discussão sobre a cidade e modos culturais do viver urbano, contribuindo especificamente com a obra aqui analisada para pensarmos a construção de ditaduras na sociedade brasileira”.
O artigo Literatura de cordel: conceitos, intelectuais, arquivos, analisa a produção intelectual sobre a literatura de cordel, promovendo uma discussão com a “literatura popular” e seu papel na construção da identidade nacional, mostra também o processo de criação de arquivos e instituições de pesquisa e como ocorre uma “monumentalização dos folhetos de cordel”.
Em seguida, ainda no campo da literatura, temos o artigo Culpas e traumas no pós-Segunda Guerra em O leitor, no qual os autores analisam essa obra – do jurista e literato alemão Bernhard Schlink – acerca dos traumas, culpas e memórias da Segunda Guerra Mundial.
No artigo seguinte – Ao Ritmo de Tambores e Maracás: Tambor de Mina e Pajelança no Maranhão de Meados do Século XX – o autor nos aponta sua preocupação em mostrar que no “[…] Maranhão de meados do século XX, […] observa-se que algumas modalidades de expressão das religiões de matriz africana começam, ainda que timidamente, a serem vistas, positivamente, como elementos da cultura nacional e regional”. No entanto, indica que apesar dessas mudanças, continua imperando preconceito e discriminação aos adeptos de religiões e religiosidades populares e de matriz africana.
O dossiê segue apresentando um artigo sobre vestuário e fotografia – Vestuário e Fotografia como fontes de pesquisa: uma abordagem interdisciplinar – que discute sobre algumas fontes empregadas nas pesquisas sobre moda, indumentária e vestimenta, indicando que o próprio traje se constitui como fonte importante, carregado de informações e, nesse sentido, quando já não mais existe o traje, a fotografia poderia assumir esse papel de documento histórico.
Hannah Arendt e o Diabólico Maquiavel, o sétimo artigo do dossiê, traz uma discussão sobre a concepção da filósofa alemã Hannah Arendt sobre Maquiavel a partir do conjunto dos textos da autora ao longo de sua maturidade intelectual, expressando prioritariamente as suas concepções em dois deles: um redigido originalmente em 1963, intitulado Sobre a revolução; e outro, Entre o passado e o futuro, por sua vez revisto e ampliado numa edição de 1968.
O artigo seguinte, intitulado A Composição do Ms. 10121 da Biblioteca Nacional de España (C. 1516-1543): O Livro dos Feitos entre a Epigrafia e a Paleografia, analisa um manuscrito sobre a vida do rei Jaime I de Aragão (1208-1276), um dos reis mais conhecidos do contexto territorial da coroa aragonesa. A partir de informações epigráficas e paleográficas do manuscrito e de propostas metodológicas voltadas para a ciência epigráfica e paleográfica, o autor do artigo, “[…] busca determinar o contexto de composição do manuscrito, principalmente considerando as características simbólicas de tais informações presentes no mesmo”. Concluindo que “[…] os aspectos simbólicos presentes neste documento devem ser considerados como principais para compreender o motivo de sua composição, ou seja, a partir de uma perspectiva interdisciplinar”.
Temporalidades de norte a sul: história de municípios narrada nos seus sites oficiais, o artigo que fecha a primeira parte do dossiê, analisa as narrativas históricas, existentes nos sites das prefeituras de duas cidades – Altamira no Pará e Foz do Iguaçu no Paraná – produzidas e divulgadas entre os anos 2012-2017. As narrativas foram problematizadas e os autores indicam que “[…] foi possível perceber a permanência de interpretações históricas hegemônicas no Regime de Historicidade futurista em nosso tempo presente”.
Entre os artigos livres, também podemos verificar uma discussão se aproximando da interdisciplinaridade, em especial, no artigo intitulado A “caixa-preta” da eucaliptocultura: controvérsias científicas, disputas políticas e projetos de sociedade, que discute os embates e disputas sobre o plantio de eucaliptos no Brasil.
Outros dois artigos completam essa seção, Da lógica de O Capital à “lógica” do capital: notas críticas a Helmut Reichelt, no qual o autor discute o pensamento de Helmut Reichelt e o artigo Charles Boxer e a Igreja Militante: Raça, Missionação e Império na Expansão Ibérica dos Séculos XVI e XVII, que apresenta um balanço da obra do historiador inglês Charles Boxer. Nesse artigo, o autor busca explorar o modo como Boxer compreendeu as políticas ibéricas de conversão dos nativos e seus entrelaçamentos com as próprias políticas de colonização.
O dossiê traz também duas resenhas – Entre a memória e a história: a influência estadunidense no Brasil em 1964 – sobre a obra 1964: O golpe, de Flávio Tavares, lançada em 2014 e As Marcas do Tempo no Espaço: Diálogos entre História e Geografia, que apresenta o livro de José D’Assunção de Barros – História, Espaço, Geografia: diálogos interdisciplinares – lançado em 2017.
Dentro da proposta da Revista Projeto História, de valorizar as pesquisas de seus pós-graduandos, temos duas Notícias de Pesquisas, textos de alunos da pós-graduação do programa de História da PUCSP, que apresentam as pesquisas em andamento. A primeira Notícia de Pesquisa é do mestrando Daniel Francisco da Silva, intitulada A atuação da imprensa na reorganização política em Pernambuco em 1954. Essa pesquisa, em andamento, tem como eixo temático a análise da imprensa pernambucana, atentando para sua atuação na reorganização política do estado após o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954. A outra Notícia de Pesquisa, Formação política, organização e movimentos sociais: Encontros de Entidades Comunitárias (ENECOMs), foi produzida pela doutoranda Vera Lúcia Silva e trata das experiências de agricultores, pescadores, agentes de saúde, dentre outros trabalhadores, ligados a diferentes associações e instituições do campo e da cidade dos municípios cearenses de Camocim, de Barroquinha e Granja.
Finalizando o volume, gostaríamos de destacar a ótima entrevista, realizada por Glauber Biazo, com o professor Francisco de Oliveira, um dos grandes intelectuais brasileiros, que faleceu em 10 / 07 / 2019. Francisco de Oliveira trabalhou na SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) ao lado de Celso Furtado, e com o Golpe Civil Militar de 1964 foi afastado e sofreu prisões e perseguições. Em 1970 – e até 1995 – integrou o CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). Também participou da fundação do PT (Partido dos Trabalhadores) e, posteriormente, do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). Durante a década de 1980, foi professor do Departamento de Economia da PUCSP, saindo em 1988 para integrar-se ao corpo docente do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP. O professor Francisco de Oliveira nos deixa um legado de obras, lutas e militância e recebe, neste volume da Revista Projeto História, uma justa homenagem.
Nota
1 Segundo Claudinei Cássio de Rezende, autor da capa desse volume, “Em 1818, Pierre-Louis Jean Casimir (1771-1839), embaixador francês em Roma, encomenda a Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) a pintura A morte de Leonardo. Ingres, o mais destacado pintor da école davidienne, faz o painel em óleo, de dimensão modesta (40 x 50,5 cm), conforme ordenação do comitente. Neste painel vemos Francisco I (1494-1547) de França recebendo em seus braços Leonardo da Vinci (1452-1519) em seu último suspiro”. Sobre a “forte interdisciplinaridade” de Leonardo da Vinci, Rezende, nos alerta que: “[…] Leonardo aprende a técnica do desenho e da pintura, atividades que poderiam já lhe atribuir um estatuto de genialidade ao seu tempo histórico, especialmente se considerarmos o seu Tratado da pintura como a primeira teorização da estética e da história da arte, antecipando Giorgio Vasari (1511- 1574). Leonardo considerava que a cópia das pinturas, resultando sempre em cópia da cópia de menor qualidade, não era o bastante para avançar a ciência naturalista da pintura: os modelos precisavam advir da própria realidade, do próprio estudo da natureza. Assim, Leonardo se torna um estudioso da botânica, da geologia, da anatomia animal, da anatomia humana (incluindo um original estudo sobre os embriões) e da física (da luz e sombra). Por consequência, estuda de modo geral toda a ciência, desenvolvendo uma teoria rudimentar das placas tectônicas, por exemplo. Projetos de máquinas voadoras, tanques de guerra, e até um protótipo de helicóptero são elaborados por Leonardo. Estudou a óptica e hidrodinâmica. Desenvolveu maquinaria de metalurgia que, não obstante, entrou para o mundo da indústria sem os devidos créditos ao mestre florentino. Na última década de vida, após a morte de seu mecenas Ludovico, retorna à Florença recémconquistada por Lorenzo II (1492-1519), até se instalar na corte francesa de seu último patrono, Francisco I. Foi este que, àquela altura, encomendou a Leonardo um leão mecânico que andava para frente, abria o peito e relevava um ramalhete de lírio. Leonardo, criador da robótica?”.
Luiz Antonio Dias – Professor do PEPG de História da PUC-SP. Editor Chefe da Revista Projeto História
Vagner Carvalheiro Porto – Professor da Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Editor da Revista do MAE-USP
DIAS, Luiz Antonio; PORTO, Vagner Carvalheiro. Apresentação. Projeto História, São Paulo, v.65, 2019. Acessar publicação original [DR]
Política, Cultura e Sociedade: temas e abordagens do Brasil Contemporâneo / Projeto História / 2019
O número 66 da Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pósgraduados em História, da PUC / SP, traz a público o dossiê “Política, Cultura e Sociedade: temas e abordagens do Brasil Contemporâneo”. Não se trata apenas de publicar pesquisas que abordem a Ditadura Civil-Militar (1964- 1985) e as lutas de resistência à opressão, mas também olhar o passado atento à delicada situação política pela qual atravessa o Brasil no presente, em quem velhos fantasmas que pareciam habitar o passado ressurgem, ameaçadores. Mais do que nunca, é preciso revisar o passado recente, que ainda não terminou de passar. Os autores e as autoras deste número desvelam e iluminam vários aspectos da vida brasileira, enriquecendo o debate público da história mais recente. A eles e a elas, os editores da revista e os organizadores do número agradecem.
A capa desta edição da Projeto, vale dizer, foi selecionada justamente para transmitir a tensão política vivida no Brasil durante os anos finais do regime militar. Trata-se de uma fotografia da Passeata dos Cem Mil, pela Avenida Rio Branco, Candelária e Palácio Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. Da manifestação, organizada por entidades estudantis, participaram intelectuais, artistas e trabalhadores sindicalizados e milhares de estudantes. Publicada no jornal Última Hora, em 27 de junho de 1968, ao reportar a manifestação do dia anterior, a foto registra aquela que foi a última grande manifestação popular contra a ditadura que logo se enrijeceria, com a decretação do Ato institucional número 5 (AI-5), em dezembro daquele ano.
Abrimos o dossiê com o artigo dos professores Luiz Antonio Dias (PUC-SP) e Rafael Lopes de Sousa (UNISA-SP), intitulado A greve da Volkswagen (1979): o despertar do novo sindicalismo e os métodos de controle da vida operária, no qual os autores analisam as resistências dos trabalhadores da fábrica automobilística frente à ditadura civil-militar. No artigo, contextualizam o desenvolvimento da crise econômica do final dos anos 1970 e começo dos 1980, a fim de compreender a consolidação de um novo sindicalismo. Com isso, partindo dos acontecimentos que culminaram na greve dos metalúrgicos do ABC de 1979, esclarecem “as redes de informações e controle criadas pela empresa para vigiar e punir os operários”. Além disso, os autores buscam jogar luz sobre “a lógica de apoio e cooperação desenvolvida entre agentes públicos e privados” ainda no contexto da greve.
Em seguida, reproduzimos o artigo Entre aplausos e denúncias: as entidades de advogados gaúchos e a instalação da ditadura civil-militar (1964-1966), de Dante Guimaraens Guazzelli. Nele, o autor busca demonstrar como os advogados do Rio Grande do Sul, logo no início do regime civil-militar, em 1964, apresentavam posturas ambivalentes em relação à quebra da legalidade constitucional, ora apoiando ora se opondo ao sistema político. O artigo leva os leitores a compreender a complexidade da instalação da ditadura no país.
Como terceiro artigo do dossiê, apresentamos o texto do professor Pedro Henrique Pedreira Campos (UFRRJ), intitulado Ditadura, interesses empresariais, fundo público e “corrupção”: o caso da atuação das empreiteiras na obra da hidrelétrica de Tucuruí. O artigo discute os projetos dos empresários entre as décadas de 1970 e 1980 envolvidos em escândalos de corrupção. Partindo de uma reflexão teórica sobre o tema da corrupção, o autor problematiza a ocorrência desses casos durante o regime militar e trabalha, mais especificamente, analisando a atuação de empreiteiras na obra da usina hidrelétrica de Tucuruí (1975-1984), no estado do Pará. A hipótese do autor aponta para disputas entre o “fundo público para acumulação de capital e busca de maiores taxas de lucro” como uma explicação viável para se compreender o uso de práticas ilegais pelas empresas e estreitar relações com o Estado.
Já no artigo Estratégia discursiva da ditadura civil-militar brasileira (1964- 1985): a legitimação através da escola, assinado pela professora Rosimar Serena Siqueira Esquinsani (UPF-RS), propõe-se a discussão da escola como um dos meios empregados pela ditadura para operacionalizar o discurso que exaltava o patriotismo, o patrulhamento ideológico, o recurso à autoridade e a politização das datas cívicas, sempre no sentido de legitimar a ditadura. A autora parte de uma metodologia analítico-reconstrutiva, ao utilizar como fonte para embasar sua análise doze livros didáticos adotados nas escolas brasileiras entre 1964 e 1985. A pesquisa demonstra o empenho dos agentes do Estado em legitimar a ditadura, por meio do uso das escolas e dos conteúdos dos livros didáticos.
Na sequência, o artigo de Gustavo Bianch Silva problematiza a relação da Universidade Federal de Viçosa com a política econômica e o plano de desenvolvimento adotados durante a ditadura militar no Brasil. Segundo o autor “o modelo de modernização da agricultura ambicionado na universidade […] teve grande convergência com a concepção da modernização econômica elaborada pelos militares em seus governos”. A hipótese levantada pelo autor indica que o ponto de interlocução entre a universidade e a política de desenvolvimento dos distintos governos das décadas de 1970 e 1980 teria facilitado, por parte das lideranças acadêmicas, uma postura de adesão ao regime
O professor Reginaldo Cerqueira Souza (Unifespa-PA), no artigo Guerrilha do Araguaia: violência, memória e reparação, problematiza o movimento de resistência armada contra a ditadura organizado por militantes de esquerda do Pará, Maranhão e Tocantins, durante a Guerrilha do Araguaia (1972-74). Com base nas teorias da literatura de teor testemunhal e da psicanálise, empregando os conceitos de “trauma”, “repetição” e “esquecimento”, o artigo busca compreender as razões por trás do esquecimento social acerca da guerrilha no estado do Pará, o aumento da violência nessa região e a negação às vítimas do Estado o direito de reparação e memória.
No artigo intitulado História, Cultura e identidade: olhares sobre comunidades quilombolas no estado do Amapá, Elivaldo Serrão Custódio (UNIFAP), Silvaney Rubens Alves de Souza (UNIFAP) e Maria das Dores do Rosário Almeida (UnB), abordam o debate acerca da reforma agrária ligado ao processo de resistência política dos movimentos negros organizados desde a década de 1980. No artigo, os autores contextualizam a longa trajetória de luta pela sobrevivência dessas comunidades tradicionais, remanescentes de quilombos, ainda distantes das políticas públicas das ações afirmativas.
Para encerrar o dossiê escolhemos o artigo Rompendo fronteiras: movimentos e imprensa de direitos humanos no Cone Sul (1970 / 1980), de Heloísa de Faria Cruz, professora do Departamento de História da PUC-SP. Nele, a autora analisa uma série de publicações produzidas por entidades de defesa dos direitos humanos veiculados entre os anos de 1970-80 em países como Chile e Argentina. Seu objetivo é refletir acerca da atuação dessas entidades, bem como sobre a cultura política de resistência aos regimes ditatoriais vigentes nos países do Cone Sul, demonstrando como se constituiu a rede de movimentos em defesa dos direitos humanos, destacando a importância dos circuitos de comunicação que a sustentaram.
No espaço dedicado aos artigos livres, o texto Os institutos disciplinares, a legislação sobre menoridade e a formação de setores estatais especializados em assistência a menores em São Paulo (1900-1935), assinado por Sérgio C. Fonseca e Felipe Ziotti Narita, discute a institucionalização de setores especializados na gestão de serviços públicos de assistência social para menores em São Paulo, entre o início do século XX e a década de 1930. A partir de textos jurídicos, relatórios oficiais e impressos publicados pelos serviços de assistência, o artigo busca analisar os meandros dos dispositivos estatais no âmbito do desenvolvimento socioeconômico e demográfico. Evidenciam-se no texto, as “ramificações institucionais em diálogo com a formação de serviços de saúde, a profissionalização da assistência aos pobres e a legislação referente a protocolos judiciais e policiais destinados ao governo da população”, como apontam os autores.
O segundo artigo livre Releituras do Contestado: O reino místico dos pinheirais, de Wilson Gasino, e a crítica à história oficial, do professor Claécio Ivan Schneider (UNIOESTE) busca problematizar as relações entre história e a literatura na construção do romance O reino místico dos pinheirais, publicado por Wilson Gasino, em 2011. Para o autor, o romance pode ser lido como “um instrumento de denúncia contra aqueles que construíram e compactuaram com interpretações preconceituosas da história, […] e estigmatizaram milhares de sertanejos que até hoje lutam por sua terra, por sua cidadania, enfim, pelos seus direitos humanos”.
O volume traz ainda duas resenhas. O primeiro texto, Brasil, mostra tua cara, mais ligado à temática do dossiê é uma apreciação crítica de Victor Gustavo de Souza sobre o livro Sobre o autoritarismo brasileiro, publicado por Lilia Moritz Schwarcz e lançado em 2019. Em linha com o projeto editorial da revista, marcado pela pluralidade e abertura aos mais diversos temas, a segunda resenha abre espaço para história de São Paulo de fins do século XVIII. Em Um olhar renovado sobre a história dos capitães-generais de São Paulo: o governo de Martim Lopes Lobo de Saldanha (1775-1782) José Rogério Beier debate o livro de Lorena Leite, “Déspota, tirano e arbitrário”: o governo de Lobo de Saldanha na Capitania de São Paulo (1775-1782), também lançado em 2019.
A Projeto História interessada em valorizar pesquisas de jovens pesquisadores há muitos anos mantém Notícias de Pesquisas, espaço que tem o objetivo de valorizar a produção de pesquisas em andamento. Este volume traz a pesquisa de Thays Fregolent de Almeida, intitulada Modernos bandeirantes, antigos interesses: a Expedição Roncador-Xingu e a conquista da fronteira oeste (1938-1948). A autora investiga a Expedição Roncador-Xingu (1943- 1948) como parte da campanha Marcha para o Oeste, importante investimento político realizado pelo Estado Novo (1937-1945). No texto, os conceitos de “fronteira econômica” e “fronteira política” são articuladas com a apropriação do bandeirantismo como símbolo.
O volume 66 da revista se encerra com a entrevista que o investigador Marcos Antônio Batista da Silva realizou com o professor e pesquisador Bruno Sena Martins (CES) – Universidade de Coimbra. No texto são problematizadas questões relativas à difusão da cultura científica, a colonização, o racismo, as políticas de ação afirmativa e sustentabilidade. Bruno Sena Martins é investigador do Centro de Estudos Sociais, cocoordenador do programa de doutoramento Human Rights in Contemporary Societies, e docente no programa de doutoramento em Pós-colonialismos e cidadania global.
É parte do esforço editorial da Projeto História: Revista do Programa de Estados Pós-graduados em História da PUC / SP criar espaços para que pesquisadores de outras universidades, de diferentes regiões do Brasil e de outros países possam contribuir com suas pesquisas.
Esperamos que os leitores apreciem criticamente os trabalhos selecionados, e que possam ter recepção fértil, gerar novas pesquisas e outras inquietações.
Alberto Luiz Schneider – Professor do Departamento de História da PUC / SP
Márcia Juliana Santos – Doutora em História (PUC / SP). Professora de História da Escola Móbile
SCHNEIDER, Alberto Luiz; SANTOS, Márcia Juliana. Apresentação. Projeto História, São Paulo, v.66, 2019. Acessar publicação original [DR]
Cultura, politecnia e imagem – ALBUQUERQUE et al (TES)
ALBURQUERQUE, Gregorio G. de; VELASQUES, Muza C. C; BATISTELLA, Renata Reis C. Cultura, politecnia e imagem. Rio de Janeiro: EPSJV, 2017. 318 pp. Resenha de: GOMES, Luiz Augusto de Oliveira. A materialidade da cultura: uma nova forma de ler o mundo. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.17, n.2, Rio de Janeiro, 2019.
O livro Cultura, politecnia e imagem,organizado por Gregorio Galvão de Albuquerque, Muza Clara Chaves Velasques e Renata Reis C. Batistella, publicado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fundação Oswaldo Cruz, apresenta um panorama ampliado do conceito de cultura a partir de três eixos de análise que se complementam: (1) Cultura, educação, trabalho e saúde; (2) Cultura, educação e imagem; e, (3) Cultura e cinema. Os 20 autores que assinam os 15 artigos do livro apresentam importantes contribuições para compreender a materialidade da cultura nos tempos atuais.
No eixo “Cultura, educação, trabalho e saúde”, ao debater cultura, os autores se fundamentam especialmente no materialismo histórico dialético para refletir sobre o conceito ampliado do termo. É interessante observar a defesa de uma concepção de cultura imbricada dialeticamente com todas as instâncias dos processos de produção da vida social, refutando a tradição idealista que busca na cultura algo puro e apartado do “reino dos conflitos e contradições” (p. 25). Além da crítica ao idealismo, é crucial destacar as reflexões acerca das obras de Eduard Palmer Thompson e Raymond Willians, pensadores da chamada nova esquerda britânica, para desconstruir a leitura de um marxismo dogmático e fundado no reducionismo econômico, que hierarquiza base/superestrutura e plasma a cultura no plano da ‘superestrutura’, desvinculada das relações sociais de produção (infraestrutura). Quanto às relações dialéticas entre estrutura e superestrutura, assim como Thompson (1979, p. 315) podemos dizer que “o que há são duas coisas que constituem as duas faces de uma mesma moeda”. Ao ter em conta os nexos entre economia e cultura, podemos perceber que a “dimensão cultural das sociedades são espaços dinâmicos permeados por conflitos de interesses” (p. 88), espaços onde estão presentes tanto o consenso quanto disputas por uma nova hegemonia. Essa constatação vai ao encontro das palavras de Thompson (1981, p. 190) de que “toda luta de classes é ao mesmo tempo uma luta acerca de valores”, valores esses que constituem a cultura, cuja base material deve ser investigada e considerada na análise do movimento do real.
É um desafio compreender o conceito de cultura não apenas como campo de consenso. Como nos informa o eixo “Cultura, educação, trabalho e saúde”, a cultura pode ser entendida como resultado das ações dos homens e mulheres sobre o mundo. Em última instância, “ela se torna o próprio ambiente do ser humano no qual ele é formado, apropriando-se de valores, crenças, objetos, conhecimentos” (p. 99).
A obra de Clifford Geertz, trabalhada em um dos artigos do livro, também contribui para o debate sobre cultura, principalmente por abordar os modos de vida e discursos dos grupos vulneráveis ou excluídos. A noção de comportamento humano de Geertz é uma ótima ponte para aproximar a antropologia da discussão a respeito da compreensão do processo saúde-doença. A autora do artigo afirma que a contribuição de Geertz e a sua antropologia “é muito favorável para a inclusão do ponto de vista dos pacientes e usuários dos serviços na análise das questões de saúde, principalmente no atual contexto, no qual o discurso médico é dominante” (p. 114).
No segundo eixo, intitulado “Cultura, educação e imagem”, os autores tratam da construção de conhecimento por meio das imagens. Esse eixo, em especial, nos favorece a compreensão das imagens como mediação em espaços formativos, sejam eles institucional (como a escola) ou qualquer outro espaço de educação dos sujeitos coletivos. Para isso, os autores buscam principalmente nas experiências em sala de aula mostrar como, por intermédio da cultura (em especial, da imagem), é possível outra leitura do mundo.
Com isso, concordamos com Kosik (1976) quando entende que compreender a vida para além da sociedade fetichizada − que toma a coisas no seu isolamento, adota a essência pelo fenômeno, a mediação pelo imediatismo−, é um exercício de apreensão da totalidade do cotidiano. Por isso, tendo em conta a pseudoconcreticidade com que o mundo se apresenta, os autores indicam que na sociedade capitalista, onde “o urbano passa a ser uma sucessão de imagens e sensações produzidas e reproduzidas pelos indivíduos que criam uma condição fragmentada da vida moderna” (p. 88), crianças, jovens e adultos buscam nas imagens divulgadas nas mídias (televisão e redes sociais) a construção de si mesmos e do mundo.
Na lógica do capital, a imagem exerce um papel importante na manutenção da hegemonia, impondo valores e transferindo os desejos da burguesia para a classe trabalhadora. Como constata um dos artigos, a “dissolução da forma burguesa mantém-se no contínuo da passividade dos sujeitos sociais, arraigando assim uma violência subjetiva terrorista, como reconhecer e alterar este mundo […] a colonização estética dos sentidos é perversa” (p. 160).
Sabemos que a educação é apropriada pelo capitalismo como formadora de consenso: “forma-mercadoria e forma estatal como princípio de organização da vida social, impregnando a subjetividade humana de práticas autorrepressivas no que diz respeito aos seus impulsos de felicidade e liberdade” (p. 170). A leitura do eixo “Cultura, educação e imagem” reforça que o “viés questionador, transformador e revolucionário da reflexão e da produção cultural podem possibilitar uma nova forma de ler do mundo” (p. 143). Os artigos nos ajudam a compreender que a imagem é uma potente ferramenta, constituindo-se como mediação tanto revolucionária quanto para manter o status quoda classe econômica e culturalmente dominante.
Por fim, no último eixo, “Cultura e cinema”, os autores nos convidam a conhecer a discussão acerca da cultura e da imagem com base em consistentes formulações teóricas que envolvem a produção do cinema e os seus nexos com as práticas escolares. Neste eixo, podemos destacar que é de grande importância a crítica direcionada às produções acadêmicas que corroboram para que a “análise de filmes seja percebida ainda como uma forma acessória de se atingir uma compreensão sobre a realidade social” (p. 231), ou seja, esse tipo de análise trata a produção do cinema como uma mera fonte de registro e que para compor uma análise da sociedade necessitam de outros tipos de fontes.
Em seus quatro artigos, o eixo “Cultura e cinema” procura demonstrar como a produção fílmica é uma fonte histórica de grande relevância para analisar a sociedade a partir de uma “concepção estético-política” (p. 232). Busca na interpretação do filme “Terra em Transe”, do diretor Glauber Rocha, elementos importantes para a leitura dos acontecimentos do golpe empresarial-militar de 1964 e as variadas interpretações do seu sentido nos dias atuais. O filme é “uma síntese devastadora do processo de luta de classes no Brasil e na América Latina dos anos 1960 como núcleo duro permeando todas as relações sociais reais, demole todos os discursos de legitimação dos projetos colonizadores” (p. 254). A produção em questão nos ajuda a compreender a potência do cinema na captação do real e de como a organização formal e estética em imagem e som nos auxilia na percepção das disputas de classe ocorridas no período.
A concepção de romper com um olhar naturalizado sobre a sociedade de classes é um dos intuitos das produções fílmicas alternativas, em especial na conturbada América Latina do século XX. Assim, o Nuevo Cine Latinoamericanomarcou o cinema latino-americano, buscando em produções militantes, conscientizar trabalhadores e trabalhadoras a sair das suas ‘zonas de conforto’. Essa concepção de cinema buscou possibilitar, como nos indica um dos artigos, “uma nova leitura do mundo, e uma nova forma de pensar a nossa realidade, características fundamentais para a transformação social” (p. 287).
Assim como os longas-metragens, os documentários também contribuem para narrar os conflitos de classe. Como sinaliza uma das autoras, o documentário tem o poder de relacionar a antropologia, a arte visual e a produção cinematográfica para contar uma história. Com isso, os documentários sustentam o “mito de origem de falarem a verdade” (p. 258). Todavia, o eixo nos leva a refletir: Qual verdade? Verdade para quem? O livro nos convida a encarar o documentário como um gênero de grande importância para a pesquisa social.
O rico debate teórico com base na materialidade da cultura alicerçada nas pesquisas dos autores, seja em sala de aula ou na análise de imagens e filmes, ajuda-nos a entender a profundidade do conceito de cultura e a sua potência como agente da transformação social. O livro nos elucida quanto à necessidade de que a classe trabalhadora se aproprie e interprete sua própria cultura, descolonizando-se da hegemonia cultural da burguesia, para assim buscar a sua emancipação plena.
O livro Cultura, politecnia e imagemé um prato cheio para quem busca superar a concepção idealista de cultura, compreendendo-a na sua totalidade, em diversos espaços-tempos históricos, tendo em conta as relações dialéticas entre economia, cultura e outras determinações sociais, e em especial as experiências coletivas da classe trabalhadora. Nos três eixos temáticos, o conjunto de autores desenvolve formulações teóricas com evidências empíricas de que a cultura e os processos educativos que a elegem como objeto de estudo e de compreensão da realidade podem fermentar os germes de projetos de transformação social.
Referências
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. [ Links ]
THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y cons- ciência de classe. Barcelona: Crítica, 1979. [ Links ]
THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. [ Links ]
Luiz Augusto de Oliveira Gomes – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
(P)
Trabalho docente sob fogo cruzado – MAGALHÃES et al (TES)
MAGALHÃES, Jonas E. P.; AFFONSO, Claudia R. A.; NEPOMUCENO, Vera Lucia da C.. Trabalho docente sob fogo cruzado. Rio de Janeiro: Gramma, 2018. 268 pp. Resenha de: BOMFIM, Maria Inês. Precarização estrutural do trabalho docente: o fim do professor intelectual? Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.17, n.3, Rio de Janeiro, 2019.
Trabalho docente sob fogo cruzado é uma coletânea organizada por Jonas Magalhães, Cláudia Affonso e Vera Nepomuceno, reunindo 12 capítulos que analisam, de forma crítica e sob perspectivas diversas, a desvalorização do trabalho docente, em tempos de precarização estrutural do trabalho (Antunes, 2018).
Com prefácio e apresentação de Gaudêncio Frigotto e Marise Ramos, respectivamente, o livro reúne estudos de pesquisadores membros do Grupo de Estudos Trabalho, Práxis e Formação Docente vinculado ao Grupo de Pesquisa THESE-Projetos Integrados de Pesquisas em História, Educação e Saúde (UFF/UERJ/EPSJV/FIOCRUZ) e de outros autores convidados, abordando ‘questões de natureza política, socioeconômica e ideológica’ sobre o trabalho docente. Dentre elas, assegurando a especificidade que o tema requer, a mecanização do trabalho na escola e a expropriação da subjetividade docente, em especial desde a década de 1990.
No Capítulo 1 da coletânea, “Trabalho de professor no fio da navalha: reengenharia das escolas e reestruturação produtiva em tempos de Escola Sem Partido”, Cláudia Affonso articula três dimensões centrais que estarão, também, presentes em outros capítulos: “a reestruturação produtiva das escolas, a Reforma do Ensino Médio e o avanço do Movimento Escola Sem Partido” (p. 4). Retomando o rico debate sobre a natureza do trabalho, analisa os sentidos conferidos à profissionalização docente nas últimas décadas por autores de matrizes teóricas diversas, e problematiza os limites da autonomia docente na atualidade. A participação docente desqualificada, que restringe a condição de intelectual dos professores no processo de ensino aprendizagem, articulada às implicações trazidas pela Reforma do Ensino Médio (2017) e, ainda, ao fortalecimento de ideologias de criminalização sinalizam duas preocupantes tendências: o esvaziamento da prática docente e o desemprego de professores.
Valéria Moreira é a autora do Capítulo 2, “A organização do trabalho do professor e a qualidade do ensino”. A autora busca apreender a “inviabilização da incorporação do trabalho ao objeto do trabalho” (p. 28), processo vivido pelos professores de Sociologia, em virtude da redução da carga horária da disciplina na proposta curricular do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro. Discutindo o processo de trabalho, em geral, o processo de trabalho no século XX e o trabalho docente na atualidade, toma como objeto de estudo a emblemática materialidade fluminense, na qual os professores da rede estadual resistem às condições de trabalho severamente precarizadas.
“Carrera profesional docente en Chile: la construcción de un nuevo modo de ser profesor” é o terceiro capítulo da coletânea, escrito por Paulina Cavieres. O Chile, precursor do ciclo neoliberal que atingiu boa parte do mundo, possui uma legislação extremamente hierarquizada em relação à carreira docente, na qual os professores são permanentemente avaliados e certificados, o que estimula a promoção de certo tipo de subjetividade docente ‘assujeitada’. Diante desse quadro, a autora defende a potencialidade das chamadas ‘linhas de fuga’ (Miranda, 2000), que explicitam a resistência dos professores chilenos às novas formas de controle docente.
O quarto capítulo, “História da docência e autonomia profissional: notas sobre experiências em Portugal, Quebec (de língua francesa) e Canadá”, de Danielle Ribeiro, destaca a atualidade do movimento pela profissionalização docente. Recuperando, historicamente, avanços e retrocessos na constituição da profissionalização docente, problematiza os limites impostos à conquista da autonomia docente, aspecto central na luta pela ‘profissionalidade’. Na contemporaneidade, analisa os debates sobre autonomia docente em Portugal, Quebec e no restante do Canadá, evidenciado suas ambivalências, singularidades e conflitos.
Vera Nepomuceno é a autora do Capítulo 5, cujo título é “Reforma do Ensino Médio: uma estratégia do capital?”. O estudo sublinha os nexos históricos entre a dualidade estrutural na educação, os interesses da burguesia brasileira e a intensificação da escala e da profundidade da associação entre o público e o privado, com destaque para o protagonismo de fundações e instituições empresariais nas decisões do Estado, ignorando as condições concretas das escolas e dos jovens.
“Da ‘desnecessidade’ da educação à ‘desnecessidade’ do trabalho docente no Ensino Médio” é o título do Capítulo 6, escrito por Cláudio Fernandes. O tema é, igualmente, a Reforma do Ensino Médio e suas implicações para o trabalho docente, mas sob outra perspectiva.
Para o autor, a reforma de 2017 revelou-se como a continuidade e o aprofundamento da reforma realizada nos anos 1990, ambas marcadas pelas demandas da empresa flexível. Os efeitos dessa flexibilização configuram, na atualidade, a ‘desnecessidade’ tanto da educação como do trabalho docente, ainda que de forma contraditória. Buscando a materialidade que a reflexão requer, o estudo analisa a proposta implementada no Rio de Janeiro, produzida pelo Instituto Ayrton Senna (IAS), denominada de ‘Solução Educativa para o Ensino Médio’.
Amanda da Silva é a autora do Capítulo 7, intitulado “A presença de frações da classe burguesa na educação pública brasileira e as interferências no trabalho docente”. A análise parte da teoria de Estado como uma relação permeada de contradições. O conceito de ‘bloco no poder’ (Poulantzas, 1977), ganha centralidade na investigação sobre as ações empresariais no âmbito do Estado, mediante parcerias público-privadas. O trabalhador docente, nesse projeto da burguesia, tem sua autonomia severamente ameaçada.
O Capítulo 8 da coletânea é “Qual escola? Para que sociedade? Desafios da formação docente em um contexto de contrarreforma e retrocessos na gestão da educação pública brasileira”, de autoria de Maria Aparecida Ribeiro. Com base em um estudo de caso que retrata o percurso formativo de um aluno de licenciatura em Filosofia, suas conquistas, desafios e descobertas, a autora traz uma inquietante indagação: “como atuar na formação docente neste contexto de severa intervenção político-governamental nos processos de escolarização?” (p. 151).
Francisca Oliveira, por sua vez, aborda políticas regulatórias para o magistério no Capítulo 9, cujo título é “O Fundeb e a Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica: uma nova regulação para a valorização do trabalho docente?” A autora prioriza as políticas sancionadas no segundo mandato do presidente Lula da Silva (2003-2010), sendo o recorte empírico o estado do Ceará. A Política Nacional de Formação de Professores para o Magistério da Educação Básica, com suas ambivalências e o Fundeb, com suas contradições, são os alvos da análise apresentada no capítulo.
O Capítulo 10, escrito por Maria da Conceição Freitas, tem como título “Trabalho docente no ideário do materialismo histórico- dialético- Redecentro: 2010 a 2014”. A Redecentro é uma rede de pesquisadores do Centro-Oeste brasileiro, com a participação de sete universidades, em busca da qualidade nas produções acadêmicas, considerando duas lógicas: a mercadológica e a que, com base na ética e na relevância social, inclui a emancipação e a formação crítica e integral dos pesquisadores. A autora recupera diferentes tendências presentes na literatura internacional sobre trabalho docente e profissionalismo, apresentando dados referentes à produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília no período de 2010 a 2014.
Fechando o conjunto de textos da coletânea, Jonas Emanuel Magalhães é o autor do Capítulo 11: “Saberes docentes e epistemologia da prática: apontamentos críticos e possibilidades de investigação a partir do materialismo histórico-dialético”. Trata-se de estudo sobre conceitos que ganharam expressiva importância nos processos de formação inicial e continuada de professores nas últimas décadas, com base nas produções de vários autores, particularmente Maurice Tardif, principal referência sobre o tema no Brasil.
Uma primeira vertente de análise questiona se a ‘epistemologia da prática’ proposta por Tardif não estaria promovendo a secundarização da base científica necessária à formação docente, visto que “a produção de saberes da prática e pela experiência não implica necessariamente a compreensão efetiva dos fenômenos” (p. 204). Tendo em mente as categorias saber, ‘ação, interação, cultura e experiência’ propostas por Tardif (2002), o autor propõe o conceito de ‘consciência socioprofissional’, no qual o saber analítico sobre o trabalho se destaca, na sua historicidade, diferenciando-se do conceito de ‘consciência profissional’, proposto por Tardif.
Por fim, o Capítulo 12 traz a entrevista realizada com o historiador Fernando Penna, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, intitulada “Projeto Escola sem Partido: a ofensiva ultraconservadora contra o professor”.
As origens do movimento e sua ascensão nos últimos anos, particularmente quando se articulou a outros grupos reacionários, permitiram a Fernando Penna, destacar um aspecto de extrema relevância, isto é, o ódio direcionado à figura do professor, com fortes implicações para o esvaziamento da função docente. No plano legal, modelos de projetos de lei foram replicados pelo movimento, sendo aprovada a Lei Escola Livre, em Alagoas, alvo de ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A disputa, porém, não ocorre apenas no plano legal, mas, também, no plano ideológico, marcado por uma determinada concepção de ética profissional docente contrária à autonomia do professor. Diante disso, em tempos de trabalho docente sob fogo cruzado, a resistência precisará ser ativa, articulada e permanente.
Referências
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018. 325p. [ Links ]
MIRANDA, Luciana L. Subjetividade: a (des) construção de um conceito. In: SOUZA, Solange J. (org.) Subjetividade em questão: a infância como crítica da cultura. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000, p. 29-45. [ Links ]
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1977. [ Links ]
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. [ Links ]
Maria Inês Bomfim – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected]
(P)
Revista do Patrimônio. [Brasília], n.39, 2019.
- Trazer boas práticas de gestão turística em sítios patrimoniais implementadas pelo mundo afora constitui o objetivo central desta edição. O enfoque internacional proposto oferece ao leitor uma abordagem sobre conceitos e ações em curso em outras latitudes. Além disso, o debate e a reflexão feitos em espaços multilaterais ampliam os entendimentos quanto à necessidade de elaborar modelos de colaboração entre cultura e turismo, fomentando o desenvolvimento do turismo sustentável em bases culturais sólidas e de modo a trazer benefícios a todos.
Gestão turística em sítios patrimoniais: boas práticas internacionais
- Organização: Marcelo Brito
- Kátia Bogéa
- Apresentação 07
- Vale
Apresentação 14
- Marcelo Brito
Apresentação 17
- Zurab Pololikashvili
- Cultura e turismo como estratégias para o desenvolvimento sustentável 33
- Peter Debrine
- Estratégias para a gestão do turismo sob a perspectiva do patrimônio cultural Declarações de Siem Reap, Mascate e Istambul 43
- Celia Martínez Yáñez
- Carta Internacional de Turismo Cultural do Icomos de 1999: primeira aproximação para sua revisão e atualização 71
- Luís Araújo
- Revive: um progama que valoriza o patrimônio 91
- Paula Silva
- Desafios da gestão patrimonial e economia em Portugal 101
- Magali Da Silva
- A política de desenvolvimento do turismo cultural na França 117
- Miguel Ángel Troitiño Vinuesa e Libertad Troitiño Torralba
- Cidades patrimoniais e turismo: uma experiência espanhola 129
- António Ponte
- O papel dos centros interpretativos na comunicação do patrimônio 159
- Rosário Correia Machado
- A Rota do Românico em Portugal: experiência fundada na história 181
- Patricia Cupeiro López
- Paradores de Turismo na Espanha: modelo de gestão do patrimônio cultural 197
- Silvia Fernández Cacho e Ángel Muñoz Vicente
- Paisagem cultural, arqueologia e turismo: Enseada de Bolonia (Espanha) 215
- Cristina Escobar e Bettina Bray
- A valorização turística das Missões Jesuíticas do Paraguai 239
- Silvia Martínez
- O patrimônio cultural imaterial como ativo para o turismo sustentável 257
- Guadalupe Espinosa, Dayanara Carrasco Yépez e Natalia Vázquez Cerón
- A capacidade de carga na visitação turística de sítios arqueológicos no México 273
- César Augusto Angel Valencia
- Paisagem Cultural Cafeeira: turismo e revalorização da cultura e natureza 291
- Notas biográficas 308
Escravidão e Liberdade nas Américas / Estudos Históricos / 2019
No dia 02 de junho de 1888, duas semanas depois de abolida a escravidão, Angelo Agostini e Luiz de Andrade afirmavam que “Na vida do Brasil, nenhum fato se poderá comparar ao do dia 13 de maio do corrente ano. A própria independência, ao lado da escravidão, era como uma data velada, uma conquista clandestina. Hoje sim, o Brasil é livre e independente”. O entusiasmo dos editores da Revista Illustrada tinha uma razão faustosa: o Brasil finalmente abandonava a pecha de único país das Américas a manter a nefanda instituição, entrando assim para o rol das nações verdadeiramente livres e independentes.
Durante os anos subsequentes, o 13 de Maio foi comemorado como data máxima da liberdade nacional. Mas, assim como a independência parecia ser uma data velada, num país que mantinha a escravidão, a forma como a Primeira República festejou o Treze de Maio camuflou um sem-número de personagens e tramas que estiveram diretamente relacionados com a assinatura da Lei Áurea, bem como silenciou grande parte das violências e exclusões que marcaram os corpos e vidas de homens e mulheres cingidos pela escravidão. Tal silenciamento há muito era pauta de denúncias como a que foi feita em março de 1933 pelos dirigentes do jornal A Voz da Raça, um periódico “que se destinava à publicação de assuntos referentes aos negros”, posto que “as outras folhas, aliás veteranas, por despeitos políticos, tem deixado de o fazer”. Para os editores e jornalistas negros desse periódico, as comemorações da Abolição pareciam ter sentidos diversos daqueles apregoados por muitos abolicionistas que viam na liberdade o fim da escravidão, mas não enxergavam as dimensões do legado do escravismo.
A rememoração crítica dos 130 Anos da Abolição da Escravidão no dia 13 de maio de 2018 serviu como inspiração para o número 66 da Revista Estudos Históricos. No número que se propõe analisar Escravidão e Liberdade nas Américas, entramos em contato com pesquisas que consolidam e renovam a tradição historiográfica brasileira dos estudos sobre escravidão e Pós-Abolição, com destaque para as abordagens transnacionais ou “conectadas” que permitam reposicionar a agenda de investigações à luz de outras experiências no continente americano.
O número começa com o artigo de Ana Carolina Viotti, que, por meio de variado corpus documental, analisou a obrigatoriedade que recaía sobre os senhores no tocante à alimentação dos escravos no período colonial. A reconstituição de redes de compadrio em Minas Gerais na virada do século XVIII para a centúria seguinte é tema do artigo de Mateus Andrade, que por meio de estudos de demografia histórica demonstra a intrínseca relação entre a confirmação cotidiana da liberdade de indivíduos alforriados e o caráter sistêmico da escravidão na formação do Brasil. Outros significados de liberdade em meio ao mundo escravista e fronteiriço da região do Prata foram trabalhados por Hevelly Acruche, no contexto marcado pelas lutas de independência nos primeiros anos do século XIX. Partindo da política do Estado brasileiro, que, em consonância com os interesses da elite cafeicultura, retomou o tráfico transatlântico na ilegalidade após 1831, Walter Luiz Pereira e Thiago Campos Pessoa examinaram sujeitos e lugares do tráfico transatlântico no Sudeste do Brasil, que durante muito tempo foram silenciados pela historiografia. Por meio do exame de uma Ação de Liberdade movida por uma negra livre, vítima da prática ilícita de reduzir pessoas à escravidão, Virgínia Barreto demonstrou como a força da escravidão se fazia sentir, mesmo na vida de homens e mulheres negros que haviam nascido sob o signo da liberdade.
No sexto artigo, Alex Andrade Costa evidenciou, uma vez mais, como a escolha pela escravidão e a reabertura do tráfico transatlântico na ilegalidade (após 1831) envolveu uma série de autoridades públicas brasileiras. Numa proposta macroanalítica que parte da categoria de economia-mundo, Rafael Marquese apresenta como a escolha pela escravidão pode ser observada por meio de um novo regime visual da escravidão negra nas Américas, tomando os casos do Brasil cafeeiro e da Cuba açucareira como objetos de análise. No oitavo artigo, André Boucinhas utiliza corpus documental variado para examinar quais eram as condições de vida dos trabalhadores livres e escravizados da Corte imperial do Brasil na década de 1870. A criação em 1872 do Club Igualdad é o fio condutor por meio do qual Fernanda Oliveira avaliou a intrínseca relação entre a libertação de escravizados e a formação do Estado Republicano do Uruguai. No décimo artigo do dossiê, Juliano Sobrinho problematizou a participação do clero católico e presbiteriano na luta abolicionista nos últimos anos de vigência da escravidão brasileira.
As interfaces do abolicionismo transbordam as fronteiras nacionais no décimo primeiro artigo, no qual Luciana Brito examina a experiência de André Rebouças nos Estados Unidos marcado pelas políticas de segregação racial conhecidas como Jim Crow. No artigo seguinte, a trajetória de um consagrado (porém nem sempre lembrado) homem negro brasileiro – abolicionista, republicano e socialista – é o fio condutor que permite a Ana Flávia Magalhães Pinto revisitar as políticas de memória das pessoas livres do Brasil que viveram os últimos anos da escravidão e os primeiros tempos do Pós-Abolição. Por meio do exame interseccional do universo dos serviços domésticos, os sentidos de liberdade voltam a ser questionados no artigo de Natália Peçanha, que esmiúça os processos de criminalização das servidoras domésticas do Rio de Janeiro entre finais do século XIX e início do século XX. Tão importante quanto pensar e analisar sentidos e significados da escravidão e liberdade é examinar a produção da historiografia sobre tais questões. É exatamente esse o objetivo do décimo quarto artigo do dossiê, no qual Fabiane Popinigis e Paulo Terra examinam como a historiografia da História do Trabalho – mais especificamente o GT Mundos do Trabalho, associado à Associação Nacional de História (Anpuh) – tem dialogado com os estudos sobre escravidão e Pós-Abolição. Por fim, o último artigo da revista, escrito por Moiséis Pereira Silva, permite pensar na longa duração do legado escravista no Brasil, na medida em que se utiliza das denúncias de trabalho escravo na região no Amazonas em plena década de 1970 para conceituar o trabalho escravo contemporâneo.
As abordagens teórico-metodológicas, os usos de fontes e os jogos de escalas presentes nos quinze artigos que compõem este número da Revista Estudos Históricos demonstram que, nas Américas, a multifacetada experiência de escravidão foi aspecto estruturante do continente, ao mesmo tempo em que as lutas pela liberdade revelam os avessos desses mesmos lugares. Fica o convite para a leitura.
Referências
Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Revista Illustrada, ano 13, n. 499, p. 2, 1888.
Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. A Voz da Raça, ano 1, n. 1, p. 1, 1933.
Bernardo Borges Buarque de Hollanda – Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV). Editor da Revista Estudos Históricos. E-mail: [email protected]
João Marcelo Ehlert Maia – Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV). Editor da Revista Estudos Históricos. E-mail: [email protected]
Ynaê Lopes dos Santos – Professora da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV). Editora da Revista Estudos Históricos. E-mail: [email protected]
Os editores
HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de; MAIA, João Marcelo Ehlert; SANTOS, Ynaê Lopes dos. Editorial. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.32, n.66, jan. / abr.2019. Acessar publicação original [DR]
History Education and (Post)Colonialism. International Case Studies – POPP et al (IJRHD)
Susanne Popp. www.researchgate.net /

This anthology on colonialism discusses the reasons for its upcoming in different parts of the world as a fundamental contribution to the development of modern times, and the substantial impact the decolonization process has on the new modern era after World War II. In the introduction the editors make an overview of the content of the book, which has the following structure: Part 1: Two essays, Part 2: Three narratives, Part 3: Five debate contributions and Part 4: Three approaches.
The editors also present the fundamental problems in the study of colonialism and postcolonialism, and quote UN resolution 1514 from 1960: All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Consequently, one of the questions raised in education is to what extent actual history teaching in schools represents and communicates the items of colonization and decolonization as well in the former colonies and in the countries of colonizers. The process of globalization has in the last decades made this question urgently relevant and moreover inspired to formulate the question of culpability.
In the wake of decolonization and globalization, especially Europe and the US have experienced a migration movement, which inspire classes to reflect on questions of inequality, and the former subordinates right to travel to high developed countries. This challenge to the national history might lead to fundamental changes in syllabus and teaching, which prompt a focus more on global history and postcolonial studies. As the editors point out: history educationalists need to take the issue of the ‘decolonization of historical thinking’ seriously as an important task facing their profession.
It is not possible in this review to refer and comment all 13 contributions in detail. However, I will present a thematic discussion of the four parts.
In part 1 Jörg Fisch, professor of History, University of Zürich, Switzerland, discusses the concepts of colonization and colonialism. He presents and reflect on the conceptual development on from the Latin idea of ‘colere and colonus’, in the late renaissance changed into ‘colonialist and colonialism’. The last concept is ‘aimed at making political, economic, cultural and other gains at the cost of his competitors and is often consolidated into colonial rule.’ Whereas the colonus occupied contiguous territory, the colonialist thanks to his technological superiority conquered land distant from the colonizer’s own country. The result was foreign rule, which required a new theoretical basis: Francisco de Vitoria postulated in 1539 that all peoples had the right to free settlement, trade and free colonization.
Another theory was that the indigenous populations had the right to be fully sovereign. Above those two theories, raw power was to decide to what extent the one or the other should be respected, if any of them. When the national state in the 19th century came into being in Europe and when ideas from the French Revolution gained impact in the Americas, independence was the answer. But this was not the end of colonialism which developed in the same period in the not yet unoccupied areas of Asia and Africa. Colonies became in the period from 1850 to 1914 part of European based empires divided between the big powers at the conference in Berlin in 1884-85. The process was called imperialism. World War I changed this development fundamentally, Germany lost all its colonies and the indigenous elite in the colonies began to question their subaltern status. After World War II the process of decolonization began, and the concept of anticolonization gained momentum in the aforementioned UN declaration form 1960. As Fisch underlines, the postcolonial world was not synonymous with a just world. In ‘Colonialism: Before and After’ Jörg Fisch has written a well-structured presentation of the main lines of this complex phenomenon and the conceptual development. His article is an appropriate opening to the following chapters in the anthology.
Jacob Emmanuel Mabe, born and raised in Cameroon, now a permanent visiting scholar at the French Center of the Free University of Berlin, has written a chapter on: ‘An African Discourse on Colonialism and Memory Work in Germany’. His aim is to demonstrate the significance of the concept of colonialism in intellectual discourse of Africans and to show how the colonial question is discussed in Germany.
It was the intellectuals among the colonial peoples who formed the critical discourse against European colonial rule in Africa, which Mabe calls a ‘ruthless territorial occupation’. The first materialization of this opposition to European rule was the formation of the ‘Pan- African Movement’ maybe inspired by the US-based initiative: ‘Back to Africa Movement’, which culminated in the founding of the Republic Liberia in 1879. On African soil, however in the interwar years a new concept was developed by especially Leopold Sédar Senghor, who was to become one of the most dominant voices among African intellectuals. He and his followers used the concept ‘Negritude’ and the aim was to create a philosophical platform for the promotion of the African consciousness by means of a literary current, a cultural theory and a political ideology. Mabe gives a short description of the reasons for the many barriers for the fulfilment of Senghor’s program.
Mabe ends his article with a discussion of the German attitudes to its colonial past. When the decolonizing process took off after World War II, the Germans were mentally occupied with the Nazi-guilt complex, which in comparison to the regret of the brutal treatment of the Africans, was much more insistent. Nonetheless, Mabe indicates that researchers of the humanistic tradition in the two latest decades have ‘presented some brilliant and value-neutral studies which do justice do (to) both European and, in part African epistemic interest. However, a true discipline of remembering which is intended to do justice to its ethics and its historical task can only be the product of egalitarian cooperation between African and European researchers.’ Florian Wagner, assistant professor in Erfurt, ends his chapter with a presentation of African writers in modern post-colonial studies. In competition with the USSR Western historians invited African writers to contribute to a comprehensive UNESCO publication on the development of colonialism. Wagner’s aim is to underline that transnational historiography of colonization is not, as often has been thought, a modern phenomenon, but has been practiced by European historians over the last century. His main point is that although nationalism and colonialism went hand in hand, transnational cooperation in the colonial discourse has been significant. It is an interesting contribution, which partly is a supplement to the chapter of Fisch according to use of concepts about the colonial development. It brings a strong argument for the existents of a theoretical cooperation between the European colonial masters, notwithstanding their competitive relations in other fields.
This statement can give the history teacher a new didactical perspective, as Wagner emphasizes in his conclusion: ‘Colonialism can provide a basis of teaching a veritable global history – a history that shows how globality can create inequality and how inequality can create globality.’ Elize van Eeden, professor at the South West University, South Africa, has written a chapter on: ‘Reviewing South Africa’s colonial historiography’. For more than 300 years South Africa has had shifting colonial positions, and consequently the black and colored people had to live as subalterns. The change of government in 1994 also gave historians in South Africa new possibilities, although the long colonial impact was difficult to overcome. For a deeper understanding of this post-colonial realities it is important to know African historiography in its African continental context. Elize van Eeden’s research shows that the teaching in the different stages of colonialism plays a minor role in university teaching. Therefore, new research is needed, exploiting the oral traditions of the subaltern people, and relating the local and regional development to the global trends. As van Eeden points out: ‘A critical, inclusive, comprehensive and diverse view of the historiography on Africa by an African is yet to be produced.’ Van Eeden’s contribution gives participant observers insight into especially South Africa’s historiography and university teaching and provide a solid argument for the credibility of the former quotation.
In the third chapter on narratives, written by three Chinese historians: Shen Chencheng, Zhongjie Meng and Yuan Xiaoqing: ‘Is Synchronicity Possible? Narratives on a Global Event between the Perspectives of Colonist and Colony: The Example of the Boxer Movement (1898-1900)’, the aim is to discuss the didactical option partly by including multi-perspectivity in teaching colonialism and multiple perspectives held by former colonies and colonizers, instead of one-sided national narratives, partly teaching changing perspectives, instead of holding a stationary standpoint. Another aim is to observe ‘synchronicity of the non-synchronous’ inspired by the thinking of the German philosopher Reinhard Koselleck. The chapter starts with a short description of the Boxer War, which forms the basis for an analysis of the presentation of the war in textbooks produced in China and Germany, i.e. colony and colonizer. Then the authors provide an example to improve synchronicity in teaching colonialism, followed by didactic proposals.
The Boxer War ended when a coalition of European countries conquered the Chinese rebellions and all parties signed a treaty. Germany in particular demanded conditions which humiliated the Chinese. This treaty is of course important, however at the same time, one of the Boxer-rebels formulated an unofficial suggestion for another treaty, which had the same form and structure as the real treaty, however, the conditions war turned 180 degrees around, for example, it forbade all foreign trade in China. The two treaties were in intertextual correspondence and expressed the demands of the colonizer and the colonized. The question is whether the xenophobic Boxers in fact were influenced by western and modern factors or whether the imperialistic colonizers were affected by local impacts of China? The ‘false’ treaty was used as a document in the history examination in Shanghai in 2010, with the intention of giving the students an opportunity to think in a multi-perspective way, and to link the local Chinese development to a global connection. Nonetheless, the didactical approaches in history teaching in schools are far behind the academic state of the art. It is an interesting contribution to colonialism, but it is remarkable that the authors do not use the concept of historical thinking.
In the third part of the anthology, there are five contributions. Raid Nasser, professor of Sociology, Fairleigh Dickinson University, discusses the formation of national identity in general and its relations to cosmopolitanism. The idea of a global citizenship conflicts with nationalism and the differentiations according to social, economic and ethnic divisions, and Kant is challenged by Fanon.
Nasser’s own research concerns the history textbooks in the three counties where the state has a decisive say in determining the content of those books and therefore it might have a decisive influence on the identity formation of the pupils, in this case from the year four to twelve. How much room is there for cosmopolitanism? This is a question which Nasser has thoroughly addressed in this chapter.
Kang Sun Joo, professor of Education, Gyeongin National University South Korea, discusses the problems with the focus on nation-building in the history teaching in former colonies and the need for new ‘conceptual frames as cultural mixing, selective adoption and appropriation.’ She gives an interesting view on the conformity of western impact on Korean history education.
Markus Furrer, professor of History and History Didactics, teacher training college Luzern, examines post-colonial impact on history teaching in Switzerland after World War II. He has the opinion that we all live in a post-colonial world, including countries with no or only a minor role in colonial development. He emphasizes that there are ‘two central functions of post-colonial theory with relevance to teaching: (1) Post-colonial approaches are raising awareness of the ongoing impact and powerful influence of colonial interpretive patterns in everyday life as well as in systems of knowledge. (2) In addition, they enable us to perceive more clearly the impact of neo-colonial economic and power structures.’ He analyzes six Swiss textbooks and concludes that there is a need in this regard for teaching materials which enable students to understand and interpret the construction and formation process which eventually end with ‘Europe and its others’.
Marianne Nagy, associate professor of History, Karoli Gáspar University, Budapest, has made an examination of history textbooks used in Hungary in 1948-1991 on the period between 1750 and 1914 when Hungary was under Austrian rule. This is an examination of Hungary’ s colonial status seen from a USSR- and communistinfluenced point of view. In the communist period only one textbook was accepted, and in this book, Austria was perceived as a kind of colonial power which controlled Hungary for its own benefit. The communist party had the intention to present Habsburg rule in a negative light, with the wish to describe Hungary’s relation to USSR as a positive contrast. Today the Orbán-led country uses the term colony in relation to the EU.
Terry Haydn, professor of Education, University of East Anglia, has made an explorative examination of how ‘empire’ is taught in English schools. His findings are somewhat surprising. In the history classes of the former leading colonizing country, most schools taught ‘empire’ as a topic, however with emphasis on the formative process of colonization and not ‘the decline and fall’. Haydn has with this short study focused on an item which should be the target of more comprehensive research.
The last three chapters concern the teaching of colonialism in a post-colonial western world. Philipp Bernard, research assistant at Augsburg University in Germany, discusses the perspectives in teaching post- against colonial theory and history from below. His basic assumption is that: ‘No region on the earth can evade the consequences of colonialism’, therefore, ‘A post-colonial approach emphasizes the reciprocal creation of the colonized and the colonizers through processes of hybridization and transculturation.’ The aim of teaching, in this case in the Bavarian school, is to achieve decolonization of knowledge. The author gives interesting reflections from his teaching which could be of inspiration in the schools both of colonized and colonizing countries.
Dennis Röder, teacher of History and English in Germany, writes about ‘visual history’ in relation to the visual representation of Africa and Africans during the age of imperialism. The invention of the KODAK camera in 1888 brought good and cheap pictures, which could be printed and studied world-wide. Soon those pictures could be used in education, and thereby history teaching got a new dimension, and a basis for critique of the white man’s brutal treatment of the natives. These photos were used in the protests against Belgian policy in Congo. Röder emphasises that the precondition for the use of photos as teaching material is the need for some methodological insight both on behalf of the pupils and students. Moreover, it is important to select a diverse collection of photos so that all sides of life in the colonies are represented. Then it would be possible to make a ‘step toward the visual emancipation and decolonization of Africans in German textbooks.’
Karl P. Benziger, professor of History, State University of New York, College at Fredonia, in the last chapter of the anthology has reflected on the interplay between the war in Vietnam as a neocolonial enterprise and the fight for civil rights in the US. Benziger discusses different approaches to teaching those items in high schoolclassrooms. An interesting course was staged as a role play on the theme: The American war in Vietnam. The purpose of the exercise was ‘to develop students’ historical skills through formulating interpretations and analyses based on multiple perspectives and competing narratives in order to understand the intersection between United States foreign and domestic policy from a global perspective.’
The editorial team should be acknowledged for its initiative. The anthology could be perceived as a didactical patchwork which gives inspiration to new research in the subject matter as well as innovations in history didactics. The current migration moveme would prompt to include colonialism and post-colonialism in history teaching and moreover these aspects are part of any pupil’s/student’s everyday life.
Harry Haue
[IF]
Mundo Luso-brasileiro: relações de poder e religião / Revista Eletrônica História em Reflexão / 2019
Com o propósito de contribuir para uma maior discussão sobre temáticas atinentes às relações de poder e religião na construção do mundo luso americano, lançamos esse Dossiê trazendo quatro artigos reflexivos sobre a imposição dos padrões de comportamento e da mentalidade católica sobre povos conquistados, especificamente indígenas da América portuguesa e africanos escravizados em diáspora pelo mundo atlântico, seja mediante a desterritorialização ou a catequese geridas pelos jesuítas, ou por administradores dos interesses políticos da Coroa.
Os quatro artigos compositores deste Dossiê recobriram os séculos de colonização da América portuguesa, tratando especificamente de relações de dominação que tiveram lugar no Rio Grande do Norte e Ceará, bem como a rota diaspórica de africanos escravizados pelos portugueses.
Os dois primeiros artigos abordam a política de desterritorialização indígena no Nordeste, sendo que um deles tratando das chamadas guerras justas, no século XVI, mostra-nos o avanço e a dominação lusitana no sertão; o outro, situado temporalmente mais à frente, analisa a mesma estratégia da Coroa, ao transformar antigos aldeamentos missionários jesuítas em vilas, a partir da implantação do chamado Diretório pombalino.
No sentido também da submissão aos conquistadores, porém com um pano de fundo mais ideológico catolicizante, os outros dois artigos abordam o papel da Igreja, seja mediante a educação jesuítica com as Casas de Bê-á-bá ou a pedagogia do medo praticada pelo Santo Ofício na conversão de africanos escravizados submetidos ao poder de senhores seja em Portugal, seja na América portuguesa.
Com esses artigos inéditos, fruto do trabalho de pesquisa de historiadores de excelência, constatamos os mecanismos de destruição de povos, etnias em nome de uma supremacia religiosa e um poder político impositivo.
Esperamos que a leitura seja leve, fluida e, sobretudo, construtora de um conhecimento humanista indispensável na edificação de um mundo melhor.
Suzana Maria de Sousa Santos Severs – Professora Doutora
Marco Antônio Nunes da Silva – Professor Doutor
SEVERS, Suzana Maria de Sousa Santos; SILVA, Marco Antônio Nunes da. Apresentação. Revista Eletrônica História em Reflexão. Dourados, v. 13, n. 25, jan. / jun., 2019. Acessar publicação original [DR]
Cultura e educação na América Portuguesa / Revista de História e Historiografia da Educação / 2019
Este dossiê temático é fruto dos trabalhos apresentados no IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa, que aconteceu em junho de 2018, na cidade de Diamantina, MG. Patrocinado pelo Grupo de Pesquisa Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos (CEIbero) e pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com o apoio financeiro da CAPES, o evento tentou agregar pesquisadores que tratam de temáticas correlatas à educação no período colonial brasileiro. É importante salientar que este é um período ainda pouco explorado no campo da História da Educação. Talvez a dificuldade maior apresentada ao historiador da educação seja a habilidade na leitura documental, mas soma-se também uma perspectiva de seus interesses se aproximarem de uma temporalidade mais próxima da atualidade, além da forte tendência e preocupação de restrição das pesquisas à análise do período da ampliação da escolarização brasileira e, consequentemente, a valorização de investigação de instituições escolares. Neste dossiê apresentamos a história de instituições e práticas educativas, na maioria caracterizada como não escolar, uma vez que o período colonial foi marcado por poucas estratégias escolares para a maioria da população que habitava a América Portuguesa.
Dentro da perspectiva da história da educação confessional feminina, iniciamos o dossiê pelo artigo de minha autoria, intitulado Documento, interpretação e representação: os anos iniciais da Casa de Oração do Vale de Lágrimas, Vila de Minas Novas, 1754. Neste artigo busco analisar um conjunto documental que trata da história de uma instituição que poderia ser caracterizada enquanto Recolhimento aos olhos do arcebispo baiano Dom José Botelho de Matos, porém, tanto as mulheres que habitavam a referida casa, quanto a população local tentavam convencê-lo de que lá era apenas um espaço de ensino. O documento representa uma intencionalidade local de enganar o religioso e não deixar que a instituição passasse a ser controlada pelo arcebispado, caso fosse caracterizada como um recolhimento feminino.
A seguir apresentamos o artigo de Breno Leal Ferraz Ferreira, A crítica a “tudo quanto apresenta um caráter de fabuloso” nas memórias de Alexandre Rodrigues Ferreira redigidas na Viagem Filosófica (1783-1792). O autor analisa a crítica ilustrada do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) acerca das narrativas fabulosas sobre a América. Durante as suas viagens filosóficas pelas Capitanias do Grão Pará, Rio Negro e Mato Grosso, o naturalista, formado na Universidade de Coimbra, narrou as suas experiências com os povos indígenas da América Portuguesa.
No artigo Política, Instrução Pública e Civilização: um exercício de pesquisa a partir dos Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais, Danilo Araújo Moreira analisa uma documentação muito utilizada pelos historiadores da educação, especialmente por aqueles que tratam das questões políticas e da legislação que rege a educação, porém o autor se detém na análise dos discursos e das representações que foram construídas no processo de constituição do Império brasileiro acerca dos valores da instrução, do letramento e da formação escolar. Para a compreensão deste período histórico busca interligar com a educação pública do período colonial, especialmente a partir da Reforma Pombalina e a instituição das Aulas Régias em 1759.
De autoria de Fernando Cezar Ripe da Cruz somos brindados com o artigo “O perfeito Pedagogo”: análise de um manual pedagógico português que ensina regras de civilidade e de urbanidade cristã (Portugal, século XVIII). Neste trabalho, o autor apresenta a análise do referido manual, destinado a orientar pais e mestres na educação dos seus respectivos filhos e discípulos, especialmente a partir da constituição discursiva da infância para o período analisado.
A educação não escolar é o fio condutor do artigo de Leandro Gonçalves de Resende, intitulado Educação em oração: os processos educativos não escolares na Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará – século XVIII e XIX. O autor busca analisar elementos artísticos, religiosos e educacionais presentes nas igrejas da referida Vila. A religiosidade cotidiana e local passava então pela intencionalidade de formar bons e fiéis cristãos, além de bons e leais súditos do reino português.
Ludmila Machado de Oliveira Torres apresenta a perspectiva educativa por meio dos ofícios mecânicos. No artigo Entre livres e cativos: aprendizagem de ofício mecânico na Vila Real de Sabará (1735-1829), a autora analisa uma diversidade de documentos (como autos de contas de tutoria e inventários post-mortem) para compreender como ocorria a aprendizagem de determinados ofícios: alfaiate, ferreiro, sapateiro, etc.
Educação e filosofia moral na obra do padre Teodoro de Almeida (1722-1804) é o artigo proposto por Patrícia Govaski, no qual apresenta algumas considerações a respeito das discussões em torno da Filosofia Moral em Portugal na segunda metade do século XVIII, além da visão acerca deste tema proposta pelo padre oratoriano Teodoro de Almeida (1722-1804).
No artigo Práticas educativas das elites coloniais na Capitania de Minas Gerais. Desafios metodológicos, de Talítha Maria Brandão Gorgulho, somos contemplados pela análise de preceitos educativos que aumentariam, manteriam e perpetuariam privilégios das elites locais. O artigo propõe ainda definir o conceito de educação para o período estudado, bem como a análise de fontes e a reflexão metodológica à luz de alguns conceitos propostos por Pierre Bourdieu.
Finalizamos este dossiê com o artigo apresentado por Vanessa Cerqueira Teixeira, intitulado A devoção mercedária e o associativismo leigo no setecentos mineiro. Neste artigo, a autora busca analisar o caráter educativo das irmandades católicas, seus interesses e devoções a partir de uma determinada santa, Nossa Senhora das Mercês, protetora de 20 associações leigas de pretos crioulos nas Minas setecentistas.
Este dossiê é marcado pela diversidade de pesquisas acerca das práticas educativas que circulavam em Portugal e na América Portuguesa, desde a proposta de manuais de instrução, até perspectivas de educação escolar, não escolar, pública ou confessional. Desejamos que a leitura dos artigos possa contribuir para o fortalecimento de novas pesquisas no campo da História da Educação para um período histórico que ainda tem muito a ser estudado.
Ana Cristina Pereira Lage
LAGE, Ana Cristina Pereira. Apresentação. Revista de História e Historiografia da Educação. Curitiba, v. 3, n. 7, jan. / abr., 2019. Acessar publicação original [DR]
Dimensão turística no Brasil e Região Sul Oportunidades e desafios para a gestão patrimonial/Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 2019
Trazer à luz o tema do turismo na perspectiva do patrimônio foi um interessante desafio. O objetivo central desta edição é abordar essa relação, favorecendo uma leitura instigante tanto para aqueles que se debruçam sobre a gestão patrimonial quanto para profissionais do turismo.
No Brasil, diante das incipientes iniciativas de promoção do turismo cultural a partir do nosso acervo patrimonial, ainda se vê a necessidade de estabelecer uma aliança efetiva entre os campos da preservação e da atividade turística, de entendimentos distintos. Busca-se, assim, construir parâmetros comuns que orientem o setor, potencializando dinâmicas que articulem aspectos econômicos, sociais, territoriais e culturais, de modo a resultar em uma experiência agradável, prazerosa e enriquecedora para o visitante, sem provocar danos no bem preservado. Leia Mais
Gestão turística em sítios patrimoniais: boas práticas internacionais | Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 2019
Trazer boas práticas de gestão turística em sítios patrimoniais implementadas pelo mundo afora constitui o objetivo central desta edição. O enfoque internacional proposto oferece ao leitor uma abordagem sobre conceitos e ações em curso em outras latitudes. Além disso, o debate e a reflexão feitos em espaços multilaterais ampliam os entendimentos quanto à necessidade de elaborar modelos de colaboração entre cultura e turismo, fomentando o desenvolvimento do turismo sustentável em bases culturais sólidas e de modo a trazer benefícios a todos. Leia Mais
Revista do Patrimônio. [Brasília], n.40, 2019.
- Trazer à luz o tema do turismo na perspectiva do patrimônio foi um interessante desafio. O objetivo central desta edição é abordar essa relação, favorecendo uma leitura instigante tanto para aqueles que se debruçam sobre a gestão patrimonial quanto para profissionais do turismo.
Dimensão turística no Brasil e Região Sul Oportunidades e desafios para a gestão patrimonial
Organização: Marcelo Brito
- Kátia Bogéa
Apresentação 07
- Vale
- Apresentação 14
- Marcelo Brito
- Apresentação 17
- Marcelo Brito
- A certificação de destinos patrimoniais na qualificação do turismo cultural no Brasil 31
- Márcia Sant’Anna
- A cidade-atração: o patrimônio como insumo para o turismo 57
- Cláudia Sousa Leitão e Luciana Lima Guilherme
- Patrimônio cultural e economia criativa nas cidades brasileiras 73
- Margarita Barretto
- Legado cultural, museus e turismo 95
- Equipe BNDES
- Turismo cultural: desenvolvimento em cidades históricas 125
- Christiana de Saldanha da Gama de Moura
- Patrocínio e turismo cultural: uma conexão 149
- Ivane Maria Remus Fávero
- O Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha: uma paisagem cultural por reconhecer 171
- Margareth de Castro Afeche Pimenta
- Santa Catarina: entre regiões e paisagens culturais 191
- Adonai Aires de Arruda Filho
- A Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba: uma experiência inesquecível 219
- José Roberto de Oliveira
- A região missioneira: patrimônio e turismo cultural 237
- Edson Humberto Néspolo
- Patrimônio cultural e turismo rural em Gramado 261
- Susana Gastal e Ana Maria Costa Beber
- Modos de vida e comida: tramas da italianidade em Antônio Prado 275
- Jakeline Zampieri
- Santa Felicidade: território para o turismo cultural 303
- Betina Adams
- Territórios patrimoniais como atrativos turísticos: freguesias de Santo Antônio de Lisboa e do Ribeirão da Ilha 319
- Beatriz Araujo e Paula Schild Mascarenhas
- Turismo de base comunitária: tradição doceira de Pelotas 341
- Gladys Dinah Sievert
- Rota do Enxaimel: patrimônio e turismo em Pomerode 359
Notas biográficas 374
Revista Brasileira de História da Mídia. São Paulo, v.8, n.2, 2019.
Expediente/Sumário
- Expediente
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
Editorial
Dossiê temático: A mídia e os estratos do tempo (v. 8, n. 2, 2019)
- Entre memória e esquecimento: As temporalidades da história, das medias e das experiências
- Roger Chartier
- Tempos midiáticos: passado, presente e futuro em modos narrativos
- Marialva Carlos Barbosa
- Visões do Tempo: reflexões sobre as representações do tempo
- Patricio Dugnani
- O desenvolvimento da TV no Nordeste: um estudo sobre o início da televisão no Rio Grande do Norte
- VALQUIRIA APARECIDA PASSOS KNEIPP, Francisco das Chagas Sales Júnior
- Representatividade negociada: Feminilidade, raça e gênero na publicidade
- Marcelle Barreto Felix
- Comunicação e Movimentos sociais contemporâneos: um panorama analítico a partir das categorias da totalidade e da contradição
- Leila Salim Leal
- Batuque na cozinha a sinhá não quer: imprensa, cultura e religiões afrobrasileiras
- Silvana Louzada
- Artigos Gerais
- MÍDIA E REVOLUÇÃO EM PORTUGAL: DISCURSO E PODER NO BOLETIM “MOVIMENTO” (1974-1975)
- Adriano Lopes Gomes
- A experiência dos jornais Folha de São Borja (BR) e Unión (AR) como jornais interioranos e fronteiriços
- Heleno Rocha Nazário, Beatriz Corrêa Pires Dornelles
- Tecnologia, Economia, Regulação e a Audiência: uma perspectiva sobre as origens da rádio
- António Machuco Rosa
- TV UFSC – Considerações sobre a gestão de uma televisão pública em Santa Catarina
- Cárlida Emerim, Fernando Antonio Crocomo
- Imprensa homossexual no Brasil na década de 1970
- Paulo Roberto Souto Maior Júnior
- Pequena imprensa em disputa: uma análise dos jornais Folha de Ituiutaba e do Correio do Triângulo(1964)
- Caio Vinicius de Carvalho Ferreira
Entrevistas
- Práticas de leitura, plataformas digitais e dimensões do tempo: entrevista com Roger Chartier
- Karina Janz Woitowicz
Revista Brasileira de História da Mídia. São Paulo, v.8, n.1, 2019.
Expediente/Sumário
Expediente
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
Editorial
- Editorial
- Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
Artigos Gerais
- A publicidade como ação coletiva: agências, modelos de negócios e campos profissionais
- Everardo Pereira Guimarães Rocha, Bruna Santana Aucar
- O que são, afinal, os media?
- Adriano Duarte Rodrigues
- Em busca de um conceito pretérito de Jornalismo
- Franco Iacomini Junior, Tarcis Prado Junior, Moisés Cardoso
- Uma apostila de Teoria da Comunicação de 1970: esboço de uma micro-história do pensamento teórico da Área
- Luis Mauro Sa Martino
- Para una revisión de las tesis sobre el melodrama: amor maternal y anarquismo en “La ley que olvidaron” de José Agustín Ferreyra (Argentina, 1937).
- Mirta Varela
- PDF (ESPAÑOL (ESPAÑA))
- A literatura como acontecimento jornalístico na imprensa paraense
- Lívea Pereira Colares da Silva, Netília Silva dos Anjos Seixas
- A formação da imprensa pentecostal no Brasil: um olhar a partir da Casa Publicadora das Assembleias de Deus¬ (CPAD) – 1930-1970
- André Dioney Fonseca
- Cartões Telefônicos como fontes para a Pesquisa Histórica: Possibilidades de pesquisa em Cultura Visual
- Eduardo Cristiano Hass da Silva
- Bases históricas para os modelos de programação das rádios universitárias públicas
- Nísio Teixeira, Rafael Medeiros
- O invencível exército de Hitler: propaganda de guerra alemã e imprensa periódica em Santa Catarina, durante a Segunda Guerra Mundial.
- Wilson de Oliveira Neto
Women as Foreign Policy Leaders: National Security and Gender Politics in Superpower America – BASHEVKIN (REF)
BASHEVKIN, Sylvia. Women as Foreign Policy Leaders: National Security and Gender Politics in Superpower America. Oxford: Oxford University Press, 2018. Resenha de: SALOMÓN, Mónica. La política exterior ya no es cosa de hombres. Revista Etudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
¿En qué medida las mujeres que ocupan altos cargos en el poder ejecutivo representan a las mujeres como un todo o categorías específicas de mujeres? ¿Qué nos dice el desempeño de mujeres con responsabilidad en la conducción de la política exterior y de seguridad de sus países – y, específicamente, de los Estados Unidos – en relación a la discusión sobre la supuesta mayor disposición al pacifismo de las mujeres en comparación con los hombres? ¿Las decisiones de esas mujeres son evaluadas con los mismos criterios habitualmente empleados para juzgar a sus homólogos masculinos?
Women as Foreign Policy Leaders avanza en las respuestas a esas y a otras instigadoras preguntas centrales en las discusiones del campo de conocimiento de género y política y en sus intersecciones con otras áreas, como los estudios sobre seguridad internacional, la historia diplomática o el análisis de política exterior. Lo hace a través del estudio de las trayectorias vitales y políticas de cuatro mujeres que ocuparon altos puestos diplomáticos en los Estados Unidos: Jeane Kirkpatrick, embajadora ante la ONU durante la administración Reagan; Madeleine Albright, primera embajadora ante la ONU y luego secretaria de estado con Bill Clinton; Condolezza Rice, consejera de seguridad nacional en el primer mandato de George W. Bush y secretaria de estado en el segundo mandato y por último Hillary Clinton, secretaria de estado en el gobierno Obama. Leia Mais
Pedagogías y políticas – KOROL (RES)
KOROL, Claudia. Feminismos populares: Pedagogías y políticas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo; Editorial Chirimbote; America Libre, 2016. Resenha de: PAULA, Thaís Vieira de; GALHERA, Katiuscia Morena. Feminismos plurais: a América Latina e a construção de um novo feminismo. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
Lançado em 2016, na Argentina, com o apoio da Fundación Rosa Luxemburgo e com fundos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, o livro é resultado de diversos âmbitos de esforços coletivos. Pautado no feminismo latino-americano, expresso livremente e a partir de experiências plurais concretas, a obra compila escritos organizados por Claudia Korol a partir de diversas organizações de base. Em comum, o livro e as organizações de base têm a preocupação com a vocalização de experiência de mulheres do Sul Global. A partir de feminismos populares na América Latina e, em menor medida, de outros países do Sul, vozes subalternizadas de movimentos de mulheres locais, comunitárias, populares, bolivarianistas, indígenas e de luta pela terra, dentre outras pautas, são mobilizadas.
São diversas as correntes feministas que permeiam o livro: há, por exemplo, tanto o feminismo liberal que percebe na aprovação de leis pelo Congresso o processo acertado de conquista de direitos, quanto o feminismo construtivista que pauta a necessidade do entendimento do contexto cultural e como influencia na construção social do objeto. Há, ainda, feministas que bebem de diversas correntes para montar sua ação: o caso da feminista marxista que se apoiou no Congresso para o avanço de direitos de pessoas transexuais, ou seja, a militante se apoiou em repertórios políticos dos feminismos liberais e dos transfeminismos, embora se identifique como marxista. Leia Mais
Linguagens pajubeyras: re(ex)istência cultural e subversão da heteronormatividade – LIMA (REF)
LIMA, Carlos Henrique Lucas. Linguagens pajubeyras: re(ex)istência cultural e subversão da heteronormatividade. Salvador: Devires, 2017. Resenha de: OLIVEIRA, João Manuel de. Performatividade Pajubá. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, Florianópolis, 2019.
Este livro, editado pela Devires, que no panorama editorial brasileiro tem sido vital para sustentar e fomentar uma cultura de literatura e ensaio queer, é um marco no pensamento sobre subversão da heteronormatividade que poderíamos chamar de kuir/queer. Carlos Henrique Lucas Lima, autor da obra, recorre ao termo queer, sem o manter acriticamente. Toda a obra é precisamente uma celebração, de formas de resistir culturalmente, de torcer a norma e ressignificá-la, de produzir uma teoria e prática torcidas.
Carlos Henrique Lucas Lima é professor na Universidade Federal do Oeste da Bahia e escreveu este livro como resultado do seu doutoramento em Cultura e Sociedade na Universidade Federal da Bahia e fez esse trabalho no CuS, Cultura e Sexualidades, recentemente constituído como núcleo de pesquisa. Com formação inicial em Letras e História da Literatura, o seu olhar simultaneamente interdisciplinar e indisciplinar ajuda a entender algumas das propostas intrincadas deste texto híbrido que a editora Devires publicou. Leia Mais
Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección – MIGUEL (REF)
MIGUEL, Ana de. Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección. Madrid: Ediciones Cátedra/Universidad de Valencia, 2016. Resenha de: ALVES, Ismael Gonçalves. Neoliberalismo sexual: o mito e a sedução da liberdade nas sociedades formalmente igualitárias. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
Nas últimas décadas temos presenciado no mundo ocidental a proliferação de um conjunto sincrônico de discursos afirmando que as desigualdades e a falta de liberdade das mulheres seriam condições já superadas. Tal realidade teria sido alcançada pela ratificação de legislações que supostamente garantiriam em diversos âmbitos da vida pública, e também privada, a paridade social, econômica, política e cultural entre os sexos. Baseadas nesse axioma, as mulheres estariam aptas a adentrar sem restrições nos mundos do trabalho, a controlar livremente seus corpos e suas sexualidades, além de dividir de forma equânime com os homens as tarefas domésticas e de cuidados. Para os artífices de tais prédicas, as sociedades democráticas contemporâneas teriam chegado a tal nível de igualdade formal que o movimento feminista, como teoria e práxis, já não justificaria mais sua existência, tornando-se, assim, uma peça obsoleta e antiquária, digna apenas de um velho gabinete de curiosidades do século XIX.
Dessa forma, tocadas pelas luzes da liberdade neoliberal, as mulheres do século XXI seriam suficientemente autônomas para fazer suas escolhas e desbravar um mundo totalmente igualitário. De acordo com Nancy Fraser (2015), o discurso neoliberal que atualmente enreda nossas vidas ancora-se na premissa de que as relações sociais contemporâneas estão fundamentadas na livre escolha, nas trocas entre iguais e, sobretudo, nas conquistas meritocráticas, fechando os olhos para as desigualdades estruturantes que cuidadosamente foram questionadas por grupos subalternos. Nesse cenário de suposta autodeterminação, patriarcado e neoliberalismo se retroalimentam por meio de mecanismos em que a violência já não se exerce mais na forma legislações discriminatórias, mas é também fomentada por uma poderosa indústria cultural, que transforma tudo em mercadoria, inclusive os corpos e as sexualidades das mulheres. Leia Mais
Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas – ARANGO GAVIRIA et al (REF)
ARANGO GAVIRIA, Luz Gabriela; AMAYA URQUIJO, Adira; PÉREZ BUSTOS, Tania; PINEDA DUQUE, Javier. Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 2018. Resenha de: GASCA, Ells Natalia Galeano. La dimensión política del cuidado Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
El libro Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas contiene reflexiones sobre la interrelación entre las categorías de género y cuidado desde diferentes perspectivas. La edición académica a cargo de Luz Gabriela Arango, Adira Amauya, Tania Pérez Bustos y Javier Pineda Duque resulta de un esfuerzo interinstitucional entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes de Bogotá. Se abordan debates teóricos y aportes empíricos derivados de investigaciones de autoras/es adscritas/os a distintas instituciones alrededor del mundo, lo que permite vislumbrar cómo el fenómeno del cuidado mantiene ciertas continuidades en el nivel doméstico, local y global. Las aportaciones contribuyen a entender cómo la categoría de cuidado tiene un potencial político de importancia, sobre todo en lo referente a la necesidad de encontrar formas de relación más justas y equitativas, desde los espacios micro sociológicos que afectan la vida cotidiana, hasta los macro sociales que afectan a los colectivos.
El libro se encuentra divido en tres secciones: “Ética y ethos del cuidado”, “Escenarios y significados del trabajo del cuidado” y “Organización social del cuidado y política pública”. El primer capítulo, de autoría de Joan Tronto, es titulado “Economía, ética y democracia: tres lenguajes en torno al cuidado”. La autora hace una reflexión ética desde la óptica del cuidado, vinculando aspectos relativos a la democracia. Igualmente, reflexiona sobre las atribuciones inequitativas de responsabilidades de cuidado y las asocia con las desigualdades de poder, expresadas en la clase social, la raza, la etnicidad, la sexualidad, entre otras diferencias. Aquí, la autora tipifica diversas formas de exención de las responsabilidades. Su enfoque intenta evitar que, al considerar la dimensión ética, se dejen de lado las preocupaciones sociales y estructurales, intentando tener presentes las dimensiones morales y las asociadas a la economía del cuidado. En este sentido, considera que es importante enmarcar el cuidado de manera que nadie se entienda ni totalmente dependiente, ni totalmente autónomo. Leia Mais
Ambulare – PRADO (REF)
PRADO, Marco Aurélio Máximo. Ambulare. Belo Horizonte: PPGCOM UFMG, 2018. Resenha de: COACCI, Thiago. Como funciona a despatologização na prática? Revista Etudos Feministas, v.27, n.2, Florianópolis, 2019.
Muita tinta tem sido gasta sobre a (des)patologização das transexualidades (Guilherme ALMEIDA; Daniela MURTA, 2013; Berenice BENTO; Larissa PELÚCIO, 2012; Daniela MURTA, 2011; Amets SUESS, 2016). O assunto já foi tema de reuniões no Ministério da Saúde, de debates em várias universidades e foi discutido também na Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde 2008, a OMS iniciou o processo de reformulação de sua Classificação Internacional de Doenças, a CID. Esse documento orienta as práticas e as políticas de saúde em todo o mundo. Até a décima revisão, publicada em 1990, as formas de vida trans eram classificadas como uma patologia mental e traduzidas no diagnóstico F64.0 – transexualismo, dentre outros códigos similares. É essa classificação, em conjunto ao DSM, que tem orientado os documentos oficiais da política pública brasileira do processo transexualizador1.
Uma das principais demandas dos movimentos internacionais de pessoas trans era justamente a despatologização dessas experiências, isto é, sua retirada desses manuais e, principalmente, sua retirada do capítulo relativo aos transtornos mentais. Diversos grupos como o GATE* e a TGEU2 se mobilizaram para influir nesse processo. Participaram das reuniões, fizeram campanhas e mobilizações internacionais para sensibilizar as/os pesquisadoras/es e profissionais envolvidas no Grupo de Trabalho responsável por repensar as práticas de cuidado com essas pessoas. O desejo sempre foi pela despatologização, todavia, como Guilherme Almeida e Daniela Murta (2013) já chamavam atenção, fazendo coro a algumas organizações do movimento social, despatologizar não pode ser sinônimo de descuidar ou desassistir. A despatologização não poderia, nem deveria implicar perda de direito para essa população. Leia Mais
Feminismo em Comum: Para Todas, Todes e Todos – TIBURI (REF)
TIBURI, Marcia. Feminismo em Comum: Para Todas, Todes e Todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 125pp. Resenha de: LUCENA, Srah Catão. Da teoria às práticas: a epistemologia cotidiana de um feminismo em comunhão. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3, 2019.
Filósofa de formação, a também escritora, artista plástica, professora e militante associada ao Partido dos Trabalhadores Marcia Tiburi publicou seu oitavo livro de ensaios, o qual vem avultar uma produção já robusta desta intelectual que também escreve romances, livros infantis, além de participar de antologias em coautoria com outras autoras de referência no campo da filosofia, como Suzana Albornoz e Jeanne Marie Gagnebin. De maneira geral, Feminismo em Comum amplia o projeto intelectual de Marcia Tiburi ao alinhavar recortes da sua biografia profissional à sua produção escrita, dotada de um estilo perspicaz, porque sabe traduzir filosofia, política e arte em linguagem acessível. Neste volume, a escritora reúne em um total de 125 páginas um debate que conecta seus temas predominantes, filosofia e política, à problemática de gênero. Ao elaborar como a estrutura opressora do patriarcado sistematiza a ordem social e mental brasileiras de maneira a cingir a vida das mulheres, a autora propõe, através de uma dicção prática e por vezes pungente, a perspectiva feminista como uma alternativa à recuperação da democracia para todas, todes e todos.
Organizado em dezessete capítulos, o ensaio inicia com uma chamada, “Feminismo já!”, convocando leitoras e leitores a compreenderem os extremos em que se encontra a questão feminista, separada, de um lado, pelo grupo que teme e rejeita o feminismo e, do outro, pelo que se entrega ao conceito com muita esperança, mas sem necessariamente pensá-lo como prática e, portanto, modo de vivência e atuação na sociedade. A questão da transfiguração da teoria feminista em exercício social é uma preocupação atual do campo de estudos e encontra-se presente em trabalhos de referência do pensamento feminista, a exemplo de Sara Ahmed no seu Living a Feminist Life (2017). Nesse sentido, propor o feminismo como ferramenta de trabalho e modo de estar no mundo é um ponto forte do livro de Tiburi, já que sintoniza a sua discussão a um contexto amplo e universal, mas sem perder de vista a especificidade brasileira que serve como referência direta para quem tem seu livro em mãos. Leia Mais
Debates feministas. Um intercâmbio filosófico – BENHABIB et al (REF)
BENHABIB, Seyla; BUTLER, Judith; CORNELL, Drucilla; FRASER, Nancy. Debates feministas. Um intercâmbio filosófico. Trad. de Fernanda Veríssimo, São Paulo: Editora Unesp, 2018. Resenha de: SANTOS, Patrícia da Silva. Feminismo, filosofia e teoria social: mulheres em debate. Revista Estududos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3 2019.
O discurso filosófico e teórico nas sociedades ocidentais estabeleceu-se, por muito tempo, como território predominantemente masculino. O debate acerca da boa vida e as concepções em torno de suas instituições subjacentes à filosofia e à teoria social eram, até há pouco, protagonizados por homens que se apresentavam como as vozes “neutras” e “objetivas” de nossas formulações teóricas. O que acontece quando quatro feministas se reúnem para debater suas questões em profundo diálogo com algumas das mais relevantes tendências teóricas contemporâneas – como a teoria crítica, o pós-estruturalismo e a psicanálise? É claro que não se poderia exigir dessa empreitada a homogeneidade e o consenso próprios da suposta “universalidade” com que se disfarçou a moderna racionalidade ocidental.
Debates feministas, publicado originalmente no início dos anos 1990 e só agora disponível em edição brasileira, não é somente um livro sobre teoria feminista (uma das lições implícitas é justamente a impossibilidade de se pensar tal concepção no singular). É um testemunho de que o abalo geral provocado pelo pensamento contemporâneo em concepções basilares como identidade, normas e cultura exige que sejam autorizados sujeitos de discurso até então silenciados para que a filosofia e a teoria social se dispam da falsa neutralidade e incorporem os ruídos do não-idêntico, da subversão e da diferença. Em seus debates, Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell e Nancy Fraser buscam apontar o lugar dos discursos feministas nessa tarefa de reelaboração do pensamento filosófico e teórico – as quatro pensadoras já apareciam, juntamente a outras, em volume publicado no Brasil há um bom tempo (Seyla BENHABIB; Drucilla CORNELL, 1987). Leia Mais
Narradoras del Caribe hispano – CENTENO AÑESES (REF)
CENTENO AÑESES, Carmen. Narradoras del Caribe hispano. Río Piedras, Puerto Rico: Publicaciones Gaviota, 2018. 134 p. Resenha de: ORSANIC, Lúcia. Voces feministas y disidentes en el Caribe hispano. Revista Estududos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
Los aportes intelectuales de Carmen Centeno Añeses han sido muy relevantes para la inserción de Puerto Rico en el mapa de la crítica literaria. Su fluidez tanto en el campo académico como de divulgación científica queda demostrada por una serie de publicaciones en terrenos diversos, que van desde libros de carácter académico y artículos en revistas especializadas hasta trabajos de índole ensayístico, mayormente publicados en periódicos puertorriqueños y cubanos. Pese a la variedad de los temas que ha abarcado a lo largo de su vasta trayectoria, la escritura de Centeno Añeses es coherente en cuanto a sus intereses: los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular, la descolonización de Puerto Rico, la importancia del ensayo puertorriqueño en materia de independencia, el lugar de las mujeres en la tradición ensayística local, los discursos patriarcales que han dominado la historia de la literatura y la crítica literaria, la educación, entre otros temas.
Su más reciente libro, Narradoras del Caribe hispano, dialoga en cierta medida con una publicación inmediatamente anterior, Intelectuales y ensayo (2017). En este sentido, Narradoras… podría ser visto como una continuación de su labor interpretativa desde una perspectiva feminista. Si entre los intelectuales que trataba en su obra anterior, Centeno Añeses había hecho hincapié en la importancia del ensayo femenino y feminista en Puerto Rico – a través de figuras como Nilita Vientós Gascón, Áurea María Sotomayor y Marta Ponte Alsina -, ahora se adentra en el análisis narratológico de una serie de escritoras caribeñas, extendiendo el hilo feminista que las (nos) une y reúne en torno a una serie de prácticas contrahegemónicas. Y aunque no aparece explícitamente el término sororidad en las páginas de las Narradoras…, Centeno Añeses deja entrever que eso es lo que la mueve, dando lugar a una polifonía femenina pero sobre todo feminista. Leia Mais
História e Multidisciplinariedade nos estudos da religião e religiosidades / Tempo Amazônico / 2019
O campo dos estudos da religião no Brasil tem crescido e se organizado nas últimas décadas, como demonstram a autonomização da área de Teologia e Estudos da Religião e o fortalecimento de programas de pós-graduação, de associações e de revistas diretamente ligadas às pesquisas sobre religiões e religiosidades. Os mais importantes autores, que subsidiam as discussões em nível internacional, já foram ou estão sendo traduzidos e o acumulado de reflexão já nos permite incluir autores brasileiros como referências em vários debates atuais.
Durante um bom tempo, a História (como disciplina) esteve a reboque desses avanços, com abordagens, métodos e fontes ainda muito tradicionais. Hoje, mais francamente abertos às construções interdisciplinares, os historiadores têm se integrado nesse debate e, com eles, muitas Revistas de História (das mais diferentes instituições e colorações) têm dado suas contribuições, especialmente através de dossiês. Interessante, porque nesses casos, mais do que atrair leitores e autores de outras áreas, temos, nós mesmos, nos aproximado das epistemologias e metodologias das humanidades, das artes, da comunicação. Daí termos optado aqui pelo termo multidisciplinaridade, já que ele sugere que cada qual, do seu ponto de vista disciplinar, pode colaborar para a construção de olhares sempre mais perspicazes sobre um determinado objeto – nesse caso, as religiões e religiosidades.
Uma prática ecumênica, que parte tanto da crítica da compartimentação do saber científico quanto das possíveis recomposições em curso, no sentido de produzir inclusive pesquisas com maior relevância acadêmica e social. Um convite à reflexão e ao diálogo, que agrega mais sabor e inventividade à produção do conhecimento histórico.
Foi nessa perspectiva que propusemos esse dossiê e que acolhemos, com alegria, os textos que o compõem. Eles foram organizados de modo que, no todo, o leitor caminhe de discussões mais teóricas para os trabalhos mais empíricos. E entre esses últimos há uma ordem cronológica. Isso não impede, é claro, que se leia apenas um artigo ou que eles sejam lidos aleatoriamente.
O primeiro artigo, de autoria de Alexsandro Melo Medeiros, trata de como Henri Bergson elabora, em sua obra, “o misticismo como uma forma de abordar, experimentalmente, o problema da existência de Deus”. É uma contribuição do campo da filosofia, mas que tem tudo a ver com os debates atuais sobre história da espiritualidade. Como aponta o autor “a teoria evolucionista bergsoniana, que encontramos amplamente esboçada em sua obra A Evolução Criadora é retomada em sua obra As Duas Fontes da Moral e da Religião que amplia a aprofunda a concepção do filósofo a respeito de como o homem pode se colocar em contato com a energia criadora da vida através da experiência religiosa testemunhada pelos místicos das mais diferentes religiões”.
Em seguida, Paulo Vitor Giraldi Pires nos traz um olhar sobre “a religião como interdisciplinaridade da comunicação”, apresentando algumas “aproximações teóricas” possíveis, sobretudo a partir da análise do caso da Igreja Católica nos anos pós-conciliares. O artigo discute um momento no qual a religião entrou em diálogo cada vez mais estreito com o mundo moderno, o que no campo da comunicação implicou em uma aproximação (interdisciplinar) dos estudos científicos sobre os temas comunicacionais, seja com finalidades pastorais ou mesmo acadêmicas.
Um debate entre dois autores bastante atuais – Pierre Bourdieu e Boaventura de Sousa Santos – emerge no artigo de Vitor Hugo Rinaldini Guidotti, intitulado “Teologia hegemônica e contra-hegemônica no campo religioso: breve reflexão sobre as (im)possibilidades em Direitos Humanos”. Ao explorar tanto o conceito de campo religioso do primeiro quanto a leitura crítica da universalidade dos Direitos Humanos do segundo, o autor nos apresenta as possibilidades de que “teologias progressistas, mesmo que colocadas num campo religioso fortemente hostil, podem contribuir para a elaboração de uma nova concepção de direitos humanos, excluindo da base epistemológica desse conceito os interesses econômicos neoliberais, a arrogância científica e a influência das religiões dominantes e reelaborando a partir de uma composição múltipla de saberes, sejam eles seculares ou religiosos”.
Na mesma perspectiva, Diego Omar da Silveira aponta as interconexões possíveis entre “História, Antropologia e Sociologia na compreensão das dinâmicas sociorreligiosas contemporâneas no médio-baixo Amazonas”. Partindo dos estudos culturais, e debruçando-se sobre a contribuição de três autores que são presenças constantes em cursos de teoria antropológica (Erving Goffman, Pierre Bourdieu e Arjun Appadurai), o texto discute a validades dos conceitos operados por esses clássicos (alguns bastante recentes) para analisar as relações entre a religião, a sociedade e a cultura. Longe de uma aplicação automática, o que se propõe é que os conceitos sejam tomados como chaves que permitem problematizar as relações e transformações atuais, ativando assim diferentes fontes e modalidade de olhar para um campo que não cessa de se modificar.
O artigo de Karla D. Martins – “O Apóstolo da Amazônia: D. Macedo Costa e uma versão do ultramontanismo na Província do Pará entre 1861 e 1890” – está mais estritamente no campo da História e disseca, na medida do possível, o quanto esse eclesiástico, que se tornou marcante em seu tempo, foi um homem que “amou, sofreu, irritou-se e se entregou ao trabalho missionário na vasta região amazônica onde viveu a maior parte de sua vida”. As várias dimensões do bispo (“devoto, erudito e leitor de clássicos”) servem assim para elucidar seus “projetos sociais e religiosos”.
João Everton da Cruz, por sua vez, propõe uma leitura transversal do Conselheiro, numa linhagem inaugurada pelo padre Ibiapina e que se estende até o monge Marcelo Barros – “Um Conselheiro do nosso tempo”. Os traços em comum emergiriam da fé popular em um “orientador, mestre e guia, (…) pessoa aonde residiria muita sabedoria. Não somente a sabedoria familiar, transmitida de geração em geração, mas também a sabedoria dos ancestrais, à qual poucas pessoas têm acesso”.
Por fim, Eduardo Gusmão de Quadros e Leksel Nazareno Resende nos trazem uma muito sugestiva análise das imbricações entre “Juventude protestante e musicalidade” por meio de “um estudo sobre os modos de apropriação da MPB durante o final da década de setenta”. O grupo a que se referem é o “Vencedores por Cristo, criado pelo missionário norte-americano Jaime Kemp, em 1968” e que, para além dos hinários tradicionais, encabeçaram uma “proposta radical de musicalidade cristã: usar ritmos e temas brasileiros para dialogar mais profundamente com a cultura brasileira”. Segundo os autores, “a ousadia teve forte oposição dos mais conservadores dentro das instituições, contrabalanceada pela boa aceitação entre a juventude evangélica que passou a produzir e a consumir tal repertório. Muitos que dedicaram a vida a tal proposta acabaram por alterar o jeito de ser evangélico no Brasil”.
Para além do dossiê, a revista traz, ainda, as contribuições de temática livre, fruto de diferentes pesquisas de pós-graduação e que muito têm colaborado para o tipo de trabalho que temos realizado na Tempo Amazônico, qual seja o de estimular o debate acadêmico e historiográfico de forma mais ampla possível, possibilitando a divulgação de pesquisas originais sobre diferentes temas e assuntos, sobretudo os amazônicos.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Diego Omar da Silveira (Universidade do Estado do Amazonas)
SILVEIRA, Diego Omar da. Apresentação. Tempo Amazônico, Macapá, v.6, n.2, 2019. Acessar publicação original [DR]
Expressões das Religiões e Religiosidades no Mundo / Tempo Amazônico / 2019
Mesmo que a afirmação possa parecer, por um lado, um tanto presumida, e, por outro, um tanto limitada, cremos que o fenômeno religioso, ao longo da vida social, em momentos distintos e sob o domínio de paradigmas diversos, afirmou-se sempre como uma questão presente na história da humanidade. Como aprendemos, desde os primeiros contatos com a pesquisa, a sistemática incursão no universo mitológico durkleimiano na busca das formas elementares da vida religiosa, pelo qual emerge uma proposta de pensamento mágico, religioso e cientifico, já sinalizando para uma longa discussão sociológica a respeito das representações religiosas. De fato, a intensificação do fenômeno religioso tem influenciado os rumos dos países, organismos internacionais e na subjetividade humana. Intelectuais diziam que com o avanço da ciência e da racionalidade humana substituiriam o papel das religiões e religiosos tenderiam na humanidade. Notamos que não foi bem assim. As religiões e religiosidades possuem a capacidade de mutação e estão mais vivas do que nunca entre as pessoas.
O presente dossiê rotulado “Expressões das Religiões e Religiosidades no Mundo” reúne textos importantíssimo que refletem sobre a presença das manifestações religiosas na atualidade. A organização deste número coube aos docentes Dra. Maria da Conceição Cordeiro da Silva e Dr. Marcos Vinicius de Freitas Reis. Ambos membros do Centro de Estudos de Religião, Religiosidades e Políticas Públicas da Universidade Federal do Amapá.
O primeiro texto de autoria do docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul André Dioney Fonseca contribui com o texto “Lectio Divina: Práticas de Leitura e Catequese na Paróquia Cristo Libertador, da Cidade de Santarém – Pará (2011-2015)”. O autor debate as práticas religiosas oracionais da Igreja Católica em Santarém e suas estratégias de catequização.
O segundo texto escrito por José Augusto Oliveira Dias chamado “Pentecostalismo e Pessoas em Situação de Rua: Uma Narrativa Analítica Critica Desta Relação no Bairro do Jurunas – Belém do Pará”. Sabemos que os evangélicos é o grupo religioso que mais cresce no Brasil. Uma das estratégias para sua expansão são os trabalhos assistencialistas com as pessoas carentes. O autor discute as estratégias proselitistas por meio do trabalho social com moradores de rua desenvolvida por segmentos do universo evangélico em Belém – Paraá
A doutoranda Érika Vital Pedreira contribui neste número com resultados parciais da sua tese de doutoramento. O título do artigo é “O Triplismo nas Inscrições Epigráficas das Martres da Hispania Romana”. A referida autor tem por objetivo pensar a partir das inscrições epigráficas de devoção às divindades conhecidas como Deae Matres ali produzidas, o sentido religioso e social para esta sociedade.
O Professor do Curso de Administração da Universidade Federal do Amapá, o Dr. Alexandre Gomes Galindo contribui com o trabalho “Reflexões Sobre a Maçonaria Contemporânea e Alguns de seus Desafios: Mulher, o Uso das Redes Sociais, Laicidade e Ladmarks”. O trabalho tem o desafio de pensar o uso das redes sociais pela Maçonaria questões sobre as mulheres e a laicidade no tempo atual. O trabalho intitulado “Fronteiras Fluidas, Religiosidades e os Desafios Contemporâneos” de autoria da pesquisadora Geórgia Pereira Lima. A ideia é pensar as fronteiras simbólicas e culturais da religiosidade popular na Fronteira do Brasil – Peru e Bolívia.
Os historiadores Milena Maria de Sousa Silva e Ipojucan Dias Campos discutem a questão das curas e milagres ocorridos no catolicismo popular. Sabemos que muitos conhecimentos são mantidos a geração entre famílias e comunidades populares no interior do Brasil. Muitas pessoas recorrem a pessoas que detém estes conhecimentos com o objetivo de cuidar de suas saúde. O texto é denominado “Percepção Oriental e Medicina Popular: Paradigma na Promoção da Saúde em Práticas Católicas”
O estudioso João Everton da Cruz com o trabalho “Um Conselheiro de Nosso Tempo” discute os conselheiros que existem no catolicismo popular nordestino. Muitas pessoas procuram líderes comunitários em busca de respostas para seus problemas cotidianos.
A questão do ensino religioso está presente neste dossiê. Sabemos da importância do estudo das questões religiosas e das religiosidades no contexto escolar. O artigo defende a ideia de um ensino laico, plural e não confessional a partir dos referencias da Ciência da Religião. Os autores são: Maria José Torres Holmes, Harry Carvalho da Silveira Neto e Lusival Antônio Barcellos e o trabalho chamado “A Identidade Pedagógica do Ensino Religioso: No Currículo do Ensino Fundamental”.
Os pesquisadores Ruidnilson Pereira Cardoso e Rafael Parente Ferreira Dias contribuem com o texto “O Caminho Para a Felicidade Segundo Siddharta Gautama”. Texto de cunho filosófico que debate os ensinamentos do líder religioso citado no título do texto.
O estudioso Raylinn Barros da Silva com o texto “Escola, Catequese e Formação de Professores: Os Missionários Orionitas e a Catolicização do Antigo Extremo Norte de Goiás por Intermédio da Educação (1950-1960)”, debate como a formação dos professores em Goiás é influenciado pelas questões católicas locais.
As questões africanas estão representadas neste número pela discussão de como a dança africana deve e como pode ser ensinada nas escolas públicas e privadas a partir das diretrizes da LEI Nº 10.639 / 2003. Os autores deste trabalho são: Bianca Cristina Alencar de Azevedo e Rosangela Siqueira da Silva chamado “A Dança Afro e a Implementação da Lei Nº 10.639 / 2003.
Os pesquisadores Rodrigo Reis Lastra Cid, Afrânio Patrocínio e Marlon Viana de Almeida Junior contribuem com o texto “As Garrafadas Amazônicas de Santana – AP”. O trabalho realizou entrevistas com alguns curandeiros do município de Santana e catalogou as suas práticas de receitas de garrafadas.
Na sessão de artigos livres o trabalho dos intelectuais Isis Tatiane da Silva dos Santos e David Junior de Souza Silva intitulados “Políticas Públicas de Reconhecimento de Saberes Tradicionais no Amapá: o PDSA”. A ideia do artigo é pensar a formulação e a implementação das políticas públicas no Estado do Amapá dos Saberes Tradicionais das pessoas localmente.
A professora da Universidade Federal do Amapá Inajara Amanda Fonseca Viana com o texto denominado “Caminhos para o Desenvolvimento do Estado do Amapá, a partir da Percepção Cientifica: mapeamento das dissertações do Mestrado em Desenvolvimento Regional da UNIFAP, no período de 2010 a 2014”. A autora fez o levantamento das dissertações do referido programa para saber quais os temas estão sendo discutidos e qual perspectivas, e seus impactos na sociedade amapaense.
Os pesquisadores Maria Veramoni de Araújo Coutinho e Antônio Rafael Amaro com o texto “O Mau-Estar da Civilização: A Crise Social e Ambiental”, debatem de forma profunda as questões de crise social e ambiental no Brasil e no mundo.
E para finalizar este número a aluna do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de História Wanda Maria de Sousa Borges Filha com o trabalho “Reflexões sobre as Teorias PósColoniais, Decoloniais e Epistemologias do Sul e suas Contribuições no Combate ao Pensamento Hegemônico Eurocentrista”, discute de forma teórica como o pensamento decolonial faz criticas ao projeto colonizador europeu.
Maria da Conceição Cordeiro da Silva (UNIFAP)
Marcos Vinicius de Freitas Reis (UNIFAP)
SILVA, Maria da Conceição Cordeiro da; REIS, Marcos Vinicius de Freitas. Apresentação. Tempo Amazônico, Macapá, v.7, n.1, 2019. Acessar publicação original [DR]
Fragmentos de un mundo en tránsito entre América y Europa. Experimentos desde Chile / História Unisinos / 2019
Fragmentos de un mundo en tránsito entre América y Europa. Experimentos desde Chile1
El 21 de julio de 1773, en la fragata Venus, que navegaba desde Manila, Filipinas, arribó a Cádiz un pequeño elefante enviado por Simón Pérez de Anda y Salazar –gobernador general de las Islas– al rey Carlos III. La carta de recepción escrita en Cádiz daba cuenta que todas las “incidencias” de su transporte “por mar y tierra” estaban en la secretaría de Marina. Después de cuatro meses, el 22 de noviembre de ese mismo año, desde San Lorenzo, se manifestaba “gratitud” por el obsequio. Lo mismo sucedió, el 2 de mayo de 1778, cuando la fragata Juno, proveniente de la bahía de las Tablas, partió hacia Cádiz llegando el 28 de julio. Esta vez, sin embargo, los obsequios eran más numerosos y diversos: otro elefante; cuatro corzos o “venaditos”; una paloma; un pájaro muerto, “pero bien conservado”; tres cajones de conchas y caracoles. El elefante y los venados llegaron vivos, mientras que los demás animales estaban embalsamados (AGI, Filipinas, 390). Esto que, a primera vista, parecían agasajos materiales al rey, hoy se estudian a través del paradigma de circulaciones de objetos y curiosidades de la naturaleza hacia Europa. Tal proceso historiográfico nos ha permitido repensar de manera muy distinta la relación que se estableció desde los primeros años del siglo XVI entre el mundo europeo (y la Península Ibérica en primer lugar) y América a través de las rutas que se construyeron en relación con dinámicas imperiales y coloniales conflictuales, donde España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra intentaban apropiarse del mundo (Cañizares-Esguerra, 2007; Bleichmar et al., 2008; Yun Casalilla, 2019). Y como muchos estudios lo han subrayado, dentro de tales procesos, entre América y Europa existía también Asia (Padron, 2004, 2016; Romano, 2002, 2008; Yun Casalilla, 2019).
Desde esta perspectiva, los espacios de circulación de objetos y animales, seres humanos y artefactos no son solo fragmentados y discontinuos, sino también se trazan a medida que el historiador tiene que identificarlos para aproximarse al sentido de tales objetos en los lugares y los actores que estudia (Romano y Brevaglieri, 2013). Así, por ejemplo, los primeros elefantes indios (los africanos ya hacían parte del Imperio Romano como nos lo recuerdan los frescos de Ostia, el puerto de su capital) que llegaron del mundo ibérico a Roma en 1514 eran parte de una embajada portuguesa de obediencia al nuevo papa, León X, y, con ellos, el mundo natural europeo y sus saberes zoológicos, botánicos, minerales, basados en los Antiguos y sus interpretaciones, se estaban transformando radicalmente (Bedini, 1997; Burucúa y Kwiatkowski, 2019). Para seguir tal proceso de producción de saber, el historiador tiene que apoyarse en una documentación estructural, general y burocrática que, por su cantidad y amplitud, definía la importancia científica, política y cultural para la Península Ibérica, así como también el conocimiento que se esperaba de ellos. Sin duda, en ese proceso hay que individualizar los diferentes saberes en el tiempo y en los lugares donde se producían (Bleichmar y Mancall, 2011; Bleichmar, 2012; Portuondo, 2009).
Desde el siglo XVI, se organizó por parte de las varias metrópolis europeas la “medida” del mundo, así como su domesticación y dominación. Y, en ese sentido, España mandó sus cuestionarios a través de todas las tierras que colonizaba o quería colonizar con este propósito (Pardo-Tomas, 2014, 2016). En ese sentido, se apoyó en el trabajo de sus administradores y misioneros que tomaron un papel fundamental en el englobamiento del mundo (Castelneau et al., 2011; Palomo, 2014, 2016; Romano, 2016; Gaune, 2016; Wilde, 2011). Con la Ilustración, y atrás de una leyenda negra que ha sido nuevamente discutida, el trabajo no se terminó. Por solo nombrar algunos documentos que siguen a la expulsión de la Compañía de Jesús, se encuentra, por ejemplo, la pionera Real Cédula del 10 de mayo 1776, firmada en Aranjuez, que solicita “recoger y dirigir para el Gabinete de Historia Natural [fundado en 1771] las piezas curiosas que se encuentren en los distritos de su mando”2; siendo leído dicho documento en Lima el 31 de octubre de 17763. Otro texto importante es la “Instrucción para la remisión a España de los ejemplares del reino vegetal o mineral”, firmada en San Ildefonso el 27 de agosto de 1788, que reafirmaba lo expresado en la Real Cédula de 1776. Del mismo modo, la “Orden circular”, enviada el 21 de marzo de 1779, seguía las instrucciones del importante catedrático y director del Real Jardín Botánico de Madrid (fundado en 1755), Casimiro Gómez de Ortega (1741-1818) (Gómez de Ortega, 1795; Colmeiro, 1858; Nieto, 2000; Schiebinger y Swan, 2005) de cómo se debían “recoger, encajonar y remitir plantas vivas con el fin de que se propaguen en esta península las muchas útiles de América”:
Merece especial cuidado al piadoso ánimo del Rey, siempre atento al beneficio de sus vasallos, la adquisición y multiplicación en España de los árboles, arbustos y plantas útiles de sus vastos dominios de América, e Islas de Filipinas, considerando S.M. este asunto como un objeto, no solo de loable curiosidad y ornato, sino también de manifiesta importancia para los progresos de la enseñanza en sus jardines botánicos, de la medicina, de la agricultura, y en general de muchas artes, y ciencias físicas.4
En Chile, y en sintonía con ese espíritu de los tiempos, el obispo de Concepción, fray Pedro Ángel de Espiñeira, el 7 de junio de 1777, exteriorizaba la misión de “escoger, preparar y remitir las curiosas producciones de la naturaleza” para el Gabinete de Historia Natural de Madrid, en una carta enviada al gobernador de Chile, Agustín de Jáuregui. El obispo, además, nos entrega una importante pista de investigación que dice que él, junto a “sus curas”, debían ocuparse “en esta curiosa colección de las particulares especies que se hallen en el obispado”5 . Lo mismo realizó, desde Copiapó, el vicario Pedro de Fraga, que enviaba piedras de oro a la península, informándole desde Aranjuez, el 1 de junio de 1791, “haberse mandado colocar en el Gabinete de Historia Natural”6. O bien, en marzo de 1793, se comunicó que llegaron a Cádiz “cien piezas de madera de luma de Concepción”, remitidas a través del virrey del Perú, para construir un palacio en Madrid por la dureza del material y las descripciones científicas asociadas a la remesa (AGI, Indiferente General, 1546).
América, en esa documentación burocrática, se fragmentaba en un gran puzle que debía reconfigurarse en la Península Ibérica a través de detallados manuales de instrucción para encajonar y remitir correctamente fragmentos de mundo, tal como indicaba la “Instrucción” de 1788:
Se ha experimentado, que muchas cosas pertenecientes a Historia natural, y otras curiosidades, que en virtud de reales ordenes se conducen a esta corte de las indias orientales y occidentales, vienen confundidas unas con otras, sin bastante expresión de cualidades, y sin el cuidado necesario a su integridad y conservación (AGI, Indiferente General, 1544).
Recoger, encajonar y remitir, nomenclatura utilizada en los documentos y en las grandes empresas naturalistas europeas post-buffonianas, se estableció en el siglo XVIII en una política del conocimiento que sustentó el gran movimiento de expediciones científicas con sus variados administradores, marineros, viajeros, dibujantes y botánicos que redefinieron los espacios americanos. Se completó así el proceso de conocimiento de los espacios interiores (Calatayud, 1984; Safier, 2016; Figueroa, 2016), convirtiendo a dichos actores, siguiendo a Juan Pimentel, en “testigos del mundo” (2003). Sin embargo, como ha demostrado Arndt Brendecke, el “saber soberano”, la “corte epistémica” y el “dominio colonial” a partir de objetos y “prácticas de adquisición de saberes” se sistematizaron en los tiempos de Felipe II y su reforma de poseer “entera noticia” del mundo (2012).
En la misma dirección analítica, José Ramón Marcaida (2014) y Juan Pimentel (2008) vinculan en sus investigaciones dos términos que parecían historiográficamente un oxímoron: “ciencia” y “barroco” en la cultura de la posesión de objetos en el siglo XVI y XVII. De este modo, muchos trabajos en la encrucijada de una nueva historia de las ciencias e historia del arte, siguiendo la línea de reflexión abierta por Krzysztof Pomian, nos han permitido descubrir e integrar en nuestros análisis el papel de las colecciones privadas y públicas en donde se cruzan pinturas, objetos naturales, mapas, curiosidades (Pomian, 1987); así que, para nosotros, el coleccionismo está incluido en ese proceso de producción de los saberes. Las colecciones no solo eran de la nobleza, sino también de gentes de saber, como el boloñés Ulisse Aldrovandi, que lo demuestra a través de sus herbarios y correspondencias que delineaban al mundo desde su gabinete (Olmi, 1992; Findlen, 1994).
Los múltiples intentos que se encuentran entre los siglos XVI y XIX para encajar todo el mundo (una totalidad que cambiaba continuamente) poseen muchas rupturas, geografías, actores, discontinuidades y pluralidades de sentido, como demuestran los casos estudiados por nuestra parte. Por ejemplo, el jesuita Alonso de Ovalle, que, en 1641, fue enviado como Procurador de la Viceprovincia de Chile de la Compañía de Jesús para que participara de la Congregación General de la Orden. El objetivo de los procuradores era informar en Roma sobre el desarrollo misionero e institucional de los jesuitas en las Indias Occidentales y Orientales. Asimismo, debían conseguir recursos económicos y nuevos misioneros dispuestos a viajar y sacrificar sus vidas por la conversión religiosa más allá de los límites fronterizos europeos. Los viajes de los procuradores en el caso americano, en un segundo plano, eran la oportunidad para enviar todo tipo de documentos a Europa. El procurador, en ese sentido, se convirtió en un pasador de documentos, en un mediador de información y un negociador de saberes entre América, España y Roma. Ovalle, una vez instalado en Roma, publicó en 1646 su Histórica relación del reino de Chile, en castellano e italiano, con la finalidad de dar a conocer Chile a los novicios italianos que no tenían mayores referencias de la región. Aparte de publicar ese libro, Ovalle dio algunas lecciones sobre Chile en el Colegio Romano. Uno de los asistentes a esas charlas fue el joven jesuita italiano Nicolás Mascardi –alumno del gran erudito Athanasius Kircher–, quien escuchó atentamente a Ovalle. Empujado por la convicción misionera que exteriorizó en su carta indipetae y, sobre todo, incentivado por las palabras de Kircher, decidió viajar junto con Ovalle a Chile. Con una carta del alemán y diversos artefactos científicos, emprendió el viaje que lo llevaría al fin del mundo, en donde encontró la muerte martirizado en 1674 en el Lago Nahuelhapi (Acuña, 2014). Sin embargo, hasta su muerte, envió sistemáticamente a Roma descripciones del cielo de Chiloé, piedras y caracterizaciones de la cordillera de los Andes para que su maestro sistematizara dicha información que, posteriormente, fue utilizada para sustentar las teorías generales sobre el mundo que Kircher construía desde su taller y museo del Colegio Romano (Findlen, 2004).
Lo anterior es solo un pequeño fragmento, o más bien una astilla, de los viajes, mediadores, objetos y saberes del mundo que confluían y transitaban desde América a Europa, produciendo movimientos constantes y duraderos. En ese sentido, en este dossier analizamos esos fragmentos a través de varios paradigmas, entre los cuales podemos mencionar los de apropiación y clasificación (Foucault, 1968; Baudrillard, 1969; Perec, 1986; Blom, 2013) para seguir el tránsito entre Chile, América y Europa de trozos de mundo. A través de estos tránsitos se negociaban saberes y conceptos entre actores e instituciones, entre saberes establecidos y saberes mundanos. Se apropiaban objetos resignificados por mediadores, iniciando así procesos de apropiación y desposesión, abriendo deslegitimaciones y nuevas legitimidades de uso y sentido. Más aún, nos remiten a la generación de un conocimiento objetual y con pretensiones “científicas” que ha marcado el tránsito y las relaciones históricas entre Europa y América.
Este dossier propone además hacer un estudio histórico del tránsito de objetos, artefactos e ideas como problema histórico vinculado a los estudios de la cultura material que señalan el interés de estas huellas de la historia y los consideran verdaderos agentes sociales (Dant, 1999). El significado de los objetos es construido socialmente y está modelado por las interacciones entre los sujetos y los objetos. Los objetos no están solo materialmente hechos por una cultura, sino culturalmente significados por ella. Ann Brower Stahl incluso argumenta que el estudio de la cultura material proporciona tanta o más información que los testimonios escritos, ya que los objetos son modificados por las personas, pero, al mismo tiempo, transforman el contexto en el que la vida social se sitúa (2010). En los estudios de cultura material se ha hablado de la agencia que tienen los objetos inanimados (Gell, 1998), es decir, se les da una cierta voluntad propia. Los objetos, en este contexto, tendrían poder sobre los humanos y sus vidas a través de sus propiedades transformativas. Esta idea no es nueva: está en las cosmogonías de muchos pueblos y es la base de las ideas de Marx respecto a la importancia de las condiciones materiales de la vida humana para comprender los modos en que se comporta la sociedad. La propuesta, entonces, hará un seguimiento a los derroteros de objetos y artefactos americanos que nace, de alguna forma, de la inspiración proporcionada por las ideas de Arjun Appadurai (1986). Este postula que los objetos, al igual que los sujetos, tienen una vida social. Y el valor de estos objetos está modelado por el juicio que emiten los sujetos en torno a ellos. Esto significa que el valor de los objetos no es algo inherente a ellos, sino que varía en el tiempo y en el espacio y según el sujeto que se relacione con el objeto. Esta premisa es la que motiva la pesquisa de los escenarios, actores, prácticas y condiciones que permiten y alientan la circulación de objetos y grupos de objetos. Appadurai, en ese sentido, habla de hacer esta pesquisa en diferentes regímenes de valor. Y como una conjetura preliminar a este respecto, veremos que las valoraciones serán heterogéneas, tanto en términos espaciales como temporales. Tomaremos, además, las categorías espaciales y escalas que, según Daniel Miller (1998), constituyen una de las bondades de los estudios de la cultura material, pues ayuda a resolver las contradicciones entre los conceptos de lo local y lo global.
Otra categoría de análisis fundamental para esta propuesta es “tránsito de objetos”. Tim Dant nos proporciona también algunas ideas útiles para los efectos de este proyecto (1999). Sostiene que hay algunos objetos que son mediadores, pues transportan mensajes a través del tiempo y el espacio, haciendo circular ideas, información, emociones, transformándose en verdaderos protagonistas de la interacción social. Los objetos propios de la alteridad normalmente se colocan en espacios de exhibición, como consecuencia de la dificultad de nombrarlos, utilizarlos y darles sentidos. Desde sus vitrinas se muestran como vestigios del pasado y por tanto mediadores en el tiempo; o bien, como curiosidades de otras culturas y, por lo tanto, mediadores espaciales. Algo similar es lo que nos aporta George Stocking (1985), quien argumenta que los objetos exhibidos en los museos han sido tradicionalmente aquellos pertenecientes a “los otros”. Estos objetos son recontextualizados y resignificados en el espacio museal, por lo que su significado es problemático e inadecuado (Handler, 1985). Respecto a esta descontextualización, Richard Handler alude a los postulados de Frans Boas al referirse a la inadecuada contextualización de los objetos que suele hacerse en los museos. La considera artificial, así como otros postulan que la descontextualización del marco original altera características y usos.
Por último, los artículos de este dossier se enmarcan en los parámetros historiográficos de una historia cultural y global de la ciencia (Romano; Schaffer, 2015) que estudia la circulación modelada por el intercambio global y los vínculos culturales entrecruzados (cross-cultural) (Secord, 2004; Aram y Yun-Casalilla, 2014). Al interior de esta perspectiva, es importante subrayar que la historia de la ciencia de las últimas décadas se ha reconfigurado alrededor de la categoría “historia de los saberes” con el objetivo de “descentralizar” un modelo eurocentrista de reflexión. De este modo, se analizan las dinámicas de negociación entre actores de varios grupos sociales y diversos espacios, para finalmente rechazar el modelo difusionista vinculado con la hegemonía de producción de “ciencia” desde un centro o una metrópolis (Van Damme, 2015). Así, con “fragmentos de mundo” nos referimos a espacios pluricentrados (Kontler et al., 2014) y epistemológicamente plurales que permiten examinar las intersecciones, la pluridireccionalidad y la multidimensionalidad de las producciones de saberes cuando transitan (Werner y Zimmermann, 2006).
Para efectos de este dossier, proponemos algunos experimentos desde Chile en relación con algunas partes del mundo. Es así como el Hospital San Juan de Dios en el siglo XVIII, en Santiago, se posiciona como un espacio no sólo de control social y control de enfermedades, sino también en un lugar de producción de imágenes sobre dimensiones históricas de la santidad. La imagen como objeto permite conjurar el dolor de los pacientes, transmitir un mensaje de salvación, pero también constituir a un hospital como un espacio en donde circulan imágenes que, a su vez, traducen matrices europeas y americanas de santidad (M. Cordero). Del mismo modo, el Gabinete de Historia Natural de la Real Academia de San Luis, entre 1790 y 1810, se transforma en el primer espacio público para la producción del saber científico natural en Chile, luego de un frustrado envío de remesas de un conjunto de minerales del reino de Chile que debían ser enviados a Madrid. Así, en este artículo se estudian las prácticas de clasificación y los saberes científicos que posicionaron a Chile en una empresa global de la historia natural europea (D. Serra). Asimismo, el tránsito en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, de nuevas manufacturas derivadas de procesos productivos como los venenos, permite complejizar los vínculos entre circulación de objetos y emociones (temor y fascinación), así como las relaciones de fuerza entre justicia y ciencia y entre cultural material y práctica científica en los espacios urbanos de Santiago (M.J. Correa).
Otros tipos de circulación, lugares y actores se producen durante el siglo XX que tensionan, al mismo tiempo, el largo tránsito del siglo XIX. Esto se evidencia, particularmente, en la construcción a inicios del siglo XX de un observatorio astronómico en Santiago de Chile que replicaba un observatorio en California. La constitución de un observatorio gemelo en diferentes hemisferios permite establecer y analizar los vínculos entre la producción de conocimientos, la circulación de objetos científicos (espejos y espectrógrafos) y las similitudes geográficas, sin olvidar la dimensión política intrínseca a dicha circulación (B. Silva). Del mismo modo, otro tipo de circulación, vinculada al tránsito de ideas entre Europa y Chile, se instala, por ejemplo, con las resignificaciones, traducciones y usos del hispanismo que se instalará en el pensamiento conservador y en la dimensión política durante la segunda mitad del siglo XX. Transmitido por textos, actores e instituciones, el hispanismo se convertirá en pieza clave del conocimiento entre las iglesias europeas y americanas (R. Sagredo). A partir de la etnohistoria y de la categoría “objetos poderosos”, se analizan los cruces culturales híbridos europeos-andinos de cajas de madera dedicadas a San Antonio de Padua (caja de santo) en la localidad de San Pedro Estación (norte de Chile), así como los universos simbólicos y las vidas sociales de dichos objetos (C. Odone).
Referencias
ACUÑA, C. 2014. La expedición del padre Nicolás Mascardi a la Patagonia: una experiencia sobre las posibilidades y los límites del conocimiento en el siglo XVII. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 18(2): p. 33-57.
APPADURAI, A. (ed.). 1986. The Social Life of Things. Cambridge, Cambridge University Press.
ARAM, B.; YUN-CASALILLA, B. (eds.). 2014. Global Goods and the Spanish Empire, 1492-1824: Circulation, Resistance and Diversity. New York, Palgrave Macmillan.
BEDINI, S.A. 1997. The Pope’s Elephant. Manchester, Carcanet Press.
BLEICHMAR, D. 2012. Visible Empire: Botanical Expeditions and Visual Culture in the Hispanic Enlightenment. Chicago, University of Chicago Press.
BLEICHMAR, D.; MANCALL, P. 2011. Collecting Across Cultures: Material Exchanges in the Early Modern Atlantic World. Pennsylvania, University of Pennsylvania Press.
BLEICHMAR, D.; DEVOS, P.; HUFFINE, K.; SHEEHAN. K. 2008. Science in the Spanish and Portuguese Empires, 1500-1800. Redwood City, Stanford University Press.
BLOM, P. 2013. El coleccionista apasionado: una historia íntima. Barcelona, Anagrama.
BAUDRILLARD, J. 1969. El sistema de los objetos. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
BRENDECKE, A. 2012. Imperio e información: funciones del saber en el dominio colonial español. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuet.
BURUCÚA J.E.; KWIATKOWSKI, N. 2019. Historia natural y mítica de los elefantes. Buenos Aires, Ampersand.
CALATAYUD, M. 1984. Catálogo de las expediciones y viajes científicos españoles a América y Filipinas (siglos XVIII-XIX). Madrid, CSIC.
CAÑIZARES-ESGUERRA, J (ed.). 2018. Entangled Empires: The Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
CAÑIZARES-ESGUERRA, J. 2007. Nature, Empire, and Nation. Redwood City, Stanford 2007.
CASTELNAU-L’ESTOILE, C. De; COPETE, M.-L.; MALDAVSKY, A.; ŽUPANOV, I.G. (dir.), 2011. Missions d’évangélisation et circulation des savoirs. XVIe -XVIIIe siècle. Madrid, Casa de Velázquez.
COLMEIRO, M. 1858. La botánica y los botánicos de la Península hispano-lusitana: estudios bibliográficos y biográficos. Madrid, Rivadeneyra.
DANT, T. 1999. Material Culture in the Social World: Values, Activities, Lifestyles. Open University Press.
FIGUEROA, M. 2016. Félix de Azara and the Birds of Paraguay: Making Inventories and Taxonomies at the Boundaries of the Spanish Empire, 1784-1802. In: Global Scientific Practice in an Age of Revolutions, 1750-1850. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, p.147-162.
FINDLEN, P. (dir.). 2004. Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything. New York and London, Routledge.
FINDLEN, P. 1994. Possessing Nature Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
FOUCAULT, M. 1968. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
GAUNE, R. 2016. Escritura y salvación. Cultura misionera jesuita en tiempos de Anganamón, siglo XVII. Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
GELL, A. 1998. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford, Oxford University Press.
GÓMEZ DE ORTEGA, C. 1795. Curso elemental de botánica, dispuesto para la enseñanza del Real Jardín de Madrid. Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de Marin.
HANDLER, R. 1985. On Having a Culture: Nationalism and the Preservation of Quebec’s Patrimonie. In: Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture. Madison, University of Wisconsin Press, p. 192-217.
KONTLER, L.; ROMANO, A.; SEBASTIANI, S.; TÖRÖK, B. 2014. Negotiating Knowledge in Early Modern Empires: A Decentered View. New York, Palgrave Macmillan.
MARCAIDA, J. 2014. Arte y ciencia en el Barroco español. Historia natural, coleccionismo y cultura visual. Madrid, Marcial Pons.
MILLER, D. 1998. Material Cultures: Why Some Things Matter. Chicago, University of Chicago Press.
NIETO, M. 2000. Remedios para el imperio: historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
OLMI, G. 1992. L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino.
PADRON, R. 2004. The Spacious Word: Cartography, Literature, and Empire in Early Modern Spain. Chicago, University of Chicago Press.
PADRON, R. 2016. (Un)Inventing America: The Transpacific Indies in Oviedo and Gómara. Colonial Latin American Review, 25(1):16-34.
PALOMO, F. (ed.). 2014. La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo Ibérico (siglos XVI–XVIII). Madrid, Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.
PALOMO, F. 2016. Written Empires: Franciscans, Texts and the Making of Early Modern Iberian Empires. Culture & History Digital Journal, 5:(2).
PARDO-TOMAS, J. 2014. Antiguamente vivıán más sanos que ahora: Explanations of Native mortality in the Relaciones Geográficas de Indias. In: Medical Cultures of the Early Modern Spanish Empire. Farnham, Ashgate, p. 41-65.
PARDO-TOMAS, J. 2016. Making Natural History in New Spain, 1525–1590. In: H. WENDT (ed.), The Globalization of Knowledge in the Iberian Colonial World. Berlin, Max Planck Institute for the History of Science, p. 29-51.
PEREC, G. 1986. Pensar / Clasificar. Barcelona, Gedisa.
PIMENTEL, J. 2003. Testigos del mundo: ciencia, literatura y viajes en la Ilustración. Madrid, Marcial Pons.
PIMENTEL, J.; MARCAIDA, J. 2008. La ciencia moderna en la cultura del Barroco. Revista de Occidente 328:136-151.
POMIAN, K., 1987. Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle. Paris, Gallimard.
PORTUONDO, M. 2009. Secret Science: Spanish Cosmography and the New World. Chicago, University of Chicago Press.
ROMANO, A. (coord.). 2002. Mission et diffusion des sciences européennes en Amérique et en Asie: le cas jésuite (XVIe XVIIIe). Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 52(148): p. 71-101.
ROMANO, A. 2008. Un espacio tripolar de las misiones: Europa, Asia y América. In: E. CORSI (coord.), Ordenes religiosas entre América y Asia: ideas para una historia misionera de los espacios coloniales. México, Colmex, p. 253-277.
ROMANO, A. 2015. Making the History of Early Modern Science: Reflections on a Discipline in the Age of Globalization. Annales HSS, 70(2):307-334 (April-June).
ROMANO, A. 2016. Impressions de Chine. L’Europe et l’englobement du monde (XVIe XVIIe siècle). Paris, Fayard.
ROMANO, A.; BREVAGLIERI, S. 2013. Produzione di saperi: costruzione di spazi. Quaderni storici, XLVIII(1): p. 3-20.
SAFIER, N. 2016. La medición del Nuevo Mundo. La ciencia de la Ilustración y América del sur. Madrid, Marcial Pons.
SCHAFFER. S. 2015. Ceremonies of Measurement: Rethinking the World History of Science. Annales HSS, 70(2):335-360 (April-June).
SCHIEBINGER, L.; SWAN, C. 2005. Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
SECORD, J. 2004. Knowledge in Transit. Isis, 95(4):654-672.
STAHL, A. 2010. Material Histories. In: The Oxford Handbook of Material Cultures Studies. Oxford, Oxford University Press, p. 150-172.
STOCKING, G. 1985. Objects and others: Essays on Museums and Material Culture. Madison, University of Wisconsin Press.
VAN DAMME, S. (dir.). 2015. Histoire des sciences et des savoirs vol. 1, De la Renaissance aux Lumières. Paris, Le Seuil.
WERNER M.; ZIMMERMANN, B. 2006. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity. History and Theory, 45:30-50.
WILDE, G. (ed.). 2011. Saberes de la conversión: jesuitas indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristiandad. Buenos Aires, Editorial SB.
YUN CASALILLA, B. 2019. Iberian World Empires and the Globalization of Europe 1415-1668. New York, Palgrave.
Fuentes
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Sevilla [AGI], Filipinas: vol. 390.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Sevilla [AGI], Indiferente General: vol. 1544.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Sevilla [AGI], Indiferente General: vol. 1545. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Sevilla [AGI], Indiferente General: 1546.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Santiago de Chile [AHN], Capitanía General: vol. 946.
BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE, Santiago de Chile, [BN], Sala Medina: A-11-2(28).
Rafael Gaune – Instituto de Historia / Pontificia Universidad Católica de Chile. E-mail: [email protected]
Antonella Romano – Centre Alexandre-Koyré / École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. E-mail: [email protected]
GAUNE, Rafael; ROMANO, Antonella. Apresentação. História Unisinos, São Leopoldo, v.23, n.2., maio / agosto, 2019. Acessar publicação original desta apresentação
DR
A história do Paraguai no contexto latino-americano: velhos e novos temas, enfoques e fontes de pesquisa / História Unisinos / 2019
Com o fim dos processos ditatoriais na região do Prata durante a década de 1980, a historiografia local passou por uma renovação que acompanhou os próprios processos políticos de fins do século XX e início do XXI. Isso se traduziu na formulação de novas perspectivas de análises, na organização de novos arquivos, bem como na formação acadêmica de pesquisadores que procuram desvendar o passado da região. A história do Paraguai vem sendo reconstruída nesse contexto de novos aportes metodológicos e de abertura de repositórios documentais após a queda de Alfredo Stroessner em 1989, que convocam a pesquisadores do país e do exterior.
Durante o século XX, a escrita da história nacional paraguaia foi o eixo tanto de disputas políticas internas como de relações internacionais com as nações vizinhas. Os vínculos do país mediterrâneo com toda a região rio-platense remontam a épocas distantes, inclusive anteriores à chegada dos europeus no século XVI. Porém, foi a partir do conflito militar do século XIX conhecido como a Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Guasu que intelectuais paraguaios se voltaram a explicar a história nacional a partir do prisma bélico que o país enfrentou com seus vizinhos Argentina, Brasil e Uruguai.
Paulatinamente, com o decorrer da centúria passada, uma leitura que revisava a interpretação liberal foi-se impondo. Esta interpretação argumentava que, apesar da derrota paraguaia, a Guerra Guasu (grande em guarani) tinha demonstrado o heroísmo do povo e de seu grande líder, o marechal Francisco Solano López, devido a que ambos lutaram até a última gota de sangue para defender a pátria. Os fundamentos desse heroísmo ímpar foram procurados na história indígena, na colonial e na oitocentista. A bravura e a coragem dos paraguaios tinham raízes profundas na história do Paraguai, segundo a interpretação de revisionistas como Juan O’Leary, Manuel Domínguez e Juan Natalicio González.
Com a chegada dos governos militares em 1936 (com Rafael Franco), em 1940 (com Higinio Morínigo) e em 1954 (com Alfredo Stroessner), esta história revisitada adquiriu progressivamente o status de história oficial. Uma série de governos interrompidos por uma violência política que caracterizou a história paraguaia do século XX com uma sequência de guerras civis e golpes de Estado – genericamente denominados de “revoluções” – não mudou esse cenário de autoritarismo que acabou definindo a segunda metade do século passado.
O revisionismo histórico paraguaio impôs a leitura de um passado sem conflitos e de uma sociedade harmônica, o que se converteu em ferramenta de legitimação do regime stronista (1954-1989) que negava as lutas sociais e impunha a figura do próprio Alfredo Stroessner como continuador dos heróis nacionais, entre eles, Solano López. O uso político da história para convalidar o stronismo contribuiu, e muito, para a longevidade do regime. Além do ensino dessa história nas escolas, as restrições impostas à pesquisa acadêmica inibiram a divulgação de outras produções, à exceção de honradas exceções. Cabe lembrar que tais restrições não se limitaram apenas à escrita da história do século XX. Elas monitoravam também a história indígena, a colonial e a oitocentista com o mesmo fervor, ou melhor, com o mesmo controle ideológico que censurava aquelas interpretações que questionassem o revisionismo inaugurado no início do século XX por intelectuais que não tinham maior preocupação com a pesquisa historiográfica, mas tinham, isto sim, vínculos com o Partido Colorado, agremiação que se manteve no poder desde 1946 até os dias atuais, à exceção da presidência de Fernando Lugo (2008-2012).
Daí a importância de diversas produções surgidas principalmente nas últimas duas décadas que, apoiadas na formação acadêmica de seus autores e na análise séria das fontes, permitem desmitificar e desconstruir diversos conceitos do revisionismo histórico paraguaio, consolidados não apenas no Paraguai, mas amplamente difundidos também nos países vizinhos.
Os artigos que integram este dossiê deixam em evidência a renovação historiográfica, no que se refere a metodologias, objetos e perspectivas de análise. Mas também revelam a transnacionalidade tanto dos processos históricos como das pesquisas. A pesquisadora Jéssica de Freitas e Gonzaga da Silva analisa, em “A guerra como instrumento da política imperial brasileira na Bacia do Prata (1852-1858)”, as manifestações de diplomatas brasileiros do século XIX para identificar de que modo e em que momentos foi construído um discurso a favor da guerra como instrumento para a preservação e expansão da dita “civilização” brasileira, em oposição a seus vizinhos do Rio da Prata.
Os historiadores André Mendes Salles, Ana Beatriz Ramos de Souza e Hevelly Ferreira Acruche tomam em consideração elementos vinculados com a Guerra Guasu. O primeiro autor, em “A Guerra da Tríplice Aliança como conhecimento escolar no Paraguai”, escolheu como fonte os livros didáticos utilizados no ensino fundamental no Paraguai para indagar de que modo é apresentado o conflito bélico a partir de seus personagens e das narrativas, contribuindo para a construção da identidade nacional. Ramos de Souza e Acruche, também preocupadas pela construção da memória e da identidade nacional, no texto “O Panteón Nacional de los Héroes e a construção do mito de Solano López”, optaram pelo estudo do processo que levou à transformação do Oratório para a Virgem Maria em Panteão Nacional dos Heróis. Um dos objetivos é observar o momento da consagração de Solano López como herói nacional.
Jiani Fernando Langaro, no texto “Entre viagens e narrativas de desnacionalização”, se debruça sobre relatos de viajantes brasileiros que, entre 1920 e 1940, comentam a suposta situação de desnacionalização da fronteira do Paraná com a Argentina e o Paraguai devido à marcante presença de imigrantes argentinos e paraguaios, bem como ao predomínio das línguas espanhola e guarani.
Por fim, Lorena Zomer, em “Contos de Guido Rodríguez Alcalá: sentidos e representações da ditadura militar do Paraguai (1954-1989)”, reflexiona sobre as representações elaboradas pelo escritor paraguaio Guido Rodríguez Alcalá em torno do stronismo. Partindo de uma análise que vincula história e literatura, a investigadora se centrou nos contos para identificar sua posição crítica da ditadura stronista e dos mitos elaborados pelo revisionismo histórico paraguaio.
Acreditamos que os textos apresentados neste dossiê contribuirão para divulgar os avanços na pesquisa sobre a história do Paraguai e do Rio da Prata, bem como fomentarão a publicação de outros trabalhos em desenvolvimento, principalmente por parte de mestrandos e doutorandos que vêm apresentando importantes investigações sobre o tema e que integram a Rede de Pesquisadoras e Pesquisadores sobre o Paraguay Ñande.
Marcela Cristina Quinteros – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), MS
Ana Paula Squinelo – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), MS
QUINTEROS, Marcela Cristina; SQUINELO, Ana Paula. Apresentação. História Unisinos, São Leopoldo, v.23, n.3., setembro / dezembro, 2019. Acessar publicação original [DR]
De mujeres y niños. Apuntes para re-pensar lo femenino y lo infantil a partir de un diálogo entre historiadores / História Unisinos / 2020
La investigación histórica parte de un diálogo; algunas veces en solitario y teniendo como interlocutor al cuerpo documental que hemos seleccionado para el desarrollo de nuestra pesquisa histórica y, en otras ocasiones, el intercambio de ideas es con colegas y amigos que sentimos de modo entrañable. En ambos campos de interacción, el individuo en sí mismo no es relevante per se sino que se define en sociedad; una sociedad con el cuerpo documental o bien, con colegas. En esta ocasión las líneas que continúan intentan reflejar un proceso de construcción de un diálogo que se enmarca dentro del segundo orden presentado y, valga la redundancia, para presentar nuestras reflexiones conjuntas sobre el motivo que hoy nos nuclea.
Para reflexionar y re-pensar lo femenino y lo infantil en un marco temporal amplio como el que hemos considerado para este Dossier, es necesario introducir una breve digresión que elucida las condiciones de producción de estas líneas. Esta compilación de artículos se generó en la UNISINOS allá por octubre de 2018 aunque, como toda gestación, si consideramos a la misma desde ciertas consideraciones amerindias sobre el cuerpo, la persona y la personalidad, comenzó mucho antes. Quizás en el mismo momento, difícil de precisar por cierto, en que la amistad de quiénes suscriben comenzaba a crecer. En ese proceso de crecimiento, y así como los niños descubren sus cuerpos en la confrontación con sus pares, en aquella ocasión, en un bar cercano al Predio B, en medio de un intercambio de presentes, Karina indagó, no sin cierta preocupación, “Carlos, me deixa saber uma questão? qual é seu marco teórico?”. Una pregunta que fue respondida con una sinceridad necesaria, propia de la edad –de quiénes escriben así como del tiempo por venir que auguran las grandes amistades- y con ánimos de calmar ánimos inquietos. Claro que para poder llevar a cabo esa tarea las ‘certezas teóricas’ deben de revisarse rápidamente. De aquella veloz reconsideración de algunos supuestos iniciales emergieron consideraciones sobre los puntos blandos de nuestra formación y cómo es que la misma se incrementa por medio de una interacción dinámica y constante entre tasas de energía inercial en reposo –aquello que consideramos nuestro bagaje intelectual- y un trabajo de archivo que nos proporciona la materia prima de la que se nutren nuestros ejercicios de investigación. Un diálogo, una práctica retórica, que crece al amparo de un decurso que articula el tránsito del ‘archivo al campo’ [1], con idas y vueltas, así como con sucesivos retornos que hacen posible indagar más en nuestras intencionalidades y en qué medida las mismas se ven incrementadas en la búsqueda y reflexión de piezas e indicios documentales que complejicen nuestro conocimiento del pasado.
De aquellos reparos y miramientos teóricos –porque la teoría mira; indaga; cuestiona al objeto de estudio y este desde su propio lenguaje dialoga con nosotros-, y de cuestiones personales como dudas existenciales confesadas a la luz de aquel intercambio de posiciones teóricas, en algunos casos no compartidas, emergió el problema que anima este Dossier: cómo pensar en las mujeres y en los niños del pasado y, en segundo lugar, en qué manera podemos dar cuenta de ellos desde nuestras ‘certezas’. Aquellas mismas que son validadas, o no, por un cuerpo documental que brinda menciones, algunas veces, esquivas y otras certeras, sobre los sujetos que habitaron aquel pasado.
Una de las primeras cuestiones que se dieron cita en este ejercicio de revisión, historiográfico y personal, fue indagarnos sobre qué considera, y consideraba, cada uno de nosotros sobre qué es una mujer y un niño en un contexto histórico amplio y, cabe remarcar, definido por un cuerpo documental vasto y, obviamente, con lagunas que son necesarias de, al menos, comprender. Un universo que crece, en posibilidades heurísticas, desde nuevas miradas historiográficas; las mismas que han sido pensadas desde un diálogo con ‘nuestros mayores’, con aquellas figuras de una historiografía que ha marcado un camino y que, como niños curiosos osamos cuestionar.
En esta revisión conceptual que impulsó el debate, nuestras experiencias personales aportaron tintes al intercambio de ideas. Desde allí emergieron, además, nuances que balancearon nuestros esquemas ideo-lógicos, porque no se puede construir Ciencia sin ideología y la misma parte de nuestras consideraciones ideo-lógicas sobre el pasado y su relación con el futuro y el presente. Allí, desde los lugares de enunciación de cada uno de nosotros (de Certeau, 2007), anidaba una primera proposición. Revisar nuestras suposiciones y conocimientos nos colocaba frente a aquello que la historiografía francesa denominó ego-historie; siendo Nora (1987) uno de sus mayores representantes teóricos [2]. Nora se refería a sí mismo, y por extensión sobre su trabajo, como ‘un marginal central’; es decir, un sujeto que se ocupaba centralmente de aquellos problemas, como las tribulaciones de los investigadores, que inciden sobre la construcción del conocimiento histórico. En ese mismo punto nos encontrábamos nosotros en aquel debate y sobre ese aspecto debíamos de centrar la mirada – um olhar distanciado que hace que el objeto bajo inquisición tome distintas expresiones en virtud de la posición del observador. Las mujeres y los niños fueron centrales el proceso de reproducción social de cualquier grupo y para poder historizar su función dentro de un marco que los identificaba como tales es necesario, entonces, ponderar aspectos simbólicos, ideológicos, imaginarios, económicos y sociales. Proposición que equivale a examinar que una mujer y / o un niño es un producto histórico de su sociedad y que la misma lo identifica como tal en virtud de ciertas capacidades posibles de ser movilizadas dentro de la interacción con su grupo de referencia. Dicho de otro modo, y recogiendo abordajes notables que proponen la invención de la niñez como esfera social (del Priore 1999), en el pasado, o en nuestro presente pero en sociedades distantes de las nuestras, cuáles son los diacríticos que hacen posible identificar un niño o una mujer? Una pregunta que debe de responderse considerando lo que aquellas sociedades del pasado tienen para decir de sí mismas.
Esta última proposición nos llevó a preguntarnos sobre el rol del conocimiento y en qué manera miramos; indagamos; sentimos el pasado –sí! en qué forma experimentamos el pasado que nos llega como testimonio, a veces mudo, o bien como reflejo indirecto desde el prisma constituido por la documentación resguardada en el archivo, de un tiempo que ya no está presente ni nos pertenece –quizás un tiempo que ni siquiera perteneció a quiénes lo transitaron.[3] En cierta medida el investigador trabaja; opera –en el sentido en que de Certeau propuso a su operation historiographique- con una mirada distante que se construye sobre cierta saudade que pone en funcionamiento ‘la máquina de reproducir el tiempo’ (Lévi-Strauss 2014).[4] Es decir, la investigación histórica, desde la formulación de explicaciones que se construyen, intenta re-crear el tiempo en el cual se sucedieron aquellos procesos que se abordan pero la re-creación posee sus límites y estos pueden ser identificados mediante una reflexión realizada por cada uno de nosotros como profesionales de la Historia en dónde explayemos nuestros supuestos. Allí radicaba la intencionalidad de aquella pregunta sobre el marco teórico de uno de nosotros.
En este punto es donde aquella cuestión de la ego-histoire, entendida como trayectos y tramas personales de formación e interacción con nuestro medio, entra en acción con notable pujanza. Los recorridos intelectuales de cada uno de nosotros habían encontrado, en la documentación que sustentó nuestras Tesis doctorales, menciones, no completamente tangenciales por cierto, a mujeres y niños como actores plenos y con un protagonismo notable en procesos históricos complejos. Las mujeres y los niños, tal y como nuestros análisis así lo mostraban, poseyeron un protagonismo –y recalcamos esta noción por sobre la de agencia- que fue desatendido, en partes, por una lógica que sustentó modelos historiográficos; modelos que se constituyeron en prácticas que desatendieron el rol de la experiencia.
Niños y mujeres, con las salvedades que merecen ambas categorías, son la base material desde la que una sociedad se reproduce y re-actualiza constantemente, mediante el peso de la Historia de cada grupo. Una reactualización que muestra no sólo el dinamismo social sino que, en primer lugar, obliga a centrar, desde otro ángulo, nuestras miradas sobre el cuerpo documental, formular preguntas que indaguen de modo topológico cómo es que se construyó el estado actual de nuestros des-conocimientos así como que reposicione al investigador en su rol de observador de las sociedades del pasado. Por otra parte, y ante algunas lagunas documentales, parte de esa centralidad de lo marginal puede mostrarnos el camino para dejar de pensar en niños y mujeres como un agente colectivo pudiendo considerar trayectorias personales de individuos que complejicen nuestro conocimiento así como el arsenal de preguntas por medio del cual revisamos nuestra intencionalidad como investigadores.
Esa cuestión ego histórica es, por lo tanto, un modo de acercarnos a sujetos históricos considerados, en cierto modo, marginales así como parte de una revisión de nuestros caminos de formación, investigación y trayectorias personales y en qué medida los mismos nos han colocado frente a problemáticas de pesquisa que poseen un vínculo con motivaciones propias de cada uno. Aquellos caminos de formación, y de reflexión, por otra parte, indican tiempos propios de cada uno de nosotros, como individuos y en sociedad; cuestiones que permiten formular una nueva digresión que haga posible incrementar el debate que hoy nos anima.
En las sociedades indígenas americanas la condición de niño y / o mujer no aparece marcada o definida por una cuestión etaria; la edad, el tiempo transcurrido desde el nacimiento, en sí mismo no es un indicador que coloca o define al sujeto dentro de un sub-conjutno de la sociedad. Los niños, que luego se han de transformar en los hombres a los que aluden nuestros documentos, o bien las mujeres, si bien pueden ser identificados desde el registro documental como un sector social distinguible en sí mismo, no representan un todo homogéneo en la sociedad nativa. Allí la condición que los ha de identificar en el cuerpo documental es posible de definirla en función de una habilidad manifiesta en el transcurso de su vida social. Es decir la sociedad define al individuo, aunque sin anularlo. Junto con esta cuestión es necesario remarcar que las sociedades indígenas distaron en mucho del mito del buen salvaje que algunas corrientes teóricas intentaron mostrar como igualitarias. Las sociedades nativas no fueron, ni lo son, sociedades en dónde no existen diferencias de rango y / o condición. Dentro de ellas es posible señalar la existencia de diferenciaciones sociales que en buena medida ayudan a explicar las tensiones grupales que dinamizaron aquellas sociedades. Todo ello sin perder de vista que el ejercicio de reflexión que realizamos está más próximo de una Antropología asimétrica que de una Antropología simétrica. Un aspecto que no debe de olvidarse en el proceso de construcción de los debates; la relación con el pasado no puede plantearse, imaginarse si quiera, de modo simétrico como tampoco debe de olvidarse que las categorías desde las cuáles emprendemos nuestra tarea de investigación son un recorte parcial de la realidad bajo observación.
Dentro de las más notables marcas de percepción que Edward Palmer Thompson (1997) formuló sobre las dinámicas humanas, prevalece la importancia de las acciones desarrolladas en contextos sociales que inciden sobre la formación de conceptos que, ancorados en el tiempo, se cierran sobre sí mismos no generando posibles y nuevos debates. Tal y como se muestra en Senhores e Caçadores, por ejemplo, las teorías serían las encargadas de capturar analíticamente los registros generados en virtud de las acciones humanas a lo largo del tiempo. Por ello, nuestro debate teórico dialoga desde dos formas disímiles de indagar en el pasado; aspecto sumamente provechoso en sí mismo para el crecimiento personal e historiográfico.
Por otra parte, cabe señalar que, en la sociedad colonial, mujeres y niños no reconocidos como indígenas fueron actores que tuvieron una activa participación aunque no siempre reflejada en intensidad por un cuerpo documental atento a vicisitudes consideradas notables. Empero, aquellos estaban presentes y los mismos pueden ser indagados, proponemos, volviendo sobre la misma lógica que los colocó en un segundo plano, a modo de filigrana, y dando cuenta cómo este plano evidencia vínculos sociales que generan la posibilidad de volver a pensar, reflexionar y debatir el contexto histórico que generó las acciones que tornan a un sujeto mayormente visible que el resto de sus pares. Aspecto que, además, permite reflexionar sobre la construcción de la muestra y si la misma es representativa al punto en que podamos afirmar qué es una mujer o un niño –e incluso pudiendo trasladar esta inquietud al conjunto de la sociedad bajo análisis.
El Dossier “Mujeres, niños e Historia: lo ‘femenino’ e ‘infantil’ en la sociedad americana. Siglos XVI-XIX” se compone de seis artículos; investigaciones originales que, en el caso de alguna de ellas, compusieron el Simposio Mujeres, niños e Historia: lo ‘femenino’ e ‘infantil’ en la sociedad americana. Siglos XVI-XIX, que tuvo lugar en el marco del 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina, Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns; 3 al 5 de julio de 2019, Brasília – DF, Brasil. Momento de reflexión colectiva desde el cual se construyó la presente publicación.
En el artículo de Cássia Rita Santos, emerge el papel de la mujer en la producción de colecciones arqueológicas y etnográficas así como, en consecuencia, el lugar que ocupa en la producción de conocimiento antropológico así como el arqueológico a través de los itinerarios de la Colección Marquesa de Cavalcanti resguardada en el Museo Volkenkunde en Leiden en Holanda. La autora demuestra que, a pesar de las lagunas documentales, investigar el tránsito de los objetos permite conocer regiones coloniales con áreas metropolitanas en la segunda mitad del siglo XIX; en este caso Brasil, Paris y Holanda. Además, las variadas relaciones establecidas a partir del flujo de los objetos pueden brindar una clave para la comprensión de la Historia, la Etnografía y de la Arqueología.
Vania Losada aborda el tráfico de niños indígenas durante el régimen imperial en las regiones interiores de Espírito Santo, Minas y Bahía. En su análisis la autora descentra el supuesto aspecto residual de la cuestión, para una lectura más sistemática, conectando los gabinetes de la Corte de Río de Janeiro y de las provincias vinculadas con aquella. En su visión, el tráfico de las kurukas estuvo en ciernes en el proceso de colonización de nuevos territorios y organizando el mundo del trabajo en el Brasil del período imperial. La práctica del tráfico y las guerras contra las poblaciones indígenas afectaron y desorganizaron diferentes grupos indígenas que buscaron actuar frente a nuevos frentes de ocupación.
En lo que refiere a los estudios de las infancias, Adriana Fraga coloca en discusión aspectos sobre las fronteras establecidas entre el mundo adulto y el infantil a partir de los estudios en distintos campos del conocimiento. Con especial énfasis en la Arqueología, la autora problematiza abordajes que, a priori, identifican a las infancias así como a los niños como temas tangenciales. Desde su interpretación las nuevas formas conceptuales y analíticas de pensar en la niñez apuntan a una superación epistemológica de imágenes consolidadas por la retórica de su tiempo.
‘Charrúas, guenoa minuanos y rapto’ de Diego Bracco pone en debate cómo la práctica del cautiverio, la captura de ‘piezas’, primordialmente centrada sobre aquellos grupos considerados infieles atentó sobre la continuidad material de aquellos. Empero, cabe remarcarse, la práctica de toma de cautivos fue un modo social relacional que vinculó distintos grupos sociales, con intensidades variables a lo largo de la interacción de la sociedad colonial con los grupos nativos de la Banda Oriental.
Por su parte Avellaneda y Quarleri indagan sobre cómo las mujeres, como sector social, constituyeron una preocupación para la política misional reduccional implementada por la Compañía de Jesús y en qué medida esas prácticas pueden ser observadas por una amplia documentación producida por los ignacianos. Registro documental que, entre otras cuestiones, permite esclarecer la existencia de jerarquías de género dentro de las reducciones jesuíticas implementadas para grupos guarani.
Olga María Rodríguez Bolufé y Greyser Coto Sardina cierran el Dossier y se preguntan qué esconde el proceso de sexualización de la mujer mulata y si existen modos de pluralizar el ser mujer mulata en Cuba y cómo es que esta sexualización, fuertemente vinculada con una racialización, posee un vínculo con un pasado colonial de presencia notable en la isla. Proceso para el cual analizan una serie de pinturas desde las cuales se proyectan imágenes que dan cuenta sobre en qué medida los cuerpos mulatos femeninos son apropiados como tipificación de una alteridad convertida en identidad.
Todos estos artículos son un reflejo de intencionalidades, apasionadas por cierto, propias de cada uno de los autores y que señalan direcciones y sentidos diversos, aunque interconectados entre sí, que posibilitan transitar distintos debates historiográficos. Estos debates, con sus sentidos, nos han de conducir por nuevos lares con renovados aires.
Somos nómades por ‘naturaleza’; vamos de un lado a otro –algunas veces sin darnos cuenta que eso mismo está sucediendo porque ese nomadismo no debe de encasillarse como un desplazamiento por territorios, espacios, ambientes o paisajes o categorías sociales. Somos nómades porque la vida de las personas en sí mismo es un andar por distintos estados que pueden ser conceptualizados de diferente modo. Empero aquellas categorías, tomadas a la ligera, sólo refieren a momentos sociales los cuales se encuentran definidos por capacidades que, a su vez, se definen por un estadío posterior que indica el estado que se ha abandonado. Por eso es que proponemos la idea de nociones diversas que, por momentos, se movilizan de modo nómade. Aquella no quietud de los sujetos, y menos aún de sus acciones, es el guante que recogen todos los artículos aquí considerados.
Para finalizar sólo queremos remarcar que uno de los mayores desafíos que se presentan en el binomio investigación / educación es el problema de la transferencia no sólo de los resultados de la investigación sino también de los supuestos desde los que parte el investigador dado que, en algunos casos, éstos poseen una distancia intrínseca y por demás significativa con los supuestos ontológicos propios del sujeto que se analiza. Supuestos de investigación qué, además, son resultado de procesos sociales posibles de ser historizados. Reflexión que bien puede aplicarse a los abordajes que se formulan sobre mujeres y niños. El objetivo del dossier es, por lo tanto, además de poner en discusión resultados de investigación, reflexionar, desde nodos de conocimiento alcanzados, cómo es necesario ponderar y re-pensar distanciamientos metodológicos, entre investigadores y aquellos que consideramos como ‘sujeto de investigación’, que anquilosan la posibilidad de rescatar la diversidad de experiencias y sentidos que las categorías ocluyen. Mujeres y niños son categorías propias de un Occidente moderno que intenta explicar lo que sucede allende sus fronteras.
Sin embargo poco se reflexiona sobre cómo estas dos porciones de la sociedad se conciben y dialogan consigo mismas y entre sí; ello sin olvidar cómo se articulan con el resto de la sociedad. Desde esta última proposición es que animamos que se realice la lectura de los trabajos aquí publicados.
Notas
1. La noción de transitar de los archivos al campo está tomada de la obra de Nathan Wachtel Des Archives aux Terrains. Essais d’Anthropologie historique. Paris. EHESS; Gallimard; Seuil; 2014. Obra de cuño inspirador que recoje diversos ensayos dónde uno de nuestros maestros reflexiona sobre el oficio, práctica y destino de la profesión del historiador / antropólogo en su posición frente a las sociedades del pasado y su relación con nuestro presente
2. Además de la proposición de Pierre Nora cabe mencionar un trabajo de reflexión sobre el oficio de investigar el pasado y su pervivencia y proyección sobre nuestro tiempo y nuestras emotividades y en que medida las mismas originan debates. Invitamos al lector a confrontar Paletó e Eu. Memórias de meu pai indígena de Aparecida Vilaça; São Paulo. Todavia, 2018. Ensayo profundo que incidió notablemente sobre uno de nosotros, llevándonos de la mano por contemplaciones sobre nuestros vínculos afectivos con aquellos que hemos reconocido, y aún reconocemos, como nuestros mentores. Aquí no podemos dejar de mencionar a John Monteiro y Daniel J. Santamaría por todo aquello que nos transmitieron.
3. Reflexionar sobre el pasado exige dejar de lado la pretensión de poder acercarnos a él sin que nuestros ropajes no incidan en la relación que construímos con un tiempo ausente. El tiempo, aquella dimensión esencial y esquiva por momentos, es el telón de fondo de nuestras investigaciones; momentos en dónde, quizás, aquellos sujetos del pasado no pensaron en que sus voces resonarían más allá de su futuro. Por ello es que estas reflexiones no deben de perder de vista que nuestro presente incide sobre nuestro indagar e indagarnos.
4. La mención a una de las obras de Lévi-Strauss no porta la intención de definir, encasillar, esta presentación dentro del Estructuralismo. Todo lo contrario. Aquella reflexión sobre máquinas de reproducir el tiempo debe de alertarnos sobre la necesidad constante de atender sobre otros modos de relacionaros con otras y variadas formas de tiempo, temporalidad y acontecimiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en A Queda do Céu. Palavras de um xamã yanomami. Kopenawa, Davi y Bruce Albert; São Paulo. Companhia das Letras. 2015
Referencias
DE CERTEAU, Michel L´écriture de l´histoire. Paris, Gallimard, 2007.
DEL PRIORE, Mary História das Crianças no Brasil. São Paulo, Contexto, 1999.
LÉVI-STRAUSS, Claude Todos somos caníbales. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2014.
NORA, Pierre Essais d’ego-histoire. Paris, Gallimard, 1987.
THOMPSON, Edward P. Senhores e Caçadores: a origen da Lei Negra. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1997.
Karina Melo – Doutora Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco (UPE) / Brasil. E-mail: [email protected]
Carlos D. Paz – Doutor Professor do Departamento de Historia – FCH-UNCPBA / Argentina. E-mail: [email protected] / [email protected]
MELO, Karina; PAZ, Carlos D. Apresentação. História Unisinos, São Leopoldo, v.24, n.3., setembro / dezembro, 2020. Acessar publicação original [DR]
Um papel para a história: o problema da historicidade da ciência | Mauro Lúcio Leitão Condé
A produção acadêmica mostra a importância de que as teorias e as práticas científicas sejam investigadas à luz de seu desenvolvimento desde o passado, motivo pelo qual a história da ciência se instituiu como domínio autônomo do conhecimento. Construída em debate (e também embate) disciplinar com a história, a filosofia e a sociologia, a história da ciência tem proposto questionamentos teóricos, alguns respondidos de diferentes maneiras ao longo do tempo, outros ainda não totalmente solucionados. Produzir uma narrativa em história da ciência suscita problemas metodológicos e epistemológicos para o pesquisador. De um lado, a escolha das fontes e a adoção do referencial teórico podem gerar dificuldades práticas para o trabalho investigativo; de outro, o caráter histórico da constituição da ciência interroga a escrita da história da ciência. É nesse cenário que se insere o livro Um papel para a história: o problema da historicidade da ciência ( Condé, 2017 ). Leia Mais
Chronic disease in the twentieth century: a history | George Weisz
Resenhista
Luiz Alves Araújo Neto – Doutorando. Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde/Fiocruz. orcid.org/0000-0001-7965-2957 E-mail: [email protected]
Referências desta Resenha
WEISZ, George. Chronic disease in the twentieth century: a history. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014. Resenha de: ARAÚJO NETO, Luiz Alves. Muito além da transição epidemiológica: doenças crônicas no século XX. História, Ciência, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.26, n.1, jan./mar. 2019. Acessar publicação original [DR]
El estado de la ciencia: principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanas/ interamericanas 2017 | Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología – Iberoamericana e Interamericana
No ano em que completou 22 anos de trabalho, a Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología – Iberoamericana e Interamericana (Ricyt) publicou a edição de 2017 de El estado de la ciencia . Editado em espanhol, o relatório é publicado anualmente desde 2000 e representa o esforço conjunto dos países em compilar e sistematizar os dados da ciência e tecnologia (C&T) da região. Inclui indicadores comparativos de investimentos, recursos humanos, publicações e patentes, além de estudos sobre a ciência regional. Publicado em formato eletrônico, está disponível para acesso livre em: <www.ricyt.org/publicaciones>.
A edição de 2017 reúne informações estatísticas de 2006 a 2015 e estudos sobre a situação atual e tendências da ciência, tecnologia e inovação na Ibero-América. Os indicadores são apresentados no primeiro capítulo, “O estado da ciência em imagens”, já tradicional no relatório. Elaborados com base em dados de organismos nacionais, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Instituto de Estatísticas da Unesco, os indicadores revelam as dinâmicas da C&T na região em relação ao contexto global. Compreendem dados econômicos, de investimentos e recursos humanos, além de contagens da produção científica dos países. Leia Mais
O reino do encruzo: história e memória das práticas de pajelança no Maranhão (1946-1988) | Raimundo Inácio Souza Araújo
O livro de autoria de Raimundo Inácio Souza Araújo, professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, apresenta-nos, de uma maneira sensível e respeitosa, as práticas culturais associadas à pajelança no Maranhão, dando visibilidade às transformações ocorridas com a intensificação do êxodo rural e com a pluralização do campo religioso, principalmente com a chegada da prelazia católica e dos evangélicos de viés neopentecostal no município de Pinheiro e em outros municípios maranhenses, avessos aos entrecruzamentos e trânsitos culturais que marcavam as religiosidades locais. Com uma narrativa rica de significados, o livro é um convite à reflexão sobre (in)tolerância religiosa no contexto contemporâneo e ao ato de narrar o outro a partir da negatividade, a exemplo do catolicismo e do (neo)pentecostalismo, interpretações cristãs que viam nas práticas de pajelança crenças e costumes que deveriam ser abandonados.
A pajelança emerge nas 288 páginas do livro como uma manifestação cultural que integra o complexo religioso afro-maranhense, marcado por um regime de entrecruzamentos que dialoga com o tambor de mina, o catolicismo popular, o espiritismo e as práticas curativas. O pajé insurge textualmente como uma autoridade no plano dos cuidados terapêuticos, incluindo a realização de partos no meio rural, num período histórico marcado pela ausência de médicos na cidade e no campo, territórios pontilhados pela presença de curandeiros e seus unguentos, permeando as sensibilidades e sociabilidades do tecido rural-urbano e sua interface com os ritos lúdico-religiosos. A gramática musical está por toda parte, desde os sons dos tambores, as ladainhas, as cantigas e as doutrinas que convocam os encantados, incorporando-se inicialmente no pajé e, depois, nos demais filhos do terreiro. O estado de transe, a voz alterada e a performance desenham o corpo dos incorporados e contribuem para a construção da teatralidade da festa. Leia Mais
60 anos da Revolução Cubana e 20 anos da Revolução Bolivariana: um balanço histórico, literário e historiográfico / Cadernos do Tempo Presente / 2019
O ano de 2019 foi marcado pelas rememorações de duas experiências históricas relevantes da América Latina: os 60 anos da Revolução Cubana e os 20 anos da Revolução Bolivariana. Ambas as experiências, carregadas de simbolismo, consistem em eventos importantes para a compreensão da História latino-americana, em razão dos impactos dessas experiências revolucionárias na região.
A vitória dos jovens rebeldes de Sierra Maestra do Movimento Revolucionário 26 de Julho (MR-26), em janeiro de 1959, comandados por Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto “Che” Guevara, Camilo Cienfuegos, entre outros nomes marcantes, foi um dos acontecimentos mais relevantes e, por isso, um dos mais influentes da história latino-americana da segunda metade do século XX.
O contexto da Guerra Fria e os impactos dessa revolução na região, exemplificados na propagação das consígnas anti-imperialistas, anticolonialistas, latino-americanistas e no surgimento de grupos guerrilheiros que buscaram no modelo cubano a referência para a transformação social, fizeram dessa experiência o paradigma para os que desejavam a realização da utopia revolucionária na América Latina entre as décadas de 60’ e 80’ do século XX.
Com o fim da Guerra Fria, em 1991, Cuba sofreu com a asfixia econômica, em virtude das da estagnação econômica decorrente do fim da União Soviética e da perpetuação do embargo econômico norte-americano. No entanto, a sua capacidade de resistência fortaleceu o seu simbolismo entre as esquerdas latino-americanas e a perpetuou enquanto um modelo para os desejosos da utopia revolucionária na América Latina.
Em 1998, a eleição de Hugo Chávez para a presidência da Venezuela inaugurou um ciclo político na história do tempo presente latino-americana marcado pelo protagonismo das esquerdas, em decorrência da sucessão de suas vitórias eleitorais entre 1998 e 2009. O resgate das bandeiras políticas propagandeadas pelos cubanos desde a década de 1960, como o anti-imperialismo e o latino-americanismo, foi uma marca desse período, que teve intensas conexões com Cuba revolucionária.
O caso venezuelano foi o mais radicalizado das experiências recentes de governos de esquerda. Os traços nacionalistas, democráticos participativos, pró-socialistas e de soberania nacional, que pareciam esquecidos nos anos neoliberais das décadas de 1980 e 1990, foram retomados e tornaram-se consígnias transformadoras a serem espalhadas pelo nosso continente. Nesse processo, além disso, assistimos a uma apropriação política do discurso revolucionário cubano, que contribui para a construção do imaginário revolucionário do bolivarianismo resgatado por Hugo Chávez.
A forte conexão entre Hugo Chávez e Fidel Castro fez com que o projeto bolivarianista do chavismo exemplificasse de forma mais veemente a influência da revolução cubana nos grupos de esquerda latino-americanos que ganharam projeção política no início do século XXI. A aliança entre esses dois ícones da história latino-americana, iniciada em dezembro de 1994, deveu-se à recíproca admiração e a interesses políticos, econômicos e geopolíticos.
Assim, a importância histórica das duas revoluções fez com que agregássemos contribuições de pesquisadores das áreas de História, Economia, Literatura e Relações Internacionais em único dossiê. Composto por sete artigos e uma resenha de pesquisadores brasileiros e venezuelanos, esse material poderá contribuir para as reflexões sobre as experiências políticas vividas por cubanos e venezuelanos nas últimas seis décadas. Boa leitura!
Dilton Maynard (UFS)
Karl Schurster (UPE)
Rafael Araujo (UERJ)
MAYNARD, Dilton Cândido Santos; PINHIRO DE ARAUJO, Rafael; SCHURSTER, Karl. [60 anos da Revolução Cubana e 20 anos da Revolução Bolivariana: um balanço histórico, literário e historiográfico]. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, v.10, n.2, 2019. Acessar publicação original [DR]
Revista de História | Salvador, v. 7, 2019.
Revista de História. Salvador, v. 7, 2019.
Expediente
- EXPEDIENTE | Milena Pinillos Prisco Teixeira | PDF
Editorial
- EDITORIAL | Rafael Sancho Carvalho da Silva, Daniel Vital Silva Duarte | PDF
Artigos
- “DE PIÉ PUES LOS HOMBRES DE COLOR” : o processo de invisibilização do negro em Buenos Aires, e o discurso antissegregacionista do periódico afroportenho La Broma (1879-1882) | Igor Fernandes Justino | PDF
- RESISTÊNCIAS E COLABORAÇÕES AFRICANAS em dois relatos de viagens em Angola no século XIX | Gabriel Felipe Silva Bem | PDF
- DISPUTAS E LEGISLAÇÕES NO CARNAVAL DO RECIFE (1955-1964) | Rosana Maria dos Santos | PDF
- “O POVO TEM FOME”: uma reflexão sobre a penúria em Salvador na Primeira República (1889-1920) | Osnan Silva de Souza | PDF
- UMA LEITURA DO FEMININO NA ODISSEIA: o caso de Penélope, e o perfil da mulher helênica pré-socrática | Alexandre Bartilotti Machado, Marcia Maria da Silva Barreiros | PDF
Entrevista
- HISTÓRIA E POLÍTICA: luta pela democracia e diversidade. Uma entrevista com James N. Green | Daniel Vital Silva Duarte, Rafael Sancho Carvalho da Silva | PDF |
Resenhas
- Paula Almeida Mendes. Paradigmas de Papel: A escrita e a edição de “vidas” de santos e de “vidas” devotas em Portugal (séculos XVI – XVIII). | Rafaela Almeida Leovegildo Franca | PDF
Tempo. Niterói, v.25, n.1, 2019.
- O Discurso e a Noticia: manuscritos sobre a revolta de 1720 atribuídos a Pedro Miguel de Almeida, 3 o conde de Assumar Artigo
- Almada, Márcia; Monteiro, Rodrigo Bentes
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Na antecâmara do Império: o direito à terra e o debate sobre a propriedade no pensamento de José Bonifácio de Andrada e Silva (1819-1822) Artigo
- Pombo, Nívia; Machado, Marina Monteiro
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A presença dos vulgarizadores das ciências na imprensa: a Sciencia para o Povo (1881) e seu editor, Felix Ferreira Artigo
- Kodama, Kaori
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A luta pela pátria atravessa fronteiras: pasquins sediciosos e difusão de ideias revolucionárias em Cerro de Pasco, Peru (1812) Artigo
- Davio, Marisa
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- Duas canonizações napolitanas? Tomás de Aquino e Luís de Anjou (1308-1323) Artigo
- Teixeira, Igor S.
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A apropriação do corporativismo fascista no “autoritarismo instrumental” de Oliveira Vianna Artigo
- Gentile, Fábio
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Repensando a comunidade política em tempos de incerteza: ideias políticas na imprensa peruana durante a ocupação chilena (1881-1884) Artigo
- Arellano-González, Juan Carlos
- Resumo: ES PT
- Texto: ES
- PDF: ES
- A matriz socio-histórica e o ethos no coração e na força do MPLA na Angola moderna Article
- Vidal, Nuno Carlos de Fragoso
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Corporativismos: experiências históricas e suas representações ao longo do século XX Dossiê Apresentação
- Viscardi, Cláudia Maria Ribeiro; Gori, Annarita
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Governar a modernidade: A representação corporativo-empresarial no projeto dos conselhos industriais ingleses de entreguerras Dossiê Corporativismos: Experiências Históricas E Suas Representações Ao Longo Do Século Xx
- Torreggiani, Valerio
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- O momento forte do corporativismo: Estado Novo e profissionais liberais Dossiê Corporativismos: Experiências Históricas E Suas Representações Ao Longo Do Século Xx
- Vannucchi, Marco Aurélio
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Um legado inconveniente: corporativismo e cultura católica do Fascismo à República Dossiê Corporativismos: Experiências Históricas E Suas Representações Ao Longo Do Século Xx
- Cau, Maurizio
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- Do corporativismo até a “fundação do trabalho”: observações das culturas políticas durante o Fascismo e a República Italiana Dossiê Corporativismos: Experiências Históricas E Suas Representações Ao Longo Do Século Xx
- Cerasi, Laura
- Resumo: EN PT
- Texto: EN
- PDF: EN
- A construção do sistema corporativo em Portugal (1933-1974) Dossiê Corporativismos: Experiências Históricas E Suas Representações Ao Longo Do Século Xx
- Freire, Dulce; Ferreira, Nuno Estêvão
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Iberoconceitos, história conceitual, teoria da história, Entrevista a Javier Fernández Sebastián Entrevista
- Neves, Guilherme Pereira das; Monteiro, Rodrigo Bentes; Iegelski, Francine
- Resumo: ES PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Canções escravas, trânsitos musicais atlânticos e racismo nas Américas Resenha
- Souza, Sílvia Cristina Martins
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- A primeira experiência com o Absolutismo na Espanha Resenha
- Cruz, Miguel Dantas da
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
O pensamento intelectual, a historiografia e o ensaísmo na produção intelectual brasileira e latino-americana (1870-1960) / Tempos históricos / 2019
I
O presente número da Revista Tempos Históricos, o periódico científico do Programa de Pós-Graduação e do Curso de Graduação em História da Unioeste, apresenta o seguinte dossiê: O pensamento intelectual, a historiografia e o ensaísmo na produção intelectual brasileira e latino-americana (1870-1960).
O objetivo desse dossiê é dar vazão à produção historiográfica fundamentada em fontes de natureza intelectual, ou seja, obras publicadas, destinado aos leitores. Por isso, duas questões logo se impõem: o que é um intelectual e qual seu público?
A ideia do intelectual como agente social aparece primeiro na Europa Ocidental do século XIX, em particular na França. Convém lembrar que não há uma unidade em torno dos intelectuais, dos artistas, ou dos escritores, uma vez que podem assumir diferentes narrativas e posições. Norberto Bobbio (1997: 116) observa os intelectuais como “porta-vozes” da opinião pública, fossem eles “progressistas ou conservadores, radicais ou reacionários, libertários ou autoritários, liberais ou socialistas, céticos ou dogmáticos, laicos ou clericais (…)”. O que os une é o fato de utilizarem o texto como mecanismo de intervenção na vida pública, seja na ciência, na política, nas artes, na literatura, etc.
Os intelectuais, para se expressarem, necessitam um público alfabetizado, sistemas de edição, publicação e distribuição de livros. Precisam também de um complexo conjunto de mediadores, como professores e jornalistas, que divulgam e animam os ambientes letrados.
Em termos políticos, um momento importante de afirmação dos intelectuais foi o célebre caso Dreyfus, na França de 1894, quando um oficial judeu das forças armadas francesas, Alfred Dreyfus, foi injustamente acusado de traição à pátria, por supostamente transmitir informações confidenciais aos alemães. Em 14 de janeiro de 1898, no jornal L’Aurore, o escritor Émile Zola liderou o “Manifesto dos Intelectuais”, que congregava jornalistas, professores, artistas e escritores. O texto mobilizou importantes setores da opinião pública francesa em defensa de Dreyfus, demonizados pelos conservadores franceses (BEGLEY, 2009). [3] O episódio consolidou o papel do intelectual como um agente público importante nas sociedades contemporâneas. O próprio termo intelectual passou a significar não só um profissional que praticava atividades eruditas, em torno do texto, mas também um sujeito que se posicionava politicamente frente às grandes questões de seu tempo (MARLETTI, 1998).
Pierre Bourdieu, ao abordar os intelectuais, menciona a existência de um “microcosmo”, regido por uma lógica e regras próprias. A perspectiva de relativa autonomia do “campo” intelectual contribui na compreensão do funcionamento das disputas e alianças. É importante insistir que os homens de letras estão conectados com as questões amplas da vida social, de seu tempo e de suas circunstâncias.
Ao se fazer História usando como fonte a produção de intelectuais, de escritores ou de artistas, é preciso observar um elemento decisivo: quem escreve, lê. Assim como as opções políticas, estéticas, éticas, os interesses, os pertencimentos institucionais e uma série de outras questões também repercutem no texto, inclusive a recepção que uns autores fazem dos outros. Para Pocock (2003: 45): “todo e qualquer ato de fala que o texto tenha efetuado pode ser re-efetuado pelo leitor de maneiras não idênticas às que o autor pretendeu.” Em outras palavras, as narrativas e perspectivas interpretativas são mais dinâmicas, pois portadas de um complexo sistema de interpretação, apropriação e recepção. Roger Chartier também destaca a historicidade da leitura e não apenas a da escrita. O autor afirma que um livro se transforma justamente pelo fato de não mudar, uma vez que o mundo e os tempos mudam, transformando os significados dos textos (CHARTIER, 1988: 131).
Ainda em termos metodológicos é importante observar o que Jean-François Sirinelli definiu como “estruturas de sociabilidade”, ou seja, os ambientes institucionais nos quais os intelectuais circulam: revistas, academias, universidades, centros de estudo e pesquisa, jornais, associações científicas, etc. Os lugares de formação e difusão de conhecimento e de narrativas, ou mesmo a formação de uma rede de alianças e confrontos é importante para compreender a maneira como os intelectuais interferem no espaço público (SIRINELLI, 2003).
Quando se aborda uma rede de intelectuais ou artistas e escritores é preciso observar que seus integrantes não se resumem aos grandes autores, mas também é também constituída nomes menores, às vezes jovens aspirantes, semelhantemente importantes na difusão de narrativas e na formação das hierarquias e dos grupos, observa Claudia Wasserman (2015: 72).
A consolidação da modernidade oitocentista, sobretudo a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, imprimiu uma inédita aceleração da história, envolvendo um crescente número de pessoas, via ampliação da cidadania, da alfabetização, e da valorização da ciência e dos saberes laicos, tornando a intervenção pública dos homens e das mulheres de letras profundamente associadas às de expansão de futuro e de progresso. “A consciência de que o mundo pode ser transformado numa direção ou outra deu aos chamados “homens de cultura” projeção até então inédita, tornando o engajamento político dos intelectuais particularmente importante, de modo que a história dos intelectuais é uma abordagem relevante na construção de um olhar para sociedades contemporâneas” (SCHNEIDER, 2019).
II
Abrimos o dossiê com o artigo do professor Daniel Pinha (IFCH-UERJ) intitulado “Calcanhar de Aquiles da Geração 1870: Machado de Assis e o problema da recepção do repertório externo”. Nele, o autor parte da crítica feita por Machado de Assis à Geração de 1870, sobretudo no texto “A nova geração” (1879), no qual o Bruxo do Cosme Velho sintetiza na produção letrada de toda uma geração, inclusive Sílvio Romero, marcado pela receptividade do discurso de modernidade no Brasil, impulsionado pela circulação do cientificismo em meio à crise política e ao esgotamento do modelo romântico de fins do Oitocentos. Assim, tomando Romero como “exemplo-síntese” dos letrados dessa época, Pinha analisa o desafio enfrentado por esses homens na adaptação das “novas ideias” que vinham de fora às “particularidades do meio brasileiro” para, somente então, darem origem a uma nova forma. Eis o “Calcanhar de Aquiles da Geração de 1870” descrito neste artigo.
No segundo artigo deste dossiê – “A libertação linguística da literatura nacional: tramas de política, língua e literatura no Brasil (1930-40)” – as historiadoras Gilvana de Fátima Figueiredo Gomes (UNICENTRO) e Maria Paula Costa (UNICENTRO) problematizam as disputas políticas e intelectuais em torno da unidade linguística nacional durante a década de 1930. A preocupação das autoras está em compreender a importância atribuída à unidade linguística nacional por parte de críticos literários, articuladores do Estado Novo e “romancistas sociais”, notadamente Jorge Amado. Desta forma, elas mapeiam textos e pensamentos sobre a temática e revelam as tensões político culturais do período de busca pela definição da identidade nacional, mostrando que os usos da língua presidiam muitas das escolhas políticas e estéticas.
Na sequência, o artigo “As migrações internas à luz do pensamento de Roberto Simonsen: uma análise crítica do ensaio ‘recursos econômicos e movimentos das populações’”, da socióloga Lidiane Maria Maciel (UNIVAP) e do cientista social Arthur de Aquino (UNICAMP), apresenta análise dos debates em torno da formação da mão de obra livre para o desenvolvimento econômico do país no período do Estado Novo. O texto aborda a temática das migrações internas e internacionais através do debate presente na obra de Roberto Simonsen (1889-1948), especialmente do ensaio “Recursos econômicos e movimento de população”, publicado originalmente em 1940. Após empregar uma análise discursiva do texto de Simonsen, os autores chamam atenção para o seu pioneirismo ao apontar para a responsabilidade do Estado na promoção de políticas de planejamento migratório a fim de melhorar os níveis de vida no país.
Já o quarto artigo que compõe o dossiê é de autoria do historiador Cairo de Souza Barbosa. No estudo intitulado “Do ‘vigor democrático’ à floração do golpe: interpretações da crise brasileira no pensamento político-social de Florestan Fernandes e Wanderley Guilherme dos Santos (1954-1962)”, o autor propõe a discussão de duas interpretações sobre a crise brasileira durante as décadas de 1950 e 1960. Ampara-se em premissas da História Intelectual, seu texto empreende uma análise da obra “Existe uma crise de democracia no Brasil?” (1954), de Florestan Fernandes, e “Quem dará o golpe no Brasil?” (1962), de Wanderley Guilherme dos Santos. Barbosa busca explicitar que a visão distinta desses intelectuais sobre a intensificação dos sentimentos de conflitos e impasse na história do Brasil em meados do século XX estava relacionada às grandes transformações no espaço da experiência política, além, é claro, das tradições teóricas às quais cada autor se filiava. Não é por outra razão, portanto, que esses intelectuais acabaram desenhando propostas distintas de superação aos dilemas postos à época para a permanência da democracia no Brasil.
Já o quinto artigo deste dossiê –“O socialismo em movimento (para frente ou para trás) da Revista Movimento Socialista” – assinado pelo historiador Lineker Noberto (UFRGS / UNEB), apresenta um periódico marxista intitulado Movimento Socialista, que teve apenas duas edições: julho e dezembro 1959. A partir de uma ampla análise do conteúdo dessa revista, o autor discute a compreensão teórica da vida nacional apresentada nas páginas do periódico, explicitando uma perspectiva revolucionária do marxismo brasileiro que, segundo o autor, acabou por engendrar as linhas mestras de uma nova experiência na organização do movimento comunista no Brasil.
Fecha o dossiê o artigo “Paranismo: entre a ideologia e o imaginário”, do historiador Fabrício Souza. A pesquisa traz uma análise de dois estudos acerca do movimento paranista: Regionalismo e antirregionalismo no Paraná (1978), do sociólogo Ruben Cesar Keinert, e Paranismo: o Paraná inventado; cultura e imaginário no Paraná da I República (1997), do historiador Luís Fernando Lopes Pereira. Em seu texto, o autor analisa as profundas diferenças verificadas em ambos os trabalhos, centrando foco na comparação das filiações teóricas dos autores, nas fontes empregadas por ambos, nos recortes temporais, nos procedimentos metodológicos e em suas respectivas modalidades de escrita da história.
Esperamos que os leitores apreciem criticamente os trabalhos selecionados, e que eles possam ter recepção fértil, gerar novas pesquisas e outras inquietações.
Notas
3. Sobre as questões histórica envolvidas, destaco o segundo capítulo: “O passado nunca está morto”, p. 57-89.
Referências
BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea. São Paulo: Editora da UNESP, 1997.
BEGLEY, Louis. O Caso Dreyfus: Ilha do Diabo, Guantánamo e o pesadelo da história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.
MARLETTI, Carlo. “Intelectuais”. In BOBBIO, Norberto & Outros. Dicionário de Política. Volume 1. Brasília: Universidade de Brasília, 1998.
POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003.
SCHNEIDER, Alberto Luiz. Capítulos de história intelectual: racismos, identidades e alteridades na reflexão sobre o Brasil. São Paulo: Alameda, 2019.
SIRINELLI, Jean-François. “Os Intelectuais”. In RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora UFRJ / Editora FGV, 2003.
WASSERMAN, Claudia. História intelectual: origem e abordagens. Tempos Históricos, Marechal Cândido Rondon, vol. 19, 2015, pp. 63-79.
Alberto Luiz Schneider1 -Professor de História do Brasil e do Programa de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2005), com Pós-Doutorado no King’s College London (2008) e no Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP, 2011).
Claércio Ivan Schneider2 – Professor de História do Brasil II no curso de História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE. Doutor em História pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita (UNESP, 2009).
SCHNEIDER, Alberto Luiz; SCHNEIDER, Claércio Ivan. Introdução. Tempos Históricos, Paraná, v.23, n.2, 2019. Acessar publicação original [DR]
Cultura escrita no mundo ibero-americano: identidades, linguagens e representações / Cantareira / 2019
Segundo Lucien Febvre e Henri Jean-Martin, o livro moderno surgiu a partir do encontro de dois fatores que, apesar de distintos, mantêm alguma ligação. Primeiro, foi necessário que o papel se firmasse enquanto mídia, o que não aconteceu antes do século XIV. Até então, as técnicas empregadas na produção das folhas, faziam com que seu preço fosse alto e sua qualidade inferior, mais frágil e pesado, com a superfície rugosa e repleto de impurezas. Concorrendo com o já estabelecido pergaminho de pele de carneiro, o novo material não oferecia aos copistas um suporte adequado para a transcrição de manuscritos, sugando a tinta, mais do que o necessário, e com possibilidades de duração limitada.[4]
O segundo fator apontado é a técnica de impressão manual, composta pela tríade: caracteres móveis em metal fundido, tinta mais espessa e prensa. Deixando a alquimia das tintas de lado, pela facilidade com a qual era possível produzi-las então, o grande avanço da época foi a composição em separado dos tipos móveis. Para cada signo fabricava-se uma punção de metal duro – composto de uma liga de chumbo, estanho e antimônio que variava de proporção conforme a região –, sob a qual se demarcava a matriz em relevo. Em metal menos duro moldavam-se as imagens em côncavo. A seguir, colocadas em uma forma se podia produzir os caracteres em quantidade suficiente para imprimir uma ou mais páginas. Sob a pressão do torno, o velino – pergaminho de alta qualidade, feito a partir de pele de bezerro ou cordeiro – não resistia à tensão imposta pela placa de metal que guardava os tipos. O papel, por sua vez, forçado à mesma pressão, continha a tinta mais espessa, apresentando uma nitidez regular de impressão. Eis o surgimento da indústria tipografia.[5]
Dos incunábulos impressos na oficina de Johann Gutemberg, em Mogúncia, até o final do século XVIII, o trabalho dos tipógrafos e impressores permaneceu o mesmo, com algumas pequenas alterações. A realização da segunda edição da Encyclopédie, a exemplo, seguia os “ritmos de uma economia agrária”, dependente da sazonalidade dos recolhedores de trapos e dos papeleiros.[6] Segundo Robert Darnton: “No início da Era Moderna, as tipografias dividiamse em duas partes, la casse, onde se compunham os tipos, e la presse, onde se imprimiam as folhas.”[7] Na composição alinhavam-se de forma manual e solitária um a um os tipos, formando linha a linha as placas. No trabalho de impressão eram necessários ao menos dois homens: um deles entintava as formas que estavam encaixadas sobre uma caixa móvel, com a prensa ainda aberta; o outro colocava a folha sobre uma armação de metal, onde eram fixadas as presas, e puxava a barra da prensa, fazendo o eixo girar em parafuso, produzindo uma das páginas. Terminada a resma, a atividade começava novamente, com a impressão no verso das folhas. Uma operação que requeria enorme esforço físico, tanto mais se tratando de uma tiragem grande. [8]
Portanto, até que se introduzissem efetivas mudanças técnicas, o período tratado compreende uma era de manufatura do livro. Entre o trabalho realizado pelos monges nos scriptoria e pelos copistas profissionais, que se instalaram sobretudo ao redor dos grandes centros e das universidades,[9] e a tecnologia adotada em 1814, com a prensa cilíndrica, e da força do vapor, a partir de 1830,[10] existe um intervalo de tempo no qual o trato com o livro é peculiar. Para os homens da época moderna, a relação com este objeto é diametralmente outra, opondo-se tanto daquela adotada pelos medievais, quanto da praticada hoje. O exame cuidadoso dos aspectos físicos era um expediente comum aos leitores do Antigo Regime. À qualidade das páginas era essencial uma espessura fina, de um branco opaco, com a impressão devidamente legível e em caracteres de bom gosto.[11] Uma preocupação material, de consumo, secular.
Junto à difusão dos livros, ocorreu a difusão dos formatos. Pouco a pouco, os pesados in fólio foram dando espaço a novos tamanhos, mais leves e com caracteres menores. Em pleno século XVII, quando a indústria já estava suficientemente estável, os impressores Elzevier lançaram uma coleção minúscula para a época, in-12, o que causou o espanto dos eruditos.[12] A partir de então, as pequenas edições invadiram o mercado com publicações in-12, in-16 e in-18. A predominância da literatura religiosa não cessou, mas o interesse por temas como Literatura, Artes e Ciências, nos circuitos legais, e literatura pornográfica, sátiras, libelos e crônicas escandalosas e difamatórias, que corriam nos circuitos clandestinos, só fez aumentar.[13]
A popularização de material impresso e a diversificação dos temas foram acompanhadas de um aumento do público leitor. A Europa experimentou um crescente processo de alfabetização entre os séculos XVII e XVIII. Analisando países como Escócia, Inglaterra e França, e regiões como Turim e Castilla (Toledo), o historiador Roger Chartier apontou, a partir de assinaturas em registros cartoriais, que a alfabetização demostrou avanços contínuos e regulares nesse período. E, na América, Nova Inglaterra e Virgínia, o movimento seguiu ritmos muito parecidos. Os ofícios e as condições sociais eram fatores determinantes para o ingresso, mesmo que de forma superficial, no mundo da escrita e da leitura. É quase certo que um clérigo, um notável ou um grande comerciante soubesse ler e escrever. Bem como, é quase certo que um trabalhador comum não dominasse essas habilidades.[14]
A imprensa não desbancou de imediato os textos manuscritos. A função e utilização dada à cópia e o público para quem ela se destinava, amplo ou restrito, condicionaram a forma de reprodução durante muito tempo. A sua imposição ocorreu devido à possibilidade de um aumento considerável da reprodução, ao barateamento do custo das cópias e a diminuição do tempo de produção de um livro. Cada leitor individual passou a ter acesso a um número maior de títulos e cada título atingia um número maior de leitores. Estes argumentos, porém, não justificam ou não explicam, por si, as “revoluções da leitura” experimentadas pelo Ocidente na época moderna. A mudança e aprimoramento das técnicas tiveram um papel relevante, mas não são as únicas determinantes.[1]5 Ao mesmo passo em que elas ocorriam, alteravam-se os paradigmas sobre as práticas de leitura e a epistemologia em relação aos livros. A revolução passou por dois movimentos. No final do século XIV, a leitura silenciosa se converteu em prática comum, ganhando um número cada vez maior de adeptos, e a escolástica foi perdendo força, tornando o livro um objeto dessacralizado, um instrumento de trabalho e de conhecimento das coisas do mundo. Segundo Chartier: “Essa primeira revolução na leitura precedeu, portanto, a revolução ocasionada pela impressão, uma vez que difundia a possibilidade de ler silenciosamente (pelo menos entre os leitores educados, tanto eclesiásticos quanto laicos) bem antes de meados do século XV”.[16]
Passou-se, gradualmente, do predomínio de uma forma de leitura intensiva, ler e reler várias vezes um número limitado de obras, decorando trechos, recitando e memorizando com um sentido pedagógico, até outra forma, extensiva. Tornava-se cada vez mais comum possuir alguns livros ou uma pequena biblioteca particular para estudo ou para lazer. Textos curtos, alguns efêmeros, impressos e manuscritos de hora, o comércio ambulante de livretos… em tudo contribuíram para esse novo costume. É sabido que as duas modalidades ocuparam o mesmo espaço de tempo e uma não fez desaparecer a outra, no entanto, as descrições, as pinturas, os escritos e outros testemunhos tendem a sublinhar a vulgarização dessa prática.[17]
Em estudo recente, publicado pelos psicólogos Noah Forrin e Colin M. MacLoad, do Departamento de Psicologia da University Waterloo, no Canadá, constatou-se que a palavra lida em voz alta aparece como uma atividade com “efeito de produção”. Ler e ouvir o que se está lendo, uma medida duplamente ativa – “um ato motor (fala) e uma entrada auditiva autorreferencial” –, faz com que os trechos ganhem distinção, fixando suas marcas na memória de longo prazo. Esta ação, realizada repetidas vezes operacionaliza a memorização de passagens longas.[18] Poemas da antiguidade ou do medievo, possuíam um sem número de versos que eram recitados, em maior ou menor proporção, por diversas pessoas e em diferentes locais. A leitura silenciosa (e extensiva), porém, implica em um vestígio distinto à lembrança, mais próximo da anamnese do que da fixação mnemônica.[19]
O resultado da pesquisa de Forrin e MacLoad pode ajudar a desvendar desencadeamentos que ocorreram no passado e que mudaram nossa relação com o livro. Por um lado, novos gêneros aparecem, uma forma narrativa mais alongada e menos rimada fez sentir sua presença: o romance.[20] Este, possui todos os aspectos necessários para agradar um leitor voraz, que folheasse um volume para seu entretenimento sem a preocupação de decorar passagens, mas, em alguns casos, o efeito foi justamente o contrário. Na lista dos best sellers da época moderna estão Nouvelle Héloise, Pâmela, Clarissa, Paul et Virgine, Souffrances du jeune Werther, Les aventures de Télémaque, dentre outros, novelas com capacidade de prender seus leitores por mais de uma sessão repetidas vezes.[21] Por outro lado, encadernados de caráter mais informativo, como os guias, as enciclopédias, os atlas históricos e geográficos, as cronologias, os almanaques, os catálogos, etc., ganharam cada vez mais espaço. Situação que provocava a queixa dos eruditos, como é o caso do suíço Conrad Gesner, que cunhou a expressão “ordo librorum”, mas não deixou de reclamar da “confusa e irritante multiplicação de livros”, provocada pelo significativo aumento dos números de títulos disponíveis no mercado.[22]
É sob esta arquitetura histórica que debruçam os estudos apresentados para a trigésima edição da Revista Cantareira, compondo o dossiê “Cultura escrita no mundo ibero-americano: identidades, linguagens e representações”. Fisicamente distante das metrópoles europeias, os súditos ibéricos instalados ou nascidos no continente americano não se furtaram a experimentar as consequências dessa nova invenção. Mais do que ler, eles refletiram sobre as ideias trazidas pelos livros e por outros impressos, transportados, muitas vezes, clandestinamente – “sob o capote”. Alguns assumiram uma postura conservadora diante das novidades; outros utilizaram as palavras como motivação para contestar a ordem social, a religião ou as autoridades estabelecidas. A historiografia brasileira avançou significativamente, nos últimos anos, sobre as temáticas abordadas aqui. Portanto, esses textos, ao mesmo tempo em que apresentam novidades relacionadas às pesquisas de historiadores em formação, nível mestrado e doutorado, também caminham por terreno consolidado.[23]
No artigo “A cultura epistolar entre antigos e modernos: Normas e práticas de escrita em manuais epistolares em princípios do século XVI”, Raphael Henrique Dias Barroso aborda os códigos e normas da escrita epistolar que circulavam os ambientes cortesãos do início do Quinhentos. Com base nas obras de Erasmo de Roterdã e Juan Luis Vives, o autor demonstra a presença destes códices nas missivas diplomáticas trocadas entre o embaixador D. Miguel da Silva e D. Manuel, monarca português entre 1469 e 1521.
O segundo artigo, intitulado “A incorporação de elementos da cultura escrita castelhana nas histórias dos códices mexicas dos séculos XVI e início do XVII” de Eduardo Henrique Gorobets Martins, mostra a importância que a cultura escrita possuía nas relações de poder no mundo ibero-americano. Longe de considerar os índios como vítimas passivas da colonização, o autor evidencia como diversos grupos indígenas, que se aliaram aos espanhóis contra os mexicas, se apropriaram da cultura escrita castelhana tanto com o objetivo de reescrever suas histórias a partir de novos vocábulos como se inserir na colonização para obter cargos e privilégios juntos aos espanhóis.
O artigo seguinte, de autoria de Caroline Garcia Mendes, também demonstra a importância da cultura escrita no campo político em um outro espaço: a monarquia portuguesa nos anos seguintes à Restauração de 1640. Intitulado “As relações de sucesso e os periódicos da Península Ibérica na segunda metade do século XVII: imprimir, vender e aparecer nos materiais de notícia sobre a Guerra”, a autora analisou duas dimensões do processo de profusão das notícias impressas em Portugal: a política e a econômica. Para tal, destaca a conflituosa relação entre impressores e cegos no que dizia respeito à circulação dos impressos. Do lado político, enfatiza a importância que certos feitos de alguns personagens adquiriam ao serem difundidos pela cultura escrita. No fundo de tal preocupação, estava a preocupação de se fazer ver diante de todos, especialmente do rei.
Em “Da devoção à violência: a atribuição da mentira como estratégia de discurso na Guerra Guaranítica”, escrito por Rafael Cézar Tavares, o exame recai sobre as estratégias discursivas de ambos os lados partidários dos eventos. Para tanto, o autor analisou três conjuntos documentais difusos: as cartas dos Guarani enviadas aos funcionários coloniais na iminência do enfrentamento; o relatório pombalino escrito já ao fim dos conflitos; e o Cândido de Voltaire, novela em que o protagonista visita o Paraguai no contexto da Guerra. Um estudo relevante acerca de um episódio pouco visitado pela historiografia geral, abordado pela chave da retórica como fonte de análise.
O artigo de Anna Beatriz Corrêa Bortoletto tem como centro a cultura escrita ao avaliar a confecção e a trajetória de um documento do século XVIII redigido por Luís Rodrigues Villares, um comerciante envolvido com a expansão da colonização no atual Centro-Oeste brasileiro. Inicialmente pensado como uma instrução para os comerciantes que atuavam na região, a autora demonstra com tal documento foi ressignificado a partir de sua trajetória e materialidade. Ao fazê-lo, destaca que, atualmente, o documento se encontra num códice com diversos documentos de autoria de Custódio de Sá e Faria, um engenheiro militar que também atuou na América portuguesa do século XVIII, em outras palavras, o documento era importante para a administração colonial. A partir disso, o artigo analisa que, provavelmente, o manuscrito analisado circulou até chegar às mãos do Morgado de Mateus, então governador de São Paulo, cujo um dos descendentes vendeu o códice que hoje pertence à Biblioteca Mario de Andrade em São Paulo que o adquiriu de um bibliófilo com o objetivo de preservar documentos que pudessem responder diversas questões referentes à história do Brasil, ou seja, diferentes temporalidades históricas conferiram diferentes significados ao manuscrito. Natalia Casagrande Salvador, em artigo intitulado “Cultura Escrita para além do texto: percepções materiais e subjetivas do documento manuscrito”, destaca a importância dos estudos da cultura material e da codicologia para a interpretação dos documentos históricos. A partir do Livro de Termos da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência de Mariana, nas Minas Gerais, a autora analisa o papel enquanto suporte, os instrumentos e a escrita, o conteúdo e as posteriores rasuras e correções.
O último artigo deste dossiê intitula-se “Entre Livros, Livreiros e Leitores: a trajetória editorial e comercial da Guia Médica das Mãis de Família” escrito por Cássia Regina Rodrigues de Souza. A autora borda os manuais de medicina doméstica por meio do Guia Médica das Mãis de Família, publicado em 1843 pelo médico francês Jean Baptiste Alban Imbert com o objetivo de instruir mães e gestantes. Ao investigar a trajetória editorial e comercial, a fim de discutir os possíveis leitores da obra, a autora demonstra que seu alcance ultrapassou os limites da elite alfabetizada imperial e penetrou, de diferentes formas, na vida de mães recém-paridas, comadres e parteiras.
Por fim, encerra nosso dossiê entrevista gentilmente concedida pela Dra. Ana Paula Torres Megiani, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Livre Docente em História Social pela Universidade de São Paulo. Em resposta a quatro diferentes provocações, ela nos contou primeiro sobre sua trajetória e formação, indicando os caminhos que levaram às suas escolhas temáticas e as tendências da historiografia principalmente nos anos 1990. Na sequência, abordou a questão da circulação dos livros manuscritos na época moderna, salientando a recente atenção recebida por essa fonte. Para, então, tratar das influências do desenvolvimento da cultura escrita, entre os séculos XVI e XIX, no mundo iberoamericano como uma das bases de sustentação da administração imperial. E, no último bloco falou sobre os chamados “escritos breves para circular”, atribuição de tipologia documental que, segundo nossa leitura, evidência o surgimento de um novo “regime de historicidade”, como classifica François Hartog, ou uma nova “experiência de tempo”, conforme Reinhart Koselleck.
Esta edição conta ainda com dois artigos livres e uma resenha. O primeiro, intitulado “O materialismo histórico e a narrativa historiográfica”, escrito por Edson dos Santos Junior, aborda o problema da narrativa e do pensamento materialista histórico a partir da obra de Walter Benjamin. No segundo, intitulado “Aleia dos Gênios da Humanidade: escutando os mortos”, Cristiane Ferraro e Valdir Gregory tratam da comunidade conscienciológica sediada em Foz Iguaçu e os lugares de memória do grupo que a compõe. Mathews Nunes Mathias resenhou a obra Coração civil: a vida cultural sob o regime militar (1964-1985): Ensaios históricos (2017), escrita pelo historiador Marcos Napolitano.
Notas
- FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. O aparecimento do livro. São Paulo: Ed; USP, 2017, p. 76-80.
- Evidentemente, o processo histórico não é tão linear e simples quanto esta exposição, apresentando múltiplas inconstâncias. Nossa intenção, porém, objetiva explicar de forma sintética o aparecimento de uma ferramenta que transformou o mundo de variados modos. Para uma exposição mais cuidadosa, cf.: Ibidem, p. 105-108ss
- DARNTON, Robert. O Iluminismo como negócio: A história da publicação da “Enciclopédia”, 1775-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 14.
- Ibidem, p. 176.
- Idem.
- VERGER, Jacques. Os livros. In: Homens e saber na Idade Média. Bauru, SP: EdUSC, 1999; FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. O aparecimento do Livro… Op. cit., p. 59-63.
- DARNTON, Robert. O Iluminismo como negócio… Op. cit., p. 189.
- Ibidem, p. 150.
- WILLEMS, Afonso. Les Elzevier: histoire et annales typographiques. Bruxelles: G. A. van Trigt, 1880, p. 109.
- CHARTIER, Roger. As revoluções da Leitura no Ocidente. In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, história e história da leitura. São Paulo: FAPESP, 1999, p. 95-98.
- Chamamos genericamente de “registros cartoriais”, os documentos analisados por Chartier, cuja tipologia varia de certidões de casamento até contratos comerciais. CHARTIER, Roger. Práticas de escrita. In: CHARTIER, Roger (org.). História da vida privada. Vol. 3: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 114- 118.
- CHARTIER, Roger. As revoluções da leitura… Op. cit., p. 22-23.
- Ibidem, p. 24.
- CHARTIER, Roger. Uma revolução da leitura no século XVIII? In: NEVES, Lucia Maria Bastos P. (org.). Livros e impressos: Retratos do setecentos e do oitocentos. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2009, p. 93-95.
- FORRIN, Noah; MACLEOD, Colin M. This time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself. Memory, [s.n.t.].
- Utilizamos “anamnese” no sentido expresso por Platão no Fédon, que é o mesmo retomado pela medicina moderna, no qual a experiência é reconstituída pela consciência individual, por meio dos sentidos, como uma ideia; ao contrário da mnemônica, que se refere a um conjunto de técnicas para gravar de forma mecânica um conteúdo.
- CHARTIER, Roger. As revoluções da leitura… Op. cit., p. 26.
- Ibidem, p. 95-96
- BURKE, PETER. Uma História Social do Conhecimento. Vol I: de Gutemberg a Diderot. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 97; BURKE, Peter. Problemas causados por Gutenberg: a explosão da informação nos primórdios da Europa moderna. Estudos Avançados, São Paulo, v. 16, n. 44, p. 173-185, abr. 2002, p. 175; CHARTIER, ROGER. A ordem dos livros: Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora da UnB, 1994.
- Por ser profusa, evitamos listar a produção de historiadores brasileiros. O ato de enumerá-los, mesmo considerando somente os mais relevantes, seria exaustivo e injusto, pois em toda seleção sempre há esquecimentos por descuido ou por cálculo. O leitor interessado, de todo modo, estará bem informado consultando a bibliografia apresentada em cada artigo publicado adiante.
Claudio Miranda Correa – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Gabriel de Abreu Machado Gaspar – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense.
Pedro Henrique Duarte Figueira Carvalho – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense
CORREA, Claudio Miranda; GASPAR, Gabriel de Abreu Machado; CARVALHO, Pedro Henrique Duarte Figueira. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.30, jan / jun, 2019. Acessar publicação original [DR]
Revista Práticas de Linguagem. Juiz de Fora, v. 9, n. 1, jan./jun. 2019.
(1 – 6) Sumário e apresentação
- Natália Sathler Sigiliano e Thais Fernandes Sampaio
RELATOS DE EXPERIÊNCIA
- (7 – 17) NARRATIVAS DE ENCANTAMENTO – A REDESCOBERTA DA PALAVRA
- Clarissa Mieko Luiz Ishikawa
- (18 – 29) ELEMENTAR, MEU CARO_UMA AVENTURA INVESTIGATIVA EM JOGO NARRATIVO_AQUISIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ESCRITA POR MEIO DE CONTO DE CONAN DOYLE
- Cláudia Aparecida Ferreira Ferraz
- (30 – 41) O ARTIGO DE OPINIÃO E A COESÃO TEXTUAL_ABORDAGEM REFLEXIVA A PARTIR DA TEMÁTICA DA VIOLÊNCIA
- Denise Pereira Rebello Viglioni
- (42-53) A PRODUÇÃO ORAL E ESCRITA NA ESCOLA BÁSICA_UMA EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE UMA REVISTA PARA ADOLESCENTES
- Gisele de Oliveira Barbosa
- (54 – 63) ERA UMA VEZ_A DESCOBERTA DO UNIVERSO DA LEITURA E DA ESCRITA
- Maria Suely de Souza Montes
- (64 – 73) MENOS BARULHO, MAIS AÇÃO_ UMA PROPOSTA PARA MELHORIA DO CLIMA ESCOLAR
- Otávia Vieira Machado Lima
- (74 – 84) JORNAL ESCOLAR_UMA PROPOSTA PARA O PROTAGONISMO DISCENTE
- Renata Cristina das Dores Alves
Questão agrária e povos da terra / Tempos históricos / 2019
A Revista Tempos Históricos tem a grata satisfação em apresentar os resultados do Dossiê Questão Agrária e Povos da Terra, integrante desse volume e que contém 14 artigos aprovados pelo quadro dos pareceristas da revista. Antes de apresentá-los, brevemente, é oportuno indicar algumas reflexões acerca da questão agrária e os povos da terra, haja vista a própria receptividade que a chamada teve e a pertinência desses temas para a história e a historiografia.
Já é de longa data que a questão agrária perpassa as pesquisas científicas, principalmente, nas áreas da Geografia, da História, das Ciências Sociais e da Antropologia. Porém, é no chão social e territorial e no tempo histórico e vivido que as lutas sociais pela terra têm seu verdadeiro significado, não somente àqueles que estão, resistem ou almejam terra para morar, trabalhar, viver e conviver, mas, sobretudo, para um projeto de Nação. Os diversos casos abordados pelos autores dos quatorze artigos, em si, já são marcantes e propositivos ao demonstrar o quanto os povos da terra são protagonistas e fazedores de suas histórias.
A importância que a cartografia fundiária, pedra angular e filosofal, tem para uma análise inicial da questão agrária pode ser dimensionada a partir dos dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) referentes ao ano de 2014, no Brasil, do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR)1 por estabelecimentos (6.118.154 imóveis) e por área ocupada (719.392.358,2043 hectares). Mesmo tendo presente as limitações que uma representação dos estratos por meio de dados matemáticos e estatísticos possam expressar, esse desenho territorial é emblemático para o entendimento das desigualdades sociais existentes no país, sem contar sua representatividade do caráter socioeconômico e político excludente e lócus da especulação imobiliária capitalista.
Para uma visualização mais ampla e de aproximação do perfil fundiário apresentamos esses dados de acordo com dez estratos por tamanho da área em hectares utilizado pelo Incra, no censo agropecuário de 2014. O estrato de área com até 10 hectares correspondia a 36,12% dos estabelecimentos e ocupava 1,36 da área. A diferença entre os dois dados do estrato era de 26,56 vezes maior se estimado o primeiro índice em relação ao segundo. O segundo estrado de 10 a 50 hectares atingia 39,66% dos imóveis e ocupava 7,93% das terras. Para o estrato de 50 a 200 hectares os índices eram de 16,87% para participação nos estabelecimentos e de 13,43% para a área ocupada. Para a terceira faixa, entre 200 a 500 hectares, os dados passam a inverter a balança no grau de grandeza dos indicadores, pois correspondiam a 4,31% dos imóveis e saltavam para 11,33% da área ocupada. O quinto estrato, de 500 a 1.000 hectares, os 1,55% dos estabelecimentos ocupavam 8,99% da área. Já o sexto estrato de 1.000 e 5.000 hectares representavam 1,36% dos imóveis e atingiam 24,04% da área ocupada, indicando uma relação de 17,68 vezes maior sua participação na área em relação ao dado dos imóveis. O sétimo estrato, de 5.000 a 10.000 hectares, somavam 0,12% dos imóveis e 7,03% da área ocupada. Nessa faixa a diferença entre os indicadores era de 58,58 vezes maior o segundo dado em relação ao primeiro. Para a oitava faixa, de 10.000 a 50.000 hectares, a presença era de 0,04% dos imóveis e 6,61% da área, com uma diferença interna de 165,25 vezes maior na participação na área em relação ao número de imóveis. A nova faixa, de 50.000 a 100.000 hectares, tinha a modicíssima presença de 0,004% dos estabelecimentos e 2,27% de participação na área ocupada, cuja diferença interna chegava a 567,5 vezes. Por fim, o último estrado, dos estabelecimentos que tinha de mais de 100.000 hectares, a presença nos imóveis era de 0,005% e em termos de área ocupada atingiam 17,02%, correspondendo a 3.404 vezes sua diferença interna.
Para demonstrar duas outras possibilidades de leitura das estratificações representativas da concentração da propriedade da terra no Brasil, somando os estratos dos estabelecimentos com mais de 200 hectares, os dados do Incra totalizaram apenas 7,36% dos imóveis, mas atingiam 77,29% da área ocupada, ou seja, mais de ¾ do território rural do país cadastrado nesse levantamento. Por sua vez, de somarmos os dois estratos menores, isso é, aqueles que tinham até 50 hectares, o mapa inverte, uma vez que somavam 75,77% dos estabelecimentos (mais de ¾), porém ocupavam somente 9,29% da área dos imóveis. O que chama a atenção é o fato de que a vida camponesa e a agricultura familiar encontravam-se e encontram-se, ainda hoje, justamente, nos estratos com até 50 hectares de terra. Além disso, são dessas áreas que provêm mais de 70% dos alimentos que abastecem o mercado (urbano e rural) interno brasileiro. Diga-se mais. A grande maioria dos alimentos saudáveis eram e são produzidos pelos Povos da Terra, cujas práticas de vida na terra tornam-na, de geração em geração, lugar inseparável dos seus modos de viver (hábitos e costumes comuns).
É nessa perspectiva que o tema Questão Agrária e Povos da Terra reúne pesquisas que tratam da Vida de pessoas (indivíduos, grupos, comunidades, populações e povos) enraizadas na Terra. O termo Povos da Terra não pretende superar ou sobrepor aos de Camponês, Camponeses ou Campesinato, nem das trabalhadoras e dos trabalhadores da terra ou do campo. De certo modo, Armando Bartra Vergés (2011) amplia a visão sobre os novos camponeses ao tratar da profundidade da vida dos povos indígenas no México. Já Eduardo Gusmán Sevilla e Manoel González de Molina (2005) historicizaram a formação social dos camponeses e do campesinato, sem torná-los – os conceitos – numa camisa de força.
A proposição de Povos da Terra dialoga com os autores acima citados e tem proximidade com as abordagens que E. P. Thompson (1998) fez acerca da economia moral, porém, nesse caso, da economia moral camponesa e dos povos da terra, haja vista as peculiaridades e modos de vida na terra, como abordou Ricardo Abramovay (1981) ao tratar dos caboclos posseiros, livres e despossuídos da propriedade privada da terra e do mercado, no Sudoeste do Paraná. Por fim, a Vida na Terra e as lutas pela terra de trabalho, de moradia, de convivência entre aqueles que têm costumes em comum – o que inclui práticas de resistências contra o predomínio e o domínio da economia de mercado e da terra de negócio, da terra do e para o capital (patrimonialização e reserva de capital), das cercas e dos cercamentos, das expropriações e violências e dos despossuídos nascidos na terra que lutam para retomar ou retornar ao seu chão, bem como resistem à exclusão e à subordinação alheia do assalariamento no campo e na cidade – faz parte da história recente, da história nem tão antiga e da história viva no Brasil, em muitos dos seus rincões e sertões, das veredas e dos territórios vitais aos povos originários, às populações tradicionais e aos diversos camponeses que preservam seu vínculo com a terra, especialmente em relação à moradia habitual e ao cultivo permanente.
Considerando os 14 artigos e suas diversidades de temas, de temporalidades e de territórios e espacializações, optamos por organizá-los a partir dos contextos históricos (dos mais antigos aos mais recentes), das aproximações geográficas e dos objetos e experiências de luta e vida na terra, focos desse dossiê: a questão agrária e modos de vida na terra.
Os três primeiros artigos versam sobre o século XIX e a passagem para o século XX, sendo o primeiro intitulado “Cultivar, Povoar, Civilizar: os limites e as possibilidades do uso da terra na Província do Amazonas segundo Tenreiro Aranha, 1852”, de autoria de Paulo Oliveira Nascimento. O centro da pesquisa está no documento histórico Relatório de Presidente da Província do Amazonas, 1852, elaborado pelo primeiro presidente da recémcriada Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, no qual projetou as ações civilizatórias para um povoamento e uma agricultura integrada ao então império. O segundo artigo, intitulado “Posses ilegais em terras indígenas paulistas (1840- 1855)”, de autoria da Soraia Sales Dornelles, trata da questão agrária – o problema da terra – do ponto de vista de povos indígenas na província de São Paulo que, além de serem catequizados e aldeados para o estado nacional, eram forçados a serem trabalhadores nacionais e proprietários privados de terra, na perspectiva da Lei de Terras de 1850. O último artigo desse bloco, “Os ‘Doces Bárbaros’: das práticas discursivas às práticas sociais dos Guaná no Pantanal Norte (1870-1930)”, de autoria de Ana Carolina da Silva Borges, versa, numa perspectiva, sobre a riqueza da territorialidade Guaná no bioma do Pantanal, constituído como espaço vital ao modo de viver Guaná, e, por outra leitura, apresenta os complicadores do projeto civilizatório elaborado e divulgado acerva desse povo indígena, criando para eles uma “tradição de docilidade e civilidade” aos até então “silvícolas Guaná”.
Um segundo agrupamento abrange oito artigos que tratam de experiências da vida na terra, de historicidades camponesas e de lutas por reforma agrária. Desse conjunto, o primeiro deles, intitulado “Em terras de ‘plantation’, existe camponês?”, de autoria da Renata Rocha Gadelha, dialoga com a historiografia que trata da presença camponesas nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, contrapondo o “modelo da grande propriedade da terra e a produção para exportação”. De certo modo, apresenta uma crítica ao projeto atual do agronegócio, porém revisitando a vida camponesa em períodos anteriores, justamente para demonstrar a presença camponesa na história agrária do país. A autora analisa, principalmente, as abordagens de Maria Isaura Pereira de Queiroz (sobre o Sudeste), de Afrânio Raul Garcia Júnior (sobre o Nordeste) e de José Vicente Tavares dos Santos (sobre o Sul).
O segundo artigo, intitulado “A luta também se faz na festa: cultura e política camponesa no nordeste brasileiro (1950-1964)”, de autoria de José Romário Rodrigues Bastos, trata da luta pela terra no Nordeste realizada por camponeses participantes das Ligas Camponesas. Porém, como o autor apontou no título do artigo, a questão agrária permeava o ar camponês em seu cotidiano e em suas práticas culturais populares de resistência. O enfoque na trajetória de vida do camponês repentista Manoel Marques da Costa, baliza os caminhos da luta pela terra nas festividades populares e aponta como esses costumes em comum era parte integrante da organização e das mobilizações das Ligas Camponesas no chão campesino.
O terceiro artigo, intitulado “Da luta pela terra ao ataque ao latifúndio: a mobilização camponesa em defesa da reforma agrária ‘na lei ou na marra’” , de autoria de Carlos Alberto Vieira Borba, retoma as ações da luta pela terra em Trombas e Formoso, enquanto parte das Ligas Camponesas, e numa fronteira agrária no estado de Goiás, durante o período de 1950, cujas ações dos camponeses posseiros visava defender a terra de trabalho e seu acesso e direito enquanto posse, em contraposição aos interesses de grupos privados e de gestores públicos, consortes do latifúndio, por terra de negócio em territórios devolutos e sertanistas. Como indicou Carlos Borba, para aqueles camponeses a solução para o problema da questão agrária estava cristalina: “não bastavam lutar pela permanência em suas terras, era necessário aniquilar a grande propriedade”.
O quarto artigo desse bloco, intitulado “Trabalhadores e a luta pela terra em Rolim de Moura / Rondônia (1970-1980)”, de autoria da Cátia Franciele Sanfelice de Paula, trata de um caso de projeto de colonização dirigida, promovido pelo governo federal, na região de Rolim de Moura, em Rondônia, durante as décadas de1970 e 1980, bem como a participação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) na práxis da luta pela terra realizada pelos camponeses que migraram para aquela frente agrícola, além de interagir com uma experiência anterior de colonização dirigida, o caso do projeto PIC Gy Paraná. Entre esses projetos oficiais e o ideário de progresso, o enfoque diverge da visão oficializada e dá vez e voz ao camponeses e trabalhadores da terra.
O quinto artigo, intitulado “O povo Karajá de Aruanã-GO / Brasil: turismo, território e vida indígena”, de autoria de Lorranne Gomes da Silva, Sélvia Carneito de Lima e Elias Nazareno, apresenta um conjunto de sujeitos sociais em meio às disputas pelo território e modos de vida de povos da terra no entorno do Rio Araguaia, no estado de Goiás. Os autores foram primazes ao demonstrar as contradições que havia entre o modo de ser Karajá, o Povo das Águas, no seu território ancestral e originário, às margens do Rio Araguaia, com os projetos de ampliação de negócios com a terra, às águas e às praias existentes naquele rio, que passaram a ser utilizadas para propagandear um “novo éden” ao turismo e um único caminho aos Karajá (a perda do território em detrimento do turismo e a transformação deles em trabalhadores rurais em terras de negócio). Chama a atenção para a relação entre Águas e Vida: os vínculos originários do bioma existente no Rio Araguaia com a Vida e a Cultura Karajá. Trata-se, portanto, de um artigo que liga umbilicalmente a Terra com os Povos da Terra proposto nesse dossiê.
O sexto artigo “Desgarrados da terra no Vale do Gorutuba / MG: relações, processos e memórias (1950-2016)”, de autoria de Auricharme Cardoso de Moura, trata de um caso de construção de barragem, a do Bico da Pedra, executada durante a década de 1970 na bacia do Rio Gorutuba, no entorno dos municípios de Janaúba e Porteirinha, no Norte de Minas Gerais, vinculado ao programa de irrigação fomentado pelo governo federal junto à Sudene e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Dos contrastes entre os atingidos, (famílias de camponeses pobres) e os favorecidos (grandes proprietários rurais com agricultura irrigada), a atuação dos agentes e das agências do Estado delineavam que a seca, ou a falta d’água, não era o maior problema agrário e agrícola dos atingidos. Como Moura expôs, a questão agrparia era outra: “Compreendemos, pois, que a definição de ‘atingido’ não pode se limitar apenas àquelas pessoas consideradas proprietárias da terra, uma vez que, direta ou indiretamente, centenas de outros sujeitos também tiveram seus direitos negados e formas de vida e trabalho alteradas”.
O sétimo artigo desse ponto temático no dossiê, intitulado “A territorialização da luta e o novo massacre dos ‘nativos’ do Arapuim no Norte de Minas Gerais”, de autoria de Greiciele Soares da Silva e Rômulo Soares Barbosa, trata de uma experiência de luta pela terra, no caso, pelo reconhecimento do território dos nativos de Arapuim – os “nascidos e criados na região”, da região do rio Arapuim, e ascendentes dos camponeses e quilombolas da população que vivia em Cachoeirinha. Além da questão do “Massacre de Cachoeirinha”, ocorrido na década de 1960, no período que segue o ano de 2004, os nativos de Arapuim, reivindicavam o direito à terra e ao território da antiga Fazenda Torta, tendo por base Decreto nº. 6040, de 2007, que reconhecia esse direito aos povos e comunidades tradicionais.
O oitavo e último artigo dessa subseção, intitulado “Conflitos socioambientais em Áreas de Preservação: o caso das comunidades tradicionais do Parque Nacional da Chapada Diamantina”, de autoria da Maria Medrado Nascimento, também se refere a um caso de um grupo social de camponeses tradicionais que, a partir da década de 1990, passaram a correr o risco de perder suas terras e posses em virtude de estarem residindo dentro da delimitação territorial do Parque Nacional da Chapada Diamantina. A nova condição e realidade, mesmo sendo camponeses tradicionais, posseiros antigos e estabelecidos anteriormente à criação do parque, passou a fragilizá-los, na medida em que suas práticas de subsistência (moradia habitual e cultivos constantes) passaram a ser condicionadas às exigências do parque, por serem interioranos ao seu território. Esse debate perpassa às questões ainda polêmicas que existem sobre preservacionismo e conservacionismo territorial e natural em parques criados mais recentemente.
Para finalizar o dossiê, reunimos um terceiro conjunto de artigos que tratam de outros tipos de fontes e linguagens à escrita da questão agrária e os povos da terra. O primeiro deles, intitulado “Memória, experiência, testemunho: revisitando a luta pela terra no Sudeste do Pará a partir do documentário Escola Eldorado”, de autoria do Janailson Macêdo Luiz, faz uma análise do filme de curta metragem “Escola Eldorado”, dirigido por Victor Lopes, lançado em 2008, com duração de 11:37”, conforme versão disponível, dentre outros lugares, na página do YouTube no seguinte endereço: https: / / www.youtube.com / watch?v=N60IwcN9sgY. O roteiro central do filme trata da trajetória do camponês Alcione Ferreira da Silva, com edição de entrevista e relato da sua história de vida. O documentário enfoca as experiências do maranhense Alcione Silva que conviveu, inicialmente, com trabalhadores do campo na região onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia, depois foi para o garimpo da Serra Pelado, onde buscou o “el dorado” e, seguindo sua itinerância na terra, registra sua participação no Movimento Sem Terras nos tempos do “massacre de Eldorado dos Carajás”, ocorrido no dia 17 de abril de 1996, em meio ao qual houve o assassinato de 19 sem terras, por balas da polícia militar do Pará, e o Alcione foi mais um dos atingidos por tiros da PM. Por mais que não tenha sido vítima de um ferimento fatal, ele traz em seu corpo e em suas memórias e lembranças os efeitos daquela lesão e daquele massacre.
O segundo artigo desse último grupo de artigo tem por título “O Direito ‘achado no arquivo’: um olhar sobre o acervo do Núcleo de Pesquisa, Documentação e referência sobre Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo – NMSPP”, e sua autoria é da Luiza Antunes Dantas de Oliveira. De forma integrada, Luiza Oliveira trata da experiência construída a partir da criação do núcleo de pesquisa e centro de documentação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), criado no ano de 1997 e vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Ampliando as linguagens da questão agrária, para além da pesquisa acadêmica da própria autora, o tema do artigo incorpora a importância da preservação documental e sua organização em espaços de acervos institucionais, enquanto outro lugar de luta pela terra e de busca por direito.
O último artigo do dossiê versa sobre uma fonte de época. O autor Clayton José Ferreira, no artigo intitulado “Pensar a história no interior da instabilidade: escrita da história e possibilidades ético-políticas no Retrato do Brasil de Paulo Prado”, recupera a obra Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira, escrita por Paulo Prado (1869-1943) e publicada no ano de 1928. Para Claytin Ferreira, nesse ensaio Paulo Prado partilha de uma visão de progresso – a “marcha civilizacional” – presente no contexto do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, mas também apontava para suas crises, suas descontinuidade e impossibilidades de projetar uma linearidade simétrica e constantemente progressiva. Acrescenta, o autor, por outro lado, que a obra de Paulo Prado aponta para uma escrita da história, na qual o ensaísta revisita, ao seu modo e leitura, a história do Brasil – Retrato do Brasil – e do Ocidente, a partir dos tempos modernos.
Em seu conjunto, os quatorze artigos contribuem para os estudos e escritas da questão agrária e dos modos de vida dos povos da terra. Desejamos, portanto, uma boa leitura.
Nota
1. INCRA. Cadastro Nacional de Imóveis Rurais.
Referências
ABRAMOVAY, Ricardo. Transformações na vida camponesa: o Sudoeste paranaense. São Paulo: Universidade de São Paulo / FFLCH / Departamento de Ciências Sociais, 1981. (Dissertação de Mestrado).
SEVILLA, Eduardo Gusmán; MOLINA, Manoel González de. Sobre a evolução do conceito de campesinato. São Paulo, Expressão Popular, 2005
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. 3. reimpressão, São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
VERGÉS, Armando Bartra. Os Novos camponeses. São Paulo: Cultura Acadêmica; Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Rural, 2011.
Paulo José Koling – Professor Doutor (UNIOESTE)
Ângelo Priori – Professor Doutor (UEM)
KOLING, Paulo José; PRIORI, Ângelo. Introdução. Tempos Históricos, Paraná, v.23, n.1, 2019. Acessar publicação original [DR]
Efemérides Cariocas | Neusa Fernandes e Olínio Gomes Coelho
Os Editores
A resenha do livro Efemérides Cariocas, de autoria de Neusa Fernandes e Olínio Gomes P. Coelho (Rio de Janeiro: Edição dos Autores, 2016), publicada por Adelto Gonçalves em seu blogue, a 7 de fevereiro de 2019, sob o título “Para se conhecer a história do Rio de Janeiro”, é reproduzida a seguir com autorização do autor dada a Neusa Fernandes, por e-mail, em 7 de março de 2019.
Efemérides Cariocas, dos historiadores Neusa Fernandes e Olinio Gomes P. Coelho, reúne principais fatos que ocorreram ao longo dos 451 anos da Cidade Maravilhosa e que merecem ser conhecidos. Leia Mais
História do Rio de Janeiro em 45 objetos | Paul Knauss, Isabel Lenzi e Mariz Malta
Com o advento do universo digital, a história dos objetos materiais, também metaforicamente designada como história tangível, é uma das muitas áreas, entre tantas, cada vez mais desprezadas das Humanidades. Como fonte de conhecimento, a história tangível apresenta vantagens e desvantagens. A principal virtude dos artefatos do passado é a relativa ausência de preconceito intencional e o seu maior grau de autenticidade. Por outro lado, o passado que se descortina nos objetos e fragmentos é de âmbito restrito e não têm vida própria, eles precisam dos relatos, das reminiscências e principalmente, das narrativas dos historiadores. Relíquias e artefatos materiais do passado também sofrem maior desgaste do que fontes impressas. Impressos podem disseminar- -se de modo irrestrito, mas artefatos físicos sofrem desgaste constante, logo se tornam irreconhecíveis nos tempos presentes e, não raro – reforçando aquela nossa crescente vocação pelo descarte – acabam no limbo dos refugos da história. Leia Mais
O Rio de Janeiro entre conquistadores e comerciantes: Manoel Nascentes Pinto (1672-1731) e a fundação da freguesia de Santa Rita | João Carlos Nara Júnior
O novo livro escrito pelo historiador, arqueólogo, arquiteto e urbanista João Carlos Nara Júnior é o resultado de uma brilhante e inédita investigação, que traz à luz uma história do Rio de Janeiro setecentista ainda esquecida: a da fundação da freguesia de Santa Rita. Sobre essa lacuna na historiografia do Rio de Janeiro colonial, o também historiador Carlos Eugênio Líbano Soares adverte, em texto de sua autoria publicado na quarta capa da obra, que “a academia preguiçosamente reluta em iluminar”. Entretanto, ao contrário do recorrente esquecimento acadêmico, o pesquisador e especialista nos estudos sobre a igreja de Santa Rita, João Carlos Nara Jr., com a competência que lhe é característica, reluta para que a história dessa freguesia não siga silenciada nas gavetas dos arquivos. O mérito do autor é incontestável. Essa publicação, portanto, representa um avanço para que essa grave falha historiográfica seja, finalmente, compensada.
Em vista disso, o autor dotado da perspicácia do bom historiador, da sensibilidade do arquiteto, da habilidade do urbanista e da intuição do arqueólogo, reabilita uma história fascinante, que percorre desde os primórdios históricos da criação do antigo bairro da Vila Verde, ainda nas primeiras décadas do século XVII, até alcançar a fundação da freguesia de Santa Rita em meados do século XVIII. A fim de realizar essa investigação de fôlego, João Carlos Nara Jr. constrói sua pesquisa a partir de um surpreendente conjunto de fontes, que permite recuperar os traços biográficos da família Nascentes Pinto e do seu fundador, o patriarca, fidalgo português e oficial alfandegário Manoel Nascentes Pinto (1672-1731). Dessa forma, respaldado por expressivo corpus documental, alude sobre outros aspectos que foram igualmente relevantes no contexto histórico daquele século. Leia Mais
O Reino/ a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788- 1797 | Adelto Gonçalves
I
O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797, recente livro de Adelto Gonçalves – editado em 2019, pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo –, já nasceu como importante marco da historiografia colonial brasileira e, especialmente, da paulista.
Adelto, como bom paulista e bandeirante intelectual, fincou seu marco de puro cristalino no território histórico colonial de São Paulo. O autor exibe sua peculiar habilidade de escrever com clareza um texto profundamente rico de conteúdo, baseado em vasta pesquisa documental e de leitura de textos consagrados de outros autores que trataram do tema desse livro. Leia Mais
Histórica. Lima, v.43, n.1, 2019.
Artículos
- Gobernar un mundo en guerra: el rol de los cabildos en el primer orden colonial peruano (1529-1548)
- Marcos Alarcón Olivos
- Ensayo de una «anatomía» de la República de las Letras. Nueva España, siglo XVIII
- Olivia Moreno Gamboa
- La cohesión de la élite y el poder oligárquico
- Dennis Gilbert; Liliana Samamé
- Las buenas intenciones no bastan: la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en el siglo XX
- Norberto Barreto Velázquez
Notas
- La mirada imperial: Bingham y Machu Picchu
- Javier Flores Espinoza
Reseñas
- Calderón de la Barca, Pedro. La aurora de Copacabana. (Una comedia sobre el Perú). Edición crítica de Elías Gutiérrez Meza. Frankfurt am Main y Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2018, 338 pp.
- Carlos Gálvez Peña
- Regalado de Hurtado, Liliana y Ana Raquel Portugal (eds.). Comer, vestir y beber: estudios sobre corporalidad y alimentación en el mundo prehispánico y colonial en los Andes y Mesoamérica. Lima: Academia Nacional de la Historia, 2018, 235 pp.
- José Ignacio López Soria
- Asensio, Raúl H. Señores del pasado: arqueólogos, museos y huaqueros en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018, 580 pp.
- Christopher Heaney
- Poulsen, Karen. ¡Somos ciudadanas!: Ciudadanía y sufragio femenino en el Perú. Lima: Jurado Nacional de Elecciones, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2018, 252 pp.
- Margarita Guerra Martinière
História oral e memória na construção das narrativas sobre as representações político-culturais do Brasil atual / Faces da História / 2019
Este número de Faces da História traz o dossiê História oral e memória na construção das narrativas sobre as representações político-culturais do Brasil atual que se propõe refletir sobre assuntos que estejam amparados nessas representações memoriais resultantes da produção direta, a partir do diálogo entre entrevistador e entrevistado e de fontes que contemplam outros suportes. Em decorrência da natureza dessas fontes, as pesquisas baseadas em tais registros são inseridas no campo da história do tempo presente e estruturam-se em dimensões transnacionais (TREBITSCH, 1994; MORAES, 2002; ALBERTI, 2005), tornando-se sustentáculos do debate especializado do ponto de vista teórico e historiográfico e de definição dos protocolos de pesquisa e reflexões desse campo (JOUTARD, 2000).
Certamente, qualquer fonte traz suas peculiaridades e dificuldades que sinalizam desafios ao processo de execução para se chegar ao conhecimento sobre o passado, mesmo que esteja subordinado às visões de mundo do pesquisador do presente. As narrativas orais, entretanto, foram e são percebidas prenhe de significados e paixões decorrentes dos envolvimentos dos protagonistas nas querelas, compromissos e inserções dos embates conjunturais que modulam suas vivências. Nesse sentido, foram e continuam sendo recorrentemente arguidas por evidenciarem subjetividades que inicialmente estiveram definidas como empecilho para chegar ao conhecimento sobre os fenômenos submetidos, unicamente, aos relatos desses narradores. Segundo os seus arguidores, por serem fontes inscritas em passado recente, não permitem aos atores envolvidos (entrevistador / entrevistado) certo distanciamento para lidar com esses registros de testemunhas oculares que trazem as marcas de suas implicações nas querelas de seu tempo.
As discussões avançam no sentido de reconhecer a diversidade de narrativas e a formulação de outras para o mesmo evento, que esgarça a perspectiva da narrativa certa, em contraposição ao discurso errado sobre o acontecido. Portelli alerta à “atitude do narrador em relação a eventos, à subjetividade, à imaginação e ao desejo, que cada indivíduo investe em sua relação com a história” (PORTELLI, 1993, p. 41) que pode não incidir na realidade, mas na possibilidade. Ou seja, a representação de um “presente alternativo, uma espécie de universo paralelo no qual se cogita sobre um desdobramento de um evento histórico que não se efetuou” (PORTELLI, 1993, p. 50) que, na análise do autor, é característico da “narrativa ucrônica” que se inscreve em paradigma maior: a grande narrativa literária do inconformismo.
Isso não significa desconsiderar os lapsos, esquecimentos, omissões e reelaborações presentes nessas narrativas. Afirma-se sua importância para esclarecer não apenas ausências de informações e envolvimentos dos próprios narradores nos acontecimentos tratados, mas também o universo de valores e visões de mundo atinentes aos protagonistas em tela. E, ainda, ficar atenta para perceber aquelas memórias que foram soterradas ou silenciadas, como observou Michel Pollak (1989). O não-dito não significa o esquecimento, mas sim estratégias de sobrevivência diante de situações embaraçosas e sem solução, como a convivência com o inimigo de ontem.
No âmbito dessa trajetória, passa-se à arguição sobre a problemática da verdade, assunto de acalorado debate, chegando-se à formulação de sua ilusão por uns (BOURDIEU, 1998), ou à “produção de verdade”, para outros teóricos, como Beatriz Sarlo. A autora analisa a “transformação do testemunho em um ícone da verdade ou no recurso mais importante para a reconstrução do passado” (SARLO, 2007, p. 19), tecendo pesadas críticas a certos reducionismos de uso do relato oral, a partir de referencial que trata de situação-limite como o holocausto, para eventos corriqueiros.
Independentemente da complexidade teórica que envolve esse campo, o convite aos autores / autoras foi bem sucedido pela presença marcante de textos alusivos ao temário desse dossiê. Resultaram do processo avaliativo textos que foram estruturados em eixos temáticos, mesmo considerando as abordagens teóricas plurais, fruto das opções feitas pelos autores para suas análises sobre os assuntos pesquisados.
O primeiro deles agrega quatro artigos, sendo três que abordam aspectos da memória dos afrodescendentes e cultura africana, e que consistem, primeiramente, na abordagem dos autores Debora Linhares da Silva e José Maia Bezerra Neto sobre os processos de alforria que ocorreram na cidade de Belém / PA entre os anos de 1850 a 1880, estabelecendo um diálogo com as obras dos literatos Aluísio de Azevedo e Henry Walter Bates; na sequência, tem-se o trabalho de Leonam Maxney Carvalho que versa sobre a reconstrução das identidades dos quilombolas na localidade de Santa Efigênia, no município de Mariana / MG; ademais, o artigo de Mônica Pessoa que apresenta as tradições orais africanas como fonte de pesquisa interdisciplinar na busca da apreensão das vozes africanas e a potência de sua cultura oral; e fechando este bloco temático, o texto de Fábio do Espírito Santo Martins aborda a questão indígena no processo de luta que reivindica a demarcação da Terra Indígena (TI) Tekoá Mirim, localizada no litoral do Estado de São Paulo, e utiliza as tradições baseadas na cosmologia juntamente com o estabelecimento de uma práxis cotidiana indígena na luta pela demarcação territorial. Estes textos situam-se em tempos distintos na história do país e da África.
A segunda linha temática, composta de seis textos, apresenta discussões a respeito do patrimônio cultural material e imaterial brasileiro. O primeiro artigo, de Lourenço Resende da Costa e Jair Antunes, trabalha a questão da utilização da oralidade para os descendentes ucranianos brasileiros que vivem no município de Prudentópolis / PR, apresentando a importância do trabalho realizado pela Igreja Ucraniana juntamente com as escolas do município neste esforço de preservação identitária. O trabalho seguinte, de Priscila Onório Figueira, analisa as consequências do desastre ambiental provocado pela explosão do navio chileno Vicuña, no ano de 2004, cotejando as diferentes memórias e conflitos que a comunidade litorânea de Amparo, localizada na baía de Paranaguá / PR desenvolvem sobre esta trágica ocorrência.
O próximo artigo, de Mariana Schlickmann, concatena os relatos de oito moradores do bairro da Barra, localizado na cidade de Balneário Camboriú / SC, destacando as memórias sobre a atividade pesqueira, sufocada pela crescente especulação imobiliária, enfatizando as crescentes tensões entre os moradores sobre os bens culturais materiais e imateriais daquela localidade. A memória dos trabalhadores que transportam mercadorias e materiais de construção utilizando-se das carroças de tração animal na cidade de Montes Claros / MG é o enfoque do próximo texto, de Pedro Jardel Fonseca Pereira, que vincula estas memórias ao desenvolvimento histórico do município bem como ao processo de crescimento urbano e à inserção dos carroceiros nesta relação dinâmica.
Ainda nessa matriz temática, dois textos abordam a memória escolar: o primeiro deles, de Anne Caroline Peixer Abreu Neves, trata das memórias das alunas da Escola Pública Itoupava Norte, localizada em Blumenau / SC, que relatam suas percepções, adquiridas entre os anos de 1943 a 1950, em relação às experiências educacionais vivenciadas no período. Essas narradoras rememoram fragmentos da campanha de nacionalização do ensino e a exigência da língua vernácula e dos símbolos nacionais brasileiros impostos aos imigrantes e seus descendentes durante o período do Governo Vargas. O segundo trabalho, de Francine Suélen Assis Leite e Jairo Luis Fleck Falcão, expõe o processo de colonização do município de Juara / MT pelo depoimento de um professor aposentado, da disciplina de matemática, que relata o cotidiano escolar na jovem cidade mato-grossense que surgiu por meio do processo colonizador de expansão das fronteiras agrícolas.
Os últimos textos desse dossiê têm suas peculiaridades: o artigo de Filipe Arnaldo Cezarinho, embora se insira no debate sobre o patrimônio imaterial, apresenta questões de cunho metodológico no trato das fontes documentais orais e digitais e, em decorrência, foi agrupado no último eixo temático que traz questões metodológicas atinentes ao campo. O autor trata, por exemplo, da memória sobre a Guerra de Espadas que acontece em Cruz das Almas / BA, fortemente arraigada na tradição popular. A pesquisa analisa o discurso popular em contraposição ao presente processo de criminalização da manifestação cultural, onde estas fontes se constituem em desafio para os historiadores contemporâneos.
Aspecto assemelhado de disputa pela memória, sob outro viés, aparece no artigo Amerino Raposo e a Polícia Federal, de Priscila Brandão, que discute a trajetória dessa Instituição criada na década de 1960 e as disputas em torno do “ato fundador” recorrentemente acionado por grupos internos em disputa. A ala dos “novos” tenta descolar-se do envolvimento com as mazelas e da violência praticada pela ditadura militar contra seus opositores. A solução encontrada foi transferir a origem dessa Instituição para outra congênere, criada nos anos 1940 por Getúlio Vargas, que não tinha, de fato, esse papel federativo da PF criada na década de 1960 com os militares no poder. As disputas envolvem, além de outras questões, a recusa do legado recente sobre o envolvimento direto de alguns integrantes da Polícia Federal em atos de tortura e morte de opositores ao regime militar.
Por fim, o artigo sobre Paulo Emílio Sales Gomes, de Rafael Morato Zanatto, traz a contribuição do intelectual brasileiro na formação dos estudos históricos do cinema brasileiro e também suas contribuições para a História Oral pátria. O texto desvenda elementos significativos da trajetória em defesa da preservação desse passado, mostrando as preocupações de Paulo Emílio na prospecção de fontes variadas. A orientação na definição de roteiros parte da busca de informações diversificadas, com o objetivo de abordar os elementos que propiciam os passos dos cineastas, atores, cinegrafistas, fotógrafos, entre outros.
Mas, para o presente dossiê, sua importância assume papel estratégico por trazer a trajetória de formulação de procedimentos metodológicos para a consecução dos depoimentos orais, antecipando-se ao percurso posterior desse campo, ao trazer a relevância de seu uso, dúvidas e questões relativas à parcialidade, lacunas e produção de verdade desses depoimentos. Delineia todos os passos da pesquisa, desde o roteiro aos cuidados na abordagem do entrevistado, sua autorização para publicação, chamando a atenção para a necessidade de ouvir diferentes protagonistas sobre o mesmo assunto para sair das armadilhas do relato, mas ainda inscrito numa perspectiva de busca de informações corretas para, no caso, recuperar os primórdios da história do cinema brasileiro.
Para concluirmos esta Apresentação, queríamos registrar o reconhecimento dos desafios enfrentados por qualquer pesquisador do tempo presente para cumprir os protocolos do campo, cuja singularidade está marcada pelo diálogo (dúvidas e possíveis tensões) com os protagonistas de seu objeto de investigação.
Caros leitores / as, esperamos que gostem dos assuntos abordados nesse dossiê. Desejamos boa leitura e parabéns aos autores.
Assis, junho de 2019.
Referências
ALBERTI, Verena. Fontes Orais. Histórias dentro da História. In: Pinsky, Carla Bassanezi. Fontes Orais. São Paulo: Contexto. 2005, p. 155-202.
BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, M. de M. & AMADO, J. Usos e abusos da História Oral. 2a ed. RJ: FGV, 1998.
JOUTARD, Philippe. Desafios da história oral do século XXI. In: FERREIRA, Marieta; FERNANDES, Tânia Maria e ALBERTI, Verena. (Orgs.) História Oral: desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
MORAES, Marieta Ferreira de. História, tempo presente e história oral. Topoi, Rio de Janeiro, dezembro 2002, p. 314-332.
PORTELLI, Alessandro. Sonhos ucrônicos. Memórias e possíveis mundos dos trabalhadores. Projeto História, n. 10, dez / 1993, p. 41-58.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Rio de Janeiro: Estudos Históricos, vol. 2, 1989.
SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. Belo Horizonte: Companhia das Letras; UFMG, 2007.
TREBITSCH, Michel. A função epistemológica e ideológica da História oral no discurso da história contemporânea. In: MORAES, Marieta Ferreira (Org.). História Oral e multiplicinaridade. Rio de Janeiro: Diadorin / Finep / FGV, 1994.
Zélia Lopes da Silva – Professora Doutora (Unesp / Assis)
José Augusto Alves Netto – Professor Mestre (Unespar / Paranavaí), doutorando em História (Unesp / Assis)
SILVA, Zélia Lopes da; ALVES NETTO, José Augusto. Apresentação. Faces da História, Assis, v.6, n.1, jan / jun, 2019. Acessar publicação original [DR]
Os estudos de Ásia e do Oriente no Brasil: objetos, problemáticas e desafios / Faces da História / 2019
A proposta desse dossiê partiu de um desafio e da busca de respostas a uma pergunta complexa: existem estudos de História da Ásia e do Oriente no Brasil? Se a resposta a essa pergunta fosse positiva, outras perguntas desafiadoras surgiriam: quais seriam os objetos, problemáticas e desafios enfrentados pelos pesquisadores de nossas universidades que se aventuram em um campo de estudos que, à primeira vista, carece de interlocutores, acesso às fontes, definição de temas e metodologias adequadas? Quais seriam as concepções de Ásia e de Oriente dos possíveis pesquisadores dessas temáticas? Em quais períodos essas pesquisas estariam centradas?
A repercussão positiva dessas perguntas desafiadoras veio com o grande número de propostas para a composição desse dossiê, bem como a diversidade temática, espacial e temporal das pesquisas realizadas por jovens pesquisadores de diferentes instituições brasileiras. Ao mesmo tempo, outro desafio seria compreender como temas tão diferentes dialogariam nesse dossiê, pois não poderiam ser agrupadas simplesmente pelo componente geográfico (as subdivisões asiáticas) ou pelo componente cultural (o Oriente e o orientalismo), nem simplesmente pelo recorte temporal (dos séculos XVI aos temas contemporâneos).
Levando essas questões em consideração, os artigos foram agrupados em blocos temáticos. O primeiro deles compreende quatro artigos referentes à Índia (Goa), ao Ceilão e ao Japão a partir da presença das missões religiosas entre os séculos XV e XVI como forma de reafirmação da presença portuguesa no Oriente, as reações contrárias e as hibridizações possíveis.
No artigo “Para favorecer a cristandade: as iniciativas de coerção à conversão dos órfãos em Goa (1540-1606)”, com autoria de Camila Domingos Anjos, foi analisada uma coletânea de cartas e alvarás de reis de Portugal e de vice-reis do Estado da Índia, reunidas e organizadas no Arquivo Português Oriental, referentes às legislações e às estratégias dos agentes coloniais portugueses na catequização de jovens menores de 14 anos de idade, considerados passíveis de serem moldados, educados, disciplinados e aperfeiçoados na fé católica.
Já em “Um catolicismo possível: a Congregação do Oratório de Goa e sua inserção no Ceilão holandês”, Ana Paula Sena Gomide acessou a documentação dessa instituição religiosa para analisar a importância da ação dos oratorianos, formados por um clero mestiço, na manutenção, revitalização e sobrevivência do catolicismo no Ceilão, que passou do domínio português para o domínio holandês, calvinista e anticatólico.
Em outra vertente, Renata Cabral Bernabé, no artigo intitulado “A formulação do discurso anticristão no Japão dos séculos XVI-XVII”, analisou a promulgação de éditos anticristãos emitidos pelo governo japonês que tratavam da expulsão dos missionários e da proibição da prática religiosa cristã no território. Ainda que o cristianismo não tenha desaparecido do Japão, tal legislação foi responsável pelo fim da atividade missionária europeia assim como contribuiu para dificultar o intercâmbio com países ocidentais católicos, numa clara relação com a centralização política do Japão iniciada em meados do século XVI e consolidada no século XVII.
Finalizando esse bloco, o artigo de Laís Viena de Souza, “Os panditos e os jesuítas. Indícios da medicina ayuvérdica nos colégios da Companhia de Jesus no Estado da Índia (séculos XVI-XVIII)”, utiliza a documentação inaciana para discutir a presença na ordem religiosa de médicos indianos vaidyas, chamados de panditos pelos jesuítas, bem como tratar dos embates, das assimilações, da apropriação, e da hibridização da medicina ayurvérdica com os preceitos hipocráticos-galênicos que circulou pelo Império Português na era moderna.
O segundo bloco temático reúne mais quatro artigos cujo ponto em comum é a abordagem da temática acerca do Oriente Médio, Norte da África e o Islamismo no Brasil a partir de fontes documentais brasileiras. Frederico Antônio Ferreira em “Relações entre o Brasil e o norte da África no século XIX: migração e comércio” acessou os documentos da chancelaria brasileira custodiados pelo Arquivo Histórico do Itamaraty no Rio de Janeiro, referentes às relações externas do então Império Brasileiro com países do norte da África no contexto da proibição do tráfico de escravos, do incentivo à imigração e do crescimento da economia cafeeira.
“Conexões Rio de Janeiro-Cairo: possibilidades analíticas acerca das relações Brasil-Egito a partir da imprensa escrita (1950-1954)” de Mateus José da Silva Santos mantém o olhar sob as relações diplomáticas entre o Brasil e o Egito no início dos anos 1950, analisando um conjunto de textos publicados no periódico baiano A Tarde para tratar tanto do protagonismo dos dois países em seus respectivos continentes como para compreender a intersecção de seus interesses na ordem econômica e política mundial fora do eixo Europa, Estados Unidos e América Latina.
Já Felipe Yera Barchi em seu artigo “Referências Bibliográficas sobre o Islã no Brasil: um estudo de caso dos livros didáticos de Gilberto Cotrim e Cláudio Vicentino” centra-se na análise da forma como o Islã, e temas relacionados ao país, são abordados nos livros didáticos de História em nosso país e, entre suas conclusões, verifica-se uma cristalização da história do Islã nos títulos didáticos analisados pelo autor, a despeito das revisões feitas nas obras.
Por sua vez, Bruno Bartolo do Carmo, em “Memórias do Café Árabe: costumes, ritos e modos de preparo em narrativas de sírios e libaneses em São Paulo (1970-2019)”, oferece-nos as tradições e os rituais do preparo do café árabe pelas narrativas de imigrantes e refugiados de origem árabe radicados no Brasil, como uma forma de contribuir aos estudos sobre a imigração e sobre a própria história da bebida declarada como patrimônio pela UNESCO.
A partir de temas ligados à memória, ao testemunho, identidade, resistência e narrativas virtuais, o terceiro bloco agrega a Coreia do Sul, a Palestina e o Estado Islâmico. Camila Regina Oliveira no artigo “Museu, memória, testemunho e a construção do fato: um estudo do caso Seodaemun Prision History Hall, Seul-Coreia do Sul” toma como objeto de análise a exposição permanente desse Museu para tratar das narrativas, memórias e testemunhos sobre a colonização japonesa no país e, sobretudo, para problematizar a questão da construção da identidade cultural sul-coreana, bem como a concepção de uma consciência nacional.
É na perspectiva do debate sobre projeto nacional, identidade, resistência que Carolina Ferreira de Figueiredo desenvolve seu texto “O local e o global em charges: expressões de um artista palestino em Haifa nas décadas de 1970 e 1980”, analisando a obra de Abed Abdi, publicada no periódico comunista Al-Ittihad, baseado na cidade de Haifa. Usando a arte como expressão de um ativismo político, as charges abordam temas relacionados ao imperialismo, colonialismo, intervencionismo e invasões que ainda permanecem em terras palestinas, sem perder de vista as questões locais (o conflito) e as globais (a “grande” política).
De outra perspectiva, Gilvan Figueiredo Gomes em “Califado Virtual: a Hisbah como ferramenta de construção de um Estado Islâmico em Dabiq (2014-2016)” utiliza como fonte de pesquisa as narrativas veiculadas pela revista do grupo jihadista para analisar a ação midiática, os ambientes digitais e as redes sociais como meio de expressão de organizações políticas dessa natureza. Além disso, o autor problematiza os conceitos de Califado tanto do ponto de vista da disputa e da legitimidade do poder, como do ponto de vista Virtual não apenas vinculado ao digital, mas também na eminência do vir a ser, da possibilidade que se concretiza como fato.
Finalmente, o quarto bloco concentra os textos que partem das questões acerca do Orientalismo, tendo como referencial teórico a obra homônima de Edward Said. Paula Carolina de Andrade Carvalho, em seu artigo “Orientalizar-se: as representações dos ‘orientais’ em Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah & Meccah, de Richard Francis Burton (1855-56)”, faz uma análise sobre as generalizações dos “orientais” feitas pelo explorador britânico, que criou o disfarce de Shaykh Abdullah para realizar o ritual sagrado do hajj permitido apenas aos muçulmanos. Ainda que Burton nunca tenha deixado de seguir a cartilha do discurso do orientalismo, a autora aponta que as representações dos “orientais” do autor estão pautadas muito mais pelas ambiguidades e pelos paradoxos.
No artigo “O Orientalismo como prática discursiva hegemônica no auge da expansão europeia”, Lucas Pereira Arruda realiza uma revisão bibliográfica de obras inglesas de diferentes naturezas para compreender como os agentes coloniais tratavam os povos nativos das colônias inglesas no final do século XIX, centrando sua análise em Joseph Conrad e Rudyard Kipling para falar do papel do romance na construção discursiva do outro. J
á em “Discursos Orientalistas sobre a dança: o caso de Almée, na egyptian dancer, de Gunnar Berndtson” de Nina Ingrid Paschoal, uma fonte pictórica é analisada para problematizar a pintura dita orientalista e seu papel na popularização da dança de mulheres orientais eternizada no Ocidente como “dança do ventre”. Entre fantasia e realidade, tais imagens contribuíram para uma construção sobre o Oriente atrelada aos movimentos de colonização, ainda repercutindo na forma de representação dessas mulheres. Por fim, Rafael dos Santos Pires, em seu artigo “O mito do Egito Eterno: desenvolvimento acadêmico, impactos políticos”, parte da associação entre orientalismo, mitos e elementos discursivos para compreender os impactos dos usos do passado no mundo contemporâneo do Egito, na constituição do próprio Estado egípcio e na forma de imaginar e escrever esse passado.
A escolha desses textos para encerrar o dossiê não foi fortuita. A proposta desse dossiê foi elaborada considerando alguns marcos fundamentais do debate que ora se discute: os 40 anos da primeira edição de Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, os 30 anos da primeira edição brasileira e os 15 anos da morte de Edward Said. A obra do escritor de origem palestina tornou-se um marco fundamental nos diversos campos das humanidades, frente aos estudos que levariam o Oriente Médio e, consequentemente, a história da Ásia para um patamar que nas últimas décadas ampliouse em problematizações que inauguraram os estudos pós-coloniais. Outrossim, as inovações e as perspectivas teórico-metodológicas apontaram para revisionismos sobre leituras, interpretações e práticas interdisciplinares referentes ao sujeito histórico “oriental”, ao mundo islâmico, às sociedades do sul e do sudeste asiático, além do chamado “Extremo Oriente”.
Mas afinal, de qual Oriente e de qual Ásia estamos falando? Na perspectiva saidiana, o Oriente foi compreendido no Ocidente como algo imaginário, distante, misterioso e exótico, mas o que essas pesquisas têm demonstrado é a necessidade de compreensão e apreensão da História da Ásia a partir de um ponto de vista que supere as dicotomias oriental-ocidental e que faça prevalecer um olhar conectado entre passado e presente, entre o local e o global, entre o real e o virtual, entre assimilação e resistência. Não uma história do Oriente em oposição a uma história do Ocidente. Não uma História da Ásia em oposição a uma História da Europa. O que se buscou nesse dossiê foi analisar essas Histórias Conectadas, parafraseando Sanjay Subrahmanyam.
Por fim, nas entrevistas das professoras Mônica Muniz de Souza Simas e Marilia Vieira Soares apresentam-se alguns dos resultados e tendências dos estudos orientais e asiáticos no Brasil, no campo da Literatura e das Artes Cênicas, realizados em diferentes laboratórios e instituições, como relevantes contributos em seus diálogos interdisciplinares com a História da Ásia.
Gostaríamos de agradecer aos diversos autores que submeteram seus trabalhos para nossa avaliação, aos pareceristas de diferentes áreas de conhecimento que reforçaram essas conexões, e aos editores da Revista que acolheram essa proposta, bem como tornaram todo esse trabalho possível.
Boa leitura!
Samira Adel Osman – Professora Doutora (UNIFESP)
Jorge Lúzio Matos Silva – Professor Doutor (UNIFESP)
OSMAN, Samira Adel; SILVA, Jorge Lúzio Matos. Apresentação. Faces da História, Assis, v.6, n.2, jul / dez, 2019. Acessar publicação original [DR]
Educação em rede: construindo uma ecologia para a cultura digital | EmRede – Revista de Educação a Distância | 2019
Durante as apresentações de trabalhos no XV Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESUD) e o IV Congresso Internacional de Educação Superior a Distância (CIESUD), promovidos pela Associação Universidade em Rede (UniRede) e realizados no período de 20 a 23 de novembro de 2018, em Natal, Rio Grande do Norte, os participantes foram convidados a submeter seus artigos e relatos de experiência na revista EmRede, bem como foi realizada ampla divulgação para contemplar aqueles que também pesquisam sobre os temas abordados na revista.
Pierre Levy apresenta a ecologia como o estudo da “relação entre o pensamento individual, as instituições sociais e as tecnologias da comunicação” (LEVY, 1993, p. 133) e considera a “… cognição como resultado de redes complexas onde interagem um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos” (Idem, p. 135). Giraffa e Nunes (2003, p. 31) trazem a ideia da ecologia digital que considera a rede como um sistema subsunçor, capaz de produzir conhecimento a partir de novas informações que são ligadas a uma estrutura de conhecimentos anteriores. Buscando integrar esses conceitos, o Comitê Científico do ESUD 2018 propôs o tema do congresso como a Educação em rede: construindo uma ecologia para a cultura digital. Assim, os trabalhos ali apresentados trouxeram a visão dos pesquisadores sobre todas essas possibilidades na educação a distância, em rede e via internet, bem como seus reflexos no ensino presencial. Leia Mais
Ensino Híbrido ou Blended Learning | EmRede – Revista de Educação a Distância | 2019
O saber instituído e aplicado nas ações de difusão do conhecimento nas mais diversas áreas da atuação humana remete a uma apropriação de categorias analíticas e conceituais que são demandadas pelo ato de inovar, inerente aos processos criativos e de produção. Dessa maneira, o ator social imerso nesses processos potencializa a dinâmica formativa, e a tendência de incorporar em sua malha de conhecimentos formais e a adequação espaço-temporal de sua atuação corrobora com a busca de caminhos metodológicos que possibilitem a convergência entre a necessidade de atualização e o atendimento das demandas contemporâneas.
O avanço constante e acelerado das possibilidades tecnológicas de comunicação e difusão a distância vem alterando – substancialmente – as formas de vivência coletiva com a incorporação gradual do uso das Tecnologias Digitais em Rede nos diversos campos da organização social. A realidade – cada vez mais comum na sociedade contemporânea – da convergência de ações em presencialidade física e ações com mediação tecnológica – Ensino Híbrido ou Blended Learning – impõe ao campo educacional a problematização teórica, a investigação dos artefatos computacionais e o desvendamento metodológico inerentes a essas práticas convergentes no campo formativo e da construção do conhecimento. Leia Mais
Múltiplas Vozes na formação de professores de História: experiências Brasil-Argentina – GIL; MASSONE (CA-HE)
GIL, Carmem Zeli de Vargas; MASSONE, Marisa Raquel (org.). Múltiplas Vozes na formação de professores de História: experiências Brasil-Argentina. Porto Alegre: EST Edições, 2018. 280 p. Resenha de: MUNIZ, Manuel. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, v.28, p.150-152, Enero-Junio 2019.
En la pieza musical del compositor Arvo Pärt (1935) Spiegel Im Spiegel (Espejo en el espejo) se combinan entre el piano y violín una voz melódica con una voz tintineante. El efecto sonoro de espejos reflejándose entre sí es homologable al que sugiere la lectura de Múltiplas Vozes, libro compilado por Carmem Zeli de Vargas Gil y Marisa Massone, que realiza un valiosísimo aporte en torno al conocimiento de las prácticas y saberes docentes en la formación inicial de profesores de historia en Brasil y Argentina. Tras la presentación de Margarida Dias de Oliveira, los artículos están organizados en cinco secciones en las cuales se abordan: aspectos generales de la formación inicial en los dos países, las voces de profesores orientadores (o tutores), las de profesores co-formadores, las de profesores y practicantes y, finalmente, un capítulo escrito por las compiladoras en el que entrelazan los anteriores textos. Los trabajos están escritos en español o en portugués, dependiendo de cada autor/a, lo cual deriva en que los matices de cada lengua permiten asir las similitudes y diferencias de las experiencias de ambos países. Los que escriben son investigadores, docentes e incluso estudiantes por lo cual hay una primera conclusión: el enunciado de múltiples voces en el título no podría ser más preciso.
Son, en efecto, voces que resuenan en contextos que se espejan entre sí. Uno de los componentes significativos de esta publicación es que pone el foco en las variadas figuraciones que se gestan en la formación inicial de profesores de historia. Así, por caso, los artículos de Pacievich y de Cuesta realizan un recorrido por las investigaciones y por las normativas que regulan la formación de profesores en general y en historia en particular en ambos países. Luego de leer estos capítulos se atisba que probablemente aquel campo de indagación se halla en estadios disímiles, tomando en cuenta la cantidad de tesis escritas sobre estos temas en Brasil.
Una de las marcas de Múltiplas Vozes es la presencia de la primera persona, del testimonio, la autobiografía, la memoria escolar, entre otras formas de lo que podríamos nominar como un tipo de escritura del yo para la reconstrucción de lo que implica la formación de profesores de historia. No es casual, pues, que palabras y expresiones como “experiencia”, “memoria”, “en primera persona” aparezcan en varios de los títulos de los artículos. Esta característica cruza la segunda sección del libro, compuesta por escritos de docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de General Sarmiento, la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y la Universidade Federal de Santa Catarina. En este carácter narrativo creemos que radica uno de los pactos de lectura propuestos, esto es, la coexistencia de elementos del rigor académico con relatos en primera persona sin los cuales sería muy difícil captar los indicios de lo cotidiano de la formación de profesores de historia, en particular en la instancia de las prácticas. Esto se evidencia en los trabajos de María Paula González, Gabriela Carnevale y Marisa Massone, quienes ordenan narrativamente el recorrido que un estudiante en tránsito a ser profesor debe atravesar. Un aporte al conocimiento de estos procesos radica en el uso que proponen los tres textos de nociones como “espacios de frontera”, “rito de iniciación”, o “talleres”, que en suma permiten acercarse al problema desde una idea experiencial.
Dos interrogantes esenciales de toda práctica o residencia recorren el libro: para qué enseñar historia y qué historia enseñar. El artículo de Nilton Mullet Pereira y Fernando Seffner reconstruye lo que implica enseñar historia (o enseñar a enseñar historia) en el Brasil de Escola Sem Partido y la sospecha constante sobre lo que transmiten los profesores, situaciones indeseables que para el docente argentino parecerían estar por ahora en ciernes. Como sea, este problema sobre qué historia enseñar se cristaliza asimismo en el trabajo firmado por Carla Beatriz Meinerz, Tanise Baptista de Medeiros e Valeska Garbinatto donde la cuestión se entronca con los saberes y experiencias que traen los jóvenes, tal es su relato del uso del rap para abordar la Dictadura Cívico-Militar brasileña.
Llegamos aquí a otro de los tópicos que atraviesan la edición, esto es, las relaciones entre la historia investigada y la historia enseñada. Una de las grandes tomas de posición de todo el libro es que la historia que se enseña en las escuelas -y que enseñan los practicantes/residentes- es una historia que, en el marco de la cultura escolar, crea y recrea saberes disciplinares, saberes pedagógicos y del oficio, con cruces con las culturas juveniles de ambos países y con los diversos niveles contextuales en los que se sitúa la enseñanza. A nuestro entender, una de las apuestas subyacentes de varios de los artículos es que el momento de la escritura de la enseñanza es aquel en el cual los estudiantes en tránsito a ser profesores tensionan al máximo esa relación entre historia académica e historia enseñada, o sea, la situación en la cual la anticipación sobre aquello que van a enseñar en el lugar en el cual les tocará actuar demuestra la (afortunada) imposibilidad de pensar en una transposición fiel de lo que investigan los historiadores. Es sumamente estimulante leer las similitudes y también disonancias en las características de lo que se propone a los practicantes que escriban: por ejemplo, los trabajos de Mónica Martins Silva son los el uso de los diarios de aula o el de Bruno Chepp da Rosa y Carmem Zeli de Vargas Gil con el intercambio de correos electrónicos, o en los trabajos de González, de Carnevale y de Massone con el análisis de las peculiaridades de la planificación como tipo de escritura. Otro ejemplo de cómo la historia escolar dialoga de modo no jerarquizado con la historia académica y construye nuevos saberes: el trabajo de Edison Luiz Saturnino relata la experiencia de un residente que, motivado por la lectura del libro de Alain Corbin O territorio do vazio: a praia e o imaginário ocidental, abordó con sus estudiantes de primer año de la escuela media la pregunta de los múltiples significados y usos del mar a lo largo de la historia. Los jóvenes, en una de las propuestas didácticas del practicante, comenzaron a realizar entrevistas a pobladores de la zona sobre cómo ellos concebían los diferentes usos del litoral marítimo, en un significativo ejercicio de historia local.
La visibilización de actores que parecerían ocluidos en la formación docente resulta otro de los logros del libro. En esta clave, el trabajo de Gisela Andrade reconstruye el rol de co-formador de aquellos profesores de escuela media que reciben a los estudiantes en sus cursos en el momento de las prácticas. Similar registro se denota en el estudio de Bruno Chepp da Rosa e Carmem Zeli de Vargas Gil, en el cual se relatan experiencias de residencias en espacios museísticos. Estos textos iluminan los modos en los cuales las prácticas se enmarcan, pues, en una red compleja con actores cuyas funciones son sustancialmente relevantes. Andrade resalta el lugar del docente co-formador como aquel que se convierte en un referente del practicante para interpretar el mundo simbólico y material de la cultura escolar, mientras que el segundo trabajo ilustra las articulaciones de los estudiantes con museólogos, archivistas y curadores que coadyuvan a la elaboración de una propuesta de enseñanza.
En la sección final se recuperan las voces de profesores y estudiantes en tránsito a ser profesores, particularmente en los escritos de Iván Greppi Seveso, Bruna Emrim Krob, María Ximena González Iglesias, Guido Ondarts y Tamiris Serafim Matos. Algunos reconstruyen experiencias de prácticas docentes que parecerían más bien excepcionales, como la de Greppi Seveso en el Centro Educacional de Nivel Secundario en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires o bien la de Ondarts en una escuela en el delta del Paraná. En ambos casos, nuevamente, se evidencia cómo los contextos en los cuales estos estudiantes actuaron desestructuran notablemente la relación entre la historia investigada (o en este caso, aprehendida en la Universidad) con la historia enseñada. Los relatos sobre qué enseñar acerca del Neolítico a los estudiantes del CENS del susodicho Penal, o bien sobre cómo establecer un recorte para abordar la Revolución Mexicana con jóvenes que viven en las islas del delta muestran el carácter intelectualmente activo del diseño de propuestas de enseñanza. Como una especie de loop el lector nuevamente se encuentra con las preguntas acerca de qué historia enseñar y para qué, interrogantes que sólo se responden contextualmente. En este rumbo, los trabajos de Tamiris Serafim de Matos y de Bruna Emerim Krob enfocan aspectos del currículum como la presencia de temas de la historia de África en Brasil o las tensiones raciales que se ponen en evidencia en el aula entre profesores y estudiantes.
En síntesis el libro logra lo que se propone: dar cuenta de una multiplicidad de voces, actores, temas, dificultades y certezas de la formación de profesores de historia en ambos países,. Son investigaciones sumamente significativas pero con aristas aún por iluminar. El carácter narrativo que lo recorre abre la expectativa de alcanzar en futuras pesquisas proposiciones teóricas para construir novedosas formas de pensar la práctica docente y la formación de profesores de historia. Sería, acaso, un giro para recorrer como en una escala musical también otras experiencias de una América Latina de presente tan lacerante.
Manuel Muñiz – Universidad de Buenos Aires. E-mail: [email protected]
La enseñanza de la historia en el siglo XXI. Saberes y prácticas – GONZÁLEZ (AC-HE)
GONZÁLEZ, María Paula. La enseñanza de la historia en el siglo XXI. Saberes y prácticas. Los Polvorines: UNGS, 2018. 157 p. Resenha de: AGUIRRE, Mariela Coudannes. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, v.28, Enero-Junio 2019.
El reciente trabajo de la autora propone un recorrido orientado por la hipótesis de que la enseñanza de la historia en el nivel secundario a inicios del siglo XXI muestra “un panorama de transformaciones en sus objetivos, contenidos, actividades y materiales” y que las mismas puedan ser interpretadas “como mixturas e hibridaciones, con permanencias en lo que se renueva y mutaciones en lo que perdura” (p. 9), en un marco de cambios políticos, sociales, culturales más amplios.
Expone los resultados de una exploración realizada a partir de instrumentos diversos (observaciones, encuestas, entrevistas), la recolección/ construcción de múltiples fuentes documentales (normativas, estadísticas, programas de docentes, carpetas de estudiantes, publicaciones, páginas web, etc.), el análisis riguroso de las mismas y la triangulación permanente. Si bien el título de la obra es amplio ya que no alude a coordenadas espaciales y temporales concretas del estudio, en la Introducción se precisa que estuvo acotado a la Región IX de la provincia de Buenos Aires y que algunas de sus acciones se remontan al menos al año 2011 a partir de un proyecto desarrollado bajo la dirección de González en la Universidad Nacional de General Sarmiento1. Se aclara también que la producción desenvuelve ejemplos seleccionados de distintos tipos de escuelas bajo el criterio de ofrecer potencial para la reflexión y de contraste entre los saberes y las prácticas, las representaciones de los y las docentes, y lo que sucede cotidianamente en el ámbito escolar, entre otros aspectos.
En el primer capítulo La enseñanza de la historia en la cultura escolar, la autora ofrece “una interpretación posible de la enseñanza de la historia a partir de la consideración de la cultura escolar y las disciplinas escolares”. En el segundo, Sentidos y contenidos en la enseñanza de la historia, analiza los cambios en el canon disciplinar “que va de lo nacionalista y memorístico a lo democrático y crítico, así como del pasado lejano al cercano”. En el tercero Actividades y materiales en la enseñanza de la historia, señala “las tareas que se practican en el cotidiano escolar a partir de variados lenguajes y soportes, con sus disímiles apropiaciones”. En cada una de sus partes se percibe una visión que complejiza la realidad educativa, con el objetivo de recuperar prácticas invisibles y la riqueza de lo particular. Asimismo la mirada de larga duración le ha posibilitado “percibir permanencias y cambios que de otra manera sería imposible” (p. 20).
Finalmente, el capítulo Una enseñanza de la historia en movimiento expone unas conclusiones que animan a continuar la problematización de las afirmaciones más comunes, aquellas que traducen la creencia de que “nada cambia”, enfatizando las aristas más rígidas del sistema, o las que expresan que “todo ha cambiado”… pero para peor. Por el contrario, este tipo de trabajo apuesta a mostrar los matices y las contradicciones que se pueden observar en la conjunción de “lo dominante, lo emergente y reemergente, lo latente, lo residual y lo perenne” (p. 131).
Notas
1 La UNGS permite la descarga gratuita de la obra aquí reseñada. La versión completa está disponible en https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/la-ensenanza-de-la-historia-en-el-siglo-xxi-2/
Mariela Coudannes Aguirre – Universidad Nacional del Litoral. E-mail: [email protected]
Diversidade Cultural e Religiosa no Contexto da Amazônia / Revista Brasileira de História das Religiões / 2019
Falar da Região Norte é falar de um universo desconhecido para o restante do Brasil. Apesar da produção cientifica em expansão, ainda carecemos de literatura consistente para entender o universo religioso que o contexto amazônico possui – contexto este marcado pelo diversidade religiosa e cultural. Percebemos a presença expressiva de grupos evangélicos pentecostais e neopentecostais em crescimento, liderados pela Igreja Assembleia de Deus (AD), Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), e Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), percebemos um catolicismo em declínio do quantitativo de adeptos, mas ainda muito engajada em questões sociais (a presença da teologia da libertação entre os leigos e padres é significativa). Porém é a influência da cultura indígena e africana que podemos dizer ser algo singular da Amazonia. Ribeirinhos, quilombolas, povos tradicionais, população negra e a população como um todo recorre a práticas de cura vindas da pajelança, usos de ervas, bebidas, danças, águas, sacrifícios visando obter suas curas físicas ou emocionais. Enfim, falar desta região é falar de um mundo desconhecido. Cabe às universidade tentar interpretar este universo à parte.
Neste contexto, esta chamada temática tem por finalidade trazer textos que explorem este universo singular chamado Amazonia. Para tanto trazemos três trabalhos que dialogam entre si e tentam diagnosticar esta pluralidade cultural e religiosa. Temos o trabalho da Profa. Maria da Conceição Silva Cordeiro e do Prof. Marcos Vinicius de Freitas Reis intitulado “‘Oficio de Curar’: querências do destino, intervenção do sagrado”, que discute a questão da busca pela cura pelos povos da Amazonia nas mais variadas expressões religiosas. Temos os trabalhos intitulados “A comunidade de Santa Luzia no Arquipélago do Marajó: vivências e práticas religiosas”, de Sônia Maria Pereira do Amaral e Elivaldo Serrão Custódio, e “Um estudo das relações sociopolíticas e religiosa entre Ribeirinhos”, de autoria de Liliane Costa de Oliveira e Marilina Conceição Oliveira Bessa Serra Pinto. Ambos os textos buscam entender a identidade religiosa de suas localidades e como ocorrem as relações de poder.
O presente volume foi organizado pelos professores Sérgio Junqueira, um dos maiores especialistas no debate do tema Ensino religioso e incentivador e organizador de trabalhos que pensam a Amazonia na atualidade, e pelo Prof. Marcos Vinicius de Freitas Reis, atualmente vinculado a Universidade Federal do Amapá, coordenando o grupo de pesquisa CEPRES – Centro de Estudos Politicos, Religião e Sociedade.
O volume traz ainda artigos livres que versam sobre temas e contextos variados, aprofundando temáticas e indicando a proficuidade dos estudos sobres as religiões e as religiosidades.
Desejamos a todos uma boa leitura!
Marcos Vinicius de Freitas Reis
Sérgio Junqueira
REIS, Marcos Vinicius de Freitas; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. Apresentação. Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá, v.11, n.33, jan. / abr. 2019. Acessar publicação original [DR]
Mulheres, Gênero, Sertanidades / Sæculum / 2019
AbeÁfrica. Rio de Janeiro, v.3, n.3, 2019.
Expediente
- Expediente
- Júlio Cesar Machado de Paula
Apresentação
- Moçambique na globalização: oportunidades, riscos e desafios
- Frédéric Monié, José Júlio Junior Guambé
Dossiê
- A inserção de Moçambique na globalização: riscos, desafios e dinâmicas territoriais
- Frédéric Monié
- Turismo em Moçambique: Oportunidades, desafios e Riscos
- Jose Juliao Da Silva
- Efeitos da Pandemia de Covid19 sobre o turismo na África subsaariana e em Moçambique
- José Júlio Júnior Guambe
- Dinâmicas de produção do espaço urbano na perspectiva da informalidade e pobreza urbanas
- Luiz Adriano Guevane
- Globalização e transformação dos espaços urbanos periféricos em Moçambique
- Joaquim Miranda Maloa
- Avaliação da vulnerabilidade costeira na costa Moçambicana: Índice de Vulnerabilidade Costeira simplificado
- Teodósio das Neves Milisse Nzualo, Vanilza Flora Silvestre
- Novos sentidos da circulação em Moçambique: a produção para exportação nos anos 2010
- Antonio Gomes de Jesus Neto
- Os direitos sobre os territórios: ‘comunidades locais’ e os projetos de desenvolvimento em Moçambique
- Albino José Eusébio
- Mineração e reestruturação espacial em Moatize (Moçambique)
- Frédéric Monié, Maria Daniele Carvalho
- Por um Estado de Emergência com Justiça Social, Ambiental, Económica e de Género: propostas da sociedade civil Moçambicana, face à pandemia do COVID-19
Texto Coletivo
Artigos
- Rompendo silêncios: aportes historiográficos sobre resistências femininas na União Sul-Africana
- Nubia Aguilar
- O Comércio Atlântico de Couro na Senegâmbia: 1580-1700
- Felipe Silveira de Oliveira Malacco
- Entrelaces de Memórias Africanas: entre o Real e a Ficção
- Angela Guida, Betinha Yadira Bidemi
- Os modos de expressão do feminino em Mia Couto
- Cláudia Barbosa de Medeiros
Resenhas
- A “Arte Makonde” como possibilidade de narrativa histórica
- Fernanda Bianca Gonçalves Gallo
- Entrevistas
- A revolução moçambicana pelas lentes do filme “25” (1976-77) Entrevista com o diretor Celso Luccas
- Fernanda Bianca Gonçalves Gallo
Traduções
- Africanidade: uma ontologia combativa
- Archibald Monwabisi Mafeje, Paulo Ricardo Müller
- Sobre a tradução de Africanidade: uma ontologia combativa
- Paulo Ricardo Müller
Capa
- Fotografia da capa
- Frédèric Monié
AbeÁfrica. Rio de Janeiro, v.2, n.2, 2019.
Expediente
- Expediente
- Washington Santos Nascimento
Apresentação
- Os estudos africanos: entre conceitos e caminhos
- Fernanda do Nascimento Thomaz, Washington Santos Nascimento
Artigos
- Pesquisando a História da Luta Armada em Moçambique: o Contexto dos Desafios Atuais da Comunicação Científica
- Colin Darch
- Entre a “civilização” e a “cultura”: narrativas sobre a nação em Cabo Verde
- Juliana Braz Dias
- Elementos para a compreensão de Línguas Crioulas e Pidgins: conceitos e hipóteses
- Ulisdete Rodrigues de Souza
- Conheci, ouvi e vi: narrativas de uma testemunha ocular da Guerra Civil em Angola (1983-1986)
- José Bento Rosa da Silva
- Os últimos momentos do colonialismo em Angola: partir ou ficar?
- Marilda dos Santos Monteiro das Flores
- Entre a sátira e o realismo socialista: O ano da independência de Angola na ficção de Manuel Rui
- Luiz Maria Veiga
- Escrita, Poder e Utopia em Pepetela
- Carolina Bezerra Machado
- Ativismo crítico pós-colonial: Raça, Genocídio e Reparação
- Tereza Ventura
Resenhas
- Crônica de uma economia política do poder em Angola do pós-guerra?
- Gilson Lazaro
- Jinga de Angola: A rainha guerreira da África
- Rogéria Cristina Alves
- Jogos de Memória: narrativas historiográficas sobre a Guerra Colonial na África e em Portugal
- Fabiano Quadros Rückert
Capa
- Mulheres nas ruas de Nampula, Moçambique
- Fernanda do Nascimento Thomaz
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, n.26, 2019.
PALAVRA DOS EDITORES
- Nelson de Castro Senra
- João Carlos Nara Júnior
ARTIGOS
- SÉRGIO PORTO, UM CRONISTA DO RIO
- Cláudia Mesquita
- MARIA GRAHAM, UMA ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA, COM REGISTROS DAS TURBULÊNCIAS DO BRASIL INDEPENDENTE
- Denise G. Porto
- CONTRIBUIÇÃO À HISTORIOGRAFIA DE RESENDE: SOBRE O SEGUNDO VIGÁRIO DO CAMPO ALEGRE DA PARAÍBA NOVA
- Marcos Cotrim de Barcellos PETRÓPOLIS NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE D. PEDRO II (1825-1925)
- Maria de Fátima Moraes Argon
- CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE ESTATÍSTICA (QUITANDINHA, PETRÓPOLIS, 1955): A CONSAGRAÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS
- Nelson de Castro Senra
- A MAIS CARIOCA DAS RUAS DO RIO
- Neusa Fernandes
- A CULTURA DO CAFÉ NO RIO DE JANEIRO: INTRODUÇÃO E EXPANSÃO PELO VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE NOS SÉCULOS XVIII E XIX
- Claudia Braga Gaspar CRIADORES DE CONHECIMENTO MILENAR: ARQUITETOS, ENGENHEIROS, CARTÓGRAFOS E TÉCNICOS DA CONSTRUÇÃO
- Nireu Cavalcanti
- MÚSICA NO RIO DE JANEIRO SETECENTISTA: A MODINHA, O LUNDU E A INVENÇÃO DO CHORO
- Paulo Henrique Loureiro de Sá
- ARTIGOS VENCEDORES DO CONCURSO HISTÓRIAS DO RIO
- CAMPO DE SANTANA, HISTÓRIAS E O TRIUNFO DA MEMÓRIA
- Lenna Carolina da Silva Solé Vernin
- RIO, 1968: MEMÓRIAS DA GUANABARA REBELDE
- Mathews Nunes Mathias
- ESBOÇO TEMÁTICO
- ANTIGOS CARTÕES-POSTAIS, COMO AUXILIARES DA HISTÓRIA
- Carlos Wehrs Cláudio Marinho Falcão
- RESENHAS DE LIVROS
- PARA SE CONHECER A HISTÓRIA DO RIO DE JANEIRO
- Adelto Gonçalves
- DISCURSOS E SAUDAÇÕES
- DISCURSO DE APRESENTAÇÃO DA SÓCIA EFETIVA MARIETTINHA MONTEIRO LEÃO DE AQUINO E DO SÓCIO CORRESPONDENTE MARCELO MIRANDA GUIMARÃES
- Lená Medeiros de Menezes
- O IMPERADOR E A CONDESSA – EXEMPLOS BRASILEIROS
- Cinara Jorge
QUADRO SOCIAL QUADRO SOCIAL
Viagens e Espaços Imaginários na Idade Média | Vânia L. Fróes, Edmar C. Freitas, Sinval C. M. Gonçalves, Miriam C. Coser, Raquel A. Pereira, Ana Carla M. Castro
Sempre houve relatos do contínuo deslocamento da humanidade, sejam nos tempos pré-históricos, passando pelas narrativas Homéricas e relatos de Heródoto, chegando até o medievo, onde o homem desse período saía de seu lar com objetivos diversos, desde um monarca para ver suas terras, até o peregrino em expiação aos pecados.
Essa é a tônica do livro Viagens e espaços imaginários na Idade Média, lançado pela Anpuh Rio no anos de 2018, com textos dos membros do Scriptorium Laboratório de Estudos Medievais e Ibéricos, um dos mais antigos, atuantes e prestigiados grupos de pesquisa em estudos medievais do Brasil, com pesquisas que abrangem vários campos da cultura e do conhecimento do medievo, entre eles literatura, política, imaginário, iconografia e música, assuntos abordados nessa produção de 246 páginas, cuja organizadora principal é a Prof. Dra. Vânia Leite Fróes, fundadora do Scriptorium, laboratório que em 2019 completou 32 anos de existência.
O livro reforça a ideia de que o homem medieval se movimentava bastante, quebrando estereótipos de que os medievos possuíam uma vida restrita ao seu lugar de nascimento, pois segundo Jacques Le Goff:
A imagem construída pela historiografia tradicional, de uma Idade Média imóvel em que o camponês está ligado à terra e a maioria dos homens e mulheres à sua pequena pátria, com exceção de alguns monges viajantes e de aventureiros das cruzadas, foi recentemente substituída pela imagem, certamente mais justa, de uma humanidade medieval móvel, frequentemente a caminho, in via, que encarna a definição cristã do homem como viajante, como peregrino, homo viator”.1
Desta forma, o livro organizado por Fróes reforça o pensamento de Le Goff sobre os indivíduos no medievo e a ideia de viagem. Estes possuíam não somente mobilidade física, mas mobilidade em imaginário e representações, onde estes homens projetavam sua caminhada na terra, numa peregrinação que se encerraria ao chegar ao Além.
O livro está dividido em seis partes, todas tratando de diversas concepções de viagem. Na primeira parte, Viagens e o poder régio, vemos a observação do poder real, com suas várias configurações de viagens, sendo essas imaginárias ou reais, como consolidadoras de imagens úteis em captação de aliados.
A publicação tem como início, após a apresentação da Coordenadora e Pesquisadora do Scriptorium Prof. Dra. Vânia Leite Fróes, o relato da viagem feita pelo Infante D. Pedro no texto de Ana Maria S. A. Rodrigues (Centro de História/Universidade de Lisboa) e o percurso deste nobre da terra Santa até sua ascensão ao trono, numa peregrinação para legitimar e dar credibilidade a sua imagem de governante, na disputa pela memória e honra, contra a sua cunhada, D. Leonor de Aragão.
No texto seguinte, de Douglas Mota Xavier de Lima (UFOPA-Santarém/ Vivarium-Scriptorium) mostra um olhar sobre a diplomacia em Portugal do século XV, no reinado de D. Afonso V, além das próprias viagens do rei à Paris visando se encontrar com o rei Luís XI, em busca de apoio contra o reino de Aragão.
Fechando a primeira parte temos o capítulo de Priscila Aquino Silva (Faculdade de São Bento/Unilasalle, Niterói-Scriptorium), tratando da trajetória de D. João II, o Príncipe Perfeito e sua esposa D. Leonor, a construção de sua identidade régia baseada em sua devoção, onde o casal era unido nas peregrinações, mas oposto em suas posições políticas.
A segunda parte Viagens nas representações iconográficas traz uma série de textos com análises de iconografias e suas diversas significações: padrões estéticos, esculturas miraculosas, representações infernais e gravuras sobre martírio e triunfo. As imagens na Idade Média possuem uma função de formação moral e de atestar a presença e ação de Deus. Trabalham com a ligação entre o humano e o divino, pois passam uma mensagem transcendental. Como afirma Jean Claude Schimtt no seu livro O Corpo das Imagens: A imagem medieval se impõe como uma aparição, entra no visível, torna-se sensível. […] Mediadoras, as imagens estavam entre os homens e o divino.2
Abrindo essa sessão, há dois textos de Tereza Renata Silva Rocha (Scriptorium/ UFF). O primeiro analisa a coletânea cristã Legende Dorée, num percurso explicativo sobre as mudanças nos padrões estético e artístico do medievo, além de fazer uma pertinente observação sobre a luta entre bem e mal pela alma humana e tudo o que esse processo envolve, como os pactos diabólicos.
No segundo texto, a autora traz uma avaliação sobre o Volto Santo, uma escultura atribuída a Nicodemos, o qual, num percurso miraculoso, aparece na Legende Dorée, na sessão intitulada Festes Nouvelles, que traz vidas de santos e o Volto Santo, que atrai peregrinos e fiéis até os dias atuais.
No capítulo seguinte, de Patrícia Marques de Souza (CHA/UFRJ), temos uma análise da versão em latim da Ars Moriendi (Arte do Bem Morrer), e suas gravuras, que tratam da morte, mas também de anjos, santos e da Virgem Maria. A autora também mostra uma observação pormenorizada da representação da Boca do Leviatã como porta do inferno e suas diversas interpretações no medievo.
Ao fim dessa segunda parte, temos o texto de Vinícius de Freitas Morais (CHA/UFRJ/Scriptorium), tecendo uma análise sobre o beato Simão de Trento, nos diversos relatos escritos e imagéticos que tratavam das circunstancias do seu assassinato. As narrativas mencionam que os acontecimentos envolvolveram sequestro, tortura e morte, ocorridos durante a Semana Santa, além de gravuras que retratavam seu martírio e triunfo.
A parte três tem o título Viagens e Peregrinações, remetendo às falas de Jérôme Baschet: “Toda peregrinação é na Idade Média, uma aventura, um risco; se o destino é longínquo, as pessoas redigem o seu testamento antes da partida ou, ao menos, tomam o cuidado de pôr em ordem os seus negócios, como se a viagem fosse sem volta” 3 , mostrando um amplo panorama de deslocamentos expressos nas cantigas, em tradições familiares e as movimentações de uma rainha que foi consorte em duas coroas.
O primeiro texto desta sessão, escrito por Lenora Mendes (Conjunto de Música Antiga da UFF/Scriptorium), traz um a visão acerca das devoções e peregrinações expressas nas cantigas medievais e traça a rota dos principais lugares de peregrinação, especialmente em direção à Santiago de Compostela, significativamente citado nas cantigas de Santa Maria.
O escrito seguinte, de Tomás de Almeida Pessoa (Scriptorium/UFF), relata a tradição da família de Gregório de Tours em empreender peregrinações anuais a Brioude, local onde repousava o corpo decapitado de São Juliano. No texto vê-se que o itinerário da peregrinação era usado como uma jornada na terra para chegar a Deus.
O terceiro texto dessa parte é de autoria de Letícia Simmer (Unirio). Trata de Eleanor de Aquitânia, uma mulher de destaque na França e Inglaterra devido a casamentos com os monarcas dos dois territórios, que vivia em constante movimento desde a Segunda Cruzada, passando pelo território inglês, Jerusalém, Sicília, Navarra, Pisa, Roma, além de muitos territórios da França.
A sessão quatro tem como título Viagens e Escatologias, onde são expressas viagens ao Purgatório, além de como os vivos poderiam ajudar aos mortos nessa jornada, e o percurso de Maomé de Jerusalém ao céu, expresso em traduções Afonsinas.
Essas viagens eram ligadas à salvação e purgação dos pecados, que eram uma preocupação do homem medieval como explica a professora Adriana Zierer no resumo do artigo Paraíso versus Inferno: a Visão de Túndalo e a Viagem Medieval em Busca da Salvação da Alma (séc. XII):
A salvação na Idade Média estava ligada à idéia de viagem. O homem medieval se via como um viajante (homo viator), um caminhante entre dois mundos: a terra efêmera, lugar das tentações e o Paraíso, Reino de Deus e dos seres celestiais. Se o homem conseguisse manter o corpo puro conseguiria a salvação. Se falhasse, sua alma seria condenada, com castigos eternos no Inferno ou provisórios no Purgatório. Era um paradoxo da Idade Média que a alma pudesse ser salva somente pelo corpo, devido à esse sentimento de culpa, proveniente do Pecado Original. Caso o maculasse, sua alma sofreria a danação com castigos eternos no Inferno ou provisórios no Purgatório”. 4
O primeiro texto da parte 4 é de Tereza Renata Silva Rocha (Scriptorium/UFF),onde a autora faz uma exposição sobre o Purgatório de São Patrício na Legenda Áurea, através da jornada de um nobre chamado Nicolau e seu desejo de se penitenciar no Purgatório. Neste contexto, Rocha mostra a construção desse espaço no imaginário medieval ocidental do além, assim como seu destaque deste na Legenda Áurea, sua geografia , igualmente como a descrição do Leviatã e as bocas do Inferno.
Dando sequência, temos o texto de Viviane Azevedo de Jesuz (Cultura Inglesa/ Scriptorium), que traz uma análise sobre as visões da morte na vida cotidiana do homem medieval e qual a participação dos vivos no descanso eterno das almas dos seus. Essa participação era geralmente expressa nos testamentos, nos quais, além de obrigações aos herdeiros, faziam doações e atos de piedade com o intuito de manter a memória do morto para a família e o meio social.
No terceiro texto dessa quarta parte, Leonardo Fontes (Arquivo Nacional/Scriptorium) apresenta o percurso da viagem escatológica de Maomé por diversos lugares. Estes espaços iam de Jerusalém ao céu, expostos nos arquivos da Corte de Afonso X, através de sua Oficina Tradutória, importante scriptorium de confluência entre diferentes culturas, assim como de valorização dos ensinamentos do rei e de seus súditos, a obra, A -MI AJ, que possu a versões latina, castelhana e francesa. Tal obra difundiu o Islã pelo continente europeu e influenciou diversos escritos importantes, como a Divina Comédia.
A quinta parte do livro é intitulada Viagens e materialidade das narrativas: das bibliotecas régias às estalagens. Aqui, as viagens se iniciam na observação das estalagens e mostram que os livros são meios de expressão de viagens, caças e jogos, que suscitam deslocamentos de várias figuras importantes como D. Dinis e o contato com o Preste João.
Esta sessão traz um rico apanhado de informações sobre os livros de viagem. Conforme nos diz Paulo Lopes, professor do Instituto de Estudos Medievais de Portugal (IEM-FCSH-UNL) em seu artigo Os Livros de Viagens Medievais na revista Medievalista (p. 5): “Os livros de viagens oferecem uma visão bastante clara da concepção do mundo e da realidade na Idade Média, ao mesmo tempo que constituem uma fonte incontornável para compreender aspectos muito diversos da cultura medieval”.5
No primeiro artigo da quinta parte, de Beatris dos Santos Gonçalves (IBMEC /CÂNDIDO MENDES/ Scriptorium), há uma análise de como se dava a dinâmica da hospitalidade nas estalagens portuguesas nos séculos XV-XVI. A autora observa as tensões e cotidianos desses abrigos, além do que estas ofereciam e a quem pertenciam, assim como eram concedidos sua autorização de funcionamento, sua lógica de funcionamento e os benefícios advindos da coroa por estarem bem posicionadas.
O segundo artigo, escrito por Carolina Chaves Ferro (UniCarioca/Scriptorium), apresenta uma observação sobre o gênero de literatura de viagem e seus aspectos reais e imaginários. Dos relatos celebres religiosos e suas origens como a Viagem de São Brandão e a Legenda Aurea, assim como as narrativas presentes nas bibliotecas régias como o Livro da Cartuxa de D. Duarte, Marco Polo em latim e a Conquista d’ultramar, um outro ponto recorrente, segundo o texto, é a questão das índias e o Preste João.
O terceiro texto, de Jonathan Mendes Gomes (UEMG-Carangola|Scriptorium), destaca o papel da caça no contexto dos jogos de cavalaria, nos aspectos de espaço e movimento de folgança e também de deslocamento e itinerância régia. Os livros de caça eram aprovados pelos reis e eram usados como mecanismos de instruir ludicamente e promover o bom lazer, além de suscitar o domínio de espaços de privilégios e domesticação do meio natural, que fortaleceria a presença do monarca, no caso, D. João I.
A sexta e última sessão do livro, intitulada, Da magia à contemporaneidade: viagens no tempo e no espaço, que trabalha com a relação entre o medievo e os tempos atuais, fazendo a análise de Merlin e a magia, assim como se configura a visão do medievo, seus conceitos e estudiosos na contemporaneidade, mostrando que esse período tão rico traz ainda hoje aprendizado e relevância, como diz Hilário Franco Jr, no texto Somos Todos Idade Média, de 2008: “Assim, estudar História Medieval é tão legítimo quanto optar por qualquer outro período. (…). Neste sentido, pode ser estimulante mostrar que, mesmo no Brasil, a Idade Média, de certa forma, continua viva”6.
O artigo que inicia a sexta parte, de Átila Augusto Vilar de Almeida (ex-docente da UEPB/Devry João Pessoa e atualmente professor da UFAM/Scriptorium), propõe uma observação acerca de Merlin, suas representações contemporâneas e sua concepção no medievo especialmente nos textos de Robert de Boron, escritos entre os séculos XII e XIII, que tratavam do rei Artur e do Graal. Um Merlin, construído sob uma concepção cristã, embasando seu nascimento e origem de seus poderes mágicos sob a égide do cristianismo.
O artigo de João Batista da Silva Porto Junior (UNESA/UFF) encerra o livro, abordando o interesse do século XXI pelo medievo, e tal afirmativa se torna evidente quando se vê a produção cultural e acadêmica sobre essa temática, que o autor realiza, fazendo um apanhado de estudiosos medievalistas, assim como dos conceitos e suas ressignificações desta época.
Enfim, o livro é uma rica fonte de referências e um importante conjunto de informações sobre as diversas configurações de viagens, em suas varias formas, sendo físicas, ou simbólicas, concretas ou imaginárias, numa visita de nobres e mártires, homens e mulheres, que se aventuraram além das fronteiras, em busca de conhecimento, redenção ou legitimação.
Num contexto onde, cada vez mais, a ressignificação abre novos leques, e a reafirmação de períodos e temas relevantes são resistências contra os interditos do mundo atual, que tentam isolar, e reduzir os horizontes do conhecimento, num percurso que nem no medievo, apesar dos perigos, ameaças nas estradas e salteadores, enfrentou: o risco de cerceamento da liberdade de viajar através do saber e da ciência.
Notas
1. LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Petrópolis: Vozes, 2010.p.97
2. Schmitt, Jean-Claude. O corpo das imagens: ensaios sobre a cultura visual na Idade Média. Tradução de José Rivair Macedo. Bauru, SP: Edusc, 2007, p.16.
3. BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: Editora Globo, 2006, p. 351.
4. ZIE E, Adriana. “Para so versus Inferno: A Visão de Túndalo e a Viagem Medieval em Busca da Salvação da Alma (Século XII)”. In: FIDO A, Alexander e PASTOR, Jordi Pardo (coord). Expresar lo Divino: Lenguage, Arte y Mística. Mirabilia. Revista de História Antiga e Medieval. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio/J.W. Goethe-Universität Frankfurt/Universitat Autònoma de Barcelona, v.2, 2003, pp. 137-162. Disponível em: Mirabilia 2 (2002). www.revistamirabilia.com. Acesso em 28 de julho de 2019.
5. LOPES, Paulo. Os Livros de Viagens Medievais. In Medievalista. Lisboa: Ano 2. Nº 2, 2006. p 1-32.
6. FRANCO JÚNIOR, Hilário. Somos todos da Idade Média. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Sabin, ano 3, n. 30, p. 58-60, mar. 2008. Disponível em: http://www.editoradobrasil.com.br/portal_educacional/fundamental2/projeto_apoema/pdf/textos_comple mentares/historia/7_ano/pah7_texto_complementar01.pdf; acesso em 20 de julho de 2019.
Elisângela Coelho Morais – Doutoranda PPGHIS-UFMA/Bolsista Capes. E-mail: [email protected]
FRÓES, Vânia Leite; FREITAS, Edmar Checon de; GONÇALVES, Sinval Carlos Mello; COSER, Miriam Cabral; PEREIRA, Raquel Alvitos; CASTRO, Anna Carla Monteiro de. (Org.) Viagens e Espaços Imaginários na Idade Média. Rio de Janeiro: Anpuh-Rio, 2018. Resenha de: MORAIS, Elisângela Coelho. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.19, n.1, p. 275- 282, 2019. Acessar publicação original [DR]
Grecorromana. Revista Chilena de Estudios Clásicos | UAB | 2019
Grecorromana. Revista Chilena de Estudios Clásicos (Viña del Mar, 2019-) es una publicación afiliada al Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés Bello, Chile. De periodicidad anual, su propósito es el estudio del mundo antiguo grecorromano, así como su proyección en la Tardoantigüedad y su recepción en períodos posteriores (Recepción Clásica). Como publicación académica, su objetivo es establecer un espacio de análisis crítico y reflexivo sobre la Antigüedad Clásica y promover el diálogo entre las disciplinas que componen los estudios clásicos (historia, filosofía, filologías, arqueología, arte, etc.).
Periodicidade anual.
Acesso livre.
ISSN 0719 9902
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Ingesta | USP | 2019
A Revista Ingesta (São Paulo, 2019-) é uma publicação eletrônica de periodicidade semestral, editada por alunos de pós-graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, membros do Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e Alimentação (LEHDA), fundado em 2016 na mesma instituição.
Nosso objetivo é publicar artigos, resenhas e dossiês temáticos (em português, inglês ou espanhol) produzidos por pós-graduandos e pesquisadores pós-graduados, que possam contribuir com o desenvolvimento dos estudos históricos sobre alimentação e drogas, em seus amplos aspectos.
Textos relacionados ao campo da História serão privilegiados, mas aqueles que abordarem a temática e estiverem relacionados a disciplinas afins, como a Antropologia, a Sociologia, a Arqueologia, entre outras, também serão considerados para avaliação do Conselho Editorial e do Conselho Científico da revista.