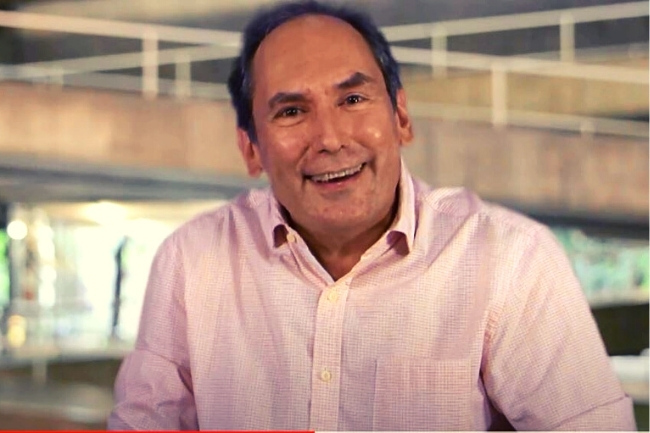Posts com a Tag ‘Annablume (E)’
A beleza e o mármore. O tratado de architectura de Vitrúvio e o renascimento | Mário Henrique S. D’Agostino
Mário Henrique Simão D’Agostino | Imagem: FAUUSP.
“O que é uma inteligência infinita?” indagará talvez o leitor. Não há teólogo que não a defina; eu prefiro um exemplo. Os passos que um homem dá, desde o dia de seu nascimento até o de sua morte, desenham no tempo uma inconcebível figura. A Inteligência de Deus intui essa figura imediatamente, assim como a dos homens um triângulo. Esse desenho tem (quem sabe) sua determinada função na economia do universo.
Jorge Luis Borges, Outras inquisições (1)
Arquiteto e urbanista, nascido em Penápolis SP, em 13 de julho de 1963, formado nos estertores da ditadura militar e no calor dos movimentos pela democracia, pela liberdade de expressão, pela explosão de um sentimento de que haveríamos de virar o jogo e ver realizar o que era potência acumulada e promessa de revolução. Os jovens universitários daquela primeira metade dos anos 1980, misturavam boemia e afeto à formação intelectual, às ações culturais e à ampla participação política, em doses pessoalmente definidas. Dos vindos de pequenas cidades do interior de São Paulo, o alumbramento com o ambiente universitário, sobretudo, aquele da FAU PUC-Campinas, era inevitável. Havia um sentimento difuso que misturava esperança em uma virada histórica no Brasil, para uma sociedade democrática e mais justa, em compasso com a transformação nas vidas pessoais, movida pelos novos horizontes intelectuais e pelos estímulos ao desenvolvimento de sensibilidades e práticas artísticas. O meio universitário se propagava pela cidade de Campinas e a FAU PUC-Campinas parecia ser a mais sedutora das mestres de cerimônias, com seu rico, estimulante e comprometido grupo de docentes. Leia Mais
Amor em tempos de aplicativos: Masculinidades heterossexuais e a nova economia do desejo | Larissa Pelúcio
Larissa Pelúcio | Foto: JCNET

A selfie tornou-se manifestação síntese de uma característica que, segundo Iara Beleli (2015), se impôs de maneira definitiva: o imperativo das imagens. O novo cenário de abundância das fotografias pessoais possibilitou a racionalização detalhista dos códigos transmitidos pelas imagens e o uso disseminado de filtros de edição, ambos elementos estratégicos na busca amorosa e sexual. Além das imagens, os aplicativos de relacionamento inovaram com recursos sociotécnicos para escolha e comunicação entre possíveis pretendentes, como o próprio recurso do match, o qual viabiliza o encontro entre duas pessoas, sem que nenhuma se exponha à recusa do outro. É sobre a dinâmica das relações nos aplicativos que Larissa Pelúcio se debruça, propondo um ângulo inovador de análise das relações de gênero na sociedade contemporânea, em um rico campo de pesquisa que intersecciona as temáticas da masculinidade contemporânea, a emergência dos aplicativos de relacionamento e as novas configurações do amor. Leia Mais
Leon Battista Alberti, humanismo e racionalidades modernas | Mário Henrique S. D’Agostino
O primeiro lanço de olhar sobre o título e o índice deste livro que o leitor possui à frente é provável que tenha suscitado em muitos uma tácita inquietação. De um pai florentino, Leon Battista Alberti nasceu em Gênova, no ano de 1404, e veio a falecer na caput mundi, em 1472. O que tem-nos ainda a dizer, sobretudo a nós, americanos do sul do equador, um autor vivido na Itália do século 15 – então constituída por uma miríade de senhorios em não menos numerosas variações dialetais –, notabilizado por verter i primi lumi aos alvores da Idade Moderna, porém logo obnubilado, como o fulgor de um átimo, por tantos cujos nomes mantemos mais acesos em nossa memória? No campo da política, seu princeps cedo perde posto para o maquiavélico; nas artes, sucessivos tratados há pouco ainda habitavam pranchetas e armários dos ateliês – os de Andrea Palladio e Jacopo Barozzi da Vignola na primeira fila, para atermo-nos aos mais “globais”. E não obstante podermos estender tal arrolamento a muitos outros domínios, é notório o exponencial incremento de interesse por nosso autor e sua obra. Prova disso se verifica na quantidade e na qualidade dos congressos e publicações a ele consagrados, particularmente nas duas últimas décadas – e não falamos só da Europa. No panorama brasileiro ou latino-americano, embora se advirta um pequeno aumento no número de títulos e eventos a ele dedicados, é inconteste o rumo dos ventos. Leia Mais
Campo de Poder dos grandes projetos urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte | Daniel M. de Freitas
Resenhista
Leonardo Gonçalves Ferreira
Referências desta resenha
FREITAS, Daniel M. de. Campo de Poder dos grandes projetos urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São Paulo: Annablume, 2017. Resenha de: FERREIRA, Leonardo Gonçalves. Uma análise bourdiana sobre os grandes projetos urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, v.7, p.358-362, 2020. Disponível apenas pelo link original.
Mulheres, direito à cidade e estigmas de gênero. A segregação urbana da prostituição em Campinas | Diana Helene
O livro Mulheres, direito à cidade e estigmas de gênero: a segregação urbana da prostituição em Campinas, de Diana Helene Ramos (1), é o primeiro livro escrito por uma arquiteta e urbanista brasileira discutindo a relação entre prostituição e cidade. Publicado em 2019 pela editora Annablume, esse livro é resultado de tese de doutorado da autora em Planejamento Urbano e Regional, desenvolvida no Ippur UFRJ, pela qual recebeu o Prêmio Capes de Tese 2016 da área de Planejamento Regional/Demografia (2). O livro está dividido em três partes, com um total de seis capítulos que, em linhas gerais, discutem a presença das prostitutas na cidade de Campinas e sua participação enquanto agente na produção do espaço urbano, seu cotidiano e os deslocamentos ocorridos no contexto urbano e laboral dessas trabalhadoras. Leia Mais
Palanque e Patíbulo: o patrimônio cultural na Assembleia Nacional Constituinte (1987- 1988) | Yussef Daibert Salomão de Campos
Os desafios de elaborar resenhas de bons livros são muitos, e por vezes se dão pela complexidade de avaliar densos trabalhos de pesquisa e análise. É nessa perspectiva que a leitura do livro Palanque e Patíbulo: o patrimônio cultural na Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988), de autoria de Yussef D. S. Campos, nos conduz a uma empreitada instigante, tecida a partir de meticulosas articulações entre os campos das Ciências Jurídicas, da História e da Antropologia.
Cabe destacar que o autor vem se projetando como um pesquisador que realiza com maestria uma conversa interdisciplinar, nos proporcionando imersões em diferentes temas relacionados à preservação, tais como a dicotomia política e jurídica entre patrimônio tangível e intangível, a respeito das facetas perversas das dinâmicas jurídico-burocráticas de patrimonialização, sobre os conceitos de lugar e território na composição do patrimônio cultural oficial, e, com delicadeza e sensibilidade, tem abordado o protagonismo indígena na construção dos principais mecanismos jurídicos de preservação atualmente vigentes no Estado brasileiro. Leia Mais
Filosofar com Gadamer e Platão: hermenêutica filosófica a partir da Carta Sétima – ROHDEN (RA)
ROHDEN, L. Filosofar com Gadamer e Platão: hermenêutica filosófica a partir da Carta Sétima. São Paulo: Annablume, 2018. Resenha de: KUSSLER, Leonardo Marques. Revista Archai, Brasília, n.28, p 1-5, 2020.
O livro recém-chegado das prensas às livrarias brasileiras concentra um esforço de pesquisa de anos e organiza, de forma densa, coesa e didática, os melhores estudos sobre a Carta VII, de Platão, realizados pelo Prof. Luiz Rohden nos últimos anos. Em termos de estrutura, de forma coincidentemente consciente, o livro se divide em sete capítulos, como alusão à numerologia epistolar platônica, que apesar de contar com treze cartas, tem, na sétima, seu conteúdo filosoficamente mais relevante e apurado. Lembremos que é na Carta VII que Platão aborda o lamento da morte de seu amigo, Díon – que havia tentado ensinar filosofia ao tirano de Siracusa, pagando o preço de questionar alguém totalitário –, e explora sua própria tentativa de ensinar filosofia ao tirano, Dionísio II, supondo a possibilidade de convertê-lo moral, política e filosoficamente, aliando discurso à atitude filosófica.
E é tendo em conta o excursus filosófico da Carta VII – presente nos trechos 342a-344 d, em que o próprio Platão explicita as mediações para conhecer as coisas, que se resumem a nome, discurso, imagem e o conhecimento, que nem mesmo juntas compreendem a coisa em si – que Luiz Rohden retoma uma das reflexões platônicas mais maduras e profundas acerca de sua visão imbricada de metafísica, ética e política. Para tanto, a interpretação do autor considera e explicita o processo dialético apresentado no excursus platônico, que, na esteira de Gadamer, entrelaça sistematicamente os aspectos fenomenológico e hermenêutico do projeto filosófico de Rohden, que expressa uma relação reflexiva e dialógica, de jogo, de movimento de vaivém, de espelhamento de si no/para/com outro(s).
Ao longo da obra, os focos se dividem entre a) abordar seis aspectos diferentes da Carta Sétima platônica, b) os aspectos práticos da applicatio da proposta platônica enquanto um exercício filosófico, c) esmiuçar e explicitar a metafísica dialética de Platão, d) aprofundar e publicizar o estudo gadameriano da obra platônica – tema ainda incipiente nas pesquisas hermenêuticas brasileiras –, expondo a relação nevrálgica da hermenêutica gadameriana e a filosofia dialética platônica. Assim, além de realizar uma leitura apurada e cuidadosa de uma epístola, que versa de forma diferente dos habituais diálogos platônicos, aponta e dedica-se a explorar conexões e estreitar laços dialético-dialógicos com a hermenêutica filosófica gadameriana, sempre de forma original e inovadora, como pede o preceito de uma leitura fenomenológica, enquanto exercício hermenêutico que se propõe a revisitar com um novo olhar, consciente da tradição e das pressuposições de leitura.
De forma pormenorizada, os capítulos se organizam de acordo com a ordem cronológica de publicação anterior dos textos, em forma de artigos, em diversos e prestigiados periódicos brasileiros da área. No primeiro deles, Rohden argumenta que a tarefa do filosofar constitui-se de forma fenomenológica, com intuito de ler o real de modo mais integral, tendo em vista que uma visão distorcida do real envolve um discurso que o desfavorece. Em continuidade, no segundo capítulo, a reflexão gira em torno do que seja propriamente hermenêutica filosófica, tal como sua aplicação na tarefa de boa interpretação textual, relacionando-a com o que seria a verdadeira filosofia, que responde aos fatos e textos transparecendo a posição do autor acerca da filosofia atual.
No capítulo três, Rohden debruça-se sobre a proposta da efetivação do filosofar com relação à metodologia dialética apresentada no texto platônico em análise. Na tentativa de equilibrar os m o[vi]mentos dialéticos platônicos à hermenêutica filosófica de Gadamer, o autor justifica a dimensão atual da racionalidade metafísica dialética que se firma nos movimentos ascendente e descendente dos princípios. Já no quarto capítulo, Rohden aborda o evento da verdade, enfatizando como esse acontecimento é o objetivo da dialética ascendente, que parte da palavra em direção ao conceito; trata-se da elevação do real ao nível conceitual. Para tanto, o autor aborda o acontecer da verdade enquanto metáfora de uma faísca instantânea, que se materializa de forma dialética, do atrito promovido pelas definições, os conceitos e ideias dos entes e das constantes controvérsias dialógicas amistosas, características peculiares da linguagem filosófica enaltecida por Platão e Gadamer.
No quinto capítulo, Rohden ensaia uma analogia com a ideia de que o quinto momento dialético, que, na Carta VII, se caracteriza como a compreensão da coisa mesma, enfatizando como o sentido desse evento é apreciado pelo ponto de vista da hermenêutica. Desse modo, o autor defende que o movimento dialético ascendente realiza uma síntese e nova proposta do processo hermenêutico como tarefa de instauração de sentidos, dando sequência à discussão do capítulo anterior, que versa sobre o idioma próprio da verdade. No sexto e último capítulo de autoria exclusiva de Rohden, o autor debruça-se sobre a hipótese de que a metafísica dialética enquadra-se enquanto exercício teórico e prático, especialmente no que tange à compreensão dos princípios últimos e das coisas mais importantes. O ponto, aqui, é explorar afinidades entre as filosofias gadameriana e platônica enquanto propostas que conjugam dialeticamente, θεωρία e πράξις, não apenas falando de metafísica, mas fazendo metafísica.
A parada final do itinerário filosófico entrega ao leitor uma entrevista com Dennis J. Schmidt, uma das autoridades no que se refere aos estudos de Gadamer atualmente. Não apenas por ter convivido com Gadamer, na Alemanha, mas por ser um dos mais competentes estudiosos e pupilos gadamerianos, cujas reflexões acerca do filosofar hermenêutico enfatizam tessituras da ética com a hermenêutica filosófica. Outro motivo que torna a entrevista interessante é o fato de firmar-se enquanto diálogo de dois especialistas que se conhecera m, trocaram experiências, e mantêm a linha dialógica, com perguntas e respostas que visam promover, dialeticamente, a arte do verdadeiro diálogo.
Por fim, vale ressaltar que a obra é extremamente atual, e todos os textos anteriormente publicados como artigos foram repaginados para essa edição em formato de livro, o que traz novidade inclusive para quem é familiarizado com a pesquisa de Rohden. Finalizamos com uma das passagens mais verdadeiras da Carta Sétima, que afirma que em
[…] colóquios amistosos em que perguntas e respostas se formulam sem o menor ressaibo de inveja, é que brilham sobre cada objeto a sabedoria e o entendimento, com a tensão máxima de que for capaz a inteligência humana. (344b-c)
Desse modo, é no movimento constantemente dialético de perguntas e respostas, de discursos sobre o real e o real mesmo, de constante construção conceitual inacabada e aberta a revisitações sobre as coisas que se funda o verdadeiro filosofar.
Referência
ROHDEN, L. (2018). Filosofar com Gadamer e Platão: hermenêutica filosófica a partir da Carta Sétima. São Paulo, Annablume.
Leonardo Marques Kussler – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – São Leopoldo – RS – Brasil. E-mail: [email protected]
Fernand Braudel, Geohistória e Longa Duração: críticas e virtudes de um projeto historiográfico – RIBEIRO (PH)
RIBEIRO, Guilherme. Fernand Braudel, Geohistória e Longa Duração: críticas e virtudes de um projeto historiográfico. São Paulo: Annablume, 2017. 211 p. Resenha de: PAULINO, Davi Luiz. Geohistória e longa duração na obra de Fernand Braudel. Projeto História, São Paulo, v.63, pp. 387-395, Set.-Dez., 2018.
Guilherme Ribeiro, docente do Departamento de Geociências da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desenvolve pesquisas acerca da História do Pensamento Geográfico, bem como a relação entre Geografia e História.
Fruto de uma complexa pesquisa de doutoramento com estágio na França apresentada em 2008 ao Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, agraciada com o Prêmio Capes de Tese na área de Geografia, o livro busca mostrar o papel que a geografia cumpriu na formação da concepção de história de Fernand Braudel (1902-1985).
O referido estudo perpassa a trajetória intelectual do historiador francês, estudando obras como O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, Gramática das Civilizações, Civilização Material, Economia e Capitalismo – Séculos XV-XVIII e a Identidade da França.
O autor aborda as origens epistemológicas do conceito de Geohistória demonstrando que a Geografia será importante como instrumento que o permitirá estudar as atividades humanas em transcursos diferentes de tempo. Braudel a “transforma em aliada de peso no esforço de superação do obsoleto meio acadêmico francês, além de pedra angular na apreensão da temporalidade de longa duração e em seu ousado intuito de reorganização epistemológica das Ciências Humanas”.1 Partindo de grandes nomes da ciência geográfica como Paul Vidal de la Blache, Alfred Philippson e Emmanuel de Martonne, Braudel clama por uma ciência que aborde o todo, ou seja, que não somente o meio físico-natural, mas também o homem, sendo o começo do que mais tarde seria conhecido como Geografia Humana.
Ribeiro elucida que a questão da Geohistória e determinismo em Braudel teria como objetivo esclarecer os aspectos frágeis da leitura que se fazia da geopolítica como simples estudo das ações políticas e partindo do conceito de geohistória ele encontraria uma representação ampliada da sociedade. Este posicionamento mostra a influência da escola alemã de Geografia e através dela, Braudel “valorizará a economia como um produto das relações sociais, que ao longo do tempo, constrói redes e distribui informações em variadas escalas” utilizando as categorias analíticas de “espaço (Raum), economia (Wirtschaft) e sociedade (Gesellschaft)” para construir seus estudos sobre “a economia mediterrânica no século XVI, no desenvolvimento da civilização material, economia de mercado e capitalismo na era moderna e na história da França sob a égide das estruturas de longa duração”2.
Em seguida, Ribeiro centraliza sua análise em O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, obra resultante da tese de doutorado de Braudel apresentada a Sorbonne em 1947 e considerada um dos maiores livros de História do século XX. Obra em que a geohistória se faz presente do começo ao fim, o autor nos mostra como o historiador instrumentaliza-se da geografia para “desacelerar” a história e com isso desestrutura o passado, explicitando a dialética das durações com seus variados espaços revelando múltiplas temporalidades, partindo do tempo breve ao mais longo, o tempo das civilizações.
Segundo o autor, Braudel, ancorado nas estruturas de longa duração, considera que a história possui uma temporalidade mais duradoura, resistente a mudanças e que precisa ser compreendida não na brevidade dos acontecimentos, mas sim nas estruturas que sustenta o tempo longo.
Embora isto não queira dizer que há um menosprezo ao acontecimento por parte de Braudel, ele apenas defende que mesmo para entender as dinâmicas dos eventos é necessária a compreensão da longa duração.
Em O Mediterrâneo, é possível encontrar a centralidade do meio geográfico, isto porque, segundo Ribeiro, a história humana não se constrói fora do meio, mas sim a partir dele.
Com isso, no meio “estão contidas tanto as determinações quanto as possibilidades: é impossível parar a chuva ou conter o vento, mas é possível administrar as intempéries construindo diques ou drenando o solo, por exemplo”3, percebemos que sua análise prova que a questão geográfica está intrinsecamente atrelada as atividades humanas, portanto, há uma espacialização da ciência histórica.
Braudel sofreu críticas por sua posição determinista sob as atividades humanas, mas como podemos constatar no estudo de Ribeiro, há a defesa de que o meio age nas práticas dos homens, no entanto admite-se, que a ação do homem no meio seja de maior peso. Segundo o autor, o “determinismo geográfico braudeliano” não é outra coisa senão a evidência que os aspectos naturais não estão separados e isolados das atividades humanas. Eles fazem parte de um todo onde o clima, o relevo, a hidrografia, o sítio e a posição jogam papel crucial na história das sociedades. Assim sendo, em certas situações e períodos, o meio determina esta ou aquela decisão, esta ou aquela resposta social de acordo com as possibilidades técnicas e culturais. Segundo, Braudel, alimentação, agricultura, produção de mercadorias, vestimentas, crenças, economia, relações internacionais, enfim, o conjunto da vida social é indissociável do meio.4 Essa explicação de Ribeiro é importantíssima para o debate acerca do determinismo geográfico, principalmente porque o biógrafo de Braudel, Pierre Daix, alegara que a ausência do capítulo intitulado Geohistória e determinismo teria sido suprimido da segunda edição de O Mediterrâneo porque Braudel teria abandonado esse posicionamento, tese refutada por nosso autor, pois segundo ele, abandonar a geohistória seria a renúncia da própria concepção braudeliana de história.
Ribeiro não crê em abandono do conceito, mas defende a tese de que geohistória fora substituída pelo conceito de espaço, lembrando que esse conceito está na origem da formação da epistemologia braudeliana.
Com essa problemática, o autor trabalhará sobre as críticas historiográficas acerca do pensamento braudeliano, as quais alegam que a história de Braudel é imóvel, partindo da primeira obra do historiador, Ribeiro busca demonstrar que a sua concepção histórica não é imóvel, pois permite a mudança.
Em razão de não só trabalhar a partir do tempo longo, mas sim dialeticamente com o tempo conjuntural e com o tempo tradicional, sendo assim, há em Braudel a presença de “um tempo geográfico, de um tempo social e de um tempo individual”.5 Ribeiro explicita a dimensão teórica da obra de Fernand Braudel. Entre seus elementos constitutivos estão…
a longa duração como uma possibilidade de releitura do tempo cronológico; a geohistória representando a articulação do espaço com o tempo e a preocupação em comparar épocas e escalas diferentes; a apreensão do passado não como algo pronto e acabado, mas como questão a ser problematizada; conexões entre o passado e o presente; busca de explicações pluricausais dos fenômenos.6 Criticada por ser empirista e descritiva, o autor mostra que essa crítica demonstra a compreensão distorcida da totalidade da obra braudeliana que realiza uma notável coerência entre a longa duração, geohistória e a história-problema. Como mostra Ribeiro, por mais que a obra seja descritiva, ela está amplamente ancorada em um embasamento epistemológico que a sustenta: as estruturas de longa duração. Braudel, com sua concepção de história total, abarca as escalas local, regional, nacional e, principalmente, mundial, visto que as atividades dos homens se encontram misturadas em ritmos temporais diferentes.
Ribeiro mostra que a história para Braudel não é a ciência do passado, muito menos a descrição documental, mas sim a explicação das temporalidades dos fenômenos e suas relações entre si, buscando as permanências e o predomínio das profundidades.
Partindo da busca por permanências e profundidades, a obra Gramática das civilizações ocupa um ponto importante na reflexão histórica, pois Braudel, segundo o autor, compreende por gramática o tempo ou as temporalidades, pois para o historiador, as civilizações possuem ritmos e estações diferentes, embora estejam em contato entre si. Partindo desse pressuposto, a estruturas da história são mutáveis, mas seus movimentos são perceptíveis através da longa duração.
A proposta de Ribeiro é demonstrar que na obra braudeliana há a percepção dos problemas sociais, como a desigualdade, por exemplo, e, que sua eliminação se dará a partir de uma abordagem estrutural. Braudel também considera importante, os eventos como a Revolução Russa e a Revolução Cubana, isto porque a seu ver, causaram forte impacto nas civilizações. O conceito de civilização assume importância no pensamento de Braudel, pois é por meio dele que “a geohistória alcança todas as esferas da vida social: seja a política, a economia, a cultura ou as mentalidades, nenhuma delas escapa a um determinado contexto espaço-temporal”.7 Sua análise sobre a obra Civilização material, Economia e Capitalismo, mostra que o termo material, não se trata somente de trocas econômicas ou a dinâmica financeira, mas sim a concretude da civilização em relação ao que a estabelece na condição de poderosos grupos culturais, como é possível perceber nas civilizações mediterrânea e atlântica.
Em As estruturas do Cotidiano, Ribeiro defende que as relações sociedade-meio estão na base formativa da modernidade, com uma profunda reorganização espacial, isto com base no próprio pensamento braudeliano, pois argumenta Braudel que os agrupamentos civilizacionais possuem características geográficas distintas. Nessa obra é possível compreender a amplitude da concepção braudeliana de história, visto que “a geohistória é além do estudo ampliado das relações homem-meio, uma ferramenta de análise das múltiplas escalaridades urdidas pelas práticas econômicas modernas”.8 Nos próximos volumes O jogo das Trocas e O tempo do Mundo faz-se presente o conceito de origem alemã economia-mundo (Weltwirtschaft) que diferentemente de economia mundial, representa um determinado “espaço” com profunda coerência econômica que se basta por si mesmo. Ribeiro exprime este conceito da seguinte forma: Ao empreender o conceito de economia-mundo do ponto de vista geográfico, Braudel não o concebe apenas como delimitação cartográfica dos fenômenos econômicos, mas segundo um enfoque “vertiginoso” e “ativo” capaz de perscrutar como o jogo econômico cria e se reproduz a partir de determinada lógica espacial.9 Braudel fora tachado de “conservador” por parte de alguns historiadores, dentre eles, o brasileiro José Carlos Reis, mas como nos mostra o autor, por mais que a construção da concepção de história braudeliana passe por fora da questão das lutas de classe, ele não deixa de observar as tensões nas organizações sociais.
Aproximando-se de Lacoste, Braudel analisa o poder de quem controla e domina o espaço.
É possível perceber que na totalidade da obra braudeliana, A Identidade da França, segundo Ribeiro, seria o livro que possuí mais elementos que podem constituir um perfil político de Braudel. Ele retoma as origens da França buscando traçar a Identidade, ou seja, o típico de uma nação, embora para Braudel, é possível identificar aspectos de diversidade regional e cultural.
É interessante ressaltar que a obra de Ribeiro nos permite abordar que a tríade economia, espaço e sociedade perpassa toda a produção braudeliana, pois partindo da instrumentalização da geografia em sua concepção histórica, ela o permite adentrar em um passado longínquo, o tempo do mundo. Em A Identidade da França ele continua com seu tripé metodológico, pois é perceptível que…
seus três volumes revelam o movimento dos vilarejos aos burgos e às cidades, o sítio e a situação, as migrações, o papel das cidades na formação do mercado nacional e suas associações com as outras escalas; a urbanização e as estradas da Gália superando suas florestas; as villa galo-romana e suas muralhas protetoras e as cidades como loci privilegiados para o desenvolvimento da economia de mercado e, sobretudo, do capitalismo, a atividade econômica superior.10 Com esse panorama apresentado da obra braudeliana, acreditamos que o trabalho de Guilherme Ribeiro contribui sobremaneira para a reflexão acerca do pensamento de Fernand Braudel, principalmente pela atualização do debate e pela crítica aos críticos do historiador francês, como François Dosse, Yves Lacoste e José Carlos Reis, entre outros. A leitura do livro se faz necessário para o aprofundamento da discussão e abertura de novos caminhos para o estudo da obra e pensamento de Braudel.
Referências
RIBEIRO, Guilherme. Fernand Braudel, Geohistória e Longa Duração: críticas e virtudes de um projeto historiográfico. São Paulo: Annablume, 2017.
Notas
1 RIBEIRO, 2017, p. 30.
2 Ibid., p. 43-44.
3 Ibid., p. 55.
4 Ibid., p. 67.
5 Ibid., p. 79.
6 Ibid., p. 84.
7 Ibid., pp. 110-111.
8 Ibid., p. 127.
9 Ibid., p. 135.
10 Ibid., p. 178.
Davi Luiz Paulino – Graduando em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). eto historiográfico. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2017.
Plutarco entre mundos. Visões de Esparta, Atenas e Roma – GÓMEZ CARDÓ et al (RA)
GÓMEZ CARDÓ, P.; LEÃO, D. F.; OLIVEIRA, M. A. de (Eds). Plutarco entre mundos. Visões de Esparta, Atenas e Roma. Coimbra: Humanitas Supplementum, Estudos Monográficos, Universidade de Coimbra. University Press: Annablume Editora. Resenha de: SERENA, Josep Antoni Clúa. Revista Archai, Brasília, n.22 p. 381-389, jan., 2018.
Las contribuciones de este volumen tienen como característica común el nombre de tres ciudades, a saber, Esparta, Atenas y Roma, como modelos de organización social y espacios políticos e institucionales diversos, no solo en el espacio sino también en el tiempo. Para Plutarco estas ciudades “en contraste”representan lugares paradigmáticos en donde viven y conviven los ciudadanos. De ahí que los estudiosos de Plutarco que colaboran en este volumen procuran analizar en cada una de estas ciudades, ya sea por asimilación o por contraste. Y como afirma P. Gómez al inicio de la obra que reseñamos, “Plutarco es uno de los principales agentes de lo que Lamberton 1 ha denominado una segunda romanización, si se atribuye al escritor de Queronea un papel ante todo político en una nueva vía en la relación entre griegos y romanos, junto a su tarea como educador y moralista, aspecto este último en el que se ha focalizado, quizá en exceso, la misión de Plutarco, él mismo ciudadano romano”.
Las primeras páginas de esta obra, de hermosa factura, las ocupa el artículo “O joven Teseu: do reconhecimento paterno ao reconhecimento político” de Loraine Oliveira, en donde se evidencia como el devenir de la figura de Teseo está ya marcado desde su nacimiento por el oráculo. Su padre Egeo, ignorando el significado de aquello que había querido expresar la pitia, pide consejo a Piteo. Este, haciendo caso omiso del oráculo – no sabemos si buscando un bien para sí mismo o para demostrar su poder en contra de los designios divinos – le ofrece a su hija Etra para que se case con ella. De esta unión nacerá Teseo, el cual se quedará en Trecén. Todo lo que intenta su abuelo para evitar la desgracia es en vano, ya que Teseo inicia un viaje hacia su autoconocimiento y llega a Atenas, patria de Egeo, donde decide formar parte del tributo que enviaban cada año a Minos, rey de Creta. Allí, con la ayuda de Ariadna, consigue matar al Minotauro. Con esta hazaña no solo logra afianzar su poder político, dejando a Minos sin descendencia masculina, sino que también obtiene el reconocimiento de sí mismo en el laberinto e incluso el paterno, acabando con la monarquía y dando paso a la democracia.
María Teresa Fau Ramos presenta un trabajo titulado “Legislar tenía un precio”, que trata de la figura del fundador/legislador mediante tres parejas: a) Teseo y Rómulo; b) Licurgo y Numa y, c) Solón y Publícola, para así intentar buscar puntos comunes en cuanto a origen, vida o condición mítica. Empezando por la figura de Licurgo, digamos que este, antes de ejercer como legislador, viajó por Creta, Asia y Egipto para obtener una excelente formación. A su regreso, empezó a instaurar las primeras leyes muy bien vistas por sus conciudadanos, excepto una de ellas, por la cual llegó a perder uno de sus ojos. Y la situación no remonta, ya que, al final de su vida, decide renunciar a volver a su patria y morir exiliado, para conseguir que sus leyes sigan siendo cumplidas. En cuanto a Solón, al igual que Licurgo, obtendrá un desafortunado destino, ya que es acusado de obtener beneficios fraudulentos y él mismo decide exiliarse durante diez años. Numa, quién podía haber vivir tranquilo alejado de la vida pública, decide conducir a Roma, emprendiendo la difícil tarea de pacificar la ciudad, consiguiendo su propósito, lo que será un hecho después de su muerte, cuando el pueblo termine con el cese y vuelva a tomar las armas.
Por lo que se refiere a Publícola, la autora señala que fue conocido por su carácter déspota y por las manifestadas por los poderosos hacia su persona por hacer ostentación de una casa demasiado lujosa. Además, tuvo que renunciar a su casa destruyéndola y vio truncado su intento de llevar a cabo un ritual de alta relevancia. Teseo seguirá por la senda de la desgracia, pues verá como Menesteo pone a toda la población en su contra, y acabará abandonando la ciudad de Atenas y muriendo despeñado. Y, por último, Rómulo, caracterizado por vivir en la desmesura y por acabar desapareciendo misteriosamente.
Delfim F. Leão, con un trabajo titulado “O legislador e suas estratégias discursivas: teatralidade e linguagem metafórica na Vida de Sólon ”, desarrolla la idea de cómo un personaje como Solón, a través del filtro de Plutarco, es capaz de adoptar una conducta teatralizada para acabar llevando a cabo su estrategia política. El autor del artículo destaca tres hechos importantes del poeta-político, a saber, la Batalla de Salamina, la seisactheia y el encuentro con Pisístrato.
Se cierra el primer bloque con la aportación de Ália Rodrigues y su trabajo titulado “A figura do legislador em Plutarco: recepção de um mito político”, donde hace una síntesis de la evolución y cambios que ha sufrido el término legislador a lo largo de la historia, empezando por los primeros vestigios que encontramos en algunas inscripciones de tema político y jurídico. Se añade una explicación exhaustiva del vocablo, basándose en la contribución del filósofo Platón. Finalmente, se ofrece la visión del legislador desde el punto de vista de Plutarco, quién, marcado por la influencia platónica – peitho y bia –, desarrolla un elenco de situaciones que ejemplificaran el carácter político de los νομοθέται más representativos para concluir que, como aspectos esenciales de la acción política en la figura del legislador, no son solo importantes la persuasión y la fuerza, sino también el perfil de educador.
En el segundo bloque se reúnen términos como φιλοσοφία, παιδεία, ἔθος, βίος, entre otros, agentes muy importantes para el desarrollo individual de un buen ciudadano y, por ende, que contribuyen a crear una sociedad cabal.
Así, José M. Candau relaciona la figura del filósofo con la política en De genio Socratis. La imagen de Epaminondas, como modelo de virtud (ἀρετή), cumple tanto con el deber de la hegemonía tebana como con la formación filosófica necesaria. Y, mediante esta caracterización, se mostrará como el perfil ideal. Pero este tema será cuestionado más adelante por Plutarco, ya que el buen filósofo siempre intentará rehuirlos temas relacionados con la vida política y lo justificará a partir de cuestiones concernientes al propio general tebano, diciendo que su carrera política no fue tan brillante, pero destacando el papel que tuvo como consejero a través de la filosofía, para así, al mismo tiempo, elevar la posición del filósofo y justificar su alejamiento de la acción política.
Joaquim Pinheiro introduce el tema de la relación entre la paideia y la filosofía, aspectos claves para llegar a ser un buen líder político. El autor muestra varios ejemplos de personajes retratados en la obra de Plutarco, para después centrarse en dos de sus obras y extraer los aprendizajes expuestos a continuación. En primer lugar, en Sobre la necesidad de que el filósofo converse especialmente con los gobernantes, el filósofo siempre debe mantener el contacto con el gobernante para trasladarle los valores que serán necesarios para encontrar el bien común para todos los ciudadanos. En segundo lugar, en el tratado A un gobernante falto de instrucció n, para obtener justicia, orden y paz entre los ciudadanos es importante que la razón domine los principios del líder político.
Ivana S. Chialva, con “De Roma a Alejandría y viceversa. Mimesis del motivo del viaje en la Vida de Antonio de Plutarco”focaliza su aportación en la caracterización de Marco Antonio, influenciada por Cicerón. A pesar de su alternancia en el plano público-político y privado-doméstico, donde aparece como un hombre destacado por sus aptitudes y victorias militares, se entrega a los vicios, a las pasiones y a las malas compañías –Curión y Clodio–, pero sobretodo, por su conducta influenciable ante la gran Cleopatra. Esta debilidad por parte de Antonio es remarcada en la obra de Plutarco, quién niega sus cualidades de hombre por prestarse, por encima de todo, a la pasión erótica. De ahí, la asociación de fuga a la ciudad de Alejandría con la cobardía y la entrega a los placeres.
Roosevelt Rocha, con su trabajo titulado “A Esparta de Plutarco entre a guerra e as artes”, intenta demostrar que Esparta no fue solo una ciudad conocida por su fuerza militar, sino por ser un punto de auge artístico con distinguidas personalidades. Por ello, basándose en la obra de Plutarco, hace un análisis de algunas de las características que marcaron la vida de algunos de los líderes espartanos – Licurgo, Lisandro, Agesilao, Agis y Cleómenes –, para acabar destacando aspectos como la arquitectura, el arte, la poesía, actividades muy prolíficas en la sociedad espartana.
Y, por último, un tercer bloque, en donde se ahonda en aspectos tales como la formación de la familia y la religión, factores que determinan el desarrollo del individuo como tal. Así, en lo que se refiere a la música y la educación en Atenas, Fabio Vergara Cerqueira pone de manifiesto el hecho que un líder de la esfera política adquiriera una preciada educación musical. Para ello, se centra en tres puntos principales: el desarrollo de la educación musical, los educadores musicales y la disputa del aulos en el programa educativo. En cuanto al primer punto, repasa cómo la presencia o ausencia de este conocimiento marca la vida de algunos de los dirigentes políticos, como, por ejemplo, Solón, Temístocles o Pericles. Y en cuanto que se refiere a los educadores musicales, pone de manifiesto que fue una profesión que adquirió mucha relevancia, no solo por ser motivo de representación en los vasos de la época, sino también porqué eran personas notables por su gran reputación. Concluye el autor aludiendo a una primera imagen negativa del aulos, a través de aspectos como el testimonio de Alcibíades, la xenofobia hacia los auletai tebanos, entre otros, para llegar a la conclusión de que el aulos se usó tanto o más que la lyra.
De gran interés es también el trabajo de Ana Ferreira sobre el papel de las mujeres como elemento de influencia ante el género masculino. Aunque Plutarco no dedica exclusivamente ninguna de sus biografías a las mujeres, en sus Vitae hace mención de las cualidades del género opuesto: prudencia, simplicidad, modestia en su aspecto y su modo de vida, moderación, dignidad y recato. Asimismo, defiende que las mujeres son seres dotados de capacidades intelectuales y lo corrobora con ejemplos de mujeres que han pasado a la historia, como Aspasia, oradora conocida por haber intervenido en los asuntos políticos de Pericles.
Destacable es también el trabajo de Guillermina González Almenara. Se trata de un agudo análisis de la figura de las heteras y de las concubinas en las vidas de Solón, Pericles y Alcibíades. Las heteras son mujeres con una vida similar a la de los hombres, excepto por carecer de la ciudadanía. Accedían a la cultura y eso les permitía compartir opiniones políticas. De ahí, que lleguen a convertirse en confidentes de hombres influyentes. Solón no tuvo contacto con ellas y simplemente las menciona para hablar de algunos aspectos que las relacionan con la legislación. Por su parte, Pericles y Alcibíades las frecuentaban. Y en cuanto a las concubinas, se señala que tenían una condición inferior, ya que no tenían los mismos derechos que la esposa principal. Por Plutarco sabemos que Solón sufrió mucho por la muerte del hijo de su concubina. Todo lo contrario se dice de Pericles, quién tenía unos impulsos desmedidos hacia Aspasia. A su vez, Alcibíades solo se preocupaba del disfrute sexual, sin necesidad de ninguna concubina. A modo de conclusión, Plutarco apoya a estas mujeres y destaca la degeneración de la clase política cuanto “más uso”hacen de ellas.
Maria Aparecida de Oliveira Silva aborda el tema de los oráculos desde época arcaica a época helenística, y de cómo los líderes políticos espartanos han visto limitada su manera de proceder. A través de la obra de Plutarco, defensor de la importancia del oráculo, se nos ofrece una síntesis sobre el respeto hacia las predicciones oraculares por parte de los dirigentes y, como, a partir de la desatención los dictámenes, la sociedad degenera y empieza a derrumbarse.
Y para concluir, en este mismo contexto, aludiremos al importante trabajo de Jesús M ª Nieto Ibáñez, que se ocupa de la crisis de la actividad profética a finales del s. I y principios del s. II d.C. con la aparición del cristianismo. Con sus tratados, Plutarco pretende contribuir a la restauración y retorno a la religión oracular, aunque los cristianos los utilizaran como instrumento propagandístico para el triunfo de su propia doctrina.
En suma, digamos sucintamente que esta reseña solo quiere dejar planteada una invitación a ojear con esmero un volumen sobre Plutarco, en tres bloques bien definidos, que constituye una aportación ciertamente muy rigurosa y seria. Por lo demás, los editores han cumplido con meticulosidad su trabajo, sin apenas erratas de importancia. No descubro nada nuevo si afirmo que la bibliografía de Plutarco más reciente está aumentando a buena velocidad. A esta nómina cabe añadir una obra como la presente que no dejará indiferente al lector avezado ni al que se adentra por primera vez en el polígrafo de Queronea, no solo por los postulados que desarrolla, sino también por el alcance de los mismos.
Nota
1 (1997), “Plutarch and the Romanization of Athens”. In: HOFF, M. D.; ROTROFF, S. I. (eds.). The Romanization of Athens. Oxford,: Oxbow Books, p. 153.
Josep Antoni Clúa Serena – Universidad de Lleida (España). E-mail: [email protected] – ORCID: C-6405-2014
De Caboclos a Bem-Te-Vis: formação do campesinato numa sociedade escravista: Maranhão 1800-1850 | Mathias R¨hring Assunção
A publicação do livro De caboclos a Bem-te-vis em 2015 deve ser saudada, antes de tudo, por trazer ao público, 25 anos depois, o texto completo, atualizado e traduzido de um dos estudos mais utilizados pela historiografia maranhense dedicada às pesquisas situadas no século 19, embora o alcance e a atualidade do texto não se restrinjam ao Maranhão nem ao Oitocentos.
Até então, a tese defendida em 1990 na Freie Universität Berlin e publicada, em 1993, com o título Pflanzer, Sklaven und Kleinbauern in der brasilianischen Provinz Maranhão, 1800-1850 (Fazendeiros, escravos e camponeses na província brasileira do Maranhão, 1800-1850), circulara em versões não publicadas, ou de modo fragmentado, em relevantes artigos acadêmicos e capítulos de coletâneas1.
Evidentemente, a publicação é impregnada pelas marcas do tempo em que o texto original foi produzido e, por isso, traz vigorosos debates acadêmicos comuns na década de 1990: a existência e a conformação de um campesinato no Brasil; um sistema escravista e suas variáveis; o plantation e o convívio com outras formas de produção. Tempo esse que convive com questões sempre contemporâneas, especialmente no estado do Maranhão, marcado por um processo contínuo de concentração fundiária, desapropriação de terras comunais e luta pela legalização/manutenção de territórios quilombolas.
Dentre os méritos que emergem do texto, talvez o mais significativo e (ainda) original esteja na proposta de explorar formas não escravistas de trabalho em uma das mais escravistas províncias do Império do Brasil. Tal opção não significou o desprezo pela análise da sociedade escravista; ao colocar em xeque a ideia de monocultura escravista algodoeira, propôs o debate sobre a diversidade dos meios de produção que conviveram/conflitaram com aquela estrutura, oferecendo ao leitor o resultado de uma pesquisa de fôlego sobre a sociedade maranhense.
Nas palavras do autor:
A tese central defendida ao longo das páginas que seguem é que a economia escravista de plantation – apesar de sua implantação tardia – caracterizou-se no Maranhão pelo desenvolvimento de uma economia camponesa relativamente importante, diferenciada e autônoma, sobretudo quando comparada a outras regiões brasileiras onde também predominou a grande lavoura escravista. Apesar de um segmento da economia camponesa assumir uma função complementar à economia de plantation, o antagonismo estrutural entre os dois setores está na base do conflito entre os fazendeiros escravistas e os camponeses, chamados e autodenominados caboclos desde aquela época. Este antagonismo foi a pré-condição para a eclosão da Balaiada (p.21, grifos meus).
A transcrição é longa, mas indispensável por evidenciar o principal pressuposto metodológico que orienta o argumento de Assunção: a perspectiva de uma história comparada à procura das diferenças que caracterizariam a sociedade maranhense, tornando-a capaz de produzir as condições para a emergência do movimento que ficou conhecido como Balaiada.
Confessadamente, o autor propusera-se analisar originalmente uma história da resistência popular maranhense que na Balaiada encontrara o seu ápice2. Ao longo da pesquisa, deslocara o foco para uma “análise das estruturas que levaram ao conflito” (p. 12).
Tais estruturas são apresentadas com base em quadros fartamente subsidiados pela rica documentação que orienta a pesquisa, dá solidez ao texto e serve como referência para a elaboração de dezenas de mapas, gráficos e tabelas, oferecidos pelo autor aos seus leitores (p.411-472). Paisagem; população; luta pela terra; economia e sociedade; estruturas de poder e processo político sucedem-se e imbricam-se, conduzindo o leitor à Balaiada, reservada ao último item do último capítulo (p. 352-366).
Ao longo desse percurso, o autor constrói um quadro com o que definiu como excepcionalidades da ocupação do território maranhense. Esse quadro seria composto por uma série de elementos, a saber: a) às vésperas da Independência, a população ainda se concentrava no núcleo inicial da colonização, com incipiente inserção no centro sul da capitania (p.60); b) a população indígena, arredia ao domínio português, era superior à população colonial (p.60); c) forte predominância de escravos da Guiné na região de plantation (p.72)3; d) menor predomínio da escravidão masculina (p.92-93); e) extensos territórios, nas imediações das zonas de plantation, escapavam ao controle das autoridades (p.106); f) a média de escravos por propriedade era inferior às existentes no engenho açucareiro (p.180); g) presença pouco significativa de uma classe média baixa, branca e escravista, capaz de cooperar com a estabilidade do sistema (p.234); h) parte da população livre, inclusive fazendeiros de médio porte, era hostil ao governo (p.311).
Pari passu, Assunção constrói outro quadro, centrado na região do Maranhão Oriental, especialmente o Vale do Parnaíba, palco principal da Balaiada. Para a região o pesquisador identificou elementos como a presença significativa de migrantes nordestinos (p.134); o número elevado de propriedades em que o dono não residia na freguesia (p.135); a importância dos proprietários médios e de uma “classe média rural” (p. 137-138); o mercado de terras ainda incipiente e predominância de formas não privadas de uso da terra (p.139-141).
Haveria assim, na região, uma concentração de camponeses e de fazendeiros voltados para o mercado interno, cujos interesses se chocariam com aqueles defendidos por negociantes e proprietários envolvidos na economia algodoeira. Razões políticas, historicizadas pelo autor a partir da Independência, teriam criado condições objetivas para a eclosão do conflito. Segundo Assunção, elas se acumulam no tempo. Desde de a Independência era recorrentes as queixas de políticos da região do Parnaíba pela não participação no governo da província – manifestações favoráveis à divisão da província foram relativamente comuns até o final da década de 1830 (p.317). Na década de 1830 se intensificou a histórica denúncia da exploração fiscal provincial por parte do governo central (p.279), a montagem da Guarda Nacional desencadeou resistência ao seu alistamento e, por fim, o sistema de prefeituras, introduzido no Maranhão em 1838, concentrou em São Luís a distribuição dos cargos mais lucrativos no interior da província (p.294). Como se vê, as reformas implementadas pela Regência teriam provocado ou agravado o desequilíbrio de poder entre as elites locais, regionais e nacionais (p. 302).
Contudo, se a motivação inicial da pesquisa foi a Balaiada, ou a análise das estruturas que levaram ao conflito, os resultados ultrapassaram extraordinariamente esses intentos. De Caboclos a Bem-te-Vis é leitura obrigatória para os pesquisadores dedicados às primeiras décadas do século 19. Mais ainda, é leitura obrigatória também aos interessados em compreender as estruturas econômicas, políticas e sociais do estado do Maranhão, outrora grande exportador de produtos primários, e que ontem como hoje preserva o gene da desigualdade social, da violência contra as populações mais pobres e do clientelismo político.
Notas
1. Como exemplos, cito: Quilombos maranhenses. In: João José Reis; Flávio dos Santos Gomes. (Orgs.). Liberdade por um fio. História dos quilombos no Brasil. 1ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, v. 1, p. 433-466; Exportação, mercado interno e crises de subsistência numa província brasileira: o caso do Maranhão, 1800-1850. Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ), 2000, v. 14, p. 32-71; e Miguel Bruce e os horrores da anarquia no Maranhão, 1822-27. In: István Jancsó. (Org.). Independência: História e Historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005, v. 1, p. 345-378.
2. O próprio título do livro em português revela esse intuito. De um modo geral, as populações camponesas do Maranhão eram reconhecidas como “caboclos”; já os “bem-te-vis” eram os membros do partido liberal no Maranhão, origem de algumas reivindicações incorporadas pelos revoltosos, que passaram a ser reconhecidos, também, como “bem-te-vis”. De Caboclos a Bem-te-Vis transparece o percurso dessas populações até o momento de eclosão do conflito. Em 1988, antes, portanto, da defesa da tese, o autor publicou o livro A guerra dos bem-te-vis. A Balaiada na memória oral, reeditado em 2008 (São Luís: Edufma, Coleção Humanidades, v. 6).
3. Para essa excepcionalidade, o autor apenas observa que suas implicações foram pouco estudadas até aquele momento.
Marcelo Cheche Galves – Universidade Estadual do Maranhão, Maranhão – MA, Brasil. E-mail: [email protected]
ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. De Caboclos a Bem-Te-Vis: formação do campesinato numa sociedade escravista: Maranhão 1800-1850. São Paulo: Annablume, 2015. Resenha de: GALVES, Marcelo Cheche. O Maranhão nas primeiras décadas do Oitocentos: condições para a eclosão da Balaiada. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 356-359, jan./abr., 2017.
Monumentalidade e sombra: o centro cívico de Brasília por Marcel Gautherot | Eloisa Espada
Como já registrei inúmeras outras vezes, a fotografia brasileira ainda se parece com um imenso iceberg, em permanente movimento, que vai emergindo aos poucos trazendo novos dados e novas conexões, geralmente surpreendentes para os pesquisadores. Nas últimas décadas tivemos acesso a inúmeras pesquisas advindas principalmente da academia que se tornaram relevantes informações para a construção de uma história da fotografia brasileira mais consistente.
De modo geral, o saber panorâmico sempre esteve registrado e propagado. O que vem crescendo agora são as pesquisas mais aprofundadas sobre determinados períodos e autores. Especificamente, vemos um crescente interesse pelo período circunscrito entre as décadas de 1940 e 1970, onde a nossa boa fotografia circulou tanto nos salões do movimento fotoclubista, quanto na imprensa, renovada que foi pelas iniciativas de algumas revistas segmentadas (revistas Senhor, Módulo, entre outras) e de grupos editoriais – Diários Associados (revista O Cruzeiro) e editora Abril (revistas Realidade, Veja, entre outras). Leia Mais
Platão e as temporalidades: a questão metodológica – BENOIT (EL)
BENOIT, Hector. Platão e as temporalidades: a questão metodológica. São Paulo: Annablume, 2015. Resenha de: ANTUNES, Jadir. Eleuthería, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 91-97, dez. 2016/mai. 2017.
livro Platão e as temporalidades: a questão metodológica (São Paulo -SP: Annablume, 2015) de Hector Benoit é um livro extremamente claro e didático nos argumentos a favor de uma compreensão de Platão, e de todas as grandes filosofias, a partir de sua lexis imanente, i.é, a partir da narrativa dramática imanente ao texto, a partir do sentido temporal interno e arquitetônico do texto, desconsiderando todas as determinações externas e, por isso, superficiais, como a datação cronológica e a estilometria, na elaboração de determinada grande obra filosófica.
Hector Benoit é extremamente claro e preciso em mostrar os vários níveis e temporalidades do discurso filosófico de Platão, desde seus momentos mais simbólicos e alegóricos até seus níveis mais abstratos e propriamente conceituais, mostrando a ausência de sentido nas leituras dominantes e tradicionais que pretendem encontrar, e revelar, em Platão, a existência de uma teoria ou doutrina pronta, fechada, dogmática, e purificada de toda referência não propriamente conceitual contida no interior dos diálogos. O livro de Hector Benoit não ensina apenas a ler metodológica e corretamente Platão, mas a todos os grandes filósofos. Por isso, seu método parece ter uma aplicação universal –ao menos para as grandes filosofias.
O livro é uma crítica radical ao modo dominante de se fazer filosofia, ou, mais precisamente, ao modo dominante de se entender as grandes filosofias. O modo dominante de se fazer filosofia e se compreender os grandes filósofos tem sido o analítico, em seus vários matizes, tem sido o método de divisão de um texto em suas menores partes, de análise deste texto fatiado e fragmentado em seus menores detalhes, sem, contudo, relacionar estes fragmentos com o conjunto e o sentido interno da obra, da história de vida do autor e dos grandes conflitos filosóficos e históricos enfrentados por ele.
Os métodos historiográficos, biográficos, estilométricos, e todos os demais métodos externos empregados no entendimento de uma grande filosofia, são a condenação ao esquecimento e à confusão de toda grande obra filosófica e o livro de Hector Benoit deixa isto muito bem claro em relação à grandiosa obra de Platão. Ainda que a prática de se estudar um texto possa querer levar em consideração todos os seus aspectos empíricos, é preciso encontrar nesta leitura a ordem imanente, dramática e conceitual, é preciso encontrar a ordem própria ao discurso filosófico do autor que considere esta obra como a obra de uma vida.
O livro de Hector Benoit nos ensina não apenas a estudar corretamente um texto filosófico, mas a entender corretamente o que seria a filosofia. Seria a filosofia, uma ciência, uma episteme, ou uma arte? Seria a filosofia, uma obra destituída de esforço, de paciência, de tempo, sem relação alguma com a experiência de vida, com a experiência política, com a experiência em geral de seu autor? Seria ela, uma obra produzida exclusivamente pelo intelecto do filósofo, pela genialidade e pureza de sua alma racional, seria a filosofia, por isso, uma obra sem qualquer relação com o universo simbólico das representações de uma época e de seus leitores, sem qualquer relação com a experiência e a vida prática destes mesmos leitores e autores?
O livro de Hector Benoit nos ensina que a filosofia estaria, por este aspecto, muito mais próxima da arte do que da episteme. Neste aspecto, Aristóteles não pareceria ter algo de platonista, porque para ele a filosofia não pareceria possuir qualquer relação com a arte e a experiência de vida de seu autor. A questão fundamental exposta por Hector Benoit parece ser exatamente a crítica ao modo aristotélico de se fazer filosofia, ao modo de se estudar um autor através de recortes despedaçados de sua obra convenientes à construção de sua própria obra.
O modo socrático de exposição, o dialógico poético, parece ser sempre mais complicado politicamente do que a prosa corrida de Aristóteles. Galileu Galilei que o diga. Dizem que a causa da desgraça de Galileu não teria sido tanto as suas concepções heliocêntricas sobre o universo, mas, sim, porque o Papa fora convencido por seus assessores de que o personagem Simplícius, personagem ridicularizado por Galileu como defensor do sistema ptolomaico, representaria no Diálogo sobre os dois mundos a posição do Papa e da Igreja. Por este motivo, Galileu teria sido condenado à prisão. Numa narrativa de tipo aristotélico não há, geralmente, personagens da vida real, não há condenação destes personagens, não há a vida atrapalhando o pensamento. Por isso, a narrativa lógica e linear aristotélica parece ser sempre menos perigosa e ofensiva politicamente que os diálogos vivos e dramáticos platônicos.
De acordo com o livro de Hector Benoit, a filosofia estaria mais próxima da arte do que da episteme, porque uma obra filosófica é construída da mesma maneira que se constrói uma obra de arte, como a obra de um artesão-operário. O importante na análise desta obra não consiste tanto em compreender cada uma de suas peças isoladamente, mas, sim, o conjunto e o sentido interno e vivo desta obra. Numa obra de arte, as diferentes peças do conjunto não precisam necessariamente ser fabricadas na ordem da montagem, do funcionamento e da importância desta peça para o conjunto. Cada peça pode ser fabricada, até certo ponto, de maneira totalmente independente das outras peças. A peça principal, por exemplo, pode ser fabricada por último em relação a todas as outras peças.
O importante no estudo de uma obra de arte, por isso, não é compreender a ordem de fabricação destas peças no tempo, a ordem cronológica desta obra, mas, sim, a posição e o papel de cada peça fabricada no conjunto da obra construída. Já imaginastes montarmos um carro na ordem da fabricação de suas peças no tempo, segundo a ordem do tempo em que cada peça individual foi fabricada? Evidentemente, não teríamos um carro ao final do processo, mas apenas um agregado linear de peças sem sentido algum.
A leitura e interpretação de Hector Benoit sobre os diálogos de Platão possuem como premissa fundamental as mesmas premissas e fundamentos da ordem encontrada nas obras feitas pela mão humana. Não há sentido algum, segundo sua interpretação, querer estudar os diversos diálogos de Platão segundo a ordem cronológica de sua feitura. Não há sentido racional algum querer dispor esta ordem segundo a ordem de sua produção temporal externa, segundo o momento em que esta obra foi redigida empiricamente. Uma disposição dos diálogos platônicos segundo esta ordem alógica corresponderia à disposição, e montagem, de nosso carro segundo a ordem do tempo de fabricação de suas peças.
O entendimento correto da obra platônica, segundo Hector Benoit, é o entendimento que compreende esta obra como uma obra dotada de beleza plástica e poética, como uma obra que só revela seu sentido e direção se seguirmos o sentido e a direção contidos e apontados pelo próprio Platão no interior dos próprios diálogos, no interior de sua sequencia dramática e poética. O racional, o poético/poiético, consiste, por isso, em compreender estes diálogos segundo sua ordem dramática interna, segundo sua construção conceitual interna, segundo o desenrolar temporal interno à própria trama dramática dos diálogos, e não à suas tramas e tramoias cronológicas externas.
O livro de Hector Benoit, por isso, transmite esta importante lição metodológica: de compreendermos, até certo ponto, uma obra filosófica como a obra de arte de um artesão, de um artesão do pensamento. Digo até certo ponto porque o artesão comum realiza uma obra que desde o princípio já se encontra pronta e acabada no pensamento, somente mais tarde, com a prática, esta obra ganha realidade como coisa feita, enquanto que o filósofo, por sua vez, não possui, desde o começo de sua trajetória filosófica, uma ideia clara e pronta do que quer fazer, de onde quer chegar e quais caminhos irá percorrer. Esta ideia vai sendo iluminada e ganhando sentido na mesma medida em que a obra vai sendo realizada. Por isso, são normais as frequentes idas e vindas do filósofo, as frequentes revisões, correções, reedições e aperfeiçoamento de sua obra. Fato que também geralmente ocorre com os produtos da mão humana. O lançamento, a primeira edição da obra é, por isso, geralmente, inferior à obra lançada nos anos seguintes.
Neste sentido, argumenta Hector Benoit, o que seriam os personagens de Platão, senão diferentes operários-artesãos, diferentes artesãos do pensamento, diferentes artesãos que, em conjunto e de maneira mais ou menos combinada, trabalham em vista de uma obra comum, a obra de uma vida, da vida dos que começaram e morreram durante sua construção, e da vida das novas gerações que surgirão para continuá-la. Quem seria Platão nesta história senão um mero coordenador, um mero condutor e dirigente, um mero engenheiro do pensamento e, como tal, um artesão, um operário qualificado, o operário-chefe de uma obra coletiva.
Como na construção dos grandes templos anônimos da cidade, que não levam o nome do engenheiro chefe, de seu arquiteto, onde cada operário parcial trabalha em vista de uma obra coletiva que ultrapassa o tempo de suas próprias vidas, não seria a obra de Platão semelhante ao Parthenon e todas as obras coletivas da cidade? Não seria, assim, a obra de Platão equivalente à obra de Phidias, uma obra da cidade, de seus operários, de seus arquitetos, uma obra sem autoria definida, uma obra que conta com o esforço, o trabalho e a participação de todos os personagens da cidade, de todos os seus artesãos, cada um com sua ocupação específica, onde alguns participam como soldados, outros como sacerdotisas, adivinhos, jovens, anciãos, anfitriões, sofistas, políticos, filósofos de profissão, visitantes estrangeiros e assim por diante?
O livro metodológico de Hector Benoit é muito útil e instrutivo para todos os estudiosos da filosofia que desejam acordar da sonolência metafísica moderna. A metafísica e a analítica, a pretensão de encontrar a essência e a verdade em um pedaço estilhaçado da realidade, a metafísica em todos os seus múltiplos modos, como o racionalismo, o positivismo e o sociologismo, domina por inteiro nossa filosofia. As diversas “filosofias”, as filosofias da linguagem, do conhecimento, da ciência, da política, da arte, da ética e assim por diante, não passam de formas mascaradas de metafísica, de formas analíticas de se compreender a filosofia e a tarefa do filósofo. Estas diversas “filosofias” não são mais do que epistemes, não são mais do que formas aristotélicas modernizadas de se fazer e se compreender a filosofia.
O livro de Hector Benoit nos leva a pensar que todos estes métodos modernos de se fazer filosofia estariam inteiramente impregnados pelos princípios práticos da época moderna: a negação do trabalho como a forma própria e fundamental da vida humana coletiva, a visão meramente negativa do trabalho, do trabalho como roubo do tempo destinado ao prazer e ao ócio. O hedonismo que domina nossa prática filosófica moderna é inteiramente incompatível com o esforço que vem do trabalho e da arte, com o esforço da leitura lenta, sistemática e total de uma obra filosófica, com o esforço do labor exercido pelo pensamento, por isso, para este hedonismo, é necessário abreviar todo esforço em vista do prazer, é preciso construir atalhos que evitem o desperdício de tempo e esforço do leitor, é preciso construir filosofias fragmentadas, fáceis, superficiais, passageiras, ao gosto do mercado editorial e do senso comum burguês.
A crítica de Hector Benoit a Goldschmidt e ao método estruturalista de interpretação de um grande autor e de uma grande filosofia parece clara em associar este método ao método do estilhaçamento e da confusão, próprio das práticas filosóficas modernas. Pelo caminho de Goldschmidt parece ter seguido toda a história da filosofia. Para o cristianismo era necessário batizar e cristianizar todos os grandes filósofos, especialmente Platão e Aristóteles, era necessário negar o paganismo filosófico antigo e construir uma filosofia que justificasse as crenças religiosas cristãs. Para o mundo moderno trata-se não mais de construir uma filosofia, não mais de criticar a filosofia, mas de destruir a filosofia, de transformá-la em coisa fácil de ser feita, em coisa feita pelas mãos e cérebro de um único gênio, de transformá-la num ramo da ciência e, como tal, num ramo da indústria do entretenimento, da fantasia e da ideologia.
Se para Hector Benoit, o modo filosófico de se fazer filosofia em Platão deve ser compreendido a partir da compreensão do modo de se fazer as grandes obras coletivas da mão humana, para o mundo moderno, pelo contrário, trata-se de radicalizar a visão aristotélica de filosofia, de separá-la do trabalho, da arte e da vida em geral. Para o mundo moderno, como para Aristóteles, o trabalho é uma coisa negativa, é desperdício de tempo e de vida, é roubo do tempo destinado ao ócio e ao prazer, por isso deve ser erradicado da vida humana e destinado apenas a escravos, a homens inferiores, sem logos e sem episteme.
Por essa visão poiética de Platão, de Platão como um operário do pensamento, operário do logos que é ação de pensar e ação de fazer, a interpretação de Hector Benoit é um alento e sopro de vida sobre nossas almas cansadas desta monotonia e lenga-lenga filosófica moderna, desta filosofia que padece lentamente a cada dia nas teias da lógica e da linguagem, desta filosofia que tem se tornado um agregado mecânico de peças mortas, de peças fatiadas e sem organicidade, de peças isoladas e sem conexão com a totalidade da vida, desta filosofia que já não possui qualquer negatividade e impulso vital criativo.
O livro de Hector Benoit é mais do que um livro de interpretação de Platão, o livro é uma crítica radical deste modo moderno de se fazer filosofia e uma luz para nossas almas românticas e poéticas, presas às cadeias da tradição positivista e da metafísica em todos os seus modos de existência. A filosofia, para ser filosofia, não pode permanecer presa às cadeias da lógica e dos métodos quantitativos e segmentados da ciência. Para ser filosofia, ela tem que ser poesia, tem que ser arte e existir como obra que existe na totalidade da vida e em vista desta mesma vida.
O livro de Hector Benoit é uma crítica destruidora a toda a tradição filosófica que acredita ser o logos uma coisa, uma propriedade, uma substância que pode ser tomada e revelada isoladamente ao gênio individual de cada autor. O logos, como nos diz Hector Benoit lembrando Heráclito, não é substância, não é coisa nem propriedade. O logos é koinonia, é o-que-é-em-comum, é o que se manifesta no ser-em-comum, como nas grandes obras coletivas feitas pelas mãos e cérebros humanos. Nada de grandioso pode ser feito isoladamente – é o que nos ensina o logos heraclitiano e o Platão revelado por Benoit: nem mesmo uma obra filosófica. Os filósofos não constroem nada sozinhos, os filósofos são somente aqueles que sabem que tudo-é-ser-em-comum e querem, com seu intelecto e esforço, juntar-se ao ser-em-comum de sua época. O filósofo não trabalha nem constrói sua obra isolado em seu gabinete de estudos. Para ser filósofo e fazer filosofia é preciso sair para o mundo e misturar-se com ele: como Sócrates em seus diálogos mundanos e Platão em suas aventuras políticas pelo Mediterrâneo. Nesta construção coletiva são necessários não apenas cérebro e intelecto, são também, e fundamentalmente, necessários braços e energia física humana para fazer do Parthenon da Filosofia uma realidade tal qual foi no passado o Parthenon de Phidias.
O livro de Hector Benoit é uma obra revolucionária que merece, mais do que nunca, ser lido e discutido por todos os amantes das grandes filosofias, destas filosofias que têm como meta a reconstrução completa e impiedosa da realidade segundo o que-é-em-comum. O livro deve ser lido por todos aqueles que se compreendem como operários de uma obra e de um mundo em construção, que se compreendem como membros menores de uma grande obra coletiva que transcende a vida e a vaidade de toda existência idiotizada pela propriedade privada, pelo empilhamento de dinheiro, pela desmedida da ganância e pela metafísica. Nesta obra e projeto coletivo, cada personagem participa de acordo com suas próprias forças e capacidades, alguns com o cérebro, outros com os braços e outros com a poesia e o sonho romântico dos grandes filósofos do passado –como parece ser o caso de Hector Benoit.
Jadir Antunes – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
[DR]
Moeda e poder em Roma: um mundo em transformação – CARLAN (RAP)
CARLAN, Cláudio Umpierre. Moeda e poder em Roma: um mundo em transformação. São Paulo: Annablume, 2013, 214p. Resenha de: RAMALHO, Jefferson. Revista Arqueologia Pública, Campinas, São Paulo, v.10, n. 2, p. 115-119, jun. 2016,
Trabalhar com moedas é algo diferente, inusitado […] é percorrer a história da humanidade em todas as suas facetas. É reunir e integrar dados reveladores de momentos áureos, de crises, de guerras […] É colocar no presente os mistérios do passado (LUDOLF, 2002: 199).
A atenção que moedas recebem é tão antiga quanto elas próprias. São artefatos peculiares e importantes para o estudo da História. A numismática é a ciência que estuda as moedas, podendo atingir um alto grau de precisão técnica e classificação. É um campo de estudo imenso, uma vez que esses pedaços de metal estão repletos de informações sobre os mais diversos interesses da História: Arte, Religião, Economia, Política, sobre sociedades e civilizações. Manoel Severin de Faria, sacerdote católico e numismata português do século XVII aponta que “nas imagens das moedas e suas inscrições se conservava a memória dos tempos, mais que em nenhum outro documento” (LUDOLF, 2002: 199).
A forja de uma ciência própria para o estudo desses pequenos objetos metálicos antigos inicia-se na Idade Moderna com as coleções: a busca pelo passado greco-romano. Francesco Petrarca e Guillame Budé são duas das figuras principais que ajudam a configurar a gênese formal dos estudos das moedas. Com o passar dos tempos e a consolidação do colecionismo, assim como o aumento de material (moedas) disponível para estudo e avanços museológicos, surgem as sociedades numismáticas.
O livro de Carlan, Moeda e poder em Roma, trata – inicialmente – da questão do colecionismo e sua gênese, culminando na ascensão de museus, como o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, e de gabinetes numismáticos, como o da Catalunha em Barcelona. Em seguida, apresenta um catálogo de moedas romanas – de grande valor, já que é fundamental para o trabalho numismático – separado por imperador, temas e exergo2 do reverso3. Sendo assim, o centro do livro é a análise de uma coleção composta por 1888 moedas, cunhadas no IV século do Império Romano, do MHN. Trata, também, dos diferentes tipos monetários da Antiguidade Tardia e todo seu contexto socioeconômico, político, e histórico. Por fim, analisa a propaganda por meio da moeda e relaciona a legitimação de poder com a vasta iconografia monetária.
É muito difícil tentar traçar as origens do colecionismo, já que o homem coleciona desde o Paleolítico e é difícil determinar o motivo (SOUZA, 2009: 01). Porém, o resgate do passado greco-romano remonta, como expõe o professor Carlan, aos tempos pós-invasões bárbaras e à formação dos jovens estados modernos. Durante o Renascimento, essa prática floresceu a partir de novos interesses e valores históricos e artísticos. Um trabalho importante, conhecido como um dos primeiros catálogos numismáticos do período foi o Illustrium Imagines elaborado por Andrea Fulvio que contém imagens de diversas moedas e bustos antigos. Além de abundantes e portáteis, a variedade de bustos, cenas, símbolos e figuras estampadas nas moedas antigas encantavam aos numismatas de uma época em que se tinha “fome” por imagens, em especial, greco-romanas. (CUNNALY, 1999: 12)
Já no século XVIII, a Vila Albani torna-se um centro de encontro de colecionadores e estudiosos do período que, como Wicklemann (1717 – 1768), buscavam imitar a cultura Clássica Antiga. A Society of Dilletani, também do XVIII, promoveu campanhas arqueológicas com o objetivo de estudar, conhecer e analisar as ruínas greco-romanas, o que contribuiu para o aumento do material numismático disponível para estudo (CARLAN, 2013: 41).
A atividade do colecionismo é somada aos avanços museológicos iluministas que, através da arte, buscavam um processo de regeneração cultural (burguesia x aristocracia, arte “racional” x arte rococó). O Museu Britânico de Londres é considerado o pioneiro e, de maneira geral, apresentou (e ainda apresenta) – sustentado pela arte – as diferentes etapas da cultura material em diversas sociedades.
Toda essa contextualização e explicação sobre museus é transportada, no texto, para a comparação entre o Gabinete numismático da Catalunha e o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Ambos tiveram a mesma formação: através de doações em períodos relativamente próximos. Umas das diferenças seria a forte relação entre a fundação do MHN e o nacionalismo. Carlan ainda destaca que a numismática não está presa nos museus já que a moeda é um prato cheio para o estudo da História Econômica, Política, da Arte e as relações sociais existentes em sociedades monetarizadas4 (CARLAN, 2013: 48).
4 No vocabulário numismático, uma sociedade monetarizada é aquela – segundo os padrões modernos – que possui um sistema monetário que adotou a moeda metálica como meio de troca.
A análise seguinte é a de sete peças numismáticas de quatro imperadores diferentes: Constante (1 peça), Constâncio II (1); Honório (2) e Arcádio (3). As moedas antigas devem ser pensadas como um corpus documental que possui um emissor que quer transmitir uma mensagem – por meio de representações e signos – para um destinatário ou receptor. Sendo assim, a moeda possui uma função política, social, administrativa, militar, religiosa e econômica dentro da sociedade Romana (CARLAN, 2013: 64). Para o estudo seguinte no livro, utilizou-se do “esquema de Lasswell”5.
O centro analítico do livro são as 1888 moedas cunhadas nos século IV d.C.. A análise quantitativa executada separou as numárias em três: imperador (de Diocleciano a Galério), reverso (e seus temas) e exergo (local de cunhagem). O estudo recebe ainda, um amplo contexto histórico de cada imperador o que é fundamental para os estudos posteriores a serem elaborados a partir das mesmas numárias. O maior número de moedas do acervo (360) são as de Constantino com ênfase nos temas militares e religiosos. A explicação de Carlan para tal verificação é:
Era preciso pagar o exército, legitimar o poder dos imperadores perante a tropa, homenagear ou favorecer uma determinada legião, demonstrar a segurança do seu governo divulgando a construção de muralhas ou campos militares, representar a sua vitória – a vitória de Roma – sobre um determinado inimigo (CARLAN, 2013: 172).
O contexto histórico apresentado é o do século IV: Tetrarquia e a divisão de tarefas civis e militares entre os imperadores, as reformas da Tetrarquia, o processo de ruralização do Império Romano – ação de mão única -, crise institucional (assassinato de 19 imperadores), guerra contra o Império Persa, as legiões romanas e as modificações da guerra e a análise da economia do período com ênfase no fator numismático: é interessante notar que é neste trecho que Carlan aborda o outro lado da numismática e examina em detalhe a crise dos preços, o valor da moeda, a variação de pureza dos metais usados nas cunhagens e da balança comercial romana.
Por fim, é feito o estudo da moeda, propaganda e legitimação do poder. É fundamental ler os símbolos contidos nos reversos das moedas romanas que constituem um corpo de informação a ser interpretado pelo receptor. Busca-se as intenções e interesses que explicam a motivação do emissor ao cunhar aquele tipo. Sendo assim, faz-se necessário analisar ambos os lados da moeda que compõe um documento vastíssimo que, aliado a outras fontes, nos ajuda a produzir uma interpretação do passado.
De maneira geral, pode-se dizer que a obra de Carlan contribui para o fortalecimento dos estudos numismáticos acadêmicos no Brasil que ainda são considerados, de certa forma, incipientes. Há, entre os historiadores, certo preconceito sobre o uso de moedas como documentos, já que a maioria dos intelectuais da área prefere utilizar a antiga forma de documento: impressa em papel, catalogada e disposta em um arquivo ou biblioteca (CARLAN & FUNARI, 2012: 29).
Tal hábito vem se alterando desde os Annales, que contribuíram para uma nova concepção sobre documentos. A moeda – que sofreu suas devidas alterações ao longo da História – faz parte do cotidiano de todos e revela uma forma de produzir, aliada a outros tipos de fontes, uma interpretação do passado distinta: já que a moeda, antiga ou contemporânea, é capaz de nos dizer muito sobre sociedades, suas concepções, economia, arte, política e tecnicismo (maneiras de produção das moedas). O livro de Carlan é uma leitura interessante para aqueles já inseridos ou não na temática romana da numismática, pois aborda conceitos básicos mesmo durante reflexões mais profundas do tema.
Notas
1 Graduando em História pela Universidade Estadual de Campinas, bolsista do CNPq, [email protected].
2 Local inferior do campo da moeda, onde se encontra a data e a casa monetária, quando existem tais informações.
3 Face oposta ao Anverso (lado principal da moeda que representa quase sempre a entidade emissora). Na gíria popular é conhecia como “coroa”.
5 Harold Laswell (1902-1978): pioneiro na análise de conteúdos aplicados à política e à propaganda. Levantou teorias sobre o poder da mídia de massa. O esquema de Laswell analisa os meios de comunicação partindo da “análise de conteúdo”: uma série de questionamentos relacionados aos meios de comunicação (no caso do livro de Carlan, a moeda na Roma antiga). Alguns exemplos são: “Quem?; Diz o que?; Em qual canal?; Para quem?; Com quais efeitos?”
Referências bibliográficas
CARLAN, Claudio Umpierre. Moeda e poder em Roma: um mundo em transformação, São Paulo, Annablume, 2013.
CARLAN, Claudio Umpierre; FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Moedas, a Numismática e o estudo da História. 1ª edição, São Paulo, Annablume/Fapemig/Unifal/Unicamp, 2012.
CUNNALLY, John. Images of the Illustrious: the numismatic presence in the Renaissance, Princeton, Princeton University Press, 1999.
LUDOLF, Dulce. “Que é Trabalhar com Moedas” In: O outro Lado da Moeda. Livro do Seminário Internacional. Rio de Janeiro, Museu Histórico Nacional, p.199-200, 2002.
SOUZA, Helena Vieira Leitão de. “Colecionismo na modernidade” In: Simpósio Nacional de História, Fortaleza, 25. Anais do XXV Simpósio Nacional de História – História e Ética. Fortaleza: ANPUH, p. 1-9, 2009.
Jefferson Ramalho – Doutorando em História Cultural (IFCH-UNICAMP) como bolsista CAPES e sob orientação do professor Dr. Pedro Paulo Abreu Funari, além de ser mestre em Ciências da Religião (PUC-SP) com licenciatura em História e bacharelado em Teologia. E-mail: [email protected]
[MPDB]
Platão e as temporalidades: a questão metodológica – BENOIT (RA)
BENOIT, H. Platão e as temporalidades: a questão metodológica. São Paulo: Annablume, 2015. Resenha de: SOUZA, Eliane de. Revista Archai, Brasília, n.16, p. 351-360, jan., 2016.
Foi finalmente publicada a primeira parte da tese de Livre Docência em Filosofia de Hector Benoit, defendida em 2004 no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. o trabalho original era uma tetralogia dramática e, para fins de publicação, foi dividido em duas partes. Benoit apresenta, nessa primeira parte, um trabalho metodológico que serve como preparação para a publicação futura do romance filosófico A odisseia de Platão, mas que pode também ser lido como um livro autônomo.
O livro, que conta com apresentação do professor Arlei Moreno, da Unicamp, procura aproximar o leitor da situação de um leigo que lê Platão sem nenhuma informação, sus pendendo os pressupostos teóricos que envolvem o texto dos diálogos e afastando -o da metafísica ocidental. a proposta é deixar de lado a ideia de que Platão é o autor supremo de uma doutrina sistemática e começar a ver a cena dos diálogos como análoga à da poesia homérica e trágica. Nesse sentido, o livro tem um caráter negativo, ao colocar em suspensão as interpretações que impedem a aproximação a um Platão conceitualmente poético. Seu intuito é preparar o leitor para ler os diálogos sem o recurso da tradição interpretativa, o que permite contemplar a sua lexis (modo de exposição). a disposição ordenada dos textos em uma temporalidade construída com os elementos léxicos revolucionaria a interpretação desses textos e o processo hermenêutico de toda a história da filosofia, segundo Benoit.
O livro é dividido em cinco capítulos. O capítulo 1, Platão e a poética do logos, levanta a questão da relação entre discurso filosófico e poesia a partir do logos de Platão, questão que, segundo o autor, não foi bem compreendida até hoje, nem mesmo por Heidegger. O problema passa a ser investigado a partir de um histórico de narrações que relatam Platão como sendo inicialmente um poeta e que, ao se tornar discípulo de Sócrates, se afasta da poesia e se transforma em seu inimigo. Esse percurso biográfico de Platão, que Benoit considera lendário, foi divulgado por Apuleu no século II d.C., sustentado no neoplatonismo por Proclus no século V d.C. e relatado no manual anônimo Prolegomena, texto do século VI d.C. A descrição de Platão como crítico da poesia perdura até Nietzsche, causando, na interpretação do texto platônico, uma tensão entre arte, moral e metafísica. Essa tensão se repete em Heidegger e permanece na maioria dos comentários contemporâneos que se referem a Platão como aquele que expulsou os poetas da cidade, dentre os quais Havelock. Graças a esse tipo de interpretação, até artistas e pensadores de vanguarda se voltaram contra Platão, mostra Benoit. O autor coloca uma dúvida: como é possível que Platão tenha tentado destruir a poesia e, ao mesmo tempo, tenha escrito obras filosóficas que são também estéticas e dramáticas?
Benoit considera que não existe diálogo que seja propriamente narrativo. Todos os diálogos são dramas não narrados diretamente ao leitor, mesmo aqueles que a tradição reconheceu como narrativos. Como exemplo, faz um exame do Protágoras, do Cármides e da República para mostrar que são diálogos e não narrações, como se costuma interpretar. Se os diálogos forem lidos a partir da forma dramática e da imitação, propõe, a obra de Platão se aproxima da lexis poética da tragédia e da comédia. Os diálogos seriam então uma das formas supremas da arte grega.
Para Benoit, a cena da metafísica ocidental é uma visão exterior da obra. Nietzsche, ao pretender romper com essa cena, paradoxalmente encontra na filosofia de Platão seu alicerce. a dúvida do autor é até que ponto se pode aceitar essa posição de Nietzsche e de seus seguidores. O livro é um esforço metodológico para mostrar que as acusações de que Platão expulsou os poetas e a poesia da cidade se fundamentam em uma tradição interpretativa duvidosa, da qual Benoit acredita que ainda não nos libertamos. Em vez de excluir a poesia, o autor opta por seguir a lexis platônica em busca da construção conceitualmente poética das temporalidades presentes em seu pensamento.
No capítulo 2, Os diálogos entre Homero e Proclus, Benoit faz uma escolha pela tautagoria, forma de leitura sem qual quer interpretação, que procura trazer apenas o que se manifesta em suas relações de superfície, em detrimento da interpretação alegórica, que procura uma outra coisa sob as coisas que se manifestam e um outro dizer com significado profundo. Benoit reconstrói historicamente a transformação do discurso autônomo, não instrumentalizado, em um discurso que passa a velar o mundo. Com o surgimento das formas mercantis, o logos deixa de ser parte da physis e exige técnicas de interpretação para a descoberta de significados profundos. A preocupação do autor é mostrar como, a partir do século V a.C., toda a tradição antiga é submetida à exegese alegórica, começando pelos mitos e poemas homéricos e chegando até Platão no neoplatonismo. Ele elege como exemplo dessa tradição exegética neoplatônica a leitura que Proclus faz de uma passagem da Ilíada, segundo a qual busca -se compreender a doutrina secreta sob os versos de Homero e absolvê -lo das acusações que Platão faz a ele na República. Para Proclus, as imitações poéticas escondem manifestações onto-teológicas e seu esforço corresponde à uma leitura de Homero à luz dos diálogos de Platão. Deve -se a Proclus também uma vasta interpretação onto-teológica dos diálogos, que Benoit considera tão arbitrária e fantasiosa quanto aquela dedicada a Homero.
Benoit denuncia, nas leituras de Proclus e de seus antecessores, as origens da interpretação de como Platão criador do mundo supra -sensível, interpretação essa que surgiu às custas de sucessivas camadas de hermenênutica neoplatônica, e coloca em dúvida se as interpretações modernas e contemporâneas não trazem esse legado de mutilação da lexis platônica. o que Benoit propõe, então, é um grande trabalho arqueológico para fazer surgir o texto platônico mais próximo de Homero, fora do âmbito alegórico do neoplatonismo; propõe não priorizar a doutrina filosófica, ao modo de Proclus, mas ler os diálogos como organismos internamente e externamente articulados.
O Capítulo 3, Uma obra sem autor e sem doutrina, é uma busca de Platão no interior dos seus próprios diálogos. Em uma época em que os gregos afirmavam a autoria de seus escritos, Platão está ausente dos diálogos, seja como autor, seja como defensor de uma doutrina. Seu nome aparece poucas vezes como personagem, porém de modo breve ou que às vezes, sus- peita Benoit, se faz presente por sua ausência. Por isso, uma leitura com suspensão das suposições tomadas pela tradição como certezas irrefutáveis levará o leitor a ver que pouco resta da presença de Platão como identidade. Personagens como Sócrates, Crítias, Parmênides e o Estrangeiro de Eleia não são portadores da palavra de Platão e não há, nos diálogos, um único autor que centraliza uma dou trina positiva, coerente e sistemática, já que os diálogos são discursos entrecruzados de múltiplos personagens e não podem expressar uma doutrina filosófica única.
O privilégio da fala de Sócrates, além de diversas estratégias que suprimem a dramaticidade do diálogo, transformaram o texto em monólogos e daí, explica o autor, se deduz uma “doutrina platônica”das ideias e, em torno dela, outros “dogmas”, como a ideia de Bem, a oposição sensível -inteligível, a teoria da reminiscência, a teoria da mímesis que condena os poetas, a paideia platônica e o projeto de cidade ideal. a questão que Benoit levanta é: em que medida recortes de discursos de diversos personagens podem, de maneira legítima, ser tomados como a doutrina de Platão? Se hoje essa questão não faz sentido para os leitores e intérpretes, Benoit nota que a antiguidade não teve tanta certeza a respeito da existência de uma doutrina platônica. Para mostrar isso, faz uma exposição de testemunhos antigos que negavam um Platão dogmático.
Uma leitura conceitualmente poética de Platão exige um olhar sem mediação da tradição, por isso o capítulo termina com uma introdução ao tema da temporalidade da lexis, mostrando que os personagens dos diálogos são marcados por esta temporalidade e não seres imutáveis como, em geral, tradição os representa. a maioria dos diálogos possuem demarcações temporais objetivas inscritas nos próprios textos, como fatos ou acontecimentos históricos, que os situam em certa diataxis ou disposição geral.
Segundo o autor, essas demarcações temporais já eram utilizadas em edições dos diálogos desde o século III a.C. A primeira edição teria ordenado os textos em trilogias que obedeciam às demarcações lexicais. Benoit faz então um histórico da ordenação dos diálogos nas edições, que passam de trilogias para tetralogias, e salienta que até o século II d.C. a disposição era feita por demarcações lexicais, quando então passa a obedecer a uma nova ordem exigida por uma suposta “doutrina”de Platão. Só em 1920 a publicação da Société d’Édition “Les Belles Lettres” rompe com a tradição das tetralogias e passa a dispor os diálogos a partir do suposto tempo cronológico de produção da obra. Constrói -se, então, um Platão socrático, dos primeiros diálogos, e um Platão da maturidade, dos diálogos metafísicos. Desde 1950, o problema do ordenamento foi sendo abandonado como teoricamente irrelevante para a compreensão dos textos de Platão, com exceção das interpretações de Schleierma cher e Munk.
O capítulo 4, a diátaxis enquanto temporalidade da lexis, tenta encontrar a disposição dos diálogos a partir da lexis, sem qualquer interpretação. Entre os vinte e nove diálogos reconhecidos como autênticos, Benoit data com precisão dezenove diálogos entre os considerados mais importantes do ponto de vista do conteúdo da filosofia platônica e consegue uma datação aproximada dos outros. a disposição da temporalidade da lexis obedece uma periodização em cinco momentos. após a exposição de seu trabalho de datação de cada diálogo, Benoit chega ao seguinte esquema geral da temporalidade da lexis: primeiro momento (450) – Parmênides; segundo momento (434 a 410) – Protágoras, Eutidemo, Lysis, Alcibíades I, Cármides, Górgias, Hipias Maior, Hípias Menor, Lákhes, Mênon, Banquete, Fedro; terceiro momento (410 a 399) – Re pública, Timeu, Crítias, Filebo; q uarto momento (399) – Teeteto, Eutífron, Crátilo, Sofista, Político, Apologia, Criton, Fédon; quinto momento (356 -347) – Leis.
No capítulo 5, a lexis e outras temporalidades, Benoit reconhece, em Platão, além de uma temporalidade da lexis, outras três temporalidades que partem desta e se articulam: uma temporalidade da noesis, correspondente ao pensamento lógico -conceitual de Platão; uma temporalidade da genesis, correspondente aos acontecimentos que envolvem a história dos personagens, do pensamento e da história factual grega; e uma temporalidade da poiesis, correspondente à ação temporal de produção da obra, a sua cronologia.
Em geral, nota o autor, os comentadores privilegiam uma ou outra dessas temporalidades como filosoficamente pertinente. Sob essa perspectiva, faz críticas a tais comentadores, principalmente à corrente estruturalista de Victor Goldschimidt, que teria privilegiado a temporalidade lógico -conceitual.
A partir da temporalidade da lexis, seguindo o critério metodológico, pode -se chegar primeiramente à temporalidade lógico -conceitual de um modo não mais arbitrário, como aquele que propôs o estruturalismo. a disposição ordenada dos textos segundo a temporalidade da lexis poderia indicar a intencionalidade do autor, ou seja, a forma final através da qual Platão procurou ordenar seu logos. Teremos então o sentido de cada diálogo no tempo geral de sua obra. assim, a temporalidade da lexis deve ser pensada como não meramente literária, sob o risco de alterar a temporalidade conceitual dos diálogos.
Depois de descobertas lexis e noesis, haverá a possibilidade de reconstruir (em maior ou menor medi- da) a temporalidade da genesis – a história biográfica de Platão – e daí se pode finalmente chegar à temporalidade da poiesis – a cronologia de sua obra. a ordem metodológica das temporalidades é lexis noesis gênesis poiesis, embora a ordem objetiva de construção dos textos seja genesis poiesis noesis lexis. a lexis deve ser sempre o ponto de partida metodológico para os leitores de Platão.
A temporalidade da lexis não pressupõe que o Platão tenha o projeto de sua obra acabado desde o começo. Benoit considera lexis e noesis como resultados de toda a produção do autor. Portanto, a temporalidade da ge nesis e a temporalidade da poiesis não coincidem com elas. Tanto lexis quanto noesis são posteriores às outras duas temporalidades porque, afirma, provavelmente somente no fim da sua produção Platão conseguiu decifrar o enigma do tempo conceitual de sua obra.
***
A publicação do livro se fazia necessária porque traz aos estudiosos em Platão e público em geral uma ideia que vem há anos influenciando alunos e colegas de Benoit. Também é um alerta para que o leitor de Platão questione se o Platão que está lendo não é um texto recortado e completamente afastado da cena dramática. Benoit provoca o leitor a ler o texto platô- nico na sua arquitetura e no seu movimento e mostra que Platão está muito além daquele filósofo dogmático dos dois mundos, que condenou o corpo, o amor e a arte. ao sabermos a origem dessa interpretação, podemos colocá -la em dúvida e olhar o Platão criador de uma filosofia poética. ao encontrarmos nos diálogos um sinal de que o pensamento de Platão só estava terminado depois de sua obra ter sido escrita, de que sua filosofia foi um pensamento dinâmico sempre em construção, não uma doutrina, podemos ler os diálogos sem procurar neles um sentido pré -determinado.
Há que ter o cuidado, no entanto, de não nos deixarmos tomar por um medo das interpretações a ponto de cair em uma espécie de ódio aos intérpretes, lembrando a misologia à qual Sócrates se refere no Fédon. A leitura de um texto antigo não é um fim em si mesmo, nem que tenha um objetivo de reconstrução histórica. Quando se trata de uma leitura filosófica, a leitura que se faz, as questões que se coloca, têm a ver com nossa realidade, por isso dependem de ferramentas hermenêuticas. Várias interpretações aproximam os problemas filosóficos levantados por Platão a problemas filosóficos atuais e é isso que move a discussão e faz com que Platão seja um filósofo estudado ainda hoje.
O que Benoit propõe, um trabalho liberto de toda e qualquer exegese, é um primeiro trabalho metodológico necessário ao exame dos diálogos. Minha dúvida, porém, é se deve ser definitivo ou se o trabalho metodológico de Benoit pode ser um guia para reconhecer uma boa interpretação, aquela que ajuda a refletir sobre Platão sem mutilá -lo. Talvez não seja impossível conciliar a leitura que Benoit nos proporciona com a leitura da vasta e importante pesquisa em Platão. Como Benoit mostra, Platão tem muitos logoi. Por que não pode ser lido de várias maneiras?
Eliane de Souza – Universidade Federal de São Carlos (Brasil) [email protected]
Marx selvagem – TIBLE (RH-USP)
TIBLE, Jean. Marx selvagem. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: VELLOSO, Gustavo. Um espectro ronda a selva: história, antropologia e práxis. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
O livro Marx selvagem, de Jean Tible, reconduz para a arena das ciências humanas um horizonte analítico que vinha sendo desdenhado há décadas, depois de ter se beneficiado do contexto teórico e político particularmente favorável do início do século XX até os anos 1980, em todo o mundo. Trata-se do aproveitamento do materialismo histórico, enquanto tradição de análises e reflexões, para o estudo de formações sociais diferentes daquela que constituiu o eixo central das preocupações de seus primeiros pensadores, isto é, a sociedade capitalista em seu clássico formato industrial. No caso, as populações indígenas do continente americano são o foco da reflexão.
Fruto de uma tese de doutorado defendida em 2012 na Unicamp, a obra recebeu até agora bom acolhimento,1 o que pode ser atribuído não apenas ao fato de que o livro atende a uma demanda dos intelectuais e movimentos políticos de esquerda que não se contentam com o corrente tratamento dos problemas indígenas como uma questão “de minorias”, mas também à situação especialmente crítica pela qual as populações indígenas do Brasil (e também de fora dele) têm passado nos últimos anos. Refiro-me ao avanço da exploração econômica sobre reservas e extensões florestais em benefício do agronegócio e de megaprojetos garantidos por governos neoliberais e/ou desenvolvimentistas cada vez menos aparelhados para conter os efeitos devastadores de suas próprias práticas políticas.
Tible nos instiga a pensar, então, se o horizonte marxista (e, junto dele, seu método dialético, potencial crítico e de autocrítica permanente) não seria portador de instrumentos válidos de compreensão, investigação e, evidentemente, transformação dessa realidade. Sua resposta é positiva e, nesse sentido, demonstra-se que resgatar Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) para pensar as (e com as) populações indígenas americanas não significa projetar sobre elas conclusões e categorias formuladas por esses dois teóricos em outros contextos – para o autor isso se mostra, aliás, prescindível -, mas não ignorar os tipos de questão por eles colocados para as sociedades anteriores e/ou contemporâneas do capital e que, estranhas à sua lógica, sentem ou sentiram as consequências de sua expansão.
O argumento é atraente e bem delineado. Divide-se em três grandes momentos e cada qual corresponde a um capítulo da obra. Em primeiro lugar, diz-nos, os escritos de Marx e Engels apresentam certa sensibilidade com relação a formações sociais externas ao continente europeu, incluindo o que se convencionou chamar de “sociedades primitivas”. Segundo, a crítica do Estado contida nos textos dos dois filósofos alemães combinaria com os mecanismos de “recusa” do Estado vistos em grupos ameríndios pelo antropólogo francês Pierre Clastres (1934-1977). Finalmente, a organização autônoma dos Yanomami e os textos de Davi Kopenawa (1956-), uma de suas lideranças, retratariam os bons frutos advindos da aproximação “Marx-América indígena”, sobretudo a partir da crítica que Kopenawa fez daquilo que Marx concebeu como fenômeno ludibriante da nossa sociedade, o “fetichismo da mercadoria”.
O ponto de partida adotado pelo autor foi o pensamento do revolucionário peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), segundo Tible “precursor” (p. 18) da mobilização do marxismo para as pautas indígenas e indigenistas. Mariátegui teria rompido com uma visão eurocêntrica que enxergava os índios americanos pela ótica do atraso social e teria apontado nos ayllu (unidade comunitária básica de organização andina durante o período incaico) a existência de características avançadas de produção comunitária, apesar de a parcimônia dos contatos de Mariátegui com as comunidades indígenas ter fragilizado, em parte, sua obra.
Passando ao exame dos escritos de Marx e Engels (capítulo 1), o autor destaca a existência de referências a povos não europeus (Índia, China, Argélia, México, Irlanda, Estados Unidos, Rússia etc.) em escritos de várias fases de suas obras, encontradas tanto em A ideologia alemã (1845-6) como em textos posteriores ao primeiro volume de O capital (1867), ou ainda no Manifesto do Partido Comunista (1848), em Grundrisse (1857-8), artigos publicados no New York Daily Tribune, cadernos de anotações, cartas e outros. Se, de início, o conteúdo de tais referências exprimiria uma “tensão entre a condenação moral dos efeitos da expansão da máquina capitalista e sua certa justificação teórica” (p. 38), textos mais tardios propuseram uma compreensão mais sensível e objetiva dos diferentes mundos. Dois objetos de preocupação dos dois filósofos seriam exemplares: 1) a comuna russa, da qual se tratou no artigo de Engels e nas cartas trocadas por Marx com a ativista russa Vera Zasulich (1849-1919); 2) a assim chamada liga dos iroqueses (grupo indígena habitante do subcontinente norte-americano), conhecida por meio da leitura que Marx fez de obras como a do antropólogo estadunidense Lewis Morgan (1818-1881), estudo que resultou na redação de seus Ethnological notebooks (1880-1882), publicados somente oitenta e nove anos após sua morte. Em ambos os casos, interessava-lhes sobremaneira (a Engels e a Marx) os modos de apropriação coletiva do recurso fundiário e suas implicações no que diz respeito à “diversidade dos caminhos do desenvolvimento histórico dos povos” (p. 61). Ou seja, formações sociais distintas (com ou sem classes, assentadas em apropriação privada ou comunal do solo) foram percebidas pelos dois filósofos como contemporâneas e, acrescenta Tible, “simétricas”, uma vez que ambos não mais as encaravam sob a arrogância e a superioridade do pensamento etnocêntrico europeu.
O autor realizou ainda uma leitura detida de outros textos de Marx – dentre eles, a Crítica da filosofia do direito de Hegel (1843), A questão judaica e os Manuscritos econômico-filosóficos (1844), A guerra civil na França (1871) e a Crítica do Programa de Gotha (1875) -, destacando as conclusões ali contidas sobre a temática do Estado (capítulo 2). Indica haver em seu conjunto um movimento de transição de uma concepção democrático-radical do Estado como instância superior aos conflitos sociais e seu mediador, para um entendimento (fortemente marcado pelos eventos de 1848) do Estado como instrumento burocrático e repressivo de dominação de classe e, finalmente, do Estado como uma órgão político que, ao mesmo tempo, condiciona e viabiliza o funcionamento do sistema de valorização e acumulação de capital, sendo essa última percepção apontada na longa crítica marxiana da economia política, cujo resultado foi a redação inacabada de O capital. Dessa mudança de abordagem derivaria a necessidade de abolição e superação da forma política estatal, o que Tible caracteriza como “ímpeto antiestatista marxiano” (p. 103), tornado ainda mais preciso nas polêmicas de Marx com Mikhail Bakunin (1814-1876) e Ferdinand Lassalle (1825-1864).
O paralelo com o pensamento de Clastres advém, de acordo com Tible, do combate que esse antropólogo francês moveu contra a caracterização das “sociedades primitivas” como sociedades incompletas, marcadas pela ausência de tal ou qual elemento próprio da cultura ocidental (classes sociais, poder político, hierarquias, Estado). Sua antropologia política sugere que as sociedades indígenas não despossuem o Estado – enquanto poder transcendental separado da própria sociedade – por desconhecê-lo, mas sim por recusá-lo ativamente. Assim, mecanismos desenvolvidos a partir de sua base teriam por princípio manter o tecido social indiviso, impedindo o surgimento de autoridades cujas forças eventualmente poderiam se voltar contra os indivíduos horizontalmente organizados. De um lado, chefes locais com poderes limitados mediariam a paz social por meio da oratória e seriam permanentemente vigiados pela própria tribo a que servem. De outro, os conflitos bélicos seriam orgânicos aos grupos por assegurarem sua fragmentação e multiplicidade. Por último, as relações de parentesco e o universo mítico, reproduzidos com base no ideal de reciprocidade, manteriam uma coesão social incompatível com a emergência de um poder coercitivo verticalizado.
A relação entre Marx e Clastres não está dada pelo fato de ambos compartilharem alguma forma de “aversão” pela instituição estatal. Para interligá-los Tible recorre ao entendimento, buscado em Mil Platôs (1980), de Gilles Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari (1930-1992), de que o Estado e sua violência precederam a acumulação capitalista, sendo ele o responsável pelo engendramento das classes, e não o contrário. Marx e Clastres convergiriam, pois, “na compreensão do Estado como unificação e transcendência e em seus elos decisivos com a exploração” (p. 147). Assim, o Estado capitalista visto sob a ótica de Marx e o perigo latente do Estado nas sociedades indígenas lido sob a lógica de Clastres estariam identificados, tornando os entendimentos dos dois autores análogos e complementares entre si.
As explanações teóricas ganham materialidade quando estão baseadas em situações históricas concretas. Seguindo esse caminho (capítulo 3), o autor passa a estudar algumas “formas” de organização política antagônicas ao Estado, da maneira como se apresentaram a Karl Marx em alguns de seus escritos. A “forma-comuna” e seus conselhos populares, conhecidos pelo aparecimento da Comuna de Paris em 1871 na França, teria exercido grande influência sobre Marx, que a considerou uma evidência do teor de classe do Estado e da necessidade de os trabalhadores tomarem-no para seus próprios fins, o que deveria corresponder, por consequência, à sua supressão. A “forma-confederação”, observada a partir da liga dos iroqueses, reuniria diferentes tribos autônomas e independentes em um conselho em que todos os adultos teriam igual participação, e nesse ponto teriam se inspirado nos republicanos estadunidenses à época da redação de sua primeira constituição (p. 156). A “forma-conselho”, por sua vez, elemento comum às comunas e confederações, estaria também por trás da Organização Regional dos Povos Indígenas da Amazônia (Orpia), sistema intercomunitário e horizontal do qual participam os Yanomami ainda hoje e ao qual eles recorreram em 1994 pela anulação de uma lei que dividia arbitrariamente seu território.
O autor compreende o pensamento de Davi Kopenawa com base nas circunstâncias históricas em que foi gerado (contato relativamente recente dos Yanomami com o “homem branco”, e junto dele suas doenças e mercadorias; presença predatória de garimpeiros na Amazônia desde a década de 1970; esforços pelo ato de demarcação da terra Yanomami, concretizado em 1992). Fruto de uma trajetória singular como intérprete da Funai vindo de um grupo dizimado por epidemias, Kopenawa “articula categorias brancas e indígenas, pois conjuga experiência com os brancos e firmeza intelectual do xamã” (p. 165). Seu discurso, registrado em conjunto com o antropólogo francês Bruce Albert na obra La chute du ciel (2010), apresentaria uma floresta habitada por xapiripë – espíritos verdadeiramente possuidores da floresta e responsáveis por sua ordenação cosmológica e ecológica. A exploração predatória promovida pela atividade garimpeira seria responsável pela emissão de um vapor visto como causador das novas doenças, a xawara, além do próprio aquecimento global.
Segundo Tible, a indistinção entre natureza e cultura subjacente no pensamento de Kopenawa, interpretado com base na obra de Eduardo Viveiros de Castro, evidencia um perspectivismo assentado sobre alteridade, multiplicidade, diferença. Contra a cobiça do povo cujo pensamento se encontra “fixado nas mercadorias” (p. 167), teríamos então o sistema relacional de reciprocidades Yanomami. Finalmente, a dialética materialista de Marx, que também compreendia natureza e sociedade como totalidade relacional (sua concepção da categoria “produção” seria esclarecedora nesse sentido), é apresentada como outro elemento de aproximação da visão de mundo e da orientação social indígena, sendo ambos (Marx e Kopenawa, no caso) igualmente dotados de críticas profundas à sociedade mercantil, ao capitalismo propriamente dito.
Concepção e defesa de formas coletivas de apropriação dos recursos produtivos; posturas combativas diante do Estado e pela organização autônoma da “forma-conselho”; crítica latente do mundo das mercadorias e de sua ideologia. Tais são, portanto, os elementos sugeridos por Jean Tible para “interpelar” (o termo é várias vezes repetido) o pensamento marxiano com os problemas próprios das sociedades indígenas americanas. O livro termina com uma remissão à antropofagia de Oswald de Andrade, propondo-a como “chave”, “ponte” e “catalizador” (p. 204-5) do diálogo entre as duas realidades (marxista e indígena – “deglutição” da primeira pela segunda e vice-versa) e suas correspondentes visões de mundo.
As conclusões do autor nem sempre coincidem com o desenvolvimento real de suas análises e, por vezes, falta alguma dose de rigor. Por exemplo, depois de apresentar diversas evidências de que a obra de Marx conteve sensibilidade contínua pelas sociedades não europeias, embora esse aspecto apenas tardiamente tenha sido ampliado e adquirido consistência teórica, Tible prossegue suas considerações afirmando que Marx tinha “dificuldades” em “apreender as sociedades ‘outras'” (p. 122). De maneira correlata, oferecendo claros indícios de que o “antiestatismo” de Marx foi produto de um fazer-se teórico constitutivo e de longa duração, o autor vacila ao tratá-lo ora como fruto de um “deslocamento” (p. 69), ora como um “continuum” de toda sua obra (p. 92). Isso ocorre porque o autor prende-se muito a interpretações oferecidas por fontes secundárias (isto é, por outros comentadores), cujas conclusões na realidade são, muitas vezes, superáveis pelos próprios resultados de sua investigação.
Também se observa um demasiado isolamento de trechos e parágrafos das obras de Marx e Engels para depois examiná-los, levando pouco em conta a maneira pela qual as breves e, por vezes, incertas referências aos povos não europeus e ao Estado se articulam com desenvolvimentos filosóficos e epistemológicos de maior alcance.
Ademais, a aproximação feita de Marx com Pierre Clastres se baseia exclusivamente na postura antagonista que ambos exerceram com relação ao Estado em seus escritos. Se, como o próprio autor recorda, os dois teóricos tiveram motivações diferentes, utilizaram categorias explicativas e procedimentos analíticos distantes (incluindo suas divergentes concepções de Estado), e adotaram posturas teóricas e metodológicas incongruentes, a simples aversão comum ao Estado não basta para que disso concluamos que ambos são compatíveis apesar de suas claras diferenças. Com isso, não me refiro ao fato de Clastres ter se mostrado, a partir de determinada fase da vida, um antimarxista assíduo em suas polêmicas, mas sim por sua antropologia política divergir diametralmente do materialismo histórico e sua noção basilar de “totalidade dialética”.
Isso fica evidente no produtivo debate travado entre Clastres e os antropólogos marxistas franceses durante a década de 1970 e início da seguinte, entre os quais estavam Claude Meillassoux (1925-2005), Maurice Godelier (1934-) e Emmanuel Terray (1935-). Causa surpresa que Tible, ao buscar estabelecer uma aproximação entre antropologia e marxismo, não tenha o cuidado de problematizar os textos daqueles que se afirmaram como adeptos de uma antropologia marxista, hoje praticamente abandonada. Com exceção de três citações isoladas (p. 26, 68 e 122), foram vagamente lembrados como “certos autores marxistas” (p. 123 e 132), aceitando sempre a rejeição de Clastres, sem maiores esclarecimentos.
A contenda, fortemente marcada pelos eventos de maio de 1968, desenrolou-se em torno de dois flancos principais. De um lado, a questão do surgimento do Estado nas sociedades humanas em geral. De outro, a separação ou junção das relações materiais de existência social com suas expressões simbólicas, políticas e culturais – em outras palavras, em torno do uso e os limites dos vocábulos “infraestrutura” e “superestrutura” para a descrição da vida humana em sociedade.
Em L’idéel et le matériel (1984), obra que reflete esses debates e a eles de alguma forma responde, Godelier resolve o problema defendendo a ideia de que a distinção entre infraestrutura e superestrutura não pode ser entendida como uma separação de instituições, tampouco de instâncias ou esferas da vida humana, mas sim de “funções”, já que na maior parte das sociedades até agora conhecidas, o parentesco, a religião e a política puderam perfeitamente ser considerados aspectos predominantes em detrimento dos puramente “econômicos”, mas isso só ocorreria porque religião, parentesco e política nessas sociedades “funcionam” como instrumentos e parâmetros de organização das relações materiais, individuais e coletivas, necessárias à sobrevivência física dos homens. Nesse quadro, o Estado surgiria de um acordo tácito entre dominantes e dominados pela instituição das hierarquias com vista a pautar a coleta e a redistribuição dos recursos produzidos sob critérios imateriais coletivamente compartilhados.2
Seguindo essa ótica, percebe-se a impropriedade da antropologia política de Clastres ao propor “que a infraestrutura é o político e a superestrutura é o econômico”,3 contradizendo sua própria defesa da não autonomia das esferas (ou “fato social total”) nas assim chamadas sociedades primitivas. O paralelo de Marx com Clastres aparece, então, desafinado e muito aquém do contato sugerido por Tible entre o mesmo pensador alemão e o Yanomami Davi Kopenawa, aproximação muito mais frutífera e convincente, mas que infelizmente foi menos desenvolvida em Marx selvagem. Pelo viés da crítica à sociedade de mercado, o pensamento indígena talvez prescindisse de qualquer mediação teórica, já que, como o próprio Tible demonstra em seu livro, materialismo histórico e cosmopolíticas ameríndias resultam, ambos, de antagonismos decorrentes da lógica e do modus operandi das relações capitalistas, tanto em seu centro geográfico quanto nas fronteiras, e que por tal razão apresentam resultados semelhantes ou, no mínimo, análogos.
Ao enfatizar o vínculo entre, de um lado, o pensamento dos autores estudados e, de outro, as necessidades, os fenômenos e as práticas sociais de suas épocas, Tible retoma uma concepção de práxis que não se detém em certos usos abstratos da noção de “agência”, que apartam determinados grupos de indivíduos do tecido social, deslocando-os parcialmente de seus contextos efetivos e das relações sociais em que se constituem. Aproxima-se, pela concretude da abordagem, de uma ideia de “experiência histórica” tal como empregada pelo historiador britânico E. P. Thompson (1924-1993), isto é: “pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e sua cultura“, agindo assim “sobre sua situação determinada”.4
Não obstante, algo fundamental de que carece Marx selvagem, e que não foi observado por nenhum dos comentários que se fez sobre o livro até o momento,5 é uma abordagem de teor histórico. Mesmo que não se deva cobrar de seu autor algo que não faz parte de sua proposta – trata-se de uma obra fundamentalmente teórica e conceitual – alguns parágrafos que fossem poderiam ter situado temporalmente a realidade indígena de hoje (bem como a dos iroqueses no século XIX e a dos Yanomami na década de 1990) nos processos de transformação pelos quais passaram os diversos grupos indígenas americanos ao longo dos últimos séculos, seja no que diz respeito às posturas e ações que sobre eles foram adotadas por outros, seja no que toca às transformações de suas próprias práticas, expectativas, interesses e perspectivas históricas ao longo do tempo.
Nesse sentido, não são aspectos indiferentes ao tema, por exemplo: a dinâmica dos primeiros contatos com os europeus; as formas de incorporação das populações indígenas nas distintas sociedades coloniais (sobretudo como força de trabalho, mas também por meio de trocas comerciais, parentesco, catequese e, em alguns casos, alianças políticas); seu lugar nos aldeamentos, reduções e outros espaços religiosos da América colonial; a política indigenista sob as reformas pombalinas e bourbônicas; suas condições jurídicas no Império brasileiro e nas repúblicas independentes sul-americanas; as condições que lhes foram colocadas pela modernização capitalista e as ditaduras militares do século passado etc., para ficar apenas em alguns tópicos recorrentes da literatura histórica recente.
Para finalizar, é preciso dizer que, no conjunto, o livro é instigante e merece ser lido não apenas por cientistas sociais, mas também por historiadores, pois oferece subsídios conceituais interessantes para finalmente compreendermos as populações indígenas, do passado e do presente, em sua condição de agentes sociais concretos, deixando de considerá-los ora como sujeitos passivos, ora como seres culturais abstratos. Ademais, o texto afina-se ao que Paulo Arantes nomeou de O novo tempo do mundo,6 primeiro porque compartilha do arsenal vocabular dos movimentos sociais recentes (“lutas”, “coletivos”, “simetria”, “agência” e mesmo, em sentido impreciso, “colonialismo”), depois, porque com ele associa e identifica situações históricas distantes no tempo e no espaço para assim mobilizá-las para a emergência social em uma era de expectativas decrescentes, o que deve constituir mais uma razão para que nós, profissionais do tempo histórico, consideremos o diálogo proposto.
1A publicação do livro rendeu ao autor entrevistas, lançamentos e debates em lugares como México, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, incluindo lançamento no lendário Teatro Oficina de São Paulo, com a participação de José Celso Martinez Corrêa e do filósofo Toni Negri, entre outros.
2Cf. GODELIER, Maurice. L’idéel et le matériel: Pensée, économies, sociétés. Paris: Fayard, 1984.
3CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. Tradução de Theo Santiago. São Paulo: Cosac Naify, 2013 [1ª ed. 1974], p. 215.
4THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 182.
5Cf., no próprio volume, Prefácio (Michael Löwy), orelhas (Peter Pál Pelbart), contracapa (Laymert Garcia dos Santos), Posfácio (Carlos Enrique Ruiz Ferreira) e Comentários sobre a obra (Sérgio Cardoso e Marcelo Ridenti). Além disso: ALBUQUERQUE, Hugo. Selvagens do Mundo, Uni-vos! Resenha de Marx selvagem, de Jean Tible. Lugar Comum. Rio de Janeiro: UFRJ, n. 42, 2014; DOMINGUES, Sérgio. Um Marx selvagem e uma esquerda domesticada. Disponível em: <www.diarioliberdade.org/opiniom/opiniom-propia/44977-um-marx-selvagem-e-uma-esquerda-domesticada.html>. Publicado em: 8 jan. 2014 e acesso em: 22 maio 2015; ARANTES, Marília. Marx selvagem, de Jean Tible: descolonização e antropofagia. Disponível em: <http://outraspalavras.net/blog/2014/05/16/marx-selvagem-de-jean-tible-descolonizacao-e-antropofagia/>. Publicado em: 16 maio 2014 e acesso em: 22 maio 2015; e RUBBO, Deni Alfaro. Resenha de: Jean Tible. Marx selvagem. In: Tempo Social, v. 27, n. 2, 2015.
6ARANTES, Paulo. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014.
Gustavo Velloso – Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: [email protected]; [email protected].
Literatura comparada. Reflexões – COUTINHO (A-EN)
COUTINHO, Eduardo. Literatura comparada. Reflexões. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: SILVA, Maurício. Alea, Rio de Janeiro, v.18 n.1, jan./apr. 2016.
Professor titular de Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e de diversas universidades estrangeiras, além de membro fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), Eduardo Coutinho publica em 2013 um livro que, de certo modo, é uma espécie de continuação do livro que publicou há dez anos (Literatura comparada na América Latina: ensaios), como o próprio autor lembra em seu prefácio. Privilegiando aspectos do comparatismo literário na segunda metade do século XX e no contexto da América Latina, Coutinho elenca alguns textos publicados anteriormente em revistas acadêmicas ou coletâneas de estudos teóricos sobre o tema. Pode-se dizer que são três os temas principais analisados e discutidos pelo autor nesse seu novo livro: 1. o comparatismo literário em geral e suas relações com áreas afins (crítica literária, historiografia literária, tradução etc.); 2. a relação entre a Literatura Comparada e o advento do pós-modernismo/pós-modernidade; 3. a presença da Literatura Comparada na América Latina, problematizando essa proximidade.
Em relação ao primeiro tema, Coutinho destaca – em “Literatura comparada: reflexões sobre uma disciplina acadêmica” (2013: 11-31) – o fato de que a Literatura Comparada tem como marca fundamental o conceito de transversalidade, tanto em relação à fronteira entre nações e idiomas quanto em relação aos limites entre áreas do conhecimento. Retoma, nesse sentido, alguns momentos do comparatismo literário, como o de Guyard (La littérature comparée, 1951), com o predomínio dos binarismos da Escola Francesa ou o de Pichois e Rousseau (La littérature comparée, 1967); como o de Owen Aldridge (Comparative literature, 1969), com uma perspectiva mais abrangente, relacionada à interdisciplinaridade, da Escola Americana ou o de Henry Remak (Comparative literature, 1961). Para o autor, a noção de transversalidade, contudo, se faz mais explícita na inter-relação da literatura com outras áreas do conhecimento, tendência que vem se ampliando cada vez mais atualmente. Trata-se, portanto, de uma das principais preocupações teórico-metodológicas dos pesquisadores da área, repercutindo, no presente, a contribuição dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais no campo do comparatismo, que desvia a ênfase no literário (ainda presente mesmo na Escola Americana) para outras áreas do saber: hoje, pode-se dizer, prevalece um sentido de interdisciplinaridade entre culturas.
Já em “Criação e crítica: reflexões sobre o papel do crítico literário” (2013: 99-108), Coutinho trata do papel e da natureza da Crítica Literária, afirmando que “é possível intuir-se até certo ponto a qualidade de uma obra, mas não estabelecerem-se critérios objetivos de avaliação” (2013: 101). Essa situação se torna mais evidente com questões trazidas pela pós-modernidade, levando a Crítica a “mergulha(r) em terreno pantanoso, sem parâmetros definidos” (2013: 104), resultando numa “espécie de relativização segundo a qual os critérios de avaliação passam a oscilar de acordo com o olhar adotado e o locus de enunciação do estudioso” (2013: 105). Reflexões análogas a esta o autor faz em relação à tradução, quando – em “Literatura comparada e tradução no Brasil: breves reflexões” (2013: 109-119) – lembra que a tradução vem sendo tradicionalmente considerada uma atividade secundária, situação que sofre significativa transformação com o advento dos Estudos Culturais, os Estudos Pós-Coloniais e a Desconstrução: a Tradução (ou o que passou a se chamar Estudos de Tradução) torna-se mais valorizada, destacando diferenças históricas e culturais, rompendo com a hierarquia entre o original e o traduzido: “dentro dessa perspectiva, traduzir se torna estabelecer um diálogo, e não apenas no nível linguístico, mas principalmente no nível cultural” (2013: 112); ou quando lembra – em “O comparatismo nas fronteiras do conhecimento: contradições e conflitos” (2013: 121-133) – que, ao contrário da lógica iluminista, a pós-moderna considera o conhecimento como algo instável, desqualificando a noção de fronteira e a compartimentação de saberes e valorizando noções como as de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e, finalmente, colocando em xeque o “privilégio concedido ao texto literário” (2013: 123) pelo comparatismo tradicional. Amplia-se, assim, a reflexão em torno da produção literária, incentivando suas relações extrínsecas com contextos históricos, sociológicos, psicológicos etc. e promovendo o diálogo com as demais disciplinas: “as fronteiras, embora tênues, que ainda marcavam o comparatismo foram amplamente esgarçadas, e a disciplina [Literatura Comparada], além de absorver elementos de outras e de prestar subsídios a suas elaborações, tem-se erigido como espaço de reflexão sobre a produção, a circulação e a negociação de objetos e valores, contribuindo assim de maneira decisiva para a esfera mais ampla dos Estudos de Humanidades” (2013: 127). Tem-se, desse modo, que os princípios tradicionais do comparatismo literário foi combatido pelos Estudos Culturais, além de ter muitos de seus pressupostos questionados pelos Estudos Pós-Coloniais.
Em relação ao segundo tema, o autor – em “Revisitando o pós-moderno” (2013: 33-58) – começa distinguindo pós-modernidade de pós-modernismo, nos seguintes termos: “encaramos a pós-modernidade como um fenômeno geral, uma Weltanschauung, que implica uma série de transformações no panorama cultural ocidental, e o pós-modernismo como um estilo de época, marcado por traços mais ou menos definíveis, que refletem tais transformações” (2013: 34). O autor se propõe a abordar esses conceitos no contexto latino-americano (em particular, no brasileiro), tendo como eixo da discussão a tensão entre identidade e diferença. Lembra, por exemplo, que o Modernismo, ao se opor à representação realista, instaura uma crise da representação, conferindo à obra de arte uma autonomia que a dissociava do contexto histórico e a destituía de preocupações fora da ordem estética, ligando-se à racionalidade. Após a Segunda Guerra Mundial, essa perspectiva começa a apresentar sinais de exaustão, e a partir dos anos 50-60 seus pressupostos começam a ser colocados em xeque pelo que, depois, se convencionou chamar de pós-modernismo. A obra de arte, então, deixa de ser modelar, rompendo-se a separação entre o erudito e o popular e revalorizando o contexto histórico: “partindo da consciência de sua condição de discurso e do reconhecimento de seu caráter histórico, o pós-moderno põe em xeque princípios como valor, ordem, significado, controle e identidade, que constituíram premissas básicas do liberalismo burguês, e se erige como um fenômeno fundamentalmente contraditório, marcado por traços como o paradoxo, a ambiguidade, a ironia, a indeterminação e a contingência. Desaparece, assim, a segurança ética, ontológica e epistemológica, que a razão garantia no paradigma moderno e o pós-moderno se insurge como o reino da relatividade” (2013: 40). E completando:
O fenômeno pós-moderno se revela justamente naquelas obras em que se vislumbra uma pluralidade de linguagens, modelos e procedimentos, e onde oposições como aquelas entre realismo e irrealismo, formalismo e conteudismo, esteticismo e engajamento político, literatura erudita e popular cedem lugar a uma coexistência em tensão desses mesmos elementos. Utilizando-se da paródia e de outros recursos técnicos desestabilizadores, o Pós-Modernismo desestrutura figuras e vozes narrativas estáveis e problematiza toda a noção tradicional de conhecimento histórico, pondo em questão ao mesmo tempo todas as instituições e sistemas que constituem as fontes básicas de significado e valor da tradição estética ocidental. (2013: 41)
Analisando o fenômeno do Pós-Modernismo historicamente, Coutinho lembra que, nos anos 1960, ele se afirma como um movimento de contestação e irreverência, ligando-se aos movimentos de arte pop e, de certo modo, revitalizando alguns movimentos de vanguarda e dando-lhes uma roupagem mais norte-americana; nos anos 1970 e 1980, o conceito se alia a uma visão mais crítica da realidade, para, nos anos 1990, a participação de minorias conferir-lhe um sentido próximo da então chamada literatura pós-colonial (e, também, dos Estudos Culturais), retomando, além disso, a questão da representação e do sujeito, fazendo com que o Pós-Modernismo adquira um sentido mais político, na medida em que passa a contestar toda sorte de etnocentrismo. Para o autor, no contexto latino-americano, o conceito de Pós-Modernismo remete, principalmente, à produção artística pós-segunda metade do século XX.
Finalmente, em relação ao terceiro tema, começa tratando – em “América Latina: o móvel e o plural” (2013: 59-67) – do termo América Latina, desde a chegada dos europeus associado à ideia de colonização e, na sequência, vinculado a processos de independência e de afirmação de identidades locais. A ideia passa por algumas ampliações semânticas, incluindo o Brasil e, posteriormente, a América Central, caráter mais inclusivo que vai se afirmando também com as novas correntes teóricas de reflexão acerca da cultura (Nova História, Estudos Culturais, Estudos Pós-Coloniais etc.).
Em “Transferências e trocas culturais na América Latina” (2013: 69-84), afirma que a Literatura Comparada, desde o início, surge “como um conceito relacional, ou, melhor, como o estudo das relações entre produções literárias distintas” (2013: 69), diferenciando-se das literaturas nacionais por ter como objeto “produtos literários, e por extensão culturais, distintos, caracterizando-se como o estudo dos contatos, trocas, intercâmbios e embates entre tais produtos, ou, para colocar em termos mais acadêmicos, como o estudo, mais ou menos sistemático, dos diálogos entre culturas” (2013: 70). Após uma fase de ênfase quase que exclusiva no texto literário (como se verifica na Escola Americana), o advento dos Estudos Culturais ressaltou, no âmbito do comparatismo literário, aspectos mais gerais da literatura, contribuindo para “situar a reflexão literária num âmbito mais geral que diz respeito à cultura de uma ou de várias sociedades” (2013: 71). Essa postura contribui significativamente para uma compreensão mais larga da realidade latino-americana, quase sempre vista numa dependência da europeia, prejudicando leituras que a pudessem contemplar como um “espaço distinto do eurocentrismo” (2013: 73). É o que propõem teorias como as de heterogeneidade cultural (Cornejo Polar), culturas híbridas (Canclini), heterogeneidade cultural heterônoma (Brunner), pós-ocidentalismo (Mignolo) e outras, novos modos e novas estratégias de leitura diante de um espaço cultural plural. Nesse contexto, o atual papel da Literatura Comparada (não, evidentemente, a tradicional, que aborda as relações a partir do modelo europeu) torna-se fundamental, no sentido de promover “um comparatismo que permita o contraste entre distintas práticas sociais discursivas procedentes de culturas diferentes que convivem em um mesmo espaço-tempo” (2013: 89). Trata-se, assim, de um comparatismo que reconhece a existência de práticas discursivas próprias de contextos colonizados; reconhece, portanto, o conhecimento produzido pelo outro: “trata-se, em última instância, de um comparatismo situado no contexto de onde olhamos, que, ao contrastar as produções locais com as provenientes de outros lugares, instaure uma reciprocidade cultural, uma interação plural, que induz conhecimento a partir do contacto com outras culturas” (2013: 83).
Já em “Cartografias literárias na América Latina: algumas reflexões” (2013: 85-108), o autor afirma que a nova historiografia literária vem procurando formular um “discurso fundamentalmente plural, heterogêneo, representado por múltiplos sujeitos, que dê conta da diversidade dos universos representados” (2013: 86), desafiando os historiadores literários a produzir um relato inclusivo. Assim, o discurso nacional contemporâneo precisa ser um espaço de negociação e conversação pelos sujeitos que compõem o cenário da nação, sendo colocada em suspeição a ideia de uma versão oficial e única dos fatos. No âmbito da historiografia literária, portanto, “a busca da construção de uma história democrática da produção literária de uma nação [deve] passar necessariamente pelo questionamento [do] cânone [oficial], sobretudo com seus vieses excludentes e elitistas” (2013: 87). Nesse processo de redimensionamento da historiografia literária, os Estudos Culturais desempenham papel relevante, incluindo entre as preocupações daquela dos discursos e saberes, ultrapassando as fronteiras do que até então era considerado literário: “agora, ao lado do exame do texto, bem como dos gêneros, estilos e topos, que por tanto tempo alicerçaram as obras de História da Literatura, torna-se relevante também a análise do campo em que se produziu a experiência literária, e o contexto de recepção da obra é tratado com a mesma importância do de produção” (2013: 89). Nesse novo contexto, o discurso da historiografia literária passa a ser visto como uma construção: “Como são muitos os sujeitos sociais que passam a narrar a história, e esses sujeitos procedem de origens distintas, o idioma canônico deixa de ser a única forma de expressão de uma determinada comunidade, passando a aceitar outras linguagens, e rompendo-se, assim, com toda sorte de visão monolítica do real” (2013: 90). Nesse contexto ainda, em que a episteme pós-moderna coloca em xeque os discursos autoritários, a historiografia literária vem adquirindo uma nova face, que se organiza tanto no eixo temporal (substituindo uma noção de progressão/evolucionismo pela de simultaneidade) quanto no espacial (considerando regiões culturais até então excluídas do cânone), além de um alargamento das formas literárias, incorporando algumas tradicionalmente excluídas da historiografia (como o corrido mexicano ou o cordel brasileiro).
Por fim, em “Velhas dicotomias que se enlaçam: voz/letra, público/privado no universo latino-americano” (2013: 135-145), o autor trata, entre outras coisas, da reverência à cultura letrada no processo de colonização da América Latina (“A palavra falada, a voz, pertencia ao reino do inseguro e do precário; e a escritura, ao contrário, possuía rigidez e permanência, um modo autônomo que arremedava a eternidade”, 2013: 138).
Pode-se dizer que seu livro é uma consciente e bem fundamentada apologia dos ganhos e achados oferecidos ao comparatismo literário – em vários de seus níveis de atuação prática – pelas novas teorias que, na contemporaneidade, recebem a designação de Estudos Culturais e Pós-Coloniais e abordagens congêneres, dentro do que o autor chama de episteme pós-moderna.
Mauricio Silva possui doutorado e pós-doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade de São Paulo. Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação, na Universidade Nove de Julho (São Paulo), é autor dos livros A Hélade e o Subúrbio. Confrontos Literários na Belle Époque Carioca (São Paulo, Edusp, 2006); A Resignação dos Humildes. Estética e Combate na Ficção de Lima Barreto (São Paulo, Annablume, 2011), entre outros. É organizador da coleção de Literatura Brasileira Contemporânea, pela Editora Terracota, atualmente com três títulos publicados. Endereço para correspondência: Rua General Rondon, 44 – Ap. 10 – São Paulo – SP – 01204-010. E-mail: [email protected].
[IF]
Jan Hus – cartas de um educador e seu legado imortal – AGUIAR (RBHE)
AGUIAR, T. B. Jan Hus – cartas de um educador e seu legado imortal. São Paulo: Annablume; Fapesp; Consulado Geral da República Tcheca, 2012. 444 p. Resenha de: NASCIMENTO, Renata Cristina de Sousa. Cartas de Jean Hus: Indícios de uma intenção educativa. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 15, n. 2 (38), p. 309-314, maio/ago. 2015
Partindo da proposta epistemológica de Carlo Ginzburg (1989), no ensaio Sinais: raízes de um paradigma indiciário1, Thiago Borges de Aguiar procurou, em sua pesquisa, conhecer e interpretar a ação educativa de Jan Hus, pregador e importante intelectual, que viveu na Boêmia e morreu condenado pela inquisição em 1415. Ele procura os indícios de um educador, que esteve presente através de suas cartas. “Destas chegaram até nós cerca de uma centena, escritas no período de 1404 a 1415, com aproximadamente 80% em latim e o restante em tcheco” (AGUIAR, 2012, p. 39). Em que sentido essa documentação pode expressar a perspectiva educativa de Hus? É preciso ter em mente que a análise de fontes narrativas, como as cartas, sofre a interferência de nossos padrões conceituais, nem sempre compatíveis com a realidade em que foram concebidas. Presente, pois, esta ‘recomendação metodológica’, de aproximação com o passado medieval, dentro do que é possível ao pesquisador de hoje, o autor buscou por meio de dados, aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa, seguindo pistas que poderiam elucidar a rede de relações em que o clérigo boêmio estava inserido, e o discurso educativo presente em seus escritos.
A primeira edição da correspondência de J. Hus foi realizada no século XVI, pelo reformador Martinho Lutero, intitulada Epistola Quadam Piissima et Eruditissima Iohannis Hus. Outras edições foram publicadas seguidamente. Destas Aguiar trabalhou diretamente com duas: a que chamou Documenta, editada por Frantisek Palacký no século XIX, e a outra Korespondence, publicada em Praga em 1920 por Václav Novotný. Tanto o Documenta quanto a Korespondence possuem traduções para o inglês. Grande parte das cartas foi escrita na prisão, no período em que Hus esteve cativo na cidade de Constança. Como a publicação de Lutero foi a precursora da preservação da correspondência, é preciso considerar que parte delas pode ter sido perdida.
O autor analisa a forma de se escrever cartas no século XV, destacando que, nessa época, o manuscrito deixou de ser um objeto quase sagrado, tornando-se um veículo de transmissão do saber. Essa mudança foi notória a partir do século XII com a organização das universidades. Outra importante transformação narrativa foi o aumento significativo da escrita pessoal, privada. Em relação à correspondência hussita, partes dessas cartas também podem ser consideradas pastorais, endereçadas a uma comunidade específica, ou seja, aos praguenses, especialmente os que frequentavam a Capela de Belém, espaço de pregação e vivência direta do clérigo boêmio. Outra parte considerável, um total de 107, é constituída por cartas pessoais que esperavam por resposta. Nessas fontes, o autor procurou indícios de uma intenção educativa em Hus, pois ele correspondeu-se com todas as camadas sociais da época. “Hus era professor da Universidade de Praga e pregador da Capela de Belém. Esses dois lugares marcaram os espaços a partir dos quais ele participou de uma rede de relações, por meio da correspondência.” (AGUIAR, 2012, p. 97). Suas cartas são consideradas pelo autor como artifícios de ensino. Nelas teria a intenção de aconselhar; continuar seu trabalho intelectual; elaborar uma refutação às diversas acusações que lhe foram imputadas; defender a verdade; dar continuidade à sua tarefa pastoral. A produção escrita de J. Hus é imensa, incluindo, além das cartas, diversos sermões, textos devocionais e teológicos. Entre estes, o mais conhecido e discutido no âmbito acadêmico é o Tratado sobre a Igreja (Tractatus de Ecclesia). Nesse texto, afirmou que o pontífice não seria o chefe da Igreja Universal, motivo fulcral em sua condenação à morte como heresiarca, pelo Concílio de Constança no século XV. Uma característica de seus escritos é o uso da língua tcheca e não somente do latim. Devido a isso, sua produção também possui grande valor linguístico. Na busca pelo educador, o autor afirma que Hus realizou ação educativa por meio de sua produção escrita e de seus sermões. Em sua feroz oposição à Bulla indulgentiarum Pape Joannis XXIII, construiu parte de sua argumentação por intermédio de seus sermões na Capela de Belém, e de debates realizados na Universidade de Praga, o que lhe valeu, mais uma vez, a excomunhão2. Outra aproximação discursiva é com Paulo de Tarso. Assim como Paulo, Jan Hus educava por meio de cartas, escrevendo por estar distante. Nelas também afirmava que poderia morrer por defender a verdade, assim como Cristo o fizera. “Ele precisa escrever para pregar e defender seus princípios” (AGUIAR, 2012, p. 168). Parte importante da produção das cartas hussitas, segundo o autor, foram suas narrativas de viagem. Em agosto de 1414, o clérigo da Boêmia anunciou sua decisão de aceitar o convite do rei Venceslau e ir à Constança. Em seu trajeto, enviava cartas detalhadas sobre as cidades pelas quais passava, e a forma como era recebido. Com sua prisão em Constança, seu estilo de escrita sofreu alterações. Aguiar analisa, então, como os temas prisão e morte tornaram-se constantes em sua correspondência. Sua concepção de ensino adquiriu, ainda mais, um viés religioso. Ao escrever ao povo da Boêmia, enfatizava a importância da salvação e do louvor a Deus.
Thiago Aguiar oferece importante contribuição de cunho histórico, quando analisa as cartas enviadas a partir do dia 18 de junho de 1415, data da formulação final da sentença de morte na fogueira. “Neste período entre 18 de julho, quando recebeu a versão final de suas acusações, até 6 de junho, quando ocorreu seu julgamento, condenação e morte, encontramos vinte e cinco cartas escritas por Hus” (AGUIAR, 2012, p. 205). Nestas narrou pormenores de seu julgamento e a impossibilidade de defesa, criticou a desorganização do Concílio, a incompetência e fragilidade intelectual de seus adversários. Elas serviram também como possibilidade de se defender, já que não obteve em Constança espaço real para explicar seu pensamento, expresso em seus escritos. Essas fontes singulares revelam a memória de seus últimos dias e sua convicção de luta pelo que considerava verdade.
Na terceira parte do livro, o autor desenvolve o que chama de construção de um educador por seu legado. Neste âmbito, demonstra como aqueles que foram influenciados por Hus reelaboraram seu legado em diferentes épocas e contextos. Um dos primeiros biógrafos de Hus foi Petr de Mladoñovice, também responsável pela preservação de suas cartas. Mladoñovice foi seu aluno na Universidade de Praga, tendo sido escolhido pelo nobre Jan de Chlum, a quem Hus dirigiu parte de sua correspondência, para acompanhar o clérigo da Boêmia até Constança. Após a morte de Hus, tornou-se professor na Universidade de Praga, assumindo aos poucos papel de destaque entre os Utraquistas3. Seu relato sobre J. Hus é intitulado Historia de sanctissimo martyre Johanne Hus4, primeiramente publicado em Nuremberg em 1528, também por influência de Lutero. Como o próprio nome revela, essa narrativa foi fundamental na construção de Hus como mártir. O mártir defensor da verdade. “Preservar a memória e a verdade por meio do fiel registro do que aconteceu durante o Concílio de Constança foi uma intenção e pedido do próprio Hus” (AGUIAR, 2012, p. 248). Em suas cartas, sempre repetia que não era um herege, e sim um defensor do que era a verdade. Petr de Mladoñovice é o responsável pela divulgação do que a tradição diz que seriam as últimas palavras do mestre Hus: “Tem piedade de mim, ó Deus, eu me abrigo em ti” e “[…] em tuas mãos eu entrego meu espírito”. Uma clara analogia aos últimos momentos da crucificação de Cristo, narrada no evangelho de São Lucas.
A partir da página 274, Aguiar passa a construir o trajeto da expansão da memória de Hus além de sua terra natal, ou seja, a Boêmia. Mesmo com as cinco cruzadas enviadas a essa região, após a eleição do papa Martinho V em 1418, a memória da vida e do sacrifício de Hus, e de seu companheiro e principal discípulo Jerônimo de Praga, também condenado à morte na fogueira em Constança, não parou de crescer. A igreja da Morávia, de influência hussita, é resultado do grupo conhecido como União dos Irmãos. Jan Amós Comenius (1592-1670), destacado educador, foi um de seus mais famosos bispos.
Sem dúvida, o mais importante divulgador do legado de Hus foi Martinho Lutero (1483-1546). Leitor dos escritos hussitas, ele o considerava um verdadeiro cristão. Foi, como já afirmado, o primeiro a publicar suas cartas. Essa divulgação da memória escrita de Hus ocorreu justamente na época do Concílio de Trento (1545-1563), claramente como uma advertência contra a injustiça. Os elogios de Lutero a Hus elaboraram, ao longo do tempo, outra imagem desse personagem, para além de mártir e defensor da verdade: a de precursor do protestantismo, ao lado de John Wycliffe (1328-1384). Lutero afirmou, no prefácio à segunda edição das cartas, que se Hus tivesse sido um herege, ninguém sob o sol poderia ser visto como verdadeiro cristão. Outro escritor protestante que contribuiu para a rememoração de Hus, como precursor reformista, foi John Foxe, que viveu na Inglaterra ainda no século XVI. Aguiar analisa a importância desse autor, entre outros, na introdução do pensamento hussita entre os protestantes. Foxe foi um dos primeiros a traduzir para o inglês os primeiros escritos sobre Hus, sendo também autor do Livro dos Mártires.
Na discussão sobre as traduções da obra de Hus, o autor diz que “[…] cada nova publicação das cartas de Hus é uma nova leitura, acrescentando interpretações e propondo mudanças na compreensão desta correspondência” (AGUIAR, 2012, p. 288). Na França, destaca a figura de Émile de Bonnechose (1801-1875), que publicou, em sua época, dois importantes livros sobre Hus. Entre eles, a biografia intitulada “Os Reformadores Antes da Reforma: Século XV”. Nessa obra, aparece uma nova imagem dos hussitas, como defensores da liberdade de consciência. O contexto da França revolucionária e anticatólica foi fundamental nessa nova reelaboração. Outra contribuição de Thiago Aguiar foi a apresentação de grande parte da historiografia tcheca sobre a reforma na Boêmia. Para ele, “[…] existiram muitos Hus, dependendo da época que se escreveu sobre ele” (AGUIAR, 2012, p. 301). As fontes são as mesmas, mas cada historiador reconstruiu o próprio personagem.
Outro destaque é o uso da figura de Hus como símbolo nacional, representação identitária para o povo tcheco. O nacionalismo do século XIX e a luta pelo fim da anexação ao Império Austro-Húngaro contribuíram para a rememoração do legado desse personagem. As várias mudanças políticas no mapa da região, a criação da Tchecoslováquia e da futura República Tcheca buscaram também em J. Hus uma simbologia, revelando a longa duração do imaginário sobre ele. Essa busca pelo Hus histórico o recriou através de um discurso laudatório e até apologético. Em relação à área da educação, ele também foi visto como o educador da nação tcheca. Outro viés do legado do clérigo da Boêmia foi a construção de sua primeira estátua em 1869 e de seu memorial em 1915. Por fim, o autor procura, no legado imagético de Hus, sua herança cultural. Dividindo a análise em rostos e cenas, Aguiar faz uma rápida discussão sobre algumas representações escultóricas, desenhos, gravuras e imagens construídas desde a idade média. Entre elas, destacou as de mártir, santo, intelectual pregador e defensor da verdade. Percebe-se a inter-relação da narrativa escrita com a imagética. De que maneira Hus é lembrado nos dias de hoje? É importante sua contribuição na área da educação?
Como um personagem é uma construção contemporânea, o livro em análise pode ser visto como um novo olhar, uma nova leitura sobre o clérigo da Boêmia, garantindo uma contribuição da historiografia brasileira, por meio de Thiago Aguiar, na rememoração e reconstrução discursiva de Hus, um indício de seu legado imortal.
Notas
1GINZBURG, C. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
2O papa enviou a sentença de excomunhão maior, que foi tornada pública em 18 de outubro de 1412.
3 Utraquistas é um dos nomes atribuídos ao grupo dos Hussitas, posteriores à morte de Jan Huss, que defendiam o oferecimento da comunhão com o pão e com o vinho (sub utraque specie) também para os
leigos. O utraquismo foi condenado como heresia pelos Concílios de Constança, Basiléia e Trento (AGUIAR, 2012, p. 245).
4 O relato de Petr foi publicado na Boêmia apenas em 1869 por Palacký, sendo posteriormente revisto, a partir de novas fontes, em 1932 por Novotný. Esta última edição é base para a tradução de Matthew Spinka em 1965. Essa versão é a que foi utilizada pelo autor (AGUIAR, 2012).
Renata Cristina de Sousa Nascimento – Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Participante do NEMED (Núcleo de Estudos Mediterrânicos – UFPR). Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Mestrado em História). E-mail: [email protected]
O lugar da geografia brasileira: A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro entre 1883 e 1945 – CARDOSO (VH)
CARDOSO, Luciene P. Carris. O lugar da geografia brasileira: A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro entre 1883 e 1945. São Paulo: Annablume, 2013. 240 p. MARTINELLO, André Souza. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 56, Mai./ Ago. 2015.
É quase senso comum ver disciplinas vizinhas dialogarem pouco, pelo menos sobre a tradição que já tiveram. Mas existem tentativas de aproximação da História e da Geografia, como a obra de Luciene P. Carris Cardoso. Essa historiadora publicou pela editora Annablume partes da sua dissertação de mestrado e da tese de doutorado. Trata-se de um trabalho acadêmico com relevante atenção aos detalhes, e sem perder o contexto maior: concepções “pré-geográficas” antes da institucionalização formal da Geografia.
Entre suas contribuições está recolocar em discussão as ações de institutos e indivíduos que adensaram os debates sobre determinadas áreas das ciências, antes de conquistarem legitimidade. Anteriormente à criação de Universidades, das Faculdades de Educação e, com destaque, antes mesmo dos Departamentos e cátedras de Geografia (e/ou História pois, quase sempre, inicialmente eram um só curso), houve sim, um profundo e permanente debate de uma – com o perdão da expressão – “proto-Geografia” brasileira ou “Pré-disciplina”. Nesse livro, percebem-se saberes geográficos de várias tendências se constituindo, antes da disciplina Geografia formalmente existir. E a disciplinarização, a criação dos cursos de formação de professores e bacharéis, enfim, da ciência geográfica em geral foi, de início, extremamente influenciada por essa Sociedade aqui estudada.
A partir do caso da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro/SGRJ fundada no Império (fortemente apoiada pela Coroa e parte influente da Corte), em 1883, seguem-se ideias de pessoas que pensavam a Geografia como central para o País. O recorte do trabalho vai até o final de 1945 quando a Sociedade alterou seu nome e passou a ser Sociedade Brasileira de Geografia. Vários pontos marcam a obra, entre eles, a passagem e conferência na SGRJ do renomado geógrafo francês Elisée Réclus, assim como Marechal Candido Rondon e demais intelectuais, burocratas, estadistas, ídolos ou heróis daquela Sociedade (tal como o Imperador D. Pedro II e Getúlio Vargas, para ficar em exemplos de governantes), entre outros. A maneira metodológica de organização das fontes que Cardoso utilizou para construir seu texto é didática, seguindo uma certa ordem cronológica. O estudo nos apresenta uma profunda relação entre formas de se pensar a(s) Geografia(s) e o Poder(es), a partir do papel daqueles indivíduos membros filiados que constituíram a Sociedade, seja a produção de reuniões, materiais e temas de interesses, suas publicações, a Geografia como instrumento para o Estado, para o nacionalismo mas também, para os próprios sujeitos que mobilizavam tal Sociedade para proporem e realizarem políticas, ideias e visibilidade de opiniões pessoais.
Das documentações mais presentes no livro estão as publicações e atas de reuniões da SGRJ, com as quais a autora consegue também constituir parte da trajetória biográfica de pessoas que pertenceram a essa Sociedade, justamente a partir dos textos publicados pela SGRJ. Além de certa periodicidade de publicações, do usos de Anais de Eventos, o livro aponta alguns papéis ocupados por figuras-chave na compreensão de tal Sociedade, seus interesses, dos discursos e “ideologias geográficas” (essa última expressão de Antonio Carlos Robert Moraes, autor que apresenta a primeira capa a “orelha” do livro) da SGRJ. Não foi por mera coincidência que um (ex-)chanceler, por exemplo, foi presidente daquela Sociedade. A própria escolha das sedes das cidades para realização de eventos da SGRJ, também é outro exemplo da existência de acordos entre os membros, pois os encontros e congressos organizados pela SGRJ não eram “escolhas imparciais”, mas desejos de seus membros e questões candentes com a época.
Quero chamar atenção para a 9ª reunião Nacional de Geografia – e me toca pessoalmente tal exemplo por ter sido a sede a antiga Faculdade de Educação, conhecida FAED, na qual me licenciei – evento realizado em Florianópolis, cidade escolhida em reunião da SGRJ, tema de um dos últimos capítulos do livro. A escolha da capital de Santa Catarina se deveu aos fatores do contexto geopolítico e nacionais da Segunda Grande Guerra pois, naquele ano de 1940, pensava-se a relevância da difusão de brasilidade via Geografia em um dos Estados do País com maior número e contingente de imigrantes alemães. Havia, portanto, como bem aborta a autora, uma “cultura geográfica do Estado Novo” na e pela SGRJ; e a escolha de realizar o evento em terras catarinenses refletiu um pouco aquele momento. Por outro lado, também a escolha de Santa Catarina para receber tal evento se deveu ao peso institucional do catarinense José A. Boiteux (1865-1934), ativo membro da SGRJ, idealizador do 1º Encontro dessa Sociedade ainda na “República Velha”. Portanto, a Nova reunião em Florianópolis foi uma forma de retribuição e homenagem póstuma a Boiteux. Destaca-se também a realização de trabalho de campo no Vale do Itajaí, coordenado pelo conhecido geógrafo francês – naquela época professor da USP – Pierre Monbeig.
Acredito que os leitores interessados nas discussões presentes no livro de Luciene P. Carris Cardoso serão constantemente surpreendidos com tantas valiosas informações discutidas na obra, e talvez sintam aquele gostoso prazer de re-ler o que acabou de ser lido. Esse trabalho realizado pelo espectro da História traz novamente a necessidade de continuação das trocas além dos departamentos e de maneira interdisciplinar, pois afinal, com esse livro conseguimos compreender “o lugar da geografia brasileira”, essa expressão que nomeia o livro que logo deverá ser leitura obrigatória e bibliografia de referência nos melhores cursos e centros de discussão de Geografia. É mais uma vez um bom momento para pensarmos os lugares possíveis da História e da Geografia no Brasil e os distanciamentos que ambas tomaram de si mesmas, podendo aprofundar com melhor qualidade os debates com a publicação sobre as histórias da Geografia brasileira e da Sociedade que “fundou” interpretações geográficas antes mesmo de existir uma Geografia stricto sensu.
André Souza Martinello – Laboratório de Geografia Política. Universidade de São Paulo. Av. Engenheiro Max de Souza 1327, ap. 102, Cond. São Gabriel, Coqueiros, Florianópolis, SC, 88.080-000. [email protected].
Catábases: estudos sobre as viagens aos infernos na antiguidade – SOUZA (RA)
SOUZA, Eudoro de. Catábases: estudos sobre as viagens aos infernos na antiguidade. São Paulo. Annablume Clássica, 2013. Resenha de: SERRA, Ordep José Trindade. Revista Archai, Brasília, n.14, p. 149-153, jan., 2015.
Um novo livro de Eudoro de Sousa, falecido em 1987, representa, sem dúvida, uma bela surpresa: a essa altura, já ninguém o esperava, mesmo porque não se tinha notícia segura de obra remanescente em seu espólio. Todavia, estudiosos dedicados descobriram textos inéditos do saudoso helenista, conservados graças ao zelo de seu discípulo Fernando Bastos (também já falecido) e da viúva deste. Trata-se de sumários de um célebre curso que Eudoro ministrou na década de 1960 (mais precisamente, em 1965) sobre “O tema do Inferno nas Literaturas Clássicas: das catábases Sumero-Acadianas até Dante Alighieri.”Destinado aos alunos do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, o curso assim intitulado atraiu ouvintes de diferentes unidades, como sempre acontecia quando se espalhava a notícia de que Eudoro de Sousa daria lições. O brilho de suas aulas irradiava-se no meio universitário, com frequência transcendendo o campus. E provocava sempre um efeito duradouro sobre seu público. Desde sua chegada à nova capital Eudoro fizera-se uma estrela da universidade nascente, um mestre que fascinava seu auditório. No entanto, mesmo levando-se em conta o sucesso que sempre alcançavam as preleções do mestre luso-brasileiro, pode-se dizer que o curso eudoriano sobre as catábases teve um impacto fora do comum. Merece o título de “lendário”que lhe deu Marcus Mota no Prefácio do livro em tela: permanece na lembrança dos que o assistiram e mesmo na memória de quem só teve ciência dele de forma indireta, pelo testemunho dos alunos privilegiados.
Quem esteve presente a essas aulas dificilmente as olvidará. Mais de meio século depois, eu as recordo muito bem. E me espanto ao dar-me conta de que ainda sinto o impacto de uma série de preleções que, a rigor, não se completou. Por motivo de saúde, Eudoro não chegou ao termo que tinha previsto: as últimas aulas desse curso foram dadas por José Xavier de Melo Carneiro, que na época concluía seu mestrado no Centro de Estudos Clássicos e, no papel de Instrutor, encarregou-se do comentário de textos selecionados pelo orientador. Por outro lado, também se pode dizer que o dito curso teve uma continuidade extra-curricular: prolongou-se em alguns dos seminários que Eudoro dirigiu no CEC, destinados ao pequeno círculo de professores e estudantes ligados de forma direta a este Centro, mas com a participação de ouvintes de variada procedência. Recordo-me de uma sessão que teve início com a leitura de um trecho da Divina Comédia, o Canto V do Inferno, por um professor italiano para isso convidado (o Professor Ivo Perugini). Nessa ocasião Eudoro nos brindou ricas lições sobre Dante e Virgílio. De certo modo, fez então o arremate que o curso sobre as catábases não tivera.
O presente livro, editado com capricho por Marcus Mota e Gabriele Cornelli, tem especial valor histórico. Registra um momento importante da acidentada saga da UnB, documenta um estágio muito rico da evolução das ideias de um pensador notável, opera o resgate de uma passagem brilhante da história dos Estudos Clássicos no Brasil. Os responsáveis por sua edição, ambos professores da Universidade de Brasília, brindam-na com o resgate de um luminoso fragmento de sua memória, que parecia perdido; fazem uma ponte entre o velho CEC e o Núcleo de Estudos Clássicos (NEC) de que ambos fazem parte. Eudoro de Sousa certamente ficaria feliz se pudesse saber que seu projeto afinal vingou e em sua Universidade dois destacados helenistas, de projeção internacional, trabalharam com afinco para reconstituir um seu precioso trabalho.
Como se sabe, o CEC foi brutalmente extinto por um interventor tacanho que ocupou a reitoria da UnB nos anos mais torvos da Ditadura. Por sorte, o projeto acalentado por Eudoro de Sousa de implantar os estudos clássicos no solo candango renasceu. Este livro mostra a consciência que têm os novos helenistas da UnB do valor de uma tradição preciosa, que de fato merecem capitalizar. Seu empenho em fazê-la reviver mostra que o NEC faz jus à legenda do CEC.
Começarei esta resenha dando notícia do curso que originou o livro em pauta, curso que tive o privilégio de assistir. Orgulho-me de ter colaborado, embora humildemente, com sua realização. Eudoro encarregou-me de fazer a tradução (do inglês) de dois textos extraídos do ANET, ambos reproduzidos no livro em apreço: o poema que é conhecido como último canto da Epopeia de Gilgamesh (mas na verdade vem a ser uma tradução acadiana de um poema sumério, anexada à epopeia) e o documento acadiano chamado “Uma visão dos Infernos”, uma espécie de catábase onírica. (Do mesmo tipo de apocalipse se encontra um belo exemplo na própria Epopeia de Gilgamesh: refiro-me ao “Sonho de Enkidu”, legível na Tábula V da “Versão Assíria”, texto nas edições modernas complementado por um fragmento hitita editado por E. F. Weidner em 1922). Já da “Descida de Inana”e da “Descida de Ishtar”foram usadas versões do próprio Eudoro, que já tinham sido publicadas, tempos atrás, na revista Diálogos. O mestre também me incumbiu de traduzir (do latim) o Canto VI da Eneida, determinando que o fizesse em prosa. Jair Gramacho, então mestrando e instrutor no CEC, traduzira em versos esse famoso Canto, procurando imitar o ritmo do hexâmetro virgiliano. Eudoro, todavia, queria uma versão em prosa, mais clara e “analítica”. Não a tenho mais, nem sei o que aconteceu com a de Gramacho. Que eu saiba, esta tampouco foi publicada.
José Xavier de Melo Carneiro fez para o mesmo curso uma tradução muito bonita do Canto XI da Odisseia. A tradução de Agostinho da Silva do Somnium Scipionis (famoso trecho do sexto livro do De republica de Cícero) foi utilizada em comentário, mas acho que não foi disponibilizada para os alunos em apostila. O estudo eudoriano sobre “Os dois cantos finais d’ Os Lusíadas à luz da tradição clássica”, que consta do Anexo II da publicação em exame, teve redação posterior; mas no curso Eudoro falou, sim, da epopeia camoniana.
É claro que esses Sumários não reproduzem na íntegra o curso a que se destinaram. Eudoro era um mestre muito criativo e suas aulas lhe serviam também para refletir em voz alta, amadurecer suas ideias, construir suas teses. Eram, a um tempo, exposição e estudo. Por outro lado, o projeto do curso não se encerrou nele, antes o transcendeu. Em ricas notas de rodapé, os editores, além de atualizar (e completar) as referências feitas pelo autor a várias obras eruditas, fazem comentários oportunos e suprem informações valiosas, indicando, por exemplo, escritos posteriores de Eudoro de Sousa a que ele incorporou textos extraídos desses ora publicados, ou em que ele “desdobrou-lhes”o conteúdo. Vê-se bem que os temas abordados naquela ocasião o ocuparam por longo tempo, continuaram a ser objeto de suas considerações. Nos ricos apontamentos hoje franqueados ao grande público estão em germe alguns dos ensaios eudorianos mais relevantes.
Chama a atenção a amplitude do campo que o helenista emérito então descortinou. No texto que se tornou o segundo capítulo deste livro ele relaciona os tópicos a serem contemplados no curso: o culto dos mortos (tema do Sumário convertido em segundo capítulo), a religião “de mistério”, (assunto dos capítulos terceiro e quarto) o pitagorismo e a doutrina da palingenesia, Orfeu e orfismo, escatologia e gnoseologia platônicas (de que tratam os capítulos seguintes, ou seja, o quinto, o sexto e o sétimo).
Na Discussão Inicial, que corresponde a uma apresentação do curso e ora corresponde ao capítulo primeiro do livro, o autor tece, de maneira concisa, breves considerações sobre a bibliografia pertinente a fim de mostrar a diversidade das fontes e a variada distribuição dos estudos que interessam ao exame da problemática a ser focalizada, evocando, a propósito, diferentes rubricas encontráveis no Année Philologique. Indica assim a necessidade de um enfoque sistemático de seu objetoe a novidade de sua empresa.
No capítulo segundo, ele adverte que todos os tópicos assinalados têm a ver com a “poesia dos infernos”. Vê-se bem que essa multiforme poesia se tornou o foco das reflexões posteriores do mestre luso-brasileiro: os temas apontados voltaram insistentemente ao cenário de suas pesquisas e alimentaram de modo generoso sua reflexão filosófica.
Neste ponto, sei que o contrario. Na fase derradeira de sua rica vida intelectual, Eudoro não queria ser chamado de filósofo. Chegou a dizer que o projeto denominado “filosofia”se tinha concluído, chegado a seu arremate histórico. Já dera seus frutos, dizia ele. Estava consumado. Devia dar lugar a outra coisa, outro tipo de pensamento ainda por nascer, cuja aurora apenas se anunciava. Nietzsche e o último Heidgger o levaram a esta conclusão. Mas parece-me que tal como eles o mestre de Brasília era ainda filósofo, embora quisesse outra coisa: filosofava de olhos postos no horizonte, procurando mais além um novo espaço. Em suma, fez-se um pensador liminal, transformado intimamente pelo tema que o fascinou. Bem o mostra o tratamento que ele deu a esta problemática, ao reconstruí-la de um modo novo. De fato, ele não abordou o tema das catábases apenas na perspectiva da história da religião, ou só no âmbito da antropologia, isto é, no plano transcultural em que a situou de forma provocativa. Nessa reconstrução, Eudoro de Sousa foi muito além de uma exposição erudita cingida ao campo da Antiguidade “mediterrânea”, como (quase) chegou a ser a breve panorâmica esboçada por Ganschnietz no artigo “Katábasis”da RE (vol. X, 2359 sq. A tradução desse verbete, feita por Xavier Carneiro, também foi entregue em apostila aos alunos do famoso curso). Além de dar-lhe maior alcance, recorrendo a notáveis paralelos etnográficos e examinando-os de modo a pôr o problema em termos efetivamente trans-históricos, Eudoro tomou o mitologema da catábase como ponto de partida para uma reflexão profunda sobre a existência humana. O leitor atento deste livro logo perceberá que o autor não se limitou a informar sobre o assunto (como a erudição “às secas”costuma fazer): ele de fato o problematizou, e é isso que confere a seu estudo um valor especial tanto para a história como para a antropologia. E, convenhamos, para a filosofia.
O interesse antropológico da proposta de Eudoro não reside meramente em seu recurso a teses de Adolph Jensen, de que ele parece ter sido o primeiro a dar notícia no Brasil. Muito mais importa, repito, o modo como ele pôs o problema, o alcance transcultural que lhe deu.
Se ficamos no Ocidente, no horizonte da sua história, não é difícil mostrar que a obra dantesca de modo nenhum estanca, no campo literário, a recorrência do tema das catábases. (Escusado lembrar que ele se manteve bem vivo, no campo religioso, ao longo da variada trajetória das igrejas cristãs: baste a constatação de que, por notável exemplo, o Credo de Niceia o recorda todos os dias aos católicos). Creio ter mostrado em meu livro “Antropologia Infernal”(SERRA, 2002) a extraordinária vitalidade do referido tópos, examinando textos de Lewis Carrol, Borges, Pávich.
Parece-me claro também que este tema se entrelaça com a grande trama da apocalíptica. Embora esta seja usualmente pesquisada em bases historiográficas e nos limites do judeo-cristianismo, aproximações com outros domínios culturais são facilmente encontráveis.
Volto, porém, ao que afirmei mais acima: Eudoro de Sousa fez do tema das catábases o ponto de partida para uma reflexão sobre a existência humana e sobre o mundo que ao homem corresponde. No livro em discussão ele apenas abre caminho para essa abordagem, quando discute a a transposição platônica de motivos órficos e dos ritos de mistério. Já em seu Mitologias (SOUSA, 2004), livro que escreveu bem mais tarde, ele medita sobre essa vertente mítica de uma forma nova, em estilo eloquente, quase arrebatado: cf. ibidem cap. 2, parágrafos 32-40. Em certo trecho (ver op. cit. parágrafo 33), o mestre de Brasília recorre ao poema da Descida de Inana aos Infernos para explicar a condição do homem, cifrada em sua ambígua relação com o divino. O mito é então tomado como interpretante da situação existencial que define a humanidade, ou configura, como também se poderia dizer, o estatuto ontológico dos homens.
Nessa altura o discurso do pensador assume um tom quase oracular. Eudoro previne, quase no fim do referido ensaio (no seu parágrafo 64), que esta sua obra tem um novo sentido: “Tudo quanto para trás ficou escrito é mitologia e não quis ser outra coisa”. Mas trata-se, evidentemente, de um tipo novo de mitologia, nascida de um projeto hermenêutico de que a raiz primeira, segundo creio, se acha no estudo agora dado a público. Este lavrou-se, porém, numa linguagem bem diferente: clara, sóbria, de uma economia que nada deve ao objetivo prático do apontamento, antes se estriba em zelosa busca de precisão. É que mesmo em simples Sumários de Curso o Professor Emérito responsável pela primeira floração dos estudos clássicos na UnB era capaz de cultivar um estilo conciso, elegante, com algo da discreta harmonia do seu admirado Isócrates. (Já nas suas últimas obras sua escrita se modifica: torna-se mais colorida, apaixonada. Em certas passagens, ganha um esplendor barroco, que o aproxima do tom solene, majestoso, dos sermões de Antônio Vieira).
Na reflexão eudoriana sobre as catábases de que o livro em apreço mostra o ponto de partida também se acha em germe a rica, original e fecunda exploração que ele fez do tema da “mitologia do horizonte”, objeto de uma sua obra prima aparecida uma década depois. Encontro um sinal disso na revelação que me fez o caro mestre: disse-me Eudoro que seu Horizonte e Complementariedade (SOUSA, 1975) teve início no trecho que, na redação final do livro, corresponde ao parágrafo 50 (p. 77). Nesse trecho ele inicia uma discussão extraordinariamente rica do Poema de Parmênides. Ora, é difícil negar que a imagem regente do poema, a viagem do filósofo guiado por uma deusa, segue o modelo simbólico de um apocalipse cujo viático vem a ser uma espécie de catábase. Eudoro afirma então (P. 87) que para descortinar o verdadeiro sentido do Proêmio do poema parmenídeo torna-se necessário ter em mente que “o mistério do horizonte preludia à codificação lógica do mistério do Ser”. Posto isso, e apoiando-se em Burkert (1969), avança a hipótese de que “a catábase de Pitágoras seria o pressuposto ou o antecedente de uma catábase de Parmênides.”Vem a ser ineludível a conclusão de que o dito Proêmio corresponde a uma catábase.
Basta lembrá-lo para que se advirta a importância do escrito em comento. O curso que lhe deu origem foi seminal para o Mestre e também para seus alunos. Os sumários de aparência despretensiosa encerram uma riqueza muito grande. Chamo a atenção para os seus três últimos capítulos: o quinto, rico de considerações luminosas sobre os Endmythen platônicos, traz em anexo a tradução de um trecho da Sétima Epístola do filósofo da Academia; o sexto discute o que bem pudera denominar-se “a questão órfica”, isto é, o debate entre os helenistas que, na sequela de Willamowitz-Moellendorf, negaram a existência do orfismo e os que não acataram essa rejeição. Eudoro toma partido decididamente pelos últimos, isto é, pelos que reconheceram a consistência do thesaurus “órfico”. De modo convincente sustenta ele ainda, no capítulo derradeiro, que desse legado serviu-se Platão, transformando-o, por certo, com sua inegável originalidade: reconhece a presença da herança de Orfeu e Pitágoras na gnoseologia e na escatologia platônicas.
Em suma, o livro que traz de volta a poderosa reflexão de Eudoro de Sousa em um momento axial de sua carreira de helenista e pensador encerra, em prosa sucinta, clara e elegante, uma riqueza de ideias frutíferas e uma abordagem original de temas do mais alto interesse não só para os especialistas nos estudos clássicos como para todos os interessados nas humanidades, no sentido mais amplo do termo. Chega ao público em momento oportuno, na altura em que as atenções dos helenistas se voltam para este tema com renovado interesse, como mostra a realização, entre 2 e 5 de maio deste ano de 2014, em Québec e Montréal, de um colóquio internacional sobre o assunto (Colloque International Katábasis) organizado pelo Prof. Pierre Bonnechère e pela Dra. Gabriela Cursaru, com a colaboração de eminentes mestres de quatro instituições universitárias de peso: os professores Alberto Bernabé, da Universidade Complutense de Madri, Bill Gladhill e Lynn Kozak, da MacGill, Anne-France Morand, da Université Laval (Quebec) e Jean Michel Roessli, da Concordia University (Montréal). A publicação das atas desse colóquio certamente vai provocar uma nova e produtiva onda de debates sobre o assunto. É uma boa hora para recordar estas lições de nosso Eudoro.
SIGLAS (OBRAS DE REFERÊNCIA CITADAS)
ANET – Ancient Near Easter Texts relating to the Old Testament. Ed. J. B. PRITCHARD. Princeton: New Jersey University Press, 1950.
RE – Paulys Realencyclopädie der Altertumswissenschaft. Eds. PAULY, A. F. VON; WISSOWA, G.; KROLL, W. Stuttgart: J. B. Metzler, 1894-1972.
ReferênciasBURKERT, W. (1928). Das Proömium des Parmenides und die Katabasis des Pythagoras. In: Phronesis, n. 14.
SERRA, O. (2002). Veredas: Antropologia Infernal. Salvador, EDUFBA.
SOUSA, E. (1975). Horizonte e complementariedade. Brasília, Editora da UnB.
_______. (2004). Mitologias. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda
Ordep José Trindade Serra – Universidade Federal da Bahia. [email protected]
Uma feminista na contramão do colonialismo – GOMES (RH-USP)
GOMES, Raquel. Uma feminista na contramão do colonialismo: Olive Shreiner, literatura e a construção da nação sul-africana, 1880-1902. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: DULLEY, Iracema. Imbricações entre o ordinário e o excêntrico: literatura, feminismo e política na África do Sul nascente. Revista de História (São Paulo) n.172 São Paulo Jan./June 2015.
Como destaca Robert Slenes em sua apresentação, o trabalho de Raquel Gomes, Uma feminista na contramão do colonialismo: Olive Schreiner, literatura e a construção da nação sul-africana, 1880-1902, insere-se no “novo surto brasileiro de monografias” voltadas para contextos africanos. O livro deriva da dissertação de mestrado da autora, realizada na área de História Social na Unicamp. A obra dialoga com a tradição de estudos desse departamento ao articular a trajetória e os escritos políticos e literários de um sujeito específico, Olive Schreiner, ao contexto histórico e social mais amplo em que estavam inseridos: a formação da nação sul-africana. A autora anuncia a intenção de dar conta de questões como as seguintes: “Nesta nação em formação, quais papéis seriam desempenhados por britânicos, bôeres e nativos? Como o discurso [de Schreiner] refletia e dialogava com o avanço da legislação segregacionista?” (p. 15). Estas são, sem dúvida, questões que apontam, como nota Omar Ribeiro Thomaz na orelha do livro, não só para a gênese da nação sul-africana, como para problemas contemporâneos candentes neste país.
Como no estudo de Ginzburg sobre Menocchio em O queijo e os vermes(2006), trata-se de atentar para a biografia e os escritos de um sujeito que não é exatamente ordinário, mas que, em virtude de sua excentricidade, revela não só o que seria comum em seu contexto como um possível caminho de diálogo e disputa com ele. Olive Schreiner certamente não seria considerada uma mulher sul-africana exemplar em sua época. No entanto, sua distância em relação ao que seria ordinário ajuda a iluminá-lo. A partir da circulação de Schreiner pela Inglaterra e África do Sul, é possível vislumbrar não só questões sociais e políticas mais amplas – como a criação da União Sul-Africana, o lugar da mulher na sociedade e a questão do nativo, contexto muito bem reconstruído por Gomes –, como acompanhar a minúcia das relações cotidianas com base em suas obras e cartas.
Anglófona no contexto de formação da nação sul-africana, Schreiner opõe-se à política imperialista britânica para fazer uma defesa do modo de vida bôer e da integração anglo-bôer. Feminista em um ambiente bastante conservador quanto aos costumes, chocou inclusive a sociedade inglesa com sua denúncia da condição “parasitária” da mulher no casamento. Para Schreiner, homens e mulheres deveriam ser parceiros no casamento, em igualdade de condições e com divisão do trabalho; ademais, a mulher não deveria depender financeiramente do homem, mas casar por amor. Pertencente a uma camada privilegiada da sociedade sul-africana por ser branca e anglófona – a despeito das dificuldades financeiras que a teriam levado a trabalhar como governanta para famílias bôeres na juventude –, acabará por questionar as políticas adotadas em relação à “questão do nativo” após sua desilusão com a política de Cecil Rhodes: cerceamento do acesso das populações africanas a terra, restrição de seu já pouco expressivo direito ao voto, educação racialmente segregada com destino das melhores escolas aos brancos. Schreiner, simultaneamente colonizadora e colonizada, aparece na narrativa de Gomes como o lugar da disjunção possível. Seu viés particular coloca a possibilidade do deslocamento. A caracterização de seu lugar social por Gomes mostra como, se o centro do império é o lugar a partir do qual se pode olhar para todas as suas bordas, as discordâncias introduzidas a partir das margens podem ser tão revolucionárias quanto passíveis de receber o rótulo de selvagens.
É principalmente por meio de sua produção literária que Schreiner se posiciona em relação ao cenário político e social da África do Sul de seu tempo. The story of an African farm, de 1883, retrata a vida em uma fazenda bôer e teve grande repercussão quando de sua publicação, acabando por tornar-se parte do cânone da literatura vitoriana de língua inglesa. Segundo Gomes, Schreiner deu a um lugar que fazia parte do imaginário britânico as cores necessárias para que pessoas que o viam como distante imaginassem seu cotidiano. Em meio às paisagens sul-africanas, a oposição entre as aspirações de vida dos personagens delineia a crítica social de Schreiner, direcionada principalmente às relações de gênero: Lyndall, anglófona, morre tragicamente após dar à luz o filho do amante com o qual se recusa a casar-se; por outro lado, Tant’Sannie, fazendeira bôer retratada como religiosa, conservadora e ignorante, casa-se com sucessivos maridos por interesse financeiro. A atitude predatória inglesa na África do Sul é também evocada por meio da figura de Bonaparte Blenkins. Com sua publicação, a autora foi recebida nos círculos intelectuais da Inglaterra, embora não sem atritos. Conforme se depreende da narrativa de Gomes, as resistências se deveram a suas ideias feministas e à origem africana.
Gomes é especialmente bem-sucedida ao mostrar como os personagens de African farm remetem aos estereótipos que se projetavam sobre as diversas posições sociais nos contextos em que Schreiner se inseriu. Tant’Sannie aponta para a visão dos bôeres como ignorantes, arcaicos e ociosos por parte dos ingleses; a isso se soma a figura do inglês ganancioso, visto pelos bôeres como não comprometido com o território que pretendia unicamente explorar. Se no romance os kaffirs bantos são retratados como ladrões preguiçosos, seriam em obras posteriores caracterizados como “conscientes de si e reflexivos”, capazes de organização política e reflexão intelectual – Schreiner chega a comparar sua capacidade de expressão àquela permitida pelo Taal, língua vista como indissociável do ser bôer –, os hotentotes seriam “versáteis, vivos e emotivos”, além de dóceis. A discussão de Gomes sobre os personagens e seus nomes reflete tanto sobre seu papel na narrativa quanto sobre o que ela revela a respeito da estrutura social em questão e do posicionamento político de Schreiner. No que diz respeito aos estereótipos, tampouco escapa a sua percepção a forma como as mulheres da elite intelectual inglesa viam Schreiner: uma sul-africana boêmia que falava com as mãos.
Em um momento em que se coloca o “debate acerca de quem é – e quem tem o direito de ser – sul-africano” (p. 51), as apreciações dos vários lugares sociais acerca de si e dos outros exercem papel fundamental. A relação entre as diversas categorias de designação, relacionadas por sua vez de forma complexa às posições sociais passíveis de serem ocupadas pelos sujeitos assim nomeados, determinará o que significa ser sul-africano. E o posicionamento político de Schreiner a esse respeito – que vai da ênfase na união entre ingleses e sul-africanos com o silenciamento sobre a questão nativa a uma mudança de atitude conforme o final do século XIX assiste à articulação da legislação segregacionista – traz para o leitor os debates políticos da época a partir de sua inserção neles. O trabalho de Gomes extrapola, portanto, uma perspectiva estritamente biográfica ou de análise literária para compreender a obra de Schreiner em relação ao contexto de formação da nação sul-africana.
Nesse sentido, ganha importância o mapeamento de Gomes dos diálogos intelectuais e políticos de Schreiner, que vão do amigo e sexólogo inglês Havelock Ellis ao admirado e depois inimigo Cecil Rhodes e membros da South African Improvement Society, em sua maioria, africanos negros. No que diz respeito a esses diálogos, um olhar etnográfico sente falta de uma discussão sobre a relação de Schreiner com seu marido, Samuel Cronwright-Schreiner, com quem escreveu o panfleto político The political situation. Se a intimidade do casal é provavelmente pouco relevante para a constituição da nação sul-africana, o casal, por meio de sua atuação conjunta, passou a ocupar um lugar na cena política sul-africana no qual os dois indivíduos não estavam completamente dissociados. Talvez levar essa relação em conta permitisse acompanhar os desenvolvimentos da militância feminista de Schreiner em relação a um aspecto cotidiano de sua vida: sua própria relação conjugal.
Outros escritos se seguirão ao romance de estreia de Schreiner, segundo Gomes nem sempre facilmente classificáveis do ponto de vista da forma: se The political situation e Thoughts on South Africa poderiam ser ditos de cunho político, Trooper Peter Halket of Mashonaland é um romance-alegoria que trata da trajetória de um inglês pobre que foi para a África do Sul lutar na guerra de pacificação contra os Mashona. A narrativa mostra como Peter Halket, que chegou ao território africano em busca de ascensão social à custa de pouco trabalho, humaniza-se a ponto de recusar-se a matar um nativo. Embora os escritos de Schreiner difiram em sua forma, Gomes argumenta de forma bastante convincente que não se pode pretender classificá-los segundo uma divisão estanque entre “trabalhos de imaginação” e “textos polêmicos”, pois há algo de político nos textos mais explicitamente literários, como African farm ; ademais, os escritos predominantemente políticos seguem muitas vezes um estilo literário, com grande destaque para a paisagem sul-africana, personagem expressivo de muitas de suas narrativas. Trooper Peter Halket seria por excelência inclassificável nesse sentido.
Na narrativa de Gomes sobre Schreiner, os detalhes do cotidiano se articulam às grandes questões políticas do seu tempo: a Guerra Anglo-Bôer, o papel de Rhodes no Cabo e na Rodésia, as guerras de pacificação contra os nativos, sua exploração como mão de obra barata e seu alijamento da cena política sul-africana. No que diz respeito à questão dos “nativos”, vistos por Schreiner como “um pequeno humano em formação”, penso que parte da riqueza da leitura de Gomes deve-se a sua capacidade de mostrar de forma muito clara qual era o sistema de classificação vigente e as concepções que se atrelavam a cada categoria social. Os africanos eram divididos basicamente em quatro categorias: bosquímanes, hotentotes, kaffirs (bantos) e coloured(termo que pode ser imperfeitamente traduzido como “mestiço”). A cada uma dessas categorias estavam relacionadas características e personalidades distintas, como apontamos acima, e a classificação se baseava principalmente no critério econômico (bosquímanes eram caçadores-coletores; hotentotes eram pastores; kaffirs eram pastores e agricultores dotados de organização centralizada). Contudo, se as três primeiras categorias eram compreendidas como “raças”, e juntamente com a “raça branca” perfaziam as quatro “raças” que compunham a nação sul-africana segundo a classificação de Theal em Compendium of the history and geography of South Africa (1878), não se poderia dizer o mesmo dos coloureds, classe trabalhadora sul-africana compreendida por Schreiner e grande parte dos intelectuais de sua época não como uma “raça” distinta, mas como half-castes (literalmente “meia-castas”). Estes seriam, segundo ela, resultantes da união entre mulheres negras escravizadas e um branco dominante.
A crítica de Schneider incide não só sobre a desigualdade dessa relação de gênero como sobre o caráter indesejável da miscigenação. Para ela, a África do Sul deveria ser construída harmonicamente a partir de todas essas “raças”, uma nação com várias cores que, no entanto, deveriam permanecer separadas, como muito bem explicitado em seu “mandamento” mais importante: “ Keep your breeds pure!” [“Mantenham sua raça pura!”] (p. 113). A miscigenação é silenciada ou vista como problema por Schreiner que, no entanto, defende a assimilação, “obrigação moral de elevar os outros”. A visão de Schreiner em relação à questão do nativo mostra como ela, ao mesmo tempo em que assumia uma atitude progressista em relação ao lugar dessas pessoas na política sul-africana, era também uma mulher de seu tempo, pertença esta derivada em grande medida da linguagem de que dispunha para pensá-lo: para ela, os nativos sul-africanos eram distintos dos brancos e assim deveriam permanecer. Não há espaço, em seu discurso, para o questionamento da ideia de raça e das hierarquias dela resultantes. Imersa nas ideias eugenistas de sua época, Schreiner via a miscigenação com preocupação e considerava ser papel da raça branca, especialmente dos ingleses, que ocupavam seu mais alto nível, contribuir para a melhoria das outras raças por meio da assimilação. Para ela, cada raça tinha suas qualidades e defeitos e poderia, a partir deles, desenvolver-se; a miscigenação traria o problema da degenerescência, pois faria uma junção das piores características de cada raça1. A riqueza da narrativa de Gomes aponta, contanto, para as vozes dissonantes de três clérigos anglicanos e Abdol Burns. Estes se opuseram à segregação racial nas escolas com base no seguinte argumento: como identificar brancos e negros em uma sociedade miscigenada e com “notória permeabilidade em sua barreira de cor”? Se seu questionamento apontava para a evidência que a classificação racial buscava distorcer, seu apelo não teve ressonância no debate político do período.
O texto de Gomes, extremamente bem escrito, faz jus à proposta de análise que apresenta e convida o leitor, com bom humor e perspicácia, a participar do contexto do nascimento da nação sul-africana e da definição de lugares sociais marcados por categorias de designação que determinariam muitas das possibilidades e impossibilidades colocadas para os diversos sujeitos sul-africanos ao longo do século XX.
1São curiosas as semelhanças do discurso eugênico sobre raça na África do Sul e no Brasil do mesmo período. Sobre o contexto brasileiro, ver Schwarcz (1993).
Referências
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. [ Links ]
SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e pensamento racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. [ Links ]
THEAL, George. Compendium of the history and geography of South Africa. Londres: Edward Stanford, 1878. [ Links ]
Iracema Dulley – Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutoranda, bolsista Fapesp. E-mail: [email protected].
eifar, semear: a correspondência de Van Gogh – GODOY (C)
GODOY, Luciana Bertini. Ceifar, semear: a correspondência de Van Gogh. 2. ed. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2009. Resenha de: AFIUNE, Pepita de Souza Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 3, p. 224-228, set/dez, 2014.
A autora Luciana Bertini Godoy é graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, Mestre em Psicologia Social e Doutora em Psicologia Social pela mesma universidade. Pesquisadora do Laboratório de Psicologia da Arte do Instituto de Psicologia da USP, recebeu apoio da agência financiadora de pesquisas Fapesp.
Atua na área de Psicologia da Arte, realizando vastas pesquisas e desenvolvendo muitos frutos sobre a biografia e obras de Van Gogh. Leia Mais
William Shakespeare: as canções originais de cena – ZWILLING (AF)
ZWILLING, Carin. Colaboração de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser. William Shakespeare: as canções originais de cena. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: PATRIOTA, Rainer; BESSA, Robson. Artefilosofia, Ouro Preto, n.16, jul., 2014.
O livro William Shakespeare: as canções originais de cena, de Carin Zwilling (com a colaboração de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser), é resultado da pesquisa de doutorado concluída pela autora no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo sob orientação do prof. Dr. John Milton. Desde já, registre-se a importância crucial do livro, que resgata para o público brasileiro uma faceta raríssima conhecida e comentada do teatro shakespeariano, mas que nem por isso deixa de ser imprescindível a todos aqueles que buscam uma compreensão mais ampla d a arte deste que é o mais admirado artista inglês de todos os tempos. Imprescindível, uma vez que n o teatro de Shakespeare, como deixa bem claro o livro de Carin Z willing, a música não se restringia a uma função meramente decorativa, mas antes operava por dentro da trama e com um impacto estético-catártico decisivo. William Shakespeare: as canções originais de cena, desdobra-se ao longo de s eis capítulos. No primeiro, intitulado “ Sobre William Shakespeare: uma visão panorâmica ”, a autora traça um breve painel da vida e da obra do dramaturgo, oferecendo um quadro cronológico de suas peças em que informa o gênero, as possíveis fontes literárias de que Shakespeare teria se servido, e os principais personagens de cada uma ; o capítulo, cuja brevidade condiz com seu caráter preambular, termina com um interessante comentário de John Dryden – extraído de seu Essay of Dramatic Poesy (1668) – e uma linha do tempo situando os principais eventos da vida de Shakespeare no contexto político e literário da época. O segundo capítulo, “ O teatro inglês ”, da autoria de Leonel Maciel Filho, versa sobre a construção dos teatros londrinos durante os períodos elisabetano e jacobino. Nele, ficamos sabendo que o primeiro teatro moderno fora construído em 1576 por James Burbage, um “ simples ” marceneiro e ator, que custe ara sozinho todo o empreendimento e, com um a ousadia que é tão própria ao homem do Renascimento, veio a fundar aquele que provavelmente foi o primeiro teatro popular da Europa. Por problemas contratuais, o teatro de Burbage teve de se r demolido, mas a madeira empregada em sua construção servi ria para a edificação do famoso Globe – o teatro para o qual Skakespeare veio a escreve r grande parte de suas peças. Leonel Maciel Filho finaliza seu capítulo com uma discussão s obre a retomada do teatro clássico durante o Renascimento. Seguindo as orientações de Vitrúvio em seu De Architectura sobre acústica e teoria da música, os arquitetos do Renascimento tiveram grande preocupação com a questão sonora. Segundo Leonel, essa mesma preocupação norteou a construção d o teatro shakespeariano, pensado mais em função do ator (e do músico) que do cenógrafo. Em “ A música na época de William Shakespeare ”, Carin Zwilling volta à cena e, nesse terceiro ato de sua obra, atua com excelente desenvoltura. De início, descreve a situação social dos músicos e seus divers os papéis, sobretudo o de músico de corte, abordando em seguida – com o auxílio de interessantes ilustrações de época – os
instrumentos mais utilizados, como o alaúde, o virginal, a s viola s da gamba, as flautas, sacabuxas etc. Sua exposição culmina n uma importante exposição conceitual sobre a canção moderna. Nascida da busca pelo resgate da música grega e em oposição ao “artificialismo” da polifonia renascentista, a canção se pauta na expressão de afetos embutidos no texto e elaborados pela melodia. Depois de incursionar pelas terras italianas e esclarecer o conceito de seconda prattica, formulado por Claudio Monteverdi, Zwilling destaca a figura de Thomas Morley – importante madrig alista do período elisabetano, autor de duas canções para o teatro de Shakespeare e de um manual de composição (que é brevemente comentado pela autora). Com o quarto capítulo, “ A música na obra de William Shakespeare ”, chegamos a um momento crucial do livro de Carin Zwilling.
Nele, a autora fornece uma série de dados sobre as canções n as peças de Shakespeare e nos instrui sobre as inúmeras referências musicais feitas pelo dramaturgo, não apenas as poéticas, mas também as técnica s – as indicações para a execução de música de fundo ou para a entrada em cena dos músicos. Discute – a partir das categorias apresentadas pelo renomado pesquisador em Shakespeare Frederick W. Sternfeld – as diversas funções que cabia à música desempenhar dentro da trama e no palco, a exemplo da “música mágica”, que ambientava situações idílicas ou oníricas como aquela em que as fadas ninam Titânia em Sonho de uma Noite de Verão. Às quatro categorias de Sternfeld, Zwilling acrescenta a categoria de “música das esferas”, observando que não só em Shakespeare, mas no teatro da época em geral, o conceito pitagórico de “harmonia das esferas” circulava como um signo cósmico a traduzir a vida e a arte. Segue-se uma descrição das formas de música vocal presentes na dramaturgia shakespeariana, como o carol e o catch, o madrigal, a balada – o gênero predileto de Shakespeare – e a lute air, esta última intimamente associada à obra do ilustre compositor e alaudista John Dowland. O capítulo termina com um quadro das canções utilizadas por Shakespeare, indicando não só a peça da canção, mas também o nome do compositor, o gênero musical a que pertence e sua localização específica na peça (ato e cena). O quinto capítulo, “As canções originais de cena de William Shakespeare”, é o coração do livro de Carin Zwilling. Fruto de cinco anos de pesquisa, ele traz comentários esclarecedores sobre 3 2 canções d e Shakespeare (apenas 33 foram encontradas de um total de 72), contendo ainda a transcrição das partituras e a tradução dessas canções – feita pela autora em colaboração com Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser. Trata-se de um material precioso e do maior interesse para músicos – especialmente aqueles que se dedicam ao repertório antigo –, gente d e teatro e apreciadores de Shakespeare e da literatura em geral. O livro termina com um capítulo que é, na verdade, um apêndice – “Biografia dos compositores das canções de Shakespeare”. Tem-se aqui dez verbetes extraídos do The New Grove Dictionary of Music and Musicians traduzidos por Leonel Maciel Filho. A despeito de seu caráter genérico, o material cumpre sua função como uma fonte de informação para estudantes de música, pesquisadores e curiosos em geral. Não há dúvida de que o livro de Carin Zwilling é digno da maior consideração, sobretudo pelo esforço musicológico de transcrição e análise das canções. Na verdade, ao chamar a atenção para o fato de que o teatro de Shakespeare possuía canções e muita música de fundo, a autora nos convida a reformular nosso ponto de vista acerca d e uma obra que tem sido apreciada sobretudo como literatura, mas que, em sua origem, é mais que isso – é teatro, ou seja, palco, com atores, cantores e instrumentistas. Pela importância da temática e do livro em si mesmo, faz falta, no entanto, uma boa apresentação ou mesmo um prefácio que, em chave estética e musicológica, fizesse as devidas honras ao livro.
Observe-se, por fim, que a autora, que também é alaudista, nos dá um excelente exemplo de que o trabalho do músico não precisa se confinar à lida da performance, podendo – ou mesmo devendo – se prolongar e potencializar pela atividade intelectual e investigativa.
Rainer Patriota-Graduado em música pela UFPB e doutor em filosofia pela UFMG; professor e pesquisador pelo PRODOC junto ao IFAC/UFOP.
Robson Bessa-Graduado em música pela UFMG e doutorando em literatura pela UFMG.
Moeda e poder em Roma: um mundo em transformação – CARLAN (RAP)
CARLAN, Claudio Umpierre. Moeda e poder em Roma: um mundo em transformação. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: MENINI, Vítor Bianconi. Revista de Arqueologia Pública, Campinas, n.9, jul., 2014.
A obra Moeda e poder em Roma, do historiador Dr. Cláudio Umpierre Carlan, resultante de sua já reconhecida experiência nas pesquisas que relacionam História e Arqueologia, em particular o ramo da Numismática, contribui de maneira representativa ao empreendimento, já de alguns anos, de inserção dos estudos da Antiguidade Tardia na academia brasileira. Carlan, além de empenhado estudioso das moedas romanas, dedica-se à docência na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, além de colaborar no Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte da UNICAMP, universidade na qual realizou deu doutoramento e realiza pós-doutoramento, sempre sob orientação do historiador e arqueólogo Dr. Pedro Paulo Abreu Funari.
Com apresentação da professora Dra. Margarida Maria de Carvalho (UNESP-Franca), Moeda e poder em Roma foi escrita de maneira clara, objetiva e fluida, apresentando desde o começo a importância de se compreender expressões e conceitos basilares em investigações dessa natureza, tais como: Antiguidade Tardia, Numismática, cunhagem, relações de poder, representações, catalogação, acervo, colecionismo, patrimônio, cultura material, entre outros.
Nas primeiras páginas, o autor já antecipa quais serão seus referenciais. Carlo Ginzburg, Roger Chartier e Michel Foucault destacam-se entre aqueles que irão compor a fundamentação teórica de Carlan em suas investigações. Da mesma maneira, além de dialogar com tais perspectivas que evidenciam a identidade epistemológica de seu trabalho, Carlan apresenta respeitadas referências na área da Numismática, tais como, Hubert Frère, Jean-Nicolas Corvisier, Charles Samaram, Pascal Arnaud, além do irlandês Peter Brown, cujos estudos em Antiguidade Tardia e, neste caso particular, sobre a numária constantiniana, têm indispensável importância.
No capítulo inicial, intitulado “O colecionismo e o Museu Histórico Nacional: origem, acervo e patrimônio”, Carlan desenvolve uma breve, mas muito precisa, revisão histórica desde o término da Antiguidade Tardia até o processo de ampliação das coleçõ numismáticas no século XIX. Destaca, por exemplo, o “renascimento carolíngio”, entre os anos 768 e 814, quando governou Carlos Magno, que propiciou considerável impulso nas atividades colecionistas. Tal ampliação do colecionismo já estará consolidado nos tempos modernos, à época dos Estados Nacionais, quando Luis XIV (1638-1715), tendo herdado as coleções do Cardeal Mazzarino e de Carlos V, as utilizará como modelo, passando a representar-se em suas próprias cunhagens tal como os antigos césares romanos, usando uma coroa de louros e, posteriormente, determinando que seus funcionários organizem e cataloguem toda a coleção.
Carlan, ainda no primeiro capítulo, não deixa de mencionar a importância do italiano Francesco Petrarca (1304-1374) como primeiro colecionador de moedas conhecido oficialmente, além de comentar acerca da influência do Iluminismo na organização dos primeiros museus da Europa, evidenciando tanto o caráter antropocêntrico daquela mentalidade como a ruptura – ainda que lenta – com concepção teocêntrica de mundo e de ser humano.
O ápice do primeiro capítulo acontece quando Carlan apresenta-nos uma informação pouco conhecida pelo povo brasileiro, que é a existência de um acervo numismático no Museu Histórico Nacional (MHN), no Rio de Janeiro, considerado o maior de toda a América Latina. Traçando um paralelo deste acervo com a coleção do Gabinete Numismático da Catalunha, sobretudo, acerca da origem de ambos os acervos, Carlan, que realizou estágio na Universidade de Barcelona junto ao professor catedrático José Remesal Rodríguez na ocasião de seu doutoramento, informa-nos que da mesma maneira que essa e outras coleções numismáticas foram agrupadas e expostas no Museu Nacional de Arte da Catalunha, no caso brasileiro a coleção doada pelo Comendador Antônio Pedro de Andrade, antes de serem organizadas e expostas em 1922 no MHN, encontravam-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eram 13.941 moedas e medalhas, sendo 4.420 moedas cunhadas na Antiguidade. Hoje, o acervo do MHN conta com uma coleção numismática de aproximadamente 130.000 peças.
Após fechar o primeiro capítulo, tratando com riqueza de detalhes acerca da história do MHN, citando os argumentos de Ramiz Galvão e Gustavo Barroso de que a Numismática tem seu lugar ao lado da História e já ensaiando sua tese de que a orientação política ou mesmo religiosa de um soberano cunhadas em suas moedas evidenciam uma estrutura político-ideológica e transmitiam uma mensagem de poder por parte do governante, Carlan inicia o segundo capítulo no qual trata de maneira bastante específica acerca dos tipos monetários no Império Romano do século IV. [As cunhagens de ouro são as primeiras a serem comentadas, informando-nos que no acervo do MHN composto por peças da Antiguidade Tardia, foram identificados apenas os chamados solidi, ou seja, as moedas instituídas depois da reforma monetária que Constantino promoveu. Carlan apresenta e explica uma moeda cunhada durante a coroação de Constante, uma outra moeda cunhada entre 355 e 357 retratando Constâncio II, duas moedas cunhadas em Milão representando Honório e três moedas cunhadas também em Milão, representando Arcádio, irmão de Honório. Como Honório e Arcádio eram filhos de Teodósio I, justifica-se a presença do lábaro de Constantino representando as letras gregas X (khi) e P (rô), sobrepostas, em algumas dessas peças.
No mesmo capítulo, Carlan trata das moedas comemorativas, chamando atenção para aquelas cunhadas após 330 com o intuito de legitimar a importância de Constantinopla, nova capital imperial construída no território da antiga cidade de Bizâncio. Como o próprio autor nos informa, a moeda na Antiguidade exercia diferentes papéis: “função política, social, administrativa, militar, religiosa e econômica. Não podemos nos restringir à economia. Até hoje, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a moeda ainda mantém o caráter propagandista” (p. 64). Daí fazer todo sentido a função que algumas moedas, sobretudo, as comemorativas, exerciam naquele cenário.
Antes de apresentar-nos o catálogo de moedas romanas que organizou, Carlan explica como fez tal catalogação, estabelecendo um corpus documental fundamentado no esquema de Harold D. Lasswell (1902-1978), iniciador desde 1927 das análises de conteúdo utilizadas em estudos de propaganda e de política. Tal esquema, grosso modo, estabelecia uma sequência analítica: análise prévia da documentação e estabelecimento do corpus, categorização, codificação e cômputo das unidades e, por fim, interpretação dos resultados (p. 65s). Foi por meio de uma análise comparativa entre as diferentes representações presentes nos reversos das moedas que Carlan identificou certos aspectos que explicitavam ideologias de caráter militar, religioso e, sobretudo, político.
Após um amplo catálogo explicativo de moedas de bronze, desde as 146 peças cunhadas no governo do imperador Diocleciano, incluindo as chamadas moedas militares, além das laudatórias que expressavam, entre outras coisas, compromissos do governante para com seus governados, passando pelas cunhagens dos imperadores de todas as formações tetrárquicas, havendo natural destaque para as 360 moedas de Constantino, bem como as que representavam sua mãe Helena, sua esposa Fausta, seus filhos, sobrinhos e sucessores, e, fechando com as moedas cunhadas nos tempos de Teodósio I e de seus filhos e familiares, Carlan parte para o terceiro capítulo de sua obra no qual tratará do contexto histórico do Império Romano no quarto século de nossa era.
Desenvolvendo uma breve reflexão no sentido de compreender a Tetrarquia instituída por Diocleciano em 293, Carlan explica como a administração imperial funcionava, incluindo a divisão de responsabilidades militares e civis, tanto no Ocidente como no Oriente. A influência do cristianismo, as fugas de escravos, a anarquia militar, o surgimento do colonato e as invasões bárbaras são alguns dos fatores que, segundo Carlan, caracterizavam aquele contexto do Império Romano entre os séculos III e IV. Esse rápido passeio que se faz, desde os dias de Diocleciano até as mortes dos filhos de Teodósio I, sem a preocupação de ater-se a detalhes, demonstra, entre outras coisas, o interesse de Carlan em situar-nos enquanto leitores no tempo em que foram cunhadas as moedas catalogadas no segundo capítulo e listadas em tabela anexa ao final do livro.
O capítulo três encaminha-se para o seu término quando o autor descreve o cenário religioso do Império Romano desde o século II até a adesão de Constantino à religião dos cristãos. Em uma sociedade marcada por predominância politeísta, além do culto ao deus Sol Invictus desde o governo de Aureliano (270-275), começava-se a formar uma nova identidade religiosa que se tornará predominante algumas décadas mais tarde. Contudo, há que ser reconhecido o fato de que a conversão de Constantino à religião dos cristãos, tão bem arquitetada nos discursos de Lactâncio e Eusébio de Cesareia, autores mencionados e comentados por Carlan, foi determinante naquele momento de transição da história imperial, o que se mostra evidente, inclusive, nas moedas cunhadas por Constantino e seus sucessores. Tais moedas, algumas delas comemorativas, traziam, conforme já comentamos acima, o lábaro de Constantino representando as letras gregas X (khi) e P (rô), sobrepostas.
As questões militares, as mudanças na estrutura do exército romano, a evolução política, algumas batalhas em particular, tanto no governo de Constantino como no de seu filho Constâncio II ou mesmo de seu sobrinho e genro Juliano, são temas explorados por Carlan e que, por vezes, são representados nas moedas romanas a fim de legitimar a identidade e o poder do império. Mas, a situação crítica da economia romana desde o século III refletiu de maneira direta na produção numismática chegando a obrigar a emissão de moedas de prata com adulteração do metal, provocando um aumento exacerbado nos preços de escravos, suprimindo a participação do Senado na fiscalização das cunhagens, aumentando os impostos, reduzindo o território após uma sucessão de conflitos e, por fim, empobrecendo o Estado. São as reformas econômicas implantadas pela Tetrarquia que ocupam as últimas páginas do terceiro capítulo da obra.
Após expor as tentativas de controle da inflação, incluindo uma mal sucedida fixação dos preços que terá resultado em práticas de corrupção e contrabando, além de detalhar as diversas reformulações no processo de cunhagens das moedas de bronze, prata e ouro, desde Diocleciano até chegar aos governos dos filhos de Constantino, em particular Constante e Constâncio II, Carlan inicia o quarto e último capítulo de sua obra, tratando daquilo que ele, como intelectual crítico e dedicado que é, denomina “o poder da imagem”. A moeda, na perspectiva defendida por ele, serve como instrumento de propaganda e legitimação do poder imperial.
Perpassando pela trajetória da Tetrarquia romana, desde Diocleciano, até finalizar a narrativa com a clássica informação de que em meados do século V os Vândalos instalaram-se no território romano, os Hunos cruzaram a fronteira e o Império deixara de existir, Carlan evidencia sua opinião de que as moedas serviam para propagandear e legitimar tanto o poder político como as filiações religiosas. Constantino, segundo Carlan, jamais abandonara sua adoração ao deus Sol Invictus, pois em suas cunhagens manteve-o como símbolo principal, sobretudo, nos reversos das moedas, ora marchando triunfante, ora ostentando um cetro. E Carlan refere-se a moedas cunhadas entre 320 e 322, ou seja, oito a dez anos após a Batalha da Ponte Mílvia, episódio no qual, segundo Lactâncio e Eusébio, o imperador tornara-se cristão.
Apesar de listar reformas jurídicas instituídas por Constantino e de citar alguns efeitos na cristandade, tais como o falso documento conhecido como “Doação de Constantino”, cuja inautenticidade será comprovada apenas no século XV por Lorenzo Valla (1407-1457), Carlan aponta as continuidades dinásticas como insuficientes para impedir os conflitos que, ao final, resultariam na queda do Império Romano.
Na conclusão, além de enfatizar a importância do diálogo interdisciplinar entre História e Arqueologia, bem como da ampliação da noção de documento, Carlan encerra afirmando que as moedas transmitiam mensagens do governante aos seus governados. Intenções políticas e ideológicas, além de comerciais, consistiam, portanto, nos significados concretos de uma moeda. Assim, Carlan conclui frisando que em sua análise numismática foi possível constatar que na administração romana do século IV predominava a legitimação do poder imperial e de seus soberanos, o que pode ser explicado por meio do que ele próprio chama de tipos e subtipos religiosos e militares.
Notas
2 Local inferior do campo da moeda, onde se encontra a data e a casa monetária, quando existem tais informações.
3 Face oposta ao Anverso (lado principal da moeda que representa quase sempre a entidade emissora). Na gíria popular é conhecia como “coroa”.
4 No vocabulário numismático, uma sociedade monetarizada é aquela – segundo os padrões modernos – que possui um sistema monetário que adotou a moeda metálica como meio de troca.
5 Harold Laswell (1902-1978): pioneiro na análise de conteúdos aplicados à política e à propaganda. Levantou teorias sobre o poder da mídia de massa. O esquema de Laswell analisa os meios de comunicação partindo da “análise de conteúdo”: uma série de questionamentos relacionados aos meios de comunicação (no caso do livro de Carlan, a moeda na Roma antiga). Alguns exemplos são: “Quem?; Diz o que?; Em qual canal?; Para quem?; Com quais efeitos?”
Referências
CARLAN, Claudio Umpierre. Moeda e poder em Roma: um mundo em transformação, São Paulo, Annablume, 2013. CARLAN, Claudio Umpierre;
FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Moedas, a Numismática e o estudo da História. 1ª edição, São Paulo, Annablume/Fapemig/Unifal/Unicamp, 2012.
CUNNALLY, John. Images of the Illustrious: the numismatic presence in the Renaissance, Princeton, Princeton University Press, 1999.
LUDOLF, Dulce. “Que é Trabalhar com Moedas” In: O outro Lado da Moeda. Livro do Seminário Internacional. Rio de Janeiro, Museu Histórico Nacional, p.199-200, 2002.
SOUZA, Helena Vieira Leitão de. “Colecionismo na modernidade” In: Simpósio Nacional de História, Fortaleza, 25. Anais do XXV Simpósio Nacional de História – História e Ética. Fortaleza: ANPUH, p. 1-9, 2009.
Vítor Bianconi Menini – Graduando em História pela Universidade Estadual de Campinas, bolsista do CNPq, E-mail: [email protected].
[MLPDB]
África e Brasil no Mundo Moderno | Eduardo França Paiva e Vanicléia Silva Santos
Resenhista
Jeocasta Oliveira Martins – Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências desta Resenha
PAIVA, Eduardo França; SANTOS, Vanicléia Silva. (Orgs.). África e Brasil no Mundo Moderno. São Paulo: Annablume. Belo Horizonte: PPGH-UFMG, 2012. Resenha de: MARTINS, Jeocasta Oliveira. Uma história de conexões: África e Brasil. Escrita da História, v.1, n.1, p.144-149, abr./set. 2014. Acesso apenas pelo link original [DR]
História militar do Mundo Antigo: guerras e representações | Pedro Paulo A. Funari et. al
A obra História Militar do Mundo Antigo, lançada em 2012 pela editora Annablume, é dividida em três volumes: I – Guerras e Identidades, II – Guerras e Representações e III – Guerras e Culturas. A série é organizada pelos estudiosos Pedro Paulo Abreu Funari, professor da Universidade Estadual de Campinas, Margarida Maria de Carvalho, da Universidade Estadual Paulista (campus de Franca), Claudio Umpierre Carlan, docente de Unifal, e Érica Cristhyane Morais da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesta resenha, será analisado o segundo volume, que objetiva mostrar como distintas culturas do Mundo Antigo se representavam nos conflitos bélicos.
O livro se inicia com uma apresentação dos organizadores que recapitula o estudo da História Militar e defende como ele tem sido renovado graças à incorporação de temas relacionados à vida sexual, às identidades sociais, ao colonialismo, às relações de gênero, às subjetividades e ao abastecimento militar. O primeiro artigo do tomo é de Katia Maria Paim Pozzer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de título “Guerra e Arte no Mundo Antigo: Representação Imagética Assíria”. Nele, Pozzer investiga os baixo-relevos de palácios assírios, advogando-os como fundamentais na organização social daquela sociedade, em particular na guerra. Isto porque os relevos apresentam, muitas vezes, as vitórias assírias obtidas no campo de batalha, em especial a crueldade empregada contra seus atacantes. Além disso, mostravam o monarca como campeão militar, aspecto de primeira grandeza em sua legitimidade.
O segundo artigo do volume é “Marchando ao som de auloí e trompetes: a música e o lógos hoplítico na Grécia Antiga”, do docente da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Vergara Cerqueira. O autor defende que a música encontrava-se no âmago na sociedade grega Antiga, se fazendo presente até nas mais ígneas batalhas, conforme encontrado em autores clássicos e na iconografia de vasos de cerâmica. Também é destacado o pioneirismo espartano no uso de instrumentos em campos de guerra, facilitando a comunicação entre os combatentes. Maria Regina Candido, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Alair Figueiredo Duarte, doutorando da mesma instituição, assinam o texto “Atenas entre a Guerra e a Paz na Região de Anfípolis”. Analisando como região de Anfípolis era de grande importância estratégia devido a seus recursos naturais e questões relativas ao abastecimento militar, os estudiosos relatam toda a série de escaramuças que ocorrem por seu controle. Já Ana Teresa Marques Gonçalves, professora da Universidade Federal de Goiás, e Henrique Modanez de Sant’Anna, docente da Universidade de Brasília, põem sua rubrica no texto “As Mandíbulas de Aníbal: os Barca e as Táticas Helenísticas na Batalha de Canas (216 a.C.)”. O artigo desvenda as estratégias do célebre general cartaginês durante as Guerras Púnicas, alegando que a vitória avassaladora das forças de Cartago na batalha de Canas teria promovido uma profunda reorganização das tropas romanas, que voltaram a pautar seu contingente pelo apelo aos “soldados-cidadãos”.
O escrito “Aquisição de inteligência militar entre Alexandre e César: dois estudos de caso” é de lavra de Vicente Dobroruka, também da Universidade de Brasília. Nele, define-se aquisição de inteligência militar como a obtenção de informações acerca do inimigo, aspecto explorado na análise das trajetórias dos conquistadores supracitados. Valendo-se de trechos de autores como Plutarco, Arriano e do próprio César, Dobroruka objetiva demonstrar como a obtenção de dados sobre os adversários é um prática que data de há muito, embora com notáveis diferenças em relação ao mundo hodierno. Claudia Beltrão da Rosa, professora da Unirio, contribui com “Guerra, Direito e religião na Roma tardo-republicana: o ius fetiale”. Os ius fetiale, mencionados no título, eram sacerdotes romanos responsáveis por uma declaração formal de guerra, por meio de uma série de rituais, o que os colocaria como personagens de relevo numa sociedade marcada pela interseção entre o direito, a guerra e a religião. Fundamental mencionar que estes rituais sofreram mudanças ao longo do tempo, em particular durante o período imperial, no qual as batalhas eram travadas a distâncias cada vez maiores da Península Itálica.
O professor Fábio Joly, da Universidade Federal de Ouro Preto, é responsável pelo capítulo “Guerra e escravidão no Mundo Romano”. Nele, o que mais chama a atenção é o relato das ressignificações que a figura do escravo rebelde Espártaco teve no correr dos séculos, de ícone da luta proletária marxista a baluarte da disputa por liberdade política na Europa do Antigo Regime. A docente da UFPR, Renata Garraffoni, assina “Exército romano na Bretanha: o caso de Vindolanda”. Garraffoni revisita as formas por meios das quais a História e a Arqueologia abordaram as relações culturais no Mundo Antigo, primeiro com modelos normativos rígidos e depois com abordagens mais multifacetas e fluidas. No caso de Vindola, região da Bretanha Romana, mostra-se como inscrições encontradas em cultura material podem advogar em favor de uma sociedade na qual as mulheres também possuíam certa voz ativa. Lourdes Feitosa, da Universidade Sagrado Coração, e Maximiliano Martin Vicente, da Unesp/Bauru, também analisam as questões de gênero em “Masculinidade do soldado romano: uma representação midiática”. O estudo de caso dos autores é o seriado “Roma”, exibido nos canais HBO e BBC. De acordo com os estudiosos, a série reforça os estereótipos de Roma com uma sociedade violenta e libidinosa. Neste particular, as personagens masculinas, como legionários e centuriões, são, amiúde, representadas como beberrões, mulherengos e impetuosos.
“O Poder romano por Flávio Josefo: uma compreensão política e religiosa da submissão” é o título do texto de Ivan Esperança Rocha, da Unesp/Assis. Ao aquilatar os escritos de Josefo, o autor pondera sobre os seus aspectos dúbios, uma vez que eles, ao mesmo tempo, são elogiosos tanto a romanos quanto a judeus. Regina Maria da Cunha Bustamante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, emprega sua pena em “Bellum Iustum e a Revolta de Tacfarinas”. O conceito romano de Bellum Iustum liga-se à noção “guerra defensiva”, ou seja, um conflito militar que tem sua origem numa infâmia provocada pelo inimigo. Já a Revolta de Tacfarinas foi um levante que insurgiu contra o jugo romano no norte da África no princípio do século I. Andrea Rossi, da Unesp/Assis, é a autora de “As guerras dádicas: uma leitura da fontes textuais e da Coluna de Trajano (101 d.C – 113 d.C.)”. Visando a uma diálogo entre as fontes materiais e textuais, o artigo analisa a expansão territorial promovida pelo Imperador supracitado tanto à luz dos autores clássicos como das imagens de seu triunfo estampadas na famosa coluna. “Exército, Igreja e migrações bárbaras no Império Romano: João Crisóstomo e a Revolta de Gainas”, de Gilvan Ventura da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo) é o último artigo do volume. O autor versa a respeito de toda a série de conflitos ocorridos no período final do Império romano em virtude das migrações bárbaras e suas relações com os imperadores e as práticas religiosas.
Diante do que foi exposto, fica patente que História Militar do Mundo Antigo: guerras e representações é uma obra de grande valor. Trata-se de um volume com artigos de alto grau de sofisticação e com reflexões que, decerto, irão interessar não somente aos aficionados pelos combates travados na Antiguidade, mas a todos que têm em mente a máxima de Heráclito: “a guerra é o pai de todas as coisas”.
Thiago do Amaral Biazotto – Graduado em História pela Unicamp. Mestrando em História pela mesma instituição.
FUNARI, P. P. A.; CARVALHO, M. M.; CARLAN, C.; SILVA, E. C. M. (Orgs.). “História militar do Mundo Antigo: guerras e representações”. São Paulo: Annablume, 2012. Resenha de: BIAZOTTO, Thiago do Amaral. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.160-163, 2014.
O Pacto das Fadas na Idade Média Ibérica | Aline Dias da Silveira
“O objetivo desta obra – diz a Autora, p.18 – é identificar a estrutura simbólica das narrativas feéricas, comparando-a com a estrutura ritualística e simbólica dos pactos vassálico e matrimonial”. Nesta frase concisa encontramos o núcleo fundamental do trabalho: como é que as narrativas medievais sobre fadas (e feiticeiras) revelam a estrutura do feudalismo – ou, mais exatamente: do casamento na sociedade feudal, mostrado através dos seus ritos e imagens. O estudo de Aline Silveira é um trabalho de análise e interpretação do Livro de Linhagens, escrito na década de 1340, por Dom Pedro, Conde de Barcelos (c.1285-1354). Filho bastardo do rei Dom Diniz (1279-1325), e de Glória Anes, (natural de Torres Vedras), D. Pedro viveu num reino que pela primeira vez estava livre de guerras com os sarracenos, e governado por um monarca educado, culto, e bom administrador: a D. Diniz se devem, entre outras obras que permanecem até hoje, a plantação do pinhal de Leiria (que forneceu madeira para caravelas e naus), a fundação da Universidade de Lisboa/Coimbra, e a criação das Festas do Divino Espírito Santo, além de ter sido compositor de peças de poesia e música na Corte.
Educado nesse meio por sua madrasta, a Rainha Santa Isabel, irmã do reio de Aragão, D. Pedro desenvolveu importante atividade literária, reunindo e compondo poesias trovadorescas, e também se lhe atribui, além do Livro de Linhagens, uma Crônica de Espanha (1344) – Espanha não designava então o país ainda inexistente, mas a Hispania, lembrança dos períodos romano e visigótico, quando a Península Ibérica estava unificada. D. Pedro, que se desentendeu com o pai e algum tempo viveu em Castela, interessava-se especialmente por questões de legitimidade feudal e genealógica, razão pela qual se colocou ao lado da Rainha Santa, como intermediário nas disputas entre seu meio-irmão Afonso (primogênito e herdeiro do reino) e o rei seu pai. Temos assim o esboço do porquê de alguns traços da personalidade daquele que, no Livro de Linhagens, faz remontar os laços de fidelidade e ascendência feudal aos arquétipos e às fontes da mitologia, e da religiosidade popular. O que Aline Silveira faz no seu livro é trazer à tona e desvendar essas ligações de certo modo ocultas pelas metáforas e lendas, particularmente as que mostram o poder feminino, que o patriarcalismo feudal e guerreiro parece minimizar, mas que a literatura apresenta disfarçadas de fadas e feiticeiras, tipificadas na Dama Pé de Cabra. Esta mulher, filha de um ser meio humano (de quem herdara os pés ungulados), vivia na Biscaia (Euzkadi, País Basco, ou Vasco) e casou com Diego Lopes de Haro, da mais importante família basca. Com ele teve filhos, e iniciou uma dinastia, que deste modo legitimou sua origem não só numa lenda, mas numa sucessão de ligações míticas que fazem remontar a família Haro a antepassados préhistóricos e, na interpretação da Autora, a concepções fundamentais da visão histórica e mítica do mundo.
Ampliando seu comentário pela comparação com outras narrativas lendárias medievais – a Melusina de João de Arras, e o romance de Froiam da Galiza com Marinha – a interpretação busca raízes na cultura celta, e procura ainda contatos com outras mitologias, particularmente a grega. No Livro de Linhagens há outra idéia norteadora, complementar à anterior – que O Pacto das Fadas explica e comenta: o reforço dos laços feudais de vassalagem pelo parentesco e o casamento; neste caso as “fadas“ são as esposas, aquelas que fazem a ligação entre duas casas nobres, ou reais. A esse propósito a Autora discute a opinião de historiadores portugueses que consideram o feudalismo em Portugal diferente do “modelo francês”.
Ora, na realidade, se observarmos bem a Europa medieval, o feudalismo francês (restrito ao norte da França), só foi modelo porque era mais central, mais influente na época, e porque os historiadores franceses do século XIX foram mais competentes para analisá-lo e propô-lo como modelo; mas de fato cada reino, e cada época, teve suas peculiaridades. Mesmo que, ao tempo de D. Diniz, o feudalismo em Portugal já fosse distinto da estrutura política do reino quando D. Afonso Henrique (1109-1185) liderou a independência, é preciso também ter em conta que o feudalismo, com seus laços de vassalagem e relações de poder, não é só uma estrutura social, política, econômica e guerreira, mas, como a Autora muito bem salienta, é uma maneira de pensar. E é esse pensar que Aline procura descobrir no Conde D. Pedro de Barcelos, o qual entendia que a sociedade se mantinha coesa não só pelas relações de poder, mas também pelas de amor e amizade. Talvez D. Pedro apelasse para esta questão porque estava presenciando mudanças perceptíveis, embora ainda não definitivas: pelos casamentos reais Portugal estava recebendo influências diretas de Castela (de onde era sua avó Beatriz), de Aragão (então a maior potência marítima do Mediterrâneo ocidental) e da França: seu avô. D. Afonso III (1210-1279), fora casado (1238) com Dona Matilde condessa de Bolonha, até assumir o trono de Portugal após a deposição ( 1247) de seu irmão Sancho II, que se desentendera com o clero e a nobreza; no reinado de Afonso III Portugal completou a sua formação territorial, pela conquista definitiva do Algarve (1249), e, ao contrário de seu irmão, o rei conseguiu conter em parte o poder da nobreza nas Cortes de Leiria, e pelas inquirições contra os abusos da nobreza e do clero; se lembrarmos que o pai de D. Pedro, além das realizações que anotamos acima, afrontou o poder da Igreja em diversas ocasiões, mas principalmente ao criar a Ordem de Aviz, na qual recebeu os monges templários condenados e expulsos pelo Papa e pelo rei de França, veremos os indícios de uma concentração do poder real, que se tornará forte na dinastia fundada (1385) por D. João I, Mestre de Aviz.
Finalmente Aline Silveira relaciona a fada (a Dama) com o nobre (o Conde), e o arquétipo mítico com o imaginário social, através de um pano de fundo constituído pelo mito das origens. É o mito, resultado narrativo das idéias presentes no imaginário fundamental e permanente da humanidade, mas realizado em cada cultura regional, que dá sentido à relação entre a fada e o nobre, e portanto à solidez da estrutura social da nobreza. Neste ponto a historiadora amplia e aprofunda o que já estava fazendo desde o início, ao reconhecer a insuficiência da História, como ciência humana narrativa e factual, para se explicar a si mesma, e portanto recorre a outras ciências, como Antropologia, Ciências da Religião, Crítica literária e Psicologia, para descobrir o que há de mais íntimo na humanidade, que faz da história humana regional e local um reflexo da existência humana como um todo. Esta combinação de ideias diversas a Autora realiza com detalhe, perfeição e competência. E nesse pano de fundo ela mostra que o imaginário vassálico era comum não só a toda a Europa, mas se estendia além Europa – ou de lá provinha. Resta perguntar aos jovens historiadores: essas representações sociais, esses arquétipos tipificados e concretizados na Ibéria, que prolongações tiveram na América Latina?
João Lupi – Professor Voluntário do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia – UFSC. E-mail: [email protected]
SILVEIRA, Aline Dias da. O Pacto das Fadas na Idade Média Ibérica. Apresentação de José Rivair Macedo. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: LUPI, João. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.14, n.1, p. 146-149, 2014. Acessar publicação original [DR]
Os nomes da comunicação – FERRARA et al (C-RF)
FERRARA, Lucrécia D’Aléssio et. al. Os nomes da comunicação. São Paulo: Annablume/Grupo Espacc, 2012. 230p. Resenha de: ARAÚJO, Eduardo Fernandes. Cognitio – Revista de Filosofia, São Paul, v.14, n.2, p.319-324, jul./dez. 2013.
Culturas e Linguagens em folhetos religiosos do Nordeste: inter-relações escritura, oralidade, gestualidade, visualidade – BRITO (PL)
O livro Culturas e linguagens em folhetos religiosos do Nordeste, do professor baiano Gilmário Moreira Brito, publicado em 2009, mas apresentado primeiramente em 2001 como tese de Doutorado na PUC de São Paulo, é uma valiosa contribuição ao estudo da cultura popular do Nordeste. O autor, em sua longa e acurada pesquisa, rastreia a construção da religiosidade do povo nordestino como construção histórica, procurando identificar as tensões nas relações de encontro/confronto entre poder e cultura, que envolvem os diversos grupos sociais em disputas por princípios e valores religiosos que ganham significados sociopolíticos e culturais. Leia Mais
Magia e Poder no Império Romano: A Apologia de Apuleio | Semíramis Corsi Silva
Semíramis Corsi Silva, autora do livro, é Doutoranda, Mestre e Graduada em História pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/Franca, onde defendeu a Dissertação de Mestrado: Relações de Poder em um Processo de Magia no século II d.C – uma Análise do Discurso “Apologia” de Apuleio, do qual este livro é fruto.
A obra foi lançada ano passado (Marco/2012), em uma parceria da editora Annablume com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do qual Silva é bolsista desde sua Iniciação Científica até seu Doutorado, que está em andamento. O livro possui 213 páginas, divididos em quatro capítulos, mais as considerações finais; a autora indaga e elucida sobre a acusação e o julgamento de Apuleio, um autor romano do século II d.C., por prática de magia. É nesse contexto que Silva propõe analisar a acusação e julgamento de Apuleio, um membro da elite do Império Romano no período do Principado, que se casou com uma rica viúva chamada Pudentila da cidade de Oea, no norte da África Romana.
O casamento se concretizou através de uma “negociação” do filho mais velho de Pudentila, Ponciano, que era amigo de Apuleio. Pudentila esteve prometida em casamento a seu cunhado Sicinio Claro (irmão de seu falecido marido), mas acabou casando-se com Apuleio, por intermédio de Ponciano. Após dois anos do conúbio e Ponciano já falecido, Apuleio é acusado pelo filho mais novo de Pudentila, Pudente (irmão de Ponciano, enteado de Apuleio), de ter praticado magia amorosa para conquistar Pudentila, interessado em sua situação financeira. Pudente teve como seu assessor Sicínio Emiliano (tio do acusador e irmão do Sicinio Claro e do falecido marido de Pudentila). A família de seu marido falecido era formada por membros da elite local da cidade de Oea. Quem moveu a ação contra Apuleio foi Emiliano, irmão do falecido marido de Pudentila. Porém, a acusação foi feita em nome do filho mais novo da viúva, Pudente, que não tinha ainda maioridade jurídica e foi assessorado pelo tio.
Visto que o casamento era algo de extrema importância política nesse contexto, servindo como forma de estabelecer alianças entre famílias e sendo fundamental para a carreira de homens públicos, é que podemos contextualizar o enredo que envolve Apuleio, um filósofo aristocrático, adepto ao médio-platonismo, orador, romancista, advogado, decurião e escritor de diversas obras literárias, entre elas o principal objeto de estudo que a autora se propõe a investigar: a obra “Apologia”. Esta fonte documental consiste na transcrição da autodefesa do filósofo, redigida anos mais tarde do desenrolar do processo do qual foi acusado.
Como principal objetivo em sua pesquisa, a autora procura romper com os paradigmas e as visões reducionistas a respeito do mundo simbólico e religioso das sociedades antigas, analisando os motivos, as razões e os conflitos pelos quais o filósofo teria sido acusado e relacionando estes com as questões de disputa e relações de poder que envolvem Apuleio e os acusadores.
Para melhor explicitar sobre como a autora desenvolveu sua pesquisa, na qual o livro é resultado, será apresentada uma síntese de cada capitulo e a proposta que a autora estabelece em cada um deles, através de sua investigação e análise.
No primeiro capítulo denominado: Em Torno de Apuleio, a autora nos apresenta aspectos biográficos de Apuleio que, como a maioria das biografias da antiguidade clássica, há controvérsias sobre seu nascimento, origem e posterior falecimento. O capitulo é dividido em subtítulos que ressaltam a vida e as obras de Apuleio, sua trajetória como um homem público, seu contexto político-geográfico-cultural e a opulência dos personagens que figuram na obra analisada (Apologia), no qual a autora considera estes fatores determinantes para compreender a posição do sujeito na sociedade romana e suas relações de poder.
Em O Discurso Apologia e a Historiografia, segundo capítulo do livro, a autora dedica-se a analisar a obra literária Apologia e inicia uma discussão historiográfica acerca do processo de magia. Ao analisar o discurso Apologia, a autora verifica alguns aspectos do discurso, tais como, possível datação da escrita da fonte, razões da elaboração da obra, denominação do discurso, modificações do discurso pronunciado para o discurso escrito. Em seguida, realiza uma discussão historiográfica a respeito do tema, onde é possível compreender as novas indagações, as críticas feitas à historiografia corrente sobre o tema, as lacunas apontadas nos estudos já realizados e a contribuição de sua pesquisa.
No terceiro capítulo, Magia, Filosofia, Casamento e Poder no Principado Romano, a autora busca enfatizar e analisar os temas que acredita dar subsídios para a sua pesquisa: da magia, da filosofia e do casamento no século II e os seus vínculos com as relações e disputas de poder no Império Romano. Nesta análise, Silva questiona a posição de pesquisadores que refutam a abordagem filosófica de Apuleio e por meio de uma solida discussão bibliográfica, apresenta o papel desempenhado por Apuleio como filósofo médio-platônico. Ainda no capítulo, as práticas mágicas de Apuleio, as relações entre poder e magia, o casamento romano como forma de famílias aristocráticas de Roma contraírem alianças políticas e a situação jurídica e financeira de Pudentila, são refletidas, discutidas e ponderadas pela autora.
É no ultimo capítulo, Acusação e Defesa na Apologia, que consiste na análise detalhada de sua principal fonte, o discurso Apologia. A autora começa citando todos os envolvidos no processo, identifica os pontos de acusação direcionados à Apuleio, para então, agrupá-los em três categorias analíticas que acredita estarem relacionadas aos motivos de acusação: a questão da magia, o papel de Apuleio como filósofo e orador e as acusações relacionadas ao seu casamento com a rica viúva. Para cada categoria é dedicado um subtítulo em que Silva expõe e relaciona, através da analise documental, as motivações, as razões, os conflitos e as relações que se estabeleceram entre Apuleio e os envolvidos no julgamento. Encerra o capítulo com uma investigação minuciosa sobre a estrutura da obra Apologia, na qual é possível compreender que o processo que envolve Apuleio e os seus acusadores é apenas um paliativo das relações e disputas de poder político e financeiro no âmbito do Principado Romano.
Segundo a própria autora, os estudos historiográficos tradicionais que versam sobre as razões do processo, fundamentam-se em mostrar possíveis confusões dos acusadores em relação às práticas místicas de Apuleio, típicas da filosofia médio-platônica, com a magia e razões de interesse de Apuleio e dos acusadores na riqueza da viúva como causa do processo.
Partindo das inquietações do momento presente, Silva nos apresenta a singularidade de sua pesquisa ao expor uma proposta de leitura das motivações da acusação infligida contra Apuleio no âmbito das relações de poder, em torno de algumas características que envolviam o acusado e que estão, conforme a análise de Silva, presentes na acusação, tais como: a representação do filósofo como homem público capaz de desenvolver atividades relacionadas à política neste contexto, as relações da magia com o poder e a política e os casamentos da elite romana como formas de alianças políticas entre famílias. Elementos que até então não tiveram a devida atenção dos pesquisadores sobre o tema e que trás o diferencial da pesquisa de Silva.
A autora faz uso da História Cultural, como sua abordagem teórico-metodológica para realização de sua obra, que fornece subsídios para identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é constituída e pensada. O método que é utilizado em sua análise sobre as representações sociais, tem se constituído nos últimos anos como uma das principais formas de investigação histórica.
Em suma, o livro Magia e Poder no Império Romano é voltado para área acadêmica, mas, particularmente, acredito que qualquer pessoa interessada em temas sobre magia, antiguidade e poder, conseguirão realizar a leitura sem grandes dificuldades. A obra possui um toque de investigação policial associado ao rigor metodológico da pesquisa histórica que, com isso, faz um convite ao leitor sobre as facetas desse Império, que ainda instiga admiração e curiosidade.
Filipe Cesar da Silva – Graduando em História pela Universidade do Sagrado Coração – USC – Bauru/SP. Resenha realizada sob a orientação da Profª Drª Lourdes Madalena Gazarini Conde Feitosa.
SILVA, Semíramis Corsi. Magia e Poder no Império Romano: A Apologia de Apuleio. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2012. Resenha de: SILVA, Filipe Cesar da. Cadernos de Clio. Curitiba, v.4, p.395-400, 2013. Acessar publicação original [DR]
Governadores Gerais do Estado do Brasil (séculos XVI-XVIII) / Francisco C. Cosentino
Há um aspecto da carreira profissional de Cosentino que merece ser destacado logo àpartida: desde 1974 dedica-se à atividade docente, há mais de vinte anos ao ensino superior. Este dado não é irrelevante, pois nos ajuda a entender porque o autor deste livro, cujas qualidades trataremos de explicitar, não ganhou até agora a visibilidade que acreditamos merecer. Sua opção pessoal, como ele mesmo denomina, parece ter determinado que produzisse relativamente pouco em termos quantitativos, o que não deixamos de lamentar, já que seu texto não esconde sua habilidade para a investigação histórica. Para além deste livro que agora mencionamos, Cosentino contribuiu com um artigo na tão reverenciada e citada coletânea de textos intitulada Modos de Governar, publicada em 2005, e, um ano depois, com um artigo na Revista Cronos. Ao menos é o que podemos saber sobre sua obra, citada nas referências bibliográficas deste livro, uma vez que os instrumentos virtuais de busca, que usualmente fazemos uso para desvendar a trajetória das pessoas, não contribuem para sabermos algo mais.
Este livro, lançado em julho de 2009, é a sua tese de doutorado apresentada na Universidade Federal Fluminense, sob a orientação da professora Dra. Maria de Fátima Gouvêa que, infelizmente, não pode ver publicada a pesquisa de um orientando que incorpora, e dialoga constantemente, com sua perspectiva historiográfica. O objeto de investigação em causa, tal como o título anuncia, é o ofício dos governadores gerais do Estado do Brasil e suas respectivas trajetórias administrativas e sociais, dando assim continuidade, e também aprofundamento, às investigações de seus textos anteriores. Cosentino dedicou-se a analisar cinco dos governadores gerais nomeados ao longo dos séculos XVI-XVII: Tomé de Sousa, Francisco Giraldes (que não chegou a ocupar o cargo), Gaspar de Sousa, Diogo de Mendonça Furtado e Roque da Costa Barreto; três dos quais durante o período filipino.
Conforme anuncia em sua introdução, o livro está dividido em três partes. Na primeira, aborda a monarquia portuguesa no período em questão, enfatizando, sobretudo, sua natureza corporativista, jurisdicional e polissinodal. Aspectos essenciais são tratados de forma sintética e com tal clareza que por vezes somos levados a pensar que não se tratam de assuntos complexos. Preocupado em evidenciar a historicidade dos conceitos, dialoga principalmente com o que há de mais recente na historiografia luso-brasileira, mostrando o atual estado da investigação acadêmica sem deixar de mencionar, e muitas vezes criticar, interpretações anteriores sobre conceitos como absolutismo, Estado moderno e soberania. O debate historiográfico ganha destaque nestas primeiras páginas, embora deixe de lado aquele que dividiu a historiografia brasileira no que se refere à pertinência do emprego do conceito e da idéia de Antigo Regime para se analisar a realidade americana. Se assim o faz, estamos certos que não é por receio de se posicionar. Acreditamos que apenas poupou o leitor de ler mais uma vez sobre uma polêmica que, dada à dimensão que ganhou, não só na academia como nos meios midiáticos, é mais do que conhecida. Orientado por quem foi, não esconde sua filiação ao que podemos chamar “Escola do Rio de Janeiro”, que tem nos trabalhos de António Manuel Hespanha uma de suas principais referências. Cosentino analisa a América portuguesa não como um reflexo da realidade européia. Busca suas especificidades tendo, no entanto, o modelo social e político europeu como eixo analítico. Mais um ponto a seu favor.
Ainda nesta primeira parte, aplica-se a descrever o contexto que convencionamos denominar de União Ibérica, analisando a integração do Reino português ao de Castela e a repercussão deste modo castelhano de se fazer política na monarquia portuguesa após a Restauração. A nosso ver, merece referência especial o belíssimo capítulo sobre a natureza e os poderes dos governadores gerais do Estado do Brasil, não só porque aqui se evidencia a tese central do livro: “a natureza superior e régia do poder” dos mesmos, (p.101) tão clara, por exemplo, nas cerimônias de posse e nos regimentos destes governadores. O que nos entusiasmou, especialmente, foi sua preocupação com a história administrativa, discorrendo sobre pontos, como a teoria dos ofícios, que raramente merece atenção da historiografia atual, como bem notou Hespanha ainda na década de 80 ao se referir às lacunas que naquela época, mas também nesta, existem no que se refere à historia institucional.
No entanto, a partir da página 102, quando tem início a segunda parte intitulada “Carreiras e trajetórias sociais de governadores gerais do Estado do Brasil (séculos XVI e XVII)”, nosso acentuado entusiasmo foi atenuado. É certo que não desconsideramos a relevância em se fazer referência às inúmeras mercês régias conquistadas por estes cinco governadores gerais para comprovar a importância social destes indivíduos e a superioridade do cargo, provido apenas a fidalgos. Porém, a enumeração detalhada das mercês conquistadas, assim como o excesso de citações documentais e bibliográficas no corpo do texto ou em notas de rodapé, torna a leitura cansativa. Talvez, devemos dizer, esta é a parte menos original deste trabalho, e não estamos certos de que embora ajude a reforçar a importância da economia das mercês na monarquia portuguesa é a principal contribuição de sua pesquisa, como diz no último parágrafo do livro. Isto porque ultimamente proliferam estudos na área de história social que recorrem ao método da prosopografia reconstituindo trajetórias individuais, com base em documentação similar.
Ainda nesta segunda parte, o autor acaba por realizar uma versão comentada de seu próprio texto. Cada termo historicamente datado é referido em nota de rodapé a verbetes do dicionário de Bluteau, publicado somente no século XVIII, quando sabemos que Cosentino dedica-se à análise dos dois séculos precedentes. Estranha opção de quem, no inicio do livro, revelou suas preocupações teóricas com o uso dos conceitos na acepção dada à época. As afirmativas que apresenta no corpo do texto, mesmo quando corroboradas por transcrições de trechos da historiografia, ganham novas e longas citações bibliográficas nas notas de rodapé. Se este recurso revela um comportamento acadêmico virtuoso de não tomar para si ideias já anteriormente defendidas, bastaria citar as obras, sem necessidade de abusar das recopilações de textos que normalmente pouco acrescentam ao que encontramos na leitura de Cosentino.
Mas o livro volta a ganhar grande interesse na terceira parte, dedicada à atuação do oficio dos governadores gerais, analisada, sobretudo, a partir dos regimentos que deveriam nortear suas condutas. Aqui vemos comprovada outra ideia anunciada anteriormente: a de que os documentos normativos estavam também em consonância com as circunstâncias da época e que a monarquia, não obstante pretendesse garantir uma governação continuada, expressa através do cargo de governador geral, estava atenta à realidade americana. Por esta razão é que a estes agentes régios delegou a atribuição crescente de resolver problemas próprios de cada período, os quais poderiam ameaçar o sucesso da administração portuguesa na América. No entanto, seria preciso saber em que medida estes governadores administraram em conformidade com os regimentos especialmente produzidos para que agissem como era esperado. Seria preciso alargar o horizonte de pesquisa e analisar também a prática governativa para entender quais foram, de fato, os espaços de atuação que encontraram ou mesmo se obstáculos diversos, como o conflito de jurisdições, impossibilitaram o sucesso de seus governos. Cosentino dedica a este ponto poucas páginas, mas esta deficiência é de seu conhecimento, e não esconde as limitações que seu trabalho apresenta, ao menos neste aspecto.
De qualquer forma, os interessados em conhecer a história administrativa da América portuguesa nos séculos XVI-XVII encontram neste livro uma enorme contribuição, com informações ricas, cuidadosamente trabalhadas, às vezes, como dissemos, exaustivamente. Mas não podemos ver nisso um ponto desfavorável. Fiel a sua atividade docente, Cosentino produz uma obra que parece ser dedicada aos alunos de graduação em História, que estão começando a entender não só o contexto destes dois séculos, mas também como é pensar como historiador. E neste sentido, a franqueza intelectual do autor auxilia-os imensamente, pois a cada página acompanhamos o percurso que orientou o autor na produção deste livro, que tem uma hipótese claramente anunciada, e consistentemente comprovada quanto “à posição protagônica desempenhada por esses servidores maiores da monarquia portuguesa nessa parte da América portuguesa”, o Estado do Brasil (p.334).
Enfim, uma ótima opção a outros professores que desejam apresentar aos seus alunos um texto agradável e extremamente importante, em diversos pontos. Mas uma ótima leitura também para os acadêmicos, pois as contribuições desta obra não se limitam à forma de expor e comprovar sua tese, mas a tese em si, que contraria a interpretação de que o papel dos governadores gerais praticamente se resumia a uma dimensão simbólica. Eles não eram apenas fidalgos que encontravam nas terras americanas uma possibilidade servir ao Rei para assim aumentarem a importância de suas casas. Como mostra Cosentino, acabaram também por contribuir para a administração dos domínios da América, e com protagonismo.
Roberta Giannubilo Stumpf – Centro de História de Além-Mar. Universidade Nova de Lisboa.
COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil (séculos XVI-XVIII). Ofícios, regimentos, governação e trajetórias. São Paulo/ Belo Horizonte: ANNABLUME/ FAPEMIG, 2009, 366p. Resenha de: STUMPF, Roberta Giannubilo. História histórias. Brasília, v.1, n.1, p.227-230, 2013. Acessar publicação original. [IF]
Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média central – RUST (RBH)
RUST, Leandro Duarte. Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média central. São Paulo: Annablume, 2011. 569p. Resenha de: COELHO, Maria Filomena Pinto da Costa. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.64, DEZ. 2012.
Leandro Rust é um historiador que, como poucos, enfrentou o desafio de Walter Benjamin: escovar a história a contrapelo. Tarefa difícil, sobretudo, se o objeto de estudo escolhido pertence à categoria dos grandes monumentos historiográficos, como é o caso do papado. Em termos políticos, sua história configura um modelo referencial que transcende as estruturas religiosas, para chegar a significar a fonte de inspiração e de experiência do Estado laico no Ocidente. Nesse sentido, a história do papado na Idade Média, principalmente entre os séculos XI e XIII, tem sido entendida como fundamental para a compreensão das origens do processo de fortalecimento/centralização do Estado. Mais concretamente, a historiografia chegou mesmo a criar um momento gerador, que ficou conhecido como Reforma Gregoriana.
A interpretação histórica que deu sustentação ao longo dos últimos dois séculos à matriz política e institucional do Ocidente vem sofrendo críticas e há uma série de trabalhos historiográficos que já se transformaram em referência obrigatória, oriundos de diferentes quadrantes (historiografia anglo-saxã, italiana, francesa e ibérica – esta em menor medida). Entretanto, esse fenômeno restringe-se basicamente às realidades políticas do poder laico. Há uma profusão de grupos de pesquisa dedicados a revisitar os documentos/monumentos que fundaram a história do poder e das instituições e a promover um debate intenso sobre a tradição explicativa que, sobretudo a partir do século XIX, apresenta o Poder sob uma única forma e fonte, derivativo, de cima para baixo e, comumente, agindo contra a sociedade para controlá-la e dominá-la desde fora. Os resultados dessas pesquisas e debates são evidentes e abrem novas possibilidades para se contar a história do Estado no Ocidente. Mas não deixa de chamar atenção que a Igreja, como objeto de estudo, tenha ficado de fora dessa renovação, a ponto de muitas vezes se achar que ela, como instituição do tipo estatal, foi a única a realmente entender e experimentar a essência daquele modelo político. As explicações para essa ausência/presença são variadas, e o livro de Leandro Rust é de grande ajuda para refletirmos sobre isso, pois desvela a construção da imagem de uma instituição que enfrentou grandes desafios políticos no século XIX e início do XX, e que se colocou como a guardiã e precursora dos melhores valores políticos do Ocidente, cujas fundações remontariam à Reforma Gregoriana.
Mas Leandro Rust não caiu na armadilha pueril de querer apresentar uma nova interpretação que desacreditasse a velha historiografia. Sua proposta denota outro sentido, totalmente afinado com o que deve ser o ofício do historiador, qual seja o de explicar por que, em determinados momentos da história, o passado é explicado de certa maneira. Sua reflexão desdobra-se em várias direções e cronologias. Interessam-lhe, evidentemente, os documentos da época a estudar, mas também a historiografia que deu sentido a esses registros. Assim, o livro Colunas de São Pedro reafirma a máxima de que a história se faz com documentos, claro, mas também com historiografia.
Colunas de São Pedro divide-se em duas partes que, de acordo com o título, dão sustentação à própria instituição da ecclesia: territorialidade do poder e o poder sobre o tempo. Embora essas duas colunas de sustentação sejam aparentemente familiares àqueles mais versados na historiografia da Igreja medieval, o fato é que reside justamente nelas o grande desafio que o autor propõe: perceber esses sustentáculos de forma diferente. Não se trata de diminuir sua força, mas de mostrar que o material de sua composição é outro.
Para tanto, foi necessário partir de uma profunda análise da historiografia – sem dúvida, um dos pontos altos do livro. A forma como os historiadores da Igreja e do político foram solidificando explicações e conceitos, a ponto de naturalizá-los, requer do pesquisador um refinado trabalho de crítica, permanente. Entre os muitos exemplos que vão surgindo ao longo do livro, destacamos o problema do conceito ‘instituição’, o qual Leandro Rust teve de enfrentar logo no início de seu trabalho. Se, por um lado, o conceito poderia adquirir uma feição explicitamente anacrônica, por outro, havia a dificuldade de definir seu conteúdo, uma vez que na experiência da pesquisa cabia quase tudo. O autor deixa entrever ao longo do livro os caminhos escolhidos – o método – para desentranhar o conceito às fontes. Um belo exercício de história que nos permite entender a instituição papal na Idade Média como ‘poder decisório dos papas’, por meio de registros já sobejamente conhecidos: sínodos e concílios. A pedra basilar, entretanto, assenta-se na maneira como o historiador olha para esses documentos/monumentos. Não como instituições ‘já prontas’, universais, mas com a curiosidade daquele que quer entender como é que se chegou à redação desse texto e o que ele quer dizer no momento da sua produção. A política que pulsa nas instituições.
Uma das colunas da tradição historiográfica da Igreja é a lei positivada. Nas palavras de Rust, uma “imagem, amplamente veiculada, dos integrantes do poder pontifício agindo sob cerrada obediência a regras textuais e coleções canônicas … a Sé Romana como um espaço social diferenciado no medievo, burocratizado e dominado por uma lógica de juristas” (p.27). Ao considerar a própria historiografia como parte integral do objeto de estudo, foi possível chegar à compreensão de que a imagem citada estava profundamente vinculada a outro problema historiográfico: o da ideia de Reforma. Uma ideia que se materializa e se ‘repete’ na história e que adquire na contemporaneidade a incontornável força de ‘um projeto político’. A esse respeito, os documentos escolhidos pelo autor – também usados por essa mesma historiografia – possibilitam outra interpretação. Os textos legais, quando interpretados em seu contexto, revelam-se não como fruto da vontade autocrática de um papa-monarca, mas como resultado de intensas negociações e pactos complexos que integram a voz do pontífice à dos mais diversos grupos de poder da cristandade, por toda a Europa. Uma territorialidade do poder que está longe de se centrar exclusivamente em Roma, que adquire conotações regionalizadas, e que só pode ser configurada graças às lógicas das redes pessoais, das quais o papado tenta participar ativamente. No mesmo sentido, a coluna do tempo não está feita de eternidade, mas de finitude; o papado recorre ao tempo dos homens para dar voz às suas decisões, mas, no mesmo espírito da maleabilidade e da pessoalidade jurídica, também o tempo é móvel e mutável. Assim, será possível, quando necessário e conveniente, inventar permanências e continuidades, legitimar causas e reestruturar a voz da autoridade.
Para Leandro Rust, as práticas reformadoras não são a chave explicativa para a compreensão da política do papado de 1040 a 1210. Ao propor que se entenda a ascensão do papado como um fenômeno político – e não cultural, social, ou econômico – há um deslocamento importante: não era a ‘reforma’ que conferia sentido histórico a essa ascensão. Então, deixar de falar em Reforma Gregoriana – como propõem alguns autores – para adotar expressões como Reforma Papal ou Reforma Eclesiástica não é uma saída para o problema historiográfico. O protagonismo da ‘reforma’ remete diretamente para o discurso reformista do catolicismo de fins do século XIX e do Concílio Vaticano II. A análise cuidadosa que Rust faz da documentação permite compreender que embora a questão moral e a espiritualidade fossem importantes, não eram estes aspectos que delineavam o curso da política.
A conclusão de Leandro Rust é historiograficamente contundente:
O século XI assinala a ascensão política da Sé de Roma, não como a precursora de uma centralização do tipo moderno e burocrático, mas como uma Igreja forçada a superar fraquezas excepcionais. Entre as décadas de 1040 e 1130, o exercício do poder pontifício seguiu à risca a mesma lógica delineada pelas experiências de tempo que pouco nos lembra a “construção de um Estado moderno”. Ele contou com uma disposição regular, perpetuada por gerações de modo constante, interpessoal, estabelecida como modalidade de integração decisória de grande abrangência social e prolongada permanência. Esta disposição estável e coletiva do modo de tomar decisões constitui o que entendemos por institucionalidade papal … As instituições pontifícias com as quais nos deparamos eram ações sociais dotadas de um sentido particular, elas tinham, de fato, finalidades específicas, que não eram alheias à sociedade senhorial, mas tampouco eram “criações” do papado … As instituições pontifícias, portanto, não podem ser definidas no ponto de partida de uma pesquisa histórica. Elas não podem ser previamente classificadas e categorizadas para que o investigador possa, só então, sondar o que a documentação tem a dizer sobre elas.
O capítulo 6, sobre o Cisma de 1130, merece um comentário destacado. Sem dúvida, é nele que o leitor consegue ver com mais clareza o descentramento da política papal, a sua natureza polinuclear, ou seja, como ela era sustentada por várias colunas senhoriais, ao ponto de o centro político do Cisma ter sido a Gália, e não Roma. Muito antes do século XIV, e de Avignon, a política papal já primava pelo deslocamento e pela mobilidade – não pela centralização e fixação.
Por último, não se pode deixar de destacar o exaustivo trabalho com as fontes. Leandro Rust encara o desafio de reler com cuidado uma documentação sobejamente conhecida para desvendar outros significados. O resultado desse esforço denota, apesar de sua juventude, grande conhecimento e erudição, o que lhe permite reconstruir intrincadas redes políticas e desvendar as tramas do discurso jurídico-institucional.
Maria Filomena Pinto da Costa Coelho – Programa de Pós-graduação em História (PPGHIS) e Departamento de História, Universidade de Brasília (UnB). Instituto de Ciências Humanas, Campus Universitário Darcy Ribeiro – ICC Norte. 70910-900 Brasília – DF – Brasil. E-mail: [email protected].
Platão. Helenismo e diferença – AZEVEDO (RA)
AZEVEDO, Maria Teresa Nogueira Schiappa de. Platão. Helenismo e diferença. Raízes culturais e análise dos diálogos. Coleção Archai. São Paulo: Annablume Clássica, 2012. Resenha de: OLIVEIRA, Francisco de. Revista Archai, Brasília, n.9, p.137-140, jul., 2012.
A obra “Platão. Helenismo e diferença. Raízes culturais e análise dos diálogos “aparece publicada sob patrocínio do grupo Archai, consagrado como Cátedra Unesco Archai, que se dedica às origens do pensamento ocidental. A editora é a AnnaBlumme Clássica, de São Paulo, de cujo conselho editorial faz parte o colega e amigo Gabriele Cornelli, que saúdo também como presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e enquanto cooperante com o Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, em cujo âmbito foi elaborado o belo texto que tenho a honra e o prazer de apresentar.
E começo por me referir à sua autora, Maria Teresa Schiappa de Azevedo, que é bem conhecida pela inteligência, argúcia, capacidade crítica e escrita escorreita e elegante. Além disso, trata-se de uma investigadora que domina como poucos a obra de Platão, por um contacto de longos anos em estudos e traduções sempre de elevada qualidade, numa abrangência e aisance que logo são percetíveis na questão sempre difícil da cronologia da obra platónica, cuja discussão nas p.21-31 é um exemplo de análise especialmente conseguida e com grande capacidade crítica e espírito sintético, na linha de Cornford, embora divergindo dele quanto ao Fedro e ao Crátilo (cf. p.29).
E não se trata de um simples rememorar desta velha questão, pois um dos mais profícuos resultados da investigação produzida é exatamente mostrar como, sobre um tema preciso, o pensamento platónico foi sofrendo evolução ao longo do tempo e graças às vivências do próprio filósofo. Essa evolução é rastreada tanto na evolução do pensamento como a nível da arte do diálogo, incluindo a caraterização das personagens e a sua origem, e a de Sócrates em especial (ver p.175 ss., início da Segunda Parte), bem como a escolha dos cenários dos diálogos. M. T. Schiappa de Azevedo assinalou ainda, de forma magistral, a maneira como essa evolução do pensamento e da arte de Platão correspondia, também, à evolução da Atenas coeva e do resto do mundo grego, que passam por alterações muito significativas, em especial na época em causa, entre Péricles e o período helenístico.
A edição agora em apreço faz juz a todas essas qualidades: bem informada, bem escrita, bem organizada. A obra estrutura-se em 3 partes, para além de uma Introdução:
PRIMEIRA PARTE
1. Pressupostos metodológicos (cronologia, Athenaioi, xenoi e barbaroi;
2. Cronologia
2.1 Athenaioi, Xenoi e Barbaroi 31
2.2. Estatuto genérico nos diálogos platónicos 31
2. O testemunho do Crátilo 47
1. Sócrates em Platão
2. Sócrats e Atenas 59
3. Sócrates e xenoi 74
3. Incidências orientais e recriação platónica 79
1. Música grega e incidências orientais 89
2. Divindades orientais e recriação platónica 93
2.1. As duas Afrodites 93
2.2. Adónis 105
2.3. O dionisismo 119
2.4. o xamanismo 134
SEGUNDA PARTE. Diálogos da primeira e da segunda fases
1. Atenas no contexto helénico 175
2. A cidade 175
- A cidade e os mitos das origens 178
2.1. O Eutidemo e o mito de Íon 178
2.2. O Menéxeno e o mito da autoctonia 185
3. Menção genérica de outros Estados gregos 190
4. Lacedemónios 194
2. Atenas e a Antinomia Grego / Bárbaro 213
1. Contextualização 213
2. O testemunho dos diálogos 217
3. O Grande-Rei 224
4. Nomos / Physis na antinomia Grego / Bárbaro 230
TERCEIRA PARTE. Diálogos da terceira fase (últimos diálogos) 249
1. Atenas no contexto helénico 251
1. Atenienses e Xenoi 251
2. A Academia e a experiência siciliana 260
3. Uma nova vivência de xenia 283
2. Atenas e Bárbaros 291
1. Linhas de evolução 291
2. Egípcios 307
2.1. Contextualização 307
2.2. O Egipto de Platão 311
3. Persas
3.1. Contextualização 327
3.2. A Pérsia de Platão 331
4. Vias de superação da antinomia Grego / Bárbaro 338
Em relação a esta estrutura, acrescem conclusões (p.347) bem apropriadas e muito lógicas e fundamentadas; bibliografia exaustiva e criteriosa; um bom índice de autores antigos e fontes.
Diria somente que me pareceria interessante acrescentar um índice temático, pois temas e conceitos interessantes não faltam nas páginas que preenchem o esquema apresentado.
É o que logo se vê nas páginas introdutórias. Num verdadeiro sumário do estado da questão, a própria autora afirma, na p.12: são “escassos os estudos que tratem a questão incontornável da relação grego/ bárbaro através do texto platónico”, prejudicada, para alguns críticos, “pelo peso do passo 470c-471b da República, onde a cruzada pan-helénica da retórica do tempo se traduz na palavra de ordem “contra os Bárbaros”. Mas é a excepção e não a regra, como espero deixar demonstrado na análise que se segue”.
São também explanados alguns pressupostos metodológicos, que enuncio novamente através das palavras da própria autora (p.15-16):
– “a imprescindibilidade de distinção entre estrangeiro grego (xenos) e estrangeiro bárbaro (barbaros), sem a qual será difícil evitar algumas ambiguidades interpretativas – como sucede no estudo, em vários aspectos aliciante, de H. Joly;
– a importância da língua na perspectivação da dicotomia grego/ bárbaro (e parcialmente, da sua superação), de acordo com as reflexões linguísticas e etnográficas que passam do séc. V a.C. às décadas iniciais do século seguinte, concentrando-se no Crátilo;
– a projecção da figura de Sócrates num conceito de cidadania que congloba valores atenocêntricos específicos, sobretudo presentes na primeira fase dos diálogos (mas nunca de todo abandonados);
– a viragem essencial que eventos decisivos da vida de Platão, nomeadamente a primeira viagem à Sicília e a fundação da Academia, consignam na abertura dos diálogos do último período ao mundo dos xenoi e dos barbaroi”.
Esta súmula permite facilmente entrever a riqueza de conteúdo de um estudo que, logo ao escolher a temática proposta, vai tratar um vasto acervo de questões de grande relevância em termos científicos e de atualidade, e alguns até espinhosos, como a interpretação do papiro de Derveni.
Respigo algumas ideias da leitura que fiz. Schiappa de Azevedo sabe contextualizar muito bem as problemáticas discutidas, mostrando como o fenómeno de aculturação se relaciona com permutas e veículos diversos, incluindo a diplomacia e a guerra, o que se torna evidente nos intercâmbios com a Pérsia após as invasões do continente grego. Aqui, o bárbaro inimigo já tinha uma história de relacionamento com a Hélade desde a época minóica e micénica, e em particular desde o período arcaico, quando a aristocracia usava marcas de vestuário persa como sinal de elitismo, fenómeno a que Miller chama perserie (p.299); o inimigo bárbaro, dizia, verá a sua imagem liberta dos estereótipos tradicionais que baseavam a felicidade do Grande Rei no ouro, ideia desprezada no Teeteto, 175c (p.275; cf. Lísis, 209d, Ménon, 78d ou a embaixada persa nos Acarnenses de Aristófanes); sob a influência de Xenofonte, a Pérsia passa mesmo a fornecer paradigmas de comportamento à sociedade grega (p.336). Mais do que isso, é bem posto em relevo como a evolução cultural está fatalmente ligada a circunstancialismos históricos, como quando o imaginário grego substitui o bárbaro persa pelo bárbaro cartaginês ou osco, agora os verdadeiros inimigos de um pan-helenismo já alargado, em finais do séc. V, aos colonos gregos da Magna Grécia e da Sicília.
O exempo da Pérsia e do Grande Rei é apenas uma faceta da apropriação das sabedorias bárbaras praticada pelos gregos, apropriação que, naturalmente supõe ou cria as condições para o reconhecimeno, nos bárbaros, de um Outro que tem mérito e que pode, até, ser superior aos gregos em domínios específicos, da religião à organização política, a ponto de a imagem da Pérsia ideal — a de Ciro —, lembrar Atenas nos seus melhores tempos (p.333; cf. Carta VII, 332a-b, que classifica Dionísio I de Siracusa como “sete vezes menos sábio do que Dario”, p.336). Isto para não falar noutros sinais da influência assíria, caldaica e mesopotâmica, com que poderíamos relacionar os mitos da República e do Fedro, ou a filosofia dualista do Bem e do Mal, do Alcibíades I.
É esse também o caso do Egipto, cuja fonte de conhecimento primacial, à época, é o livro II de Heródoto, um Egipto exaltado por domínios artísticos, como a música e a dança, e científicos, como a farmacologia, a escrita, o ensino da matemática (veja.-se o mito de Theu, no Fedro e Leis 819bd); a aura de simpatia de que goza em Atenas assenta, além do mais, em alegadas relações entre Atenas e Saís – que, segundo o Timeu, 21e e 23-24, teriam sido fundadas pela mesma divindade (Neith na língua egípcia, Atena em grego) – e que beneficiariam de um intercâmbio regular, estabelecido após a fundação do porto de Náucratis e da colónia de Cirene, bem como do casamento do faraó Âmasis com uma grega. Os atenienses e Platão admiram no Egipto a sabedoria milenar e a estabilidade política de um regime baseado numa hierarquia social que terá servido de inspiração à República e às Leis.
A brevidade implícita nesta apresentação permite-me ainda relevar o modo como a cidade de Atenas é apresentada, e com bom fundamento na obra platónica, como cidade que, apesar do mito da autoctonia ou até graças a ele — e fazendo juz às referidas ligações preferenciais ou até originárias com a Iónia e com Saís —, se vai sabendo abrir à diversidade e à tolerância, primeiro na perspetivação de um ideal pan-helénico, depois a estrangeiros bárbaros, firmando-se no culto de Zeus Xenios (Leis, 953de). Acompanhando este percurso, a Academia funciona, a seu tempo, como instituição aberta a xenoi de toda as cidades gregas e mesmo a estrangeiros – e quadra bem ter sido doado por Anicéris de Cirene o terreno onde se fundou a Academia. Como escreve a autora, p.326: “os sistemas legislativos platónicos mantêm no conjunto o respeito pela diversidade, que os diferentes povos e Estados gregos foram consciencializando na sua evolução comum”.
Em suma, recomendo esta leitura, tanto pelo valor científico como por ser uma imagem expressiva da verdadeira paideia grega, base da tolerância europeia da alteridade. E Schiappa de Azevedo demonstrou cabalmente o enorme contributo de Platão para essa maravilha: “Ao longo do séc. V a. C., o conhecimento e a aceitação mútua de padrões civilizacionais diversos foram ganhando ‘simpatizantes dos Gregos’ (phillelenes) entre os Bárbaros e ‘simpatizantes dos Bárbaros’ (philobarbaroi) entre os Gregos (p.343); ou ainda, a propósito das Leis e do uso polissémico do termo xenos: “o intercâmbio deliberado da condição de xenoi, que os três interlocutores partilham entre si nas fórmulas de tratamento, anula idealmente a dicotomia entre polites e xenos, presente de forma mais ou menos perceptível nos diálogos anteriores”(p.285-286).
Francisco de Oliveira – Universidade de Coimbra. Trabalho desenvolvido no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, no âmbito do Projecto Quadrienal da UI&D- CECH/FCT POC 2010.
A dinâmica das fronteiras: os brasiguaios entre o Brasil e o Paraguai – ALBUQUERQUE (RTF)
ALBUQUERQUE, José Lindomar Coelho. A dinâmica das fronteiras: os brasiguaios entre o Brasil e o Paraguai. São Paulo: Annablume, 2010, 268p. Resenha de: BALLER, Leandro. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 5, n. 2, jul.-dez., 2012.
De forma clara o autor no início do livro observa as suas relações com os su-jeitos, ou atores sociais da pesquisa, mostrando ao leitor a sua análise metodológica e teórica, sem perder de vista o seu metiê, que é a Sociologia, ou melhor, às Ciências So-ciais, sem, todavia, esquecer dos perigos que uma pesquisa no ambiente fronteiriço re-presenta ao pesquisador.
Isso posto, auxilia na compreensão do objetivo central do trabalho que está ligado a pensar as representações nacionais e as relações de poder entre o Brasil e o Paraguai, a partir dos discursos dos imigrantes, líderes camponeses paraguaios, jornalistas, empresários, religiosos, entre outros. Acredito que as tipologias de fontes utilizadas supriram os objetivos no tratamento da problemática, as entrevistas, as reportagens nos jornais e revistas, e os documentos analisados foram suportes para pensar tais representações, no recorte da análise.
Referente à bibliografia ela se mostrou variada tanto no tocante às explicações teóricas e do tema específico, percebi uma preocupação em aplicar a interdisciplinaridade especialmente na construção textual, mesmo compreendendo que tal preo-cupação é resultado imediato do trabalho de campo, ou seja, não basta utilizar a inter-disciplinaridade referindo-se apenas a autores e obras de outras áreas, mas sim, esta-belecer da melhor forma possível um diálogo interdisciplinar.
As fronteiras são conceituadas na pesquisa como um limite territorial nas migrações fronteiriças, quanto à presença de brasileiros no Paraguai, sem deixar de lado, as questões políticas, jurídicas e culturais. As representações abordadas pelo au-tor muitas vezes são negativas por meio de conflitos violentos e disputas de território, a imigração clandestina, o tráfico de drogas e o roubo de carros é uma das realidades reforçadas pela imprensa, não que isso seja mentira, mas auxilia na estigmatização acentuada dessas ocorrências. O fenômeno da imigração produz pluralidades de fronteiras, entre o material e o simbólico, a abordagem historiográfica como paradigma a ser seguido nos leva a aplicar grande parte de seus significados na Marcha para o Oeste, algumas vezes confundida até mesmo com a abordagem de Turner, como um mito fundacional da identidade que é elaborada pelos historiadores, a percepção da alteridade pelos antropólogos, sociólogos e geógrafos, que tentam explicar o movi-mento migratório no Brasil pelas frentes de expansão e frente pioneira. No caso dos Brasiguaios isso não se aplica nas migrações fronteiriças. O autor reconhece as diferentes perspectivas e inovações no cenário dos atuais estudos fronteiriços especial-mente etnográficos e históricos, e não apenas aqueles que se dão em relação aos estudos que refletem sobre locais privilegiados de análise, dessa forma encontramos nesses atores sociais o cruzador de fronteiras e o reforçador de fronteiras, tais processos po-dem ser vistos nas teorias pós-coloniais.
A articulação do autor entre as vertentes de pensamento se dá de maneira bastante clara, como por exemplo, com o que denominamos na historiografia de pós-moderno. “Os espaços de intercâmbio cultural não significam espaços de integração social. Hibridismo não é sinônimo de integração” (p. 51). O que parece ser uma característica do pesquisador em relação ao tema; quero dizer que a clareza entre correntes de pensa-mento é para mim um “trânsito” intelectual que coloca o autor em evidência na perspectiva dos estudos fronteiriços.
Seguindo como referência as teorias dos movimentos migratórios tradicionais – migrar do mais pobre para o mais rico – a tônica migracional do Brasil para o Para-guai está invertida, e a grande quantidade de brasileiros indo para o país vizinho a par-tir de 1960 e se acentuando na década de 1970 se explica por alguns fatores; como a proximidade geopolítica, a migração espontânea, as políticas de incentivo, a construção da Itaipu, e o boom do comércio fronteiriço.
O autor retoma os principais eventos históricos do século XIX para dar um ponto de partida à sua explicação e mostrar a ocorrência histórica do movimento migratório, bem como denota a situação política entre 1870 e 1932, um período entre guerras que o Paraguai sobreviveu entre golpes políticos. A abordagem que o pesquisador dá na retomada da articulação política entre os dois países após a Guerra da Tríplice Aliança, mostra um período de ditaduras, concessões e apoio, inclusive na construção de grandes projetos. O que se denominou de estratégias geopolíticas que mostrava o crescimento do Paraguai, era na verdade a legitimação do governo de Stroessner (1954-1989), com o Brasil atuando como expansionista e subimperialista naquele país, Stroessner facilitou a entrada e a compra de grandes extensões de terras nas zonas de fronteiras por estrangeiros, entre eles a maioria brasileiros.
No tocante ao comércio e o seu crescimento o autor denota a importância que é a baixa carga de impostos naquele país e o crescimento das cidades mais próximas ao Brasil, o que se percebe é a forma de fazer este comércio “ilegal” de exportação e importação entre os dois países (sacoleiros, muambeiros, camelôs, atravessadores, […]). O que se percebe é que a economia paraguaia se volta para fora do país e não ao seu interior, especialmente uma dependência para com o Brasil, frutos das políticas de expansão dos dois países que ultrapassa os territórios nacionais.
O quantitativo demográfico brasileiro no Paraguai não é exato, até pela diferente metodologia de controle que é exercida pelos dois países, mas por outro lado, é também fruto de interesses políticos e econômicos, seja do governo, da igreja, da imprensa em geral, etc. essa inexatidão não é neutra de valores, e quanto à ilegalidade e legalidade demográfica há um receio político nessas áreas de fronteiras, como, por exemplo, brasileiros “legais” ocupando cargos políticos, ou mesmo em questões mais diretas como a questão de votos e bases eleitorais em cidades nos dois países.
Os fluxos migratórios ao Paraguai são frutos de duas frentes, uma vinda do sul do Brasil – a maior – e outra do norte e nordeste – a menor. O que ocorre segundo o autor, são várias migrações internas no interior do Brasil e depois ultrapassa-se a barreira internacional, como percebemos nas fontes orais (p. 73/74/75), dessa forma há uma mescla migracional e de naturalidade no interior das famílias. O Paraná é uma das últimas fronteiras nacionais em direção ao Paraguai, desses dois fluxos migratórios.
O autor com o auxílio da bibliografia de Sprandel denota classificações ou estratificações sociais dos brasileiros no Paraguai em seis grupos diferentes (p. 76/77). Há outros autores como Oliveira que pensa essas classificações como categorias na-tivas, tendo assim um sentido histórico e analítico mais rico, do que um sistema de conceitos sociológicos. O autor “utiliza também as classificações dos próprios agentes sociais, que a todo instante estabelecem suas hierarquias sociais e as nomeiam de várias formas” (p. 78). Essa realidade é diversa e complexa para o autor, justamente porque a problemática estudada, em relação às identidades dos imigrantes que viera já de regiões distintas do Brasil.
No Paraguai a frente de expansão capitalista atua em antagonismo, pois en-riquece os de “fora”, ao mesmo tempo em que empobrece e expulsa os pequenos agricultores, o que provoca uma mudança nos sistemas políticos e econômicos, justamente por causa dos organismos de fomento – Bancos – com o fim das ditaduras, os agricultores pobres vislumbram novas possibilidades de propriedade no Brasil com o Pl-no Nacional de Reforma Agrária (PNRA), para muitos pesquisadores esse é o movimento que deu origem aos denominados Brasiguaios. Nesse mesmo contexto, os empresários e grandes agricultores se mantiveram no país e se fortaleceram, com outros incentivos, acordos e demandas, como por exemplo, com o Mercosul em 1995 (Tratado de Assunção), especialmente com o plantio de soja e a aplicação de novas tecnologias, sendo desse montante entre 70 e 80% responsáveis os imigrantes e desses em sua maioria brasileiros.
O autor denota alguns exemplos de como essa expansão é desigual no Paraguai. Por exemplo, ele cita a renda per capita no departamento de Alto Paraná no Paraguai que gira em torno de 14 mil dólares, enquanto no restante do país ela cai para aproximadamente 950 dólares. Os principais indicadores dessa expansão é a pre sença brasileira que se dá pelo plantio em larga escala de soja, pela Usina de Itaipu, e pelo comércio da Ciudad del Este, o que de certa forma legitima nesse contexto espacial um crescimento na zona fronteiriça, não descartando em momento algum a expansão em seus moldes para o interior daquele país. No interior do país ocorrem outras formas de vislumbrar essa expansão ocorrendo até mesmo atritos interclasses, haja vista que adentram as áreas dos Menonitas.
Esses atritos e conflitos fazem com que muitos empresários agrícolas, e grandes agricultores brasileiros voltem seus olhares para a aquisição de propriedades no Brasil comprando terras especialmente em MT, RN, PA, e GO. Por outro lado, quem permanece no Paraguai acaba aumentando seu poder econômico e político com a nacionalização dos filhos e descendentes, como ocorre em Santa Rita. “Nessa perspectiva, os estrangeiros seriam os porta vozes dos ideais da modernidade, enquanto os paraguaios seriam tradicionais e atrasados […]” (p. 90).
A influência cultural brasileira no Paraguai se dá muito em relação ao idioma português nas zonas fronteiriças, essa questão mexe com “todos” os aspectos culturais nacionais paraguaios desde as escolas, televisão, rádios, fachadas de lojas, letreiros públicos, entre outras formas. Tais aspectos acabam mesclando as culturas em um com-plexo, ambíguo e ambivalente movimento migratório, com seus conflitos, sejam “bons ou ruins”, em permanente desequilíbrio econômico de um país que se adapta no interior do outro.
O autor explora de maneira hábil as fontes a que se propõe sobre os conflitos na zona de fronteiras, mostrando a perspectiva bilateral das questões que envolvem brasileiros e paraguaios, e ainda que há outros imigrantes que não são brasileiros nestes locais. Existe até mesmo de maneira bastante visível uma tendência conflituosa entre paraguaios e indígenas naquele país, o que mostra que as relações de poder não são uníssonas. Aparecem nesse contexto de disputas de terras as várias narrativas coletadas pelo autor como a visão de paraguaios, brasileiros, jornalistas, autoridades, professores, motoristas, diretores de escolas, entre outros profissionais e segmentos. Muitos deles pela perspectiva do autor buscam mostrar a origem do movimento migratório para o Paraguai na “oferta” que se dava no período ditatorial em ambos os países.
Atualmente e na visão do autor ele percebe as formas de resistência nestas relações de poder, bem como se ordenam os discursos políticos de políticos brasileiros no Paraguai, e de discursos políticos paraguaios, ou seja, as decisões se dão na maioria das vezes obedecendo a conjunturas políticas da atualidade, e propósitos políticos lo-cais, sempre atuando sobre forte pressão, um exemplo, é a aprovação da Lei de Segurança Nacional Fronteiriça, que antes era defendida sob o jugo da questão territorial e não era aprovada, no momento de sua aprovação ela foi defendida enquanto propósito da identidade e do nacionalismo. E mais atualmente a criação do Mercosul deu espaços de infiltração multinacional nessas mesmas áreas. Considero as percepções do autor excelentes ao remeter muitas dessas questões atuais a um passado memoria-lístico dramático nas relações dos dois países, ou seja, mesmo em momentos de “apa rente” tranqüilidade, a disputa é um ponto efervescente em qualquer discussão entre pessoas desses dois países, seja nos meios políticos, intelectuais especialmente de es-querda, e muito mais ainda entre proprietários e campesinos, isto é, se estabelece na percepção do autor uma disputa cotidiana no senso comum. E este aspecto mostra co-mo o autor se relaciona com seus interlocutores, bem como, a maneira como explora a literatura em relação ao método da História Oral.
A narração histórica da nação na fronteira ocorre por recortes sincrônicos, sem uma perspectiva linear, dilemas que remontam aos impérios metropolitanos, sem-do primeiro por questões religiosas – Jesuítas – depois por questões de enfrentamento – Guerra da Tríplice Aliança – e por último a influência geopolítica – proximidade territorial – entre Brasil e Paraguai.
O autor percebe um discurso atual no Paraguai que os leva a uma imagem negativa da presença dos brasileiros, como os coloniais Bandeirantes, esses discurso se fortalece com a monumentalização dos locais de memória, que para as “pessoas comuns” possui um valor simbólico importante. A visualização é propagada por bispos que exercem forte influência política, além de religiosa em alguns Departamentos, por outro lado, estes discursos sofrem resistências internas por parte da imprensa que muitas vezes defende os brasileiros que ali residem. Nota-se que as fronteiras imprecisas do século XVII, fazem com que religiosos até hoje se vejam como guardiões das fronteiras, como ocorria, por exemplo, com as reduções indígenas, o Paraguai atual-mente herda excessivamente esse discurso, de proteção espanhola, seja na Argentina guaranítica, e nas margens dos grandes rios dessas regiões. O Brasil traz consigo o es-tigma de imperialista e/ ou expansionista, como se apresentavam os Bandeirantes do Século VXII, contra os indígenas convocados pelos espanhóis para defender esse território.
Outros defendem o progresso que os brasileiros levam ao Paraguai, podemos perceber isso como uma luta simbólica, em que o brasileiro está em permanente avanço silencioso no outro país, na visão de segmentos de esquerda. Não se negou em mo-mento algum a ressignificação da memória que se herdou das duas batalhas – Tríplice Aliança, e Guerra do Chaco. Bem como, os marcos simbólicos de ambas que se juntam num mesmo sentimento nas experiências bélicas do passado, reforçando com isso o nacionalismo paraguaio. Pelo lado brasileiro essas experiências segundo o autor podem ser denotadas pelos escravos, ou seja, as questões bélicas funcionam como um espécie de calvário para o Paraguai. Terminam-se os combates, mas continuam as lu-tas simbólicas de heróis e traidores. O autor retoma e conduz muito bem o revisionismo historiográfico do pós-guerra no Paraguai, especialmente com Leon Pomer, Ju-lio José Chiavenatto, e Francisco Doratioto, sem deixar de lado outras abordagens so-bre a questão, como uma que se apresenta nos livros didáticos do Paraguai em que a figura de Solano Lopes não é aceita como herói pelos próprios paraguaios.
Nesse ínterim a figura de Stroessner não demora à aparecer como o “pa-triarca do progresso”, sendo ele o principal personagem da imigração brasileira para o Paraguai, essa questão durante anos personificou sua imagem com o auxílio das forças armadas, às vezes se compara à outros heróis do passado surgindo lado-a-lado com outros famosos personagens. Em 35 anos de ditadura ele apoiou a entrada de capital estrangeiro e de imigrantes com o “intuito” de desenvolver o país, uma ditadura personalista que viu desde a ascensão com a construção da Usina de Itaipu Binacional, até a decadência com o final das ditaduras na América do Sul. Mas para o povo para-guaio apenas em 2008 se rompeu com o Partido Político Colorado e os ideais de Stroessner com a eleição do bispo Fernando Lugo, nota-se uma espécie de nostalgia a Stroessner no Paraguai, que o autor denota como a necessidade de uma construção identitária forte e coletiva espelhada no General, especialmente para pessoas que viveram naquele período, bem como pelos imigrantes brasileiros que foram favorecidos pelo seu sistema de governo.
“As lembranças dos momentos significativos servem para demarcar fronteiras políticas e culturais, e reafirmar identidades nacionais no confronto contemporâneo na zona fronteiriça […], as recordações do passado servem para reativar e alimentar os sentidos das lutas do presente” (p. 159). Percebe-se que de uma coletividade pode haver a reativação e intensificação dos ressentimentos, reafirmando inferioridades e superioridades nacionais.
O autor denota o “jogo” de representações que se configuram, nestas “fronteiras entre ‘nós’ e ‘eles’”, a partir de discursos classificatórios entre imigrantes brasileiros e os paraguaios, faz inclusive uma rememoração no tempo histórico na in-tenção de mostrar os caracteres do jogo identitário e de alteridade, desde o movimento migratório europeu para a América e em consequência para o Brasil e seus principais descendentes – italianos, alemães, portugueses, holandeses (…). Nesse sentido, muito do que é representado no Paraguai é o que se herdou desses discursos provindos da Europa, com ideologias prontas e que são reproduzidas no Paraguai, como por exemplo, a ideologia do trabalho, da limpeza, da organização, e a valorização dessa cultura considerada superior tanto por parcelas paraguaias, quanto por parcelas brasileiras. Esse ethos classificatório mostra na relação entre as pessoas dos dois países a gestação de preconceitos que também ganham força em outro tempo histórico – a Guerra da Tríplice Aliança no século XIX.
Tais analises valorativas mostradas por meio de suas fontes cria estigmas que provocam outras conseqüências, como as ondas nacionalistas nesses países e a construção de discursos de ambos os lados que fazem com que se generalizam aspectos culturais, sociais, agrícolas, econômicos, religiosos, entre outros, nos dois países. Esses aspectos estigmatizantes encontram teses que advém do período colonial, como já foi posto anteriormente. A relação de poder nessa construção de discursos encontra variá-veis que servem para denotar a realidade, ou para atender um objetivo atual ligado a questões políticas e de propriedade, o que o autor chama de figuração de poder, que está diretamente permeada nas relações de poder, momentos em que as construções das imagens são feitas, aparecendo geralmente o valorativo superior e inferior, isto é, é a produção das identidades que estão em disputa, em um meio bastante dinâmico que são os movimentos migratórios nas zonas fronteiriças e nesse contexto “todos” os fa-tores culturais estão atuantes.
Talvez a grande expectativa que o autor lançou e que é difícil de conferir em sua escrita clara e objetiva, é de como legitimar estes discursos, por se tratar, como ele mesmo afirma, de realidades heterogêneas, e de representações homogêneas, para isso o esforço do autor é interessante, pois a percepção desses discursos classificatórios neste contexto fronteiriço é um jogo de expressões que de certa forma explicam tais expectativas como disputas simbólicas, em que se percebe as resistências, as imposições, as micro relações sociais, as tensões culturais e especialmente como isso “tudo” é res-significado pelas pessoas, isso quer dizer “os termos estão em permanente mudança de sentido e são ativados conforme as relações conflituosas que se estabelecem no cenário das relações interculturais” (p. 191). As relações discursivas muitas vezes são produzidas pela imagem do espelho do ‘outro’, e este ‘outro’ não pode ser generalizado, seja em seu espaço, tempo, ou história. Enfim o que denota-se aqui é um Brasil com aspectos supe-riores, e um Paraguai inferiorizado.
Acredito que as identidades fronteiriças é o cerne da pesquisa do autor, o entrelaçamento das propostas que discute no decorrer do livro, é resultado de uma extensa pesquisa. Consolidar identidades a meu ver é impossível, em um ambiente fronteiriço e que envolvem práticas culturais discrepantes, e a latente sociabilidade co-mo percebe-se na coexistência entre brasileiros, paraguaios, e Brasiguaios, isso se torna ainda mais complexo, pois não existem construções/produções/processos humanos eternos, e a identidade faz parte desse jugo em meio as expressões e dos discursos pro-duzidos e que alimentam essas práticas e o seu cotidiano; como ocorre com a im-prensa, intelectuais, políticos, empresários, religiosos, camponeses, campesinos, entre outros grupos, sejam eles grupos étnicos, nacionais, de proprietários, comunidades, etc.
Percebe-se que são os vários conflitos de ordem objetiva e subjetiva que demonstram a complexidade da pesquisa, ao observar a tentativa de construção indentitária como algo que não age sem a resistência de grupos, comunidades, nações, etnias, ou seja, as relações de poder que o autor inúmeras vezes aborda é uma complexa rede de simbologias e concretudes que não se auto explicam, muito pelo comtrário servem para legitimar perspectivas despreparadas que não percebem a ambiva-lência que está alocada nos dois lados desses países, isto é, o olhar bilateral do autor nos leva a ver que a noção de cidadania se conquista e se perde ao longo do processo histórico que existe enquanto ocorrência histórica entre Brasil e Paraguai, e posterior-mente com os Brasiguaios. Uma história que tem genealogia próxima de meio século de ocorrência e que sofre interferências desde o século XVII, até a atualidade.
As práticas culturais que fazem parte da convivência de brasileiros e paraguaios considerados “puros” são claras, como por exemplo, a música, o tererê, o idio-ma, a moeda, as escolas, as famílias […]. Tais práticas corroboram na hibridação desse novo grupo e dos considerados “puros” como um processo inacabado. Por último concordo com a abrangência maior que o autor dá ao termo Brasiguaio, algo que já de-fendi em outros estudos, isso quer dizer que a compreensão em torno do que é ser brasiguaio é independente do entendimento desse grupo, como sentido de etnicidade; quero pensar que muitos estudos auxiliam a pensar esta perspectiva enquanto escolha teórica e metodológica em relação ao tema, mas que não dá conta da totalidade que representa a formação do grupo, bem como a sua manutenção no tempo presente, sem, todavia deixar de reconhecer a importância de outras abordagens, no ambiente fronteiriço, especialmente entre os conflitos harmoniosos ou de tensões que o Brasil mantem com os países vizinhos na América do Sul.
As hipóteses de futuras e prováveis pesquisas que o autor levanta no final do livro são riquíssimas, justamente por que não se pode cair em perspectivas generalizantes em relação às fronteiras e aos países e suas gentes que circundam o Brasil. Ou seja, cada caso possui suas especificidades. Acredito que a mobilidade do autor em re-lação às diferentes “correntes” de pensamento, seja na Sociologia, na Antropologia, na Geografia e na História, é importante para a que a obra não sofra classificações teóricas e metodológicas, quero dizer que a preocupação em abordar diferentes perspectivas como a pós-modernidade, o marxismo, a história do tempo presente, a história oral, a imprensa, entre outras sintetiza para o leitor não especialista no assunto uma realidade complexa da fronteira e que pode ser compreendida por meio das fontes trabalhadas, independente das questões simétricas ou assimétricas sobre a identidade. Esta resenha não substitui a leitura integral do livro, tem como objetivo, estabelecer pontos de reflexões e de abordagens que a pesquisa do autor denota.
Leandro Baller – Universidade Federal Mato Grosso do Sul. Centro de Ciências Humanas e Sociais Campus de Nova Andradina, Cidade Universitária Rodovia MS 134 Km 3. CEP 79750-000. Nova Andradina – MS – Brasil. E-mail: [email protected].
Sexo e Violência – Realidades antigas e questões contemporâneas – GRILLO et al (RMA)
GRILLO, José Geraldo C.; GARRAFFONI, Renata S.; FUNARI, Pedro Paulo A. (Orgs.). Sexo e Violência – Realidades antigas e questões contemporâneas. São Paulo: Annablume, 2011. 284p. Resenha de: POZZER, Katia Maria Paim. Revista Mundo Antigo, v.I, jun., 2012.
Este livro é o resultado de encontros. Encontro entre jovens pesquisadores e experimentados estudiosos, encontro entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo. Todos dispostos a refletir sobre dois assuntos que são, ao mesmo tempo, absolutamente atuais e muito antigos: sexo e violência. Para tratar destes temas os organizadores da obra optaram por uma perspectiva multidisciplinar, onde a história, a antropologia, a psicologia, a arqueologia, a filosofia, a educação física, entre outras, são chamadas a colaborar neste debate. Além disso, o livro apresenta recortes cronológicos que retomam as práticas e as percepções dos homens e mulheres de outros tempos acerca da sexualidade e da violência.
O livro abre com um polêmico texto de Ian Buruma, jornalista e professor de direitos humanos em Nova York, originalmente publicado no Corriere della Sera, na Itália. Ele propõe uma discussão sobre a relação entre a sexualidade e o fascismo na Europa dos anos 40 e, a sexualidade a intolerância na Europa dos dias de hoje. Leia Mais
O Brasil contado às crianças: Viriato Corrêa e a literatura escolar Brasileira (1934- 1961) | Ricardo Oriá
O Brasil contado às crianças: Viriato Corrêa e a literatura escolar Brasileira – 1934-1961 do historiador José Ricardo Oriá Fernandes traz um conjunto de ideias que aludem ao universo escolar de crianças e jovens dos anos 1930, através da revalorização da obra História do Brasil para crianças, de Viriato Corrêa, reeditada entre os anos de 1930 e 1960.
Os seis capítulos que integram o livro, divididos em três partes – “A literatura escolar para a infância brasileira: livros de leitura e ensino de História”; “Viriato Corrêa e a Companhia Editora Nacional” e “História do Brasil para crianças e o ensino primário” – têm por propósito explorar a produção historiográfica escolar brasileira. Inicialmente o historiador centra as análises nas propagandas feitas pela Companhia Editora Nacional e no processo de divulgação dos livros de História do Brasil para o público infanto-juvenil, com destaque para a História do Brasil para as crianças, sucesso entre os jovens leitores e assinado por Corrêa. Além disso, Oriá propõe discutir a denominação feita entre a literatura escolar e a literatura infantil ressaltando as dificuldades em se estabelecer as devidas diferenças. Referenciando-se nas análises realizadas por Leonardo Arroyo que destaca o exemplo de Monteiro Lobato, Oriá apresenta-nos o panorama editorial dos primórdios republicanos e o florescimento de uma literatura infantil, calcada nas “modernas” propostas educacionais da Escola Nova. Ainda no primeiro capítulo intitulado História do Brasil para crianças: que livro é esse?, o autor traceja os contornos do aparecimento dos primeiros livros para crianças no Brasil, no início do século XX, com o advento da República, associado a uma preocupação veemente em modernizar o país. Leia Mais
O Imperialismo romano: novas perspectivas a partir da Bretanha – GARRAFFNI et al (RAP)
GARRAFFONI, Renata Senna; FUNARI, Pedro Paulo A.; PINTO, Renato (Orgs.). O Imperialismo romano: novas perspectivas a partir da Bretanha. Trad. Luciano César Garcia Pinto. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: RUFINO, Rafael Augusto Nakayama. Revista Arqueologia Pública, Campinas, n.6, 2012.
Os estudos acerca do mundo clássico vêm recebendo, a partir do ponto de vista da História e da Arqueologia, propostas de análises inovadoras. Ao contrário das tradições interpretativas que concebiam as sociedades antigas como modelos de homogeneidade social e cultural, utilizando conceitos tais como legado, herança, civilização, helenização, romanização, alguns historiadores e arqueólogos que tematizam o mundo antigo têm direcionado seus esforços para o estudo das apropriações modernas da Antiguidade.
Inseridos em uma discussão epistemológica mais recente, esses estudos chamam a atenção para o aspecto discursivo dos estudos clássicos, rechaçando posturas objetivistas. Convergem, nesse sentido, para “uma reação subjetivista, que coloca no centro de qualquer visão sobre o passado o autor dessa visão, que vê de determinada posição social, econômica, histórica, de gênero (homem, mulher)” (Garraffoni; Funari, 2007: 4). Comumente vistos como afastados do campo da política moderna, os estudos sobre a Antiguidade, como é ressaltado por Martin Bernal, “têm sido marcados por uma atitude francamente política” (2005: 13).
É nessa perspectiva que está inserido o livro O Imperialismo Romano: novas perspectivas a partir da Bretanha de Richard Hingley, professor do Departamento de Arqueologia da Universidade de Durham, na Inglaterra. Este volume reúne quatro artigos, inéditos em língua portuguesa, publicados em primeira versão entre 1991 e 2008. Em comum entre eles é a pretensão de se analisar os modelos interpretativos utilizados nos estudos sobre a Roma clássica pelos estudiosos britânicos, no ensejo de desconstruir os discursos imperialistas do início do século XX que fundamentaram leituras sobre o passado romano, tanto na História como na Arqueologia. A partir dessas críticas é que são propostas análises inovadoras, influenciadas, em grande medida, pelas teorias pós-colonialistas, que tentam construir interpretações mais flexíveis acerca do Império romano.
No capítulo de abertura, O “legado” de Roma: ascensão, declínio e queda da teoria da romanização (texto originalmente publicado em 1996), Hingley discute as mudanças sociais ocorridas com a chegada dos romanos na Bretanha, e como isso pode ter refletido na cultura material. Estabelece, então, uma discussão disposta em três tópicos com temáticas inter-relacionadas.
No primeiro, seu intento é “examinar alguns dos modos pelos quais os britânicos usaram a imagem da Roma clássica para identificar e fundamentar suas próprias nacionalidade e expansão” (p.28). Muitos paralelos e associações com Roma foram estabelecidos durante os períodos medieval e moderno, principalmente entre os sistemas imperiais britânico e romano (p.29). Já no início do século XX, entre 1899 e 1914, um paralelo particular foi promovido por políticos e intelectuais que “argumentavam que a história de Roma fornecia ‘moralidade’ aos britânicos numa época de particular pressão internacional” (p.30). Esse paralelo romano, segundo Hingley, “foi empregado para definir uma linha de continuidade no desenvolvimento cultural europeu desde o passado clássico até o presente” (p.31).
O principal acadêmico do período estudado é o arqueólogo e historiador Francis Haverfield (1860-1919), pioneiro na Arqueologia sobre o período romano-britânico, que está “entre os estudiosos que advogavam pelo especial valor moral que os estudos sobre Roma tinham para os britânicos” (p.32). Um dos conceitos promovidos por Haverfield é o de “Romanização”, do qual Hingley é crítico, onde é estabelecido “um modelo para o processo de mudança progressiva que tem muito em comum com os conceitos de ‘progresso’ e de ‘desenvolvimento’, próprios do século XIX e do início do século XX” (p.33). Essa idéia seria “comprovada” pela “transformação gradual da cultura material, na província, de nativa a romana, durante todos os três séculos e meio de dominação romana” (p.34).
No segundo tópico, Hingley percebe uma mudança ocorrida nos estudos sobre a “Romanização” nos últimos setenta anos, realizados por acadêmicos já no período de declínio ou posterior ao fim do Império Britânico: “a romanização deixou de ser vista como uma forma de progresso moral e social, mas sim vista à luz do desenvolvimento, ou aculturação, pelo qual a sociedade nativa, de imediato, adotou a cultura ‘romana’” (p.34). Nesse momento, portanto, a teoria passaria por uma mudança conceitual, constituindo-se um processo de adoção cultural, não imposição. O trabalho de Martin Millet (1955-), professor de Arqueologia clássica da Universidade de Cambridge (Inglaterra), é, para Hingley, ilustrativo a esse respeito, onde “indivíduos bem-intencionados das elites imperial, tribal e local gentilmente demonstravam as vantagens dos novos costumes aos interessados da sua parentela, de seus clientes e de seus escravos, e permitiam – até mesmo encorajavam – mudanças voluntárias em seus modos de vida. (…) Considerou-se, então, que mudanças na cultura material eram direcionais e que tinham resultado de um desejo, da parte dos provinciais, de se tornarem romanos” (p.36).
Por fim, Hingley propõe discutir a contribuição das teorias pós-coloniais para uma crítica dos discursos anteriores, pois “trabalhos cuja análise é póscolonial podem permitir-nos, todavia, ver e considerar as perspectivas que motivaram os estudos passados e, também, sugerir esquemas amplos para novas formas de compreensão” (p.35). Questiona os modelos interpretativos que “ignoram o papel ativo da sociedade nativa em determinar a função, o valor e o papel de suas próprias posses” (p.37), bem como as abordagens que sugerem que há um fenômeno tal como uma cultura material “romana”: “vários itens materiais que são tomados como índice de ‘romanização’ não provieram de Roma, mas de outras áreas do Império” (p.37).
Sendo assim, o que Hingley espera de uma Arqueologia acerca da Bretanha Romana é que ela “aceite a teoria de que indivíduos e comunidades adotavam ativamente novos símbolos e ideias para criar ou manter o controle das relações de poder; mas, ao mesmo tempo, ela pode opor-se a isso com uma segunda teoria: comunidades e indivíduos dominados reagiam às tentativas de dominá-los por meio de atos de oposição que tinham correlatos materiais” (p.41).
No segundo capítulo, O campo da Bretanha Romana: o significado das formas de assentamento rural (texto originalmente publicado em 1991), Hingley direciona sua atenção aos estudos dos assentamentos rurais romanobritânicos.
Aponta que seu objetivo será “considerar certos conceitos e temas relevantes ao estudo do assentamento rural Romano-britânico. (…) a intenção é considerar um conjunto de modelos que examinam a natureza das evidências” (p.49). Considera que os “sítios de assentamento romano-britânico variam em tamanho, forma, abundância, função e localização” (p.50), e esses aspectos tornam-se importantes para um estudo da organização sócio-econômica das comunidades das províncias da Bretanha Romana. Também é possível, por meio da cultura material, vislumbrar o propósito econômico de cada assentamento, seja ele comércio, indústria ou agricultura.
É tratado cada tipo de assentamento individualmente, oferecendo suas definições e principais características materiais: Outros assentamentos rurais (p.52); Pequenas cidades (p.52) – antes de explorar em detalhe a organização dos assentamentos e da paisagem que os cercam – A organização do assentamento (p.53); A organização da paisagem (p.58).
É a partir de um estudo crítico dos conceitos e temas que vêm sendo empregados para a interpretação da cultura material dos assentamentos romano-britânicos, bem como os modelos interpretativos arqueológicos utilizados, que Hingley procura mostrar que, dependendo do modelo utilizado, uma determinada situação sócio-econômica pode parecer muito mais complexa quando comparada a visões mais tradicionais.
No capítulo seguinte, Diversidade e unidade culturais: Império e Roma (texto inédito), Hingley escolhe como temática a ser desenvolvida a diversidade cultural do mundo da Roma clássica, e aponta como objetivo “explorar um aspecto da relação entre o mundo da Roma antiga e os nossos tempos atuais, ao destacar uma perspectiva que se desenvolve no interior dos estudos clássicos: a análise da diversidade, pluralidade e heterogeneidade culturais” (p.67). A proposta é analisar a questão do contexto político-social no interior do qual tais ideias emergiram e estão florescendo. Destaca, também, a questão da contemporaneidade dos estudos sobre a Roma clássica que “com freqüência explicam os fenômenos históricos antigos nos termos que satisfazem os gostos e os interesses modernos” (p.68), e o uso de Roma ao longo da história, pois “desde a queda do Império romano no ocidente, durante o século V d.C., a Roma clássica continuou a ser usada para ilustrar o presente de formas variadas e contrastantes” (p.69). Ilustrativo a esse respeito é o conceito de “Romanização”, uma categoria analítica criada, em especial entre os séculos XIX e XX, para enfatizar “um processo de ‘progresso’ desde uma cultura ‘bárbara’ até uma ‘romana’ na expansão do Império” (p.71), criando, dessa forma, polaridades e hierarquias que acabaram se configurando como ferramentas conceituais para o uso das nações imperialistas modernas.
Nesse sentido, a atenção deve ser voltada, segundo Hingley, “para o papel ideológico desempenhado pela arqueologia clássica e pela história antiga ao longo de toda a era moderna” (p.73).
Como crítica a essa visão, Hingley apresenta estudos que apontam para um cenário cultural e identitário muito complexo e diversificado, onde “a cultura ‘romana’ não é mais vista como uma entidade monolítica e claramente delimitada, mas como derivada de uma variedade de fontes ao longo do Mediterrâneo” (p.75), bem como estudos do início do século XXI que “começaram a fragmentar a identidade romana, ao se voltarem para interpretações mais complexas que, com freqüência, valem-se de vestígios materiais” (p.77). Menciona alguns estudiosos que vêm adotando essa perspectiva ao tratar da Roma clássica como Nicola Terrenato, Greg Woolf, Carol van Driel-Murray e Emma Dench.
Outras questões ainda são tratadas por Hingley como o conhecimento do latim, a urbanização, a militarização e a marginalização no Império romano para apresentar um cenário de grande heterogeneidade no mundo romano.
Por fim, aponta para a urgência do questionamento acerca dos propósitos, teorias e métodos relativos aos estudos contemporâneos sobre Roma. Ressalta que “os estudiosos do mundo clássico deveriam trabalhar a fim de procurar o contexto em que nosso entendimento do imperialismo romano se desenvolveu” (p.92). E conclui com um alerta: “se não encararmos o contexto político do trabalho que produzimos, seguiremos uma longa tradição acadêmica de recriar o fantasioso e o impossível: um campo neutro e apolítico dentro do qual os estudos clássicos pudessem funcionar” (p.93).
No último capítulo, O Muro de Adriano em teoria: uma nova agenda (texto originalmente publicado em 2008), Hingley inicia a discussão considerando a ocorrência de um enigma, qual seja, “o declínio sério e dramático, nas universidades britânicas, da pesquisa relativa ao primeiro monumento romano na Bretanha” (p.105). O monumento em questão é o Muro de Adriano, assim conhecido por ter sido construído por volta de 120 d.C., a mando de Públio Élio Trajano Adriano, imperador romano entre 117 e 138. Acrescenta, ainda, que há uma “estagnação dessa pesquisa em comparação aos estudos de urbanismo, de assentamento rural e de achados romanos” (p.106).
Ao apontar as razões para essa situação, Hingley coloca que existe uma noção de que “já possuímos a maior parte do que precisamos saber e que resta pouca coisa para se alcançar. (…) O monumento parece ser fácil de se interpretar, seguro e imutável, uma fundação sólida sobre a qual baseamos nossas ideias sobre o passado antigo de nosso país” (p.107). Esse entendimento solidificado sobre o monumento parece contar com o grande auxílio das escolas de educação básica, onde “toda criança educada em escolas da Inglaterra dá a impressão de ter aprendido uma versão de ‘fatos’ básicos acerca do Muro, e, em geral, é difícil enfrentar esse saber, por causa de sua provável importância como parte de mitos de origem fundamentais sobre a Inglaterra, Escócia e a Grã-Bretanha” (p.108). É justamente um enfrentamento que tem pela frente os estudiosos que almejam tornar novamente o Muro de Adriano um objeto de pesquisa, pois há uma forte relação entre o Muro e as identidades nacionais, inglesa e escocesa, que já se encontram naturalizadas.
Por fim, Hingley questiona se há razões para o otimismo e, então, sugere “uma série de áreas que poderiam formar a base de uma nova agenda de pesquisa. Essa lista não se pretende, de modo algum, definitiva ou exclusiva, e um grande número de outras questões de pesquisa deveriam ser formuladas” (p.109). Algumas questões são levantadas e somente sugeridas: O muro articulou um discurso romano de identidade imperial? (p.109); Como as experiências acerca do Muro de Adriano estavam relacionadas à existência de outras fronteiras (p.110); Como o Muro valeu-se de paisagens pré-existentes e como sua presença influenciou as experiências de vários eleitorados (p.111); O que o Muro significou para as populações posteriores? (p.112). A pretensão do autor é chamar a atenção para as pesquisas que levem em conta a complexidade do monumento e, por outro lado, questionar a solidez e a imutabilidade que caracteriza os estudos concernentes ao tema atualmente.
Foram apresentadas algumas idéias gerais sobre essa importante obra que busca perceber o mundo da Roma clássica de forma mais problematizada, ao considerar as leituras que são feitas para legitimar ações no presente, bem como os mecanismos de apropriação do mundo antigo para usos contemporâneos.
Busca-se, ainda, estabelecer um diálogo entre História e Arqueologia clássica, em uma postura interdisciplinar, que permite rever os conceitos e categorias utilizadas em prol da construção de modelos teóricos menos rígidos e excludentes, abrindo possibilidades de produção de novos conhecimentos sobre o mundo antigo, e romano, em particular.
Enfim, é uma obra que concede ao público brasileiro o acesso à produção acadêmica internacional, mostrando que os estudos sobre a Antigüidade clássica, muitas vezes vistos como conservadores e elitistas, permitem abordagens múltiplas, onde a ênfase é dada ao caráter heterogêneo, plural e conflitivo do mundo antigo.
Referências
BERNAL, Martin. A imagem da Grécia Antiga como uma ferramenta para o colonialismo e para a hegemonia européia. Trad. Fábio Adriano Hering. In: Textos Didáticos – Repensando o Mundo Antigo. IFCH/UNICAMP. nº49, abril de 2005.
GARRAFFONI, Renata Senna; FUNARI, Pedro Paulo A. Morte e vida na arena romana: a contribuição da teoria social contemporânea. In: Fênix: Revista de História e Estudos Culturais. Janeiro/Fevereiro/ Março de 2007. Vol. 04, ano IV, nº01. p. 4. Disponível em: www.revistafenix.pro.br.
Rafael Augusto Nakayama Rufino – Mestrando em História Cultural pelo IFCH/UNICAMP. Bolsista CNPq.
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/8635744/3460
[MLPDB]Alexandre Magno: aspectos de um mito de longa duração | Pedro Prado Custódio
“Seu nome assinala o fim de uma época e o começa de uma nova” Johann Gustav Droysen (Droysen, 2010: 37).
A máxima do historiador alemão Johann Gustav Droysen sobre Alexandre, o Grande, bem ilustra a magnitude em torno da figura do conquistador macedônico. Desde contemporâneos como Cúrcio e Arriano, passando por acadêmicos como o próprio Droysen no século XIX, e chegando aos dias atuais com a obra resenhada, muitos tentaram compreender como apenas uma pessoa conseguiu feitos tão soberbos que assumiram contornos lendários.
O gênio militar. O líder nato. O piedoso com os derrotados. Mas, também, o soberbo. Aquele que se entregou às opulências orientais, que ultrapassou os seres mitológicos.
As lendas em torno de Alexandre são infindáveis e recriadas em consonância com a época que as traz à tona [2]. A obra “Alexandre Magno: aspectos de um mito de longa duração”, de Pedro Prado Custódio, toma a assertiva acima como base para analisar as interpretações em torno do filho de Felipe da Macedônia durante o Medievo, a partir do poema Roman d’Alexandre – na versão compilada de Alexandre de Paris – e datada de cerca de 1180-1189.
Pedro Prado Custódio possui formação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo com a tese “As Múltiplas Facetas de Alexandre Magno no Roman d’Alexandre” e é membro da Associação Brasileira de Estudos Medievais. Como é dedutível, sua especialização faz com que o livro adquira matizes mais medievais do que Antigas, ou seja, seu objetivo precípuo não é descrever Alexandre em sua contemporaneidade e sim suas interpretações no Mundo Medieval e a forma como seus mitos adquiriram uma tintura da época: “O passado evocado no Roman d’Alexandre é mais uma representação idealizada e moralizante do presente (século XII)” (Custódio, 2006: 25). Portanto, Custódio enumera quatro das principais facetas alexandrinas e que dão os títulos para os eixos temáticos de sua obra: “Alexandre como soberano/suserano”, “Alexandre como desbravador/cruzado”, “Alexandre como messias/herói mítico”, “Alexandre como um rei orgulhoso: presunção e castigo?” Todos estes tropos estão representados no Roman d’ Alexandre e têm a intenção primordial de apresentar Alexandre como modelo ideal para a incipiente ordem cavaleiresca.
O capítulo “Alexandre como soberano/suserano” se inicia com uma salutar descrição do surgimento de uma literatura vernácula, voltada aos ignorantes em latim, em concomitância com o nascer da ordem supramencionada. Estes dois elementos se unem no Roman d’Alexandre – escrito em francês – e explicam alguns dos porquês de a obra ter desfrutado de grande penetração entre a alta e baixa nobreza e a nascente burguesia. Nesta primeira representação, Alexandre é descrito como um cavaleiro ideal: corajoso, leal, justo, generoso com seus pares e clemente com os vencidos (Custódio, 2006: 27). Ademais, é o precisar lembrar que a figura alexandrina também: “representa os interesses da nobreza em processo de fusão com a cavalaria, buscando sustentação ideológica para sua existência e demonstra muita preocupação com as alterações políticas e sócio-econômicas em curso, temerosa de ter seu status quo ameaçado” (Custódio, 2006: 37).
A partir destas elucubrações, pode-se aferir que havia um norte definido para a reconstrução do conquistador macedônico: a idealização do cavaleiro medieval, dotado de virtudes irrefragáveis, e que tinha suas raízes fincadas no Mundo Antigo. Eis a longa duração, e que possuía, não obstante, devires da burguesia e nobreza medievais. Isto leva à outra das facetas presente no Roman d’Alexandre: a de senhor feudal, por conta da capacidade de Alexandre em equilibrar forças antagônicas e interesses dissonantes dentro de seus domínios (Custódio, 2006: 57). Sendo assim, Alexandre é, a um só tempo, cavaleiro e nobre [3].
No eixo “Alexandre como desbravador/cruzado”, Custódio apresenta a fisionomia do filho de Olímpia como “campeão de Deus” (Custódio, 2006: 31). Partindo do pressuposto que o Mundo Medieval era marcado pela belicosidade e a pujança das práticas religiosas – que se uniram em eventos como as Cruzadas e a Inquisição – Custódio argumenta que: “No Roman d’Alexandre, ele (Alexandre) representa um cristão lutando contra inimigos identificados com muçulmanos, demônios, povos diabólicos do Gog e Magog e com o Anticristo” (Custódio, 2006: 99). Contudo, as associações entre Alexandre e os cruzados possuíam um viés idiossincrático: elas o apresentam mais como um desbravador que ruma ao desconhecido do que como um “missionário” que carrega o estandarte de sua fé, mesmo porque o macedônico não era cristão: “as viagens de Alexandre, no âmbito do cristianismo medieval, podem ser entendidas como peregrinações religiosas em busca de algum tipo de manifestação divina. Seriam como um sacrifício, uma penitência em troca de salvação” (Custódio, 2006: 132).
Destarte, chega-se a mais um dos apanágios do Roman d’Alexandre: uma tentativa de “cristianizar” seu protagonista, notadamente pagão, com o objetivo de aproximá-lo da realidade medieval.
O próximo tópico da obra é “Alexandre como messias/herói mítico”. Segundo o autor, a figura do herói místico é um processo de longuíssima duração, presente em diversas culturas e épocas e que possuía características como a capacidade de rechaçar a ameaça dos povos estrangeiros, repelir a anarquia interna e afastar as catástrofes naturais (Custódio, 2006: 151). Mas, neste caso do Roman d’Alexandre, houve uma readaptação destes ditames à realidade cristã e medieval, de forma que Alexandre apresenta uma ambigüidade em torno de sua origem, fruto de pais humanos e divinos – do ponto de vista do mito, – e que, por fim, acabam por impedi-lo de chegar à sonhada imortalidade (Custódio, 2006: 159).
A lenda do bravio herói e redentor de um povo é recontada mais uma vez, contudo, com um final diferente: “No momento em que Roman d’Alexandre foi produzido buscava-se um denominador comum que unisse as diversas camadas sociais que compunham a cavalaria, e havia também a pretensão de conter o avanço da burguesia ascendente, ameaçadora dos privilégios feudais. Por esse motivo, um herói já mitificado como Alexandre foi adaptado ao contexto da época e transformado no soberano e cavaleiro ideal” (Custódio, 2006: 161).
O último dos capítulos principais, “Alexandre como um rei orgulhoso: presunção e castigo?”, é também o mais exíguo, por se tratar de um sutil traço do conquistador macedônico. Nele, Custódio retoma as formas através das quais as antigas interpretações de um Alexandre desregrado, soberbo por suas conquistas militares, de atos intempestivos regados a vinho, adquiriram um certo verniz moralizante no poema do século XII. Nele, a grandeza dos feitos de um homem nunca deve se dissociar da parcimônia de seus atos.
Alexandre não seguiu este conselho e foi vítima do mais hediondo dos crimes para a sociedade medieval: a traição. Não apenas isso: os traidores – Antipater e Divinuspater – só levaram o crime a cabo por estarem sob os entorpecentes efeitos do vinho, em mais uma das opulentas celebrações daquele que se proclamou descendente do próprio Dionísio. A mensagem é clara: a grandeza de um homem não está apenas em seus atos e conquistas. Está em sua altivez. À glória da imortalidade só estão destinados aqueles de caráter inflexível. Em suma, Alexandre era: “um herói que encarna virtudes cavaleirescas e até messiânicas, mas que perdeu tudo por causa de seu orgulho e ambição, sendo punido com uma morte trágica e precoce” (Custódio, 2006: 231.
“Alexandre Magno: aspectos de um mito de longa duração” se encerra com a redescoberta do conquistador macedônico em épocas modernas, nas quais adquiriu contornos que vão do monarca absolutista (Custódio, 2006: 235) ao super-homem nietzschiano (Custódio, 2006: 236). Neste ponto se encontra um dos grandes méritos do livro de Custódio: a sugestão para pesquisas que tomem estas redescobertas com objeto de estudo. Sabe-se que toda história, quando (re)contada adquire vieses dos períodos contemporâneos. Não foi diferente com as lendas em torno do arauto do Helenismo durante o Medievo. Alexandre é uma criatura de quatro faces: suserano, cruzado, herói mítico e até mesmo rei orgulhoso. Entretanto, estas quatro faces se encontram e se harmonizam no ideal do cavaleiro medieval: ele é justo, leal com seus pares, piedoso com os inimigos, defensor de sua fé, desbravador dos mais longínquos rincões, redentor de um povo e paladino da paz, de modo que sua feição adquire traços de herói místico. Contudo, as virtudes supracitadas de nada adiantam quando não estão na presença da sobriedade e da parcimônia. Aquele que ignorar este alerta encontrará uma morte precoce. O Roman d’Alexandre é, pois, um manual de cavalaria. Afinal: “a literatura cavaleiresca é mais prescritiva do que descritiva” (Custódio, 2006: 43).
Concluí-se que Pedro Prado Custódio apresenta uma obra sobremodo pertinente, de boa leitura, grande erudição – os trechos citados do Roman d’Alexandre em francês são traduzidos pelo autor – e densidade, em particular no que diz respeito às muitas fábulas de Alexandre em outras partes do mundo, mencionadas diversas vezes. Além de servir como modelo e base para outras pesquisas que trabalhem com a mitificação de Alexandre em determinado recorte temporal, os escritos de Custódio nos recordam de algo que o historiador jamais pode se esquecer: o passado é construído de acordo com os interesses do presente. Descobrir quais são tais interesses é nosso papel e missão fundamentais.
Agradecimentos
Agradeço meu orientador, Prof. Pedro Paulo Abreu Funari, pelo apoio acadêmico e pelos comentários feitos a respeito deste texto. Menciono, também, o suporte financeiro do CNPq em minha pesquisa de Iniciação Cientifica. As idéias apresentadas são de minha responsabilidade.
Notas
2. Segundo o próprio Pedro Custódio, tais lendas são recontadas: “assumindo feições diversas de acordo com o momento de sua reaparição” (Custódio, 2006: 19).
3. A seguinte citação ilustra bem este viés: “Cavalaria e nobreza têm seus antagonismos escamoteados e harmonizam-se mediante a sublimação dos interesses divergentes” (Custódio, 2006: 41).
Referências
CUSTÓDIO, P. P. Alexandre Magno: aspectos de um mito de longa duração. São Paulo Annablume, 2006.
DROYSEN, J. G. Alexandre o Grande. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.
Thiago do Amaral Biazotto1 – Graduando em História pela Universidade Estadual de Campinas. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq.
CUSTÓDIO, Pedro Prado. Alexandre Magno: aspectos de um mito de longa duração. São Paulo: Annablume, 2006. Resenha de: BIAZOTTO, Thiago do Amaral. Cadernos de Clio. Curitiba, v.3, p.323-331, 2012. Acessar publicação original [DR]
Visões Políticas do Império: diplomatas belgas no Brasil (1834-1864) | Milton Carlos Costa
Concebido originalmente como trabalho de conclusão de curso em História pela Universidade Católica de Leuvan, na Bélgica, em 1979, a pesquisa do Prof. Milton Carlos Costa vem a público somente agora. O objetivo é reconstituir e analisar as visões políticas do Brasil imperial a partir dos escritos produzidos por representantes belgas que visitaram o país entre 1834, data da chegada do primeiro diplomata, Benjamin Mary, e 1864, momento marcado pela eclosão da Guerra do Paraguai. Para tanto, analisa um corpus documental constituído pelo Dossiê 1192 – Correspondência Política (1831-1870), reunido em cinco volumes, e pelos dossiês pessoais dos representantes belgas no Brasil, a saber, os diplomatas Benjamin Mary, Auguste Ponthoz, Joseph Lannoy, Eugene Desmaisières, Borchgrave d’Altena, Oscar Du Mesnil e Edouard Anspach, além dos cônsules Edouard Tiberghien e Edouard Pecher. Neste amplo trabalho de pesquisa realizado nos Archives du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, o autor percorre temas caros à historiografia brasileira.
Primeiramente, as relações da monarquia brasileira com outros países. A serviço da Bélgica, país industrializado e interessado em expandir seus mercados, os diplomatas e cônsules ocuparam grande parte dos seus escritos examinando-as. O Brasil pós 1822 aparece como integrado no sistema de dependência. Nas relações Brasil-Inglaterra, esses informantes elencaram dois focos de conflito, a Questão Christie e a repressão ao tráfico negreiro. Esta última seria uma tentativa de impedir o desenvolvimento agrícola brasileiro, interpretação que os aproxima da forma como essas problemáticas são tratadas historiograficamente. A análise revela, ainda, uma preocupação com a expansão estadunidense no continente americano, a percepção do imperialismo em gestação, e o sentimento de pavor representado pelo sistema republicano dos países do Prata. Notório, entretanto, é o fato de Costa identificar nessas correspondências um aspecto pouco conhecido das relações Brasil-França, que é a repressão francesa ao comércio de escravos.
Diretamente ligado a isto, um segundo tema de relevo é a questão escravocrata – e suas interfaces. Longe de um consenso, nota-se entre os informantes a existência de posições divergentes acerca deste ponto nevrálgico da sociedade brasileira. Para Tiberghien e Jaegher, a escravidão era uma necessidade indispensável, vital para o Império, ao passo que Lannoy enxergava aí um entrave à expansão capitalista. Assim, emerge a defesa da colonização por imigrantes e a rejeição à colonização assalariada enquanto solução para resolver a crise da agricultura cafeeira e açucareira que adviria do fim do tráfico negreiro. Esta defesa, no entanto, era um meio de servir aos interesses dos países industrializados europeus, como bem frisou Costa.
Adentramos, pois, à interpretação da realidade brasileira propriamente dita. O Brasil aparece como semicivilizado, principalmente nas regiões interioranas, cujo estado de organização parecia deixar a desejar, e para o que defendiam a necessidade de uma reforma institucional. A dificuldade de aplicação das leis é atribuída a influência da extensão territorial e o fato de que as diversas regiões do país viviam em “idades históricas” distintas, com desenvolvimentos desiguais. A economia era tida como rudimentar; a Câmara como verborrágica, indolente e ineficaz; e o Senado, conservador por excelência. Quanto aos partidos políticos, pelos quais demonstravam aversão, foram taxados como violentos, ressentidos e politicamente anêmicos, estando a organização do governo fadada ao revezamento entre conservadores e liberais.
Sob a ótica dos representantes belgas, havia uma clara contradição entre os princípios constitucionais, democráticos, e a realidade político-social brasileira, oligárquica. O “esquema das classes sociais no Brasil” aparece tripartido, hierarquizado em dominantes, dominados e ociosos. As massas, enquadradas nesse último grupo, são descritas como apáticas e ignorantes por razões intrínsecas ao formato da monarquia no Brasil. Singular em sua própria gênese, era antes um sistema passivo, um poder fraco e instável, que culminava na precariedade da vida cultural e do nível de civilização da massa da população, e seria, segundo Jaegher, a causa geral das rebeliões e revoluções do período regencial. De acordo com os informantes, esse problema estrutural teve ramificações profundas na constituição da sociedade brasileira – e aqui passamos a uma terceira questão que convém destacar na obra. Costa pontua a crença, por parte dos diplomatas e cônsules, da existência de um “caráter brasileiro”, constituído pela inconstância, espírito de trapaça, aversão aos estrangeiros, indolência e excessiva vaidade.
Em verdade, a defesa contundente da causa monárquica – e consequentemente dos interesses europeus – permeia o teor de todas as análises, principalmente acerca do que representaria um grande perigo à sua sobrevivência, como o sistema político de Rosas, as relações com os EUA, as conturbações das Regências, a dita “saúde frágil” de D. Pedro II e seu “despreparo” para a política. A lente conservadora e etnocêntrica com que enxergaram o universo brasileiro, conclui Costa, não impediu, porém, de registrarem a realidade do país de “maneira minuciosa, problemática e extremamente crítica” (p.187).
Em que pesem as três temáticas – relações internacionais, escravidão e identificação do “caráter brasileiro” –, inicialmente pode parecer que estamos diante de mais uma pesquisa que busca apreender a história do Brasil a partir de uma perspectiva europeia. E, com efeito, o material deixado por estrangeiros que visitaram o país no século XIX constitui, desde há muito, importante fonte para os estudiosos do Império brasileiro. Que o leitor não se engane, pois é justamente aí que reside o grande mérito da obra em questão. Ao elencar os relatórios enviados a Bruxelas pelos diplomatas e cônsules encarregados de compor um mapeamento das relações entre Brasil e Bélgica, o autor traz a lume um conjunto de estrangeiros se não totalmente desconhecidos da historiografia brasileira, ao menos pouco estudados.
No quadro de europeus que registraram suas impressões sobre o Brasil no Oitocentos, esses representantes belgas são marcados por uma singularidade. Em seus escritos, há pouca ênfase nas “riquezas naturais” brasileiras, muito embora a agricultura fosse vista como a base da prosperidade. Uma provável explicação para isso é o fato de que seus interesses eram fundamentalmente econômicos. O conhecimento científico do território não estava em seus horizontes. Importava antes analisar as possibilidades de expansão das relações comerciais à diversidade ecossistêmica do Brasil, tão exaltada pelos viajantes do século XIX. Em outras palavras, se para estrangeiros como Auguste de Saint-Hilaire, Georg Heinrich von Langsdorff, John Emmanuel Pohl e Carl Friedrich Philipp von Martius o Novo Mundo apresentava-se como um espaço para ampliação dos saberes da História Natural, ainda que voltada ao uso utilitário da natureza, para os diplomatas e cônsules era um mercado em potencial.
O contexto em que foi produzido também faz deste um trabalho pertinente. Escrito na década de 1970, em uma universidade europeia, insere-se num momento bastante significativo do ponto de vista da historiografia mundial. A terceira geração dos Annales, já em fins da década de 1960, ao advogar em favor de um maior contato da História com as variadas disciplinas das Ciências Sociais, abriu o campo de possibilidades, trazendo novas temáticas para o cotidiano do historiador e renovando o interesse pelas problemáticas do político e da política, as quais passaram a ser trabalhadas em uma outra perspectiva. O imaginário social, as representações, o comportamento coletivo, o inconsciente, as sensibilidades, entre outros, são, então, incorporados à investigação histórica sob a chave da Nova História Política, que entende o político como domínio privilegiado do todo social (RÉMOND, René (org.). Por uma História Política. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p.9-11).
A opção metodológica adotada por Costa é influenciada por este movimento. Por um lado, o reinteresse pela História das Mentalidades, que marca o período, faz-se presente na estruturação dos capítulos, nos quais é possível identificar a convergência dos dois caminhos propostos por Lucien Febvre para a compreensão do real, isto é, o individual e o social. À contextualização biográfica – incluindo os planos intelectuais, pessoais e profissionais – dos representantes belgas são somadas as relações pessoais mantidas com outros diplomatas, ministeriais e representantes de governo, e traços de caráter, como a franqueza de Mary, a sociabilidade de Jaegher, a firmeza de Lannoy, e a inteligência de Anspach. Por outro, o diálogo com a Antropologia histórica é perceptível na noção de alteridade. Ainda que o cônsul Pecher seja singular por ver o Brasil do ponto de vista do próprio país, o parâmetro de análise dos relatórios diplomáticos e consulares é europeu. Esses elementos, pessoais e coletivos, ajudam o autor a compreender melhor a percepção da realidade brasileira sob a ótica dos representantes belgas, muitas vezes de maneira comparativa.
Nesse sentido, Visões Políticas do Império dialoga com importantes trabalhos da historiografia brasileira. Caio Prado Jr, Nelson Werneck Sodré e Maria Odila Leite da Silva Dias são chamados quando da identificação das problemáticas comuns entre eles e as análises dos representantes belgas. E são tangenciados os estudos de Raymundo Faoro, cuja tese, “Os Donos do Poder”, sobre a sociedade patrimonialista, empresta nome a um dos subcapítulos, e de Ilmar Rohloff de Mattos acerca da formação do Estado nacional e dos partidos políticos brasileiros. O leitor tem em mãos, portanto, um sólido trabalho de pesquisa documental, metodologicamente embasado e historiograficamente relevante aos estudiosos do Império brasileiro.
Fabíula Sevilha de Souza – Mestranda no Departamento de História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FCL/UNESP – Assis/Brasil). E-mail: [email protected]
COSTA, Milton Carlos. Visões Políticas do Império: diplomatas belgas no Brasil (1834-1864). São Paulo: Annablume, 2011. Resenha de: SOUZA, Fabíula Sevilha de. Política, Economia e Sociedade: o Império Brasileiro sob a perspectiva belga. Almanack, Guarulhos, n.3, p. 149-151, jan./jun., 2012.
Os intelectuais diante do racismo antinipônico no Brasil: textos e silêncios – NUCCI (A)
NUCCI, Priscila. Os intelectuais diante do racismo antinipônico no Brasil: textos e silêncios. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: RAMOS, Alexandre Pinheiro. Antíteses, v.5, n.9, p.475-479, jan./jul. 2012.
A palavra japonesa hedatari significa “distância”, mas ela também expressa a forma como as relações interpessoais são construídas e afetadas pela distância física entre os indivíduos bem como as subjetividades encerradas em tais relações. Para os japoneses, a distância interpessoal exprime tanto o eventual reconhecimento dos diferentes níveis sociais dos quais os interlocutores fazem parte como uma atitude de reserva ou estranhamento diante de um desconhecido ou pessoa com a qual não se possui muita intimidade. A distância espacial entre os agentes é, assim, variável, pois está relacionada às circunstâncias subjetivas dos encontros – os japoneses alteram “as distância interpessoais conforme avaliações momentâneas de intimidade, reserva, superioridade ou inferioridade, e assim por diante” (Tada, 2009, p. 54). Situação distinta, por exemplo, do comportamento brasileiro, onde a eliminação ou diminuição da distância física – através de apertos de mão, abraços ou beijos no rosto – é, muitas das vezes, o primeiro passo para o engajamento dos indivíduos em uma relação social. Ora, se for possível, a partir daí, fazer uma analogia com a maneira como os pesquisadores relacionam-se com possíveis objetos de estudo, então não soará estranho dizer que, no tocante ao tema do racismo antinipônico no Brasil, nossos intelectuais apresentaram uma “postura japonesa”: o princípio da hedatari, da manutenção da distância diante do desconhecido, passou a informar, após a década de 1940, o modo como aqueles lidaram com a questão do antiniponismo – é o que se pode depreender, dentre outras questões, da leitura do livro de Priscila Nucci. O livro trata da questão do racismo contra os japoneses no Brasil, tomando como objeto privilegiado de análise os intelectuais que, sobretudo nas décadas de 1930 e 1940, envolveram-se em debates acerca da presença daqueles no país. Antes, porém, de proceder ao tratamento mais pormenorizado do conteúdo da obra, acredito ser importante ressaltar não só a iniciativa da autora em trazer à discussão um tema que, como apontado em vários momentos ao longo do texto, ficou por vários anos sob um ângulo morto – em silêncio, para retomar o propício subtítulo do trabalho –, mas também pelo fato deste ser um daqueles livros cujo mérito encontra-se relacionado, também, ao fato de não se deixar limitar pelas divisões entre os campos disciplinares: no prefácio, Elide Rugai Bastos aponta como a temática do livro é “objeto de reflexão nos campos da teoria política, sociologia, antropologia, filosofia do direito, para citar alguns” (Bastos, 2010, p. 16), com o que estou de acordo e prossigo: Os intelectuais diante do racismo antinipônico no Brasil pode ser lido como um estudo de história intelectual ou de pensamento social; é um trabalho que trata do tema do racismo em determinado momento histórico e da história das ciências sociais no Brasil. Isto pode ser verificado pela forma como a autora constrói seu texto e utiliza as fontes selecionadas, articulando-as com a devida contextualização do tempo e do espaço, ou seja, suas análises acerca dos debates intelectuais travados, por exemplo, durante a Constituinte de 1933-1934 e em periódicos (jornais e revistas especializadas) mostram a relação entre as ideias expressas e o contexto histórico bem como os lugares de onde tais ideias partiram e a maneira como eles transformaram-se em elementos de importância crucial nos processos de legitimação, crítica ou desqualificação daquilo que era debatido. Além disto, ao debruçar-se sobre a produção de Emilio Willems, intelectual privilegiado em seu trabalho, Priscila Nucci analisa ideias e conceitos caros à produção sociológica deste autor (aculturação, assimilação), enriquecendo a compreensão das obras de uma das principais figuras do processo de institucionalização das ciências sociais no Brasil. O livro possui três capítulos através dos quais a autora busca explorar os textos referentes à presença dos imigrantes japoneses no Brasil e os silêncios acerca do racismo contra os mesmos – enquanto os textos (artigos e livros) estendem-se por toda a pesquisa, fornecendo o material (ideias, argumentos) sobre o qual incidem as análises, os silêncios surgem a partir de determinado momento como uma névoa a encobrir aquilo que era, até então, visível, e conferem substância a uma ausência que se torna palpável em vista do tipo de reflexão empreendida pela autora, prospectiva ao invés de retrospectiva. O primeiro capítulo, “Mapeamento de um Tema”, apresenta a questão do racismo antinipônico, expresso de modo mais enfático em uma série de artigos e livros publicados entre nas décadas de 1930 e 1940, e a constatação da lacuna existente sobre tal assunto – por meio do levantamento crítico da bibliografia que abordou direta ou tangencialmente a questão – entre a década de 1940 e a década de 1980, quando surgiram trabalhos sobre o período Vargas que abordavam, dentre outros temas, o antiniponismo. Sublinha, aqui, a autora o fato de que, neste ínterim, os estudos sobre os japoneses no país centraram-se em aspectos internos deste grupo (relações interna, cultura) e sua inserção na sociedade brasileira (os “casamentos interétnicos”, ascensão sócio-econômica), estando de acordo com um tipo sociologia e antropologia praticada no Brasil cujas origens estavam na Universidade de São Paulo e na Escola Livre de Sociologia e Política. Ainda assim, Priscila Nucci não se furta a criticar tal postura, pois “sem se levar em consideração o racismo sofrido por eles, significa ignorar a própria dimensão histórica da vivência dos japoneses e seus descendentes no Brasil, silenciando um tema crucial para a compreensão dos modos de inserção do grupo no país” (p. 37).
O segundo capítulo, “O antiniponismo brasileiro”, busca reconstruir o debate relativo à imigração japonesa, localizando-se aí os dois lados conflitantes: de um lado, os intelectuais antinipônicos, e do outro, os pró-nipônicos. Em um primeiro momento, a autora aborda, prospectivamente, os embates ocorridos entre os representantes destas posições no período da Constituinte de 1933-1934, utilizando os discursos parlamentares do advogado pró-nipônico Morais Andrade e seus principais antagonistas, os médicos Xavier de Oliveira e Miguel Couto e o sanitarista Arthur Neiva. A ênfase da análise recai nos discursos destes, onde a autora demonstra a posição racista destes personagens, ainda que buscassem, constantemente, negá-la, localizando o racismo fora do Brasil, ou seja, racismo era aquilo que acontecia, por exemplo, na Alemanha nazista. Em suas falas, o conhecimento científico da época (psiquiátrico, médico, eugênico) representado por autores estrangeiros e nacionais – aqui, Oliveira Vianna torna-se uma referência fundamental – era utilizado como argumento de autoridade para afirmar que os japoneses eram “inassimiláveis do ponto de vista antropológico, e principalmente do ponto de vista psíquico” (p. 79), e assim dar um aval pretensamente objetivo às restrições e ações contra a imigração japonesa – a presença e aceitação destas ideias, sem dúvida tributárias do prestígio de seus produtores e dos locais de produção, pode ser verificada na criação do Conselho de Imigração e Colonização (CIC), em 1938, a qual contou com uma publicação oficial, a Revista de Imigração e Colonização. Algumas ideias foram utilizadas, posteriormente, por Vivaldo Coaracy, que escreveu uma série de artigos no Jornal do Comércio publicados na forma de livro, em 1942, com o título O Perigo Japonês. Ao debruçar-se sobre este material, a autora mostra, por um lado, como o discurso racista achava-se rotinizado nos meios intelectuais brasileiros, e por outro, como o racismo antinipônico tornou-se mais virulento diante da participação do Japão na II Guerra Mundial, pois, naquele momento, os japoneses foram tratados como uma ameaça ainda maior à nação brasileira: de elemento “inassimilável”, foi transformado em inimigo do país, da “civilização” da qual este fazia parte e, finalmente, da humanidade, devendo, por isto, ser exterminado. O lado pró-nipônico é representado, no livro, pela atuação do advogado Morais Andrade no período de Constituinte e pelo médico Bruno Álvares da Silva Lobo, que publica, em 1935, o livro Esquecendo os antepassados, combatendo os estrangeiros como resposta aos antinipônicos da Constituinte, denunciando o racismo subjacente em suas falas e ideias a despeito dos esforços daqueles em mostrarem o contrário. A participação de ambos em um debate que extrapolou o período de 1933-1934 deu-se, como mostra a autora, através da refutação dos argumentos contrários à imigração japonesa e, em seguida, da defesa desta e dos benefícios que trariam para o país, também por meio do recurso ao argumento de autoridade fornecido pela ciência, aqui representado pelas referências aos estudos de Roquette-Pinto e Gilberto Freyre. O terceiro capítulo, “Novos paradigmas…”, ocupa-se com o estudo dos textos (da década de 1940) de Emilio Willems, Hiroshi Saito, Donald Pierson e Egon Schaden, mas a ênfase recai, principalmente, sobre a produção intelectual do primeiro. Ao lançar mão de livros e artigos publicados nas revistas Sociologia, Revista de Antropologia e Revista de Imigração e Colonização e no jornal O Estado de São Paulo, Priscila Nucci oferece uma análise multifacetada a qual se beneficia do espaço intermediário onde seu objeto é construído: os textos sobre a imigração japonesa estão articulados à institucionalização das ciências sociais e ao consequente abandono, em tese, da mistura entre política e ciência além de oferecerem o ponto de partida para a análise de algumas questões centrais da sociologia de Willems, tais como os conceitos de assimilação e aculturação e sua preocupação na elaboração de estudos com alto rigor científico e sem pretensões legisladoras. Mas, sem dúvida, um dos grandes benefícios desta posição fronteiriça do objeto, somada à perspectiva de estudo adotada pela autora, é a maneira como a década de 1940 apresenta-se como um período de transição para os trabalhos relativos à imigração japonesa, pois é o momento no qual, com possibilidades crescentes de estudo do racismo antinipônico no Brasil (agora baseados em nova metodologia científica e em pesquisa empírica), este tema vai perdendo força e sendo substituído por outras preocupações advindas desta mesma transformação sofrida pelos estudos sociológicos e antropológicos. Embora alguns trabalhos de Emilio Willems já apontassem indícios de discriminação racial contra os japoneses, e seus artigos publicados no jornal O Estado de São Paulo e na Revista de Imigração e Colonização – principal ambiente do racismo antinipônico – deixassem explícito seu posicionamento contra o racismo científico praticado pelos intelectuais brasileiros, isto não foi o suficiente para que os cientistas sociais se voltassem para este tema – com exceção, talvez, de Egon Schaden, que em artigo publicado na revista Sociologia, chamou a atenção, através dos estudos de Willems, para o antiniponismo. Contudo, como demonstra a autora, quando não era aceita a ideia de que no Brasil não havia preconceito racial, e sim de classe – como defendido por Donald Pierson, colaborador fixo da Sociologia – a questão do preconceito não abarcava aos grupos de estrangeiros no país, limitandose, sobretudo, à população negra; além disto, o abandono (benéfico) do conceito de raça, bem como sua desqualificação, sendo, assim, substituído pelo de cultura, acabou por contribuir para a perda do foco sobre o racismo contra os estrangeiros imigrados. A denúncia do racismo, em sua forma “científica” ou não, foi enfraquecida, curiosamente, por aquilo mesmo que poderia fortalecê-la, e os intelectuais brasileiros distanciaram-se do problema do antiniponismo. Para finalizar, gostaria de fazer uma última consideração relacionada a alguns aspectos da reconstrução do debate sobre a imigração japonesa e seus envolvidos. Através da análise do material selecionado, a autora conseguiu localizar a atuação e o embate entre duas “comunidades argumentativas” (Pocock, 2003) envolvidas com a discussão de um tema em comum, mostrando, assim, não só a forma como construíam e lançavam no meio intelectual suas ideias, mas também as estratégias adotadas pelos participantes ao responder e refutar os argumentos contrários, valendo-se, para isto, de seu prestígio e posições nos lugares de saber, o que lhes fornecia tanto proeminência nos debates – a atenção que recebiam por parte do público que os acompanhava – como a legitimidade de suas posições. As disputas simbólicas empreendidas pelos intelectuais antinipônicos e pró-nipônicos, por um lado, revelam a dinâmica e os elementos (os discursos parlamentares, livros, artigos em jornais e revistas, as próprias revistas) constitutivos do ambiente intelectual e político em determinado período da história republicana brasileira, mostrando como há uma relação bastante estreita entre ambos ao ponto de sua influência recíproca refletir-se, de algum modo, na organização social – não há como não pensar, aqui, na dupla hermenêutica de Anthony Giddens (2003) diante da apropriação, por parte da sociedade, daquilo produzido pelos intelectuais e que acaba por reentrar na vida social, pois os significados e interpretações produzidos por eles incorporam-se nas relações entre as pessoas e nas instituições. Por outro lado, elas apontam para as formas como transformações no contexto intelectual tomam corpo através, neste caso, da relação direta entre ideias e seu espaço de produção, ou seja, a mudança na percepção do racismo antinipônico achava-se diretamente ligado ao processo de institucionalização das ciências sociais. A localização deste turning point, que esclarece e justifica o vazio bibliográfico entre 1940-1980, indica, assim, os rumos tomados pela discussão da imigração japonesa a qual não se manteve igual e sofreu com os efeitos do contexto nacional e internacional, e os efeitos, ainda que não intencionais, da busca pela separação entre ciência e política. Neste sentido, o que gostaria de sublinhar é a possibilidade de, por meio do estudo de um objeto em particular (o racismo antinipônico) e bem localizado (no campo intelectual brasileiro nas décadas de 1930 e 1940), verificar: os modos como os intelectuais – em grupo ou não – atuavam e se expressavam, em determinado momento, construindo um determinado vocabulário, cujos elementos são apropriados ou mudam de sentido, que permite a identificação dos participantes entre si – e ao pesquisador, a identificação dos grupos envolvidos – e as mudanças que informam ou são provocadas pela atuação intelectual. Ao localizar o debate intelectual e seus participantes, torna-se possível rastrear, a partir deles e dos conteúdos de seus textos, sejam as relações destes com as instituições das quais fazem parte ou com outros intelectuais ou grupos.
Alexandre Pinheiro Ramos – Doutorando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do Núcleo de Pesquisas em Sociologia da Cultura (NUCS/IFCS/UFRJ). Bolsista CAPES.
Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais / Eduardo F. Paiva, Isnara P. Ivo e Ilton C. Martins
O livro Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais, organizado pelos historiadores Eduardo França Paiva, Isnara Pereira Ivo e Ilton Cesar Martins contem textos apresentados em mesas redondas e conferências na FAFIUV do Paraná em 2008. A coletânea de artigos é o desdobramento de comunicações e trocas de experiências em pesquisas que tiveram início em 2005, no XXIII Encontro Nacional da ANPUH, em que foi criado o Simpósio “Escravidão: sociedade, cultura, escravidão e trabalho”. Desde então, esses pesquisadores, que ficaram conhecidos como Grupo Escravidão e Mestiçagens, promoveram diversos eventos, nos quais socializam o resultado de suas pesquisas. O primeiro livro publicado pelo grupo foi Escravidão, mestiçagem e história comparadas, em 2008, e foi organizado pelos mesmos historiadores do livro aqui resenhado.
O líder do grupo, Eduardo França Paiva, tem se dedicado ao estudo das mestiçagens e do trânsito de cultura entre os continentes africano, europeu e americano. Ele tem mostrado que o intenso trânsito entre esses continentes resultou em uma realidade nova, multifacetada, cujas configurações sócio-culturais são mais bem compreendidas com o conceito de mestiçagem. É notória a referência ao historiador francês Serge Gruzinski. Apesar dos diversos aportes teórico-metodológicos dos artigos presentes no livro, o fio que os liga é exatamente as ideias de deslocamento e mestiçagem, como é bem ilustrado por Isnara Pereira Ivo. Esses dois fenômenos, que cresceram vertiginosamente na modernidade devido à era das navegações, foram abordados à luz da História Cultural Francesa, da História Social e da Micro-História.
Ancoradas na História Cultural são as análises que se valem das categorias de representação social e apropriação. Os artigos de Eduardo Paiva, Carlos Alberto Medeiros, Maciel Henrique Silva e Caio Ricardo B. Moreira, cujas fontes são mais características da História Cultural, como é o caso da iconografia, dos relatos de viagem e da literatura, enfatizam a forma como a realidade é simbolizada por vários sujeitos históricos; e como tais leituras são essenciais na classificação e hierarquização do mundo social, definindo como os homens vêem a si e aos outros, criando sentidos de identidade.
Já os artigos de Douglas Coli Libby, Ilton Cesar Martins, Márcia Amantino e José Newton Coelho de Menezes tangenciam mais as questões colocadas pela História Social. Têm destaque os “sujeitos anônimos”, as suas experiências e relações com os poderes hegemônicos. Daí a relevância dos estudos dos aparatos jurídicos e da lei e a forma como os agentes históricos se colocam frente a eles, estabelecendo formas de resistência e acomodação. Na mesma senda, cabem os estudos das mobilidades sociais e as estratégias cotidianas, dentro de um panorama em que são importantes a classe, o gênero e a etnia.
Por fim, são evidentes as inspirações da Micro-História nos artigos de Paulo Roberto Staudt Moreira, Rafael Cunha Scheffer e Vinícius Maia Cardoso. Transitando entre a macro e a micro escala, as análises das trajetórias pessoais de personagens anônimos e das histórias locais, dadas por olhar detetivesco, permitem uma compreensão mais pontual e complexa de como os agentes históricos transitam nos vários níveis socioculturais, cuja experiência é a dialética entre a norma e o vivido.
Contudo, não faz sentido estabelecer rígidas compartimentações entre os aportes teórico-metodológicos dessas abordagens. As divisões acadêmicas disciplinares não são critérios aceitáveis quando se analisa estudos que em sua maioria transitam entre essas várias abordagens. Indivíduo, cultura e sociedade, são dimensões intercambiáveis e assim foram tratadas nas várias análises presentes nesse livro.
A presença de profissionais das várias regiões do país oferece um amplo quadro dos atuais problemas, enfoques e abordagens colocados pela historiografia contemporânea sobre escravidão no Brasil. O uso de documentos, até pouco tempo inexplorados pelos historiadores, como é o caso da iconografia, dos testamentos, dos processos crimes, do rol de confessados, dos inventários post-mortem, dos registros de batismos e da literatura, é um destaque do livro. Analisados com sensibilidade e argúcia pelos articulistas, coloca-nos em contato com um passado que parecia distante e estranho. A presença, por exemplo, de práticas religiosas islamizadas dos negros no período colonial é de difícil identificação, devido à intolerância religiosa e à falta de “registros explícitos” que as revelem. A partir do uso de novas fontes, aliadas a novos enfoques, Eduardo Paiva analisa esse aspecto da realidade múltipla da América Portuguesa.
A colonização da África e do Novo Mundo favoreceram as trocas materiais e simbólicas dos três continentes e resultaram em uma realidade americana maleável, dinâmica e diversa de suas matrizes europeias, africanas e nativas. Segundo Isnara Pereira Ivo, os portugueses não arranhavam a costa como caranguejos, como havia afirmado Frei Vicente Salvador. Comerciantes, comboieiros, boiadeiros são tidos pela autora como “agentes integralizadores”, responsáveis pelo trânsito de culturas, produtos e gentes trafegados por caminhos, rotas e picadas, muitas vezes à revelia dos projetos metropolitanos. Daí, o motivo de os conceitos de Antigo Sistema Colonial e de Antigo Regime não comportarem as realidades dinâmicas e móveis plasmadas no Império Português Ultramarino. Tais conceitos pressupõem relações verticalizadas de poder incapazes de dar conta das peculiaridades culturais, hierarquias e relações sociais estabelecidas na colônia. A descoberta do Novo Mundo impactou também significativamente as culturas europeias, sendo mais apropriado falar em circulação, trocas, mediações, negociações, do que apenas dominação cultural. Ao estudar o discurso de intelectuais religiosos e leigos, Carlos Alberto Medeiros de Lima aponta que a descoberta de povos portadores de culturas diferentes levou os europeus a pensarem a si próprios não como superiores moralmente, mas tão degradados quanto os americanos.
Nesta esteira, a mestiçagem, como afirma Eduardo França, assume um lugar central na compreensão do crisol que representou as intensas mesclas culturais e biológicas, favorecidas pelo deslocamento de gentes e produtos que integraram, num mesmo universo, culturas distintas. A diversidade étnica nas Américas é demonstrada pelas classificações dadas aos sujeitos: brancos, pretos, cafuzos, mulatos, cabras, mamelucos e pardos indicam não só qualificação de cor, mas também as diversas posições sociais ocupadas por esses sujeitos que se modificam tanto no tempo como no espaço. O termo pardo, como mostra Douglas Cole Libby, é uma das mais controversas formas de qualificações das populações nas Minas Gerais na segunda metade do século XVIII e ao longo do século XIX. Nos Setecentos, ser qualificado como pardo representava uma associação direta com o passado escravista mais recente. Na passagem para o Oitocentos, devido ao intenso processo de mestiçagem, o termo pardo vai indicando mais a marca da mestiçagem com brancos do que a proximidade da condição de escravo. Em alguns casos estudados pelo autor, aparecem pessoas definidas como “sem cor”. Esse “silenciamento das cores” acontece quando há algum tipo de ascensão social, como bem colocara Hebe Maria Mattos, em seu livro Das cores do silêncio. A cor, portanto, no caso dos pardos, é indício não apenas da tez da pele, mas também de posição social. De qualquer forma, segundo Libby, a ascendência branca possibilitava o afastamento do estigma do cativeiro. A definição mineira de crioulo, por sua vez, referia-se aos negros nascidos no Brasil, independentemente de sua condição legal. Esta identificação era herdada pelos descendentes como forma de ligá-los a uma origem africana e não para ligá-los ao cativeiro. Portanto, se uma pessoa era negra ou crioula não significava que fosse necessariamente escrava. Outro termo controverso é cabra. Se por um lado liga o sujeito a um passado escravista, pois pressupunha a mestiçagem com negros, por outro, esconde a ascendência indígena. Talvez porque a política metropolitana proibia a escravização dos índios, o que poderia representar certamente um constrangimento para os donos de escravos.
Com respeito à escravização de índios, Márcia Amantino destaca um importante aspecto de sua relação com a mestiçagem. Durante muito tempo, pensou-se que o intercurso de índios e negros se deu de forma livre e espontânea. Contudo, a autora aponta que o casamento de índios com negras escravas era também uma forma astuciosa usada pelos fazendeiros para aumentar o seu contingente de trabalhadores. De um lado, porque os índios se mantinham presos à fazenda por laços familiares e afetivos, sendo tratados muitas vezes como escravos; por outro, os ventres escravos geravam filhos escravos, tornando essa uma forma de reprodução da mão-de-obra escravizada. Daí, podemos perceber a complexidade das condições étnicas, sociais, culturais e jurídicas que, segundo Rangel Cerceau Neto, possibilitou o aparecimento de “realidades familiares poliformes, composta de identidades múltiplas e de constantes metamorfoses”. Relações que eram ora toleradas, ora clandestinas, que se estabeleceram, muitas vezes, à revelia das normas rígidas demandadas pela Igreja e pelo Estado.
A complexidade jurídica da América Portuguesa é argutamente analisada por José Newton Coelho de Menezes. Ao estudar o caso de escravos que dominavam algum ofício, Menezes percebe uma contradição em suas condições jurídicas. Os ofícios eram regulamentados pelas câmaras municipais, sendo exigida uma certidão de exame para exercê-los. O profissional, mesmo sendo escravo, deveria submeter-se a todo o longo processo burocrático que o habilitava ao exercício de seu ofício, incluindo o cerimonial de juramento público do compromisso com o bem-comum. Este profissional, portanto, parece ter uma dupla condição jurídica. Se por um lado é considerado como um bem semovente, por outro, era obrigado a cumprir todos os deveres próprios da condição de um civil, “como se livre fosse”.
O aparelho jurídico, a lei e sua aplicabilidade devem ser, portanto, compreendidos levando em conta a tessitura social e o contexto que os engloba, como afirma Ilton Cesar Martins. Seu estudo a respeito da lei, crime e punição em Castro, município do Paraná, discute a legislação escravista no século XIX, dado que nesse período a interferência do Estado Imperial nas relações entre senhores e escravos foi mais marcante do que no período colonial. Esse aparato judicial serviu em alguns casos, segundo o autor, para legitimar a legalidade da violência dos senhores sobre os escravos. As leis, sendo escritas pelos proprietários, favoreciam-nos, além de representar um poder simbólico justificador de sua violência. As penas, aplicadas em caso de homicídio, eram letra morta ou abrandadas quando se tratavam dos senhores. No caso de réus escravos, a morte era a punição mais comum.
Os estudos de trajetórias pessoais e de Micro-História possibilitam dimensionar as complexidades que envolviam as relações entre identidades culturais e hierarquias sociais em contextos e espaços diversos, como bem indicam os artigos de Paulo Roberto Staudt Moreira, Rafael Cunha Scheffer e Vinícius Maia Cardoso. Staudt traça os primeiros anos de Aurélio Veríssimo de Bittencourt, um pardo que se tornou tipógrafo, burocrata e abolicionista. Acompanhamos com o autor as reviravoltas e sobressaltos de um sujeito não-branco que ascendeu socialmente, compreendendo melhor as mediações entre cor da pele e posição social no século XIX. Já Sheffer, leva-nos com João Mourthé, comerciante de escravos de Rio Claro, pelas intricadas teias que davam significado à comercialização de escravos no século XIX. Sua análise é elaborada a partir do desenrolar do processo jurídico que visava à devolução do escravo, sob a alegação de que o mesmo se encontrava doente no momento de sua compra. A análise da escravidão no Vale do Macacu, no Rio de Janeiro, desenvolvida por Vinícius Cardoso, é também instigante quanto à dinâmica, diversidade e maleabilidade da condição social dos mestiços nas Américas. Os estudos do micro, apoiados em vasta e variada quantidade de fonte – sem esquecer, é claro, o cabedal intelectual e a astúcia interpretativa do historiador –, faz-nos ver uma realidade mais verossímil e palpável do que apontariam estudos macro e generalizantes.
A literatura também tem destaque no livro por meio dos artigos de Maciel Henrique Silva e Caio Ricardo B. Moreira. Henrique Silva analisa a obra ficcional dos escritores pernambucanos Mário Sette, Carneiro Vilela e Theotônio Freire, e dos baianos Xavier Marques e Ana Bittencourt, todos eles filhos de senhores de escravos, e suas representações sociais sobre trabalho e escravidão no século XIX. O autor aponta a saudade das relações afetivas e amenas entre senhores e escravos como um traço comum às obras desses escritores. O estilo memorialístico remonta a uma infância idílica: um tempo austero, simples, pródigo, marcado por trocas mais afetuosas e sinceras entre senhores e escravos. Tais sentimentos e representações nos fazem entrever, segundo o autor, a ideologia de uma classe em decadência que encontra refúgio e consolo em lembranças de um passado melhor, fazendo dessas memórias um aparato discursivo de crítica ao seu tempo. Moreira, por sua vez, estuda a obra utópica e mística do escritor curitibano Dário Vellozo, que no fim do século XIX já se referia ao mestiço como personagem ideal de país futuro idealizado em seu livro.
O livro resenhado, como vemos, é uma leitura obrigatória para quem se interessa em compreender o desenvolvimento atual das pesquisas sobre a escravidão no Brasil. Oferece-nos, além do mais, narrativas prazerosas e instigantes, demonstrando que os historiadores estão atentos não apenas em divulgar os resultados de suas pesquisas, como também em apresentá-los sem descurar das formas e estilos de narrar uma história.
Manoel Carlos Fonseca de Alencar – Professor da Universidade Estadual do Ceará – UECE. Doutorando PPGH-UFMG. E-mail: [email protected].
PAIVA, Eduardo França, Org.; IVO, Isnara Pereira, Org.; MARTINS Ilton Cesar, Org. Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais. São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: PPGH-UFMG, Vitória da Conquista: Edições UESB, 2010. 310 p. Resenha de: ALENCAR, Manoel Carlos Fonseca. Outros Tempos, São Luís, v.9, n.14, p.244-249, 2012. Acessar publicação original. [IF].
Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos | Eduardo França Paiva
A partir dos anos 1980 a historiografia brasileira passou por um processo de renovação, revisitando a história do Brasil sob um novo enfoque e trazendo à tona elementos que antes eram quase invisíveis para ela. Essa nova historiografia passou a dar visibilidade a diversos agentes sociais enquanto participantes de processos históricos, observando suas dinâmicas cotidianas que, por sua vez, evidenciam a complexidade das relações entre os mais diversos grupos sociais. É, portanto, a partir de uma nova perspectiva teórica e metodológica, de um novo olhar e de novas questões que tais agentes, até então desconsiderados ou considerados irrelevantes para os processos históricos e identitários, foram visibilizados pela historiografia.
O livro Escravos e Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII: Estratégias de Resistência Através dos Testamentos, de autoria do historiador Eduardo França Paiva, apresenta agora sua terceira edição, e é caudatário dessa transformação na perspectiva historiográfica. A primeira edição da obra resultou de pesquisa de mestrado desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em História e defendida ainda na década de 1990 na Universidade Federal de Minas Gerais – instituição em que, atualmente, o autor é professor do Departamento de História. Estudando o sistema escravista, o autor focaliza três aspectos que seriam peculiares às Minas Gerais do XVIII: “o processo de libertação do escravo, o papel desempenhado pelo elemento forro – sobretudo a mulher – na organização socioeconômica da capitania e o exame das relações sociais retratadas nas nossas principais fontes de pesquisa, isto é, os testamentos” (PAIVA, 2009, p.34). Leia Mais
O pitagorismo como categoria historiográfica – CORNELLI (RA)
CORNELLI, G. O pitagorismo como categoria historiográfica. Tradução de Maria da Graça Gomes de Pina Col. Classica Digitalia Brasil. Coimbra: CECH- Universidade de Coimbra. São Paulo: Annablume, 2011. Resenha de: BORDOY, Francesc Casadesús. Revista Archai, Brasília, n.7, p.159-162, jul., 2011.
Os estudos que se realizaram até aos nossos dias sobre a figura de Pitágoras e sobre o pitagorismo depararam-se com um paradoxo que parece insuperável ou, em todo o caso, se mostra de muito complicada e difícil solução: isto é, a constatação de que a personagem da filosofia pré-socrática de quem possuímos, contrariamente a outras, mais informações apresenta-se-nos sob uma névoa tão espessa que impede que o estudioso extraia conclusões claras. Com efeito, e nisto consiste precisamente o paradoxo, de nenhum outro filósofo da Antiguidade nos chegaram três biografias como as que nos transmitiram Porfírio, Jâmblico e Diógenes Laércio (além de muitos outros testemunhos) e, apesar disso, acerca de nenhuma outra personagem da Antiguidade nos sentimos tão inseguros quando chega o momento de falar dos seus supostos conhecimentos, habilidades e façanhas. Sem dúvida esta frustrante realidade foi determinante no momento de abordar com critérios científicos a figura de Pitágoras e o pitagorismo. Isso porque, desde a Antiguidade, mas muito mais sobretudo a partir das pretensões científicas dos estudiosos e historiadores da filosofia grega no século XIX, a atenção dos investigadores se tem orientado para tentar dirimir a questão da credibilidade que se deve conceder às fontes que de maneira tão generosa nos falam de Pitágoras e dos seus seguidores, os pitagóricos. Por este motivo, qualquer estudo sobre o pitagorismo, após a grande quantidade de livros e artigos publicados, deve tentar esclarecer qual é a sua posição face ao que se começou a chamar de “questão pitagórica”. Dito por outras palavras, um estudo com garantias de rigorosidade científica deve informar qual a sua opinião sobre os testemunhos pitagóricos, para poder fazer um uso consequente deles. Como é bem sabido, os trabalhos que circulam sobre Pitágoras e o pitagorismo movem- se entre os extremos de uma aceitação acrítica das fontes e uma atitude hipercrítica que se nega a aceitar e, por conseguinte, a considerar como válidos a maioria dos testemunhos transmitidos, até ao extremo de pôr em dúvida a relevância do pitagorismo na história da filosofia grega.
Além do mais, a tudo isto é preciso acrescentar que os estudos sobre o pitagorismo, que, como se disse, oscilam entre a hagiografia e o ceticismo mais radical, acabaram por criar um emaranhado de interpretações hermenêuticas que o estudioso deve conhecer muito bem para poder conquistar uma posição ponderada e objetiva. É por isso que, desde já, consideramos acertado que o livro que estamos resenhando trate, como indicado no título, do pitagorismo como uma “categoria historiográfica”. De fato, é muito provável que não haja uma maneira mais lógica e consequente de aproximar-se do seu estudo, dadas as características do que conhecemos na atualidade como “pitagorismo”, e que abarca desde as abundantes fontes primárias e secundárias até as diversas leituras e interpretações que, até aos nossos dias, se têm realizado sobre elas.
Por tudo isto, resulta muito acertada a distribuição do livro em quatro grandes blocos com as divisões e subdivisões correspondentes. Aliás, pode-se afirmar que a estrutura do livro constitui já, em si mesma, toda uma declaração de princípios, pois oferece grosso modo, uma panorâmica acerca de qual é o método que o autor considera mais idóneo para adentrar-se nos meandros dos estudos sobre o pitagorismo. Assim, no primeiro deles, intitulado “História da Crítica: De Zeller a Kingsley”, oferece-se uma panorâmica ampla e atualizada da opinião dos mais importantes estudiosos do pitagorismo que, a partir do século XIX, determinaram as principais linhas de investigação. Deste modo, o leitor tem um fácil acesso ao status questionis das principais correntes e linhas de interpretação, de uma perspetiva cronológica e temática, o que faz com que seja especialmente útil para todos os leitores que desejem familiarizar-se, desde o início, com a larga e consolidada história das investigações sobre o pitagorismo. No segundo, intitulado “O pitagorismo como categoria historiográfica”, aborda-se o estudo do pitagorismo conjugando uma focalização sincrónica e diacrónica da qual sobressaem as dificuldades que apresentam as interpretações dos principais estudiosos, condicionadas em grande parte pela problemática suscitada pela transmissão das fontes que, na maioria dos casos e dadas as suas características particulares, condicionam por sua vez as possíveis interpretações do movimento pitagórico. Apoiando-se de modo crítico nessas fontes, o autor oferece uma análise pormenorizada dos traços mais característicos da organização e estrutura da escola pitagóricas. No terceiro, intitulado “Imortalidade da alma e metempsicose”, trata-se a questão da conceção imortal das almas e as suas transmigrações a partir da análise das fontes mais antigas e relevantes. Nesta questão, central no estudo do pitagorismo, oferece-se uma visão bastante completa da conceção da alma pitagórica, tal como a sua vinculação ao orfismo e a sua receção em Platão. Por último, no quarto capítulo, sob a epígrafe de “Números”, aborda-se a questão da importância do número no seio da filosofia pitagórica, com a intenção de esclarecer qual foi o seu verdadeiro estatuto, entre a numerologia e a matemática, e qual o alcance da sua consideração de princípio identificado com o conjunto das coisas, tal como fora formulado por Aristóteles. Neste último capítulo mostra-se novamente como o autor age com desenvoltura tanto no âmbito das fontes antigas, sobretudo no tratamento de uma figura-chave como Filolau, quanto no manuseio da ampla bibliografia que trata esta questão controversa.
Afirmamos que esta distribuição do livro merece ser considerada uma declaração de princípios por parte do autor, porque pressupõe algo que o torna particularmente valioso: isto é, que – de modo principal e prévio, como se se tratasse de uma lição introdutória e propedêutica, – nele se proporcionam as chaves interpretativas que os interessados pelo pitagorismo devem conhecer para obterem em primeira mão uma informação básica sobre quais foram as principais linhas de investigação, desde Zeller até aos nossos dias. Em relação a este assunto, como faz o autor, a questão capital é discernir qual foi a posição de cada estudioso ante as fontes pitagóricas para comprovar até que ponto esta determinou a orientação das investigações posteriores. Em todo o caso, deste resumo se extrai uma primeira consideração que afeta os estudos modernos sobre o pitagorismo: os comentadores tiveram muita consciência da fiabilidade problemática que as fontes apresentam, o que motivou, desde os inícios modernos dos estudos sobre o pitagorismo, a necessidade de concentrar-se sobre a sua investigação de forma rigorosa. Abriu-se assim o caminho para a Quellenforschung das vidas pitagóricas e das que dependem em boa parte das informações transmitidas.
Com esta bagagem, identificado o lugar de cada um dos estudiosos no interior da tradição dos estudos pitagóricos, o livro embarca-se na aplicação destes conhecimentos prévios, metodológicos e hermenêuticos em três âmbitos fundamentais, que serão tratados com profusão em cada um dos restantes três capítulos. O primeiro afeta a sua própria essência e identidade histórica, pois tenta elucidar o que se deve entender por pitagorismo, tendo em conta que, na Antiguidade, a existência deste movimento alcançou quase mil anos. Neste ponto o autor deixa claro que em caso algum põe em dúvida a existência do pitagorismo, desde as suas origens protopitagóricas, embora delimite com nitidez os seus contornos. Limites que se distinguem melhor se se deixarem de lado preconceitos anacrónicos e divisões dicotómicas que chegam a anular qualquer possível definição positiva. A conclusão é que, superando o ceticismo iniciado com Zeller, tal como a problemática distinção entre pitagorismo, religião e magia ou a suposta existência de dois grupos no pitagorismo (como seriam os matemáticos e os acusmáticos), este teve na Antiguidade uma continuidade histórica cheia de novas incorporações e matizes, até ao ponto de erigir-se ele mesmo como categoria historiográfica. Deste modo, o autor parece querer chegar a uma posição conciliadora que, consciente das dificuldades que a posição hipercrítica oferece, aceita que o pitagorismo, longe de apresentar uma forma rígida e unitária, é algo muito mais versátil e plural, susceptivel de ser analisado a partir de muitos pontos de vista. Em suma, o que hoje em dia entendemos por “pitagorismo”é apenas a soma dos diversos pitagorismos que, ao longo do processo histórico, se foram sobrepondo até gerar a amálgama que nos transmitiram as fontes tardias. Estratificar o processo, considerar a evolução diacrónica, tendo em conta os dados sincrónicos, é o caminho que o autor oferece para analisar com garantias a realidade histórica do pitagorismo.
Assentes estes pressupostos, e uma vez estabelecida a existência histórica assim como o seu estatuto historiográfico, o livro apresenta os dois capítulos seguintes com a intenção de analisar os dois campos temáticos que a tradição e as fontes antigas mais vincularam com o pitagorismo: a noção de imortalidade da alma e a função atribuída ao número.
No primeiro caso, e após ter examinado as fontes mais antigas, com o apoio da receção da noção de imortalidade da alma nos diálogos de Platão, assim como as suas afinidades com o orfismo, o autor conclui que essa ideia, apesar das reticências manifestadas por alguns estudiosos, formou parte central do pensamento pitagórico desde as suas origens. Ou melhor, o pitagorismo desempenhou um papel fundamental na absorção de elementos procedentes do orfismo que, convenientemente moralizados, foram desenvolvidos por Platão. Esta concepção do pitagorismo como um movimento vivo que foi evoluindo e mudando com o tempo permite compreender a passagem à noção de transmigração da alma, própria do primeiro pitagorismo, a sua transformação em conjunto órfico-pitagórico que entende o ciclo da alma imortal como uma sucessão de prémios e castigos para as almas boas e más, respetivamente.
Para finalizar, no último capítulo aborda-se o segundo aspeto tradicionalmente relacionado com o pitagorismo: a função exercida pelo número, sobre a qual tantas discussões irromperam no mundo académico. Neste âmbito, o autor volta a aplicar os mesmos critérios historiográficos já comentados na busca pela solução de síntese. Assim, se é certo que Aristóteles é uma fonte essencial para aceder ao conhecimento do que os “chamados pitagóricos”entenderam por número, não é menos certo que o seu mestre Platão fez uso, transpondo-os, de princípios matemáticos procedentes do pitagorismo (neste contexto mostra-se capital a análise da passagem do Filebo 16 C -23 C). A isto se deve acrescentar que alguns fragmentos de Filolau, que (contra a opinião da corrente mais cética que os considera uma falsificação de inspiração aristotélica) o autor aceita como genuínos e, por conseguinte, analisa com detalhe, oferecem uma informação que deve ser tida em consideração para obter uma apropriada aproximação ao conceito de número no seio do pitagorismo. Deste modo, como acontece no caso da imortalidade da alma, constata-se de novo um processo, após ter combinado o estudo sincrónico com o diacrónico, que demonstra que a concepção do número sofreu uma evolução que o levou de uma visão mística a outra muito mais epistemológica. Apesar dessa evolução, isto não significa que uma conceção se tenha imposto sobre a outra, como prova a tendência das fontes neoplatónicas a regressarem às exposições numerológicas do primeiro pitagorismo mais do que avançarem nas suas extraordinárias possibilidades científicas. Em todo o caso, após ter analisado criticamente as fontes, o autor deixa claro que é a função epistemológica do número que prevaleceu no seio do pitagorismo na época de Filolau: a conceção do número como instrumento para conhecer o mundo mais do que, como pretendia Aristóteles, uma simples identificação física entre número e a realidade das coisas, formulada com o axioma “tudo é número”e que tantas confusões criou na interpretação do seu verdadeiro sentido.
Em conclusão, o livro mostra-se muito aconselhável a quem deseje conhecer quais são as principais questões que rodeiam a investigação sobre o pitagorismo. A sua leitura garante uma rápida familiarização com os grandes temas discutidos durante mais de um século e meio, aproxima-nos de uma interpretação ponderada e crítica das fontes, ao mesmo tempo em que nos oferece uma base sólida sobre a qual procedecer, construindo em nossos dias a ampla e apaixonante história do pitagorismo.
Francesc Casadesús Bordoy – Professor da Universitat de les Illes Balears.
Nervos da terra – Histórias de Assombração e Política entre os Sem-Terra de Itapetininga-SP | Danilo Paiva Ramos
“Nervos da terra” é uma obra que nasce do desejo de Danilo Ramos refletir sobre as tensões e as experiências dos sem-terra do Assentamento Carlos Lamarca, em Itapetininga, São Paulo, implantado no ano de 1998, após inúmeras ações das famílias acampadas, desde 1996.
A história narrada pelo autor traz a marca do sujeito coletivo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a perpassar as histórias e memórias de cada um dos narradores, seja para legitimar a proximidade com o MST ou mesmo para negá-la. Leia Mais
Um Paradigma no Céu: Platão político, de Aristóteles ao século XX – VEGETTI (RA)
VEGETTI, Mario. Um Paradigma no Céu: Platão político, de Aristóteles ao século XX. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: COSTA, Thiago Rodrigo de Oliveira; CORNELLI, Gabriele. O grau zero da hermenêutica platônica. Revista Archai, Brasília, n.6, p.139-141, jan., 2011.
Com esta obra madura de um dos maiores comentadores de Platão, Mario Vegetti, o acervo da literatura sobre a interpretação platônica em língua portuguesa ganha uma pedra fundamental de comparação e um alento novo. Mario Vegetti, organizador de um monumental comentário da República, publicado em sete volumes pela editora Bibliopolis (1996- 2007) e autor da já celebre L’etica degli antichi (Bari, Laterza, 1989), entre outras obras de referência, dedica-se na presente obra, traduzida e publicada na Coleção Archai, à história da interpretação do Platão político “de Aristóteles até os nossos dias”. Com uma calma apresentação dos argumentos e um ritmo delicadamente marcado, o “Platão político “1 de Mario Vegetti (p. 25-42) emerge em meio a uma pluralidade de paradigmas 2 que de uma maneira ou de outra estabelecem uma relação com o discurso de Platão. Esta relação se constitui no interior de um tópos determinado do texto platônico e a partir de uma posição particular do leitor em relação ao tópos daquele texto. A conjugação do tópos e da posição do leitor em relação ao mesmo determinará uma perspectiva, e é a partir desta perspectiva, no interior de um dado paradigma do leitor, que se produzirá uma imagem, leitura ou tradução de Platão, ou no presente caso, do Platão político.
O problema que opera como “pano de fundo”no livro de Vegetti é aquele de como estabelecer uma relação com o texto platônico que não possa ser reduzida à imagem do texto que a própria relação produz. Em outras palavras, é possível ler Platão? No confronto com este problema Vegetti teve de enfrentar a pluralidade de leituras, imagens, ou traduções de Platão e, consequentemente, de paradigmas a estas subjacentes.
Para Vegetti toda esta pluralidade de leituras que, na modernidade, vão do “teórico do ‘ideal’ com Kant e, ao invés, um teórico da ‘realidade substancial’ com Hegel”(p. 275) ao “Platão liberal e socialista com Grote, Pölhmann e Natorp, bolchevique com Russell, fascista ou comunista com Crossman, nazi e racista com Hildebrandt e Günther, totalitário com Popper, democrático em certas versões americanas”(ibidem), não constituem um erro hermenêutico a ser devidamente denunciado. Todas elas de algum modo se constituíram numa relação com o próprio texto de Platão, e não poderiam ter emergido se de alguma maneira o texto de Platão não as possibilitasse. O primeiro desafio é então lidar com o horizonte virtual aberto pelo texto ele mesmo. Permanece “o fato de a fluidez das situações discursivas nas quais os traços se acham inseridos autorizar uma pluralidade de interpretações possíveis”(p. 272).
Para Vegetti é o contrário do erro, em sentido estrito, que se encontra em jogo. Toda essa pluralidade de leituras de Aristóteles aos leitores do século XX nos permite enxergar “algo”do texto primeiro, “algo”daquele texto sobre o qual o comentário se exerce. E é esse “algo”, evidenciado pelas leituras efetuadas pelos comentadores, que interessa ao hermeneuta e ao historiador; interessa não tanto pelo que ele possa vir a dizer propriamente do texto primeiro, mas sobretudo pelo que ele pode mostrar da própria relação que o comentário efetua com o texto comentado. E é esta a relação que vegetti percorrerá ao longo de seu livro. 3
A polissemia estrutural dos textos platônicos, e a relativa autonomia da tradução dos três diálogos especificamente políticos, ajudam a explicar a amplitude da gama de interpretações legitimamente possíveis, e estes, por sua vez, contribuem para melhor compreender a forma constitutiva irredutível do “fazer filosofia”por parte de Platão (p. 274). 4
Por outro lado é porque o texto segundo, ou o comentário, estabelece uma relação com o texto primeiro, o texto comentado, que ele pode ser utilizado também como uma chave hermenêutica. Esta chave não abre efetivamente o “pensamento”de um autor, ela acessa um universo incorpóreo de discurso aberto pelo autor e que está em relação com o sentido do discurso efetivamente grafado pelo autor.
Daí porque o erro, propriamente dito, deva ser procurado em outro lugar. E este é mais um lugar fenomenológico que hermenêutico. É uma certa disposição que o comentário estabelece em relação ao texto comentado que constitui o erro propriamente. Consistindo esta disposição em um intuito de esgotar toda a superfície do tópos do texto primeiro. Tal pretensão é aparentemente satisfeita na medida em que o comentário percorra a série de enunciados (termo a termo) que constituem o tópos analisado. Contudo Vegetti nos mostra, em seu livro, que esta série pode ser percorrida por diversos paradigmas e de múltiplas formas, dentre as quais a leitura operada por este ou aquele comentário é apenas uma de muitas, uma de uma pluralidade possível. 5 Este é, por exemplo, o cerne de sua crítica a Hegel (p. 82) que ao comentar a República a desloca do seu domínio próprio (que é um lugar de alteridade, ou o lugar do Outro) para aquele concernente ao seu (próprio, de Hegel) entendimento da filosofia (pp. 73-82). O erro das leituras se encontra na pretensão que instituem de abarcar por completo uma série aberta ao infinito. Quando Hegel, dentre outros, identificam no texto primeiro um certo sentido, eles excluem simultaneamente todos os outros sentidos abertos pelo texto primeiro, e o texto segundo passa a edificar e solidificar a imagem do primeiro, o que poderia não ocorrer, mas que em geral ocorre, quando Hegel escreve que o objetivo da República é das griechische Staatsleben, ou o Staatsorganismus, que Platão é intérprete do “Geist vivo nele como no Volk da Grécia ”, da “substância ética do povo”como “todo vivo orgânico [ eine lebendig organische Ganz ] ”, ele inscreve o pensamento político de Platão, mesmo independentemente das suas intenções, numa rede conceitual que condicionará por muito tempo quer a sua interpretação, quer a gama de avaliações contrapostas (p. 82).
Se cada comentário, ao recortar um certo tópos a partir de uma posição particular no interior de um paradigma, estabelece uma relação com o texto primeiro evidenciando nele um certo número de elementos e de relações, então é tudo isso que se perde quando um texto de segunda ordem específico recusa os demais em favor próprio.
Mas Vegetti nos mostrará ainda um outro aspecto deste problema que o faz cunhar o conceito de “grau zero da hermenêutica”(p. 32) e que também participará decisivamente da articulação subterrânea de seu livro.
O comentário, ou texto de segunda ordem, não apenas evidencia, ou faz emergir, como afirmamos anteriormente, um certo número de elementos e relações do texto primeiro. O comentário também é responsável por promover a visibilidade de uma articulação específica entre os elementos que destaca do texto primeiro. Esta articulação longe de ser apenas a reatualização da articulação própria do texto comentado, ainda que jogue com aquela, é responsável pela construção de uma transversal entre os paradigmas primeiro e segundo. 6 E esta transversal é uma das condições de possibilidade do comentário, e o que poderia vir a ser esta transversal senão, em certo sentido, uma tradução?
Mas o que pode ser esta tradução transversal senão um modo de interação dos dois textos que não se identifica com eles mas que efetua entre eles uma articulação? Mario Vegetti nos mostrou que esta transversal tem sido constituída, pela crítica do Platão político desde a antiguidade, pelos modos da: 1. alegoria (p. 62); 2. metáfora (pp. 62, 209, 211 e 237); 3. utopia (pp. 64, 194, 201, 205-7 e 257ss); 4. ironia (pp. 64, 194, 207, 209-11, 216 e 218); 5. comédia (p. 211-2) e 6. ficção (p. 263).
Todos estes modos de interação realizam uma operação sutil: deslocar a verdade do discurso platônico para o discurso que o comenta. Platão, nos dirá Vegetti, “parece demasiado importante para a autoconsciência da tradição intelectual e política Ocidental”(p. 275). A verdade de Platão, dado o conjunto das estratégias de assimilação, está “fora dele”(p. 276), se encontra, muito antes, “nas posições da modernidade”(ibidem). São elas que a colocam em jogo, a validam, a legitimam ou não. Em todo caso o Outro é silenciado pela tradução operada pela transversal; e se lhe ocorre permitir o pronunciamento é apenas para que esse discurso seja recolhido, e devidamente neutralizado pelo comentário. Trata- se, dirá Vegetti, de uma “estratégia de neutralização”(p. 275) do discurso platônico em sua “diferença radical”(p. 277), na “distância “(ibidem) relativa que mantem de nós. O projeto hermenêutico de Vegetti supõe, pelo contrário, que “distanciar Platão é, talvez, o melhor modo para o tornar mais uma vez interessante”(p. 283), “‘bom para pensar’ também as questões do nosso presente”(p. 277).
Notas
- Expressão com a qual Vegetti reúne uma série de discursos de caráter político na obra de Platão.
- Vegetti ao se referir aos discursos dos comentadores de Platão, em particular daqueles que comentaram os aspectos políticos da obra de Platão, usará a expressão ‘paradigma’ para se referir ao horizonte a partir do qual os comentadores assimilam o discurso platônico de uma determinada maneira. Por exemplo, o paradigma de Kant é seu idealismo que atua na constituição da sua leitura de Platão (Ver VEGETTI, 2010, p. 67-73).
- Vegetti propõe, penso, um certo projeto hermenêutico no qual o pensamento filosófico, no nosso caso o de Platão, “não pode ser reduzido [grifo meu] a um sistema unívoco de significados”(p. 273).
- Grifo nosso.
- “É certo, todavia, que cada decisão demasiado drástica que reduza [grifo meu] a filosofia de Platão ao quadro de uma opção exegética exclusiva corre o risco de ser viciada por um preconceito do intérprete”(p. 272).
Thiago Rodrigo de Oliveira Costa – Mestrando pela Universidade de Brasília em História da Filosofia Antiga e Medieval, membro da Cátedra UNESCO Archai: as origens do pensamento ocidental da Universidade de Brasília, orientando do professor Gabriele Cornelli, coordenador da Cátedra UNESCO Archai, e membro do grupo Episteria da Universidade de Brasília.
Gabriele Cornelli – Coordenador da Cátedra UNESCO Archai: as origens do pensamento ocidental da Universidade de Brasília; Docente e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma Universidade; Secretário da Sociedade Brasileira de Platonistas e Presidente Eleito da International Plato Society.
História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944) | Glaydson José da Silva
Glaydson José da Silva é historiador com doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo e diretor associado do Centro de Estudos e Documentação do Pensamento Antigo Clássico, Helenístico e de sua Posteridade Histórica (CPA/UNICAMP). Também é avaliador do Ministério da Educação para fins de reconhecimento de cursos de História. Seus principais temas de pesquisa concentram-se nas relações entre antiguidade e modernidade, nas tradições interpretativas em História Antiga, direcionando para o estudo das leituras acerca do mundo antigo no caso da França contemporânea e extremas direitas.
O pesquisador possui várias publicações dentre artigos e capítulos de livros e participou da organização de diversas obras. O livro História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944), de 2007, recebeu auxílio publicação da FAPESP e trata-se de uma versão revisada de sua tese de doutorado defendida em março de 2005 sob orientação do Professor Doutor Pedro Paulo Funari. A partir de sua leitura notamos como o historiador constrói uma História crítica e analisa como a modernidade pode usar o passado. O estudo das apropriações da Antiguidade no regime de Vichy é a maneira pela qual o autor nos evidencia isso.
O livro está dividido, além da introdução e conclusão, em quatro capítulos, cada um com duas partes e iniciando com um breve prólogo que contextualiza o tema a ser tratado. O assunto geral é o regime de Vichy e o objeto de análise o passado gaulês, romano e galo-romano usado para justificar a dominação alemã e o colaboracionismo francês com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. As fontes são materiais da época, como livros acadêmicos, livros de vulgarização científica, manuais de História e de Arqueologia, jornais, revistas, discursos, textos oficiais, correspondências, cartazes, moedas e outros.
Como os capítulos iniciam com um pequeno prólogo, possuem bastante autonomia em relação à totalidade da obra. No primeiro Silva realiza uma discussão teórica acerca da instrumentalização do passado e defende ser preciso percebermos que na historiografia do mundo antigo, as imagens e lógicas históricas são produzidas dentro de tradições interpretativas atreladas, mais ou menos, ao contemporâneo.
Nesse capítulo o autor também discute as noções de herança e legado para explicar como se constituem os mitos fundadores, os quais perpetuam valores e imagens da vida nacional, objetivando criar identidades pelo uso da ideia de permanência. Dessa forma, com o intuito de resgatar a memória nacional, a História e a Arqueologia assumem um papel importante: estão a serviço do Estado e permitem qual tipo de memória se pode (re)construir. Essa tradição de apropriação do passado em prol do governo assume dimensões gigantescas no século XIX e continua ainda no XX, principalmente no contexto das duas grandes guerras – do qual Silva retira seus exemplos de instrumentalização do passado, a Itália fascista e a Alemanha nazista.
Silva ainda trata do caso francês a partir do nascimento do herói Vercingetórix na escrita da História francesa após a sua Revolução. O autor reflete sobre como na França a disciplina histórica está atrelada a memórias construídas durante a elaboração da identidade nacional e, também, constitui-se em uma História mitológica – afinal, cria mitos de origem – encontrada principalmente na escola, espaço ideal de divulgação e popularização, e possuindo na política sua primeira finalidade já que são controladas por discursos desse gênero.
O mito consolida-se a partir de 1814 e 1815 com a invasão da França por prussianos e cossacos. Nesse contexto cresce o apelo a Vercingetórix, líder gaulês vencido pelos romanos na antiguidade, que simboliza a luta pela liberdade e é um verdadeiro herói. Segundo o autor, os historiadores e escritores colocam-no em evidência para retornarem a oposição entre romanos e gauleses e, assim, justificar as lutas políticas da época. Novamente em 1870 a França é derrotada pelos alemães e a imagem de Vercingetórix, que se rende diante de César, mas sem ser humilhado, preserva para os republicanos algo essencial: a honra da França vencida. E, também, na primeira grande guerra a imagem do herói gaulês aparece.
No segundo capítulo “A Antiguidade a serviço da colaboração: nas trilhas da memória, a reescrita da História da França dominada (1940-1944)” Glaydson José da Silva contextualiza no prólogo o momento histórico estudado, fornecendo informações importantes sobre o debate governamental francês acerca da derrota. Silva também nos explica o que é a Revolução Nacional (R.N.) e como Vichy torna-se um Estado autoritário, explanando o papel da propaganda na sua legitimação.
O autor termina tal introdução do segundo capítulo nos explicando a importância de seu estudo. A pesquisa desse período da França até as décadas de 1970 e 1980 eram poucas, mas desde então isso mudou. Contudo, questões sobre o colaboracionismo e o estatuto da História e da Arqueologia durante o Regime ainda não foram muito trabalhadas. Dessa maneira, seu livro pretende contribuir com esse domínio tão pouco explorado.
Na continuidade da leitura, observamos o retorno do mito de Vercingentórix. O autor inicia a primeira parte do capítulo explicando o conceito de memória coletiva que surge com os estudos de Maurice Halbwachs e a partir do qual reflete sobre a ideia de um patrimônio histórico e cultural comum aos franceses, amparando a R.N. e o Regime de Vichy. A memória coletiva proporciona as bases necessárias à compreensão da derrota, à justificativa da dominação e à colaboração com estrangeiros.
O patrimônio histórico e cultural comum é buscado por meio da História e da Arqueologia a serviço de um Estado autocrático e, por isso, estão comprometidas com ideologias legitimadoras, pois o governo propõe uma releitura das origens coletivas que atende aos seus próprios interesses. Essa interpretação do passado é baseada em uma ideologia política de fundo revisionista: procura difundir a ideia “de que os gauleses não foram vencidos pelos romanos, mas, sim, beneficiados pela inserção da Gália nos domínios do Império, e que da união desses dois povos nasceram os franceses.” (SILVA, 2007: 91).
A justificativa da dominação tanto romana como alemã, em épocas diferentes, então, é fundamentada em uma ideologia da derrota, ou seja, no entendimento de que os gauleses e depois franceses (mesmo sendo povos brilhantes) mereciam o castigo da ocupação por causa de seus desvios disciplinares. Dessa forma, como nos mostra Silva, a recuperação do passado gaulês para a propaganda de Vichy possui dois aspectos: o de homenagem aos gauleses por sua luta heróica contra as legiões de César e pelo reconhecimento da superioridade romana. E com essa noção de que a associação com o outro (romano ou alemão) propicia o avanço e o progresso, o colaboracionismo também se justifica.
O próximo capítulo do livro nos traz o caso específico de Jérôme Carcopino, historiador, arqueólogo e epigrafista do mundo romano, secretário do Estado e ministro da educação entre 1941 e 1942. No prólogo observamos a preocupação do autor em explicar a discussão que existe em torno desse estudioso em saber se teria sido mais um intelectual do que um político ou se o contrário. Para Silva, sua função no governo não justifica suas escolhas na elaboração do passado, porque a própria função é uma escolha e o importante é notarmos as interfaces entre o historiador e o político na figura de Carcopino. As escolhas desse pesquisador constroem uma História política factual focada nos grandes homens do passado, o que o autor percebe a partir de trechos dos seus escritos. Nesses escritos, também notamos a emissão de juízos de valor a respeito de indivíduos, situações e momentos históricos.
Com essas considerações sobre Carcopino, o autor passa a analisar a partir de Stéphane Corcy-Bebray e outros autores, sua inserção no cenário político vichysta. Carcopino é favorável ao armistício e evolve-se com o colaboracionismo. A partir de 1940 recebe diversas nomeações, como diretor da École Normale Supérieure onde empreende grande reforma: reforço do poder do diretor, exclusão das mulheres e dos judeus, entre outros; ao mesmo tempo em que defende junto ao Regime a manutenção de bolsas para alunos judeus e de advogar em favor de seus amigos e colegas do meio universitário, Mare Bloch por exemplo. É a partir desse estudo da relação de Carcopino com o poder que Silva tece algumas considerações acerca da aproximação de suas obras políticas com as suas obras acadêmicas e realiza uma importe reflexão sobre qual é o lugar dos historiadores da Antiguidade, um dos assuntos abordados no próximo e último capítulo.
No prólogo do quarto capítulo, o autor desenvolve o que é extrema direita e o que é a extrema direita francesa, tratando do caso específico da França no pós-guerra, a qual teria esses grupos de radicalização política como herdeiros do Regime de Vichy. De acordo com o autor, elas são ditas como Nouvelle Droite e são uma resposta ao fracionamento da direita, além de estarem ligadas a uma prática historiográfica na qual a História Antiga é comprometida com ideologias de justificação e legitimação de direitos, desigualdades raciais e de grupo social.
Na sequência, Glaydson José da Silva nos traz as discussões mais recentes, da nossa contemporaneidade, em torno do F.N. e a luta contra os imigrantes e a violência. Para o partido, a imigração se inscreve no mais atual aspecto dos debates identitários na França. Porque gera problemas como: a falta de segurança pública, desemprego, saúde e decadência moral; ocasionando uma noção de crise social advinda da perda de identidade. Portanto, o F.N. defende uma delimitação de fronteiras sólidas, a qual exclua os países não europeus e assegure a proteção contra os imigrantes. A noção tida é, por exemplo, de que Roma caiu ao se unir com os povos instalados aos poucos no Império.
Segundo o autor, atualmente o mito gaulês continua sendo veementemente defendido pelo F.N. A sua juventude nacionalista e racista, um exemplo, orgulha-se em exaltar suas origens gaulesas na internet, em camisetas, prospectos, letras de músicas e outros. E esse uso que o partido faz do passado ainda é pouco estudado. Por isso, Silva propõe a pesquisa de historiadores do mundo antigo nesse campo, combatendo o racismo, o elitismo, a xenofobia e outros discursos característicos de partidos como o F.N. Dessa maneira, convida o estudioso da antiguidade a assumir uma pesquisa, em nossa opinião, de muita relevância, mostrando-nos, com um exemplo bastante atual, a aproximação dos estudos antigos com discursos políticos e ideológicos. Por fim, no fechamento do livro, Silva nos deixa a pergunta: qual lugar a antiguidade ocupa em nossas sociedades?
Essa questão nos permite pensar sobre o ofício do historiador, principalmente o do mundo antigo, e se encaixa nas recentes discussões sobre o presentismo da História. A importância de indagar acerca desse lugar nos permite notar a utilização da História a serviço de certa lógica justificadora e legitimadora de questões identitárias, nacionais, raciais e políticas. Além de nos mostrar a História como um discurso do passado que representa as perspectivas nas quais foi construído.
No Brasil, estudos como esse de Glaydson José da Silva estão, aos poucos, ganhando espaço com a formação de grupos de pesquisa dentro do tema da instrumentalização do passado. Um exemplo é o grupo de pesquisa “Antiguidade e Modernidade: História Antiga e Usos do Passado” formado nesse ano de 2010 e cujos líderes são o próprio Silva e a Professora Doutora Renata Senna Garraffoni.
Mesmo que tenhamos resumido a obra História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944) e tecido algumas considerações sobre a sua leitura, destacamos somente aquilo que mais nos interessou. O livro todo possui outras explanações e questionamentos, porém, certamente, a indagação principal é sobre o lugar dos estudos antigos. Para refletir mais profundamente no assunto recomendamos sua leitura integral que, como comenta o Professor Doutor Leandro Karnal na apresentação, não é destinado apenas aos especialistas em Antiguidade, mas “a todos que manifestem alguma preocupação sobre os usos e abusos do passado histórico.” (SILVA, 2007: 16).
Camilla Miranda Martins – Bolsista PIBIC/CNPq.
SILVA, Glaydson José da. História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944). São Paulo: Annablume; FAPESP, 2007. Resenha de: MARTINS, Camilla Miranda. Cadernos de Clio. Curitiba, v.2, p.295-304, 2011.Acessar publicação original [DR]
No sertão das minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888) – JESUS (HP)
JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888). São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2007. Resenha de: MEDEIROS, Euclides Antunes. História & Perspectivas, Uberlândia v. 23, n. 43, 15 dez. 2010.
Problemáticas sociais para sociedades plurais: políticas indigenistas, sociais e de desenvolvimento em perspectiva comparada – SILVA et al (BMPEG-CH)
SILVA, Crishian Teófilo da Silva; LIMA, Antônio Carlos de Souza; BAINES, Stephen Grant (Orgs.). Problemáticas sociais para sociedades plurais: políticas indigenistas, sociais e de desenvolvimento em perspectiva comparada. São Paulo: Annablume; Distrito Federal: FAP-DF, 2009, 244p. Resenha de: SILVA, Nathália Thaís Cosmo da; DOULA, Sheila María. Desenvolvimento, políticas sociais e acesso à Justiça para os povos indígenas americanos. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.3, nov./dez. 2010.
O livro “Problemáticas sociais para sociedades plurais” aborda grandes temas relacionados às sociedades indígenas americanas, tais como identidade étnica, cidadania, direitos coletivos e diferenciados e problemas sociais. Dividida em três partes, a obra foi organizada por Cristhian Teófilo da Silva e Stephen Grant Baines, ambos professores da Universidade de Brasília, e por Antonio Carlos de Souza Lima, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A primeira parte do livro discute indigenismo e desenvolvimento, com ênfase na questão da convivência interétnica nas Américas; a segunda analisa as políticas sociais para povos indígenas em perspectiva comparada; e a terceira parte aborda os direitos diferenciados de acesso à Justiça.
Os fios condutores da primeira parte do livro são a construção da identidade e da autonomia indígena em face da identidade, da soberania e dos modelos de desenvolvimento nacionais, e as limitações da nova semântica multiculturalista. Os artigos são: “Desenvolvimento, etnodesenvolvimento e integração latino-americana”, de Ricardo Verdum; “Conflitos e reivindicações territoriais nas fronteiras: povos indígenas na fronteira Brasil-Guiana”, de Sthephen Grant Baines; “Políticas indigenistas e cidadania no México e EUA: John Collier, Moisés Sáenz e os índios das Américas”, de Thaddeus Gregory Blanchette; “Indigenismo, antropologia y pueblos índios en México”, de Mariano Baez Landa.
Sob a ótica da relação entre identidade indígena e soberania nacional, o texto de Verdum discute o conceito de ‘etnodesenvolvimento’ como alternativa que leva em consideração a autonomia dos grupos étnicos dos Estados Nacionais, destacando o papel protagonista do Banco Mundial (BIRD) na disseminação deste ideário. O autor assinala a existência de um campo de interesses e disputas presentes nas representações e nos discursos acerca do lugar dos povos indígenas no desenvolvimento da América Latina, enfatizando que as manifestações de diversidade cultural são limitadas por concepções sociais e econômicas de ‘pobreza’ e ‘marginalidade’. Segundo ele, a concepção do Banco Mundial sobre o ‘empoderamento’ é impregnada pela ideologia progressista com o intuito de capacitar os indígenas para participarem de todo o “ciclo de desenvolvimento”.
Seguindo o fio argumentativo sobre as fronteiras e a soberania nacional, o texto de Baines analisa o conflito social em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, mostrando que a regularização desta área pelo governo brasileiro garante a Soberania Nacional e também o manejo sustentável pelos povos indígenas, ao passo que a exploração da terra pelos grileiros rizicultores tinha como objetivo a privatização das terras da União e, como consequência, danos ambientais irreversíveis pelo uso intensivo de agrotóxicos. Baines aponta, no contexto de fronteira entre Brasil e Guiana, o conflito de interesses entre os povos indígenas e o Exército, salientado o desrespeito histórico que marcou a construção de rodovias, de usinas hidrelétricas e a abertura de minas nos territórios indígenas Makuxi e Wapichana. Assim, a fronteira, como sugere o autor, deixa de ser uma questão militar – tendo em vista que ambos os povos expressam patriotismo em relação às suas nações – e passa a ser uma questão econômica.
Blanchette, por sua vez, contextualiza os períodos da construção da identidade indígena na história norte-americana e mexicana. No âmbito do indigenismo norte-americano, assinala a passagem do período de assimilação forçada no final do século XIX, quando os índios tinham a condição de cidadãos de segunda classe, para as primeiras décadas do século XX, quando eles foram representados como um símbolo nacional, assumindo o papel de protetores da fronteira. Esta transformação possibilitou o surgimento do pluralismo e do relativismo cultural dentro do campo político, abrindo caminhos para que, mais tarde, em meados do século XX, o grande personagem do indigenismo americano, John Collier, reformulasse a política assimilativa, priorizando a integração dos grupos numa estrutura pluralista. Collier, com o apoio do presidente Franklin Roosevelt e dos indigenistas mexicanos Moisés Sáenz Garza e Manuel Gamio, foi responsável por mudanças legislativas relevantes em relação às políticas indigenistas nas Américas.
Já na história mexicana, os índios eram considerados um ‘problema’ da nação, de modo que a lógica do progresso induzia o seu desaparecimento. O indigenismo mexicano somou esforços a fim de incorporar os índios como cidadãos, mas essa reorientação acabou se limitando à aparência, uma vez que os índios continuaram a ser vistos como imperfeitamente civilizados.
No que se refere à representação do indígena na trajetória mexicana, Landa expõe que, com uma história marcada por levantes e rebeliões, a figura do índio era a de um bravo combatente pela independência frente à Espanha. No entanto, após esse período, ele passou a significar um entrave à integração e ao desenvolvimento da nação. De acordo com o autor, a identidade nacional construída no México nega as diferenças, tanto pela via da exclusão, que separa e isola as diferentes etnias, quanto pela via da inclusão, que apaga as identidades. Landa sustenta que o indigenismo moderno se impôs igualando pequenos produtores, índios, latinos e mestiços para serem atendidos pelos programas de combate à pobreza e de compensação social, o que culminou na renúncia da condição étnica para obtenção de recursos governamentais.
A segunda parte do livro trata das políticas sociais envolvendo os povos indígenas em temas como a educação superior, as relações de gênero, saúde, contaminação com o vírus HIV e previdência social. Os artigos são: “Cooperação Internacional e Educação Superior para indígenas no Brasil: reflexões a partir de um caso específico”, de Antonio Carlos de Souza Lima; “Políticas sociais, diversidade cultural e igualdade de gênero”, de Lia Zanotta Machado; “Políticas de saúde indígena no Brasil em perspectiva”, de Carla Costa Teixeira; “Un acercamiento a la problemática del HIV/SIDA al interior de los pueblos índios”, de Patrícia Ponce Jimenez; “‘No soy mandado, soy jubilado’: previsión social y pueblos indígenas en el Amazonas brasileño”, de Gabriel O. Alvarez.
No que se refere à educação superior, é a partir da reflexão sobre o projeto “Trilhas do Conhecimento” que Lima discute a utilização dos recursos advindos da cooperação internacional e das políticas públicas. Argumenta que, embora a inovação promovida no cenário das políticas para os povos indígenas tenha se ancorado em subsídios da cooperação técnica internacional, com destaque para a Fundação Ford e para a Fundação Rockfeller, não se pode esquecer que os recursos de natureza privada servem a ações demonstrativas de curta duração e que, portanto, são incompatíveis com tarefas de longo prazo próprias das políticas públicas.
As relações de gênero são problematizadas por Machado, que alerta para o fato de que agressões morais e físicas podem não ser consideradas como violência em determinados contextos culturais e que o significado de violência e discriminação contra as mulheres é construído sem o reconhecimento da cultura local. A autora defende, pois, a diversidade cultural e a igualdade de gênero como questões que dizem respeito fundamentalmente à dignidade humana e, portanto, se antepõe a uma sociedade tradicional que tem arraigadas as práticas da discriminação.
Em outra perspectiva, por meio da análise do processo histórico e político institucional, Teixeira argumenta que a política pública brasileira de saúde para os povos indígenas é dotada de uma profunda força antidemocrática, uma vez que as intervenções sanitárias buscam a incorporação de novas práticas e valores higiênicos pelos indígenas. Aponta no Manual de Orientações Técnicas destinado aos agentes de saúde o predomínio da função simbólica nas ilustrações do texto, que enfatizam a proximidade de comportamentos entre índios, animais e fezes, evidenciando que o foco não é a ausência de infraestrutura sanitária, mas sim o inadequado comportamento higiênico dos indígenas, o que reforça a missão de “sanear pessoas” para o agente indígena.
Quanto à epidemia do vírus HIV, Ponce destaca os perigos de se desconsiderar sua proliferação entre os povos indígenas, entendendo que as políticas públicas nesse setor partem de alguns pressupostos equivocados: os índios são concebidos como exóticos que moram em lugares inacessíveis, inclusive para a AIDS, e a crença de que todos os índios são heterossexuais, sendo também comum a associação da epidemia com a homossexualidade. Novamente, portanto, a crítica recai na incapacidade verificada na formulação de políticas públicas que considerem a diversidade e as especificidades culturais. Essa situação remete a uma “vulnerabilidade multidimensional” que exige novas posturas de líderes e de comunidades indígenas, e também da academia no sentido de assumir o imperativo de falar de sexualidade e diversidade sexual.
O texto de Alvarez discute o impacto das políticas previdenciárias nas comunidades indígenas por meio de três experiências na Amazônia. Em primeiro lugar, nota-se uma valorização social dos aposentados, na medida em que, em alguns casos, os beneficiários conseguem abandonar a condição de trabalhadores e tornam-se patrões; em outros casos, verifica-se um fenômeno mais complexo, no qual o dinheiro passa a ter impacto sobre a vida cultural do grupo, pois os idosos assumem as despesas com rituais e ocupam um lugar proeminente no grupo; finalmente, a aposentadoria tem servido para reverter a situação de marginalidade econômica, subordinação social e estigmatização histórica sofrida, por exemplo, pelos Ticuna, representados como inaptos para o mundo do trabalho, alcoólatras e selvagens. O autor relata, ainda, o recente “drama dos documentos” em decorrência da atuação autoritária da Fundação Nacional do Índio, que, diante da apuração de denúncias de fraudes pontuais com a população indígena Ticuna no município de Tabatinga (AM), mandou suspender a emissão de declarações que dão início aos trâmites para obtenção de recursos previdenciários. Este episódio, por um lado, evoca a atualização dos estigmas ligados aos Ticuna; por outro, traz a reflexão de que, ao contrário do passado, quando muitos deles renunciaram sua identidade indígena, no presente, com a implementação de políticas diferenciadas, seus descendentes assumem suas identidades para ter acesso aos benefícios.
A terceira parte do livro se destina a discutir os direitos diferenciados de acesso à Justiça. Os artigos são: “A Convenção 169 da OIT e o Direito de Consulta Prévia”, de Simone Rodrigues Pinto; “Criminalização indígena e abandono legal: aspectos da situação penal dos índios no Brasil”, de Cristhian Teófilo da Silva.
As proposições de Pinto se referem ao direito de consulta prévia, que foi instituído na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e seu papel fundamental de intermediar e negociar as reivindicações dos povos indígenas e dos Estados. No caso brasileiro, esse direito ainda carece de regulamentação e a falta de definição clara do papel dos povos indígenas acarreta no risco de a consulta se tornar mera formalidade. Faz-se necessário, neste processo, a informação qualificada, que implica tradução não só dos aspectos linguísticos, mas dos “modos de pensar”. Tomando como exemplo os impactos causados por 200 obras propostas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, a autora analisa as possíveis manipulações por parte das empresas responsáveis e chama a atenção para os empreendimentos que afetam diretamente as comunidades indígenas, mesmo que não estejam situados em suas terras.
Finalmente, no âmbito da criminalização indígena, o artigo de Silva denuncia o abandono legal dos índios nas prisões e a necessidade de um aprofundamento empírico e teórico sobre essa realidade no Brasil. O autor alerta para o não reconhecimento do status jurídico dos índios pela justiça criminal, apontando para uma distorção no uso das categorias ‘índios’ e ‘pardos’, e a consequente descaracterização étnica. Evidencia também o racismo institucional e a manipulação da indianidade pelos agentes que relegam aos índios, sob o discurso da aculturação, o tratamento diferenciado. Resta aos estudiosos somar esforços para tentar compreender o que a realidade desses processos de criminalização dos índios que estão nas prisões brasileiras nos diz sobre a pretensa democracia étnica e plural do país.
Nathália Thaís Cosmo da Silva – Mestranda em Extensão Rural na Universidade Federal de Viçosa. E-mail: [email protected]
Sheila Maria Doula – Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Professora Associada da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Platão – TRABATTONI (RA)
TRABATTONI, Franco. Platão. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: SANTOS, José Trindade. Revista Archai, Brasília, n.5, p.143-146, jul.2010.
1. Que leva um professor de Filosofia Antiga a escrever um livro de introdução a Platão? Penso que, em primeiro lugar, o dirige aos seus alunos, e só depois inclui no seu projeto os alunos dos outros. Mas, creio que ninguém se decide a escrever uma obra introdutória a Platão e ao platonismo se não for movido por uma ideia. No caso de Franco Trabattoni, defendo que essa ideia foi mostrar que o Mestre da Academia é um pensador anti-dogmático.
Entre alunos e manuais, a voz corrente encara Platão como o arquétipo do filósofo dogmático. Teorias que defendem a existência de Ideias inteligíveis desvalorizando a experiência sensível, que afirmam que o conhecimento não passa de reminiscência, que uma flor só é bela porque participa da Beleza, que há “para além da essência”um bem que tudo rege, só podem ser entendidas como construções ideológicas sustentadas dogmaticamente. E, de fato, quem substitui a leitura dos diálogos pela memorização das “teorias”platônicas só pode ler Platão dogmaticamente.
Não importa aqui apurar quem são os responsáveis por essa opção didática, se alunos, professores ou manualistas; nem esse pensamento terá passado pela mente do Autor quando esboçou a presente obra. Sua intenção terá sido, sim, mostrar que Platão pode ser lido como um pensador anti- dogmático, deixando ao leitor a decisão sobre se deve ser lido por esse viés.
1.1 Por isso, o Autor começa por apontar que, ao contrário do que ocorreu com a generalidade dos filósofos, o Mestre da Academia compôs todo o seu Corpus na forma dialógica. Essa opção há muito constitui tópico de debate e um mistério. Mas este é adensado pela circunstância de – podendo fazê-lo! –, enquanto filósofo, Platão se excluir de participar nas disputas e investigações que, por escrito, legou à posteridade.
É como consequência desta sua decisão que o registo escritural do “seu pensamento”ficará para sempre como uma obra aberta, sujeita e recomposições periódicas. É ainda por essa razão, agravada pela variação das perspectivas pelas quais é abordada em diversas épocas e culturas, que a reinterpretação da obra platônica – entre nós imposta pela sua inclusão nos currículos escolares – tem sido constante desde a Antiguidade.
Nos últimos dois séculos, as tendências da crítica convergiram em três perspectivas concorrentes. Unitaristas, evolucionistas e analíticos propõem três visões da obra platônica, consoante se concentram na definição da unidade ideológica do Corpus, no fio evolutivo extraído da análise cronológica da sua produção, ou simplesmente optam por abordar cada diálogo como uma peça autônoma, abstendo-se de o relacionar com o Corpus platônico.
2. Reconhecida a inutilidade do debate sobre os méritos relativos destas três tendências, a partir de meados do séc. passado outras se afirmaram, apoiando-se em critérios têcnicos, temáticos, estilísticos ou de outra natureza. É neste grupo que o Autor da obra em apreço se incluiu, ao optar por esboçar uma estrutura problemática que, de forma não evidente, se apoia numa leitura evolucionista do pensamento platônico.
2.1 Após um capítulo introdutório (15 pp.), dedicado a questões de composição e interpretação do pensamento platônico, a análise do Corpus acha- se organizada em três partes de desigual extensão (não assinaladas no texto).
Os capítulos II a IV (43 pp.) condensam a temática ética e política nas duas linhas polêmicas que atravessam os diálogos “socráticos”, orientando a crítica para os alvos fornecidos pela cultura tradicional e pela sofística. Passado um breve capítulo que abre para questões epistemológicas (13 pp.), a II parte da obra (131 pp.) concentra-se no estudo da metafísica e epistemologia dos diálogos sobre as ideias (ênon, Fédon, Fedro, Banquete, Crátilo, República). Focando a temática da alma, a análise conduz o leitor, através da consideração do amor e das propostas educativas, à teoria ética e política da República. Começa então a III parte (117 pp.), concentrada, primeiro, nos “diálogos dialéticos”(Teeteto, Sofista: cap. XI), depois no “problema do bem no homem e no cosmos”(Filebo, Timeu: cap. XII), finalmente, no “último pensamento político de Platão”(Político, Leis: cap. XIII).
A obra é rematada por um breve apêndice (não identificado como tal) que debate a substância das “doutrinas orais”(cap. XIV), ao qual se seguem bibliografias diferenciadas e um índice de citações (onde falta a paginação).
2.2 Embora praticamente toda a produção platônica seja coberta, os diálogos recebem tratamentos desiguais. Enquanto a obra “socrática”– à qual é concedida atenção passageira –, é abordada topicamente, a problemática dos diálogos “metafísicos”é estudada em profundidade e extensão. No entanto, só na III parte cada diálogo tratado é abordado separadamente, sendo concedida atenção pouco usual à última produção escrita atribuída ao filósofo: As leis.
Esta assimetria serve as intenções do Autor, que nunca deixou de visar os interesses de três públicos muito diferentes. Ao público leigo oferece uma visão global do pensamento platônico, a um tempo rigorosa e acessível. Aos estudantes proporciona a compreensão da unidade e diversidade do platonismo escrito, perpassada por muitas visões e interpretações originais dos problemas postos pela leitura dos diálogos. Finalmente, aos professores fornece um guia de leitura que, destacando o essencial do acessório, separa os programas de pesquisa da sua concretização nos textos e ilumina o sentido do estudo aplicado e profissional dos diálogos e da filosofia platônica.
Na simplicidade com que deve ser apresentado um trabalho introdutório, há muita reflexão sobre a obra do filósofo, que reflete o conhecimento da diversidade das interpretações que tem recebido da parte dos comentadores. Por isso, a opção entre expor as doutrinas e criticá-las é sempre ultrapassada com critério, de modo a não deixar de fora nada que a tradição comentarista recente considere relevante. Por fim, sem se substituir à leitura dos diálogos, a obra ajuda o leitor a trabalhá- los furtando-se a aprisioná-lo na teia dogmática das “doutrinas”, resumidas para consumo escolar, deixando-o entrever os anseios e projetos que conferem sentido à composição dos diálogos.
2.3 A I parte trata o grupo “socrático”(no qual parte do Teeteto é oportunamente incluída) como um projeto crítico da cultura grega e do movimento sofístico. Sem se comprometer ideologicamente, o A. deixa o leitor entrever que o conflito com a abordagem autonômica corrente, substanciada pela generalidade dos interlocutores de Sócrates, é explicado pela adesão de Platão à proposta axiológica heteronômica do bem (33-34).
Após o capítulo que separa os diálogos “socráticos”dos dedicados à exposição da teoria das ideias, os três seguintes são dominados pela temática da “alma”, abordada das perspectivas complementares do indivíduo, da cidade e da teoria do “amor”. Neste ponto, é oportuno empreender um excurso.
2.3.1 Desde os registros tanto do início da atividade filosófica grega – fixados por Aristóteles –, quanto da Literatura (veja-se: Homero Ilíada I,3-5), a primeira preocupação dos Gregos é com a vida, particularmente na sua relação com a morte. Textos de diversas proveniências evidenciam a plena consciência de que “o que vive”não é o corpo, mas essa entidade chamada “alma”, que “anima”o corpo, até ao momento em que sai, deixando-o “inanimado”.
Esta problemática apresenta implicações religiosas que a nossa cultura integralmente reconhece e aceita. Mas a dificuldade de compreensão atual da posição platônica sobre a alma reside no fato de esta transbordar para terrenos de todo estranhos à nossa cultura: o político (República, Político, Leis), o cósmico (Timeu, Leis X), o cognitivo (psíquico/psicológico/formativo: Mênon, Fédon, República V-VII) e o antropológico (Banquete, Fedro, Timeu).
A diferença de contexto cultural que nos separa dos Gregos deixa o leitor desarmado perante a abrangência da noção grega de alma, reagindo com estranheza a concepções como as da criação e transmigração das almas e da reminiscência, esquecendo que com elas o filósofo dialoga com os seus conterrâneos e companheiros de pesquisa.
2.4 O A. aborda esta questão a partir do Fédon, considerando sucessivamente os argumentos da reminiscência e da participação, ao estudo dos quais associa o Crátilo e – num lance arriscado – a Carta VII.
Passa em seguida à seção epistêmica da República (VI-VII) para construir o interface da temática da alma.
O seu objetivo é chegar ao primeiro braço da concepção platônica da educação, que complementa com a definição do vínculo unificador do psiquismo individual e coletivo na teoria do amor e na construção da cidade justa. Mas o foco da sua preocupação são as questões epistemológicas que o remetem aos “diálogos dialécticos”.
Não é possivel prestar aqui atenção ao fino recorte dos argumentos com que interpreta separadamente: o problema da opinião verdadeira, no Teeteto, e as críticas de “Parmênides”à doutrina das ideias, coroada com uma magistral, embora sintética, análise do sentido das hipóteses sobre o uno e o múltiplo, no Parmênides.
Na sequência, a análise aborda o Sofista, encarado como a obra em que Platão reformula a sua “doutrina das ideias”, mediante a análise dos “cinco gêneros máximos”e a proposta da dialética.
Quase como epílogo, o A. volta à temática da alma, no Timeu, antecedida por aquilo que entende como sinais da influência pitagórica, no Filebo, e seguida pela teoria sobre a construção do cosmos. Havendo ainda lugar para voltar a prestar atenção àquilo que o A. designa como o projeto político de Platão, no Político e nas Leis, a obra termina com uma sucinta, porém, inspiradora avaliação das “doutrinas orais”atribuídas a Platão.
É um trabalho que ficará como um modelo de clareza, concisão e rigor, que se espera mereça a atenção do estudioso de Platão tanto dentro da Escola, como docente e discente, quanto fora dela, como homem de cultura. Pois está mais que provado pela crítica de todos os tempos que, se poucos são os que concordam com as soluções propostas por Platão, todos se reúnem e debatem em torno dos problemas que o filósofo legou à Humanidade.
4. Faltará apenas mostrar como o A. provou o anti-dogmatismo de Platão. Em primeiro lugar, num enfoque que equilibra as visões da filosofia e da cultura, nunca adota uma visão reducionista da leitura dos textos filosóficos, expressa quer em bem ordenados resumos, quer na enumeração das teses e teorias que a Escola registra como “doutrinas”.
Fica deste modo desfeito o nó górdio atado por quantos tentam reduzir a dogmas os argumentos que o filósofo propôs, com a intenção de apresentar a sua visão crítica da realidade, tal como ela se mostra aos homens, no espaço do seu mundo e no tempo da sua vida. O A. nunca esquece que, com a excepção da reminiscência, as “teorias platônicas”não passam de objetos didáticos expostos em manuais e exigidos pela avaliação do estudo.
Finalmente, com as interpretações parciais e global que propõe, Trabattoni assume com determinação e competência o risco de relacionar teses avançadas em diálogos distintos. Sabendo bem que este risco é corrido por quem se aventura a interpretar Platão, o A. não ignora que essa opção nunca é inviabilizada pelo próprio filósofo, que por vezes se não coíbe de sugerir relações intra- dialógicas.
José Trindade Santos – Professor da Universidade Federal da Paraíba e do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.
Nunca você sem mim – TEIXEIRA (REF)
TEIXEIRA, Analba Brazão. Nunca você sem mim: homicidas-suicidas nas relações afetivo-conjugais. São Paulo: Annablume, 2009. 192 p. Resenha de: COSTA, Patrícia Rosalba Salvador Moura; GROSSI, Miriam Pillar. Violências de gênero: assassinos/as impiedosos/as ou enlouquecidos/as pela dor do amor? Revista Estudos Feministas v.18 n.2 Florianópolis May/Aug. 2010.
Em tempos de Lei Maria da Penha, a violência de gênero ganha maior visibilidade junto à sociedade civil e reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, dos diversos problemas que são gerados em consequência de tais atos.
Há muito que pesquisadoras e a militância feminista se debruçam sobre o tema para mostrar as faces e interfaces das variadas violências que atingem as mulheres, e para marcar um espaço de luta em busca de proteção dos direitos humanos, direitos das mulheres. Várias foram as conquistas no campo das políticas públicas: criação das delegacias das mulheres, em 1985; promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340), em 2006;1 e, em 2009, promulgação da nova Lei do crime de estupro (Lei 12.015),2 que altera a redação de alguns crimes sexuais previstos no Código Penal Brasileiro. Essas e outras alterações têm contribuído para que a violência perpetrada contra as mulheres saia do espaço privado e se insurja na tela dos espaços públicos com tonalidades de indignação e cores de esperança. Esperança de que essas práticas deixem de fazer parte das estatísticas institucionais e que o reconhecimento dos direitos das mulheres esteja na pauta de toda a sociedade. Leia Mais
O que os netos dos vaqueiros me contaram: o domínio oligárquico no Vale do Parnaíba – DOMINGOS NETO (HO)
DOMINGOS NETO, Manuel. O que os netos dos vaqueiros me contaram: o domínio oligárquico no Vale do Parnaíba. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. Revelações da memória: uma nova trilha nos caminhos da tradicional história política regional e dos consagrados conceitos que a definiram. História Oral, v. 13, n. 1, p. 153-158, jan.-jun. 2010.
O título da obra em apreço espelha um roteiro metodológico plural. À primeira vista, ele pode figurar como um tema restrito aos que se sentem atraídos pela riqueza metodológica da história oral e/ou pela definição de um velho tema da história política regional. Entretanto, após uma leitura atenta da introdução e uma observação perspicaz dos cinco capítulos, percebe-se que o autor almeja ir além dessa proposição metodológica e temática, pois remete o leitor a outras áreas de análise acadêmica. Refiro-me à busca de estabelecer uma contínua conexão entre o histórico, o sociológico, o político e o econômico, traço marcante do legado marxista, na busca de uma totalidade histórica, legado ainda perceptível nos novos temas e novas abordagens daqueles que se conscientizaram do valor da interdisciplinaridade.
Manuel Domingos Neto foi um aluno afastado do curso de Licenciatura em História, da Faculdade Estadual de Filosofia do Ceará (Fafice), na turbulência dos anos 1960, exilando-se na França, onde cursou o doutorado em História. Para quem o conhece e o acompanhou, na sua formação acadêmica, partilhando da alegria do seu ingresso no magistério superior, na Universidade Federal do Ceará (UFC), na área de ciência política, a presente obra é uma prestação de contas de uma experiência histórica de “longa duração”. O seu amadurecimento profissional e o tempo vivido, revelados através de uma trajetória interdisciplinar, licenciatura em história, doutorado em ciências sociais, professor de ciência política, na pós-graduação em ciências sociais, nos explicam a manutenção, no decurso da feitura do livro, de um elo explicativo do debate historiográfico apresentado, envolvido no viés sociológico, político e econômico. Atualmente, no campo das ciências sociais, a “interdisciplinaridade” é reconhecida e recomendada, mas nem sempre demonstrada. E a questão é agravada quando se recorre a outro conceito, o de “transdisciplinaridade”, mais usado como um simples sinônimo de “disciplinaridade”. Como uma resposta a essa questão, ao longo da leitura da obra em foco, a aplicação prática desse conceito nos parece evidente. Nessa perspectiva, a sua preocupação constante em associar passado e futuro dos vaqueiros e dos netos de vaqueiros do Vale do Parnaíba nos faz melhor compreender as contradições do presente, um presente obtuso, envolto em uma “história em migalhas”, que busca explicar a “era do vazio”. É a era de uma história marcada por um “hibridismo cultural”, melhor revelado através da coleta de “memórias singulares”, imbricadas em “identidades sociais”. E tais contradições teórico-metodológicas, agudizadas a partir da “crise de 1989”, abalaram a rigidez dos modelos explicativos, que pareciam indeléveis. Contudo, nas novas versões históricas, como aquela voltada a uma “herança imaterial” (Levi, 1985), que traça a trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII, percebe-se o nexo entre o legado historiográfico marxista e as novas proposições apresentadas. Assim, a complexidade temática é simplificada pela clareza da análise de um autor, que comenta a fragilidade de determinados conceitos, consagrados no estudo da história nordestina e, mais ainda, nos encanta pela leveza das narrativas coletadas, reveladoras dos depoimentos singulares, que prendem a atenção do leitor desde o primeiro capítulo.
O debate, inicialmente levantado em torno das limitações do conceito de modernização, sempre indicada como o anverso do tradicional, é ampliado com a análise de outras proposições, como coronelismo e clientelismo. Percebendo as conexões e contradições, mercantilismo/escravismo colonial e muitos outros casos de persistência de arcaísmos, presentes no desenvolvimento capitalista, fica claro que o atraso dos meios de produção também favorece determinados interesses. Por isso, “o moderno e o tradicional (ou arcaico) sempre andam de mãos dadas, um absorvendo a seu modo, estruturas, valores, práticas e simbologias do outro” (p. 22). A compreensão das relações de poder, no Piauí, não foi obtida apenas através dos depoimentos coletados. Livros, jornais, documentos e até poesias compuseram o acervo consultado. Na explicação da infausta trajetória do Piauí, extensiva ao Nordeste, o autor rejeita a definição de seu espaço como um espaço sem propensão para atividades consideradas mais complexas, dedicado exclusivamente à subsistência, ocupado por resistentes à civilização. A modernidade contraditória, onde o velho e o novo se entrelaçam e as diferenças estabelecidas entre as regiões brasileiras vão muito além de um simples produto do meio geográfico, uma vez que foi o Estado, sempre voltado às exportações mais rentáveis, que alimentou uma desumana divisão local do trabalho e aprofundou as diversidades de oportunidade entre as regiões. Nesse parâmetro, em busca de uma melhor compreensão das disparidades regionais, são reavaliadas classificações consagradas, como as de Euclides da Cunha e Celso Furtado, confirmando a indicação dos indícios dessas disparidades, defendidos por Francisco de Oliveira e Wilson Cano. As narrativas apresentadas pelos netos dos vaqueiros confirmam a modernização sem mudança, registrada em diferentes momentos e espaços da história política regional e nacional. A linha de frente dessa modernidade combinava desenvolvimento com contradições sociais e regionais, destacando os coronéis e seus possíveis opositores como agentes desse processo. Os depoimentos das velhas lideranças políticas contradizem as consagradas definições que lhes foram atribuídas. Outras facetas de comportamentos políticos, narradas pelas lideranças entrevistadas, desfazem os rígidos perfis, idealizados de forma homogênea, com datas estabelecidas de extinção dessas práticas políticas, o que atesta e contesta a fragilidade de determinados conceitos consagrados, como coronelismo e clientelismo, que o autor considera mais insultuosos que definidores.
A riqueza plural de cada uma das entrevistas realizadas abre perspectivas de análise que ultrapassariam as 400 páginas do livro. Os títulos de cada um dos cinco capítulos constituem um estímulo ao leitor. O primeiro, “Os netos dos vaqueiros”, é uma apresentação de cada um dos entrevistados, de acordo com a seguinte subdivisão: 1) “O Coronel”, Pedro Freitas, que fez negócios e política a vida inteira. Nesse primeiro tópico, a definição de coronelismo, segundo José Murilo de Carvalho, que tem por base a opinião de Victor Nunes Leal, é contestada. Para ambos, o abalo sofrido por alguns coronéis baianos, presos em 1930, teria sido finalizado com o golpe de 1937. Entretanto, segundo Manuel Domingos Neto, o coronel entrevistado exerceu o seu poder de mando da adolescência à velhice: não manteve o seu poder apenas na República Velha, uma vez que não enfrentou um declínio econômico e o seu poder pessoal o beneficiava no trato com o eleitorado urbano. 2) “O Doutor”, José da Rocha Furtado, um conceituado médico, na classificação de uma ampla clientela, que foi nomeado pelo centralismo político de 1930, mas cujo governo foi considerado um desastre de acordo com a memória dos entrevistados. 3) “O Engenheiro”, Luís Mendes Ribeiro Gonçalves, a quem foi confiada a administração das finanças e as obras do estado, durante o governo do engenheiro João Luís Ferreira, no período 1920-1924. Esse último, quando da sua estada na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, desfrutara da amizade de Lima Barreto, nas noites boêmias ali vividas. Luís Mendes, além de senador, pela União Democrática Nacional (UDN), de 1934 a 1937 e de 1947 a 1951, foi uma das testemunhas da passagem da Coluna Prestes. O segundo capítulo, “A herança dos netos dos vaqueiros”, é subdividido em cinco temáticas, desde a que trata da criação do gado, nascendo para o mercado, entendida não apenas como alternativa para o povoamento do interior, mas como uma mercadoria produzida, integrada à dinâmica intercontinental do sistema capitalista, como fica expresso nas narrativas sobre a ação dos netos dos vaqueiros na política. A expansão do processo criatório, iniciado com seus “confrontos sangrentos” e consolidado com a utilização da mão de obra escrava nessa atividade, explica o porquê do charque, nas “oficinas” de Parnaíba, e da ação dos proprietários não ausentes de suas fazendas, beneficiários de grande rentabilidade da pecuária nordestina. A inviabilização da pecuária extensiva anulou o velho argumento de que o ouro das Gerais matou as charqueadas do Norte. Ela foi marcada pelas complicadas partilhas de terras por herança e pela autolocomoção do gado, definidora do rio Parnaíba como uma via de acesso sem importância. As “falsas promissões” foram desfeitas pelo declínio da pecuária, sobretudo a partir de meados do século XIX, mesmo com a mudança da capital da província, de Oeiras para Teresina. Paulatinamente, o extrativismo vegetal, incentivado pelo comércio internacional, passou a ser a atividade econômica mais promissora e, desde as primeiras décadas do século XX, as poucas oportunidades de emprego e os conflitos de terra explicavam os elevados gastos governamentais com “segurança” e “justiça”. Os netos dos vaqueiros na política, em suas falas, mesmo confirmando alguns traços definidores do coronelismo, descritos por Nunes Leal, põem por terra as explicações segundo as quais os grandes proprietários usufruíam do atraso econômico, pois a projeção política dos mesmos decorria da maneira peculiar de assumirem a propriedade da terra. Se nos dois primeiros capítulos do livro a escrita do autor delineia o pano de fundo da peça apresentada, nos três últimos capítulos, intitulados “A fala do Coronel”, “A fala do Doutor” e a “A fala do Engenheiro”, os atores selecionados apresentam o seu enredo básico. Na realidade, o livro não é uma produção de um pesquisador dedicado à “história oral”, mas de um cientista político que a ela recorreu como uma técnica de pesquisa que lhe pareceu promissora. Se fosse uma opção metodológica, certamente as perguntas apresentadas, nas referidas falas, teriam sido eliminadas e o conteúdo analisado seria embasado com alguns conceitos reveladores, como “memória social”, “história e memória” e “histórias de vida”. Mas o importante é que essa escrita do autor, explicativa da problemática enunciada, concentrada em 103 páginas, deixa o leitor ansioso pelo que consideramos a segunda parte do trabalho: as três falas apresentadas, que somam mais de 300 páginas. Com certeza, não é o número de páginas que define o peso maior à validade do que foi escrito, mas a opulência de temas e comentários, presentes nos depoimentos apresentados, por esses atores selecionados, nos induz a uma série de indagações, que ampliam o curso das análises apresentadas.
Se vários são os rios que figuram no mapa do Piauí, múltiplas são as proposições tratadas nas entrevistas à espera de diferentes interpretações. Que outras narrativas sigam as sinuosas trilhas abertas pelo autor, que tão bem soube ouvir e comentar acerca do que os netos dos vaqueiros lhe contaram. Referências LEVI, G. L’eredità immateriale: carriera di um exorcista nel Piemonte del Seicento. Torino: Einaudi, 1985.
Gisafran Nazareno Mota Jucá – Professor titular de História do Brasil e do Mestrado em História (Mahis) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e professor da Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico – DEBONA (V-RIF)
DEBONA, Vilmar. Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico. Prefácio de Maria Lúcia Cacciola. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: KLEIN, Glauber Cesar; SANTOS, Élcio José dos. Voluntas – Revista Internacional de Filosofia, Santa Maria, v.1, n 1, p, 151-159, 2010.
Podemos medir a excelência e a pertinência de um comentário filosófico, ou mesmo de uma obra filosófica, a partir de dois critérios essenciais: (i) a dificuldade do problema elegido para a investigação e (ii) a acuidade na execução do exame e da solução, contando aqui as categorias de clareza e elegância de exposição, rigor conceitual na análise e poder explicativo da análise do tema para o pensamento completo do autor. O livro de estreia de Vilmar Debona, Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, a nosso ver, contempla esses dois critérios de excelência e de pertinência. Vejamos de que modo.
I O jovem especialista em Schopenhauer, Vilmar Debona, atualmente doutorando do Departamento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, autor, entre resenhas e artigos, de diversos trabalhos sobre Schopenhauer, lança agora o seu livro de estreia, Schopenhauer e as formas da razão, O teórico, o prático e o ético-místico. Resultado de sua pesquisa de mestrado pela PUCPR, defendida como dissertação em 2008, o livro apresenta uma versão retocada da Dissertação. A pertinência da publicação pode medir-se já pelo seu título, que anuncia um tema ao mesmo tempo sóbrio e provocativo. Sóbrio, pois indica um estudo temático preciso e técnico, sendo já por isso promissor à leitura dos estudiosos em Schopenhauer.
Provocativo, por destacar a pretensão de uma leitura reformadora da compreensão da crítica de Schopenhauer, esse celebrizado pensador irracionalista (seja como pessimista inveterado, seja como crítico visceral dos projetos racionalistas da tradição, abandonados, justamente, também pela influência do pensador da Vontade, do Corpo e do Sexo), ao conceito de razão.
Neste sentido, o de se engajar em uma interpretação do autor de O Mundo como vontade e como representação que reconsidera e revaloriza o papel da razão na filosofia de Schopenhauer, o autor coloca, por um lado, que “justificar a razão como secundária em relação ao entendimento e à Vontade, (…) eis um dos grandes propósitos da visão de mundo de Schopenhauer”, que, assim, traria à primeira página de sua agenda filosófica a tarefa de realizar “uma inversão na ordem das prioridades”, mostrando que “antes de um homem que pensa, o ser humano é um animal que quer” – e, nisto, estamos no ponto pacífico das interpretações schopenhauerianas –, e, por outro lado, anuncia o tema problemático de sua investigação, o de saber “como se comporta a razão no processo de sua própria descentralização”. Vejamos em detalhe a posição do problema.
A par da novitas schopenhaueriana, o primado da Vontade metafísica enquanto blosser blinder Drang, segundo a qual “a razão é deslocada para uma instância periférica em relação à centralidade que a história da filosofia lhe havia outorgado”, abrindo-se assim um espaço vazio a ser preenchido pela tese fundamental do pensamento de Schopenhauer, a saber, a identificação de uma Vontade cósmica com a coisa-em-si, portanto, com a consideração do significado metafísico do mundo, a questão posta pelo autor visa analisar em que medida e por quais caminhos a razão reaparece como faculdade fundamental para a negação continuada da Vontade: A alavanca impulsionadora desse estudo é, sobretudo, a afirmação de Schopenhauer de que na medida em que o santo ou o asceta alcança, de maneira excepcional, a total negação da Vontade, desabrocha com ela uma espécie de conhecimento do todo da vida, por sua vez detentor de uma índole intuitiva a ponto de se chegar a um conhecimento místico (p. 78).
II Para responder a questão que se coloca – reformulemo-la: Se, por um lado, a filosofia de Schopenhauer nos apresenta uma crítica radical e explícita ao conceito de razão, dimensionando-o inauditamente como secundário em relação a um princípio mais fundamental, o da Vontade, por outro lado, ela não parece desembocar em um irracionalismo completo, pois igualmente compreende a capacidade racional como essencial no registro ético-místico da viragem da Vontade como negação de si mesma –, Debona destrincha, do primeiro ao terceiro capítulos de seu comentário, a crítica negativa de Schopenhauer ao conceito de razão.
O primeiro capítulo, O entendimento e as representações intuitivas, detém-se no que podemos entender como o primeiro passo da crítica schopenhaueriana da razão: distinção entre razão e entendimento. Este é responsável por nossas representações intuitivas; aquela, pelas abstratas. Se o primeiro capítulo desce aos pormenores do tratamento schopenhaueriano das representações intuitivas, não sem destacar a importância para a compreensão do pensamento do filósofo do estatuto “intuitivista” das representações empíricas em particular, o segundo, Representações abstratas: a razão teórica, já trata diretamente da faculdade racional, em concreto da consideração da razão enquanto faculdade abstrata independente das intuições e do entendimento, ou, para usarmos o vocabulário preciso e claro de Debona, a razão em sua forma teórica. O segundo capítulo é importante, então, por iniciar propriamente a análise da crítica da razão em Schopenhauer.
O capítulo seguinte, intitulado A razão prática, avança na análise e no esclarecimento da segunda forma da razão no pensamento de Arthur Schopenhauer, a saber, a sua forma prática. Qual o limite e o alcance válido da razão em seu uso prático? Eis a questão. E aqui novamente encontramos uma leitura rigorosa, elegante e fina do comentador. Debona não se limita às análises dos textos pertinentes à razão prática presentes n’O mundo como vontade e como representação, na Crítica da filosofia kantiana e no Sobre o fundamento da moral; também esmiúça os caros (embora pouco lidos profundamente, e, por isso, menos frequentados) Aforismos para a sabedoria de vida. A lente minuciosa de Debona nos expõe, em primeiro lugar, “que a razão prática recebe um tratamento ‘diferenciado’ nos Aforismos para a sabedoria de vida”, pois nos outros três textos mencionados, ela aparecia “como algo que simplesmente advém da razão teórica como um distintivo dos homens com relação aos demais animais”, enquanto que nos Aforismos a faculdade racional em sua forma prática é, segundo o comentador, reavaliada, recebendo uma significação mais positiva: Conforme podemos identificar em textos da obra de maturidade do filósofo, especificamente no texto dos Aforismos, a razão prática permite compreender, por exemplo, a noção de “caráter adquirido” que pode ser tomada como a própria razão teórica associada à experiência do entendimento. Assim, a razão prática retém em máximas conceituais a experiência variegada de vida e, através da menção do caráter adquirido, passa-se a tomar essa forma da razão enquanto proporcionadora de uma sabedoria de vida, semelhante ao que indicavam os estóicos e epicuristas com as noções de eudaimonia e de justa medida (p. 26).
Isso dá muito que pensar – a razão, a princípio tangenciada para a periferia da explicação do mundo, seja em relação a seu papel na hierarquia das faculdades, a saber, como mero reflexo das representações do entendimento e da intuição, seja em relação ao papel que cumpre na explicação do significado do mundo, subalterna à Vontade, surge agora, nos Aforismos, portanto após 30 anos da primeira edição de O mundo como vontade e como representação, como “proporcionadora de uma sabedoria de vida”. Das sombras à “vida de modo mais agradável e feliz possível” 1.
III A investigação sobre o conceito de razão, e de suas formas dispostas de modo tripartite, avança para a consideração do papel da razão do ponto-de-vista estético. Neste sentido, o quarto capítulo do livro de Debona, Da possibilidade de uma razão ético mística, começa a tocar, pela análise da Objektität des Willes e da negação da vontade via intuição estética, na tópica mais preciosa de sua leitura, a terceira forma possível da razão, intitulada de modo feliz por forma ético-mística.
Retrilhando pontualmente a ordem argumentativa da exposição do pensamento de Schopenhauer disposta n’O mundo como vontade e como representação, Debona debruça-se agora na intuição estética “como a idéia de negação da Vontade em seu estágio mais primário” (p. 26). A arte nos oferece, diz Schopenhauer, reafirma Debona, o degrau necessário para se alcançar o que será, no quarto livro, o sentimento de compaixão e o “conhecimento do todo da vida, no âmbito da mística e da ascese”.
Cumpre aqui, portanto, mostrar em que medida a arte representa, para Schopenhauer, a experiência inicial de um ato ético e místico de desprendimento das vivências volitivas, primeiro deslocamento do puro sujeito do conhecimento das amarras do indivíduo concreto no mundo, que é em parte puro sujeito que conhece, em parte um corpo que quer e deseja. Ora, o que liga o tema próprio do livro de Debona – as três formas da razão no pensamento de Schopenhauer – à análise da estética schopenhaueriana só pode ser a explanação de qual forma (o que ela é e como se dá seu uso) da razão aparece como condição de explicação da experiência estética enquanto primeiro grau de negação da Vontade. Por isso, o autor é atento em iniciar aqui uma topografia da forma ético-mística da razão.
Em primeiro lugar, aprendemos que a terceira forma da razão é denominada ético-mística por comportar três características distintas, mas unificadas: A terceira forma da razão é ética porque se funda “em primeira instância, no próprio sentimento de compaixão”; mística, porque por ela chega-se ao “conhecimento do todo da vida, este tido como o grau máximo de (re)conhecimento de que a essência de todo ser é a mesma”; racional, porque ela é também, e só essa forma o é, Besonnenheit der Vernunft. A terceira forma da razão, a ético-mística, é ainda e talvez plenamente racional por mostrar-se necessária à permanência, “consciente e intencional” do estado ascético de negação da Vontade, e à “reconquista do conhecimento livre do principium individuatonis, atingido, em sua primeira vez, sem qualquer intenção, unmitellbar, imediatamente” (p. 27). Em outras palavras, salvo engano, a razão em sua terceira forma é ético-mística e só pode ser compreendida dessa forma porque atua no regime das condições de possibilidade da experiência ética (sentimento de compaixão, que, assim, só é possível por meio de uma viragem no sujeito, não mais ligado à sua individualidade, mas tão-somente ao seu distintivo estado de contemplação estética) e da experiência mística (lendo-se aqui ascese, negação da Vontade, que, por sua vez, só pode ser prolongada e definitivamente alcançada pela clarividência da razão). Se a estética, a ética e a mística, neste sentido, são desde o início devedoras da razão, mesmo em suas experiências imediatas, agora na última e mais profunda retomada da razão, como clarividência, a ascese em particular mostra-se indissociável, em sua demanda de totalidade e permanência, da capacidade racional. A razão em Schopenhauer passa assim, de acordo com a lição de Debona, da vacuidade de sua primeira forma, enquanto faculdade das representações abstratas, à plenitude de visão em sua terceira forma, enquanto faculdade da clarividência. Imperioso, então, é que detemo-nos agora na centralidade, para os propósitos da interpretação de Debona, do conceito de Besonnenheit der Vernunft.
IV Vilmar Debona, no último capítulo de seu livro, Resquícios da razão na negação total da vontade: a razão ético-mística, adentra “um terreno escorregadio e passível de interpretações diversas” (p. 27). Não obstante este comunicado de prudência, dado o piso traiçoeiro sobre o qual avança, o comentador segue firme em seu prumo interpretativo, mantendo a ousadia sem nunca patinar.
A introdução do conceito de clarividência da razão é o momento mais importante e instigante do livro de Debona, pois com ele funda-se definitivamente a viabilidade de uma forma ético-mística da razão em Schopenhauer. Isto porque a experiência da negação da vontade comporta, sem dúvida, um caráter intuitivo, imediato e singular, “que é estranha ao racional”. Se parássemos aqui, compraríamos a leitura tradicional de Schopenhauer, que Debona quer nos convencer, não dá conta da explicação da negação total da Vontade. Dito de outro modo: os intérpretes schopenhauerianos que não admitirem o papel da razão, em sua terceira forma, no coração do quarto livro de O mundo com vontade e como representação, devem se satisfazer com a explicação da ascese apenas em seu primeiro momento, fundado certamente na imediaticidade da intuição e do sentimento; mas, assim, negligenciar-se-ão e tornar-se-ão incapazes de explicar as passagens de Schopenhauer que apontam para a viabilidade de uma negação completa e acabada da negação da Vontade, pois esta só é possível pela admissão de uma terceira forma da razão, que comporta uma re-significação da faculdade racional, a saber, como capacidade humana de clarividência.
A razão, em sua primeira forma, limita-se a ser uma faculdade de ter representações abstratas, representações de representações; em sua segunda forma, como razão prática, conquista novo significado, nos Aforismos, o de ser um uso necessário para se alcançar a sabedoria de vida, verdadeira coleção de regras práticas que proporcionam uma vida menos insuportável, “algo preferível à não-existência” 2; por fim, em sua terceira forma, a ético-mística, eleva-se a razão à função de clarividência, necessária à “viragem completa da Vontade” 3, à “mortificação contínua da Vontade” 4. Movimento ascensional da faculdade racional na crítica schopenhaueriana da razão, ascensão do sujeito do estado de indivíduo volitivo, para o de contemplador desinteressado do mundo na estética, soerguendo-se ao sujeito fortuito negador da Vontade, para enfim realizar-se plenamente como negador total da Vontade na ascese. Ascensão do significado da razão através das passagens da primeira à segunda e, enfim, à terceira forma da razão, paralela à ascensão da negação da Vontade, nas passagens da estética para a ética e, por fim, à mística, ascensão igualmente do sujeito, nas passagens do sujeito enquanto indivíduo para o puro sujeito do conhecimento para, enfim, reencontrar-se e conhecer-se de modo completo como sujeito renunciante da vida. Com isto Debona amarra a crítica das formas da razão à exposição gradual das mudanças do sujeito e das formas de negação do querer, movimentos interligados que, assim considerados, dão acabamento à filosofia de Schopenhauer. O pensamento schopenhaueriano ganha assim clareza em relação à sua estrutura ascensional, sendo imperativo que passemos a ler a sua filosofia, em sua significação total, como a filosofia da ascese, em seu conteúdo e em sua forma.
Mas, afinal, o que é a Besonnenheit der Vernunft, esse conceito essencial à interpretação empreendida por Debona? Trata-se aqui de uma interpretação incontroversa? Os argumentos do comentador acerca da natureza de tal noção são irreprocháveis? Devemos comprá-la, tal como ela é explicada por Debona sem restrição? Segundo o autor, o conceito de clarividência da razão é condição da liberdade, uma vez que esta é entendida por Schopenhauer como um ato “possível somente no homem devido ao seu alcance de uma visão panorâmica da vida, do conhecimento do todo da vida”, e, assim, condição da própria negação consciente da Vontade: Dito de outro modo, o asceta, sujeito desse conhecimento, além de portador da liberdade em seu próprio corpo, é detentor de uma clarividência, ou seja, mediante o uso da razão ele tem claro o estado de sua rejeição, sabe que chegou a um estado significativo de negação de uma maneira intencional, insistindo contra seus próprios desejos, embora não tenha tomado isso como uma finalidade e um interesse predeterminados. Nota-se, a partir disso, o elemento que até aqui não havia sido indicado para a afirmação da razão ético-mística, ou seja, se até então se sabia do lado ético (a partir da noção de compaixão) e do lado místico (sobretudo pelos exemplos de ascetas e santos) agora se pode completar com o lado racional a partir da constatação dada pelo filósofo de que mesmo no processo de negação há um papel atuante da razão (p. 119).
Assim, a clarividência da razão é entendida como condição da liberdade, e, nesta medida, condição da negação consciente da Vontade e, por essas razões, tem de fazer parte da explicação do processo de negação, e mais, como condição essencial da consideração completa das formas da razão no pensamento de Schopenhauer. O caráter racional dessa clarividência é, ademais, facilmente defendido por se tratar de um saber necessário por parte daquele que alcança a significação última da existência, isto é, a negação completa e consciente deste mundo. Inseparáveis são, portanto, o aspecto ético, místico e racional dessa clarividência.
Mas como entender a fundo o caráter racional da clarividência, basta indicar a necessidade, para a “mortificação contínua da Vontade”, de um saber que é uma “visão panorâmica da vida”? E o que significa aqui, propriamente, uma “visão”? O termo clarividência, como tradução de Besonnenheit, não pode trair a significação largamente racional do conceito? Dito ainda de outro modo, não seria aconselhável depurar o campo semântico da palavra Besonnenheit, a fim de assim trazer ainda mais à luz o significado racional da clarividência? Os resenhadores entendem que sim, que o comentário de Debona teria ganhado muito se tivesse adentrado mais profundamente na problematização deste conceito fundamental. Neste sentido, cumpriria questionar o acento demasiado enfático do caráter místico na tradução do termo Besonnenheit por clarividência. Onde está, afinal, a indicação de um sentido místico na palavra Besonnenheit? Não é muito mais forte nela a idéia de clareza? Não está dada em sua origem etimológica, assim como em seu campo semântico, uma união mais estreita com os conceitos, schopenhauerianos, de Bewusstsein, besseres Bewusstsein, Bewusstseinlos, Selbstbewusstsein, Einsicht, Sichtbarkeit, Spiegel e Gewissen? 5 A falta de um tratamento mais demorado acerca do conceito de Besonnenheit, com o objetivo de tornar mais claras as suas ligações com os demais conceitos schopenhauerianos próximos do seu sentido enquanto forma da razão responsável por uma maior claridade, consciência, reflexão e compreensão, em nada desmerece, todavia, o belo e rigoroso trabalho de Vilmar Debona, preocupado e bem-sucedido sobretudo na tarefa de trazer à luz a presença e a importância fundamental de uma terceira forma da razão no pensamento de Arthur Schopenhauer, a razão ético-mística. Esperamos, sim, a continuidade da investigação, de modo a esclarecer ainda mais o conceito de Besonnenheit der Vernunft; mas, enquanto ela não se realiza, aproveitamos a lição dada até aqui.
V Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, o livro de estreia do jovem especialista Vilmar Debona, tem o poder de tornar a nossa leitura do quarto livro de O mundo como vontade e como representação mais clara, profunda e instigante. Leitores, eis o convite para um Schopenhauer mais complexo e atual.
Notas
1 SCHOPENHAUER, aforismos para a sabedoria de vida, p. 1, apud DEBONA, v. Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, p. 58.
2 SCHOPENHAUER, Aforismos para a sabedoria de vida, p. 1, apud DEBONA, V. Schopenhauer e as formas da razão, O teórico, o prático e o ético-místico, p. 58.
3 SCHOPENHAUER, Aforismos para a sabedoria de vida, p. 121.
4 SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e como representação, p. 484, apud DEBONA, V. Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, p. 116.
5 Neste sentido de problematizar a ênfase interpretativa na tradução do termo Besonnenheit, cabe lembrar que o termo aparece traduzido, em português, também por reflexão, cf. Cacciola, M. L. M. e O Schopenhauer e a questão do dogmatismo, p. 27.
Referências
SCHOPENHAUER, A. Sämtliche Werke. Ed. Wolfgang Frhr. von Löhneysen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, 5 vols.
________________. O mundo como Vontade e como representação. Trad. J. Barboza. São Paulo: Unesp, 2005. ________________. Aforismos para a sabedoria de vida. Trad. J. Barboza. São Paulo: Martins Fontes, 2002 (Coleção Clássicos). ________________. Sobre o fundamento da moral. Trad. M. L. Cacciola. São Paulo: Martins Fontes, 2001 (Coleção Clássicos). BARBOZA, J. Modo de conhecimento estético e mundo em Schopenhauer. In: TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia / Universidade Estadual Paulista. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, pp. 33-42, 2006. ________________. Infinitude subjetiva e estética: natureza e arte em Schelling e Schopenhauer. São Paulo: Ed. Unesp, 2005. CACCIOLA, M. L. M. e O. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. São Paulo: Edusp, 1994.
Glauber Cesar Klein – Mestrando em Filosofia – UFPR.
Élcio José dos Santos – Mestrando em Filosofia – UFPR. Acessar publicação original
[DR]
Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico – DEBONA (V-RIF)
DEBONA, Vilmar. Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico. Prefácio de Maria Lúcia Cacciola. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: KLEIN, Glauber Cesar; SANTOS, Élcio José dos. Voluntas – Revista Internacional de Filosofia, Santa Maria, v.1, n.1, p.151-159, 2010.
Podemos medir a excelência e a pertinência de um comentário filosófico, ou mesmo de uma obra filosófica, a partir de dois critérios essenciais: (i) a dificuldade do problema elegido para a investigação e (ii) a acuidade na execução do exame e da solução, contando aqui as categorias de clareza e elegância de exposição, rigor conceitual na análise e poder explicativo da análise do tema para o pensamento completo do autor. O livro de estreia de Vilmar Debona, Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, a nosso ver, contempla esses dois critérios de excelência e de pertinência. Vejamos de que modo.
I O jovem especialista em Schopenhauer, Vilmar Debona, atualmente doutorando do Departamento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, autor, entre resenhas e artigos, de diversos trabalhos sobre Schopenhauer, lança agora o seu livro de estreia, Schopenhauer e as formas da razão, O teórico, o prático e o ético-místico. Resultado de sua pesquisa de mestrado pela PUCPR, defendida como dissertação em 2008, o livro apresenta uma versão retocada da Dissertação. A pertinência da publicação pode medir-se já pelo seu título, que anuncia um tema ao mesmo tempo sóbrio e provocativo. Sóbrio, pois indica um estudo temático preciso e técnico, sendo já por isso promissor à leitura dos estudiosos em Schopenhauer.
Provocativo, por destacar a pretensão de uma leitura reformadora da compreensão da crítica de Schopenhauer, esse celebrizado pensador irracionalista (seja como pessimista inveterado, seja como crítico visceral dos projetos racionalistas da tradição, abandonados, justamente, também pela influência do pensador da Vontade, do Corpo e do Sexo), ao conceito de razão.
Neste sentido, o de se engajar em uma interpretação do autor de O Mundo como vontade e como representação que reconsidera e revaloriza o papel da razão na filosofia de Schopenhauer, o autor coloca, por um lado, que “justificar a razão como secundária em relação ao entendimento e à Vontade, (…) eis um dos grandes propósitos da visão de mundo de Schopenhauer”, que, assim, traria à primeira página de sua agenda filosófica a tarefa de realizar “uma inversão na ordem das prioridades”, mostrando que “antes de um homem que pensa, o ser humano é um animal que quer” – e, nisto, estamos no ponto pacífico das interpretações schopenhauerianas –, e, por outro lado, anuncia o tema problemático de sua investigação, o de saber “como se comporta a razão no processo de sua própria descentralização”. Vejamos em detalhe a posição do problema.
A par da novitas schopenhaueriana, o primado da Vontade metafísica enquanto blosser blinder Drang, segundo a qual “a razão é deslocada para uma instância periférica em relação à centralidade que a história da filosofia lhe havia outorgado”, abrindo-se assim um espaço vazio a ser preenchido pela tese fundamental do pensamento de Schopenhauer, a saber, a identificação de uma Vontade cósmica com a coisa-em-si, portanto, com a consideração do significado metafísico do mundo, a questão posta pelo autor visa analisar em que medida e por quais caminhos a razão reaparece como faculdade fundamental para a negação continuada da Vontade: A alavanca impulsionadora desse estudo é, sobretudo, a afirmação de Schopenhauer de que na medida em que o santo ou o asceta alcança, de maneira excepcional, a total negação da Vontade, desabrocha com ela uma espécie de conhecimento do todo da vida, por sua vez detentor de uma índole intuitiva a ponto de se chegar a um conhecimento místico (p. 78).
II Para responder a questão que se coloca – reformulemo-la: Se, por um lado, a filosofia de Schopenhauer nos apresenta uma crítica radical e explícita ao conceito de razão, dimensionando-o inauditamente como secundário em relação a um princípio mais fundamental, o da Vontade, por outro lado, ela não parece desembocar em um irracionalismo completo, pois igualmente compreende a capacidade racional como essencial no registro ético-místico da viragem da Vontade como negação de si mesma –, Debona destrincha, do primeiro ao terceiro capítulos de seu comentário, a crítica negativa de Schopenhauer ao conceito de razão.
O primeiro capítulo, O entendimento e as representações intuitivas, detém-se no que podemos entender como o primeiro passo da crítica schopenhaueriana da razão: distinção entre razão e entendimento. Este é responsável por nossas representações intuitivas; aquela, pelas abstratas. Se o primeiro capítulo desce aos pormenores do tratamento schopenhaueriano das representações intuitivas, não sem destacar a importância para a compreensão do pensamento do filósofo do estatuto “intuitivista” das representações empíricas em particular, o segundo, Representações abstratas: a razão teórica, já trata diretamente da faculdade racional, em concreto da consideração da razão enquanto faculdade abstrata independente das intuições e do entendimento, ou, para usarmos o vocabulário preciso e claro de Debona, a razão em sua forma teórica. O segundo capítulo é importante, então, por iniciar propriamente a análise da crítica da razão em Schopenhauer.
O capítulo seguinte, intitulado A razão prática, avança na análise e no esclarecimento da segunda forma da razão no pensamento de Arthur Schopenhauer, a saber, a sua forma prática. Qual o limite e o alcance válido da razão em seu uso prático? Eis a questão. E aqui novamente encontramos uma leitura rigorosa, elegante e fina do comentador. Debona não se limita às análises dos textos pertinentes à razão prática presentes n’O mundo como vontade e como representação, na Crítica da filosofia kantiana e no Sobre o fundamento da moral; também esmiúça os caros (embora pouco lidos profundamente, e, por isso, menos frequentados) Aforismos para a sabedoria de vida. A lente minuciosa de Debona nos expõe, em primeiro lugar, “que a razão prática recebe um tratamento ‘diferenciado’ nos Aforismos para a sabedoria de vida”, pois nos outros três textos mencionados, ela aparecia “como algo que simplesmente advém da razão teórica como um distintivo dos homens com relação aos demais animais”, enquanto que nos Aforismos a faculdade racional em sua forma prática é, segundo o comentador, reavaliada, recebendo uma significação mais positiva: Conforme podemos identificar em textos da obra de maturidade do filósofo, especificamente no texto dos Aforismos, a razão prática permite compreender, por exemplo, a noção de “caráter adquirido” que pode ser tomada como a própria razão teórica associada à experiência do entendimento. Assim, a razão prática retém em máximas conceituais a experiência variegada de vida e, através da menção do caráter adquirido, passa-se a tomar essa forma da razão enquanto proporcionadora de uma sabedoria de vida, semelhante ao que indicavam os estóicos e epicuristas com as noções de eudaimonia e de justa medida (p. 26).
Isso dá muito que pensar – a razão, a princípio tangenciada para a periferia da explicação do mundo, seja em relação a seu papel na hierarquia das faculdades, a saber, como mero reflexo das representações do entendimento e da intuição, seja em relação ao papel que cumpre na explicação do significado do mundo, subalterna à Vontade, surge agora, nos Aforismos, portanto após 30 anos da primeira edição de O mundo como vontade e como representação, como “proporcionadora de uma sabedoria de vida”. Das sombras à “vida de modo mais agradável e feliz possível” 1.
III A investigação sobre o conceito de razão, e de suas formas dispostas de modo tripartite, avança para a consideração do papel da razão do ponto-de-vista estético. Neste sentido, o quarto capítulo do livro de Debona, Da possibilidade de uma razão ético mística, começa a tocar, pela análise da Objektität des Willes e da negação da vontade via intuição estética, na tópica mais preciosa de sua leitura, a terceira forma possível da razão, intitulada de modo feliz por forma ético-mística.
Retrilhando pontualmente a ordem argumentativa da exposição do pensamento de Schopenhauer disposta n’O mundo como vontade e como representação, Debona debruça-se agora na intuição estética “como a idéia de negação da Vontade em seu estágio mais primário” (p. 26). A arte nos oferece, diz Schopenhauer, reafirma Debona, o degrau necessário para se alcançar o que será, no quarto livro, o sentimento de compaixão e o “conhecimento do todo da vida, no âmbito da mística e da ascese”.
Cumpre aqui, portanto, mostrar em que medida a arte representa, para Schopenhauer, a experiência inicial de um ato ético e místico de desprendimento das vivências volitivas, primeiro deslocamento do puro sujeito do conhecimento das amarras do indivíduo concreto no mundo, que é em parte puro sujeito que conhece, em parte um corpo que quer e deseja. Ora, o que liga o tema próprio do livro de Debona – as três formas da razão no pensamento de Schopenhauer – à análise da estética schopenhaueriana só pode ser a explanação de qual forma (o que ela é e como se dá seu uso) da razão aparece como condição de explicação da experiência estética enquanto primeiro grau de negação da Vontade. Por isso, o autor é atento em iniciar aqui uma topografia da forma ético-mística da razão.
Em primeiro lugar, aprendemos que a terceira forma da razão é denominada ético-mística por comportar três características distintas, mas unificadas: A terceira forma da razão é ética porque se funda “em primeira instância, no próprio sentimento de compaixão”; mística, porque por ela chega-se ao “conhecimento do todo da vida, este tido como o grau máximo de (re)conhecimento de que a essência de todo ser é a mesma”; racional, porque ela é também, e só essa forma o é, Besonnenheit der Vernunft. A terceira forma da razão, a ético-mística, é ainda e talvez plenamente racional por mostrar-se necessária à permanência, “consciente e intencional” do estado ascético de negação da Vontade, e à “reconquista do conhecimento livre do principium individuatonis, atingido, em sua primeira vez, sem qualquer intenção, unmitellbar, imediatamente” (p. 27). Em outras palavras, salvo engano, a razão em sua terceira forma é ético-mística e só pode ser compreendida dessa forma porque atua no regime das condições de possibilidade da experiência ética (sentimento de compaixão, que, assim, só é possível por meio de uma viragem no sujeito, não mais ligado à sua individualidade, mas tão-somente ao seu distintivo estado de contemplação estética) e da experiência mística (lendo-se aqui ascese, negação da Vontade, que, por sua vez, só pode ser prolongada e definitivamente alcançada pela clarividência da razão). Se a estética, a ética e a mística, neste sentido, são desde o início devedoras da razão, mesmo em suas experiências imediatas, agora na última e mais profunda retomada da razão, como clarividência, a ascese em particular mostra-se indissociável, em sua demanda de totalidade e permanência, da capacidade racional. A razão em Schopenhauer passa assim, de acordo com a lição de Debona, da vacuidade de sua primeira forma, enquanto faculdade das representações abstratas, à plenitude de visão em sua terceira forma, enquanto faculdade da clarividência. Imperioso, então, é que detemo-nos agora na centralidade, para os propósitos da interpretação de Debona, do conceito de Besonnenheit der Vernunft.
IV Vilmar Debona, no último capítulo de seu livro, Resquícios da razão na negação total da vontade: a razão ético-mística, adentra “um terreno escorregadio e passível de interpretações diversas” (p. 27). Não obstante este comunicado de prudência, dado o piso traiçoeiro sobre o qual avança, o comentador segue firme em seu prumo interpretativo, mantendo a ousadia sem nunca patinar.
A introdução do conceito de clarividência da razão é o momento mais importante e instigante do livro de Debona, pois com ele funda-se definitivamente a viabilidade de uma forma ético-mística da razão em Schopenhauer. Isto porque a experiência da negação da vontade comporta, sem dúvida, um caráter intuitivo, imediato e singular, “que é estranha ao racional”. Se parássemos aqui, compraríamos a leitura tradicional de Schopenhauer, que Debona quer nos convencer, não dá conta da explicação da negação total da Vontade. Dito de outro modo: os intérpretes schopenhauerianos que não admitirem o papel da razão, em sua terceira forma, no coração do quarto livro de O mundo com vontade e como representação, devem se satisfazer com a explicação da ascese apenas em seu primeiro momento, fundado certamente na imediaticidade da intuição e do sentimento; mas, assim, negligenciar-se-ão e tornar-se-ão incapazes de explicar as passagens de Schopenhauer que apontam para a viabilidade de uma negação completa e acabada da negação da Vontade, pois esta só é possível pela admissão de uma terceira forma da razão, que comporta uma re-significação da faculdade racional, a saber, como capacidade humana de clarividência.
A razão, em sua primeira forma, limita-se a ser uma faculdade de ter representações abstratas, representações de representações; em sua segunda forma, como razão prática, conquista novo significado, nos Aforismos, o de ser um uso necessário para se alcançar a sabedoria de vida, verdadeira coleção de regras práticas que proporcionam uma vida menos insuportável, “algo preferível à não-existência” 2; por fim, em sua terceira forma, a ético-mística, eleva-se a razão à função de clarividência, necessária à “viragem completa da Vontade” 3, à “mortificação contínua da Vontade” 4. Movimento ascensional da faculdade racional na crítica schopenhaueriana da razão, ascensão do sujeito do estado de indivíduo volitivo, para o de contemplador desinteressado do mundo na estética, soerguendo-se ao sujeito fortuito negador da Vontade, para enfim realizar-se plenamente como negador total da Vontade na ascese. Ascensão do significado da razão através das passagens da primeira à segunda e, enfim, à terceira forma da razão, paralela à ascensão da negação da Vontade, nas passagens da estética para a ética e, por fim, à mística, ascensão igualmente do sujeito, nas passagens do sujeito enquanto indivíduo para o puro sujeito do conhecimento para, enfim, reencontrar-se e conhecer-se de modo completo como sujeito renunciante da vida. Com isto Debona amarra a crítica das formas da razão à exposição gradual das mudanças do sujeito e das formas de negação do querer, movimentos interligados que, assim considerados, dão acabamento à filosofia de Schopenhauer. O pensamento schopenhaueriano ganha assim clareza em relação à sua estrutura ascensional, sendo imperativo que passemos a ler a sua filosofia, em sua significação total, como a filosofia da ascese, em seu conteúdo e em sua forma.
Mas, afinal, o que é a Besonnenheit der Vernunft, esse conceito essencial à interpretação empreendida por Debona? Trata-se aqui de uma interpretação incontroversa? Os argumentos do comentador acerca da natureza de tal noção são irreprocháveis? Devemos comprá-la, tal como ela é explicada por Debona sem restrição? Segundo o autor, o conceito de clarividência da razão é condição da liberdade, uma vez que esta é entendida por Schopenhauer como um ato “possível somente no homem devido ao seu alcance de uma visão panorâmica da vida, do conhecimento do todo da vida”, e, assim, condição da própria negação consciente da Vontade: Dito de outro modo, o asceta, sujeito desse conhecimento, além de portador da liberdade em seu próprio corpo, é detentor de uma clarividência, ou seja, mediante o uso da razão ele tem claro o estado de sua rejeição, sabe que chegou a um estado significativo de negação de uma maneira intencional, insistindo contra seus próprios desejos, embora não tenha tomado isso como uma finalidade e um interesse predeterminados. Nota-se, a partir disso, o elemento que até aqui não havia sido indicado para a afirmação da razão ético-mística, ou seja, se até então se sabia do lado ético (a partir da noção de compaixão) e do lado místico (sobretudo pelos exemplos de ascetas e santos) agora se pode completar com o lado racional a partir da constatação dada pelo filósofo de que mesmo no processo de negação há um papel atuante da razão (p. 119).
Assim, a clarividência da razão é entendida como condição da liberdade, e, nesta medida, condição da negação consciente da Vontade e, por essas razões, tem de fazer parte da explicação do processo de negação, e mais, como condição essencial da consideração completa das formas da razão no pensamento de Schopenhauer. O caráter racional dessa clarividência é, ademais, facilmente defendido por se tratar de um saber necessário por parte daquele que alcança a significação última da existência, isto é, a negação completa e consciente deste mundo. Inseparáveis são, portanto, o aspecto ético, místico e racional dessa clarividência.
Mas como entender a fundo o caráter racional da clarividência, basta indicar a necessidade, para a “mortificação contínua da Vontade”, de um saber que é uma “visão panorâmica da vida”? E o que significa aqui, propriamente, uma “visão”? O termo clarividência, como tradução de Besonnenheit, não pode trair a significação largamente racional do conceito? Dito ainda de outro modo, não seria aconselhável depurar o campo semântico da palavra Besonnenheit, a fim de assim trazer ainda mais à luz o significado racional da clarividência? Os resenhadores entendem que sim, que o comentário de Debona teria ganhado muito se tivesse adentrado mais profundamente na problematização deste conceito fundamental. Neste sentido, cumpriria questionar o acento demasiado enfático do caráter místico na tradução do termo Besonnenheit por clarividência. Onde está, afinal, a indicação de um sentido místico na palavra Besonnenheit? Não é muito mais forte nela a idéia de clareza? Não está dada em sua origem etimológica, assim como em seu campo semântico, uma união mais estreita com os conceitos, schopenhauerianos, de Bewusstsein, besseres Bewusstsein, Bewusstseinlos, Selbstbewusstsein, Einsicht, Sichtbarkeit, Spiegel e Gewissen? 5 A falta de um tratamento mais demorado acerca do conceito de Besonnenheit, com o objetivo de tornar mais claras as suas ligações com os demais conceitos schopenhauerianos próximos do seu sentido enquanto forma da razão responsável por uma maior claridade, consciência, reflexão e compreensão, em nada desmerece, todavia, o belo e rigoroso trabalho de Vilmar Debona, preocupado e bem-sucedido sobretudo na tarefa de trazer à luz a presença e a importância fundamental de uma terceira forma da razão no pensamento de Arthur Schopenhauer, a razão ético-mística. Esperamos, sim, a continuidade da investigação, de modo a esclarecer ainda mais o conceito de Besonnenheit der Vernunft; mas, enquanto ela não se realiza, aproveitamos a lição dada até aqui.
V Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, o livro de estreia do jovem especialista Vilmar Debona, tem o poder de tornar a nossa leitura do quarto livro de O mundo como vontade e como representação mais clara, profunda e instigante. Leitores, eis o convite para um Schopenhauer mais complexo e atual.
Notas
1 SCHOPENHAUER, aforismos para a sabedoria de vida, p. 1, apud DEBONA, v. Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, p. 58.
2 SCHOPENHAUER, Aforismos para a sabedoria de vida, p. 1, apud DEBONA, V. Schopenhauer e as formas da razão, O teórico, o prático e o ético-místico, p. 58.
3 SCHOPENHAUER, Aforismos para a sabedoria de vida, p. 121.
4 SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e como representação, p. 484, apud DEBONA, V. Schopenhauer e as formas da razão: o teórico, o prático e o ético-místico, p. 116.
5 Neste sentido de problematizar a ênfase interpretativa na tradução do termo Besonnenheit, cabe lembrar que o termo aparece traduzido, em português, também por reflexão, cf. Cacciola, M. L. M. e O Schopenhauer e a questão do dogmatismo, p. 27.
Referências
SCHOPENHAUER, A. Sämtliche Werke. Ed. Wolfgang Frhr. von Löhneysen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, 5 vols.
________________. O mundo como Vontade e como representação. Trad. J. Barboza. São Paulo: Unesp, 2005. ________________. Aforismos para a sabedoria de vida. Trad. J. Barboza. São Paulo: Martins Fontes, 2002 (Coleção Clássicos). ________________. Sobre o fundamento da moral. Trad. M. L. Cacciola. São Paulo: Martins Fontes, 2001 (Coleção Clássicos). BARBOZA, J. Modo de conhecimento estético e mundo em Schopenhauer. In: TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia / Universidade Estadual Paulista. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, pp. 33-42, 2006. ________________. Infinitude subjetiva e estética: natureza e arte em Schelling e Schopenhauer. São Paulo: Ed. Unesp, 2005. CACCIOLA, M. L. M. e O. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. São Paulo: Edusp, 1994.
Glauber Cesar Klein – Mestrando em Filosofia – UFPR.
[DR]Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas | Eduardo França Paiva
Lançado em 2008, Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas é o primeiro livro publicado a partir das atividades do Grupo de Pesquisa “Escravidão e Mestiçagem”. O grupo foi criado em 2005, como desdobramento do Simpósio “Escravidão: sociedades, culturas, economia e trabalho”, no XXIII Encontro Nacional da ANPUH, ocorrido em Londrina. Em um segundo Simpósio, realizado no ano seguinte na cidade de Belo Horizonte, foi reforçada a disposição em ampliar as discussões acerca dos estudos sobre história da escravidão e das mestiçagens em uma perspectiva comparada, eixo central desse livro.
Sem perder de vista os aspectos locais e regionais que marcaram o escravismo e as mestiçagens, o grupo busca compreendê-los inseridos em processos mais amplos e complexos, no tempo e no espaço. A partir dessa perspectiva, o livro rompe, inequivocamente, com uma história comparativa tradicional, pautada em rígidas hierarquias sociais e culturais ou modelos históricos ideais a serem perseguidos. Leia Mais
Arqueologia da repressão e da resistência – América Latina na era das ditaduras (1960-1980) | Paulo A. Funari, Adrés Zarankin e José Albertoni Reis
Nas ciências humanas, acostumou-se a pensar no trabalho do arqueólogo focado exclusivamente em áreas remotas da existência humana, nas quais o registro escrito nem existia e a reconstituição das formas de ser social se realizava dos fragmentos da cultura material. Essa visão, que delimita um período histórico distante como o único tempo estudado pela Arqueologia, vem sendo posta em xeque pelo envolvimento de arqueólogos em pesquisas do passado recente da história latino-americana. Um vigoroso esforço para trazer a público os vínculos entre a Arqueologia e a História Contemporânea – particularmente a que se refere às histórias de repressão no continente latino-americano – é encontrada no livro Arqueologia da repressão e da resistência – América Latina na era das ditaduras (1960-1980).
Organizado por Pedro Paulo A. Funari, Andrés Zarankin e José Alberioni dos Reis, o livro traz novas dimensões para os estudos sobre as ditaduras militares no continente, apontando a contribuição da Arqueologia no esclarecimento daquilo que a documentação escrita ou oral nem sempre dá conta. Assinala, ainda, a possibilidade de um refinamento no trato com as fontes, na medida em que os estudos arqueológicos podem auxiliar no questionamento das versões deixadas na documentação escrita dos setores dominantes durante esse período, bem como preencher algumas das lacunas encontradas nesses documentos, uma vez que essa ciência tem como recurso o estudo de elementos da cultura material e a busca dos restos humanos dos “desaparecidos”. Leia Mais
História Antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944) – SILVA (AN)
SILVA, Glaydson José da. História Antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944). São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007, 222p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Os usos e abusos do passado na França durante o regime de Vichy. Anos 90, Porto Alegre, v. 16, n. 30, p. 301-309, dez. 2009.
[…] todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vêzes […] a primeira como tragédia, a segunda como farsa (MARX, 1969, p. 17).
Nestes termos, Karl Marx (1818-1883), na década de 1850, resumiria sua análise de uma das obras de Hegel. Ao expor o que definiu como a ‘farsa’ (do Dezoito Brumário) de Napoleão III, Marx constataria que: Doutorando em História pela UFPR, bolsista CNPq. Mestre em História pela Unesp, Campus de Franca. Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Amambaí.
Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram os espíritos do passado, tomando- lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de [se] apresentar[em] e nessa linguagem emprestada (1969, p. 17-8).
Sob circunstâncias diferentes, mas com idéias semelhantes, Jean Chesneaux (1995) destacaria, na década de 1970, em sua análise da história e dos historiadores, tomando de empréstimo o debate do Le Monde de 26 de julho de 1974, que: “Tem-se sempre necessidade de ancestrais quando o presente vai mal” (1995, p.23). Ainda na década de 1970, Georges Duby (1993), com seu livro O domingo de Bouvines, 27 de julho de 1214 (de 1973), demonstraria como aquela batalha seria recriada e adequada às circunstâncias de cada momento histórico, ao ponto de indicar os ‘choques franco-prussianos’. “Em outras palavras, o autor trabalha como um fato concreto, o enfrentamento entre Filipe Augusto da França e o Imperador Oto IV, a 27 de julho de 1214, foi adaptado a novas situações políticas” (2007, p. 15), dirá Leandro Karnal, ao apresentar a obra de Glaydson José da Silva, História Antiga e usos do passado.
Nos anos 80, Raoul Girardet, ao estudar os mitos e as mitologias políticas, lembrará que: “(…) a cada momento de sensibilidade (…) corresponde (…) uma leitura da História, com seus esquecimentos, suas rejeições e suas lacunas, mas também com suas fidelidades e suas devoções” (1987, p. 98). Neste mesmo período, Eric Hobsbawm (1997), ao enfatizar a maneira pela qual são ‘inventadas certas tradições’, ressaltará que:
(…) por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam a inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (…). Contudo, na medida em que há referência a um passado histórico, as tradições ‘inventadas’ caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações novas que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória. (1997, p. 9-10)
Discordando de tais argumentos, Stephen Bann (1994) propôs pensar as representações que foram (e são) criadas sobre o passado (europeu do século XIX), com vistas a enfatizar o papel exercido pelos historiadores e pelos lugares de produção da ‘memória social’ como os museus, os arquivos e as universidades, ao serem elaboradas certas leituras sobre o passado.
Usar o ‘passado’ para dar ‘sentido’ às ações no ‘presente’, desse modo, não é algo novo nem na História (dos homens e das mulheres do passado), nem na historiografia (HARTOG, 2003).
Mas a maneira com que o passado é usado para demarcar as ações e as reflexões no presente, de cada momento histórico, senão é ‘nova’ em todos os instantes, ao menos é múltipla. Foi esta direção que os trabalhos de François Hartog acabaram seguindo desde os anos de 1980, quando demonstrou em seu livro O espelho de Heródoto (1999) as diferentes formas de apropriação deste autor ao longo do tempo. Nesse sentido, com seu conceito de ‘regimes de historicidade’, Hartog se preocupou em teorizar de que modo os grupos e as sociedades do passado se apropriavam da história para fazerem diferentes usos do tempo e da relação passado-presente- futuro.
Foi tendo em vista essas questões que Glaydson José da Silva, em seu livro História Antiga e usos do passado (que é uma versão revista de sua tese de doutorado, intitulada Antiguidade, Arqueologia e a França de Vichy: usos do passado, defendida em 14 de março de 2005, no programa de pós-graduação em História da Unicamp, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari), preocupou-se em apresentar uma análise pormenorizada das formas com que a Antiguidade e o passado gaulês, romano e galo-romano haviam sido apropriadas na França durante o Regime de Vichy, que durou entre 1940 e 1944.
Para demonstrar essa questão, o autor estudou e evidenciou a relação de diferentes temporalidades (a da Antiguidade, a do regime de Vichy na década de 1940, e a ação da direita francesa nos anos 80 e 90), para circunstanciar de que modo os passados gauleses, romanos e galo-romano estavam sendo apropriados e usados politicamente, em diferentes momentos, para justificar a ação de grupos e partidos políticos na França durante o século XX. Com isso, o autor revela, de modo didático e inovador, as relações, nem sempre lineares, entre passado e presente, e a maneira pela qual o passado é apropriado para justificar as ações de grupos e indivíduos no presente histórico. Mais detidamente, tenta descortinar a importância da Antiguidade Clássica, para se elaborar um conhecimento mais balizado sobre a História Contemporânea. Em suas palavras: O saber histórico é tomado mais como um espaço de desconstruções que de construções e reconstruções. Busca- se neste trabalho uma compreensão dos meandros, dos escaninhos de um domínio em que a memória e a sua destruição são recorrentes na reconstrução dos acontecimentos históricos, em que memória e esquecimento se ligam e tomam forma atendendo a imperativos circunscritos do tempo presente. (p. 17-8) Com isso, a obra foi dividida em quatro capítulos. Em cada um deles o autor escreveu um pequeno prólogo para apresentar ao leitor o que discutiria no capítulo. Cada capítulo foi dividido em duas partes.
No primeiro capítulo, O caráter moderno da Antiguidade: considerações teóricas e análises documentais acerca da instrumentalização do passado, há uma descrição de como a Antiguidade foi pesquisada nos anos 80 e 90, e a maneira com que o passado é usado em diferentes momentos. Detém-se na forma pela qual o Fascismo e o Nazismo se apropriaram da Antiguidade para justificarem seus projetos nacionais e suas propostas políticas para a Europa nos anos 30 e 40 do século passado.
Essas diferentes antiguidades, ou melhor, essas diferentes leituras da Antiguidade, apontam sempre para o presentismo do pensamento antigo na elaboração das práticas políticas, das doutrinas, dos jogos identitários, enfim, das visões de homem e de mundo no Ocidente. (p. 30) Nesse sentido, evidencia como o regime Vichy, nesse mesmo período, se apoiou no passado gaulês, romano e galoromano, e, em especial, na figura de Vercingetórix, para empreender suas ações políticas. Vale notar que a França não foi o único país Europeu que sucumbiu às ações do Nazismo e do Fascismo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e se apoiou no passado para justificar suas ações no presente. Mesmo fora da Europa, esses regimes tiveram forte influência sobre a maneira com que o passado era usado e estudado, e a propaganda política era uma das estratégias para impor o consenso. No Brasil, Getúlio Vargas é um exemplo emblemático de como o Fascismo e o Nazismo serviram de base para que este desenvolvesse estratégias semelhantes de usar o passado e a propaganda política como formas de construir o consenso (GOMES, 1996).
No segundo capítulo, A Antiguidade a serviço da colaboração: nas trilhas da memória, a reescrita da História na França dominada (1940- 1944), o autor demonstra como a História e a Arqueologia romana e galo-romana francesas se moveram e foram usadas durante o período de ocupação alemã no país. Ao discutir a historiografia sobre o Regime de Vichy, o autor mostra como o período é pouco conhecido, mesmo em parte significativa do povo francês. Além disso, ao se ocupar da questão nacional, enfatiza como após a Revolução Francesa os usos do passado romano, gaulês e galoromano foram cada vez mais frequentes na história francesa contemporânea. A partir da análise de manuais de História, artigos de jornal e discursos, o autor reconstitui os diferentes usos que foram feitos, durantes esse período, da figura de Vercingetórix e dos gauleses “pela Révolution National – termo designado pelo Marechal Philipe Pétain para referir-se à retomada à ordem no país após a derrota militar” (p. 20). Destaca ainda como a História e a Arqueologia serviram de base na construção de um consenso, ao serem utilizadas como instrumentos de afirmação e legitimação, quando o regime procurou declaradamente romper com as tradições republicanas do passado francês.
No terceiro capítulo, Jérôme Carcopino – um historiador da Antiguidade sob Vichy, indica a importância deste intelectual com sua obra, e seus estudos sobre a Antiguidade e a maneira com que foi legada à posteridade, em função de sua participação direta no regime de Vichy como ministro da educação. “Durante o Regime Vichy, no período compreendido entre 23 de fevereiro de 1941 e 16 de abril de 1942, Jérôme Carcopino, já à época consagrado historiador, arqueólogo e epigrafista do mundo romano, exerce a função de secretário de Estado, com estatuto de ministro na área de Educação” (p. 127). Para evidenciar essa questão, o autor reconstitui a participação de Jérôme Carcopino no interior do regime e a forma como os estudos clássicos eram produzidos durante esse período.
Ministro de Vichy, Carcopino é o intelectual chamado à ação. Suas posturas face ao Regime se inscrevem na sua trajetória acadêmica, nas interfaces de múltiplas e contraditórias ideologias, diante das quais sempre teve claras as suas opções. Desejoso de ser visto como intelectual e não como político (…), é o intelectual a serviço da política. Sua atuação política não se dissocia de sua obra acadêmica; esta possibilita a compreensão daquela e se apresenta, a um só tempo, como continuidade e ruptura da mesma. O estudo do Regime de Vichy e do papel de Carcopino no mesmo período conduz, inelutavelmente, à atestação do envolvimento do historiador com o colaboracionismo de Estado, com tudo que implica esse colaboracionismo. Mas conduz, também, à necessidade de reflexão acerca da História e do papel do historiador, bem como à irrefutável relação que este mantém com os poderes. (p. 151) Por esse motivo, mesmo os estudos recentes sobre esse importante romanista, na França, levam em consideração, antes de ser analisada sua produção, a sua participação no Regime.
No quarto capítulo, História da Antiguidade e as extremas direitas francesas, a pesada herança de Vichy, revela-se que não apenas as obras de Carcopino foram lidas e interpretadas pela posteridade, de acordo com a sua participação no Regime de Vichy, mas o próprio regime deixou suas marcas na produção histórica francesa, em especial nas extremas direitas. O autor demonstra como os grupos que surgiram no imediato pós-guerra na França, a Nouvelle Droite, a Europe Acton, o GRECE e o Club de l’Horloge, acabaram sendo as matrizes ideológicas dos grupos de direita que foram se formando a partir da década de 1970. Nesse sentido, ressalta-se a participação do Front National na luta contra a imigração, os imigrantes e a Gália, e o papel exercido pela Antiguidade em Terre et Peuple para demarcar e justificar a ‘guerra étnica’, pois a “Antiguidade é, aqui, mais uma vez, um dos principais veículos da ideologia direitista” (p. 21). E: É na França de Vichy, com suas leis racistas que retiram direitos tendo como pretexto a origem dos cidadãos (…) que se inspira o F. N. [o Front National]. (…) A identidade nacional ancorada no mito gaulês permite, assim, o reencontro com o passado ideal, distante e que tem na tradição gaulesa, em sua longevidade, a resposta para os dramas atuais da sociedade francesa. (p. 178-9)
Assim, nessa mesma linha, ainda que com suas peculiaridades, defensor “de uma espécie de enraizamento cultural e de uma fidelidade identitária, o circulo T. P. [de Terre et Peuple] tem a História, desde os gregos e romanos, como testemunha dos fracassos e das derrocadas das sociedades multiculturais” (p. 190). E sobre esse aspecto, o grupo procuraria justificar sua ‘guerra total’, com ênfase nas questões étnicas.
Por suas qualidades, essa obra traz uma bela contribuição para um melhor entendimento de como a História, e certos grupos e sociedades do passado, são utilizados, em diferentes momentos, para justificar as ações no presente. Demonstrando como se utilizou, e também se abusou, do passado gaulês, romano e galo-romano na França durante o Regime de Vichy, e a herança que essas estratégias políticas e intelectuais deixaram para os partidos e grupos de extrema direita no país nos anos 80 e 90, o autor apresenta pormenorizadamente as relações entre História Antiga e História Contemporânea, e destaca que nem sempre as relações entre passado e presente são somente (ou completamente) ‘lineares’, mas sim dependem diretamente das especificidades e circunstâncias de cada momento histórico.
Referências
BANN, S. As invenções da História: ensaios sobre a representação do passado. Tradução de Flávia Vilas Boas. São Paulo: Edunesp, 1994.
CHESNEAUX, J. Devemos fazer tabula rasa do passado? Sobre a história e os historiadores.
Tradução de Marcos A. da Silva. São Paulo: Ática, 1995.
DUBY, G. O domingo de Bouvines, 27 de julho de 1214. Tradução de Maria Cristina Frias.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.
GIRARDET, R. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GOMES, A. C. História e historiadores. A política cultural do estado novo. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
HARTOG, F. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Le Seuil, 2003.
___________. O espelho de Heródoto: ensaios sobre a representação do outro. Tradução de Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
HOBSBAWM, E. & RANGER, T. (org.) A invenção das tradições. Tradução de Celina Cardim Cavalcante – 2ª edição – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
MARX, K. O Dezoito Brumário e cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História pela UFPR, bolsista CNPq. Mestre em História pela Unesp, Campus de Franca. Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Amambaí.
Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772) – CARVALHO (HH)
CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008, 135 pp. Resenha de: SILVA, Ana Rosa Cloclet da. As “luzes” de um “reino cadaveroso”: entre a polêmica e a tradição. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 03. p.174-180 setembro 2009.
Como pensar a singularidade ibérica e, particularmente, portuguesa no contexto da intensa transformação mental e cultural da época moderna? Como conceber a via trilhada pela modernidade lusa, desde meados do século XVIII, no âmbito de fenômenos que, a despeito de repercutirem em todo o ocidente europeu e nas colônias americanas, rejeitaram sempre definições precisas, seja pelas suas origens esparsas, seja pelas especificidades das circunstâncias históricas que a viram nascer, ou pelas profundas divisões que separaram aqueles que se definiam filósofos, num mesmo espaço cultural? Como situar-se em relação a enfoques que, tradicionalmente, consolidaram conceitos e noções sobre o fenômeno ilustrado luso, pautados na polaridade entre seu suposto atraso e palidez frente às “luzes européias”? São estes alguns dos desafios enfrentados pelo jovem historiador Flávio Rey de Carvalho, no livro recentemente publicado pela editora Annablume – Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772) –, cujo título já denuncia o teor das questões que instigaram sua pesquisa.
Neste trabalho – resultado de sua dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de História da Universidade de Brasília, em 2007, sob orientação da Profa. Dra. Tereza Cristina Kirschner -, o autor persegue questão de inestimável relevo e que, há muito, demandava estudo mais verticalizado: a problematização do fenômeno das Luzes em Portugal, pautada no esforço em romper com dois vieses interpretativos que, articulados, desdobraram-se na produção historiográfica portuguesa do século XX. Por um lado, a interpretação cristalizada por historiadores inspirados na produção literária portuguesa de finais do XIX, tendentes a realçar as idéias de atraso e decadência presentes nos discursos dos primeiros reformadores do Reino, derivando desta leitura uma “ênfase exagerada e unilateral atribuída aos estigmas da diferença e da eterna defasagem” da ilustração portuguesa, associada ao monopólio ideológico eclesiástico (pp.
25-28). Por outro, o que o autor identifica como sintoma mais geral entre historiadores de diferentes nacionalidades: “a adoção indiscriminada de certa noção de Iluminismo”, como conjunto de idéias harmoniosas, autônomas e descarnadas de seus contextos políticos e culturais de elaboração que, trazendo no cerne a crença na razão transformadora, na crítica universal, na busca da felicidade, teriam inspirado, a partir da França, um ambicioso programa de secularização, humanidade, cosmopolitismo e liberdade (pp. 28-33). Uma concepção que, vale frisar, embora endossada por determinadas abordagens ainda hoje influentes, é aqui atribuída um tanto quanto indiscriminadamente às clássicas formulações de Peter Gay, Ernst Cassirer, Paul Hazard, intelectuais cujas contribuições, além de cunhadas em momentos muito distintos, inseremse em áreas específicas do campo disciplinar e teórico, só passíveis de nivelamento mediante rigorosas ponderações.[1]
Instigado pelas controvérsias interpretativas suscitadas por ambas as tendências e pautando-se numa recente produção intelectual que tende a romper com os ‘modelos” e estigmas mencionados, o autor deriva seu percurso investigativo, tomando por objeto central as reformas pombalinas da Universidade de Coimbra, implementadas a partir de 1772. Assim, perquirindo os motivos imediatos e a concepção predominante entre os reformadores da Universidade, privilegia a análise de três documentos principais: o Compêndio histórico da Universidade de Coimbra (1771) – elaborado pela Junta de Providência Literária, criada em 23 de Dezembro de 1770 com o objetivo de examinar o estado da Universidade -; os Novos Estatutos – que em 28 de agosto de 1772 recebiam licença para serem implementados em substituição aos velhos, em vigor deste 1598 – e a Relação geral do estado da Universidade, elaborada por Francisco Lemos em 1777.
Embora bastante revisitado pela historiografia luso-brasileira, o recorte temático e o corpo documental eleito recebem, na presente obra, um tratamento apurado, verticalizado a partir do esforço de identificação dos principais vetores que estruturaram o discurso antijesuítico, seu conteúdo político e ideológico, bem como as congruências do ambiente intelectual luso com as “Luzes do século”. Além do detalhamento dos conteúdos programáticos formulados pelo âmbito estatal, a opção pela sistemática metodológica de contrapor estas fontes com algumas obras representativas do pensamento iluminista francês – dentre as quais os próprios verbetes da Encyclopédie –, examinando seus traços comuns, algumas adaptações, bem como a simultaneidade da produção do pensamento ilustrado no reino e no além-pirineus, permite ao autor desconstruir as noções de atraso, decadência, isolamento e estrangeiramento das Luzes em Portugal – a partir das quais concebeu-se tradicionalmente a suposta “crise mental” do século XVIII português -, bem como o próprio conceito de Iluminismo, tal qual divulgado pelas sínteses históricas do século XX.
Guiado por tais propósitos, a narrativa desdobra-se em quatro capítulos. No primeiro, alinhando-se a versões contemporâneas da historiografia portuguesa, bem como da produção intelectual – sobretudo anglo-saxônica – sobre o Iluminismo,[2] o autor problematiza o suposto impasse existente entre Portugal e a modernidade européia, tomada por aquilo que situa como herança dos intelectuais inseridos no movimento romântico luso: segundo ele, uma noção de “história da humanidade”, sob os signos de superioridade, exemplaridade e universalidade (p.27), por ele identificados à denominada “geração de 1870”, mas que, a rigor, já se inscrevem numa tendência prérealista e naturalista, como é o caso dos textos de Antero de Quental, de 1871, tomados pelo autor como referência paradigmática de tal tendência. Empenhado na historicização dos fenômenos em causa e compartilhando das perspectivas recentes, que tomam o Iluminismo como fenômeno plural, perpassado por especificidades, debates, diferenças e tensões internas, o autor analisa algumas expressões cunhadas por intelectuais portugueses frente ao reconhecimento de peculiariedades do caso luso no contexto das Luzes setecentistas. É assim que conceitos como “iluminismo católico” – cunhado pelo historiador português Luis Cabral Moncada e generalizado como mera contraposição à suposta tendência anticlerical do Iluminismo (pp. 34-36) -; “ecletismo” – presente nos textos de filosofia e história do século XX, com destaque para José Sebastião da Silva Dias, tomado como atitude filosófica de mera contemporização com as idéias do século (pp. 36-40) -; “ilustração de compromisso” – proposto pelo historiador português Norberto Ferreira da Cunha, para designar uma forma de compatibilizar a incorporação das novidades, com a tradição lusa pós-tridentina (pp. 40-41) -, a despeito da intenção inicial de seus formuladores, acabaram, segundo o autor, por reforçar a visão pejorativa imputada à ilustração portuguesa, recrudescendo sua contraposição à “culta Europa”.
Em qualquer dos casos, conclui que tais tendências não se apresentam como “anomalias” do caso luso, mas reprisaram-se em diferentes contextos, não justificando os estigmas do atraso, decadência e isolamento intelectual do país que, segundo o autor, também não corresponderiam às impressões dos próprios reformadores setecentistas. Este último, a meu ver, argumento merecedor de estudo mais detido, pautado tanto num alargamento das fontes quanto no diálogo com uma produção historiográfica recente que, longe de constituir-se por abordagens generalistas, com tendência à mera “repetição umas das outras” (p. 19) – julgamento precipitado um tanto generalista do autor, que tende a desqualificar outras possibilidades de verticalização a partir da documentação analisada – têm demonstrado não serem os diagnósticos do atraso e da decadência “exceção de uns poucos estrangeirados” (p. 48), constituindo, a despeito de seu conteúdo político e ideológico, vetores estruturantes dos diagnósticos e das reformas implementadas pelo Marquês de Pombal, ele próprio um “estrangeirado”.[3]
No segundo capítulo, é examinada a situação do ensino universitário português e a proposta de reforma da Universidade, à luz de duas fontes principais: o Compêndio histórico e os novos Estatutos. Argumentando que a “decadência do ensino estendia-se à maioria das universidades européias no período” (p. 43), ainda presas ao modelo de instrução escolástico, o autor infere que o saber nestas ministrado não poderia constituir contraponto ao suposto atraso português, além de explicar “porque a ciência moderna se desenvolveu exteriormente ao ambiente universitário” (p. 46). Afirmações no mínimo instigantes de uma análise mais retida às instâncias e veículos de informação por meio dos quais os “estrangeirados” lusos vislumbraram comparativamente a situação de Portugal, emitindo seus diagnósticos. De outro modo: se no âmbito das Universidades de Évora e Coimbra não se impunham diferenças significativas em relação à situação universitária geral européia, como era o ambiente fora da instância do ensino superior? Quais os espaços de diálogo e troca de experiências freqüentados por estes primeiros reformadores lusos, que franqueavam os elementos para a elaboração de raciocínios comparativos? Indagações cuja pertinência é reforçada pela própria constatação do autor – segundo o qual os “reformadores de Coimbra tinham consciência de que os conhecimentos filosófico-científicos (…) aperfeiçoavam-se e enriqueciam-se, cada vez mais, com os novos descobrimentos feitos fora da esfera ortodoxa das universidades” (p. 108) – e que vêm sendo incontornavelmente associadas pela recente produção historiográfica luso-brasileira a duas instâncias fundamentais: a diplomacia e as academias científicas criadas no âmbito da República das Letras.[4]
Como contribuição definitiva do capítulo – e em boa medida inédita, no que concerne ao tratamento da documentação -, Flávio de Carvalho averigua o cerne da crítica pombalina à Companhia de Jesus, concluindo que o mesmo residia na “metodologia escolástica”: um método essencialmente especulativo, assentado na “prevalência da filosofia peripatética”; no “descaso ao estudo do grego e latim”; na “desordem do conteúdo ensinado nas cadeiras universitárias”; na “falta de disciplinas subsidiárias e na fragmentação do conhecimento”, assim como na “ausência do ecletismo” (p. 52). A partir destas críticas, reclamavam uma orientação prática aos estudantes, pautada tanto na erudição – requisito para a interpretação dos textos antigos – quanto na experimentação e, portanto, no empiricismo das Luzes, esgarçando uma concepção de método perfeitamente alinhada àquela preconizada pelos literatos franceses, reforçando seu argumento de que a crítica dos reformadores lusos à atividade dos jesuítas constituiu antes “manobra política, de cariz ideológico” (p. 61), que sintomas de atraso e isolamento cultural do Reino.
No terceiro e quarto capítulos, o autor analisa as reformas que melhor representaram o renovado programa de instrução, apresentado pelos Estatutos de 1772: segundo ele, a reestruturação das Faculdades de Leis e a criação da Faculdade de Filosofia, ambas em consonância aos objetivos de fortalecimento e centralização do poder régio – o qual não podia prescindir, sob o ponto de vista jurídico, do esforço de “formalização” e “uniformização” das leis, submetido, desde então, aos preceitos do jusnaturalismo racionalista – e revigoramento da economia do Reino “por meio do estímulo à pesquisa dos recursos naturais rentáveis em todo o império” (p. 64).
No primeiro caso, segundo o autor, pautadas nos “princípios iluministas e apresentando feições regalistas”, as reformas na prática jurídica encaminhadas por Pombal visaram desfazer as bases plurais e fragmentárias de uma “prática jurisprudencial tida como incerta”, empenhando-se no sentido da racionalização e uniformização do direito (pp. 68-74). Objetivo que seria galgado através de dois marcos interligados das reformas pombalinas: a Lei da “Boa Razão”, de 18 de 1769, e a reforma dos Cursos Jurídicos da Universidade de Coimbra. A primeira, envolvida pelo espírito jurídico cunhado no âmbito da ilustração européia, fundava uma prática jurisprudencial de caráter racionalista e disciplinador submetida, no caso português, à interpretação exclusiva do Supremo Senado da Casa de Suplicação, que circunscrevia o uso legítimo do direito canônico ao poder temporal, além de estabelecer punições “aos juristas que insistissem na manutenção de usos e práticas vetados”, impondo uma nova noção de direito fundada no “voluntarismo régio” e nos condicionantes morais da “boa razão”.
Estas, segundo Flávio de Carvalho, as disposições norteadoras das críticas apresentadas no Compêndio às jurisprudências canônica e civil ministradas na Universidade de Coimbra, bem como da reforma estatuária da Faculdade de Leis, a qual destacou-se pelo esforço de ordenamento e articulação entre saber prático e teórico, pela delimitação clara das esferas de atuação dos direitos canônico e civil, pela valorização do direito pátrio e das pesquisas históricofilológicas, pela adoção do método “sintético-demonstrativo-compendiário” e pela criação do direito natural e uso da “boa razão”, formando desse modo juristas habilitados ao cumprimento “claro, uniforme e preciso das leis” (pp.100).
No concernente à criação da Faculdade de Filosofia, as reformas pombalinas coadunam-se a uma concepção de filosofia cunhada no âmbito da República das Letras, a qual era alçada à condição de verdadeiro “meio universal” de elaboração, desenvolvimento e consolidação dos diversos campos do conhecimento, submetida ao método empírico e experimentalista aplicado, privilegiadamente, aos fenômenos passíveis de serem apreendidos no “mundo natural sensível” (pp. 102-104). Desse modo, a análise dos novos Estatutos da Universidade de Coimbra denuncia o esforço de implementação dos estudos filosóficos em nível do ensino superior, os quais, englobando privilegiadamente as áreas de medicina, matemática e filosofia natural – nestes dois últimos casos, procedendo-se à criação das respectivas Faculdades de Matemática e Filosofia – , fecundavam uma noção de filosofia comprometida com a transmissão de princípios sólidos e úteis, formando “filósofos dignos das Luzes do século” e oferecendo “lições subsidiárias aos alunos das demais faculdades coimbrãs”.
Neste sentido, a criação desta última Faculdade teria representado um marco fundamental na assimilação e divulgação da metodologia empírico-experimental em Portugal (p. 104), institucionalizando o conhecimento científico moderno, coadunando-se à necessidade de reelaboração dos mecanismos de exploração dos recursos naturais do império ultramarino, num momento em que evidenciavam-se os primeiros sintomas de sua crise.
Em qualquer dos âmbitos das reformas assinaladas, o estudo de Flávio Rey de Carvalho desvenda o profundo comprometimento dos reformadores portugueses com o ideário do século – e, particularmente, com a assimilação de princípios metodológicos e epistemológicos divulgados no âmbito da “República das Letras” -, orientado para o atendimento dos desígnios da monarquia lusa e articulados aos dogmas do catolicismo. Um fenômeno que, longe de desqualificar o ambiente intelectual luso setecentista, esgarça dimensões que estiveram no bojo de todo o movimento filosófico e científico em curso em outros países, corroborando a pertinência de tomá-lo como uma das expressões de um movimento intelectual que só pode ser compreendido na sua pluralidade, justificando a expressão empregada pelo autor: um “Iluminismo português”.
Um trabalho digno de mérito, que atende plenamente aos objetivos propostos e, inevitavelmente, incita algumas ponderações – fruto da própria natureza polêmica do objeto eleito -, bem como convida a desdobramentos futuros, os quais devem vir necessariamente pautados no diálogo mais afinado com a historiografia, no alargamento do núcleo documental e do recorte cronológico ora considerados, bem como no aprofundamento de algumas dimensões norteadoras do conteúdo programático analisado, por ora apenas tangenciadas. Particularmente, ocorre-me a enriquecedora articulação das reformas com a questão imperial e com a criação do aparato humano necessário à fecundação dos projetos políticos elaborados, impondo um perfil de homem público capaz de reunir os qualificativos intelectuais, administrativos e morais,[5] supostamente adequados ao exercício da difícil tarefa de equilibrar inovação e conservação, no enfrentamento dos desafios impostos pelos tempos modernos.
Referências
FALCON, Francisco (1993). A Época Pombalina. 2a. ed., São Paulo: Ática.
SILVA, Ana Rosa Cloclet da (2006). Inventando a Nação. Intelectuais Ilustrados e Estadistas luso-brasileiros (1750-1822). São Paulo: Hucitec
CLUNY, Isabel (1999). D. Luís da Cunha e a idéia de diplomacia em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte.
SILVA, Júlio Costa Rodrigues da (1998). Ideário Político de uma Elite de Estado. Corpo Diplomático (1777/1793). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2 vols. (Tese de Doutoramento).
KANTOR, Íris (2004). Esquecidos e Renascidos. Historiografia Acadêmica Luso-Americana (1724-1759). São Paulo: Hucitec.
FILHO, Oswaldo Munteal. Uma Sinfonia para o Novo Mundo. A Academia Real das Ciências de Lisboa e os caminhos da Ilustração luso-brasileira na crise do Antigo Sistema Colonial. Rio de Janeiro: UFRJ, 2 vols. (Tese de Doutoramento).
[1] Na intenção de salientar algumas destas especificidades, devemos lembrar que enquanto Peter Gay é um historiador consagrado pelos estudos no campo da história social das idéias – o que, em boa medida, já problematiza o tratamento supostamente “descarnado” por ele emprestado ao Iluminismo – e que elabora seus estudos sobre o Iluminismo na década de 1970, o filósofo judeu-alemão Ernst Cassirer especializou-se no campo da filosofia cultural de tendência neokantiana, nos anos de 1920-40, enquanto o historiador francês Paul Hazard tornou-se um especialista em História da literatura comparada entre as décadas de 1920-40, especialidade que seguramente permeia seu clássico A crise da consciência européia, de 1935.
[2] 2 No caso da historiografia portuguesa contemporânea, o autor dialoga mais diretamente com as abordagens de Sebastião da Silva Dias, Jorge Borges de Macedo, Francisco Domingos Contente e Pedro Calafate. Para o debate atual sobre o Iluminismo, baseia-se nas abordagens de Dorinda Outram, Jonathan Israel, Robert Darnton, dentre outros.
[3] Apenas a título de ilustração, merecem destaque as questões pioneiramente propostas por FALCON (1993), as quais vêm sendo desdobradas por sucessivas gerações de historiadores, dentre as quais incluo minha pesquisa de doutoramento SILVA (2006).
[4] Dentre estas, vale menção os trabalhos de CLUNY (1999); SILVA (1998); KANTOR (2004); FILHO (1998).
[5] 5 Ocorrem-me as importantes reflexões do historiador K. Maxwell ao desvendar esta dimensão das práticas pombalinas, em sua obra Marquês de Pombal. Paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz Terra, 1996.
Ana Rosa Cloclet da Silva – Professora Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) [email protected]. Rodovia D. Pedro I, km 136 – Parque das Universidades, Campinas – SP, 13086-900 Brasil.
Osvaldo Sangiorgi – um professor moderno – VALENTE (Bo)
VALENTE, W. R. (Org.). Osvaldo Sangiorgi – um professor moderno. São Paulo: Editora Annablume/CNPq/GHEMAT, 2008.Resenha de: WANATABE, Renate. BOLEMA, Rio Claro, n.32, p.255-258, 2009.
Escrito por membros do GHEMAT (Grupo de Pesquisa da História da Educação Matemática no Brasil), sob a coordenação do professor Dr.Wagner Rodrigues Valente, o livro contém uma coleção de textos que retrata, fortemente apoiado em depoimentos e documentos, o Movimento da Matemática Moderna no Brasil, nas décadas 60, 70 e início de 80, movimento este, bem como o livro, centrados na figura carismática do Professor Osvaldo Sangiorgi.
O livro inicia com um tocante prefácio, escrito pela filha Vera Maria Sangiorgi, seguido de uma apresentação feita pela professora Regina Maria Pavanello, testemunhando a influência que Sangiorgi teve na sua vida e na de tantos outros professores de Matemática.
O Capítulo I foi escrito por Wagner Rodrigues Valente. Após uma breve descrição do ambiente educacional da primeira metade do século XX, o autor analisa a trajetória de Osvaldo Sangiorgi, dos livros didáticos de Matemática da Editora Nacional e os anos iniciais do Movimento da Matemática Moderna. O autor apóia-se em cartas, publicações, entrevistas com Osvaldo Sangiorgi, em dados estatísticos obtidos da Editora Nacional e em artigos publicados em jornais, revistas da época. Os três temas, fortemente interligados, descritos numa linguagem atraente, de fácil leitura, oferecem um quadro global do ensino da Matemática no Brasil nas décadas de 50 a 80.
O Capítulo 2, escrito por Elizabete Búrigo, retrata o pensamento de Sangiorgi e de matemáticos de outros países nas passagens do ensino “antigo” da Matemática para um ensino “moderno” e deste para a fase pós-matemática moderna. Descreve os considerados defeitos do então ensino tradicional da Matemática, ressalta a necessidade de mudança sentida em vários países e o desejo de tornar prazeroso e eficiente o ensino de uma Matemática ao mesmo tempo mais fácil e mais próxima daquela ensinada nas universidades. O capítulo contém muitos trechos transcritos de livros das coleções “Matemática-curso ginasial” (edições dos anos 60-65) e “Matemática-curso moderno” (edições dos anos 67-71), mostrando como conceitos básicos – número natural, fração e muitos outros – são apresentados numa e noutra coleção. O capítulo destaca as crenças fundamentais de Sangiorgi, que o levaram à introdução da Matemática Moderna no ensino brasileiro, e analisa quais crenças permaneceram e quais sofreram mudanças com o passar dos anos.
O Capítulo 3 é dedicado à Geometria e foi escrito por Maria Célia Leme da Silva. Menciona três correntes para o ensino da Geometria que tiveram defensores na Europa e nos Estados Unidos: o ensino via Álgebra Linear, via Transformações Geométricas e um ensino modernizado, porém apoiado nos postulados de Euclides. Novamente, a ênfase do capítulo é mostrar como Sangiorgi transferiu as várias idéias “modernas” para os seus livros didáticos, sem se comprometer com nenhuma das correntes. O procedimento segue as linhas do Capítulo 2: é feita uma comparação entre a Geometria apresentada no livro “Matemática para a 3ª série ginasial” (78ª edição, 1964) e “Matemática-curso moderno”, 3º volume, 1969. São comparados os prefácios, nos quais Sangiorgi expõe seus pensamentos sobre Geometria e o seu ensino, antes e após o aparecimento da Matemática Moderna. Comparação análoga é feita com os índices dos dois livros, bem como com alguns conceitos. O capítulo contém também uma listagem de livros e documentos produzidos em outros países que embasaram a Geometria apresentada por Sangiorgi em seus livros da coleção “Matemática-curso moderno”.
O Capítulo 4 tem como tema o GEEM – Grupo de Estudos do Ensino da Matemática, tratado pelas professoras Laurizete Passos e Flainer Lima. Contrariamente aos anteriores, esse capítulo, ligeiramente confuso, parece apoiar-se, na sua essência, no depoimento de duas pessoas. Descreve atividades do GEEM, mas contém alguns erros factuais, principalmente nas páginas 112 e 113 que poderão ser corrigidos por meio de uma errata. Há uma omissão: uma das atividades mais importantes do GEEM foi a publicação de livros, dez ao todo, destinados a professores do primário e secundário, que continham as idéias e tópicos da Matemática Moderna. No início da década de 60, esses tópicos estavam contidos apenas em livros avançados de Matemática, a maioria deles em inglês ou francês e, portanto, fora de alcance para a maioria dos professores. Os livros publicados pelo GEEM, escritos por professores universitários, usados nos cursos, continham os conhecimentos básicos da Matemática Moderna, num nível e numa dosagem considerados adequados para a atualização dos conhecimentos dos professores de Matemática da época.
No Capítulo 5, de autoria da professora Neuza Bertoni Pinto, lê-se a história de uma professora normalista que no início dos anos 60 foi convidada a assumir as aulas de Matemática da 1ª série ginasial, numa pequena cidade do Paraná. A professora (hoje doutora e titular da PUC do Paraná) relata a influência muito positiva dos livros de Sangiorgi no seu aprendizado, no seu desempenho na sala de aula e a sua reação, bem como a de seus alunos, perante a adoção dos livros de Matemática Moderna do mesmo autor.
O Capítulo 6, escrito por Viviane da Siliva e Wagner Rodrigues Valente, descreve a desilusão face à Matemática Moderna que começou ganhar vulto, no Brasil e em outros países, na segunda metade dos anos 70. Estão transcritos vários trechos do livro O Fracasso da Matemática Moderna de Morris Kline, “referência internacional para as críticas ao ensino da Matemática Moderna” (p.146). Concentra-se, a seguir, na leitura que Sangiorgi fez dessas críticas e, apoiado em documentos por ele escritos a partir de 1976, mostra sua inabalável fé nos benefícios do movimento que ele iniciou e liderou aqui no Brasil.
O livro termina com cerca de 80 páginas contendo uma lista dos 1600 itens que constituem o APOS (Arquivo Pessoal Osvaldo Sangiorgi), material esse que está à disposição dos interessados no GHEMAT, em seu Centro de Documentação.
Em poucas palavras, “OSVALDO SANGIORGI – Um Professor Moderno” é um belo livro do ponto de vista humano, bem como um precioso registro do Movimento da Matemática Moderna no Brasil.
Renate Watanabe – Professora titular do Centro de Ciências e Humanidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Arquitetura Metropolitana | Denise Xavier de Mendonça
“Não há como pesquisar a arquitetura metropolitana à distância. É preciso abordá-la submersa na congestão urbana, inscrita em relações dinâmicas, mensurada com escalas que se modulam em quantidade, extensão e qualidade de variáveis múltiplas. A realidade da arquitetura metropolitana só pode ser percebida em um mergulho. É necessário tornarmo-nos mais um elemento interferente nessa complexidade congestionada”. Este breve fragmento textual pinçado no livro Arquitetura Metropolitana não é somente explicitação metodológica de construção da pesquisa acadêmica realizada por Denise Xavier, mas fundamentalmente o processo inerente e consubstanciado na própria trajetória profissional da autora. Neste sentido, os processos de interpretação e pensamento sobre a arquitetura não são descolados ou indistintos dos processos de produção da sua própria arquitetura. Em ambos processos, Denise Xavier empreende um mergulho comprometido com dimensões do mundo social, que estão absolutamente associados aos denominados idealistas e ingênuos: a dimensão ética, a dimensão estética e a dimensão política.
No mergulho que cada leitor realizar pelas páginas do livro Arquitetura Metropolitana, certamente encontrará o comprometimento da autora com as premissas de um ofício profissional que está na base da estruturação física das cidades: a arquitetura, ou, como em alguns momentos surge no livro, arquiteturas. Uma estruturação determinante das relações simbólicas e de identidades que são constitutivas da vida em sociedade, da vida pública, da vida que deveria se manter repleta de urbanidade: em tudo que esta vida nas cidades aglutina de diferenças e divergências. As arquiteturas selecionadas pela autora para a compreensão do processo de construção da identidade metropolitana da cidade de São Paulo, a partir da década de 1950, estavam absolutamente integradas nesta construção.
O edifício do Jornal O Estado de São Paulo, o Copan, o edifício Itália e o Conjunto Nacional são realizações que não somente exploram qualitativamente as possibilidades formais, estruturais e espaciais específicas de cada empreendimento, mas também proporcionam e ampliam os espaços da vida pública. São arquiteturas cujas concepções não renegaram as dinâmicas urbanas, as relações entre os ambientes públicos e privados, as interações entre os sistemas de áreas livres e as áreas passíveis de edificação. A compreensão destes aspectos é o ponto nevrálgico do trabalho realizado por Denise Xavier nesse estudo: entender que as arquiteturas não estão desconectadas da cidade, que para pensar arquitetura é preciso pensar a produção da cidade – condição ainda pouco enunciada e enfrentada na historiografia da arquitetura no Brasil.
A organização do livro evidencia este entendimento entre a interpretação da produção arquitetônica e a produção da cidade. Nos dois primeiros capítulos, que em verdade entendo como sendo um único, pela problemática central que os amalgama, qual seja, a da construção da metrópole ao longo do século XX, a autora apresenta as bases urbanísticas, econômicas e políticas desta construção. São Paulo metropolitana tem suas origens instituídas na concepção de cidade pensada por Prestes Maia e Ulhoa Cintra em artigos escritos para o Boletim do Instituto de Engenharia, no ano de 1924. A década de 1950 entra no texto como recorte temporal privilegiado, ápice do processo contínuo de mudanças, sobreposições, apagamentos que reflui da dinâmica de uma cidade em movimento. Para a autora, a cidade se reconhece como metrópole, centro econômico propulsor e condensador das ações que instituem o novo, uma nova ordem urbana e uma nova ordem arquitetônica revelada especialmente nos aspecto vertical das arquiteturas analisadas no livro.
Entretanto, capítulo(s) que pouco ainda reverbera(m) a sensibilidade do olhar objetual-arquitetônico-formal da autora, em sua aguda e instigante capacidade de análise das arquiteturas selecionadas, ou melhor, de qualquer outra arquitetura. Este olhar será enunciado no capítulo dedicado à leitura dos projetos. Leitura e não análise, como está proposto na estrutura do livro. Leitura, pois, no mais puro sentido da palavra, aquele em que se lê decifrando significados construtivos e formais de cada palavra em um texto escrito. Portanto, significados construtivos e formais de cada arquitetura desde a sua concepção-representação (aquela delineada cuidadosamente no papel vegetal à nanquim), até sua instauração como elemento constitutivo das dinâmicas da metrópole em construção. No capítulo dedicado ao estudo dos projetos existe uma articulação entre cada uma das arquiteturas, cuja especificidade torna evidente o entendimento das suas relações com a cidade: a articulação pelos sistemas de circulação que articulam a cidade ao edifício em questão. Sobretudo em uma metrópole capitalista efervescente da década de 1950, os indícios de deslocamento, de movimento, estão impregnados em todos os elementos que perfazem a cidade: nos trens, nos carros, nos relógios, nas pessoas, nas ruas, nas avenidas, na infra-estrutura urbana. Os arquitetos autores dos projetos souberam compreender esta informação, esta transformação, esta incorporação no cotidiano da metrópole. Denise Xavier soube realizar uma leitura atenta à interface dos objetos com os sistemas de circulação vertical e horizontal, respectivamente, o sistema que articula as esferas privadas dedicadas ao trabalho, à moradia, ao lazer, à alimentação, com o sistema que agrega aos edifícios uma importante dimensão urbana.
O primeiro sistema estava intimamente relacionado às novas tecnologias construtivas e mecânicas, atuava e atua como elemento estruturante no processo de verticalização das cidades por possibilitar o deslocamento vertical: o elevador – elemento cuja espacialidade e produção industrializada não apresentava maiores distinções nos edifícios. O segundo sistema está associado aos aspectos instituídos de positividade que a vida urbana representava. É distinto formal-espacialmente para cada arquitetura, empreende relações particularizadas e articuladas aos edifícios em estudo com a cidade, e estrutura a inquestionável associação do objeto aos espaços livres: são passagens internas, galerias e verdadeiras ruas que adentram, intercambiam, articulam cidade e arquitetura. Talvez em menor intensidade no edifício do Jornal O Estado de São Paulo, nos outros edifícios a dinâmica urbana adentra sem barreiras, sem receios os espaços de uso coletivo dos edifícios, os “espaços urbanos das edificações”, do urbano arquitetônico. O olhar sensível da autora para a leitura da arquitetura, associado ao procedimento metodológico enunciado naquele texto pinçado do livro – que integra a parte do livro escrita em parceria com Kazuo Nakano –, especialmente quando afirma que “não há como pesquisar a arquitetura metropolitana à distância. É preciso abordá-la submersa na congestão urbana, inscrita em relações dinâmicas, mensurada com escalas que se modulam em quantidade, extensão e qualidade de variáveis múltiplas”, fazem desse capítulo de estudo dos edifícios o eixo convergente e central de todo livro, de toda a narrativa.
Uma narrativa encerrada num texto em que a autora propôs pensar o contínuo do movimento de metropolização pela contraposição destas arquiteturas analisados com edificações que representam o absoluto esvaziamento da vida urbana, da vida pública, da urbanidade: edificações destituídas de uma essência de lugar, espaços controlados, vigiados, consensuais e homogeneizados em sua abstração estéril. A própria narrativa enuncia a distinção pela oposição das experiências possíveis em cada situação. De um lado, a cidade em suas diferenças, seus agentes, suas arquiteturas, seus símbolos, cheiros, luzes, sons, ou seja, a dinâmica que perfaz a vida urbana. Uma cidade que ainda hoje não consubstancia níveis mínimos de qualidade de vida para uma grande maioria dos que nela habita. Entretanto, uma cidade que não esconde as indesejadas diferenças, pois nela estão a perscrutar suas vidas por todos os lugares, sejam praças, viadutos, calçadas, ruas, marquises e favelas.
Por outro lado, espaços que pouca apreensão permitiram aos seus interlocutores na tentativa de mergulhar em suas especificidades. Conjunturas construtivas envidraçadas, muradas e climatizadas que enunciam os novos interesses do capital na metrópole. Para estas conjunturas as cidades são vazios de interligação entre pontos de concentração financeira internacional, circundadas por um conjunto de equipamentos complementares: condomínios fechados, shoppings e aeroportos. A crítica a estas conjunturas é sensivelmente enunciada pela insensibilidade que delas emana. Preocupante é a constatação da transformação e adequação daquelas “arquiteturas metropolitanas” aos preceitos que processam a indiferença e a exclusão com os indesejados que habitam a cidade.
Opor-se a estes processos é parte daquelas três dimensões que perfazem a trajetória profissional de Denise Xavier: a dimensão ética, a dimensão estética e a dimensão política. Seu livro não é algo isolado na ação desenvolvida como arquiteta e urbanista, mas consubstancia e amplia sua inserção crítica na metrópole paulistana em contínua construção. Nesse sentido, seu livro não é sobre um conjunto de edifícios importantes para a história da arquitetura no Brasil, especialmente para a arquitetura paulista. Seu livro trata da construção da cidade, da construção da cidade de São Paulo como metrópole. Sua importante particularidade passa pela compreensão de que a arquitetura é parte da cidade, integra todo o conjunto de dinâmicas com as quais a sociedade se mantém ativa e em transformação.
Seu estudo é sobre a necessidade de retomarmos a consciência de que o esvaziamento da cidade, a negação da cidade é a negação da própria sociedade como agente transformador. Ao arquiteto cabe a responsabilidade, ou melhor, deveria caber a responsabilidade pela produção de arquiteturas comprometidas com a vida urbana em todas as suas diferenças e antagonismos. Porém, em “Arquiteturas Metropolitanas” constatamos que os processos contemporâneos de construção da cidade estão exclusivamente pautados pelos interesses do capital na (re)produção dos espaços homogêneos e consensuais cuja valorização ocorre pela indiferença ao entorno, à paisagem, à dinâmica da cidade. Uma constatação que deve gerar uma indagação autocrítica que passa primeiramente pela formação dos quadros profissionais no país: qual arquiteto estamos formando, qual arquiteto queremos formar? Certamente a despolitização do processo de formação pautado exclusivamente por sistemas técnico-informacionais contribui intensamente com o esvaziamento dos significados sociais, culturais e políticos da profissão de arquiteto e urbanista, da própria arquitetura.
Como afirmara Christian Topalov, “as ciências da racionalização urbana e das finalidades sociais são radicalmente colocadas em questão pelas ciências da celebração do mercado e da ‘revolução liberar’. Os especialistas de umas e de outras não são do mesmo mundo. Nosso saber está, aberta ou secretamente, a serviço do Estado, o deles está, sem complexos, a serviço da empresa. Quaisquer que sejam nossas inclinações políticas, nossas definições disciplinares ou nossas preferências teóricas, temos talvez algo em comum: os adversários” (TOPALOV, 1991). Em Arquiteturas Metropolitanas, Denise Xavier não se esquivou da necessária crítica aos “adversários” que ela bem sabe quais são. Convém, no entanto, enunciar uma discordância com Denise Xavier, quando afirma que “não há como pesquisar a arquitetura metropolitana à distância”. Não há como pesquisar qualquer arquitetura à distância, pois, como integrante da cidade, seria como pesquisar a cidade estando distante dela, estando deslocado dela. Aliás, o distanciamento é um dos principais instrumento utilizados pelos nossos “adversários” na desconstrução das cidades, na desconstrução da vida urbana, seja ela metropolitana ou não.
Referência
Topalov, Christian (1991). Os saberes sobre a cidade: tempos de crise? In: Espaço & Debates, Revista de Estudos Regionais e Urbanos. Ano XI, n. 34: 37.
Rodrigo Faria – Arquiteto e urbanista, Mestre e Doutor em História pelo Departamento de História do IFCH-UNICAMP, Pesquisador do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade do IFCH-UNICAMP, Becário Fundación Carolina/Universidad Politécnica de Madrid.
MENDONÇA, Denise Xavier de. Arquitetura Metropolitana. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2007. Resenha de: FARIA, Rodrigo. Arquiteturas e dinâmicas urbanas na interpretação sobre a construção metropolitana. Urbana. Campinas, v.2, n.1, 2007. Acessar publicação original [DR]
Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo.
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo. São Paulo: Annablume, 2004. Resenha de: DOMINGUES, Petrônio. Varia História, Belo Horizonte, v.23, n.37, p. 241-244, jan./jun., 2007
Como o racismo à brasileira deve ser enfrentado?
Célia Maria Marinho de Azevedo é professora de História aposentada da Universidade de Campinas (Unicamp). Seu campo de especialização é a história do negro e das “relações raciais”. Depois de ter publicado o importante trabalho, Onda Negra, Medo Branco: o negro no imaginário das elites, século XX, em 1987, foi a vez de Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada (século XIX), em 2003, e Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo, um ano depois. É justamente esta última publicação o objeto da presente resenha. O livro é uma coleção de sete artigos que Célia de Azevedo escreveu entre 1997 e 2003.
No primeiro capítulo (Cota racial e Estado: abolição do racismo ou direitos de ‘raça’?), a autora sustenta a tese de que seria mais eficaz a adoção de medidas universalistas (de cunho social) para a abolição do racismo do que medidas diferencialistas (ou específicas), em que o Estado tem que reconhecer a existência de raças. No entendimento de Célia de Azevedo, o “combate ao racismo significa lutar pela desracialização dos espíritos e das práticas sociais. Para isso é preciso rechaçar qualquer medida de classificação racial pelo Estado com vistas a estabelecer um tratamento diferencial por raça, ou, para sermos mais claros, os direitos de ‘raça’” (p. 50).
Já no segundo capítulo (Cota racial e universidade pública brasileira: uma reflexão à luz da experiência dos Estados Unidos), a autora analisa basicamente duas questões: o debate em torno da validade ou não da política de cotas para minorias discriminadas nos Estados Unidos e como a experiência estadunidense pode servir de inspiração para os brasileiros engajados na luta anti-racista e até que ponto ela pode ser importada para nosso país.
O terceiro capítulo (Entre o universalismo e o diferencialismo: as políticas anti-racistas e seus paradoxos) trata do espinhoso dilema: afinal, as propostas mais adequadas para se combater o racismo são as de cunho universalista ou diferencialista. Para Célia de Azevedo, faz-se necessária a “criação de oportunidade para os segmentos da população historicamente discriminada – sem no entanto perder o sentido universal de humanidade” (p. 73).
No quarto capítulo (A nova história intelectual de Dominick LaCapra e a noção de raça), a autora esquadrinha, primeiramente, alguns postulados do historiador Dominick LaCapra acerca da Nova História Intelectual e, em um segundo momento, analisa como LaCapra e outros autores vêm criticando o uso da noção essencialista de raça na produção do conhecimento histórico.
O quinto capítulo (13 de Maio e anti-racismo) problematiza a substituição, nas últimas décadas, do 13 de Maio – data em que se comemora o aniversário da Lei de Abolição, assinada pela Princesa Isabel – pelo 20 de novembro, presumível data da morte do “herói” negro Zumbi dos Palmares. Célia de Azevedo defende a idéia de que a Abolição foi resultado da luta de um amplo movimento contestatório (protagonizado por escravos, libertos e seus aliados progressistas). Por isso, entende que não se podem distorcer os fatos: a liberdade foi uma conquista dos negros e não uma dádiva das elites brancas (ou da Princesa Isabel); logo, o 13 de Maio “dos escravos” tem que ser tão revalorizado quanto o 20 de novembro de Zumbi dos Palmares.
No sexto capítulo (Quem precisa de São Nabuco), Célia de Azevedo questiona um dos personagens mais “santificados” da História do Brasil, Joaquim Nabuco (1849-1910), daí o porquê do “São Nabuco” do título. A autora demonstra que seu personagem pensava como as pessoas ilustradas de seu tempo. Se do ponto de vista racial as teorias que apregoavam a superioridade biológica, intelectual e cultural do homem branco sobre o negro estavam em voga na Europa e no Brasil no final do século XIX, Nabuco não ficou imune e bebeu em tais postulados. Para além de abolicionista, Nabuco – como um bom proprietário, senhor de escravos e político de sua época – seria defensor de seus interesses de “raça e classe”, isto é, para a Célia de Azevedo, Nabuco concebia a Abolição em dupla perspectiva: como uma medida que garantiria a manutenção da ordem (e da grande propriedade) e como um mecanismo que facilitaria a entrada massiva de imigrantes brancos europeus a fim de promover a purificação racial da população brasileira.
Por fim, no sétimo capítulo (“Para além das ‘relações raciais’: por uma história do racismo”) a autora preconiza a necessidade de superar a noção de “raça”, bem como a de “relações raciais”, para eliminar “o racismo no dia-a-dia”. Em lugar de “raça”, a autora entende que deveria existir apenas a noção universalista de “humanidade”.
A despeito de o livro abordar temas correlatos, o escopo central é escrutinar a proposta de ações afirmativas para negro, especialmente em sua versão mais conhecida (e polêmica), as cotas raciais. Célia de Azevedo deixa patente que tal proposta não é a melhor solução para atacar as desigualdades raciais no Brasil. Primeiro, porque a “política de preferência racial esteve longe de ser um sucesso” nos EUA; segundo, porque existiriam programas mais eficazes para se combater o “racismo institucional” e o estado de penúria de boa parte da população negra. Esses programas não teriam um recorte racial e, sim, social, como o da reforma agrária, o da recuperação da qualidade das escolas públicas de ensino fundamental e médio; o Projeto de Renda Básica Universal e o Programa Bolsa-Escola. Que se sabe, os defensores das cotas raciais não são contrários à reforma agrária ou à melhoria da escola pública. Porém, o mais paradoxal é que alguns dos programas preconizados por Célia de Azevedo (como renda básica e bolsa-escola) estão no bojo das chamadas políticas compensatórias, e tais políticas seguem o mesmo princípio das ações afirmativas (do qual as cotas raciais fazem parte): reparar as injustiças do passado (e do presente) para os grupos que são discriminados negativamente, por motivo de cor, gênero, classe social ou orientação sexual.
Um dos motivos pelos quais Célia de Azevedo se opõe à política de cotas raciais é que ela consiste numa política pública específica (ou diferencialista). Em sua opinião, não são as políticas específicas e sim as universalistas as mais apropriadas para garantir a promoção dos negros. No entanto, não é isso o que as pesquisas apontam. A implementação de políticas públicas universalistas, quais sejam, programas governamentais que atacariam as causas sociais da desigualdade não sinalizam para a erradicação do racismo no país. Conforme apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no ano de 2001, todas as políticas públicas universalistas empreendidas pelo governo, desde 1929, não conseguiram eliminar a taxa de desigualdade racial no progresso educacional do brasileiro. Os brancos estudam em média 6,6 anos e os negros 4,4 anos. Esta distância, de 2,2 anos, é praticamente a mesma do início do século XX. A conclusão é reveladora: apesar de ter acontecido uma elevação do nível de escolarização do brasileiro, de 1929 para os dias atuais, a diferença de anos de estudos dos negros frente aos brancos permanece inalterada.
Isso significa que programas sociais ou políticas públicas universalistas, por si só, não evitam as desvantagens que os negros levam em relação aos brancos no acesso às oportunidades educacionais. Para se corrigir esta deficiência do sistema racial, são necessárias também políticas públicas específicas em benefício da população negra, ou seja, programas sociais que adotem um recorte racial na sua aplicação. Os problemas específicos dos grupos que historicamente sofreram (e sofrem) discriminação (como negros, mulheres, gays, entre outros) se resolvem, combinando medidas gerais e específicas. Portanto, a discriminação contra o negro deve ser enfrentada, igualmente, com ações anti-racistas.
Um outro motivo pelo qual Célia de Azevedo rejeita a política de cotas raciais é que ela exige que o Estado classifique racialmente a população. E, segundo a autora, enfrentar o racismo significa lutar pela “desracialização dos espíritos e das práticas sociais”. Se a “raça” foi uma invenção nociva aos destinos da humanidade, afirma Célia de Azevedo, “por que reivindicar a racialização pelo Estado?”. Ora, é sabido que “raça” é uma construção social, com pouca ou nenhuma base biológica, mas não adianta o Estado negligenciá-la, porque as pessoas classificam e tratam o “outro” de acordo com as idéias socialmente aceitas. Ademais, o Estado brasileiro nunca teve a tradição de desenvolver políticas de identidade racial junto à população (haja vista a decisão do governo federal de retirar o quesito “cor” ou “raça” do censo oficial em 1970), mas nem por isso o racismo deu sinais de subtração ou perecimento.
Como é de praxe nas coletâneas, o livro peca pela redundância das idéias e, em casos extremos, pela repetição literal de trechos, como o que acontece no primeiro parágrafo da página 72 e no terceiro da página 81. De toda sorte, o livro é uma equilibrada contribuição teórica para o importante debate que está pautando a agenda nacional no momento: como o racismo à brasileira deve ser enfrentado? Ninguém tem mais dúvidas que o Brasil é um país marcado pela desigualdade de oportunidades entre negros e brancos, seja no mercado de trabalho, na esfera educacional, na vida pública, etc.; entretanto, não há consenso acerca das medidas a serem tomadas para se atacar um mal que penaliza quase metade da população brasileira e a impede do pleno exercício da cidadania. Só existe um consenso: não dá mais para ficar de braço cruzado e aceitar a falácia de que o Brasil é o país do paraíso racial.
Petrônio Domingues – Doutor em História/USP. Professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: [email protected]
[DR]
Amor e sexualidade: o masculino e o feminino em grafites de Pompéia – FEITOSA (AN)
FEITOSA, Lourdes Conde. Amor e sexualidade: o masculino e o feminino em grafites de Pompéia. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2005. 168p. Resenha de: SILVA, Maria Aparecida Oliveira. Anos 90, Porto Alegre, v.13, n.23/24, p.361-364, 2006.
Herdeiros da tradição judaico-cristã recebemos a informação primeira de que o sentido da existência humana nos era dado por intermédio do Verbo Divino. Assim, aprendemos com os livros bíblicos o quanto a realidade poderia ser explicada pela palavra.
Então, sob a luz de teorias teológicas, inicia-se a disseminação da teoria hermenêutica, centrada em análises sintáticas e etimológicas, a fim de tornar o texto bíblico mais racional, leia-se, mais científico. Tal processo consumiu séculos de nossa história ensinando-nos a pensar a realidade a partir da escrita literária, empregando imagens apenas como ilustrações embelezadoras das edições.
Somente nas primeiras décadas do século XX, estudos de semiótica e de semiologia contribuíram para o deslocamento de nosso olhar, conformado ao que Derrida chamou de logocentrismo, para enxergarmos a colaboração da produção imagética. Com isso, despertamos para a possibilidade de interpretação dos valores sociais e do contexto histórico representados em inscrições parietais ou em relevos, pinturas em cerâmicas, estátuas e estatuetas, etc.
Nesse sentido, no livro Amor e sexualidade: o masculino e o feminino em grafites de Pompéia, resultado de um longo trabalho de pesquisa de doutoramento, com dados recolhidos em várias bibliotecas do Brasil e do exterior, e ainda de visitas aos sítios de Pompéia, Lourdes Conde Feitosa dedica-se ao estudo crítico sobre as fontes materiais pompeianas, oferecendo ao leitor uma nova abordagem para as inscrições paradoxalmente preservadas pela grande erupção do Vesúvio em 79 d. C., e postas à tona somente no século XVIII.
A autora demonstra salutar ousadia em sua obra não apenas por trabalhar com um corpus pouco explorado pelos estudiosos, mas ainda por retirar análises criativas sobre a sexualidade popular em Pompéia. Outro aspecto interessante deste livro é a junção de fontes literárias com fontes materiais, sem que o entrelaçamento delas pareça complementar as informações apresentadas pela autora. Dividido em cinco capítulos, sua argumentação principia com o capítulo intitulado “Gênero, amor e sexualidade: olhares metodológicos”, em que Feitosa apresenta-nos um balanço historiográfico dos estudos realizados sobre gênero, amor e sexualidade.
Nesse capítulo, a autora questiona teorias e métodos selecionados pelos estudiosos, voltados para a leitura racional dos fatos, centrada na identificação da verdade histórica e, por esse motivo, geradora de uma narrativa histórica totalizante e unificadora. Assim, Feitosa afirma escrever uma “microhistória […] e destacar o heterogêneo, o local e o específico” (p. 24).
No segundo capítulo, denominado “Representações do amor e da sexualidade na literatura acadêmica”, a autora discorre sobre a complexidade semântica da palavra amor, que em sua definição, abarca sentimentos como affectus, dilectio, caritas e eros, como revelam os grafites pompeianos expressos em vocábulos ou em desenhos.
Feitosa delineia o quadro interpretativo dos estudiosos de tais expressões humanas, revelando insuficiências teóricas, constatando a predileção dos estudiosos por análises dirigidas às relações amorosas e sexuais aristocráticas. Nesse sentido, ao estudar as manifestações da sexualidade popular, a autora brinda-nos com uma nova safra de pensamentos descentrados do eixo habitual.
Reflexões sobre a antiga Pompéia Romana constituem a tônica do terceiro capítulo denominado “Pompéia: edificações de um cenário histórico”. Com essa escolha metodológica, a autora remete-nos a aspectos interessantes da vida cotidiana em Pompéia, realçando elementos constituintes da estrutura social e econômica da cidade. Para tanto, Feitosa realiza uma minuciosa leitura das fontes materiais, epigráficas e literárias disponíveis, relatando as particularidades das representações imagéticas dos grafites ou graphio inscripta pompeianos, uma vez que as inscrições podem ser vistas em quase todos os locais públicos e privados da cidade, ou seja, onde havia paredes.
Após a contextualização socioeconômica da sociedade pompeiana, realizada no terceiro capítulo, a autora aponta seus desdobramentos na vida cotidiana de Pompéia, cujas particularidades das práticas populares compõem a temática desenvolvida no capítulo seguinte, nomeado “A expressão popular nos grafites”.
Para distinguir o aristocrata do popular, a autora pautou-se nos conceitos de honestiores e humiliores, recorrentes na literatura latina. Feitosa salienta a origem e a significação social variadas desses vocábulos; em suas palavras: “A tradução literal de honestus (honor – honra, respeito) corresponde aquele que é ‘honrado’, ‘virtuoso’, ‘nobre’, e humilis, ‘o que está no chão’ (humus), ‘o de baixa condição’, ‘o comum’, ‘o modesto’; mas o interessante a ser observado é a conotação adquirida segundo o lugar em que é usado” (p.75).
Encerrando seu percurso, a autora apresenta as inscrições parietais dos populares no quinto capítulo de seu livro, o qual intitulou de “Amor e sexualidade em inscrições parietais”. A autora versa a respeito das constantes inscrições populares sobre suas venturas e desventuras amorosas; como pôde observar durante sua pesquisa nos sítios de Pompéia, Feitosa conclui: “O tema amoroso fazia parte das preocupações cotidianas desses ‘grafiteiros’ e é por meio de suas referências sexo-afetivas que penso na composição do feminino e do masculino, em uma articulação de gênero.
Para essa análise selecionei duas práticas sexuais que, em seu âmago, estão relacionadas à sexualidade masculina e à feminina: a ação de futuere [ter relação sexual com] e de cunnum lingere [praticar a cunilíngua]” (p. 97-98).
Não apenas no último capítulo de seu trabalho, mas ao longo de todas as páginas, Feitosa manifesta sua preocupação com a sexualidade humana. Portanto, o livro Amor e sexualidade: o masculino e o feminino em grafites de Pompéia, de Lourdes Conde Feitosa, representa tanto um movimento de sedimentação dos estudos clássicos no Brasil como a inserção, no mundo das idéias, de um pensamento holístico no tocante à sexualidade dos antigos romanos. Mais um aspecto interessante de seu texto é o tratamento dado à sua temática: a sexualidade dos populares, esquivando-se de análises limitadas pelo olhar moralista bem como de repetições analíticas pautadas em relatos de Plínio, o jovem ou de Tácito, fazendo emergir relatos diversificados e contraditórios sobre a vida cotidiana em Pompéia.
Maria Aparecida Oliveira Silva – Doutoranda em História Social – FFLCH/USP. Bolsista Fapesp. Anos 90, Porto Alegre, v.13, n.23/24, p.361-364, 2006.
[IF]
Identidades, discurso e poder: estudos da arqueologia contemporânea | Pedro Paulo Abreu Funari, Charles E. Orser Júnior e Solange Nunes de Oliveira Shiavetto
Pensar as múltiplas identidades possíveis ao homem implica refletir sobre a interação conceitual entre identidade, discurso e poder no estudo da formação e da organização social. Nesse quadro de interdependência, verificam-se, ao longo da história, práticas políticas direcionadas à construção de discursos normativos e mantenedores do poder pela edificação de identidades, cujas definições interagem com a distribuição dos espaços sociais e geográficos. Tal diversidade espacial retrata a heterogeneidade da ocupação do solo, demonstrando que essa variável deve ser considerada no labor de arqueólogos e historiadores. Sob essa perspectiva, o livro Identidades, discurso e poder: estudos da arqueologia contemporânea, organizado por Pedro Paulo Abreu Funari, Charles E. Orsen Jr. e Solange Nunes de Oliveira Schiavetto, fomenta o debate a respeito dos usos das fontes materiais e literárias para o entendimento das ações humanas situadas no passado, revelando descompassos entre escritos e espaços, e estimula o repensar dos modelos teóricos acatados por arqueólogos e historiadores.
A primeira parte do livro, intitulada “Identidades e conflitos”, principia com o capítulo “A mulher aborígine nas Antilhas no início do século XVI”, de Lourdes S. Domingues. A autora tece reflexões sobre os anos de 1492 a 1542, período com escassa documentação primária e, por esse motivo, fonte de polêmica entre os estudiosos. O recorte da autora contempla a época em que a Coroa Espanhola promulgou as Leyes Nuevas, as quais, segundo Domingues, influenciaram sobremaneira o processo de construção das identidades das mulheres aborígines do Caribe. Leia Mais
A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888) – GRAÇA FILHO (VH)
GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume. São João del Rei: UFSJ, Funtir, 2002. Resenha de: BOTELHO, Tarcísio R. Varia História, Belo Horizonte, v.20, n.31, p. 275-277, jan., 2004.
Desde a guinada de final dos anos 1970 e princípios dos anos 1980, a historiografia econômica e demográfica de Minas Gerais tem conhecido enormes avanços. Ela tem contribuído para uma revisão do significado dos séculos XVIII e, sobretudo, XIX na constituição do mercado interno, na demografia escrava e em outras dimensões da vida brasileira do período. A obra de Afonso de Alencastro Graça Filho vem acrescentar novos detalhes ao quadro já traçado e enriquecer as perspectivas com que se tem elaborado as interpretações sobre a província mineira. Versão revisada da sua tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História do IFCS/UFRJ, sob orientação da professora doutora Maria Yedda Linhares, ela se inscreve em um duplo esforço coletivo: de um lado, a preocupação com a história agrária e regional, que marca a atuação de sua orientadora; e de outro, o esforço em repensar o passado provincial mineiro.
O livro tem por objetivo acompanhar a evolução da economia e das estruturas agrárias da região do Termo de São João del Rei, cabeça da Comarca do Rio das Mortes. A região sempre se caracterizou como o celeiro das Minas Gerais, posto que desde o século XVIII a agricultura sobrepujou a mineração como sua atividade central. O trabalho em análise, contudo, focaliza o século XIX, mais precisamente as décadas de 1830 a 1880. As hipóteses de trabalho prendem-se à capacidade de acumulação endógena dessa economia voltada para o abastecimento. Em relação ao comércio, o autor pretende demonstrar que “além de possuir uma boa capacidade de acumulação de capitais na intermediação dos negócios interprovinciais, especialmente na primeira metade do século XIX, suas estratégias de apropriação alcançavam outra dimensão, esquecida pela historiografia, de centro financeiro” (p. 25).
Para realizar a empreitada, o trabalho estrutura-se em cinco capítulos, além da introdução e das conclusões. Na introdução, são revistas algumas das principais abordagens historiográficas sobre a economia mineira no século XIX, justifica-se o enfoque regional e apresenta-se algumas perspectivas teóricas a serem adotadas. O Capítulo 1, intitulado “A Comarca do Rio das Mortes e a princesa do oeste: o ouro da lavoura das vertentes”, descreve em rápidas linhas a evolução político-administrativa de Minas Gerais ao longo dos séculos XVIII e XIX e apresenta um primeiro quadro geral da economia da região escolhida para análise. Com base em dados demográficos e em evidências colhidas de inventários post-mortem e de relatos de viajantes, o autor aponta para a capacidade de acumulação de capitais por parte da elite sanjoanense, sobretudo a partir de suas atividades comerciais.
O Capítulo 2 (“O comércio de São João del Rei: comendadores e endividados”) procura dissecar o conteúdo e a natureza desse comércio. Em primeiro lugar, são apresentadas estatísticas de produção, de exportações e de importações e informações sobre licenças comerciais e de ofícios da vila de São João del Rei. Em seguida, os inventários de grandes comerciantes são analisados a fim de expor as relações de endividamento e os mecanismos de financiamento da produção e do consumo locais. As relações familiares entre os endinheirados locais também serviam para reforçar a acumulação desses capitais. O padrão dos investimentos mostra como esses homens compartilharam atividades comerciais e agropecuárias. Além disso, à medida que avançava o século XIX, cresciam os capitais alocados em títulos públicos ou investidos em companhias industriais, estabelecimentos financeiros e empresas de transportes (a Estrada de Ferro Oeste de Minas e a Companhia União e Indústria).
No Capítulo 3 (“A civilização do milho: a estrutura agrária de São João del Rei”), expõe-se o padrão de financiamento da agropecuária local, demonstrando como São João del Rei drenava o crédito e o comércio atacadista da Comarca do Rio das Mortes e com isso criava laços de dependência com produtores de vastas regiões da província. A agricultura regional, por sua vez, apresentava uma estrutura produtiva diversificada, comportando desde pequenos agricultores até fazendas escravistas de alimentos que estavam à altura das médias e grandes fazendas da agroexportação quanto à posse de escravos e à concentração fundiária. Também para os agricultores, as relações familiares eram importantes para sua reprodução social, o que se reflete na importância dos dotes e das terras herdadas. A análise dos inventários desse grupo mostra sua diferenciação face aos comerciantes: não investiam em apólices ou ações, concentravam suas riquezas em imóveis rurais e escravaria, apresentavam um monte-mór médio inferior a metade do observado entre os comerciantes.
O Capítulo 4, intitulado “Barões e roceiros: simplicidade e ostentação na sociedade sanjoanense”, é o mais curto de todos. Em oito páginas, procura mostrar que a riqueza em São João del Rei apresenta um grau de concentração significativamente menor que outros lugares, notadamente Salvador e Rio de Janeiro.
Esses quatro primeiros capítulos apresentam um quadro bastante expressivo da economia regional, embora pequem pela falta de uma maior ordenação dos argumentos de modo que o leitor possa navegar de forma mais tranqüila pela enorme massa de informações e dados. Todos esses problemas, porém, são superados pelo que se descortina no quinto e último capítulo.
O Capítulo 5 intitula-se “Preços e salários: os ciclos econômicos de São João del Rei”. Em primeiro lugar, o autor constrói séries de preços com base nos dados dos livros de receitas e despesas da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Divididos entre gêneros de importação, gêneros de produção e consumo local, gêneros de exportação e produtos de origem animal, foi possível estabelecer períodos de alta e de baixa para os diversos produtos que apareciam nas pautas de compras da Santa Casa. Com esses dados, construiu-se um índice geral de preços (não ponderado) que permitiu acompanhar as conjunturas de flutuação dos preços. Ao compará-los com o observado para o Rio de Janeiro e para Salvador, o autor pôde concluir que “a concordância entre as conjunturas de preços de São João del Rei e outras cidades brasileiras nos permite questionar o caráter ‘natural’ ou ‘vicinal’ da economia do sul de Minas, particularmente na segunda metade do século XIX” (p. 190). Trata-se de uma conclusão extremamente relevante, já que pela primeira vez é possível testar essa hipótese da economia vicinal mineira a partir de evidências empíricas bastante sólidas. A partir daí, o autor procura articular a análise dessa economia regional com as discussões recentes sobre a economia escravista brasileira em geral e as possibilidades de uma acumulação endógena de capitais. Nesse sentido, o seu trabalho contribui não apenas para a compreensão da dinâmica regional, mas colonial/nacional como um todo. Na seqüência desse capítulo, a observação do mercado de terras, das condições de reprodução do contigente cativo (via reprodução natural e tráfico) e do movimento de salários tornam ainda mais sofisticada a análise das condições de reprodução das fazendas escravistas de alimentos e de todo um mercado regional que se estruturava a partir delas.
Como se vê, trata-se de uma obra de leitura obrigatória para todos os que se interessam pela história regional (e não apenas pela história de Minas Gerais), bem como para aqueles envolvidos com o debate em torno do caráter da economia escravista brasileira e seus rumos no século XIX. Alguns problemas de revisão (como a numeração de notas finais e outros) e de editoração (dadas as dificuldades para se ler os mapas e os gráficos de preços e salários), que podem ser resolvidos em uma segunda edição, não tiram o brilho da publicação, ainda mais pela incorporação de interessante iconografia de São João de Rei e sua elite.
Tarcísio R. Botelho – Professor da PUC-MG.
[DR]
Integralismo e política regional: a ação integralista no Maranhão (1933-1937) – CALDEIRA (RBH)
CALDEIRA, João Ricardo de Castro. Integralismo e política regional: a ação integralista no Maranhão (1933-1937). São Paulo, Annablume, 1999, 135p. Resenha de: CYTRYNOWICZ, Roney. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.21, n.40, 2001.
A publicação do livro Integralismo e política regional: a ação integralista no Maranhão (1933-1937), do historiador João Ricardo de Castro Caldeira (São Paulo, Annablume, 1999), suscita a reabertura do debate referente às leituras e interpretações sobre o Integralismo no Brasil. Os estudos já dedicados ao movimento/partido Ação Integralista Brasileira (AIB), que existiu legalmente no Brasil entre 1933 e 1937, concentraram-se principalmente na análise de sua ideologia. Tendo como marco inicial o livro de Hélgio Trindade em 19741, cerca de dez livros e artigos foram escritos desde então sobre o tema, cujo campo é ainda uma grande frente de pesquisa em aberto. Esta produção historiográfica e de ciências sociais é reduzida se comparada, por exemplo, à vasta bibliografia sobre movimentos e partidos de esquerda, e mais ainda se analisada no contexto da produção sobre o primeiro período Vargas e o Estado Novo.
A importância de se estudar o Integralismo decorre, entre outras razões, de sua expressiva atuação política entre 1933 e 1937, do interesse de comparar o Integralismo com outros movimentos fascistas (aceitando-se ou não sua caracterização como fascista2), da necessidade de se pesquisar a história dos movimentos e do pensamento de direita e de extrema-direita no País (que não são apenas miméticos em relação à Europa) e, por fim, do interesse que personagens e obras como as de Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale e outros tiveram e têm como matrizes de movimentos e pensamentos no País, muito além do próprio Integralismo. As ressonâncias do Integralismo têm forte presença na atualidade, seja pela ação de pequenos grupos de extrema-direita que se dizem seguidores do Integralismo, seja pela difusão de livros e sites na Internet3, especialmente anti-semitas, que também retomam a ideologia integralista4.
A pesquisa de João Ricardo de Castro Caldeira, realizada como dissertação de mestrado em História na USP, está focalizada na atuação política da AIB no Maranhão e preenche uma lacuna importante na historiografia. Primeiro, por pesquisar o apelo do ideário intregralista em um Estado do Nordeste, tanto no interior como na capital, tendo como eixo central as questões regionais. Segundo, por centrar sua pesquisa na atuação política do partido: suas alianças e oponentes, sua prática política, seus aliados e adversários e seu comportamento eleitoral. O estudo de Caldeira mostra que uma pesquisa local ou regional sobre Integralismo não é apenas a repetição das questões nacionais, mas um alargamento da própria compreensão da atuação do Integralismo no País, e também da compreensão do jogo político entre as forças políticas locais e o regime de Getúlio Vargas. Além disso, as características do Estado, com baixa urbanização e industrialização, colocam um desafio suplementar para se entender a emergência desta ideologia naquele Estado.
O Integralismo foi provavelmente o primeiro partido de massa do País, mantido com a contribuição de seus próprios membros, o que o distinguia dos partidos tradicionais baseados em um modelo oligárquico. Há várias estimativas relativas aos militantes, com números difíceis de confirmar que variam de 100 mil a 1 milhão, discrepância e cifras que sugerem uma percepção de massa que ficou registrada na memória social e na própria historiografia.
Os principais fatores que catalisaram o apoio ao Integralismo no Maranhão, segundo Caldeira, foram o anticomunismo, o nacionalismo, valores próximos ao cristianismo e o importante apoio de setores da Igreja. O anticomunismo deve ser entendido e matizado diante de dados como o número de apenas 3.105 operários nos anos 20 (para uma população, em São Luis, de 70 mil), número que deve ter aumentado pouco na década seguinte. Os integralistas também direcionavam sua propaganda para operários, mulheres e jovens, setores quase não representados pelos partidos existentes. Em 1934, no Maranhão, mulheres fundaram a Ação Feminina Integralista e chegaram a representar 18% dos membros do partido.
O discurso antioligárquico era um dos motes principais do partido no Maranhão. Em uma campanha para a prefeitura de Pedreiras, uma propaganda integralista bradava que o Integralismo pretendia a “liberação de Pedreiras das garras de um feudalismo entorpecente e retrógrado”. Várias caravanas integralistas, originárias de São Paulo e Rio de Janeiro, visitaram o Maranhão. As caravanas eram também chamadas de “bandeiras integralistas” e pretendiam difundir a imagem de um novo desbravamento mítico do País. Delas participava Gustavo Barroso, membro da Academia Brasileira de Letras, que fazia pregações anti-semitas em discursos sobre a “escravização do Brasil aos banqueiros judeus”5.
O Integralismo atraía, assim, especialmente setores das classes médias urbanas, e camadas não representadas na política tradicional, que respondiam ao discurso de um movimento que prometia que as “libertaria” do poder das oligarquias regionais. Aderiam jornalistas, advogados, professores, estudantes, empregados domésticos, médicos, funcionários públicos, padres, funcionários de comércio e operários, entre outros. Esta mistura social já é um dado significativo de uma representação política distinta. A presença de profissionais liberais e de intelectuais explica-se em parte pelo apelo cultural nacionalista. Em suas memórias, Miguel Reale destaca a militância no Integralismo como um espaço importante de discussão da “realidade nacional”6.
É bastante indicativo também que a primeira referência pública na imprensa do Maranhão em relação ao Integralismo fizesse a seguinte descrição: “A ‘camisa verde’ que ele criou para distintivo material de sua idéia está aparecendo, cativante, alegre, persuasiva, em vários pontos do território nacional.” Para entender o Integralismo, certamente tão importante quanto o “conteúdo” do discurso, era o apelo definido por meio de desfiles minuciosamente coreografados, as “Bandeiras” (caravanas), os símbolos, palavras de ordem, canções, discursos dramatizados, estandartes, uniformes, insígnias, rituais, a movimentação da massa, uma mitologia de imagens que Walter Benjamin – referindo-se ao Nazismo – definiu como “estetização da política”. Estes elementos eram um poderoso atrativo e diferenciador perante as práticas dos partidos e criavam toda uma mística ritualizada (rituais que regulavam do nascimento à morte) da adesão que deveria ser considerada não a um partido, mas a um movimento que se apresentava como renovador das forças espirituais da nação7.
No entanto, apesar do discurso violento contra as oligarquias, ao passar do plano do ideário político para o da negociação para chegar ao poder, o Integralismo acabou tendo uma conduta política semelhante à das oligarquias que ele combatia, assumindo políticas clientelísticas e assistencialistas. O partido apoiou, por exemplo, uma negociação em 1936 para eleger um governador ligado a Getúlio Vargas, e participou de uma ampla composição de forças tradicionais da política local, passando a integrar a administração pública. Em 1936 e 37, o Integralismo cresceu no Estado, chegou a deter uma emissora de rádio, a Rádio Sigma, e um jornal comparável aos maiores do Maranhão, que recebia até anúncios da Goodyear. Em 1937, no Maranhão, os integralistas participavam da administração pública, do parlamento estadual, e tinham o apoio de padres e de chefes políticos locais, sem sofrer qualquer repressão. Apesar disso, nas eleições de 1937, embora com núcleos organizados em 17 municípios do Maranhão, apenas seis lançaram candidatos a prefeito ou vereador, e apenas um vereador foi eleito. Nas eleições para prefeito de São Luís, em que se inscreveu sob a legenda “Deus, Pátria e Família”, o partido teve cerca de 5% dos votos e era identificado com as forças da situação.
Esta dualidade entre movimento e partido, entre um combate retórico violento contra o sistema democrático, partidário e parlamentarista (no plano nacional) e antioligárquico (no plano regional, o que lhe dava uma aparência modernizadora) e, de outra parte, aceitação do jogo da política oligárquica e clientelística, quando se trata de negociar alianças e cargos mostra, talvez mais do que qualquer outro dado, os limites objetivos (felizmente) à emergência do Fascismo no Brasil. E também talvez forneça pistas para entender por que o movimento teve pouco apoio eleitoral se comparado à sua repercussão, à época, como marco (ultra) nacionalista de debates dos grandes temas do País, como a organização de um Estado centralizado, além de sua atração como um partido identificado como nacional e antioligárquico. Também se pode sugerir que algumas das bandeiras do Integralismo estavam presentes no próprio ideário do Estado-Novo que se implantaria em 1937, o que pode ter contribuído para difundir seu ideário, apesar de oficialmente banido.
A descrição do processo político e da prática política dos integralistas no Maranhão é realizada por Caldeira com precisão e acuidade, constituindo o eixo central do seu livro. O autor optou por uma pesquisa que privilegiou a prática política e não a análise ideológica, que nem sequer ganha um resumo introdutório, que poderia contribuir para a pesquisa e para uma leitura mais compreensiva para um tema tão (academicamente) pouco conhecido. A pesquisa é coerente com a proposta. Mas não terá essa opção do autor esvaziado em parte o caráter fascista da ideologia integralista, ou simplesmente esvaziado ideologicamente o Integralismo?
A pesquisa sobre a “prática” das alianças eleitorais do partido, o jogo político que em nada difere do jogo político mais arcaico, apesar de uma retórica antioligárquica inflamada, tudo isso acaba mostrando um partido que, no calor da disputa eleitoral, não se diferencia das oligarquias locais. É evidente que este é um dado da pesquisa relevante e consistente, mas não deveria esta ênfase sobre a prática ser colocada para análise juntamente com a análise ideológica do movimento, sob o risco de perder de vista a especificidade e a violência ideológica particular do Fascismo, que é o que caracteriza o Fascismo e o torna específico, com suas variações locais e nacionais?
Caldeira poderia recusar este comentário não apenas reafirmando uma opção historiográfica, diante de uma bibliografia inteiramente dedicada ao estudo da ideologia (em sua maior parte produzida pelas ciências sociais), mas também como uma conclusão da própria pesquisa, no sentido de que esta mostra, no Maranhão, um partido esvaziado de sua violência ideológica e de conteúdos que existiam apenas no discurso nacional, mas não no regional.
Mas não será esta contradição entre a retórica violenta do movimento e sua atuação “prática” esvaziada precisamente uma contradição central do Fascismo brasileiro, expressão das camadas médias que se beneficiavam do alargamento da ação do Estado e das oportunidades de emprego e ascensão social abertas nos anos 30, com a montagem de uma vasta máquina estatal, ao mesmo tempo em que defendiam vagas reformas na estrutura do Estado e se opunham fracamente às oligarquias às quais estavam de fato subordinadas, e diante das quais eramo estruturalmente dependentes? Se é próprio das classes médias não ter um projeto político autônomo, neste caso isto foi acentuado por sua relativa ascensão nos anos 30 e pelo discurso estado-novista que parecia contemplar seus anseios.
E, em conseqüência, este limite do Integralismo no Brasil na década de 30 não seria dado pelo relativo atraso do desenvolvimento capitalista no País e pela não-difusão das relações capitalistas? Esta tese, defendida em estudos de peso, como os de José Chasin, Antonio Rago e no trabalho extremamente instigante de Gilberto Vasconcelos, deve ser colocada para discussão, e não simplesmente negligenciada8.
A dualidade entre Fascismo movimento e Fascismo partido, entre a retórica e o poder, também pode ser observada no Fascismo italiano e no Nazismo alemão, e isto em nada significa atenuar as conseqüências da guerra e do genocídio. Estudos recentes sobre o Nazismo alemão mostram uma convivência, até hoje desconhecida e negligenciada, de partidos tradicionais e de elites políticas locais com os nazistas, que não tinham quadros próprios para fazer funcionar o Estado. Esta idéia, longe de atenuar os crimes nazistas, alarga a responsabilidade por crimes como o próprio genocídio contra os judeus, que não foram “apenas” a decorrência de um discurso violento do partido nazista mas resultado de uma gigantesca e minuciosa operação de destruição que envolveu muitos setores da sociedade e do Estado alemães, havendo, claro, matizes entre responsabilidade indireta, conivência e cumplicidade direta9. Ou seja, entender a passagem da retórica para o poder é um tema central dos estudos de movimentos fascistas e a contradição é própria destes movimentos que não têm maior enraizamento social. Basta lembrar, na Alemanha, o crescimento do partido, a partir dos anos 20, diante dos partidos baseados em forças sociais historicamente estruturadas, como a social-democracia, os comunistas e os partidos centristas, conservadores e católicos. Também no Brasil, a adesão ao Integralismo não tem um enraizamento social mais consistente e prévio aos anos 30, havendo uma história irregular de pequenos movimentos e partidos de extrema-direita.
Ao privilegiar o estudo local, regional, do Integralismo, corre-se o risco de se alargar um horizonte de compreensão, mas de se fechar outro e de menosprezar o poder ideológico do Fascismo como a ideologia do ódio e da destruição. Mais do que optar por uma única interpretação e torná-la profissão de fé – o que Caldeira jamais faz, ressalte-se – é importante pensar sempre entre as diferentes interpretações, confrontando-as diante da pesquisa.
Se há algo que os historiadores têm mostrado nos últimos dez anos de um verdadeiro rush de estudos históricos sobre Nazismo e Fascismo é que, à parte o desejo de se estabelecer tipologias do Fascismo (a mais célebre talvez seja a de Renzo de Felice; a última, a de Umberto Eco10), é cada vez mais esclarecedor e produtivo combinar análises da ideologia com a pesquisa empírica, documental, que busque as especificidades locais da eclosão do Fascismo, que entenda sua prática política específica e, ao mesmo tempo, busque caracterizar uma ideologia que existiu basicamente entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e que pode ser tipificada.
As particularidades do Integralismo devem ser entendidas em toda a sua complexidade para que seja possível compreender, por exemplo, por que um intelectual como Luís da Câmara Cascudo tornou-se seu asdepto no Rio Grande do Norte11. É preciso efetuar esta discussão sem maniqueísmo prévio, em um arco que comporte personagens tão díspares entre si como Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, os três mais importantes dirigentes nacionais que, com conflitos, conviveram nos anos 1930. Se pensarmos na importância política e intelectual que Reale teria durante décadas, como paradigma de um certo liberalismo, longe de aceitar que sua militância integralista foi apenas um breve parêntese juvenil, ganharíamos na compreensão de como a ideologia fascista é capaz de exercer atração sobre intelectuais que não são “tipos ideais” do Fascismo e de como o Fascismo pode ter pontos de contato com outras ideologias e movimentos. É esta maleabilidade e caráter intrinsecamente contraditório, próprio das condições históricas do entre-guerras, que permite entender estas adesões. No caso de Cascudo, certamente há toda uma gama de questões de política e cultura locais12.
É próprio da ideologia fascista ser um aglomerado de idéias contraditórias entre si, porque o Fascismo e o Nazismo devem ser entendidos, historicamente, muito mais como respostas, como reação, como ideologia do anti (principalmente anticomunismo e, no caso alemão, anti-semitismo) e da destruição, do que como a formulação efetivamente coerente de constituição de um projeto nacional. O partido nazista derivava sua força muito mais da violenta reação contra a democracia, o parlamento, os judeus e o Comunismo, e da violenta pregação que prometia uma inclusão aos setores marginalizados e ameaçados pela crise. Por isso, a guerra e o genocídio, da mesma forma que o racismo e a eugenia, estiveram no centro da ideologia e da ação nazistas. ‘Eu não sou ninguém, mas ao menos não sou judeu’, escreveu Thomas Mann, sintetizando uma pregação chave do Nazismo, que foi o anti-semitismo associado ao anticomunismo. Por justapor idéias contraditórias, como ser simultaneamente anti-capitalista e anti-comunista, o Fascismo atrai diferentes setores sociais e seu discurso repercute em diferentes demandas, falando para várias camadas sociais e dirigindo apelos específicos e contraditórios a cada uma. Assim, não faz sentido procurar em cada militante ou eleitor do Fascismo um representante “ideal” desta ideologia. Igualmente não faz sentido transferir a ideologia mecanicamente para cada situação histórica como se a ideologia se manifestasse apenas como reprodução de si mesma. Mas é fundamental não apenas estabelecer as identidades ideológicas, bem como suas diferenças, e entendê-las como manifestações dos anos 20 e 30, seja no Brasil, Portugal, Romênia, Hungria, Itália ou Alemanha.
A recente eleição de um governo, na Áustria, em aliança com a extrema-direita em um País que é um dos mais prósperos da Europa, com menor índice de desemprego, mostra que o apelo fascista atinge setores nem sempre objetivamente ameaçados por uma crise econômica e social, uma das interpretações clássicas da emergência do Nazismo na Alemanha. Ao contrário, como mostrou Marilena Chauí em seu ensaio sobre o Integralismo13, a crise é uma poderosa imagem engendrada pelo próprio discurso fascista, que investe em um discurso emocional e irracional, repleto de imagens aterrorizantes, brandindo a ameaça de que a sociedade e seus valores estão em desagregação, à beira do caos, e que seria preciso um movimento restaurador de valores, regenerador do homem e uma nova ordem.
Mas é preciso jamais perder de vista que se chame Fascismo, Nazismo ou Integralismo, e em que pesem suas diferenças, o Fascismo é uma ideologia da destruição, da negação e do horror ao conflito, da recusa ao diferente e ao outro, do ódio às divisões sociais, à democracia e ao sistema de representação, do nacionalismo xenófobo, da liderança ditatorial, da guerra, da destruição das organizações da sociedade civil, do terror, da intimidação e do racismo. O fim da história no “Estado Integral” ou no “Reich de Mil Anos” pressupunha um estado permanente de harmonia social, exterminados previamente na “solução final” todos os que fugiam à norma ideal racista. Para o Nazismo, o extermínio dos povos considerados inferiores era considerado “biologia aplicada” que abreviaria um processo que a própria natureza se encarregaria de realizar. Neste ponto, o Integralismo não era monolítico, havendo diferenças sérias entre, por exemplo, Gustavo Barroso e Plínio Salgado, sendo que o anti-semitismo ficou mais marcado na pregação de Barroso.
O livro de Caldeira certamente se insere em um novo caminho historiográfico para os estudos sobre o Fascismo no Brasil (ou movimentos como o Integralismo e outros, sendo que a discussão sobre o caráter fascista não pode ser evitada), no qual ela trabalha com consistência e coerência. Há trinta anos atrás, Gilberto Vasconcelos escreveu seu livro, o professor Florestan Fernandes escreveu no prefácio que duvidava até se o Integralismo era um tema a justificar estudos acadêmicos14. A um pensamento de esquerda racional e intelectualmente sofisticado, a violência caótica e contraditória do discurso integralista parecia apenas desprezível, fruto de um movimento político inexpressivo no Brasil. Quem lê Gustavo Barroso, por exemplo, pode se surpreender com a aparente irracionalidade e total aparente non-sense dos seus panfletos. Foi Jean Paul Faye, entre outros, quem explorou a gramática fascista, mostrando o terrível poder daquela linguagem incitadora de violência e da destruição por meio da articulação de poderosas imagens de crise, de destruição e de ódio. O discurso fascista é extremamente eficaz, atingindo pulsões, sentidos, emoções e circuitos que o discurso racional não penetra. Ler um texto fascista implica desmontar a lógica da construção do Fascismo e não apenas aceitar um debate político racional. Os livros-panfleto de Gustavo Barroso são um exemplo dessa terrível eficácia do mal.
Estas reflexões são sugeridas pelo livro de João Ricardo de Castro Caldeira e pelo seu trabalho de mestrado muito bem articulado e exemplar enquanto pesquisa de história. O campo de pesquisa e de interpretação sobre a história do Integralismo no Brasil é ainda um território em aberto, especialmente à pesquisa documental aliada à análise ideológica. E, sobretudo, politicamente urgente. Poucos dias após a posse do novo governo austríaco, em aliança com a extrema-direita, cujo líder, Haider, tem aberta simpatia pelo Nazismo, foi na Praça da República, no coração da cidade de São Paulo, em 6 de fevereiro de 2000, que um grupo que se diz publicamente integralista e seguidor de Plínio Salgado e Gustavo Barroso cometeu o assassinato de Edson Neris da Silva, de 35 anos, o qual, segundo o grupo que o matou, “parecia homossexual”. Nunca é demais lembrar que o Fascismo é essencialmente a ideologia do ódio ao diferente e que, dependendo das circunstâncias, este ódio transforma-se em destruição física.
Notas
1 TRINDADE, Hélgio. Integralismo, o Fascismo brasileiro na década de 30. São Paulo: Difel, 1974. O livro pioneiro de Trindade é ainda o mais completo e compreensivo estudo sobre o tema, com ampla pesquisa de campo. Os trabalhos que vieram depois particularizaram temas ou aprofundaram certos aspectos ideológicos específicos.
2 Hélgio Trindade considera que a AIB era um partido fascista “em função da composição social dos seus aderentes, das motivações de adesão de seus militantes, do tipo de organização do movimento, do conteúdo do discurso ideológico, das atitudes ideológicas de seus aderentes e do sentido de solidariedade do movimento em relação à corrente fascista internacional”. Mas o debate neste campo entre os poucos pesquisadores do tema é muito intenso.
3 Sobre os sites racistas, ver KAHN, Tulio. Ensaios sobre Racismo. Manifestações Modernas do Preconceito na Sociedade Brasileira. São Paulo: Conjuntura, 1999.
4 Os livros anti-semitas de Gustavo Barroso, como Brasil colônia de banqueiros, foram reeditados pela editora Revisão que edita em português livros nazi-negacionistas em relação ao genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial e outros panfletos anti-semitas como “Os Protocolos dos Sábios de Sião”, cuja primeira edição em português foi apresentada pelo próprio Barroso.
5 Sobre Gustavo Barroso, ver MAIO, Marcos Chor. Nem Rotschild nem Trotsky: o pensamento anti-semita de Gustavo Barroso. Rio Janeiro: Imago, 1992; RAGO FILHO, Antonio. A crítica romântica à miséria brasileira: o Integralismo de Gustavo Barroso. Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 1989 e CYTRYNOWICZ, Roney. Integralismo e anti-semitismo nos textos de Gustavo Barroso na década de 30. Dissertação de Mestrado, FFLCH-USP, 1992; neste último, um capítulo mostra a conexão entre o nazi-negacionismo e Gustavo Barroso. Há ainda muito material e campo de pesquisa para se estudar Gustavo Barroso, sua trajetória intelectual e política. Sobre o anti-semitismo na década de 30, ver LESSER, Jeffrey. O Brasil e a Questão Judaica. Rio Janeiro: Imago, 1995, e para uma descrição da documentação do anti-semitismo, ver CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O anti-semitismo na Era Vargas: fantasmas de uma geração. São Paulo: Brasiliense, 1988.
6 REALE, Miguel. Memórias. Vol. 1. Destinos Cruzados. São Paulo: Saraiva, 1986.
7 Para conhecer a importância das imagens no Integralismo, ver SOMBRA, Luiz Henrique e GUERRA, Luiz Felipe Hirtz (orgs.). Imagens do Sigma. Rio Janeiro: Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, 1998.
8 Além da obra já citada de RAGO FILHO, Antonio, ver VASCONCELOS, Gilberto. Ideologia Curupira: análise do discurso integralista. São Paulo, Brasiliense, 1979, e CHASIN, José. O Integralismo de Plínio Salgado: forma de regressividade no capitalismo hipertardio. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1978.
9 Sobre isso, ver CYTRYNOWICZ, Roney. Memória da Barbárie. A história do genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: EDUSP/Nova Stella, 1990.
10 DE FELICE, Renzo. Explicar o Fascismo. Lisboa: Edições 70, 1976, e ECO, Umberto. Cinco escritos morais. Rio de Janeiro: Record, 1997. As tipologias sempre agregam elementos interessantes para a análise, em que pese sua generalização e pretensão de modelo que dê conta de todas as particularidades.
11 Até hoje, a chamada cultura popular é tradicionalmente muito mais apropriada por forças políticas conservadoras do que de esquerda, que a vê, muitas vezes, como arcaica, repetitiva e estruturalmente conservadora. Se de um lado a cultura popular está associada a estruturas centenárias de submissão e dominação, criando espaços narrativos míticos de redenção e utopia em uma esfera fora da situação social objetiva, por outro haverá outra saída que não equacionar repetição e criação, enraizamento e libertação, fixação e nomadismo? Esta discussão de história da cultura é sumamente importante para entender o apelo regional, local, que o Integralismo teve no país. Um dos três principais líderes, Gustavo Barroso, violento anti-semita e com posições que podem ser aproximadas ao Nazismo alemão, era um escritor regionalista de sucesso e foi membro da Academia Brasileira de Letras, tendo sido seu presidente. É preciso entender como o Integralismo operou estas justaposições e como se organizou seu apelo.
12 O estudo de GERTZ, René. O Fascismo no Sul do Brasil. Germanismo, Nazismo, Integralismo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987, é exemplar a respeito de como não de pode fazer generalizações que à primeira vista parecem óbvias, ao tratar das diferenças e conflitos entre germanistas, nazistas e intregralistas nas “colônias” alemãs no sul do país.
13 CHAUÍ, Marilena. “Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira”. In Ideologia e Mobilização Popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
14 FERNANDES, Florestan. Prefácio ao livro de VASCONCELOS, Gilberto, Op. cit., p. 11.
Roney Cytrynowicz – Doutor em História Social pela USP.
[IF]Perfeitos Negociantes: Mercadores das Minas Setecentistas – CHAVES (RBH)
CHAVES, Cláudia Maria das Graças. Perfeitos Negociantes: Mercadores das Minas Setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999, 184p. (Selo Universidade. História, 87). FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de Negócio: A Interiorização da Metrópole e do Comércio nas Minas Setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999, 289p. (Estudos Históricos, 38). RODRIGUES, André Figueiredo. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.21, n.42, 2001.
O país das Minas é, e foi sempre, a capitania de todos os negócios.
Para Waldemar de Almeida Barbosa.
A exploração econômica e a evolução populacional sentidas na América portuguesa no período colonial deveram-se a inúmeros fatores, tanto externos quanto internos. Relativamente a estes últimos, salienta-se prioritariamente, estudando o século XVIII, o povoamento e a colonização de Minas Gerais.
A penetração rumo ao interior exigiu que Portugal abrisse novas rotas comerciais que ligassem o litoral e os seus portos de abastecimento de mercadorias ao intricado, afastado e desconhecido “sertão” central da América portuguesa. O descobrimento e a exploração do ouro e das pedras preciosas definiram a forma de ocupação da capitania mineira. A concentração de grande quantidade de habitantes, nos centros urbanos das Minas Gerais, acelerou o desenvolvimento das novas rotas de abastecimento.
Desde o início do século XVIII, produtores rurais estabeleciam-se na circunvizinhança desses centros urbanos e ao longo dos principais caminhos que levavam às zonas mineradoras, com o intuito de fornecer os suprimentos básicos à sobrevivência daquela população.
Não só de produtores rurais vivia o abastecimento da região mineira. Para lá, também se dirigia um grande número de comerciantes ligados às casas comerciais do Rio de Janeiro, Bahia e de Portugal. Estes ofereciam aos mineiros toda a sorte de gêneros, sobretudo artigos de luxo, destinados à população mais abastada, como, por exemplo, comestíveis importados do reino, equipamentos para a mineração e instrumentos agrícolas, além de uma série de utilidades domésticas.
Os estudos das relações comerciais e dos mercadores que atuaram na capitania de Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, ganharam duas novas contribuições: os livros de Cláudia Maria das Graças Chaves, Perfeitos Negociantes: Mercadores das Minas setecentistas, e de Júnia Ferreira Furtado, Homens de Negócio: A Interiorização da Metrópole e do Comércio nas Minas Setecentistas.
Estas obras estão ligadas às novas abordagens historiográficas que vêm procurando entender a história mineira do século XVIII para além da economia mineradora. Tributárias de análises que chamam a atenção para a importância da agricultura de subsistência e a constituição de um mercado de abastecimento interno, articulado aos demais mercados regionais na época, esses estudos abarcam novas interpretações que nos ajudam a compreender a história brasileira, separando-a daquela vinculada ao grande latifúndio exportador, das discussões teóricas acerca do “tradicional” sistema colonial e dos ganhos obtidos com a atividade mineradora, assim como das teses que apontam para a estagnação da economia mineira após a retração aurífera, na segunda metade do setecentos. As autoras superam, destarte, esses temas para tratar da constituição e do desenvolvimento de um vigoroso mercado interno na América portuguesa. Em ambas, a preocupação central é analisar o comércio e os comerciantes mineiros da primeira metade do século XVIII.
A obra de Cláudia Chaves, Perfeitos Negociantes, tem por objetivo estudar a atuação dos tropeiros, responsáveis por quase todo o transporte de mercadorias destinadas ao comércio mineiro, e como se tornou possível a existência de um mercado interno que garantisse a circulação dos produtos importados e dos produzidos no interior das Minas Gerais.
Assim, compreender as Gerais, levando-se em consideração as práticas agrícolas e a formação de um mercado interno, praticados intensa e independentemente dos interesses metropolitanos, conduziu a autora a detectar a articulação dos tropeiros no transporte e no comércio de mercadorias, tanto originários de outras capitanias quanto os produzidos nas Minas.
Valendo-se dos códices da “seção colonial” do Arquivo Público Mineiro e das Câmaras Municipais de Ouro Preto, Mariana e Sabará, além dos códices dos livros de registro ou de passagem da Delegacia Fiscal — que são livros de “contagem” da capitania que contêm as anotações diárias dos fiéis desses postos sobre os produtos que circulavam no interior das Minas Gerais — o livro de Cláudia Chaves centra sua pesquisa na movimentação de mercadorias nas comarcas de Rio das Velhas e de Serro Frio.
A obra é dividida em quatro capítulos. No primeiro, “A economia colonial: velhos problemas, novas abordagens” procura, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema do mercado interno colonial, traçar alguns pontos específicos do comércio sobre o abastecimento na capitania mineira. A seguir, em “O mundo do comércio nas Minas setecentistas”, identifica os principais agentes do comércio mineiro, as suas regras e as taxas que incidiam sobre esta atividade.
No terceiro (“Um negócio bem sortido: as mercadorias do comércio mineiro”) e quarto (“Perfeitos negociantes: mercadores das Minas setecentistas”) capítulos, trabalhando especificamente com a documentação fazendária, Cláudia Chaves procurou levantar as rotas que levavam às Minas e os produtos que passavam pelos postos fiscais localizados naqueles caminhos. É nesse momento que encontramos a presença de personagens como Manoel Gomes Cruz, que comerciava com várias regiões das Minas Gerais e com outras capitanias, passando por vários registros, anos sucessivos, com grandes carregamentos. Ou ainda, e em grande número, diversas outras pessoas, como Antônio, Francisco, João, José, Juliana — todos “fulanos de tal” (são nomeados na obra) — que andavam pelos caminhos comercializando pequenas e variadas cargas. Comerciantes eventuais que, em muitos casos, passavam uma única vez pelos registros para vender prolongamentos de suas lides produtivas — milho, feijão, linho, açúcar, arroz, trigo, etc.
Assim, enquanto Cláudia Chaves estuda os pequenos e “itinerantes” comerciantes, Júnia Furtado analisa em Homens de Negócio a correspondência trocada entre o grande homem de negócio português Francisco Pinheiro e seus agentes comerciais, que se localizavam nas comarcas de Rio das Velhas, Serro Frio e Ouro Preto, em Minas Gerais, entre os anos de 1712 e 1744.
O livro de Júnia divide-se em quatro capítulos. No primeiro (“Fidalgos e, lacaios”) apresenta o que é ser comerciante no Brasil e em Portugal no século XVIII. Trata neste item das origens da classe mercantil, sua distinção em Portugal como cristão-novo, a ordenação das companhias privilegiadas de comércio, o papel do ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde marquês de Pombal, no desenvolvimento do comércio luso-brasileiro. Assim como da intrincada rede comercial, que os agentes comerciais portugueses estabeleceram no além-mar, fazendo com que vários interesses metropolitanos aqui se enraizassem e se misturassem aos dos mineiros, ocorrendo o que Maria Odila Leite da Silva Dias nomeou de “a interiorização dos interesses metropolitanos na colônia”1. Idéia central da obra Homens de Negócio, de Júnia Furtado.
Ao longo do segundo capítulo (“O fio da narrativa”), do terceiro (“As Minas endemoniadas”) e do quarto (“Negociantes e caixeiros”), percebemos que havia duas ordens de interesses circundantes nas práticas comerciais. A primeira refere-se aos interesses portugueses que se expandiam nas Minas Gerais por meio de atividades mercantis, como o controle do abastecimento, a arrecadação de impostos sobre o transporte e o comércio de mercadorias nos registros e nas lojas abertas nos centros urbanos, e os mecanismos de endividamento da população que ficavam nas mãos dos comerciantes. A segunda dizia respeito aos interesses dos agentes de Francisco Pinheiro que, por outro lado, enraizavam-se em outras atividades comerciais, como a pecuária, a agricultura e a mineração, sendo estas práticas econômicas difíceis de serem, muitas vezes, definidas como puramente metropolitanas, uma vez que seus interesses estavam tão enraizados na terra. Esses comerciantes passavam também, com o transpor dos anos, a atuar como colonos.
A figura central da documentação estudada na obra — Francisco Pinheiro — era extremamente atenta aos seus negócios, como se percebe pelo montante de correspondência analisada por Júnia. Esses documentos estão pontilhados de instruções, repreensões e exigências quanto ao cumprimento de suas instruções e à manutenção da ordem na prestação de contas devidas. Sua fortuna foi feita à sombra da corrida do ouro, na primeira metade do século XVIII. Portanto, ao utilizar as correspondências comerciais, os inventários e/ou testamentos de 212 negociantes que atuaram nas Minas na primeira metade do setecentos e que tinham ligações com Francisco Pinheiro, assim como livros de devassas das visitações eclesiásticas, Júnia Furtado procurou acompanhar o processo de expansão e interiorização da colônia para o interior da América portuguesa. O relato de acontecimentos cotidianos, tanto públicos quanto privados, que existiram naquela época e que repercutiram nas práticas comerciais: motins, fome, intempéries, cobranças de impostos e inépcia de administradores são assuntos tratados pela autora em sua obra.
Cláudia Chaves e Júnia Furtado levam-nos instigantemente a penetrar no universo setecentista, em que as práticas comerciais permitem-nos pensar nos mecanismos metropolitanos, para levar o seu poder ao interior das Minas Gerais através das práticas comerciais e das redes informais de comerciantes que se estabeleceram nas diversas partes do reino e da América portuguesa. Tanto assim que, em 1732, o secretário das Minas enviou representação ao rei dom João V, comentando que Minas Gerais era, “e foi sempre, a capitania de todos os negócios”2. Negócios sortidos e de pequeno porte, como estudou Cláudia, e/ou grandes empreendimentos comerciais, como pesquisou Júnia.
Enfim, vendia-se nas Gerais toda a sorte de gêneros da América e de outras partes do mundo. Os mercadores mineiros especializaram-se em tudo para se tornarem perfeitos negociantes, como nos indicou Cláudia Chaves no título de sua obra.
Notas
* São Paulo: Annablume, 1999, 184p. (Selo Universidade. História, 87).
**São Paulo: Hucitec, 1999, 289p. (Estudos Históricos, 38).
1 Conferir: DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “A interiorização da metrópole (1808 — 1853)”. In MOTA, Carlos Guilherme (org.). 1822: dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1982, pp. 160–184.
2 “Representação do secretário das Minas ao rei, 1732”. Arquivo Público Mineiro. Seção Colonial, Códice 35. In FURTADO, Júnia. Homens de negócio: a interiorização da metrópole e do comércio nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999, p. 197.
André Figueiredo Rodrigues – Mestre-História/USP
[IF]Sob a sombra de Mussolini: os italianos de São Paulo e a luta contra o fascismo, 1919-1945 | João Fábio Bertonha
A emergência e afirmação de regimes políticos autoritários, impulsionados por idéias e princípios antidemocráticos, constituíram duas das características mais evidentes do entreguerras, a tal ponto que o “breve século XX” de Eric Hobsbawm já tinha sido batizado de “século das ideologias” por diversos historiadores que o precederam. Nesse conjunto de regimes autocráticos, o regime fascista inaugurado por Mussolini representou, sem dúvida, um paradigma do antiliberalismo, representando tanto do ponto de vista prático como teórico o protótipo do que ele mesmo chamou de “Estado totalitário”, termo depois estendido por Hannah Arendt para cobrir a modalidade soviética de poder político absoluto. Muitos historiadores e cientistas políticos, entre eles François Furet de O passado de uma ilusão, consideram aliás que o fascismo se desenvolveu especificamente em reação ao bolchevismo, dele retirando entretanto diversos elementos substantivos e formais, pois que combinando o estatismo do planejamento socialista e o monopólio do poder pelo partido único com uma ideologia anticapitalista e supostamente igualitária, como no caso da ideologia marxista. Leia Mais
Nem tudo era italiano. São Paulo e pobreza (1890-1915) | Carlos José Ferreira dos Santos
A primeira impressão que o livro de Carlos José suscita é de espanto. Será possível que ele pretenda refutar a imensa influência da imigração européia no crescimento e na transformação da cidade de São Paulo entre fins do século XIX e início do XX? Mais especificadamente, será que ele pretende negar a esmagadora presença física e cultural dos italianos na população paulistana e o seu papel decisivo na industrialização e nas lutas operárias daquele momento, conforme décadas de trabalho historiográfico tem demonstrado? [1]
Essa impressão se desvanece com facilidade na leitura do trabalho. Longe de negar o poder do dilúvio italiano que mudou profundamente a vida da cidade naquele período, ele procura anexar a este contexto um dado novo e relativamente pouco explorado: a presença de uma população de trabalhadores pobres nacionais, via de regra negros, que deram uma contribuição decisiva à vida da cidade daqueles anos, mas que permanecem escondidos nas brumas da História. Leia Mais
Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos | Eduardo França Paiva
Resenhista
Tarcísio Rodrigues Botelho – Professor Assistente do Departamento de História da UFG. Doutorando em História Social pela USP.
Referências desta Resenha
PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: Faculdades Integradas Newton Paiva, 1995. Resenha de: BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. História Revista. Goiânia, v.1, n.2, p.135-138, jul./dez.1996. Acesso apenas pelo link original [DR]