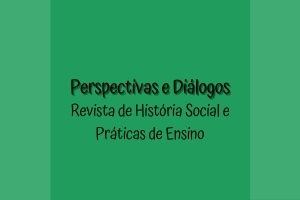HISTÓRIA
A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet – TEIXEIRA (A)
TEIXEIRA, Maria Juliana Gambogi. A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. 312p. Resenha de: PEREIRA, Renato Fagundes. Por uma nova leitura de Michelet no Brasil. Antítese, v. 11, n. 22, 2018.
No século XIX, algumas obras de Jules Michelet foram trazidas ao Brasil, isso se deve, em partes, ao sucesso de L’Oiseau (1857) em Paris, (onde estimava-se a venda de trinta e três mil unidades), embora a recepção de suas ideias tenha ocorrido principalmente na segunda metade do século XX, com as primeiras traduções das obras historiográficas e teóricas do movimento dos Annales (Lucien Febvre nunca negou o legado micheletiano em suas análises). A partir da década de 1970, as ideias de Michelet chegam ou por aqueles que discutiam a história e a metodologia dos Annales ou por aqueles que começavam a refletir sobre a crise dos paradigmas na historiografia -A presença de Jules Michelet é marcante nos livros de Peter Burke e Dosse sobre os Annales, por exemplo, e nos argumentos de Paul Veyne, Michel de Certeau, Jacques Rancierè e Hayden White sobre as ficcionalidades da história.
Muitos estudos foram publicados no Brasil, os quais assinalam a importância de Jules Michelet como precursor dos Annales, da história das mulheres, do povo e da cultura, mas, raros são aqueles que se esforçaram em compreender o historiador no movimento do seu próprio pensamento, no élan-criador do conhecimento histórico e na historicidade do próprio autor. Nesse sentido, não são exageros as palavras Jean-Michel Rey sobre a modéstia do subtítulo, A feiticeira de Jules Michelet, no recém-lançado livro A profetisa e o historiador de Maria Juliana Gambogi Teixeira.
A professora da UFMG retoma sua tese doze anos depois de sua defesa, são quase três décadas dedicadas a finco à pesquisa das ideias micheletianas, e nos proporciona uma leitura singular, inaudita, principalmente, entre nós, brasileiros, acostumados com a recepção do autor da L’Histoire de France, pelos herdeiros dos Annales. Essa distinção se assenta pelo vínculo de Gambogi Teixeira com o grupo formado por Paul Viallaneix e Paule Petitier. Esses dois especialistas na obra micheletiana realizaram nas últimas décadas um trabalho árduo de muita riqueza, descobrindo e publicando textos inéditos de Michelet, organizando coletâneas, bibliotecas e seminários – podemos destacar o seminário Michelet hors fronteires e a bibliothèque Jacques Seebacher, ambos com a coordenação da professora da Universidade Diderot, Paule Petitier.
O livro é dividido em três partes com dois capítulos cada um. A parte um, O Tenebroso Mar de La Sorcière é preciosa para compreender a trama que atravessa todo o livro: A Feiticeira, obra publicada por Michelet, em 1862. Enganar-se-ia quem imaginasse encontrar nessas páginas apenas a história de um livro. Trata-se de um esforço mais profundo, na tentativa de constituir no interior da obra monumental de Jules Michelet o caminho da feitiçaria como objeto, suas inflexões e seus delineamentos, durante mais de meio século de produção do historiador. A análise do próprio texto, A Feiticeira, se apresenta, principalmente, no capítulo dois, no entanto, ela não acontece fora de um solo, como gostava de afirmar o próprio Michelet, e sim dentro de um plano de imanência micheletiano, que só é possível por uma conhecedora dos arquivos e das ideias do século XIX.
A parte dois do livro, História ao Pé da Letra, representa uma contribuição das mais notáveis: a história da historiografia e a teoria da história. Gostaríamos de insistir na novidade dessa análise no Brasil e em textos em língua portuguesa. A autora retoma o vínculo entre Michelet e Vico, explorado desde o século XIX, para romper com ele e demonstrar no contexto das ideias o débito viconiano, enfatizando as rupturas e as criações micheletianas. A questão da lenda e da cultura popular, familiar ao romantismo, emerge no capítulo final dessa parte. Particularmente, os dois capítulos que fazem parte desse recorte são os quais a pesquisadora mais me surpreende pelo gênio de articulação e uma consistência de domínio teórico, cuja finalidade é estabelecer a relação entre o lendário, a história e o ficcional em Jules Michelet.
Na última parte do livro, Verso e Avesso da Narrativa, Gambogi conduz sua reflexão da obra micheletiana no movimento de mão-dupla: da constituição do seu pensamento, no esforço intelectual de escrever história, concentra-se na Feiticeira e no fenômeno da feitiçaria e no interior das questões pessoais, políticas e sociais enfrentadas pelo autor. Não por acaso, a tese da autora sobre La Sorcière passa pela associação de Jules Michelet com a Revolução de 1848, na França: Projetando tal hipótese sobre o cenário aberto por 1848, parece-nos possível pensar que, menos do que um interesse circunscrito em catalogar e diagnosticar o destino pontual dos movimentos revoltosos, o pensamento de Michelet tenha se voltado para, em La Sorcière para o que sempre fora seu centro: a condição de inteligibilidade da história moderna. Já há muito, o historiador fincara essa condição num campo de entendimento em que se conflitam dois princípios diversos, porém imbricados em seu destino: o princípio da Revolução e o princípio do cristianismo (p.203).
Renato Fagundes Pereira – Professor do Curso de História da Universidade Estadual de Goiás – UEG. -E-mail: [email protected].
Fontes Documentais | IFS | 2018
A Revista Fontes Documentais (Aracaju, 2018-) é uma publicação científica com periodicidade quadrimestral e de fluxo contínuo, organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em História das Bibliotecas de Ensino Superior – GEPHIBES, vínculado ao Instituto Federal de Sergipe – IFS, com o objetivo de atuar como um veículo difusor e fomentador da produção acadêmica. Destina-se à divulgação de trabalhos gerados a partir de pesquisas originais, relatos de experiência, estudos bibliográficos, pesquisas em andamento, resumos expandidos e entrevistas desenvolvidas tanto no estado de Sergipe quanto em outras regiões brasileiras e/ou em outros países. As áreas de abrangência são:
- Ciência da Informação
- Biblioteconomia
- Documentação
- Arquivologia
- Museologia
- História da Educação
- Áreas afins relacionadas com cultura, memória e representação
Periodicidade quadrimestral
Acesso livre
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Bantu | UEMG | 2018-2018
Bantu – Revista de de Educação, História e Patrimônio Cultural (Ibirité, 2018-2018) surgiu a partir de uma antiga aspiração de docentes e discentes da Unidade Acadêmica UEMG de Ibirité (MG).
Seu nome procura referenciar a pluralidade cultural humana, reverenciando também com isso a formação social brasileira.
O periódico publica trabalhos inéditos que contemplem temas que interdisciplinares ou não, gravitem pela Educação, História e Patrimônio Cultural.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2595-9506.
Acessar resenhas [Não publicou resenhas no ano 2018]
Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal 1850-1888 | Mrco Aurélio dos Santos
Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal, 1850-1888, do historiador Marco Aurélio dos Santos, é mais uma das recentes contribuições para a historiografia brasileira que estuda a escravidão. Originário da tese de doutorado do autor, defendida no ano de 2014 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, o trabalho revisita temas clássicos do debate acerca do passado escravista brasileiro. Autonomia escrava, roças cultivadas pelos cativos, formação de comunidades solidárias que uniam escravizados na luta contra as agruras do cativeiro e, em sentido mais geral, a oposição entre possibilidades e constrangimentos estruturais para a agência escrava são alguns dos aspectos retomados pelo historiador e que perpassam o texto.
O município de Bananal já foi bastante estudado, visto que se constituiu em um dos principais produtores de café do Brasil das primeiras décadas do século XIX.[1] No decênio de 1850 a localidade passou a ser a maior produtora de café da província de São Paulo, tendo alcançado o ápice de sua produção na década seguinte. A participação dos escravizados na composição total da população da localidade foi a maior entre os principais municípios do Vale do Paraíba Paulista, alcançando percentual de 53% (p. 35-37). Dessa forma, a chegada da rubiácea na região alterou profundamente a demografia da localidade. As relações sociais e políticas, pautadas pelas assimetrias características do escravismo, também sofreram mudanças drásticas em curto espaço de tempo. Isso sem mencionar toda a carga cultural trazida pelas levas de africanos introduzidos abruptamente na região via tráfico internacional ou interno de escravos.
O recorte cronológico privilegiado pelo autor é outro ponto bastante recorrente na historiografia da escravidão, na medida em que suas balizas marcam dois momentos centrais do passado escravista brasileiro. O livro aborda o intervalo temporal compreendido entre o final do tráfico internacional de escravos (1850) e o colapso da escravidão no Brasil (1888).
Se os pontos acima destacados, recortes geográfico e cronológico, não são propriamente inovadores, Marco Aurélio dos Santos agrega ao debate sobre escravidão e resistência cativa o estudo do elemento espaço. Mais precisamente, o autor estuda a espacialidade das fazendas cafeeiras escravistas. Por espacialidade entende a soma da cultura material (espaço material), das relações sociais (espaço social) e das interpretações e apropriações dos espaços (espaço cognitivo). (p. 26-28).
Subsidiado pela concepção acima, o argumento central que o autor sustenta é que, a um só tempo, o espaço agrário das zonas de produção cafeeira constituiu-se tanto em instrumento de dominação senhorial como em estratégia para resistência escrava. No primeiro sentido os senhores escravistas pensaram e utilizaram a espacialidade como mecanismo de imposição e de facilitação da ordem. No segundo viés os espaços foram ressignificados pelos cativos, que fizeram usos alternativos diferentes daqueles para os quais foram projetados. É fundamental para o entendimento do argumento a concepção, explicitada desde a introdução do trabalho e frequentemente retomada pelo autor, de que os espaços não são estáticos nem neutros. Muito pelo contrário, ganham sentido e significado por meio dos usos que os seres humanos fazem deles. Dessa forma, a espacialidade é entendida como somatória dos diversos espaços e como campo de ação. No caso em questão das fazendas de produção cafeeira de Bananal, puderam servir tanto para dominar quanto para resistir, a depender das intencionalidades dos indivíduos que atuaram e que interagiram com os espaços (p.21-28).
Marco Aurélio dos Santos construiu seu objeto de pesquisa proposto – a utilização plural dos espaços agrários de Bananal – primordialmente por via de uma série de processos criminais que envolveram cativos, independentemente da forma como apareceram: réus, vítimas, informantes ou testemunhas. Foram utilizados 146 processos distribuídos de forma desigual pelas décadas contempladas, com prejuízo para o decênio 1850, com apenas 4 processos.[2] Embora tenha trabalhado com documentação criminal, os crimes propriamente ditos não foram o aspecto central objeto da atenção do autor. A leitura e análise das fontes focou a interação dos personagens com a espacialidade: “A criminalidade de escravos e homens livres terá interesse apenas circunstancial. Partindo do par de conceitos controle/resistência, realizou-se uma leitura das fontes documentais que priorizou a análise da ação dos sujeitos no espaço” (p. 24).
Geografia da Escravidão está organizado em 3 capítulos, muito bem demarcados e antecedidos por uma consistente introdução na qual o autor apresenta e discute seus pressupostos teóricos, suas fontes e metodologia, com as ressalvas feitas acima, seus objetivos e argumentos centrais e específicos. Finaliza a introdução um breve histórico da localidade de Bananal no período selecionado, justificando os recortes temporais e espaciais da pesquisa.
No primeiro capítulo Marco Aurélio dos Santos se dedica ao estudo da espacialidade pelo viés dos proprietários escravistas, a geografia senhorial. Toda a constituição da arquitetura das fazendas cafeiculturas fora pensada com o intuito de favorecer o controle, a ordem, a otimização da produção, a fiscalização e a redução da mobilidade dos cativos. O livro traz no capítulo imagens e fotografias que contribuem para a argumentação do autor. Via de regra, as fazendas eram projetadas em quadriláteros funcionais que objetivavam o controle sobre o interior do quadrado. Todos os edifícios (senzalas, casas de vivenda e espaços de armazenamento e beneficiamento da produção) ficavam dispostos em quadra. Os demais espaços que as fazendas continham também seguiam o mesmo propósito de controle e disciplina: a enfermaria sempre trancada e de acesso restrito, o portão da fazenda que delimitava o espaço de mobilidade dos escravizados, o sino que disciplinava o tempo, as roupas que caracterizavam a condição cativa, os investimentos dos senhores sobre o corpo dos escravos (ferros no pescoço, por exemplo) contribuíram para a composição da geografia senhorial. O autor argumenta ainda que nos espaços públicos fora das fazendas, a movimentação e o tempo dos escravos eram disciplinados pelos Códigos de Posturas Municipais. A mecânica do funcionamento de todo este aparato foi percebida nos processos criminais utilizados.
No segundo capítulo, Marco Aurélio dos Santos destaca a noção de vizinhança como espaço social paulatinamente construído e como ação social articulada em espaço mais amplo, para além das fazendas. Importante também a abordagem ampliada sobre as redes de relacionamentos constituídas pelos escravizados. Durante muito tempo vistas pela historiografia como sinônimo de solidariedade, Marco Aurélio dos Santos amplia o olhar sobre as redes de relacionamentos entre os escravos. A solidariedade poderia ser apenas uma das possibilidades. No entanto, não raramente, as redes congregavam elementos contraditórios e foram também potencialmente conflituosas. O autor cita eventos que ilustram as possibilidades de mobilidade dos escravos, algumas consentidas pelos senhores, outras não. Constituíam assim redes de relacionamentos com escravizados de outros plantéis, passavam por caminhos que cruzavam outras fazendas e se relacionavam com homens livres, alforriados, comerciantes e demais personagens do mundo agrário e urbano da localidade de Bananal no período analisado.
No último capítulo de Geografia da Escravidão, Marco Aurélio dos Santos lança mão de forma mais abundante da documentação para estudar a “geografia dos escravos”, composta de usos alternativos dos espaços de plantação e do tempo. São vários os casos relatados de escravos que se apropriaram de uma espacialidade aparentemente hostil para encontrar alternativas para suavizar, resistir e até mesmo questionar a condição servil. Bastante elucidativo é o caso do escravo Constantino, cativo de Braz Barboza da Silva. Constantino foi libertado pelo Fundo de Emancipação em 1883. Porém, o senhor omitiu-lhe a informação. O detalhe interessante é que Constantino tinha mobilidade consentida para fora dos limites da fazenda para realizar tarefas demandas por seu senhor. Em uma dessas andanças ficou sabendo da própria ao entrar em contato com um indivíduo livre. O caso exemplifica uma das formas de lidar com a espacialidade projetada para controle e disciplina. Nas palavras do autor “Malgrado o funcionamento rotineiro da mecânica do poder senhorial, foi possível perceber que os escravos construíram uma geografia própria a partir dos conhecimentos de suas movimentações autorizadas para além do espaço de plantação” (p.30). O capítulo ainda aborda as fugas do cativeiro, definindo-as como o momento mais emblemático dos usos alternativos dos espaços de plantação. Não obstante a eficácia da geografia senhorial por todos os seus aparatos disciplinares, o capítulo demonstra claramente que os recursos para controlar e disciplinar os cativos não foram suficientes para conter movimentações e usos alternativos pelos próprios cativos.
Talvez caibam duas ponderações sobre a forma como Marco Aurélio dos Santos apresenta as fontes selecionadas. A primeira, de ordem metodológica e a segunda, de estética. A documentação utilizada não é alvo de uma apreciação crítica, visto que o autor não discute seus limites e possibilidades. Algumas reflexões seriam pertinentes. Por exemplo: quais os contextos de produção da documentação? Os escravos falam por si mesmo ou têm representantes? Quem eles seriam e quais suas intencionalidades? Em que medida tomar a utilização da espacialidade por meio dos processos criminais é representativo do cenário que o autor buscou retratar? Trazer para o texto essas e outras questões, que muito provavelmente acometeram o autor em algum momento da pesquisa, não invalidariam de forma nenhuma os resultados do trabalho. Somente lançariam luz sobre os limites e as possibilidades que o historiador encontra na relação com o passado e com seu objeto de pesquisa, além de esclarecer os métodos empregados.
Outra ponderação importante diz respeito à organização do trabalho. A forma como Marco Aurélio dos Santos optou por estruturar a narrativa deixa os capítulos compartimentados, talvez excessivamente esquemáticos. As partes acabaram por ser tornar demasiadamente estanques. O primeiro capítulo trata da espacialidade do ponto de vista senhorial, ao passo que o terceiro o faz da perspectiva dos cativos. Caso o autor tivesse feito uma opção mais dialógica, o texto se tornaria mais fluído, dinâmico e, principalmente, mais condizente com a realidade dialética que se propôs abordar, visto que os embates entre a geografia senhorial e a geografia escrava se davam de forma imbricada e emaranhada, não em tempos e formas separadas. Por mais que tenha sido uma opção didática perfeitamente compreensível, a organização do livro torna os capítulos 1 e 3 completamente independentes um do outro.
Um último ponto que causa estranheza no texto de Marco Aurélio dos Santos é a ausência de uma discussão que tem sido bastante recorrente e profícua entre os pesquisadores da escravidão que tomam por base o trabalho de Dale Tomich.[3] Este autor considera que a escravidão e o tráfico atlântico do século XIX não foram meras continuidades dos séculos anteriores. Nos Oitocentos assumiram características diversas, constituindo na verdade uma Segunda Escravidão. O trabalho cativo teria se reconfigurado de modo ainda mais potente, em alinhamento com a nova fase de desenvolvimento da economia mundial, sob égide da hegemonia britânica. Algumas das características apontadas por Tomich nessa nova fase das relações escravistas guardam íntima relação com o objeto de pesquisa proposto em Geografia da Escravidão. Entre outros elementos, a dinâmica peculiar do século XIX foi trazida pela expansão de zonas produtoras de artigos tropicais que tinham elevada e crescente demanda nos países centrais da Europa e nos EUA: o café (com grande participação da produção brasileira), o algodão e o açúcar. Ao negligenciar estranhamente esta discussão, visto que o autor dialoga frequentemente com historiadores que levam em conta as formulações de Tomich [4], o livro deixa de incorporar e conectar seu objeto de pesquisa com dinâmicas mais amplas da política e das relações internacionais, exercício recente e profícuo entre os pesquisadores da escravidão.
No entanto, transcorridas as páginas de Geografia da Escravidão, fica a certeza de que o autor cumpriu muito bem a árdua tarefa de trazer novos e originais elementos para um dos mais ricos debates da historiografia brasileira.
Notas
1. Marco Aurélio dos Santos dialoga com vários trabalhos sobre a localidade. A título de exemplo da produção historiográfica que privilegiou o recorte espacial de Bananal, somente no âmbito da história demográfica dois importantes trabalhos que abordaram a localidade em diferentes momentos do desenvolvimento da lavoura cafeeira foram: MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava no Brasil (1801-1829). São Paulo: Fapesp, Annablume, 1999. MORENO, Breno Aparecido Servidone. Demografia e trabalho escravo nas propriedades rurais cafeeiras de Bananal, 1830-1860. Dissertação (Mestrado em História Social) FFLCH/USP, São Paulo, 2013.
2. Conforme mencionado, a série de processos criminais constitui a fonte principal da pesquisa. De forma episódica foram utilizados pelo autor outras fontes: 27 inventários post-mortem, Códigos de Postura da Câmara Municipal de Bananal (1865 e 1886), livro do Fundo para Emancipação de escravos, ofícios diversos, Livro de Casamento de escravos, periódicos, relatos de viajante etc.
3. Embora o autor cite entre suas referências bibliográficas um dos trabalhos de Tomich na versão em língua inglesa e mencione o conceito na página 19 da introdução, a discussão sobre a Segunda Escravidão está ausente do texto, bem como a referência a versão em português do livro do autor. TOMICH, Dale W. Pelo Prisma da Escravidão: Trabalho, Capital e Economia Mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
4. Por exemplo: BERBEL, M., MARQUESE, R. B. e PARRON, T. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. MARQUESE, R. B.; SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
Referências
BERBEL, M., MARQUESE, R. B. e PARRON, T. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. MARQUESE, R; B., SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
MORENO, Breno Aparecido Servidone. Demografia e trabalho escravo nas propriedades rurais cafeeiras de Bananal,1830-1860. Dissertação (Mestrado em História Social) – FFLCH/USP, São Paulo, 2013.
MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava no Brasil (1801-1829). São Paulo: Fapesp, Annablume, 1999.
TOMICH, Dale W. Pelo Prisma da Escravidão: Trabalho, Capital e Economia Mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
Fernando Antonio Alves da Costa – Doutor em História Econômica pelo PPGHE da FFLCH-USP. E-mail: [email protected]
SANTOS, Marco Aurélio dos. Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal, 1850-1888. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. Resenha de: COSTA, Fernando Antonio Alves da. A Resistência escrava revisitada: a espacialidade como elemento central. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 517-524, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões – RODRIGUES; aguiar
RODRIGUES, André Figueiredo; AGUIAR, José Otávio (orgs). História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões. São Paulo: Humanitas, 2017. Resenha de: SÀ, Charles Nascimento de; OLIVEIRA, Cintia Gonçalves Gomes. Nos caminhos da fé: história, religião e religiosidade da Antiguidade ao mundo contemporâneo Antítese, v. 11, n. 21, 2018.
Composto por uma coleção de artigos de diferentes autores, o livro História, Religiões e Religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões, tem como organizadores: André Figueiredo Rodrigues, professor da UNESP/Assis, e José Otávio Aguiar professor da UFCG. Sua proposta é de abordar o debate sobre a religiosidade nos diferentes contextos da História, desde a Antiguidade Clássica até a atualidade, perpassando diferentes culturas, práticas, cultos, dogmas, levando o leitor a pensar não somente nas diferenças existentes entre as religiões, mas também no quanto tais particularidades são importantes para a composição das sociedades e da própria História. Por se tratar de uma obra coletiva o livro, tem a capacidade de contemplar múltiplas falas e uma diversidade de olhares sobre seu objeto de estudo. Este elemento representa um ganho ao conjunto da obra, mas, como todo trabalho coletivo fica a dever sempre que um assunto interessa mais ao leitor, e este não tem a possibilidade de maiores páginas para aprofundar o estudo.
Os textos reunidos em História, Religiões e Religiosidade foram organizados em quatro partes: Identidade, religiosidades e Antiguidade Clássica; Religiões, recepções e impérios Ultramarinos; Universo católico e problemas de História Contemporânea e Protestantismo, espiritismo e religiões Orientais no presente. Todos eles se apresentam de forma clara e os organizadores tiveram o cuidado de sistematizá-los no livro de modo a ficarem conectados, como se um texto conduzisse ao outro. Assim, a primeira parte do livro, composta por quatro ensaios e com o título “Identidade, religiosidades e Antiguidade Clássica”, tem como foco estudos sobre a Antiguidade Clássica e seus reflexos e receptibilidade na sociedade contemporânea e se inicia com o ensaio de Aila Luzia Pinheiro de Andrade, no qual a autora reflete sobre a crise de identidade cristã, bem como os desafios da atualidade ligados a tal identidade, como a questão da fé em Jesus ou mesmo o conceito de messias, tanto para o judaísmo quanto para os primeiros grupos que seguiam os ensinamentos de Jesus.
Em seguida, Nelson de Paiva Bondioli e Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi, propõem ao leitor analisar as ações dos Principes Julio-Claudianos, considerando o imaginário que os circundavam e a sua inter-relação com os ideais de tradição e transgressão religiosa, bem como compreender as consequências de tais condutas para seus governos e mesmo para a construção da identidade dos povos romanos do período.
A questão das identidades judaicas é retomada com Fernando Mattiolli Vieira, que chama a atenção para o debate sobre a importância da busca e do reconhecimento da identidade do grupo detentor dos manuscritos de Qumran, uma grande incógnita para os historiadores do assunto, mas que se faz fundamental, pois, todas as análises dos manuscritos são pautadas na organização social e religiosa do grupo, em suas bases culturais e identitárias.
Fechando esta parte inicial do livro, Haroldo Dutra Dias examina os estudos históricos sobre Jesus, que possuem como fonte documentos dos primeiros séculos do cristianismo, dando destaque a suas cronologias e como tais estudos são apropriados e dialogam com informações e dados da doutrina espírita no Brasil, numa relação de complementação de informações e na busca pela solução de questões ainda não respondidas.
A segunda parte do livro, “Religiões, Recepções e Império Ultramarinos”, volta-se para a questão da religiosidade e suas diferentes perspectivas e particularidades nas possessões portuguesas e inglesas. Abrindo esta parte, André Figueiredo Rodrigues analisa a sociedade mineira dos setecentos, mostrado o convívio entre os indivíduos, principalmente entre os religiosos e clérigos e o restante da população que vivia nos entornos das minas e nas cidades, além da relação entre a Igreja local e a Coroa, com suas disputas, reclamações e abuso de poder. Ainda sobre Minas Gerais no século XVIII, Jeaneth Xavier de Araújo Dias investiga a história das festas religiosas de Minas, sua importância para a população do período, a preocupação do povo com a organização e a beleza das mesmas, utilizando para tanto a chamada arte efêmera, com seus ornatos, cenários e decorações. Neste ambiente, a autora mostra que em vários momentos ocorreu a combinação das festas religiosas cristãs com datas e comemorações da Antiguidade grega e romana.
Deixando um pouco o continente americano, o foco volta-se para as possessões inglesas na África, com o texto de Lúcia Helena Oliveira Silva, o qual nos mostra o surgimento e atuação da Church Missionaire Society – CMS e os relatos de indivíduos africanos convertidos, os artifícios utilizados por bagandas e missionários anglicanos tanto para a conversão religiosa quanto para as negociações, além de salientar os paradoxos ligados a tais eventos e suas consequências para os grupos envolvidos.
De volta a América, Joaci Pereira Furtado analisa a poesia árcade em Portugal e em sua possessão americana, procurando explicar, de modo detalhado, os motivos que levaram à referência e mesmo a presença de elementos da cultura clássica, principalmente, o paganismo nestes escritos. Para tanto, volta-se para o contexto da segunda metade do século XVIII e início do século XIX, mostrando os jogos e as disputas de poder num momento no qual o movimento ilustrado tinha influência não somente no Reino, mas também em seus domínios. A questão da literatura igualmente se faz presente nas ponderações de Gustavo Henrique Tuna, o qual estuda a presença de escritos religiosos na livraria de Silva Alvarenga, tida como uma das mais relevantes do período colonial. Além de revelar as transformações na constituição das livrarias da América portuguesa, seu trabalho também evidencia as mudanças de pensamento em relação à religião e sua posição na sociedade.
No artigo seguinte, Renato da Silva Dias realiza uma investigação das argumentações presentes no discurso do padre Manoel Ribeiro da Rocha em defesa em defesa do tráfico e posse de escravos africanos no Brasil, além de ressaltar a utilização por parte do religioso não somente de fundamentos religiosos, mas também de pressupostos jurídicos, empregados com o intuito de embasarem a legalidade de seu ponto de vista. Nesta mesma linha de análise, Rubens Leonardo Penagassi problematiza, tendo por base o contexto e os pensamentos do início da Época Moderna, os relatos e descrições alimentares feitos pelos jesuítas das populações nativas da América Portuguesa, evidenciando como tais escritos acabam por delimitar e caracterizar as identidades dos grupos envolvidos.
O último artigo desta segunda parte do livro, de Paula Ferreira Vermeersch versa sobre o patrimônio artístico e cultural brasileiro, tomando como exemplo a análise a Igreja Matriz de Sant’Ana, composta por a arquitetura de taipa, sistema de construção colonial típica dos setecentos no Brasil colonial. Para desenvolver suas investigações, a autora mostra o quão importante é conhecer e realizar um exame cuidadoso não somente da história e da documentação que envolve o patrimônio a ser estudado, mas também analisar criteriosamente do próprio prédio. Isso porque, pequenos traços ou modificações realizadas no decorrer do tempo auxiliam no desenvolvimento do trabalho e até mesmo gera a possibilidade de reconstruir ou preencher lacunas e perguntas ainda em aberto.
A metade final dedica-se a temas contemporâneos brasileiros. Se até aqui o mundo antigo e partes das conquistas europeias na Idade Moderna foram abordados nos textos iniciais, as duas últimas partes do livro dedicam-se ao Brasil contemporâneo e sua religiosidade. Nesse sentido uma maior pluralidade de elementos são aí discutidos: Igreja católica e sua importância no sociedade; espiritismo, protestantismo e suas concepções, e dois artigos sobre religiosidade hindu ou de matiz indiana.
A terceira parte dessa trama dedica-se ao estudo do mundo católico brasileiro no período republicano. Os trabalhos presentes passeiam pelas mudanças vivenciadas pela Igreja Católica. O primeiro artigo, da pesquisadora Patrícia Teixeira Santos, estuda a proposta sobre a civilização do amor do Papa Paulo VI e sua influência sobre os países do Terceiro Mundo, de modo particular no Brasil e em Moçambique. Em seguida, Milton Carlos Costa, versa sobre a militância do intelectual católico Jonathas Serrano nas primeiras décadas do século XX no Brasil.
Jorge Miklos e Adriano Gonçalves Laranjeira analisam a imprensa católica em São Paulo no período da Ditadura Civil-Militar com a importante atuação do cardeal D. Paulo Evaristo Arns e sua defesa dos direitos humanos e as contendas envolvendo este pastor e outros líderes da Igreja. Nesse texto abordam-se as variantes de concepções que nortearam o pensamento católico e sua relação com a sociedade e a política nacional.
A seguir tem-se um interessante texto sobre a demonização das igrejas protestantes no universo da literatura de cordel. Elemento fundamental para a cultura sertaneja no Nordeste brasileiro, o cordel e o repente são instrumentos com os quais os artistas populares representam, em sua simbologia, aspectos da vida cotidiana dos moradores do sertão. Neste texto é analisado como a expansão do protestantismo na primeira metade do século XX foi vista por esses artistas. A abordagem aqui fica a cargo de Francisco Cláudio Alves Marques e Esequiel Gomes da Silva. Tem-se ainda um texto sobre a importância da religiosidade católica e seu uso no desenvolvimento turístico, tema sempre recorrente em estudos que abordam essa área, sendo analisado aqui o Círio de Nazaré em Belém em trabalho de Elder P. Maia Alves e Greciene Lopes dos Santos. Encerrando esse terceiro momento do livro há um estudo sobre a coleção Reconquista do Brasil, lançada na segunda metade do século XX e sua abordagem sobre a religião católica e o patrimônio cultural nacional feita por Gisella de Amorim Serrano.
A última parte a compor o livro destaca estudos sobre protestantismo, espiritismo e religiosidade com matiz indiana. São seis textos, dois abordando cada tema. No primeiro texto Iranilson Buriti de Oliveira e Roseane Alves Brito fazem interessante trabalho sobre a correlação entre palavras e expressões médicas, tais como cura, remédio, limpeza e o discurso dos pastores nas igrejas neopentecostais. A outra abordagem a trabalhar o protestantismo fica a cargo do professor João Marcos Leitão Santos. Instigante texto sobre a questão conceitual e teórica na historiografia que aborda o protestantismo. Apesar de fazer um interessante debate teórico conceitual sobre o entendimento do protestantismo e sua história, o texto peca ao não apontar um caminho, do mesmo modo que utiliza referências que o guiam a um só entendimento em detrimento de um maior debate envolvendo esse assunto.
Os estudos sobre espiritismo ficam a cargo de Alexandre Caroli Rocha e José Otávio Aguiar. Nesses dois textos aspectos salutares do movimento espírita no Brasil são abordados, seja ao ser estudado um dos maiores representantes do gênero: Humberto de Campos; sejam ao ser analisado características do movimento espírita e sua inserção na mídia.
Por fim, encerrando o livro têm-se duas abordagens sobre a religiosidade de matiz indiana em sua influência na religiosidade contemporânea brasileira. No texto de Maria Lucia Abaurre Gnerre e Gustavo Cesar Ojeda Baez estuda-se o uso da religiosidade indiana no desenvolvimento do Yoga por Mircea Eliade. Já o estudo de Deyve Redyson aborda aspectos sobre meditação e desenvolvimento espiritual nas leituras do Sutra do coração. Nos dois casos nota-se um maior enquadramento dos autores com seu objeto de pesquisa, item também presente no estudo de João Marcos Leitão Santos. Talvez esse seja o componente principal a ser destacado, afinal, ao denotarem sua afinidade ao tema pesquisado, os textos abordados ganham uma vivacidade e um envolvimento que outros, de modo particular alguns constantes no estudo sobre a Igreja Católica no Brasil contemporâneo não possuem. Se a neutralidade é algo que se deve perseguir em um estudo científico, isso não significa que a paixão e o prazer que determinado objeto traz ao seu pesquisador não possa ser evidenciado. Há, porém, que se definir limites, para que a abordagem e o que se conclui no estudo, não venham a ser afetados.
O livro História, religiões e religiosidade traz importante contribuição para o estudo e entendimento de assunto tão presente na sociedade brasileira. Tendo sempre sido destacado a importância e o impacto da religião na formação e construção de nossa identidade e cultural nacional e local, faltam, porém abordagens que trabalhem este assunto. Carecem também, estudos que possam abordar o máximo possível da multiplicidade de assuntos que compõem o universo religioso do país ou que fujam dos chavões e temas que são sempre abordados, como a religião católica ou as africanas.
Ao caminhar para abordagens que privilegiam o mundo antigo, o universo colonial e a diversidade religiosa no mundo contemporâneo brasileiro a obra organizada pelos professores André Figueiredo Rodrigues e José Otávio Aguiar contribuem para ampliar e enriquecer o debate sobre o assunto, mostrando preocupação com a intolerância religiosa, tão presente nos últimos tempos. O livro representa também, o sempre bem vindo diálogo envolvendo duas Instituições distintas. O colóquio foi sempre, ponto fulcral para que a Ciência pudesse ampliar seus horizontes e desenvolver novos olhares e outras abordagens sobre temas e problemas que a sociedade e a História nos impõem. Boa leitura.
Charles Nascimento de Sá – Professor na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XVIII. Doutorando na UNESP/Assis. Bolsista UNEB PAC-DT. E-mail: [email protected].
Cintia Gonçalves Gomes – Doutoranda em História e Sociedade na UNESP/Assis. E-mail: [email protected].
Historias Conceptuales | Guillermo Zermeño Padilla
Com um título que reitera as contribuições do historiador mexicano Guillermo Zermeño Padilla para os estudos das linguagens políticas nas últimas décadas, a obra Historias Conceptuales reúne um conjunto de dez artigos originalmente publicados de 2005 a 2014 que, apresentados em versões modificadas, encerram, de acordo com o autor, um ciclo de investigações dedicado à crítica histórica baseada em análises de conceitos. Sendo uma “obra aberta”, na medida em que não pretende explorar exaustivamente cada um dos assuntos tratados, mas sim mostrar traços essenciais do processo de transformação e sedimentação de certas palavras em conceitos modernos, Historias Conceptuales revela como diversos vocábulos e conceitos comumente utilizados em descrições históricas e sociológicas são, em seu cerne, invenções, transformações, ressignificações ou reapropriações linguísticas da chamada “modernidade” – entidade semântica discutida pelo historiador na introdução de sua obra.
Em “El ‘espacio público’ como concepto histórico: Habermas y la nueva história política”, Zermeño Padilla recria o contexto histórico-filosófico do projeto habermasiano, discutindo sua penetração na dimensão historiográfica hispano-americana e enfatizando suas contribuições para a obra de François-Xavier Guerra. Percorrendo especialmente o conceito de “público” ou “espaço público”, o autor aborda o impacto do modelo de Jürgen Habermas na obra coletiva Los espacios públicos en Iberoamerica (1998), coordenada por Guerra e Annick Lempérière. Ao fazê-lo, Zermeño Padilla pontua apropriações da tipologia habermasiana – como a utilização do conceito de “espaço público” para esclarecer as peculiaridades da incorporação dos países iberoamericanos à modernidade (p.51) -, bem como críticas a essa tipologia – dentre outras, as dificuldades em descobrir a formação de um espaço burguês de opinião pública na gênese das nações iberoamericanas (p.55). Zermeño Padilla inclui, também, considerações de especialistas europeus sobre a obra de Habermas, em particular a periodização por ele estabelecida, o emprego de um modelo marxista convencional e a conotação teleológica inerente ao termo “burguês”. Zermeño conclui o capítulo indicando que o espaço público não deve ser reduzido à opinião pública, e que o distintivo desta modernidade a que se referem Habermas e Guerra consiste no privilégio que ela confere ao âmbito da escrita e a suas formas de circulação, viabilizadas pela liberdade de imprensa e pela materialidade do impresso (p.62). Clamando pela tradição como principal sustento da modernidade e por uma reformulação desse conceito, Zermeño Padilla sugere que é preciso compreendê-lo como um conceito de temporalidade, sem confundi-la com o que pode ser uma forma “aparente” de modernidade (p.65).
Em “De la historia como un arte a la historia como una ciencia”, o autor discute a transformação semântica da voz “história” no período de transição do regime político e intelectual da Nova Espanha para o mexicano ou republicano (p.67). Ao montar seu argumento, Zermeño Padilla parte da distinção entre “voz” e “palavra”, bem como de alguns preceitos de Reinhart Koselleck quanto à conjunção das histórias sincrônica e diacrônica na segunda metade do século XVIII, quando um novo sentido de temporalidade atravessou o vocabulário político e social da época (p.69). Percorrendo as diversas instâncias de ressignificação conceitual e epistemológica de “história”, Zermeño evoca o período em que esta era concebida fundamentalmente como “um saber dirigido a entreter, instruir e ilustrar”(p.75), uma “arte” a ser ensinada e aprendida mediante métodos instruídos, como se vê nas Gacetas do México e nos escritos de José Ignacio Bartolache, José Antonio Alzate y Ramírez e Francisco Xavier Clavijero. O autor trata, ainda, do processo de politização da voz “história”, bem como da consagração do neologismo “história contemporânea”, processo no qual “história” se tornou entidade filosófica e científica, passível de incorporação aos processos de Independência e às posteriores discussões sobre os trezentos anos de opressão colonizadora espanhola.
No seguinte artigo, “Los usos políticos de América/americanos (1750 – 1850)”, Zermeño Padilla refaz a trajetória das vozes que dão título ao texto, centrando-se no período compreendido entre a crise do Antigo Regime e a emergência de formas constitucionais das nações modernas. Procedendo de publicações periódicas como fontes primárias, o historiador contempla os distintos estágios de transformação semântica das vozes “América” e “americanos”. De acordo com o autor, o período entre 1750 e 1850 permite vislumbrar uma progressão semântica que atravessa os dois termos, percurso que vai do geográfico ao político e que retorna do político ao cultural como resultado da impossibilidade de conformar uma unidade política continental após as emancipações (p.147). Para tanto, Zermeño Padilla trata da possível percepção de certo sentido de orfandade e isolamento por parte dos habitantes da geografia americana em relação à Espanha nas três primeiras décadas do século XIX, o que teria ocorrido em concomitância com o desenvolvimento de um sentimento nacionalista não mais fundado no contraste secular entre americanos e europeus, mas sim na contraposição das nações americanas entre si, num contexto de autorreivindicações das identidades nacionais emergentes.
O texto seguinte, escrito em co-autoria com Peer Schmidt, se intitula “De las ‘libertades’ a la Libertad”. Segundo Zermeño e Schmidt, o sentido das palavras muda conforme os espaços de experiência ou de contato comunicativo em que se inserem. Dessa maneira, o vocábulo liberdade não possui a mesma conotação se aplicado a um contexto prisional (em que o indivíduo é castigado com a privação da liberdade) ou a um contexto de escravidão (no qual se anula o direito de ser livre por meio de uma obrigação laboral imposta) (p.149). Centrando suas análises no longo século XIX, os autores tratam dos vários sentidos que o termo e alguns vocábulos dele derivados, como “livre”, “libertador” ou “liberal”, possuíra no longo século XIX. As situações analisadas são diversas: desde que Miguel Hidalgo y Costilla utilizara a expressão “liberdade política” em 1810, passando pela reivindicação da liberdade de imprensa e opinião presentes no texto do Decreto Constitucional para la Libertad de la América mexicana, sancionado em Apatzingán em outubro de 1814, até o episódio em que o jovem general Porfírio Díaz, combatente das forças antiimperialistas, levantou-se em armas contra Benito Juárez e exigiu respeito à “la libertad del sufragio popular” em 1871, bem como quando em 1910 Francisco Madero empreendera, em nome da “libertad electoral”, a deposição do mesmo Porfírio Díaz da Presidência do México. Evidentemente, Hidalgo y Costilla, o Decreto de Apatzingán, Porfírio Díaz e Francisco Madero – bem como as outras personagens do capítulo – não estão tratando da mesma “liberdade”, uma vez que cada uma das vozes evocadas, representadas pelo mesmo signo terminológico mas não sendo jamais a mesma voz, sofreu diversas transformações semânticas durante o longo século XIX mexicano.
Em “De las ‘revoluciones’ a la Revolución”, Zermeño Padilla se pauta nas “consequências sistêmicas” da Revolução Francesa para tratar dos efeitos linguísticos da crise de 1808 no território da Nova Espanha. Partindo do chamado Grito de Dolores de 1810, cujo adensamento semântico fora amparado pelo estabelecimento da Constituição de Cádiz, o historiador percorre as diversas instâncias de apropriação, adequação, desvalorização ou ressignificação em que se inscreveu o termo “revolução” ao longo do século XIX mexicano. Zermeño Padilla menciona aqui diversas contribuições epistemológicas, tais como a de Carlos María de Bustamante, cronista cujo “Diario histórico de México” fora escrito num período de depreciação do termo; de José María Luís Mora, que inserido no contexto de 1836 alegava que até o conquistador Hernán Cortés deveria ser considerado precursor da luta da Nova Espanha por sua independência (p.184); e de Lorenzo de Zavala, para quem o termo “revolução” implicava uma noção de temporalidade consciente que segregava a História em dois momentos cuja dobradiça era o ano de 1808. O historiador conclui o sexto capítulo da obra sugerindo que a Revolução de Ayutla e a nova Constituição de 1857 teriam encerrado o ciclo revolucionário mexicano inaugurado em 1808, e que um novo ciclo se iniciaria em 1876 com a expedição do Plan de Tuxtepec por Porfírio Díaz.
De acordo com Zermeño, “civilização” é um neologismo setecentista legado do francês e não se encontra em léxicos anteriores a 1780 (p.193). A partir daí, o autor acompanha a trajetória do vocábulo, tratando de sua estabilização como conceito e abordando as transformações semânticas que o permearam no século XIX, contemplando não apenas o contexto da Nova Espanha e do México, mas também a dimensão peruana no subitem “Emancipación y Dilemas Políticos”. Ao longo do capítulo, Zermeño trata de uma primeira mutação sofrida pelo vocábulo, entre a Revolução Francesa e o período napoleônico, perseguindo seus vestígios semânticos em circunstâncias pautadas por temas como liberalismo e ilustração, a própria concepção de “civilização moderna”, a questão das subalternidades, e as discussões referentes a sua associação aos termos “ordem” e “progresso” nas últimas décadas do XIX.
“Pobreza: historia de un concepto” é o mais dissonante dos capítulos no que diz respeito ao recorte temporal da obra. Isso porque Zermeño escapa ao chamado “umbral clássico da história conceitual” (1750 a 1850) e estuda a genealogia da voz a partir de indícios legados pela Antiguidade Cristã e Medieval, bem como por noções elaboradas no seio do cristianismo primitivo. Considerando que a partir da segunda metade dos setecentos a pobreza desgarrou-se paulatinamente da carga religiosa que sempre a engendrara, Zermeño aborda temas como mendicância, esmola, indigência, até situar a voz como problema de Estado e discutir algumas de suas implicações no léxico contemporâneo. Objetivando “desnaturalizar” a noção de “pobreza”, o historiador alega que mesmo quando a voz se manteve associada a seu sentido comum e geral – que designa uma situação de carência ou incapacidades básicas (p.213) -, sua semântica foi modelada por diversas operações de incorporação ou descartes de sentidos. Tanto o que se incorporou quanto o que se descartou iluminam a utilização do conceito nos dias de hoje.
Em “Del mestizo al mestizaje: arqueología de un concepto”, Zermeño Padilla trata da aparição histórica da mestiçagem como uma noção que “aspira a descrever a identidade nacional do México” (p.261). Sua hipótese é de que “a invenção da mestiçagem como princípio regulador da identidade nacional moderna [mexicana] teve um efeito negativo (no nível das representações) em relação à população ‘indígena’ (denominada assim a partir do século XIX)” (p.263). Situando leitores e leitoras em relação a diversas figuras relevantes para a compreensão tanto do fenômeno como do processo histórico mais amplo, Guillermo Zermeño atribui a José Vasconcelos a competência de ter convertido uma noção singular sociológica (“mestiço”) em um conceito universal de caráter filosófico (“mestiçagem”) (p.266), destacando neste decurso a importância da Revolução de Ayutla e do triunfo da reforma de Benito Juárez para a transição de uma a outro – processo que culmina com a celebração do chamado Día de la Raza em 12 de Outubro de 1917. A conversão de “mestiço” a “mestiçagem” encabeçada por Vasconcelos teria, de acordo com Zermeño, inserido o debate numa pauta biologicista da evolução humana, o que leva o autor a reivindicar que um dos aspectos mais problemáticos no estabelecimento do conceito “mestiçagem” esteja no fato de que sua construção tenha se dado com base na subjugação e desvalorização das populações indígenas.
No capítulo sobre os conceitos de “cacique”, “caciquismo” e “caudillismo”, o penúltimo da obra, Guillermo Zermeño percorre o legado histórico-semântico do termo “cacique” e de seus derivados, tomado originalmente das línguas caribenhas e empregado inicialmente no contexto do Império espanhol para designar “certas formas político-administrativas e certos intermediários entre o poder espanhol e as populações indianas” (p.298). No artigo, Zermeño mostra como a reinvenção dos termos – atentando-se de modo menos enfático a “caudillismo”, o que traz certa carência à totalidade da proposta do capítulo – se forjou em contextos específicos. Uma de suas intenções aqui, com base na aparição e evolução do termo na imprensa mexicana ao longo dos séculos XIX e XX, é esclarecer por quais razões e de que modo o termo “cacique” se transformou numa instância catalisadora das múltiplas características do regime político mexicano (p.317).
O último capítulo de Guillermo Zermeño Padilla intitula-se “La invención del intelectual y su crisis”. Dada a amplitude do tema, o historiador contempla a formação do campo intelectual no México do século XX, partindo da premissa geral de que o Antigo Regime pré-industrial hispano-americano, com ou sem revolução social, teria gerado as condições necessárias para o desenvolvimento de um novo tipo de “sábio” definido pela criação de um espaço comunicativo específico. Considerando as contribuições de figuras tais como Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Gómez Morin, José Vasconcelos e Octavio Paz, o historiador trata da paulatina consumação identitária do intelectual em âmbito mexicano, explicitando algumas das diferenças entre a mencionada geração e a anterior. Para Zermeño, assim como o período pré-industrial teria outorgado aos “filósofos” positivistas – no caso mexicano, chamados “científicos” – o papel de “questionar o velho inventário do saber coletivo”, o século XX teria delegado à figura do “intelectual” mexicano a missão de conformar um novo saber crítico que estivesse consciente de sua capacidade de imiscuir-se na História (p.325).
Além de confirmar as fecundas colaborações de Guillermo Zermeño Padilla para o campo investigativo das linguagens políticas, Historias Conceptuales convida-nos a refletir, enhorabuena, sobre algumas das instâncias que engendram as experiências discursivas ao longo da história, propondo aos leitores e leitoras uma série de percursos fundamentais acerca dos vocábulos e conceitos em distintos cenários da modernidade. Se, de acordo com Zermeño, “a história conceitual é apenas a porta de entrada para questões apaixonantes acerca do significado e do sentido que existe em escrever histórias no umbral mutante em que nos encontramos na atualidade, relacionado com a crise do tempo histórico especificamente moderno” (p.20), Historias Conceptuales cumpre o papel de bússola no âmago deste umbral, que, apesar de permeado por múltiplos desafios, pode ser traduzido e decodificado na medida em que nos empoderamos, especialmente como historiadores e historiadoras, do magistral artifício político que é a consciência histórica da e sobre a linguagem.
Referência
ZERMEÑO PADILLA, Guillermo. Historias Conceptuales. Ciudad de México: El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 2017.
Mariana Ferraz Paulino – Mestranda em História Social (USP) E-mail: [email protected]
ZERMEÑO PADILLA, Guillermo. Historias Conceptuales. Ciudad de México: El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 2017. Resenha de: PAULINO, Mariana Ferraz. História Conceitual: sentidos da modernidade hispano-americana. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 489-495, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836) | C. E. C. Lynch
Seria possível conciliar um Estado forte e centralizado ao ideário liberal moderno na prática política oitocentista brasileira? A leitura de Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento do Marquês de Caravelas nos revela que sim. Defensor tanto da soberania do rei quanto do constitucionalismo moderno, José Joaquim Carneiro de Campos – o marquês de Caravelas – foi personagem fundamental, de acordo com Christian Lynch, no processo de recepção e aclimatação do discurso liberal durante o estabelecimento do Estado de direitos no Brasil.
Prevalecente na Constituição de 1824, o projeto monárquico e estatizante dos coimbrãos contou com a participação ativa de José Joaquim Carneiro de Campos. Segundo Lynch, Caravelas foi responsável por aperfeiçoar o projeto constitucional dos Andradas, caracterizado pelo bicameralismo, por uma rigorosa centralização política-administrativa e pelo veto quase absoluto do Imperador. Sua principal contribuição foi a criação do Poder Moderador e a institucionalização de alguma descentralização político-administrativa a partir da criação dos conselhos gerais de províncias. Para ele, esse arranjo seria o ideal pois garantia “uma monarquia sem despotismo e uma liberdade sem anarquia”, expressão definidora do seu pensamento político (p. 53).
Lynch relacionou a teoria das formas de governo de Caravelas com a tradição clássica aristotélica. Segundo esta, as formas de governos existentes – monarquia, aristocracia e a democracia – eram instáveis e oscilavam constantemente entre bons e maus governos, a monarquia corrompida se degeneraria em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em demagogia. No entanto, havia uma maneira de evitar a corrupção e estabilizar esses governos: uma composição mista entre monarquia, aristocracia e democracia. Assim como Aristóteles, Carneiro Campos considerava que a melhor maneira de tornar as instituições políticas brasileiras duráveis seria por meio de um governo misto. Em sua opinião, a forma moderna que permitia o equilíbrio entre os elementos governamentais seria a monarquia constitucional representativa temperada ou limitada. Se o fundamento conceitual de Caravelas estava em Aristóteles, sua sociologia política se apoiava em Montesquieu. Isso porque sua principal preocupação, como mostrou o autor, era conciliar o governo constitucional representativo – necessidade dos tempos modernos – com a preservação da ordem e das hierarquias coloniais por meio da criação de uma legislação que respeitasse as tradições e os costumes do povo brasileiro.
O estudo sobre o pensamento político de homens como Caravelas faz parte de um longo debate historiográfico a respeito do lugar do liberalismo no processo de formação do Brasil independente. Debate longo, mas necessário, foi iniciado por obras clássicas – como a de Roberto Schwarz – que defenderam que as ideias estavam fora do lugar. De lá para cá, muito se avançou no tema. Surgiram diversos trabalhos que discutiram, de perspectivas diferentes, a formação do Brasil independente mostrando que as ideias estavam sim no lugar, a exemplo de Maria Sylvia de Carvalho, Alfredo Bosi, Lúcia Maria B. Pereira das Neves, Maria Emilia Prado, Antonio Carlos Peixoto, entre outros.
A análise instigante empreendida por Lynch nos evidenciou que, embora antigo, este debate está longe de ser esgotado. Interessado na história constitucional brasileira – graças à graduação e ao mestrado na área do Direito – bem como no seu desenvolvimento pela perspectiva daquilo que o historiador alemão Reinhart Koselleck chamou de Sattelzeit, Lynch redimensionou o lugar do conservadorismo no Brasil oitocentista por meio do resgate desse importante personagem político da independência brasileira do limbo em que se encontrava.
Nesse sentido, suas reflexões sobre a composição de um campo conservador no Brasil e sobre as construções historiográficas a esse respeito garantem uma análise provocante do processo de formação das instituições políticas brasileiras. Segundo Lynch, o marquês de Caravelas, ao sustentar um projeto liberal que conciliava a implantação de um governo constitucional representativo com a garantia de um Estado monárquico forte, seria o primeiro de uma linhagem de juristas constitucionais, na qual se entronca o visconde de Uruguai, a defender a construção e o fortalecimento do Estado como instância incubadora adequada da Nação.
Embora a obra escrita por Lynch tenha José Carneiro de Campos como objeto de pesquisa, nunca foi preocupação do autor a descrição e o acompanhamento de seus feitos como fazem diversos trabalhos biográficos. Na realidade, todo seu empenho se concentrou na reconstituição do pensamento teórico e sociológico do marquês de Caravelas e sua aplicação prática ao longo dos seus trabalhos enquanto deputado e relator do projeto constitucional de 1824. Tendo em vista esse objetivo, Lynch estruturou seu livro em duas partes: a primeira destinada a um estudo do pensamento político-constitucional do marquês de Caravelas – dividida ainda em cinco capítulos – e uma segunda reservada para a compilação de seus discursos parlamentares mais importantes, fontes que serviram de base para sua pesquisa.
Os discursos parlamentares do marquês de Caravelas foram analisados com base em duas frentes metodológicas: o contextualismo linguístico de John Pocock e a história dos conceitos de Koselleck. Na primeira frente, estes discursos foram entendidos como “atos de fala” elaborados durante a disputa política visando um espaço de atuação e de poder. Na segunda frente, o autor carioca identificou os conceitos presentes nesses discursos examinando os novos significados assumidos por eles de acordo com as circunstâncias, as necessidades e as contingências do Brasil recém-independente.
É em seu primeiro capítulo – “Os desafios da política constitucional oitocentista na Europa e na América ibérica” – que Lynch conseguiu brilhantemente conciliar essas duas frentes metodológicas, procedendo a uma bela análise relacional de texto e contexto. Infelizmente, nos outros capítulos, principalmente os três últimos, nos quais há uma reflexão sobre os elementos constitutivos do pensamento de Caravelas, a análise se concentrou apenas no texto e nos conceitos presentes nele. Apesar disso, suas reflexões sobre o enquadramento ideológico de Carneiro de Campos presentes no primeiro capítulo e as razões historiográficas responsáveis por seu esquecimento, apresentadas no segundo, são de grande relevância para os pesquisadores na área da história política brasileira.
Se a maioria dos trabalhos historiográficos explicam o processo de construção do nosso Estado a partir do liberalismo moderno, Lynch o faz baseado no conservadorismo. Ele defendeu a conservação como elo indispensável tanto para compreensão do pensamento de Caravelas quanto para o entendimento do desenvolvimento das instituições políticas brasileiras das quais ele fez parte. Ao fazer isso, o autor acabou redimensionando o sentido e o papel desempenhado pelo conservadorismo na América Ibérica.
Até hoje relacionamos o conservadorismo a posicionamentos tradicionais e, portanto, contrários a mudanças. De acordo com Lynch, isso acontece devido a conotação negativa que este conceito possuí no Brasil graças ao legado da tradição marxista de intelectuais do século XX, a exemplo de Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré, que relacionaram o conservadorismo a uma visão hierárquica de mundo, defensora de privilégios, contrária à democratização e ao reconhecimento das minorias. Inclusive, o autor associou também o esquecimento historiográfico de Carneiro de Campos, bem como sua associação apressada ao absolutismo, a essa visão negativa dos conservadores.
Depois de realizar uma síntese das principais correntes conservadoras – passando por Hume, Burke e Guizot – Lynch afirmou que elas eram equivalentes no Brasil às reflexões dos conselheiros de Estado de D. Pedro I que, baseados no modelo monarquiano do barão Malouet e de Jean Joseph Mounier, defenderam um projeto de governo constitucional e representativo no qual o rei, não a Assembleia, seria o representante da soberania nacional. A implantação desse sistema permitiu a conciliação entre o ideal modernizador ordeiro do despotismo esclarecido com o estabelecimento de um governo constitucional. Por isso, Lynch afirmou que o conservadorismo é uma espécie de liberalismo de direita, de caráter reformista e antirrevolucionário. Nesse sentido, ao invés de se apresentar em oposição total aos liberais, os conservadores teriam uma postura realista da modernidade, aceitando a inevitabilidade do progresso, embora tentassem guiá-lo de forma prudente e gradual, os adequando a cultura histórica de cada sociedade na tentativa de preservar o tecido social e evitar as rupturas revolucionárias.
No entanto, ao longo de todo o processo de independência, do primeiro reinado e dos anos iniciais das regências, o discurso daqueles que orbitavam em torno de D. Pedro I, a exemplo de Caravelas, foram associados ao absolutismo e ao autoritarismo por seus adversários políticos que desejavam um espaço de atuação e de participação no Estado brasileiro.
Somente com os saquaremas, na segunda metade do século XIX, o termo conservador passa a ser empregado na caracterização de um grupo político, apesar de seus projetos existirem desde a época da independência. De acordo com Lynch, diferentemente do Partido Liberal, que reivindicou o grupo brasiliense como primeiro embrião de seu partido, o mesmo não aconteceu com os conservadores, que preferiram venerar a memória de Bernardo Pereira de Vasconcelos e o Regresso como verdadeiro fundador do partido durante as regências. Logo, a imagem de homens como Caravelas sofreu um desgaste duplo. Ao mesmo tempo em que eram desqualificados pela historiografia luzia que os retratava como absolutistas, não tiveram sua imagem resgatada pela historiografia saquarema e ficaram sem uma posteridade política que os reivindicasse positivamente.
Mais uma vez vemos a influência do historiador inglês J. G. A. Pocock em Monarquia sem despotismo e Liberdade sem anarquia. Baseado em suas ideias, o autor buscou compreender a história como choques de discursos antagônicos. Durante muito tempo, a historiografia brasileira vem comprando a versão de autores saquaremas que localizaram o surgimento do conservadorismo no Brasil no movimento regressista. É importante entender que os saquaremas não queriam ter sua imagem pública associada ao grupo “coimbrão” devido a sua fama negativa ligada ao absolutismo.
Ao longo do livro, Cristian Lynch conseguiu demonstrar que o pensamento político de José Carneiro de Campos não tinha nada de absolutista. Muito pelo contrário, partilhava semelhanças com as doutrinas conservadoras do tempo. Isso implica reconhecer, a despeito das afirmações historiográficas, que o conservadorismo aos moldes regressistas e saquaremas existiam de alguma forma no Brasil muito antes do período regencial, sendo esta ao meu ver a principal contribuição da obra. O resgate do marquês de Caravelas do limbo do esquecimento e sua inserção num campo conservador em formação durante todo o processo de construção do Estado brasileiro nos ajuda a redimensionar a própria concepção do conservadorismo na constituição do Brasil independente.
Referência
Lynch, C. E. C. Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
Luaia da Silva Rodrigues – Doutoranda em história pela UFF. E-mail: [email protected]
LYNCH, C. E. C. Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. Resenha de: RODRIGUES, Luaia da Silva. O pensamento conservador do marquês de Caravelas e a construção do Estado Brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 496-501, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Índios cristãos / Almir D. Carvalho Júnior
Há muito que tardava, mas, finalmente, foi publicado, em meados do ano passado, o livro “Índios cristãos: poder, magia e religião na Amazônia colonial”, da autoria do professor Amir Diniz de Carvalho Júnior. De fato, a tese de doutoramento da qual a obra é resultado já havia sido defendida no ano de 2005, na Universidade de Campinas (UNICAMP)1. De certo modo, esta demora surpreende, se levarmos em conta a grande relevância que a pesquisa tem para a Historiografia Indígena e do Indigenismo no Brasil e, de forma mais específica, na Amazônia. Resta a esperar que o formato de livro contribua a tornar o estudo ainda mais conhecido no meio acadêmico!
O autor, professor lotado na Faculdade de História e credenciado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Manaus, começa a apresentação de seu livro com a observação de que “toda criação é solitária”. Pode-se questionar esta afirmação, visto que Almir Diniz de Carvalho Júnior construiu seu estudo, à toda evidência, enquanto pesquisador bem conectado e inserido em uma rede com outros pesquisadores e pesquisadoras que, como ele, trabalharam e trabalham o protagonismo de indígenas na época colonial. Nesta rede, composta, em grande parte, de historiadores e antropólogos, seu orientador de tese, o já falecido John Manuel Monteiro – à memória do qual o livro é dedicado – ocupa um lugar central, além de Maria Regina Celestino de Almeida, que fez o prefácio, Marta Amoroso, Manuela Carneiro da Cunha, João Pacheco de Oliveira Filho, Ronaldo Vainfas, entre outros e outras. Todos eles e elas são prógonos conhecidos da Nova História Indígena e marcaram, como se percebe ao longo da leitura, as reflexões de Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Como já indica o título da obra, os “índios cristãos” estão no cerne da pesquisa do autor. Não se trata, como ele deixa claro logo no início (pp. 21-29), de uma categoria supostamente compacta e genérica de subalternos, atrelados ao projeto de cunho colonial salvacionista. Ao contrário, ele se propõe a analisar sujeitos históricos que, apesar das relações e classificações assimétricas nas quais foram enquadrados, participaram da construção do universo colonial, dentro do qual conseguiram formar e ocupar espaços próprios. A partir desses espaços os índios engendraram, por meio de complexas mediações e negociações, práticas culturais, referências sociossimbólicas e balizas identitárias novas. O autor realça, sobretudo, a dimensão sociossimbólica, como o apontam os termos “poder”, “magia” e “religião”, que, por sinal, constam no subtítulo. Neste sentido, Almir Diniz de Carvalho Júnior consegue conjugar, em termos metodológicos, uma análise criteriosa das múltiplas fontes – que vão de crônicas missionárias a processos inquisitoriais – com o recurso a relevantes investigações antropológicas acerca das cosmologias indígenas.
O livro consiste – como também a tese – em três partes que, por sua vez, estão subdivididas em com um número variável de capítulos. A primeira parte (pp. 39-108) aborda, em dois capítulos, as complexas relações entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas no espaço amazônico. No primeiro capítulo, aprofunda-se o processo de implantação e consolidação do projeto colonial e, no segundo, a instalação da rede de missões sob as orientações do padre Antônio Vieira. Em ambos os contextos, os índios não são tratados como meros figurinos, mas agentes centrais. Assim, o autor dá destaque à revolta dos Tupinambá, ocorrida na Capitania do Maranhão, em 1617-1619, logo no início da colonização, como também à reação dos índios da aldeia de Maracanã, lugar estratégico onde se situaram as importantes salinas no litoral do Grão-Pará, à prisão do principal Lopo de Souza, em 1660- 1661. Ambos os eventos apontam os impactos diretos de lideranças indígenas no processo da aplicação das políticas colonizadora e evangelizadora. Embora não tenha sido o objetivo da pesquisa, mas faltou, talvez, abordar também, paralelamente a estes aspectos etnossociais, a questão do espaço em sua dimensão geoétnica e geopolítica. Assim, teria sido interessante trabalhar a Amazônia dos séculos XVII e XVIII enquanto “fronteira”, que, conforme uma definição fornecida por Hal Langfur, seria:
aquela área geográfica remota da sociedade já estabelecida [ou em vias de se estabelecer], mas central para os povos indígenas, onde uma consolidação ainda não foi assegurada e onde ainda paira uma dúvida sobre o desfecho dos encontros culturais multiétnicos2.
A segunda parte (pp. 111-257), mais extensa, pois composta de quatro capítulos, versa tanto sobre os métodos aplicados pelos padres para doutrinar os índios quanto sobre as estratégias usadas pelos últimos ao se reconstituírem como “grupos étnicos autônomos”, incorporando, neste processo, padrões culturais barroco-cristãos. Desta feita, o terceiro capítulo, retoma o tema da centralidade dos grupos Tupinambá no contexto da colonização e evangelização; por sinal, um tópico muito defendido pelo autor. Neste contexto, é oportuno apontar pesquisas mais recentes que tendem a frisar a complexa mobilidade de grupos indígenas de troncos etnolinguísticos não tupi no vale amazônica em torno da chegada dos portugueses. Assim, a tese do pesquisador Pablo Ibáñez Bonillo chama a atenção a “sistemas regionais multiétnicos”, em razão das presenças (no plural) de falantes de idiomas aruaque e caribe, principalmente, no estuário e no curso inferior do rio Amazonas, relativizando, de certa forma, a suposta predominância tupinambá3. O quarto capítulo aprofunda o projeto de “conversão”, levado a cabo, sobretudo, pelos jesuítas, conforme diretrizes exatas e, também, pragmáticas. Neste contexto, o autor lança mão de duas fontes fundamentais acerca da presença e atuação inaciana na Amazônia: a crônica do padre luxemburguês João Felipe Bettendorff, redigido na última década do século XVII, e os tratados do padre português João Daniel, escritos no terceiro quartel do século seguinte. É com base nesta documentação que Almir Diniz de Carvalho Júnior delineia, de forma nítida e envolvente, a peculiaridade das práticas de missionação na colônia setentrional da América portuguesa. A análise teria ficado mais completa com a inclusão da rica correspondência interna dos inacianos, arquivada no Archivum Romanum Societatis Iesu em Roma4. O fato de esta ter sido escrita, em grande parte, em latim dificulta, infelizmente, o acesso de muitos autores às informações nela contidas. Estas fontes são interessantes, pois, em geral, não reproduzem o estilo marcadamente edificante e moralizante das crônicas, tratando de questões polêmicas ou de dificuldades experimentadas com mais franqueza. O quinto capítulo, que constitui, por assim dizer, o miolo da obra, é diretamente dedicado aos “índios cristãos”. Estes são descritos e analisados como sujeitos inseridos no universo colonial do qual são partícipes – mas, salvaguardando seus interesses –, enquanto principais, pilotos e remeiros, artesãos de diferentes ofícios e, também, guerreiros. Atenta-se igualmente aos “meninos” e às “mulheres” indígenas, o que não é de se admirar, pois ambos os grupos recebem destaque nas crônicas pelo fato de seus integrantes terem sido percebidos pelos missionários como mais acessíveis aos objetivos e pretensões de seu projeto salvacionista. Este capítulo demonstra, de forma “plástica”, o que o autor entende por “índios cristãos”, conceito que, com já mencionamos, foi elucidado no início do livro. Neste contexto, merece menção que refere, por diversas vezes, ao termo de “índios coloniais”, formulado, há quarenta e cinco anos, por Karen Spalding em relação à colonização hispânica5. Embora não cite o nome desta historiadora, Almir Diniz de Carvalho Júnior segue, mesmo em outras circunstâncias e com base em outras experiências, a pista lançada por ela. Enfim, o sexto capítulo, que já constitui uma transição para a terceira parte, apresenta os mesmos “índios cristãos” enquanto praticantes de diversos rituais considerados heterodoxos, resultantes do contato entre suas tradições e cosmovisões xamânicas – ou, como detalha o autor, tupinambá – com os dogmas ensinados e as liturgias encenadas no âmbito das missões.
Finalmente, a terceira parte (pp. 261-320) enfoca, em dois capítulos, os índios cristãos e as “heresias” geradas por eles nas suas interações com o universo católico ibero-barroco, tanto em sua dimensão disciplinadora/institucional como inspiradora/vivencial. Neste sentido, o sétimo capítulo familiariza o leitor com a organização e o funcionamento do Tribunal da Inquisição de Lisboa, que atuava na Amazônia desde meados do século XVII mediante um sistema de captação de denúncias6. Para compreender esta instituição e seu agenciamento na colônia, o autor coloca uma tônica especial na elucidação tanto da concepção erudita quanto da mentalidade popular acerca da magia e feitiçaria na cultura portuguesa da época. Faltou, talvez, neste capítulo um maior aprofundamento da percepção desses fenômenos por parte das autoridades locais e dos moradores do Grão-Pará, visto que o universo de crenças e práticas heterodoxas trazido da Europa se reconfigurou, também por iniciativa dos próprios “brancos”, no contato com as religiosidades indígenas. Implicitamente, isso fica evidente no oitavo, e último, capítulo que aborda casos concretos, bem apresentados e analisados, que envolvem “feiticeiros” e, sobretudo, “feiticeiras” indígenas. Comparando a interpretação inquisitorial, tal como ela transparece nas fontes, com as lógicas próprias do universo simbólico xamânico, estabelecidas por pesquisas de cunho antropológico, Almir Diniz de Carvalho Júnior conclui que as heresias eram “formas autônomas de novas práticas culturais”, engendradas não tanto numa postura de resistência, mas, antes, para fornecer sentido ao mundo ao qual foram forçados a inserir-se. Como já antes, na apresentação dos diferentes grupos de índios cristãos, também neste último capítulo, o autor permite, mediante o aprofundamento de diversos casos e personagens de feiticeiros e feiticeiras, mergulhar no universo ameríndio colonial. Com efeito, o emprego de uma linguagem clara e envolvente parece dar vida às índias Sabina, Suzana e Ludovina que, mesmo taxadas como “feiticeiras” ou “bruxas”, circularam amplamente pela sociedade colonial de seu tempo. Neste contexto, convém lembrar que – e a farta documentação inquisitorial o demonstra – os desvios morais e doutrinais dos “brancos” estiveram muito mais na mira dos oficiais da Inquisição do que os dos índios, mamelucos, cafuzos ou negros, mesmo quando esses eram cristãos. Para aprofundar este aspecto, teria sido interessante dialogar com as pesquisas recentes do historiador Yllan de Mattos, cujos trabalhos, aliás, enfocam a atuação inquisitorial na Amazônia colonial7.
Dito tudo isso, fica óbvio o quanto o livro de Almir Diniz de Carvalho Júnior se destaca por dar visibilidade aos indígenas e suas múltiplas (re)ações dentro das conjunturas e conjecturas que marcaram o processo de colonização do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Este processo, em muitos aspectos, diferiu das dinâmicas colônias aplicadas na colônia-irmã mais ao sul, o Estado do Brasil, sendo que a evidência da peculiaridade da colônia amazônica, com seu grande contingente de povos indígenas – seja nas missões, seja nos sertões – constitui outro aspecto significativo da obra a ser retido.
Quanto à agência e ao protagonismo dos índios, o autor, ao examiná-los sob um prisma multifacetário, supera a visão binômica que, durante muito tempo, viu o índio, em primeiro lugar, como indivíduo oprimido e vitimado. A (re)leitura criteriosa feita nas entrelinhas das fontes coloniais deixou evidente o quanto os documentos, embora redigidos com um olhar unilateral – pois sempre imbuído do ensejo do respectivo autor de comprovar o suposto sucesso do projeto da colonização ou missionação – falam necessariamente do índio e trazem, assim, à tona suas práticas culturais heterodoxas e suas negociações ambíguas. Em última análise, estas agências “imprevistas” forçaram os missionários a abrir mão de suas pretendias ortodoxias para, num patamar ortoprático, poder se comunicar, mesmo incompletamente, com seus catecúmenos e neófitos indígenas8.
Enfim, vale ressaltar que a pesquisa Almir Diniz de Carvalho Júnior é uma contribuição fundamental para a Historiografia acerca da Amazônia Colonial, que, nos últimos anos, conheceu um crescimento significativo, sobretudo devido à consolidação dos Programas de Pós-Graduação em História em diversas universidades da região. A leitura da obra é, assim, imprescindível não só para aqueles e aquelas que pesquisam, academicamente, as agências indígenas na fase colonial, mas também para todos e todas que procuram entender mais a fundo o devir das populações e culturas tradicionais da Amazônia que, de uma forma ou outra, descendem e/ou emanam dos sujeitos analisados por Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Notas
1 O título da tese foi “Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769)”. O autor jádivulgou antes, o resultado de sua pesquisa de doutoramento sob forma de artigo científico: CARVALHOJÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos no cotidiano das colônias do Norte (séculos XVII e XVIII). Revista deHistória. São Paulo, 2013, vol. 168, fasc. 1, pp. 69-99.
2 LANGFUR, Hal. The Forbidden Lands: Colonial Identity, Frontier Violence, and the Persistence of Brazil’s Eastern Indians, 1750-1830. Stanford: Stanford University Press, 2006, p. 5. Tradução do inglês pelo autor da resenha.
3 BONILLO, Pablo Ibáñez. La conquista portuguesa del estuario amazónico: identidad, guerra, frontera. Tese de doutorado, História e Estudos Humanísticos: Europa, América, Arte e Línguas, Departamento de Geografia, História e Filosofia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 2015, pp. 120-147. Em co-tutela com a University of Saint Andrews, Reino Unido.
4 No Archivum Romanum Societatis Iesu, os documentos referentes à Missão e, a partir de 1727, Vice-Província do Maranhão encontram-se, principalmente, nos códices Bras. 3/II, 9 e 25-28.
5 SPALDING, Karen. The Colonial Indian: Past and Future Research Perspectives. Latin American Research Review. Pittsburgh, 1972, v. 7, n. 1, pp. 47-76.
6 Neste sentido, os “Cadernos do Promotor”, arquivados no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, e muito citado Almir Diniz de Carvalho Júnior, são importantes.
7 MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e o funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino, 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012; MATTOS, Yllan de & MUNIZ, Pollyanna Mendonça (Orgs.). Inquisição e justiça eclesiástica. Junidaí: Paco Editorial, 2013.
8 Quanto à alteração da ortodoxia em “ortoprática” no processo de missionação, ver GASBARRO, Nicola. Missões: a civilização cristã em ação. In: MONTERO, Paula (Org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, pp. 71-77.
Karl Heinz Arenz – Professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA).
CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos: Poder, magia e religião na Amazônia colonial. Coritiba: Editora CRV, 2017, 355p. Resenha de: ARENZ, Karl Heinz. Canoa do Tempo, Manaus, v.10, n.1, p.216-221, 2018. Acessar publicação original. [IF]
Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos | Tâni Bessone, Gladys S. Ribeiro, Monique S. Gonçalves e Beatriz Momesso
O diálogo da historiografia do Brasil Império com a Nova História Cultural costuma produzir bons frutos, e Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos não foge à regra. O propósito do livro é interpretar a consolidação da palavra impressa como parte do processo de formação do Estado nacional no longo século XIX, sugerindo que o desenvolvimento de jornais, revistas e livros possibilitaram a circulação de ideias, o estabelecimento de espaços de sociabilidade e a edificação de trajetórias individuais num movimento de condicionamento recíproco entre história política e história cultural.
Organizado pelas especialistas Tânia Bessone (UERJ) e Gladys Sabina Ribeiro (UFF) – cujos percursos intelectuais privilegiaram respectivamente a história dos livros e a história política do Brasil oitocentista – em conjunto com as pós-doutorandas Monique de Siqueira Gonçalves (UERJ) e Beatriz Momesso (UFF), o livro é o resultado de uma ampla empreitada de trabalho intelectual colaborativo. Com a participação de pesquisadores de diferentes instituições do país, ele amplia a discussão dos projetos de pesquisa desenvolvidos desde 2012 no Centro de Estudos do Oitocentos (CEO-UFF), no Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais (REDES-UERJ) e, recentemente, na Sociedade Brasileira de Estudo do Oitocentos (SEO), desdobrando, assim, o debate ensejado por coletânea anterior, O Oitocentos entre livros, livreiros, missivas e bibliotecas (Alameda, 2013).
Dividido em quatro seções temáticas, Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos esteia-se na premissa de Robert Darnton e Daniel Roche de reconhecer a palavra impressa como “força ativa na história”, um “ingrediente dos acontecimentos” capaz de desempenhar não só o papel de fonte de informação, mas também o de intermediação da prática política e social oitocentista.
Em sua primeira seção, “Impressos políticos”, o livro apresenta análises sobre o significado do pensamento liberal no reordenamento da cultura política e na construção de identidades sociais. Destaca como distintos projetos políticos para o Brasil circularam em jornais, a exemplo das propostas de revisão do Antigo Regime possibilitadas pela Revolução do Porto nas províncias da Cisplatina e Bahia e o embate discursivo entre republicanos liberais quando da crise da monarquia.
Opondo-se à tese que considera o processo de independência do Uruguai como resultado de um “Estado-tampão”, Murillo Winter (capítulo 1) expõe os distintos movimentos políticos e identitários na região. Explorando a imprensa cisplatina, ressalta a repercussão dos periódicos na politização da população e na mudança da conotação da identidade oriental, inicialmente associada aos anos de guerra civil e ao projeto confederado de José Gervásio Artigas. De igual maneira, salienta as particularidades do discurso político veiculado na Banda Oriental, focalizando a construção da “orientalidade”, elemento de diferenciação que negava tanto o domínio colonial quanto outras formas de sujeição.
Moisés Frutuoso (capítulo 2), em pesquisa sobre a produção jornalística na vila baiana de Rio de Contas, expõe como os periódicos publicados na Bahia e no Rio de Janeiro foram determinantes para a constituição da Junta Temporária de Governo e para o recrudescimento do antilusitanismo na localidade. Demonstra a atuação dos periódicos como veículos de propaganda de projetos políticos, especialmente liberais, e consequentemente como espaço de debate que confrontava distintos grupos da sociedade em torno da edificação do Estado Imperial, o que pôde ser caracterizado com primazia na Guerra dos Mata-marotos (1831), fruto de intensos conflitos que opunham “portugueses americanos” e “portugueses europeus”.
Ainda na primeira seção, o texto de Daiane Lopes Elias (capítulo 3) privilegia o Segundo Reinado e a atividade dos republicanos liberais a partir da publicação do Manifesto de 1870. Analisando sua composição discursiva, esclarece como a prática vencedora fundamentava-se na adaptação de doutrinas estrangeiras (no modelo americano de República) para “encontrar nelas as ferramentas capazes de instrumentalizá-las na ação de deslegitimação das instituições, práticas e valores imperiais” (p.64), e, por conseguinte, na reinvenção da elite política brasileira.
A segunda seção do livro, “Impressos periódicos”, enfoca o debate sobre caminhos políticos e artísticos embasados nas ideias liberais que se formataram no país na crise do Império. Para tanto, reúne estudos que, valendo-se da investigação de dois importantes periódicos publicados nas décadas de 1870 e 1880, analisam críticas ao governo e a específicas esferas da sociedade imperial visando reconhecer os obstáculos à chegada da modernidade ao Brasil.
Alexandre Raicevich de Medeiros (capítulo 4) empenha-se no reconhecimento das redes de sociabilidade proporcionadas pela Casa Arthur Napoleão & Miguez, responsável pela publicação da Revista Musical e de Bellas Artes e pela venda de instrumentos e edição de partituras. Destaca a especificidade do público leitor da revista – o que incidiu em sua curta trajetória – e as distintas temáticas que explorava dentro do campo cultural, como resumos de história da arte, notícias estrangeiras, comentários de obras literárias e de peças de teatro. Igualmente, salienta o tom crítico e de denúncia ensejado em seus textos, como a defesa do Theatro Imperial, cuja situação de penúria era atribuída ao descaso do governo, e o debate sobre a evolução das artes plásticas no Brasil.
Também explorando a crítica e o enfrentamento, desta feita por intermédio do humor engajado a surgir das páginas do caricato O Mosquito, Arnaldo Lucas Pires Junior (capítulo 5) estuda as denúncias das ilustrações veiculadas no periódico à chegada da modernidade ao Brasil. Explica como as caricaturas representavam o imaginário social de uma parcela da elite ilustrada que se identificava com o modo de vida europeu, mas que se via emperrada pelas barreiras da realidade nacional, a exemplo da escravidão, do posicionamento dos políticos e das relações entre Estado e Igreja.
Na terceira seção, “Impressos e trajetórias biográficas”, o livro contempla pesquisas dedicadas a percursos individuais de importantes figuras políticas do Império, demonstrando as possibilidades do fazer biográfico oportunizada pela palavra impressa.
Vislumbrando o reconhecimento de ideias antiescravistas no pensamento do escritor e político liberal Joaquim Manuel de Macedo, Martha Victor Vieira (capítulo 6), analisa a obra As Vítimas-Algozes: quadros da escravidão (1869) para caracterizar o empenho de uma parcela da elite política na superação do trabalho escravo e o consequente receio enunciado pelos senhores escravocratas. Com base nos argumentos evocados por Macedo, que objetivavam convencer o público a alinhar-se com a proposta de abolição gradual, a pesquisadora identifica em seu texto “indícios de um traço comum com outros escritos dos homens de letras da primeira geração do romantismo e do IHGB, os quais concebiam a história como ‘mestra da vida’” (p.137).
Utilizando manuscritos e impressos do final do século XIX e início do XX, Samuel Albuquerque (capítulo 7) dedica-se à figura de Antônio Dias Coelho e Mello, barão da Estância, visando à reconstituição de viagem empreendida pelo político sergipano entre Aracaju e o Rio de Janeiro. Tendo por base esse caso, analisa as distâncias percorridas pelos políticos do Império entre as províncias e a Corte para demonstrar as transformações no modelo familiar, a divulgação do padrão de civilização europeu no seio da elite e os espaços de sociabilidade da alta sociedade na capital do Império, em destaque a rua do Ouvidor.
O texto de Rafael Cupello (capítulo 8) investiga as distintas representações existentes sobre Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e Horta, marquês de Barbacena, renomado político do Primeiro Reinado. No intuito de reconhecer quais artifícios foram utilizados na edificação de suas memórias, reconstrói a trajetória social do personagem, bem como suas redes de sociabilidade, esclarecendo, por meio de vasta pesquisa, quais elementos foram privilegiados nas biografias do marquês e como eles instituíram sua identidade histórica.
Na última seção, “Impressos e espaços de sociabilidade: as bibliotecas”, a obra se debruça sobre a circulação de ideias proporcionada pelos “espaços de saber” em diferentes momentos do Oitocentos. Enfatiza o papel das bibliotecas e clubes literários na construção do conhecimento escrito, na consolidação da cultura leitora no Brasil e na manifestação do pensamento político.
Juliana Gesuelli Meirelles (capítulo 9), em estudo sobre a Impressão Régia e a Real Biblioteca do Rio de Janeiro, privilegia as transformações da cidade ao longo do governo joanino. Enfatiza a diversidade de publicações do período – de anúncios a obras de História Natural – e o papel do bibliotecário na circulação dos impressos. Retrata também o processo de edição das publicações, além de sugerir que a implantação da tipografia foi determinante para a firmação da prática de leitura no período, momento em que o espaço público era marcado pela oralidade. De igual maneira, destaca a função desempenhada pela Biblioteca e seu acervo: espaço de saber e status da Idade Moderna.
Karulliny Silverol Siqueira Vianna (capítulo 10), empenha-se em pesquisa sobre a cultura impressa na província do Espírito Santo nos anos de 1880. A autora lança luz sobre a criação de clubes literários e bibliotecas, locais caracterizados não apenas enquanto espaço de leitura, mas também de intenso debate político e científico. Explorando o conteúdo de exemplares de periódicos e de relatórios, Vianna mostra que a construção de redes intelectuais que discutiam e propagavam ideais de novas correntes políticas no Espírito Santo, como no caso da propaganda republicana, ajudou a operar “a exclusão política de alguns grupos na província” (p.216).
Por fim, Carlos André Lopes Silva (capítulo 11) analisa a biblioteca da Academia dos Guardas-Marinha, vinda ao Brasil com a Real Família Portuguesa em 1808. Seu estudo demonstra como a organização de um corpo de livros pode fornecer ao historiador rico instrumento para apreender a sistematização do saber institucional. Privilegiando a atuação de seu organizador, o capitão de fragata José Maria Dantas Pereira, Lopes Silva estuda o papel dos manuscritos e impressos na instrução dos alunos da Academia, atendo-se aos volumes que compunham a biblioteca e à estrutura de funcionamento dela. Em sua análise, é fácil perceber que livros raros de distintas áreas do conhecimento, como matemática, química, botânica e história natural, constituíram referências relevantes para a ciência militar e para divulgação do conhecimento.
Ao abordar de maneira meticulosa as possibilidades da utilização de impressos como fontes ou objetos de pesquisa, Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos contribui com o importante debate historiográfico sobre as práticas de leitura e escrita e sua imbricação com a formação nacional, enriquecendo o conjunto de estudos que se dedicam aos aspectos políticos e culturais do Oitocentos. Outrossim, ao compor-se de textos de pesquisadores de diferentes níveis de formação e diversas instituições universitárias do país, indica o importante diálogo aberto pelos grupos de trabalho que se empenham no reconhecimento da palavra impressa como instrumento de manifestação da cultura política escrita no Brasil. Ainda, ao abordar as variadas dimensões do universo da imprensa, Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos evidencia como a divulgação de ideias, valores e costumes estava associada à circulação de jornais, revistas e livros, ou ao “fogo do céu” e à “fórmula da nova ideia” (p.7) evocadas por Machado de Assis.
Referência
BESSONE, Tânia; RIBEIRO, Gladys Sabi-na; GONÇALVES, Monique de Siquei-ra; MOMESSO, Beatriz (Orgs.). Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos. 1.ed. São Paulo: Alameda, 2016.
Eduardo José Neves Santos – Mestrando. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail: [email protected]
BESSONE, Tânia; RIBEIRO, Gladys Sabina; GONÇALVES, Monique de Siqueira; MOMESSO, Beatriz (Orgs.). Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: SANTOS, Eduardo José Neves. “O fogo do céu” e a “fórmula da nova ideia”: escrita, leitura e impressos no Brasil oitocentista. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 502-507, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Sêneca e o estoicismo | Paul Veyne
Buscar a sabedoria, exercer as virtudes e eliminar as paixões humanas. O estoicismo foi uma filosofia helenística que ao chegar a Roma, ainda no período republicano, pregava uma vida baseada nos princípios filosóficos que ordenavam todo o cosmos e o destino dos homens segundo as leis da natureza. Paul Veyne, historiador e arqueólogo francês especializado em Roma Antiga, lecionou na Escola Francesa de Roma, na Sorbonne e na Universidade de Provença. Em 1975 entrou para o Collège de France, onde foi titular da cadeira de história romana até 1998. A obra em análise, Séneque: Entretiens Lettres a Lucilius (1993), leva a assinatura deste brilhante historiador e chega ao Brasil com o título Sêneca e o estoicismo (reimpressão em 2016). Veyne debruçou-se sobre diversas obras do filósofo romano Lúcio Aneu Sêneca (1 a 65 d.C.) e captou em sua pesquisa aspectos históricos e do pensamento Antigo que retratam a sociedade romana nos governos dos Imperadores Cláudio e Nero.
O livro foi organizado em três grandes momentos: Prólogo; Sêneca e o estoicismo; e por fim um epílogo que descreve a última fase da vida de Sêneca que se afastou da vida política para dedicar-se mais ao otium da filosofia até sua condenação ao suicídio após Nero descobrir que o mesmo estava envolvido na famosa conspiração de Caio Calpúrnio Pisão, um senador romano, em 65 d.C.
A riqueza da obra de Veyne convida o leitor a realizar uma reflexão sobre diversos conceitos que ainda são amplamente discutidos no mundo contemporâneo: a moralidade, a felicidade, as virtudes, as paixões, a honestidade, o suicídio, o exílio, o tempo, entre outros temas, que permeiam a escrita senequiana e levam o historiador francês a debater sobre tais assuntos com vários pensadores que se destacaram na História do pensamento ocidental como Aristóteles, Kant e Freud. Para Veyne, o estoicismo de Sêneca procurava libertar seus discípulos das mazelas humanas geradas pelas paixões irracionais exemplificadas pelas ambições desenfreadas das riquezas, as lutas de gladiadores, o gosto pelas artes cênicas e musicais, e tudo o que afastava o indivíduo de uma vida virtuosa guiada pela razão estoica. Tal visão, onde o estoicismo se constituiria como uma filosofia libertadora das angústias da alma direcionando o homem da Antiguidade Clássica para uma vida equilibrada e longe das dores irracionais ocasionadas pelas paixões, também foi analisada por Cícero Cunha Bezerra em seu artigo A filosofia como Medicina da alma em Sêneca (2005). A filosofia estoica é compreendida por este autor como um remédio contra as práticas irracionais que afastavam o homem de uma vida tranqüila e equilibrada.
Nesse sentido, Veyne inicia seu livro com a parte introdutória do prólogo descrevendo a trajetória da vida do estoico e sua formação filosófica destacando seus primeiros passos na arte da filosofia transmitidos por seu mestre Átalo até sua ascensão como preceptor do jovem Nero (54 a 65 d.C.). Nascido em Córdoba, cidade hispânica da província da Bética (atual Espanha), Sêneca pertencia a uma família rica onde seu pai (Sêneca, o velho) desejava que os filhos estudassem em Roma e se enveredassem na arte da retórica e da esfera política. O talento de Sêneca como pensador rapidamente o conduziu para os círculos políticos do Senado Romano e a convivência na corte imperial de Cláudio.
Foi durante o governo de Cláudio que Sêneca sofreria uma condenação ao exílio na ilha de Córsega por se envolver em um suposto adultério e possíveis intrigas palacianas. O retorno de Sêneca a Roma seria um projeto da esposa deste imperador, Agripina, que confiaria a educação do filho Nero para o filósofo cordobês. O futuro princeps deveria governar Roma de acordo com os princípios virtuosos da razão estoica, tornando-se o modelo do bom governante, ou seja, um rei sábio.
Neste sentido, Veyne destaca a obra Sobre a clemência de Sêneca, escrita e direcionada para que Nero viesse a exercer a sabedoria e se afastasse de um governo tirânico, sendo clemente com todos os povos do Império. O bom governante deveria servir seus súditos e agir de acordo com o equilíbrio cósmico estruturado pelas leis da natureza, pois todo tirano acaba sendo derrubado do poder ou assassinado por aqueles que fazem parte de sua corte. A obra Imagens de Poder em Sêneca – Estudo sobre o De Clementia, de Marilena Vizentin (2005) apresenta como o princeps deveria ser clemente com seus opositores buscando desta forma perdoá-los transformado assim os inimigos em aliados. Mas o livro de Veyne vai além das expectativas do leitor que apenas tem por objetivo se prender aos aspectos filosóficos do estoicismo. O historiador analisa a sociedade romana no período dos Imperadores da dinastia Julio-Claudiana sem cair na mera descrição dos fatos.
É possível perceber na escrita de Veyne a preocupação em comparar as fases do estoicismo com filosofias da Modernidade (Kant e Rousseau) ou com as ideias de progresso e do devir da História presentes em estudos como os que Marx realizou para que a classe proletária compreendesse seu processo de libertação inserido na luta de classes contra a burguesia europeia. Veyne consegue relacionar as teorias desses pensadores sem perder de vista seu foco investigativo, aproximando-se constantemente de Sêneca e mergulhando nas obras do filósofo romano. Explora com maestria os diversos escritos senequianos como as Questões Naturais, as Consolações a Márcia e a um liberto de Cláudio conhecido como Políbio, o tratado intitulado Sobre os benefícios e finalmente as cartas direcionadas ao discípulo que Sêneca mais estimava e pertencia à ordem dos cavaleiros romanos, Gaio Lucílio Junior. As Cartas a Lucílio não apenas fazem parte do grande conjunto de obras de Sêneca, mas acabam por se constituir na fonte histórica mais citada nos estudos de Veyne. Foram escritas durante o período de afastamento de Sêneca da vida política (63 a 65 d.C.), onde Nero já demonstrava aversão aos conselhos do estoico e inclinava-se para uma vida regada pelos prazeres.
Os princípios filosóficos estoicos são analisados por Veyne em seu segundo capítulo Sêneca e o estoicismo. São diversos os conceitos que compõem o arcabouço teórico nas obras senequianas. Veyne demonstra como o estoicismo estava fundamentado nas leis da natureza. O homem era um ser cosmopolita, pois se ligava ao cosmos através da razão, representando em seu espírito (hegemonicon) as leis da natureza. Tal representação seria traduzida em ações retas (kathekontas) ou virtuosas livrando o indivíduo de uma vida pautada pelos vícios, ou seja, as más condutas. Sobre a representação estoica, Luizir de Oliveira (1998) afirma que a presença da virtude no homem constituía o próprio bem sendo o momento onde o indivíduo se harmonizava com o cosmos e se tornava parte dele. Era nesse momento que o hegemônico (hegemonicon), a parte diretiva da alma, realizava a representação compreensiva ao buscar na realidade descobrir a verdade em consonância com o cosmos.
A razão, ou a Natureza, nada mais seria do que o princípio formador e ordenador de toda a realidade cósmica e dos homens. No livro de Jean Brun, O Estoicismo (1986), a razão estoica é comparada a um fogo artífice. Esta teoria, segundo Brun, se aproxima da teoria de Heráclito de Éfeso, antigo pré-socrático do século VI a.C., que acreditava ser o universo formado por um lógos que era o fogo demiurgo de toda a realidade.
Viver conforme a natureza era se submeter a um deus providencial que possibilitaria ao homem alcançar uma vida sábia. Ser sábio significava vencer as dores e os sofrimentos gerados durante a existência independente das riquezas ou da pobreza, da saúde ou das doenças, da liberdade física ou da escravidão. De acordo com o estoicismo, para se obter uma vida feliz, serena e sábia, era necessário seguir os ditames deste princípio ordenador. Exercer a razão era praticar ações virtuosas como a temperança, a justiça, a coragem e a prudência, definidas por Veyne como as quatro virtudes estoicas. Em História da Filosofia Antiga (2002), Giovanni Reale destaca que as demais virtudes existentes eram subordinadas a estas.
Sêneca enfatiza em suas Cartas a Lucílio a importância de se vencer todos os infortúnios do destino alicerçado nos ensinamentos de sua filosofia. Neste sentido, outro aspecto necessário para se tornar um sábio estava na ideia de se buscar constantemente uma espécie de segurança interna, criando uma fortaleza interior capaz de resistir a qualquer tipo de sofrimento. Para um estoico a vida somente teria valor quando as virtudes estavam sendo praticadas e direcionavam o sábio para uma vida feliz. A felicidade não era definida pela riqueza ou pelos cargos conquistados na carreira política (cursus honorum). A felicidade deveria estar de acordo com as leis da physis, colaborar com o fluxo do universo, levando o indivíduo a viver no presente sem se abalar com os reveses do destino. Veyne ainda destaca que para Sêneca a felicidade deveria colaborar com a coletividade e não apenas ser algo efêmero e particular.
Talvez seja por isso que a morte nunca assustou Sêneca. Um dos pontos culminantes na teoria senequiana, e que comprova a tese de que um estoico deve ser impassível perante a dor, a perda das riquezas ou até mesmo perante a morte, será o tema que envolve o suicídio. Diante de um quadro político marcado por assassinatos (Veyne descreve o assassinato de Agripina e do jovem Britânico), perseguições aos opositores republicanos e um Principado caracterizado pela tirania de Nero, Sêneca retira-se da vida política. A morte de nosso filósofo é descrita na última parte do livro de Veyne intitulada de Epílogo. Os escritos de Tácito são as lentes de Veyne para narrar o episódio que levou Sêneca ao suicídio.
Acusado por participar de uma conspiração palaciana contra Nero, Sêneca será condenado ao suicídio por seu antigo discípulo. A narrativa de Tácito emociona o leitor que revive a cena final eternizando assim a firmeza moral senequiana perante a morte. Enfim, o livro de Veyne proporciona ao leitor e aos estudiosos do estoicismo, um rico material que apresenta não apenas a filosofia de Sêneca, mas diálogos com importantes pensadores do mundo da Modernidade e da contemporaneidade. Constitui-se como obra indispensável para aqueles que buscam aprofundar seus estudos sobre o estoicismo de Sêneca e do mundo romano na Antiguidade Clássica.
Referências
BEZERRA, Cícero Cunha. A filosofia como medicina da alma em Sêneca. Ágora Filosófica, Recife, v.5, n.2, p. 7-32, 2005.
BRUN, Jean. O estoicismo. Lisboa: Edições 70, 1986.
OLIVEIRA, Luizir de. Sêneca: a vida na obra, uma introdução à noção de vontade nas epístolas a Lucílio. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – PUC, São Paulo, 1998.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 2002. v.3.
VEYNE, Paul. Sêneca e o estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2016, 279p.
VIZENTIN, Marilena. Imagens de poder em Sêneca: estudo sobre o De Clementia. São Paulo: Ateliê, 2005.
Fabrício Dias Gusmão Di Mesquita – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista pela Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás (Fapeg). E-mail: [email protected]
VEYNE, Paul. Sêneca e o estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2016. Resenha de: MESQUITA, Fabrício Dias Gusmão Di. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.1-6, 2018.
A Construção Biográfica de Clóvis Beviláqua: memórias de admiração e de estigmas | Wilton Silva
Nas duas últimas décadas, a tradição dos estudos biográficos no Brasil alcançou avanços consideráveis. Dissertações e teses surgiram com todo vigor, problematizando personagens principalmente no campo das letras e da historiografia. Um exemplo desta expansão no campo historiográfico é a publicação do livro “A Construção Biográfica de Clóvis Beviláqua: memórias de admiração e de estigmas”, do historiador e sociólogo Wilton Silva, fruto de sua tese de livre docência, apresentada em 2013, na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de Assis, em São Paulo. Publicada em livro em 2016, pela Editora Alameda, a obra traz uma apresentação da antropóloga Suely Kofes (UNICAMP) e o prefácio do historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. (UFRN).
Wilton Silva pretende no livro analisar como se consolidou a memória do jurista cearense Clóvis Beviláqua (1859-1944), problematizando as distintas matrizes narrativas, com especial destaque para as dimensões grupais e institucionais que atuam em processos de afirmações e construções da memória e do esquecimento deste personagem. Para isso, o autor investigou quatro biografias sobre o jurista, publicadas entre as décadas de 1950 e 1990 no Brasil: “Clóvis Beviláqua”, de Lauro Romero (1956); “Clóvis Beviláqua”, de Raimundo Menezes e Ubaldino de Azevedo (1960); “Clóvis Beviláqua na intimidade”, de Noêmia Paes Barreto (1989); e por último “Clóvis Beviláqua: sua vida, sua obra” de Silvio Meira (1990). O autor justifica a escolha pelos méritos historiográficos e aspectos conjunturais em que foram produzidas as biografias ou ainda pelas divulgações que obtiveram em suas respectivas épocas de lançamentos. Leia Mais
O fim do Terceiro Reich: a destruição da Alemanha de Hitler, 1944-1945 | Ian Kerschaw
Ian Kershaw destaca-se como um dos principais historiadores da atualidade cuja especialidade de estudo toma por objeto de pesquisa o período que compreendeu o Terceiro Reich (1933-1945). Iniciou sua trajetória acadêmica enquanto medievalista (analisando o campesinato alemão). Posteriormente voltou sua atenção para analisar as sociedades do século XX, em especial a alemã. Ainda em relação a sua atuação profissional podemos destacar a sua consultoria em algumas séries produzidas pela rede BBC sobre o nazismo e o fato de ter lecionado na Universidade de Sheffield (South Yorkshire, Inglaterra) aposentando-se em 2008. Nos últimos anos parte de sua obra foi traduzida e publicada no Brasil permitindo maior divulgação de seu trabalho e de suas discussões em relação a essa temática. Nesse sentido, suas críticas em relação à utilização do conceito de “totalitarismo” para definir a sociedade alemã das décadas de 1930 e 1940 e a equiparação o fenômeno do nazismo com o chamado stalinismo, presentes em alguns de seus livros, têm suscitado discussões produtivas em nosso meio acadêmico.
A problemática central de seu livro “O fim do Terceiro Reich”, tema da presente resenha, diz respeito à compreensão dos motivos que levaram os alemães a apoiarem o regime nacional socialista até sua capitulação, sobretudo no último ano do conflito. O livro contém ao todo nove capítulos, nos quatro capítulos iniciais o autor nos apresenta o contexto da guerra e das expectativas da população do Reich quanto aos rumos do conflito após os eventos de 1944 (“Dia D” e Operação “Bagration”). É interessante ressaltar que nessa primeira abordagem o historiador fez uma distinção entre o contexto vivido pelos alemães que residiam no Oeste daqueles instalados no Leste. Os motivos dessa divisão serão mais bem trabalhados posteriormente. Ainda em relação a esses capítulos iniciais, Kershaw mostra como ocorreu o processo de radicalização do regime de acordo com o rumo tomado pela guerra.
Do quinto capítulo até o nono podemos observar os acontecimentos ocorridos no período de maior carnificina do conflito, entre fins de 1944 e o primeiro semestre de 1945. As discussões apresentadas pelo autor versam sobre a deterioração das estruturas do Estado [1], do consenso em relação ao partido e da diminuição do carisma e da cofiança depositada em Hitler. Ao discorrer sobre esses diversos elementos, Kershaw busca compreender as razões pelas os alemães continuaram a manter o esforço de guerra e, consequentemente, o funcionamento do Estado nazista em uma situação próxima ao colapso total.
O material empírico utilizado por Kershaw neste trabalho foi bastante variado. Compreendeu os informes das mais diversas áreas do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães [NSDAP] [2]; da Wehrmacht [Conjunto das Forças Armadas do Terceiro Reich]; da Polícia; informes e memorandos de autoridades estatais em seus mais diversos níveis; material proveniente dos Aliados; relatos do período; memórias; jornais alemães da época como o Völkischer Beobachter, Der Angriff, entre outros. Dentro desse conjunto é interessante destacar três tipos em particular: os informes do departamento de propaganda, os relatos da época e as memórias.
Em relação ao primeiro grupo o autor destacou como os membros do governo e do partido tentaram lidar com as informações obtidas através das pesquisas referentes ao “ânimo” da população alemã em relação à guerra. Tal documentação permitiu acompanhar mais detidamente a partir de que ponto a crença dos alemães em relação à guerra começaram a se modificar, bem como as opiniões em relação ao governo e a figura de Hitler.
No que diz respeito às memórias e aos relatos o autor, ainda que não entre em uma discussão mais aprofundada a esse respeito, demonstra a natureza problemática da utilização das memórias produzidas após o conflito, pois muitos de seus autores optaram pela construção de uma narrativa cujo objetivo era conseguir o máximo de isenção possível em relação a crimes de guerra e de sua adesão aos princípios do nacional-socialismo. Nesse sentido, ao confrontar as narrativas memorialistas de determinados sujeitos históricos com seus relatos produzidos no decorrer da guerra percebemos que os mesmos agiram de forma bastante distinta das suas alegações posteriores. Além disso, os relatos possibilitam observar diferentes possibilidades de ação que os atores sociais tinham diante de si naquele momento.
O autor optou por não iniciar sua pesquisa tomando como marcos o desembarque aliado na Normandia (“Dia D”) ou a grande ofensiva soviética no Leste (operação “Bagration”). A justificativa para isso está relacionada ao fato de inúmeras produções historiográficas utilizarem esses dois acontecimentos na construção de uma narrativa com um único desfecho provável: a capitulação da Alemanha. Segundo Kershaw a realidade era bastante distinta. Apesar dos alemães terem consciência de sua “delicada” situação isso não significava necessariamente em uma derrota final, como demonstraram as várias fontes desse período consultadas pelo pesquisador. Alguns tinham consciência da impossibilidade da Alemanha vencer a guerra, mas a ideia de uma derrota total não constituía um horizonte imediato. Para muitos era possível que a aliança entre as democracias ocidentais e a União Soviética pudesse ser desfeita e com isso a Alemanha conseguisse estabelecer um acordo com ingleses e americanos para combater os comunistas, mantendo assim alguns de seus ganhos territoriais.
Assim sendo, Ian Kershaw tomou como ponto de partida para sua análise o atentado malsucedido contra Hitler ocorrido em 20 de julho de 1944. Nesse episódio, alguns oficiais da Wehrmacht, destacando-se dentre eles o coronel Stauffenberg, tentaram assinar o Führer com uma bomba que apenas lhe causou alguns ferimentos de menor monta. Para o historiador tal acontecimento torna-se mais interessante pelo trauma interno suscitado na sociedade alemã, além de ter sido o pretexto ideal para a radicalização do regime, tanto em termos de mobilização da sociedade quanto do nível de coerção imposto à mesma. Após esse evento, a sociedade alemã mobilizou-se para prestar homenagens, agradecer a “providência divina” pela sobrevivência de seu líder, exigir a punição de todos os envolvidos e reafirmar seu comprometimento para com o mesmo. Através dessa conjuntura bastante favorável, Hitler permitiu que os mais altos escalões do partido dessem início a um processo de endurecimento do regime, ou nas palavras dos mesmos “completar a revolução nacional-socialista da sociedade alemã”.
Para Kershaw, a reprovação e a impopularidade do atentado deixaram claro o fato de que, naquele contexto, não haveria a possibilidade de ocorrer um movimento popular para destituir o governo, a exemplo da Revolução Alemã de 1918, que pôs fim a guerra, a monarquia e instaurou a República. Por fim cabe ressaltar outra observação bastante perspicaz do autor em relação a esse episódio: ao analisar o contexto posterior ao conflito, Ian Kershaw pôde perceber que para muitos alemães o fato dos conspiradores não terem conseguido lograr êxito em sua ação evitou a criação de um novo mito da “punhalada pelas costas” (mito esse que perpassou toda a política alemã das décadas de 1920 e 1930) potencialmente problemático para as negociações de paz no pós-guerra.
Para o autor, o conjunto dos militares foi de longe o grupo que mais se destacou no sentido de mobilização e sustentação do regime até a capitulação final. As questões relativas a tal fenômeno variaram de acordo com a posição na hierarquia das forças armadas e também dos rumos tomados pelo conflito. A perspectiva de estudo utilizada por Kershaw não busca na imposição de uma capitulação total da Alemanha a motivação dos soldados e oficiais prosseguirem na luta, ainda que para uma parte deles tal exigência, somada a outros fatores, fosse uma justificativa válida. Segundo o historiador é necessário compreender o processo subsequente à tentativa de assassinato malsucedida contra Hitler. Com a radicalização do regime a partir de 1944, Hitler passou a nomear generais e oficiais mais graduados que tinham estreita afinidade com os ideais do nacional-socialismo. A presença desses “fanáticos” [3] reforçou as opiniões e ordens de Führer sobre as ações de organização e atuação do exército na estratégia de defesa das fronteiras do Reich (bem como da última tentativa de ataque realizada pelos alemães, a “ofensiva das Ardenas”). Também é importante levar em consideração o fato deles terem desencorajado e deslegitimado as opiniões de outra parte do oficialato, opiniões essas mais realistas [4]. Nesse sentido, os comandantes militares ficaram cada vez mais sujeitos aos comandos do ditador em relação à condução do conflito. Essa divisão na cúpula das forças armadas foi um dos fatores, segundo o autor, que evitou qualquer outra iniciativa semelhante àquela ocorrida em julho de 1944.
Outros elementos auxiliam a entender o quadro mais amplo do comprometimento da Wehrmacht na continuação do conflito. De acordo com a documentação, muitos militares se recusaram a desacatar as ordens do Führer por um senso de lealdade e honra decorrentes de seu ofício enquanto militar. Outros também abominavam a ideia de traição em relação a seu líder (tendo consciência de que qualquer ato contra a vida de Hitler seria impopular e não garantiria que as tropas depusessem as armas). Ao longo dos últimos meses do conflito a situação nos dois fronts da guerra se deteriorava a passos largos, nesse sentido, a quase totalidade do tempo dos oficiais era despendida em organizar da melhor maneira possível os recursos para obter a maior eficácia na defesa do território. Por fim, o prosseguimento no conflito, sobretudo a partir de 1945, tinha como meta obter o maior tempo possível para que tanto as tropas quanto a população civil localizadas nas regiões do Leste pudessem alcançar a parte Oeste do Reich, escapando assim dos soviéticos.
No que concerne aos soldados às motivações também foram bastante semelhantes. Muitos ainda mantinham um nível razoável de crença na figura do Führer; outros acreditavam que se conseguissem resistir pelo tempo suficiente poderia acontecer algo que mudasse os rumos do conflito (a já referida crença na dissolução da aliança entre os comunistas e os democratas, ou a confecção das prometidas armas “miraculosas”). Somente um número bastante reduzido de nazistas convictos acreditavam na vitória final da Alemanha. Com o agravamento das condições, a questão da defesa da pátria (enquanto entidade abstrata) e outras motivações (como a não degeneração da raça ariana) foram sendo deixadas de lado, subsistindo apenas as preocupações com a própria sobrevivência e com a solidariedade em relação aos entes queridos e camaradas que ainda estavam nas regiões do Leste.
Em relação os soldados do front oriental, desde o início a defesa da Pátria estava ligada não somente com a autopreservação. Esses combatentes tinham clareza do destino reservado aos seus entes queridos, e aquilo que eles entendiam como “modo de vida alemão”, caso os bolcheviques conseguissem invadir a Alemanha. Para além da propaganda do partido, esses sujeitos tinham conferido em primeira mão uma amostra do que seria a invasão soviética ao conseguirem retomar, temporariamente, a cidade de Nemmersdorf. Ao expulsarem o invasor, os soldados encontraram uma cidade praticamente arrasada, corpos das vítimas do exército vermelho espalhados em determinados pontos além de escutarem o relato de alguns sobreviventes.
Através dessa perspectiva, a quase totalidade dos soldados, independentemente de serem ou não nazistas “fanáticos”, empenhavam-se ao máximo de suas capacidades para conter o avanço soviético. Mais uma vez Kershaw demonstra que apesar do clima de insatisfação com o regime e com o próprio Hitler nos últimos meses, as preocupações quanto ao destino individual e dos parentes, além das constantes lutas impediam uma articulação no sentido de depor Hitler e buscar uma solução negociada para o fim do conflito.
Quando o autor desloca seu foco para analisar como a população manteve certo consenso e legitimação do regime, Ian Kershaw problematiza a ferramenta analítica do totalitarismo. De acordo com muitos trabalhos, a sociedade alemã só foi submetida e levada a executar determinadas ações por conta do alto nível de coerção, e violência, exercidas pelo Estado e pelo partido nazista. Entretanto a análise de Kershaw questiona tal interpretação a partir de algumas observações. Segundo o historiador, até o atentado de Stauffenberg os níveis de coerção do partido e do próprio Estado alemão não eram tão grandes como as interpretações baseadas no conceito de totalitarismo tendem demonstrar. De fato, havia a utilização da violência e da coerção em grande escala contra os inimigos do regime (comunistas, trabalhadores estrangeiros, judeus, ciganos, políticos adversários aos nazistas). Mas esse nível de coerção e violência não era utilizado contra a população alemã e esta última demonstrava um nível elevado de apoio e legitimação do regime.
Contudo, após o malogrado atentado de Stauffenberg teve início o processo de radicalização do regime para atender as demandas do esforço de guerra total. Ao longo de 1944, mas principalmente a partir de 1945, o regime passa a “importar” para a própria Alemanha os mecanismos de controle que eram empregados nas regiões ocupadas. O uso sistemático da coerção e da violência por parte dos membros do partido, da polícia; a interferência cada vez maior dessas organizações na vida dos cidadãos; tribunais de justiça de exceção proliferaram no território alemão no decorrer desse período. Devido a isso é possível entender a atitude de resignação de segmentos da sociedade. Para essas pessoas o fim da guerra era questão de tempo (especialmente para a população do Oeste, que sofria com os constantes bombardeios aliados), então o principal objetivo era apenas sobreviver até o fim do conflito o que significava não se indispor com as autoridades e nem assumir uma postura clara de contestação ao regime.
Se alguns adotaram uma postura de resignação, outra parte da sociedade continuou a resistir ao máximo possível, especialmente a população que buscava se refugiar no Oeste. Apesar das pressões por parte do regime, a coerção e a violência eram motivos menores quando comparados ao medo de ser capturado pelos soviéticos. Para esses indivíduos a sobrevivência e o desejo de escapar da captura da União Soviética marcam o apoio ao regime, pois somente ele seria capaz de lhes garantir a proteção ou o tempo necessário para se chegar à zona ocupada pelos ingleses e americanos (nesses casos a ideia de vitória ou de um fim vantajoso para a Alemanha já haviam sido completamente descartados).
Por fim, outra categoria social analisada por Kershaw foi o conjunto dos membros do NSDAP. Para os membros mais destacados do partido, os governadores das províncias (Gauleiter) entre outros hierarquicamente superiores, a razão para continuar exercendo suas funções era bastante clara: no caso de derrota eles cairiam junto com o Regime, não importando se a Alemanha capitulasse para os ingleses, americanos ou para os soviéticos. Nesse sentido era imperioso manter as estruturas do governo em funcionamento mesmo que ao custo do aumento da violência e coerção em relação à população. Assim sendo, o historiador pôde perceber que ao se aproximar o colapso total do Terceiro Reich esses membros mais destacados do partido não tinham o objetivo de capitular junto com seu líder, seguindo os princípios do nacional-socialismo (uma exceção notável foi à posição de Joseph Goebbels, que pôs fim a sua vida juntamente com a esposa e seus filhos). Na iminência do fim, essas figuras destacadas tentaram encontrar meios de escapar da Alemanha ou de conseguir algum acordo com os vencedores visando uma posição no governo pós Hitler ou para escapar das acusações de crimes de guerra.
Para os integrantes dos quadros inferiores do partido e de outras organizações, como a Juventude Hitlerista, as atitudes variaram de acordo com os acontecimentos. Até meados de 1945 eles buscavam exercer suas funções para garantir o tempo necessário para reorganização das defesas, confecção das novas armas e mantendo a esperança, veiculada nos meios de propaganda oficiais, de que a Alemanha precisava ganhar tempo até a aliança entre seus inimigos se desfazer o que poderia mudar os rumos do conflito. Como essas expectativas iam se desfazendo a cada novo avanço sobre o território do Reich, as preocupações passavam a ser a da garantia da própria sobrevivência (tanto contra ressentimentos da própria população alemã quanto dos aliados e soviéticos).
Como conclusão, o trabalho de Kershaw mostra-se interessante devido à proposição de novas perspectivas para a compreensão do Terceiro Reich. Para o autor a antiga justificativa de que a Alemanha teria resistido até o final devido à exigência de uma rendição incondicional, como já foi discutida anteriormente, não reverberou em grandes mobilizações ou promoveu transformações no governo e nas forças armadas. Apesar de seu uso pela propaganda do partido nazista, esse não foi um fator que justificasse todo o esforço empreendido. Além disso, nos relatos consultados pelo autor referentes ao período da guerra, houve escassas menções a tal imposição como fator de apoio ao regime e de sua política.
Outra interpretação que pode ser questionada diz respeito às interpretações baseadas no conceito de “totalitarismo”. No decorrer do livro percebemos que as mesmas não conseguem responder de maneira satisfatória os motivos da existência de um consenso social em relação à ditadura nazista. Mesmo com o aumento do nível de coerção interna, o consenso da população alemã em relação ao Terceiro Reich não estava baseado no terror, mas na crença de que o regime era a única solução disponível dentre as limitadas opções que eles dispunham. Em outros casos a coerção interna não foi o elemento norteador para o prosseguimento do esforço de guerra. Preocupações e anseios como, por exemplo, a sobrevivência pessoal e de entes queridos ou a preocupação em relação ao destino daqueles que eventualmente ficassem sob o julgo soviético constituíram meios mais eficazes que as ideologias do nacional-socialismo para mobilizar a sociedade alemã do período e nortear as ações daqueles sujeitos históricos.
Notas
1. Alguns exemplos nesse sentido foram: repartições administrativas funcionando de maneira precária, sem material e sede fixa; serviços de iluminação e de transportes deixaram de serem prestados devido à falta de estrutura e de pessoal; os serviços telegráficos e de correspondências também foram sendo suprimidos por motivos análogos.
2. Podemos destacar como os mais interessantes os seguintes: informes dos Gauleiter, os administradores das províncias do Reich; do departamento de propaganda; dos órgãos do partido criados com a finalidade de exercer diversas funções de competência do Estado entre outros.
3. A utilização do termo “fanático” foi inicialmente esporádica, restringindo-se aos integrantes do exército que explicitamente demonstravam suas vinculações com o partido e com os princípios do nacional-socialismo. Com o decorrer do conflito mesmo aqueles que eram contrários aos princípios dessa ideologia passaram a ser denominados dessa forma devido à imposição feita pelo departamento de propaganda no intuito de demonstrar unidade e comprometimento na causa. No último ano do conflito alguns integrantes das forças armadas buscavam apresentar-se dessa forma para reafirmar seu comprometimento para com Hitler a fim de evitar acusações de traição ou covardia, ambas punidas com a morte.
4. Para alguns oficiais a estratégia a ser adotada consistia em recuar para determinadas posições a fim de estabelecer e consolidar uma defesa mais eficaz dos territórios sobre controle alemão e do próprio Reich. Contudo, as ordens de Hitler, e o apoio do oficialato “nazista” impediram tais medidas por considerarem-nas atos explícitos de covardia ou falta de comprometimento com a causa da guerra. Nesse sentido, vidas e equipamentos necessários para o prolongamento do esforço de guerra alemão foram desperdiçados de forma displicente.
José Airton Ferreira da Costa Júnior – Mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Professor temporário do Departamento de História da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAMUECE). E-mail: [email protected]
KERSHAW, Ian. O fim do Terceiro Reich: a destruição da Alemanha de Hitler, 1944-1945. Tradução Jairo Arco e Flexa. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. Resenha de: COSTA JÚNIOR, José Airton Ferreira da. “Experiência e sociabilidades ou os limites do nacional-socialismo”. Revista de História Bilros: História(s), Sociedade(s) e Cultura(s). Fortaleza, v.6, n.11, p. 149-157, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Perspectivas e Diálogos | UNEB | 2018
Perspectivas e Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino (Caetité, 2018-) é um periódico semestral, online, associado ao grupo de pesquisa Núcleo de História Social e Práticas de Ensino (Nhipe/Cnpq) do Departamento de Ciências Humanas, campus VI, da Universidade do Estado da Bahia, localizado na cidade de Caetité, Bahia, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade (PPGELS) do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da Universidade do Estado da Bahia.
A Revista tem por objetivo divulgar produções originais e inéditas de relevância científica na área de História com ênfase na História Social, na História da Educação e Pesquisa e Práticas de Ensino de História.
A Revista dialoga com a literatura, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a arqueologia, as variadas linguagens imagéticas e sonoras (cinema, fotografia, iconografia, música) e com as tecnologias de informação e de comunicação na pesquisa e no ensino.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Horizontes Históricos | UFS | 2018
A Horizontes Históricos (São Cristóvão, 2018) é uma revista eletrônica ligada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe. O objetivo da revista é congregar textos de pesquisadores a nível de graduados, mestrado e doutorado – inserindo mestrandos e doutorandos – acerca de temas que versem sobre Relações Sociais e de Poder, Cultura, Identidades, bem como os entrelaces entre esses campos.
São aceitos trabalhos de História e áreas afins, explicitadas na área dedicada às submissões dos mesmos. A revista abre uma chamada livre por semestre e um dossiê temático anual, para os quais são recebidos artigos, resenhas críticas e entrevistas. A Revista busca atuar como um veículo difusor e fomentador da produção acadêmica, primeiramente dos pesquisadores locais e, em extensão, da pesquisa científica na área das Ciências Humanas e Sociais em geral.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2596 0377
Acessar resenhas
Acessar dossiês [Não publicou dossiês até 2021]
Acessar sumários
Acessar arquivos
Das Amazônias | UFAC | 2018
Das Amazônias – Revista Discente do Curso de História da Universidade Federal do Acre (Rio Branco, 2018-) é vinculada a área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre (CFCH/UFAC).
Tem por objetivo mobilizar e envolver pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências Humanas, Educação e Linguagens, bem como manter relações com as experiências de professores da educação básica e de movimentos sociais das florestas e cidades amazônico-andinas.
As contribuições, na forma de artigos, entrevistas, resumos e resenhas, poderão ser livres ou vinculadas a dossiês temáticos organizados por profissionais dos cursos de História da UFAC e outras instituições.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2674-5968 (Eletrônico)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Fronteiras, Culturas e Deslocamentos Populacionais / Aedos / 2018
“O objeto da história é, por natureza, o homem.
Digamos melhor: os homens. Mais que o singular,
favorável à abstração, o plural, que é o modo
gramatical da relatividade”.
Marc Bloch (2001, p. 54)
Marc Bloch, na epigrafe acima, discorre sobre o objeto da história pautado a partir da presença dos homens no tempo, ou seja, a pesquisa histórica eles são próprios sujeitos sociais. Decerto, “o tempo da história, ao contrário, é o próprio plasma em que se engastam os fenômenos e como lugar de sua inteligibilidade” (BLOCH, 2001, p. 55). Nesse sentido, os fenômenos são acionados através da própria realidade concreta.
No livro Apologia a História, Bloch enfatiza que “a história não é uma relojoaria ou uma marcenaria. É um esforço para conhecer melhor: por conseguinte, uma coisa em movimento” (BLOCH, 2001, p. 46). Nesse esforço de compreensão, hodiernamente, faz-se necessário estabelecer novos diálogos e / ou conexões a fim de ter em mãos novos modelos explicativos.
Seguindo essa linha de pensamento, Certeau (2011, p. 47) frisou que “toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção socioeconômico, político e cultural”. O lugar social, portanto, é para o pesquisador campo fértil e é ao mesmo tempo espaço de luta em torno do que será pesquisado. O autor advoga que para isso, “tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de outra maneira […] na realidade, ela consiste em produzir tais documentos”.
Nesse caso, os estudos sobre os deslocamentos populacionais, na contemporaneidade, têm se mostrado um campo profícuo nas Ciências Humanas e Sociais. Estudos que trazem a tona novas abordagens e novas perspectivas teórico-metodológicas, tais como: fronteiras, migração (internacional e nacional), refugiados, inserção sociocultural dos migrantes no lugar de destino, relações e tensões societárias (familiares, gênero, xenofobia, empregabilidade, educação, saúde), bem como a atuação do Estado e entidades não governamentais frente a este complexo e multifacetado fenômeno presente no contexto das migrações.
Vale destacar que, os Estados-nações são criações globais, relativamente recentes (HOBSBAWN, 1990), os quais há discrepâncias entre os “nacionais” e os “estrangeiros”. Discrepâncias que são criadas culturalmente e sedimentadas nas leis, com seleção da entrada destes nas fronteiras. A migração de pessoas ultrapassando fronteiras nacionais desses Estados é fenômeno global e multifacetado. Por conseguinte, pensam-se as migrações internacionais, por exemplo, a partir do fluxo de pessoas no globo já que essa condição é regida e limitada por legislações locais dos países soberanos.
No século XVIII o filósofo iluminista Kant propôs, na obra “A Paz Perpétua” uma sociedade universal de paz, com respeito unívoco pelos direitos humanos em um mundo com hospitalidade universal e sem exércitos, pois estes fazem “implicar um uso dos homens como simples máquinas e instrumentos na mão de outrem (do Estado)” (2008, p. 6). Entretanto, não há um direito global de migrar. Entretanto, o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que “todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar” (ONU, 2009), mas não há força vinculante dessa norma internacional nos países, sendo norma meramente programática (ACCIOLY, SILVA, CASELLA, 2012, p. 497; PORTELA, 2010, p. 647).
Posto isso, o dossiê Fronteiras, Culturas e Deslocamentos Populacionais, trazido nesse número, conta com seis artigos, os quais trazem como panorama a questão do deslocamento populacional como fio conduto sobre o fenômeno migratório (inter)nacional.
O primeiro artigo é “Identidades, transnacionalidade e violência: o caso dos brasileiros no Japão”. Nele o fenômeno da imigração brasileira para o Japão é apresentado como um tipo de expulsão que é característica do capitalismo neoliberal. Destaca-se que o ponto de partida do artigo é discussão de dois acontecimentos – o discurso do deputado federal Jair Bolsonaro proferido em abril de 2017, onde o político ataca minorias étnicas e apresenta brasileiros de origem japonesa como “uma minoria exemplar”; e o assassinato da enfermeira japonesa Rika Okada, ocorrido no Japão, março de 2014, no qual a nipo-brasileira Kate Yuri Oishi foi apontada como culpada após entregar-se para as autoridades. Nesse caso, o segundo acontecimento, apesar de extremo, não representa uma exceção no sentido de que os brasileiros de origem japonesa, por vezes vistos como “exemplares” no Brasil, encontram-se em geral bastante marginalizados no contexto social japonês.
Já o segundo, “A História em espiral: compreendendo a receptividade brasileira à imigração haitiana a partir de suas determinações”, discute o mito que descreve o Brasil como um país acolhedor e receptivo à imigração, para tal, toma-se como campo analítico a imigração haitiana, no qual a autora busca demonstrar que essa ideia de pais acolhedor omite questões como os preconceitos e a xenofobia que dificultam a inserção do migrante no lugar de destino.
O terceiro texto, “Migração Venezuelana ao Brasil: discurso político e xenofobia no contexto atual” apresenta o estado de Roraima como principal rota para de entrada dos migrantes venezuelanos. A partir dessa realidade as autoras analisam as narrativas que permeia a Ação Civil Originária 3121, na qual o governo de Roraima solicita que o Supremo Tribunal Federal (STF) determine que a União assuma efetivamente o controle policial e sanitário na entrada do Brasil, inclusive com o fechamento temporário da fronteira. Além disso, procuram demonstrar como o recurso a essa retórica discriminatória atende a interesses políticos e de grupos específicos, agravando ainda mais a vulnerabilidade dos migrantes e dificultando sobremaneira sua integração.
O texto “Do imigrante ao nacional regenerado: a busca pelo trabalhador perfeito” traz o contexto imigratório para a cidade de São Paulo, no último quartel do século XIX, sendo que a maior parte desses migrantes vieram da Europa. Essa realidade, na concepção do autor, alimentou a mentalidade da elite brasileira em relação ao um novo regime de trabalho já que os imigrantes iriam contribuir com a economia paulista. Consequentemente, os imigrantes carregavam consigo a tarefa de “regenerar” a população brasileira, sobretudo a de ascendência africana, vista como uma população degenerada e inferior. Desta feita, o autor problematiza a importância da ação da escola no início do século XX a fim de regenerar o indivíduo.
Em “Da partida à saudade: as representações de migrantes do Nordeste na obra de Luiz Gonzaga”, é discutido o fenômeno da migração de trabalhadores nordestinos, entre as décadas de 1950 a 1970, para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro através da obra musical do compositor e intérprete Luiz Gonzaga. Nesse caso a música é utilizada pelo autor para discutir a diversidade dos tipos de migrantes representados na obra do “Rei do Baião”.
Já o último artigo a compor o dossiê “Arranchar-se do outro lado do Atlântico: açorianos na freguesia de Taquari (sul da América portuguesa, 1750-1800)” demonstra os aspectos da migração de casais açorianos para o que hoje definido como Rio Grande do Sul a partir da freguesia de Taquari. Para isso, a autora investiga as condições de acesso à terra, bem como sua ocupação deste a chegada até as últimas décadas do século XVIII.
Francisco Marcos Mendes Nogueira – Doutorando em História pela UFRGS. Mestre em Sociedade e Fronteiras pela UFRR. Historiador (B / L) pela UFRR.
Alan Robson Alexandrino Ramos – Doutorando em Ciências Ambientais pela UFRR. Mestre em Sociedade e Fronteiras pela UFRR. Especialista em Segurança Pública e Cidadania pela UFRR. Bacharel em Direito pela UFC e em Filosofia pela Universidade Sul de Santa Catarina. Delegado de Polícia Federal lotado em Roraima.
NOGUEIRA, Francisco Marcos Mendes; RAMOS, Alan Robson Alexandrino. Apresentação. Aedos, Porto Alegre, v. 10, n. 22, Ago, 2018. Acessar publicação original [DR]
Para que votar? História do voto e das eleições no Brasil / Aedos / 2018
Pensar as motivações do voto em um momento em que a maioria da população brasileira é movida por um sentimento de descrença nos políticos e mesmo de rejeição à política se faz necessário para compreender o complexo jogo de representação e de expressão da vontade popular nas mais diversas conjunturas históricas e políticas da República brasileira. Enquanto o Brasil experimentava um processo eleitoral dramático, os editores da revista Aedos trabalhavam no dossiê Para que votar? História do voto e das eleições no Brasil, que teve como objetivo reunir trabalhos que abordassem a temática das eleições e do sistema eleitoral no Brasil Republicano e, sobretudo, que refletissem sobre o sentido do voto e da representação política.
Em virtude da complexidade da experiência republicana, marcada por regimes políticos e legislações eleitorais distintas que vigoraram no período, convidamos os pesquisadores a contribuírem no estudo da dinâmica dos processos eleitorais, da história do voto e da representação política nesse recorte temporal, buscando reunir trabalhos que, a partir do estudos de casos ou dinâmicas específicas, proporcionassem reflexões sobre os diferentes sentidos do voto e os diferentes papéis das eleições no jogo político ao longo da República. O objetivo do dossiê também foi o de reunir trabalhos que questionassem a relação estabelecida entre representante e representado na legitimação da autoridade política e na construção democrática do exercício do poder.
No centro desse debate, sobre os regimes representativos, encontram-se os partidos políticos, que ao mesmo tempo que se constituem em instrumento de aproximação e articulação entre os diversos segmentos sociais, também representam demandas particulares e aspirações universais. Durante os processos eleitorais, as siglas partidárias se empenham para promover a personificação das aspirações sociais na pessoa do seu representante e na desconstrução da imagem e no discurso dos seus adversários, com o propósito de convencerem os eleitores a votarem no seu candidato. Logo, são nesses momentos de competição eleitoral que os representados ganham destaque, são o objeto do discurso político, ao serem chamados a exercerem um direito, o do sufrágio. O voto além de manifestar uma escolha e uma posição, diante de um determinado contexto político, econômico e social, também é um instrumento que vincula o representante ao representado.
O voto como objeto da História Política parte da premissa de que sua implementação como meio de participação política possui uma historicidade a ser pensada: longe de ser um meio natural para tomadas de decisão coletivas, o voto foi historicamente instituído, até mesmo em detrimento de outras formas presentes em um vasto repertório de ação coletiva, e constituído como meio legítimo. É o que apontam reflexões de autores como Bernard Manin (1995), Alain Garrigou (1988), Michel Offerlé (1993; 2011) e os diversos textos da coletânea organizada por Letícia Bicalho Canêdo (2005) no Brasil. Um história do voto se apresenta como um empreendimento capaz de identificar, contextualizar e problematizar as práticas e as concepções que levaram eleitores e eleitoras a se constituírem como tais, a se tornarem eleitores, e a estabelecerem relações entre o ato de votar e a vida cotidiana.
A história do voto e das eleições no Brasil está longe de ser a história de uma evolução linear. Sua trajetória foi acidentada e influenciada pelas contingências de um cenário político com alterações constantes. Da implantação do regime republicano até a promulgação da Constituição de 1988 muitas reformas ocorreram em relação ao direito ao voto, que passaram, paulatinamente, a incluir uma massa de indivíduos (não abastados, mulheres e analfabetos) que outrora tinham negado esse direito e determinaram a mudança do voto facultativo para obrigatório. Os artigos que formam o presente dossiê passam por diversos momentos dessa história, em diferentes fases da República, abordando desde os aspectos legais da representação política até as práticas de partidos políticos, as campanhas eleitorais e a competição política.
Neste dossiê, contamos com um artigo sobre as eleições no período da Primeira República (1889-1930), intitulado As Eleições na Primeira República: Abstenções, Legislação e Controle Eleitoral, de autoria de Carina Martiny. Sobre as articulações visando à eleição presidencial de 1937 temos o artigo Luiz Mário Dantas Burity, “Eis o que me ocorre, por hoje”: a campanha presidencial de 1937 e a candidatura de José Américo de Almeida nas correspondências de Juraci Magalhães e Artur Neiva. O período da experiência democrática (1945-1964) foi contemplado por quatro artigos, sendo dois sobre as eleições no Piauí: Jackson Dantas de Macedo e Marylu Alves de Oliveira são autores de História e política: Fontes documentais como lugares de memória e a análise do processo eleitoral de 1945 no Estado do Piauí; e Ábdon Eres da Silva Neto contribui com o artigo O município e o processo eleitoral de 1954 no Piauí. Sobre a dissidência do PSD no Rio Grande do Sul temos o artigo de Tiago de Moraes Kieffer e Marcos Jovino Asturian, intitulado O Partido Social Democrático Autonomista (PSDA): Apontamentos Preliminares de Pesquisa. Completam o dossiê os artigos de Laila Correa e Silva, O direito ao voto feminino no século XIX brasileiro: a atuação política de Josephina Álvares de Azevedo (1851-1913) e o de Letícia Sabina Wermeier Krilow intitulado Democracia em perspectiva: as representações no Correio da Manhã sobre as eleições gerais de 1958.
Acompanham o dossiê duas entrevistas que realizamos tangenciando o tema do voto e da representação política, gentilmente concedidas pelas professoras Cláudia Maria Ribeiro Viscardi (UFJF) e Céli Regina Jardim Pinto (UFRGS). A primeira, destacando as novas abordagens que vêm ressignificando o tema da competição política na Primeira República e a segunda trazendo uma reflexão sobre a democracia no Brasil realizada no calor dos resultados eleitorais de 2018.
Referências
CANÊDO, Letícia Bicalho (Org.). O sufrágio universal e a invenção democrática. São Paulo: Estação Liberdade, 2005.
GARRIGOU, Alain. Le secret de l’isoloir. Actes de la recherche en sciences sociales, v. 71-72, março 1988.
MANIN, Bernard. As Metamorfoses do Governo Representativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, nº 29, pp. 5-34, 1995.
OFFERLÉ, Michel. Un homme, une voix? Histoire du suffrage universel. Paris: Gallimard, 1993.
________________. Perímetros de lo político: contribuiciones a una sócio-historia de la política. Buenos Aires: Antropofagia, 2011.
Douglas Souza Angeli – Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: [email protected]
Paula Vanessa Paz Ribeiro – Professora da EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: [email protected]
ANGELI, Douglas Souza; RIBEIRO, Paula Vanessa Paz. Apresentação. Aedos, Porto Alegre, v. 10, n. 23, Dez, 2018. Acessar publicação original [DR]
América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções / Albuquerque: Revista de História / 2018
É com satisfação que apresentamos ao público mais um número de Albuquerque: Revista de História. Em sua vigésima edição a revista trás onze artigos produzidos por professores e pesquisadores brasileiros e argentinos, que compõem o dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções, correspondente ao resultado, ainda que parcial, do projeto “Associados de Pós-Graduações Brasil-Argentina (CAFB-BA)”.
Desenvolvido entre os anos de 2014 e 2017, sob avaliação e financiamento, no Brasil, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e, no caso argentino, pela Secretaria de Políticas Universitárias (SPU), o projeto “Associados de Pós-Graduações Brasil-Argentina (CAFB-BA)”, coordenado na Argentina e no Brasil, respectivamente, pelos professores Sebastián Valverde e Marco Aurélio Machado de Oliveira, buscou interligar, por meio do intercâmbio de pesquisadores desses dois países, o Programa de Pós Graduação em nível de Mestrado em Estudos de Fronteiriços (PPGMEF) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Instituição de Ensino Superior (IES) na Região Centro-Oeste do Brasil, e da Escola de Pós-graduação de Antropologia e Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (FFyL-UBA), Cidade Autônoma de Buenos Aires, República Argentina.
O aprofundamento da análise desse projeto aparece no artigo que abre o dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções, intitulado “Experiencias de intercambio entre Brasil y Argentina: contexto socioeconómico, cientificismo y abordajes críticos”, de autoria de Ivana Petz, pesquisadora ligada ao Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET / Universidad de Buenos Aires, à Facultad de Filosofía y Letras, ao Instituto de Ciencias Antropológicas e à Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil; María Cecilia Scaglia, professora do Instituto de Ciencias Antropológicas e integrante da Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil da Universidad de Buenos Aires; e Sebastián Valverde, pesquisador do Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET / Universidad de Buenos Aires e profesor do Instituto de Ciencias Antropológicas da Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales.
Frisando as diferenças de perfil da Universidade de Buenos Aires (UBA), historicamente mais acadêmico, e do Mestrado em Estudos Frnteiriços (MEF), de caráter profissionalizante, o artigo faz referências às experiências desenvolvidas a partir de pesquisas articuladas com transferência e / ou extensão, como as ações concretizadas no Centro de Inovação e Desenvolvimento para Ação Comunitária (CIDAC) – na zona sul da Cidade de Buenos Aires – ou por meio dos “Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Social (PDTS)”, em contraponto com a análise dos pontos comuns e as diferenças como o MEF-UFMS atua com as instituições que trabalham com os imigrantes na região de fronteira do estado do Mato Grosso do Sul (MS).
O dossiê prossegue com o artigo “Aportes a los estudios de frontera a partir de la valorizacion inmobiliaria reciente el caso del norte grande argentino”, no qual o geógrafo Sergio Iván Braticevic, vinculado ao Instituto Patagónico en Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales da Universidade de Buenos Aires e pesquisador do CONICET-UNCo, apresenta os resultados de uma ampla pesquisa sobre o recente processo de alta dos preços da terra no norte argentino, impulsionado, de acordo com o autor, por fatores econômicos e institucionais, entre os quais destacam-se a expansão da fronteira agropecuária, as atividades turísticas e a especulação imobiliária.
A questão agrária na Argentina também é abordada pelas pesquisadoras do CONICET-UNCo Verónica Trpin e María Daniela Rodríguez, no artigo “Transformaciones territoriales y desigualdades en el norte de la Patagonia: extractivismo y conflictos en áreas agrarias y turísticas”. A partir de trabalho de campo realizado no norte da Patagônia, especificamente nos vales irrigados dos rios Negro e Neuquén e nas zonas de estepe e cordilheira da província de Neuquén, as autoras analisam as transformações territoriais em curso nas áreas agrárias e turísticas dessa região, observando que as dinâmicas dessas transformações se materializam na desapropriação de bens comuns como a terra e a água.
O bloco de três artigos seguintes articula o problema agrário face à questão indígena no Brasil e na Argentina.
No artigo intitulado “Capitalismo dependente empobrecimento indígena no Brasil rural”, o professor e pesquisador da Universidade de Brasília Cristhian Teófilo da Silva parte da premissa de que estudos sobre as formas de desigualdade e pobreza que afetam os povos indígenas contemporâneos devem estar fundamentados em uma perspectiva macro-histórica e micro-sociológica, a fim de que se possa construir uma definição de “pobreza indígena” sensível a sua diversidade e complexidade de manifestações. O autor apóia-se em contribuições etnográficas e denúncias de violação dos direitos humanos dos povos indígenas nas regiões da fronteira Sul do Brasil, bem como na conciliação dos debates sobre o capitalismo dependente e os processos socioeconômicos de integração dos povos indígenas a sistemas coloniais e capitalistas específicos, para demonstrar que tais processos não se desenrolaram de modo idêntico em cada lugar e tampouco de forma inalterada ao longo do tempo.
Em “Despojos de las poblaciones mapuches por parte del Estado Argentino. La frontera bonaerense y el caso de la comunidad mapuche Calfu Lafken de Carhué”, a pesquisadora Sofia Varisco investiga os processos de desapropriação territorial sofridos pelas comunidades indígenas mapuches através das diversas campanhas militares no norte da Patagônia, as quais produziram migrações forçadas e deslocamento de famílias para diferentes regiões do país. Focando sua análise na comunidade Mapuche Calfu Lafken da localidade turística de Carhué, situada no sudoeste da Província de Buenos Aires, a autora destaca de que forma o constante avanço do Estado sobre essa região, definida por alguns analistas argentinos como a “última fronteira bonaerense”, privou a população nativa de seus territórios, o que não só dificultou a comprovação da ocupação ancestral como, em muitos aspectos, tornou invisível a presença de indígenas na referida região.
A problemática da terra articulada à questão indígena na Argentina é retomada no artigo intitulado “Configuraciones espaciales a partir de la intervención estatal en territorios indigenas de Chaco” , no qual Malena Inés Castilla analisa o papel das políticas desenvolvidas pelos organismos governamentais na Província argentina do Chaco, as quais implementam e constroem fronteiras que determinam de forma prejudicial as comunidades étnicas locais. Para tanto, a autora concentra-se em explicar o contexto em que a expansão da fronteira agrária do Chaco foi consolidada durante a década de 1990, e como as ações posteriores das organizações governamentais impactaram as transformações socioeconômicas, territoriais e culturais naquela região.
Sasha Camila Cherñavsky, da Faculdade de Sociologia da Universidade de Buenos Aires, traz sua contribuição ao dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções com uma reflexão sobre a Educação Intercultural Bilíngue (EIB). Partindo do pressuposto de que a Educação Intercultural Bilíngue pode ser localizada no marco do paradigma epistemológico do “Sul” apoiado numa prática descolonizadora, no artigo “La Educación Intercultural Bilingue como aporte a un pensamiento heterárquico” a autora destaca a EIB como uma modalidade educativa, que parte de uma lógica oposta àquela aplicada pela matriz colonial moderna, de caráter cada vez mais discriminador e desigual. Enquanto modalidade educativa marginalizada pela educação tradicional, a Educação Intercultural Bilíngue tem sua gênese, como observa Sasha Cherñavsky a partir de pesquisa realizada com a comunidade Lma Iacia Qom radicada em San Pedro (Província de Missiones), nas demandas e ações levadas a cabo pelos próprios indígenas, com o objetivo de difundir sua cultura ancestral, de buscar o apoio às demandas territoriais, à luta contra a discriminação e à violação de outros direitos, em busca de uma sociedade inter e multicultural.
A questão urbana tem lugar, no presente dossiê, no artigo “Lugares de ciudadanía, experiencias de ciudadanización: investigaciones etnográficas en relación con el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires”, escrito por Maria Florencia Girola e Maria Belén Garibotti, ambas pesquisadoras vinculadas ao CONICET e à Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Nesse artigo as autoras analisam diferentes experiências de “cidadanização” registradas em duas áreas urbano-habitacionais da cidade de Buenos Aires, que se distinguem, entre outros aspectos, por seus contextos históricos de origem e por suas tipologias de construção e modalidades de povoamento: o Conjunto Urbano Soldati, um mega-conjunto residencial localizado no bairro de Vila Soldati proveniente de um processo de produção estatal de habitação social, e o Assentamento La Carbonilla, situado no bairro portenho de La Paternal, resultante de um processo popular de produção social do habitat. Recorrendo a um trabalho de sistematização de fontes e a uma pesquisa de campo de caráter etnográfico, construida em torno de atividades de observação / participação e entrevistas com moradores dos dois espaços urbanos-habitacionais citados, Maria Florencia Girola e Maria Belén Garibotti se dispõem, através do estudo das práticas e experiências ‘nativas’, de materialidades e significados concretos envolvendo sujeitos localizados, a avançar na análise comparativa de processos de conformação de cidadanias, ligados à aquisição do direito à moradia.
Em “Los caminos de la institucionalización de la economía popular en contextos neoliberales: aportes en clave de procesos hegemônicos”, Guadalupe Hindi e Matias Larsen, ambos da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, discutem a problemática da economia popular na Argentina como um processo de institucionalização, que se insere em um processo hegemônico neoliberal. Para tanto os autores dividem o texto em dois momentos tratando, primeiramente, dos eventos que se referem ao processo de institucionalização da economia popular, em particular o que diz respeito à sanção e regulamentação da Lei de Emergência Social e dos debates gerados em torno dela para, a partir daí, revisar as formas pelas quais se dá a renovação de um determinado debate em termos da “autonomia” das demandas populares em sua conexão com o Estado. Em contraposição a isso, os autores procuram revisar os eventos posteriores à regulamentação da Lei, com o objetivo de propor marcos de entendimento que localizem no centro da análise menos o consenso do que os sentidos que estão implicados, tanto nas ações do Estado como dos sujeitos organizados.
Os dois artigos finais foram produzidos por professores e pesquisadores brasileiros vinculados a três instituições públicas de ensino superior de Mato Grosso do Sul (UFMS. UFGD e UEMS), todos eles direta ou indiretamente ligados ao Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços, sediado no campus de Corumbá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Neles a questão da migração na América Latina e os impactos ambientais na fronteira brasileira estão no centro das discussões.
Em “América Latina racionalizada na nova Lei de Migração (Lei nº 13.455 / 17: discursos e legitimidade”, Marco Aurélio Machado de Oliveira, Fábio Machado da Silva e Davi Lopes Campos trazem algumas reflexões relacionadas à imigração na América Latina, nos aspectos envolvendo os discursos e a legitimidade. Partindo da premissa de que é possível pensar a questão migratória nesse espaço dentro de um relacionamento legítimo e discursivo, os autores procuram apresentar algumas discussões teóricas sobre como são desenvolvidos os diálogos discursivos entre os atingidos pela nova lei de migração (lei nº 13.445 / 17), conferindo ou não legitimidade aos atores envolvidos. Dessa forma objetivam analisar criticamente o aspecto prático no discurso dos operadores do direito referente à migração, propondo um debate de como o direito pode limitar ou ampliar a questão social, histórica e cultural da migração na atualidade.
O dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções é encerrado com o artigo intitulado “Os impactos ambientais da IIRSA-COSIPLAN no Arco Central da fronteira brasileira”, escrito por Camilo Pereira Carneiro, Felipe Pereira Matoso e Katucy Santos. Destacando que o processo de integração sul-americano, que teve início no final do século XX, possibilitou a emergência de iniciativas de aproximação entre os países do subcontinente, com destaque para o MERCOSUL, a UNASUL e a IIRSA-COSIPLAN, os autores propõem uma análise, a partir das Relações Internacionais, dos impactos socioambientais da IIRSA-COSIPLAN no Arco Central da fronteira brasileira. A análise dessa iniciativa em particular justifica-se, segundo os autores, em razão da mesma ter gerado um importante impacto, materializado de modo especial em zonas de fronteira, ainda que os projetos de infraestrutura implementados se caracterizem pela falta de participação das comunidades locais, e a inobservância dos aspectos socioambientais quando da execução das obras tenha efeitos negativos nas esferas ambiental, social, econômica e cultural.
Com a publicação do dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções Albuquerque: Revista de História cumpre mais uma vez sua proposta de divulgar os trabalhos de pesquisadores nacionais e estrangeiros, estabelecendo com os mesmos um diálogo de caráter inter e transdiscipinar.
Aquidauana, verão de 2019.
Sebastián Valverde
Marco Aurélio Machado de Oliveira
Carlos Martins Junior
VALVERDE, Sebastián; OLIVEIRA, Marco Aurélio Machado de; MARTINS JUNIOR, Carlos. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.10, n.20, 2018. Acessar publicação original [DR]
Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX | Rocío da Riva e Jordi Vidal
A fines del siglo XIX y principios del XX, en el contexto de una intensa competencia imperialista –entre un pequeño número de Estados europeos (primero Gran Bretaña y Francia, posteriormente Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, España y los Países Bajos) y extraeuroepos (Estados Unidos y Japón)– por la apropiación de gran parte de África y de Asia, la subordinación de sus poblaciones y la constitución de un nuevo orden político y económico, tuvo lugar la progresiva institucionalización formal de los estudios antiguo-orientales dentro de los ámbitos académicos occidentales. En efecto, dicho proceso de constitución tuvo por acontecimientos inaugurales tanto la invasión napoleónica en Egipto en 1798 y de Siria-Palestina en 1799 como las primeras empresas de búsquedas y apropiación de materiales arqueológicos a cargo del cónsul francés Émile Botta y del funcionario inglés Austen Henry Layard en Mosul y Nimrud respectivamente (antiguas capitales asirias). Esas actividades llevaron a intensificar las expediciones y excavaciones de sitios antiguos en Egipto y Medio Oriente. Fue así que individuos procedentes de campos y actividades distintas (soldados, funcionarios, viajeros, mercaderes y eruditos) recorrieron diversos paisajes, mostraron un interés estratégico por las así denominadas “maneras” y “costumbres” de los países islámicos, aprendieron los idiomas de las sociedades que los habitaban, descifraron las lenguas y textos de los pueblos desaparecidos y acumularon innumerables objetos de su cultura material (cerámicas, vasijas, cilindro-sellos, tablillas, relieves, papiros, estelas, frontones, estatuillas y estatuas).
Durante el desenvolvimiento de estas distintas, el saqueo de tumbas y sitios para lucrar con su contenido existió por supuesto, al menos en Egipto, y convivió cómodamente con los intentos más “serios”, organizados y sistemáticos de el imperialismo y la dominación colonial posibilitaron el acceso no sólo a múltiples espacios antes desconocidos o apenas imaginados, sino además a nueva información (proporcionada tanto por los restos arqueológicos como por los informantes locales) a partir de la cual fue posible construir una imagen mucho más aproximada –y sustentada empíricamente– de las antiguas sociedades que poblaron la región. Coetáneo a los nuevos hallazgos y actividades, se produjo la progresiva fragmentación y especialización temática dentro del propio orientalismo antiguo, diferenciándose así ciertas subdisciplinas (Egiptología, Asiriología, Siriología, Anatolística y Estudios Bíblicos), como también dos tareas específicas en la labor investigativa: la del arqueólogo (encargado de organizar las excavaciones y recolectar los nuevos materiales) y la del filólogo (preocupado por desentrañar las lenguas antiguas y sus sistemas de escritura a partir de la traducción del material epigráfico). investigaciones arqueológicas. Aun así, es indudable que las prácticas inauguradas por
Considerando lo anteriormente expuesto, es innegable que esta descripción sintetiza una dinámica mucho más compleja y sinuosa de un campo de estudio que, luego de su afianzamiento, creció y expandió, ampliando horizontes y permitiendo avances investigativos significativos para la posteridad sobre las antiguas culturas y sociedades de Egipto, Mesopotamia, Anatolia y la franja sirio-palestina. El libro que el lector tienen entre sus manos, Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX, compilado por Rocío Da Riva y Jordi Vidal, reconocidos profesores españoles y especialistas en arqueología e historia antigua oriental, se ocupa justamente de las historias de algunos de los primeros estudiosos occidentales que trabajaron en la región y que con su multifacética labor contribuyeron al nacimiento de las historiografía y arqueología del Cercano Oriente Antiguo. El volumen compila las intervenciones de la mayoría de los expositores que participaron del workshop llevado a cabo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona a finales de noviembre de 2013. Dicho evento académico reunió a destacados especialistas en la historia antigua de Egipto y Próximo Oriente y a otros investigadores más preocupados por temas de historiografía con la intención de debatir sobre la formación y evolución de los estudios antiguo-orientales, la definición de subdisciplinas, analizar el accionar de los primeros exploradores y las prácticas científicas de las etapas iniciales con la intención de encontrar afinidades temáticas y establecer futuros proyectos de investigación. El resultado final es una bien lograda compilación de once artículos que más allá de la forma que cada autor escogió para escribirlo y de los enfoques empleados en cada uno de ellos, coinciden en la intención de presentar datos nuevos, informaciones novedosas o revisiones críticas de teorías o ideas ya conocidas.
El libro abre con una acertada introducción sobre el concepto de historiografía y los actuales debates alrededor de esta especialidad a cargo de Jordi Cortadella. Para este autor, el historiador es un profesional que recopila hechos del pasado humano conforme a criterios que suponen una elección de valores y categorías, pero para hacerlo precisa de la intermediación de los testimonios que aquel debe interpretar. En consecuencia, la labor del historiador consiste en la escritura de una Historia no sólo desde su propia perspectiva, sino también a partir de la mirada de otros intérpretes que lo precedieron. Para Cortadella, entonces, la historia de la historiografía se ocupa de definir qué tipos de hechos son los que preocupan a un historiador determinado y cuál es la motivación específica de aquel historiador por estudiar tales hechos en un momento determinado. En otras palabras, se trata de un campo cuya principal premisa pasa por mostrar que cualquier problema histórico posee per se su propia historia. Seguidamente, en una segunda introducción general sobre la historiografía del Próximo Oriente, Jordi Vidal identifica los motivos del escaso interés que han suscitado los estudios de corte historiográfico en el campo del Orientalismo Antiguo así como también algunas tendencias generales que resultan evidentes en los materiales publicados hasta el momento sobre la temática, como por ejemplo la preponderancia de los estudios biográficos, los análisis de casos nacionales y el predominio anglosajón en este tipo de investigaciones. No obstante, el historiador catalán indica que esta última tendencia si bien no puede discutirse, debe ser matizada en la medida que prestigiosos investigadores de otros países –como Alemania, Francia e, incluso, España– han comenzado a incursionar en diversas cuestiones y dimensiones relativas al cultivo y desarrollo de los estudios antiguo-orientales en sus historiografías nacionales.
La sección del libro dedicada a Egipto y Norte de África se inicia con el artículo de Roser Marsal (Universitat Autónoma de Barcelona), el cual expone la historia de los primeros exploradores que recorrieron el Desierto Occidental egipcio a finales del siglo XIX. La historiadora plantea que, en los inicios de las investigaciones egiptológicas, el desierto del Sáhara no constituyó un objeto de interés debido a que las duras condiciones climáticas lo volvían un supuesto terreno inhóspito para el desarrollo de la vida humana. Sin embargo, conforme se iban acumulando nuevas evidencias arqueológicas con cada nueva exploración (como los sedimentos lacustres, algunos restos de cultura material y las pinturas rupestres halladas en Jebel Uweinat, Gilf Kebir, Wadi Sura o la Cueva de los Nadadores), el noreste africano comenzó a suscitar mayor interés entre los estudiosos, ampliando el espectro temporal de sus investigaciones y, consecuentemente, llevándolos a incursionar en las etapas neolíticas. La autora concluye mostrando que tales estudios no sólo gozan de buena salud en la actualidad, sino que también contribuyen a poner de relieve los aportes culturales africanos en la formación de la civilización egipcia. Por su parte, Josep Cervelló (Universitat Autónoma de Barcelona) reconstruye con su estudio las bases de una “historiografía de los orígenes de Egipto” a partir del aporte de Jacques De Morgan, William E. Petrie, James E. Quibell, Frederick W. Green y Émile Amélineau, deteniéndose en las excavaciones que emprendieron en el Alto Egipto a lo largo de la década 1893-1903. A partir de la minuciosa revisión de la labor de estos pioneros de la arqueología egiptológica, Cervelló expone que los materiales exhumados de los sitios de Hieracómpolis, Nagada y Abidos permitieron reconstruir las primeras dinastías faraónicas y sus cementerios, bosquejar un primer panorama histórico y producir una primera cronología de los orígenes prehistóricos de la cultura egipcia.
En su artículo, Juan Carlos Moreno García (CNRS, Université Paris-Sorbonne París IV) analiza la formación y consolidación, en la producción de los egiptólogos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de la imagen de un Egipto antiguo como una civilización “excepcional”, diferente de las otras sociedades del mundo antiguo y transmisora de un importante legado de valores culturales. Se trata de un mito historiográfico que se revelaría sumamente tenaz dentro de los estudios orientales, con prolongaciones hasta nuestros días, cuyas raíces pueden escudriñarse –según el autor– en la crisis de la cultura occidental a finales del siglo XIX. Moreno García señala que el Egipto de los faraones se transformó en una suerte de “paraíso perdido” sobre el cual las distintas burguesías europeas proyectaron sus miedos sociales y ansiedades culturales, agravadas por el auge de los viajes a Oriente, por el desenvolvimiento de una arqueología que oscilaba entre la práctica científica, la aventura romántica y la caza de tesoros y, finalmente, por la creación de una particular versión de la Egiptología por parte de unos profesionales con formación bíblica y unos valores políticos precisos. El estudio de Francisco Gracia Alonso (Universitat de Barcelona) sigue el accionar de algunos de los más destacados representantes de la arqueología británica de la Segunda Guerra Mundial –como Mortimer Wheeler, Leonard Woolley, John Bryan Ward-Parkins y Geoffrey S. Kirk– que, en el marco de los combates entre las tropas del Eje y el Octavo Ejército Británico entre 1940 y 1943, participaron de las tareas de protección del patrimonio arqueológico de Egipto, Libia y Túnez puesto en peligro por las operaciones militares. El autor indica que el servicio que prestó este elenco de arqueólogos, helenistas e historiadores de la Antigüedad en las filas del Ejército Británico durante las campañas del Egeo y el norte de África implicó dos dimensiones: por un lado, la protección y salvamento de los yacimientos arqueológicos y, en segundo lugar, su utilización como arma propagandística de las destrucciones ocasionadas por la guerra.
La sección dedicada a Oriente Próximo se abre con el trabajo de Juan José Ibánez (CSIC) y Jesús Emilio González Urquijo (Universidad de Cantabria) alrededor de la figura del sacerdote cántabro González Echegaray, precursor en los estudios de la etapa neolítica del Cercano Oriente dentro del ámbito ibérico. Los autores examinan las excavaciones del yacimiento de El Khiam (Desierto de Judea, Palestina) que este pionero dirigió en 1962 y resaltan su contribución teórica a la comprensión de la transición hacia el Neolítico en el Levante Mediterráneo a través de la definición del denominado “periodo Khiamiense”. En el segundo trabajo de esta sección, Juan Muñiz y Valentín Álvarez (Misión Arqueológica Española de Jebel Mutawwaq) se ocupan de identificar las primeras referencias a los monumentos megalíticos en Transjordania que aparecían desperdigadas en las páginas de diversas obras, diarios de exploración o trabajo de campo etnográfico de viajeros y eruditos del siglo XIX que se desplazaban a Tierra Santa seducidos por los relatos románticos de peregrinaciones, innumerables ruinas de grandes civilizaciones abandonadas, tesoros ocultos, etc. Seguidamente, Jordi Vidal (Universitat Autónoma de Barcelona) considera la manera tradicional de relatar el hallazgo de la antigua ciudad de Ugarit (actual Ras Shamra). El investigador plantea que dicho relato “canónico” se encuentra atravesado por una perspectiva marcadamente eurocéntrica, manifiesta en la subvaloración u omisión tanto de las contribuciones locales al hallazgo del yacimiento como de la participación otomana en dicho acontecimiento, ocurrida mucho antes del arribo de los arqueólogos franceses al sitio.
En su artículo, María Eugenia Aubet (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) examina el proceso de “redescubrimiento” arqueológico de la cultura fenicia y el papel que la monumental obra de Ernest Renan, Mission de Phénicie (1864-1874), tuvo respecto al respecto. La arqueóloga señala que este particular escrito motivó las primeras exploraciones en las regiones de Libia y Siria luego de la Primera Guerra Mundial con la intención de recuperar un importante cúmulo de artefactos hoy desaparecidos (como esculturas, monumentos funerarios y epígrafes procedentes de Biblos, Saïda y Oum el-Awamid, cerca de Tiro), pero de los que tenemos conocimiento en la actualidad debido a los excelentes grabados y planimetrías que pueblan las páginas del informe que compuso este polémico intelectual francés durante su célebre expedición a Fenicia en 1960 y 1961. A su turno, Rocío Da Riva (Universitat de Barcelona) incursiona en la vida y obra del arqueólogo alemán Robert Koldewey. Enmarcando su trabajo en un estudio del rol de la arqueología en el Imperio Alemán durante el siglo XIX, la investigadora madrileña reseña los diferentes trabajos que el renombrado Koldewey realizó en Babilonia y detalla con minuciosidad sus aportes empíricos e innovaciones metodológicas al campo de la asiriología –aún en formación– y a la arqueología de la arquitectura, así como la incidencia de su labor en la prensa española contemporánea.
Como cierre del libro, Carles Buenacasa (Universitat de Barcelona) nos lega un artículo en el que ensaya un conjunto de argumentos y reflexiones a propósito de los 200 años del “redescubrimiento” de la ciudad de Petra –capital del antiguo pueblo ismaelita (localizada a 80 km al sudeste del mar Muerto)– por el suizo Jean Louis Burckhardt, un profundo conocedor de la lengua árabe y de la religión islámica que, haciéndose pasar por un mercader árabe, viajó por el Oriente Próximo y Nubia. El pormenorizado examen del autor le permite identificar en el relato oficial de este episodio de la arqueología de principios del siglo XX –y su celebración bicentenaria– una suerte de memoria historiográfica del “hallazgo” pensada desde y para Occidente, orientada a remarcar la figura del explorador europeo como único responsable y, en paralelo, a invisibilizar la colaboración que algunos pobladores locales brindaron al explorador europeo, oficiando las veces de guías debido al detallado conocimiento que poseían del terreno. Como pone de manifiesto Buenacasa a lo largo del texto, se trata de una percepción historiográfica eurocéntrica que además desconoce, tanto en el pasado como en el presente, el hecho de que la antigua capital de los nabateos, esa ciudad de época clásica tan original y poco convencional nunca estuvo “extraviada” para los jordanos.
Al finalizar la lectura de los distintos artículos que integran la compilación, el lector habrá comprobado que ha accedido a diversos y singulares modos de configurar enfoques, metodologías e interpretaciones acerca del primer momento historiográfico de los estudios antiguo orientales que con gran éxito han logrado conjugar los compiladores en un solo volumen. No dudamos al aseverar que dicha característica es, quizás, una de las virtudes más significativas del libro. Sin embargo, no queremos dejar de destacar otras dos características sobresalientes. En primer lugar, la compilación muestra que las prácticas “científicas” que marcaron la génesis de los estudios históricos sobre las culturas antiguas del Próximo Oriente no pueden separarse de la situación geopolítica, los intereses económicos y los imaginarios culturales en un mundo integrado (y fragmentado) por el mercado capitalista y la expansión imperialista, en el cual diferentes agentes, motivaciones e intereses recuperan un lugar que la historiografía nacida en el mismo del siglo XIX invisibilizó con las biografías de los grandes precursores y la épica del progreso de la ciencia. Y en segundo lugar, se trata de una obra intrépida, en tanto deja al desnudo que mientras las sociedades antiguas del Cercano Oriente fueron “redescubiertas” y retratadas, desde un tamiz ontológico eurocéntrico, colonialista y racista impuesto por la dominación imperialista, como parte de un pasado exótico, maravilloso y monumental, a los pueblos que habitaban dichas regiones se les reservó el indulgente lugar de la degradación o inexistencia contemporánea.
En efecto, en una época en que las teorías racistas estaban al orden del día, los exploradores y colonizadores europeos no reconocieron a los diversos grupos étnicos con los que entraron en contacto como herederos de las prósperas civilizaciones de Oriente, considerando que se trataba de poblaciones “salvajes” y “bárbaras” sin historia, ajenas a dichas tradiciones culturales, incapaces de imitar en inteligencia y refinamiento a los creadores de antaño y, por tanto, de reconocer la riqueza de los grandes descubrimientos arqueológicos. Ello nos recuerda un dato bastante infeliz: que no sólo infinidad de objetos hicieron un viaje sin retorno a Europa a partir de la idea de que Occidente tenía la misión insoslayable de salvar esos tesoros de la supuesta ignorancia y vandalismo de los beduinos, sino que además esta misión de rescate pasó a justificar las innumerables usurpaciones, saqueos y robos cometidos, el despojo de tierras de los grupos locales, su sumisión, explotación y, en casos extremos, pero demasiado frecuentes, su exterminio; todos actos cometidos en nombre de la conservación de un patrimonio del cual las sociedades occidentales se sentían únicas y legítimas herederas. Se trata de un aspecto que, como latinoamericanos, haríamos mal en subestimar, pues ese mismo tipo de representación específica del pasado –de carácter más mítico y preconcebido antes que histórico y documentado–, que provee los parámetros ontológicos y epistemológicos para la comprensión del mundo desde una matriz occidentocéntrica, es la misma forma de percepción de la cultura histórica que, desde fines del siglo XIX, incidió precisamente en la invención de nuestras tradiciones historiográficas nacionales. Y, en tal dirección, la compilación se presenta como una necesaria y saludable invitación para que, desde nuestras periferias científicas, reflexionemos sobre los agentes, paradigmas y contextos locales que animaron el surgimiento y expansión de los equipos y/o centros de investigación dedicados al estudio de las culturas preclásicas del Cercano Oriente en Brasil, Argentina y otros países de América Latina.
Horacio Miguel Hernán Zapata – Docente-Investigador. Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)/Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)/Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSOH)-Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), Argentina. Correo electrónico: [email protected].
DA RIVA, Rocío y VIDAL, Jordi (Eds.). Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2015. 318 p. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Egregios, práticas “científicas” y cultura material en la institucionalización de los estúdios de Antiguo Oriente a fines del siglo XIX y princípios del XX. Revista Ágora. Vitória, n.28, p.260-266, 2018. Acessar publicação original [IF].
Lima Barreto: Triste Visionário | Lilia Mouritz Schwarcz
Importante historiadora de nossa atualidade, Lilia Moritz Schwarcz, desde os tempos de mestrado, se debruçou a estudar o período do século XIX e todas as questões que envolvem a abolição da escravidão e o cotidiano dos sujeitos escravizados. Professora de Antropologia da Universidade de São Paulo, é também docente visitante na Universidade de Princeton e editora da Companhia das Letras, onde coordena a seção de livros de não ficção e por onde foram publicadas todas as suas obras. Autora de livros como O espetáculo das Raças, Retrato em Branco e Negro e Brasil: uma biografia, Schwarcz lançou em 2017 o livro fruto de sua pesquisa dos últimos anos, cujo protagonismo ficou a cargo de um personagem que já aparecera antes em sua trajetória profissional, mas que nunca antes pudera se deter estudando: Lima Barreto.
Na época de escrever sua tese de doutorado, Schwarcz estudou a questão do darwinismo social – teoria debatida no início do século XX que afirmava a existência de diferenças profundas entre as raças humanas – onde surgiu a figura do romancista brasileiro como uma voz contrária à própria teoria, tirando todo o credo daquele que se tornaria um dos argumentos científicos em torno do surgimento do racismo. O contexto em que se fala é o da Primeira República brasileira, momento em que se prometeu a igualdade, mas também entregou a exclusão social de largas partes da população. Assim, o período tornou-se palco para muitas revoltas e manifestações a favor dos direitos sociais e civis, possibilitando a presença de indivíduos como Lima Barreto, que opinava, criticava, clamava por igualdade e por justiça, em nome de si mesmo e de todos os outros. O livro, cujo título ficou Lima Barreto: Triste Visionário, editado pela Companhia das Letras, foi lançado no início do segundo semestre de 2017, cuja data coincidiu com a ocorrência da Festa Literária de Paraty, importante evento do ramo editorial brasileiro e onde o autor homenageado na edição era Lima Barreto. Lilia Schwarcz e Lázaro Ramos, ator global, estavam presentes, debatendo e fazendo leituras sobre os escritos do romancista [1].
Tal qual se supõe uma biografia, Schwarcz sobrevoa toda a vida e trajetória do romancista, que viveu na passagem do século XIX para o XX e por meio de suas palavras, assumiu uma postura crítica diante da situação que o Brasil se encontrava. Desta forma, é logo na introdução que a autora realiza um trabalho cuidadoso, ao se postar, como pesquisadora, diante de seu objeto. Com uma linguagem capaz de transportar o leitor para o período em questão, Schwarcz narra as primeiras relações com Lima Barreto, tecendo os caminhos que levaram ela a querer escrever a obra. A maneira com a qual a mesma se coloca é quase que uma relação de amizade, pelo simples fato de querer entender a figura de Lima Barreto em todas as suas facetas. Não obstante, a pesquisadora deixa claro saber da existência da primeira e uma das principais biografias existente sobre Lima Barreto, publicada em 1952 com a autoria de Francisco de Assis. Nesse sentido, coloca o seu trabalho como fruto de suas indagações contemporâneas, em virtude da eclosão dos direitos civis e diferença na igualdade, além da presença de raça, questões já presentes nos escritos de Barreto em sua época. Consequentemente, faz uma relação com o fazer historiográfico, dizendo que o historiador desenvolve suas pesquisas com base nas perguntas de seu presente, tal qual afirmação de Lucien Febvre, citado por Schwarcz [2], onde o mesmo diz que a História é filha do seu tempo.
Triste e visionário: são os termos utilizados pela autora para caracterizar Barreto, e é nessa dualidade que a mesma vai desenvolvendo sua escrita. Utilizando-se de uma linguagem de fácil entendimento, possível de ser compreendida por estudiosos da área, mas também por leitores não acadêmicos, Schwarcz constrói a figura de Barreto como contraditória. Desse modo, afasta-o de uma possível heroicização, tornando-o apenas um homem de seu tempo. Narrando desde o seu nascimento até sua morte, a autora destaca, ao longo de dezessete capítulos, momentos e fases da vida do carioca. E nesse processo explora a atuação de Barreto nos mais diversos campos: desde a vida pessoal até mesmo a literatura e a política. Juntamente a isso, a historiadora procura tecer um contexto histórico, sempre partindo do cotidiano do autor, de tal modo a poder embasar o seu papel em meio a tudo aquilo. Logo, o leitor é convidado a realizar uma viagem pelo Brasil na passagem do século XIX para o século, num período de queda da monarquia e instauração de um novo regime. Por um lado, toda a expectativa pelo que um novo governo poderia trazer, incluindo mudanças na estrutura das cidades e o surgimento de novas práticas sociais e culturais. Mas, ao mesmo tempo, os problemas que a monarquia colocara e ainda persistiam no período republicano, dentre eles a própria questão dos sujeitos livres, mas que até pouco tempo eram escravizados.
Todo esse panorama é acompanhado de imagens e trechos de fontes da época, como jornais, incluindo crônicas, notícias, dando destaque muitas vezes aquelas escritas por Barreto. Deste modo, ao invés de tecer longos comentários e análises sobre, Schwarcz opta que o romancista fale, com suas próprias palavras, em momentos que julga necessário e relevante. Para facilitar ainda mais a leitura, cabe ressaltar o esforço no que tange o trabalho gráfico por parte da edição do livro, tornando a leitura ainda mais fluida e aprazível para o leitor.
A atuação de Lima Barreto, como já foi citado anteriormente, se deu por meio de colunas, romances e até a criação de periódicos, como é o caso do Floreal, que chegou às mãos de público carioca em outubro de 1907 e cujo diretor era Lima Barreto. Apresentava um formato pequeno e vinha com o objetivo de disputar o gosto dos leitores da cidade. O periódico refletia a postura crítica de seus membros, incluindo o próprio Barreto, diante da imprensa do período. Para os mesmos, os jornais em circulação no período atendiam a um público específico, sendo ele a burguesia, logo eram sensacionalistas. Dessa forma, não tinha preocupações mercantis e procurava apresentar as notícias de modo mais isento e próximo da população em geral. Isso acabou refletindo na trajetória do periódico, uma vez que não conseguia disputar espaço com os grandes impressos, sendo eles mais bem diagramados e que possuíam fotos, ilustrações, caricaturas e um projeto gráfico bem produzido. Outro alvo declarado era a Academia Brasileira de Letras, criada no período e que respeitava apenas uma “literatura muito pautada por regras gramaticais distantes da linguagem do povo” [3]. Apesar disso, é importante destacar que Lima Barreto tentara entrar algumas vezes na sociedade, não tendo sucesso em nenhuma delas.
A literatura foi outro ponto forte de sua atuação. Segundo Lilia Schwarcz, e que segue as análises de Francisco de Assis Barbosa, Lima Barreto tinha outros livros em preparo, mas decidiu lançar Recordações do escrivão Isaías Caminha com o objetivo de escandalizar. O romance narra a história do jovem Isaías, que chega à cidade grande cheio de esperanças de tornar-se doutor, mas acaba se deparando com o preconceito, a humilhação e a tristeza. É na narrativa que o autor representa algo que ele chamava de “’negrismo’: qual seja, uma projeção para o Brasil do movimento internacional de pan-africanos que, naquele momento, internacionalmente lidava com as dificuldades enfrentadas pela população negra no pós-abolição”[4]. Dessa forma, expõe com detalhes a cor de seus personagens, bem como o universo de constrangimentos que fazia parte do dia-a-dia dessas populações. Apesar do argumento envolvido no livro ser forte, o texto não foi recebido como era o esperado, também não se tornando um sucesso de crítica. Em vez de se deter na forte denúncia racial, presente em diversos momentos da obra, os críticos da época preferiram abordar a maneira como o livro tratou o jornalismo e as formas de sociabilidades literárias, e mais nitidamente, os periódicos. Tal postura “do contra”[5] acabou se repetindo ao longo de seus outros livros, sempre com um mesmo cunho: romance de crítica social. Lima Barreto queria provocar a intelectualidade carioca do período, e conseguiu tal feito.
Um terceiro campo de atuação que influenciou alguns outros foi a política, quando Lima Barreto se aproximou do anarquismo e das novas correntes libertárias, presentes no Brasil nas décadas de 1900 e 1910. Apesar de não ter se filiado, abertamente, a grupos ou clubes anarquistas, Barreto demonstrou interesse com as teorias que influenciavam colegas de geração e passou a veiculá-las em muitos de seus artigos. É nesse período que surge a tão lembrada sátira à Primeira República: Bruzundanga, que deu origem a um livro de mesmo nome, publicado após a morte de Lima Barreto. Na narrativa, o autor constrói um país fictício com diversos problemas sociais, culturais e econômicos, em que os ricos e incautos acumulam títulos acadêmicos e têm fama de eruditos.
Lilia Schwarcz sobrevoa a vida do escritor, destacando seus altos e baixos, seus feitos e suas polêmicas. A relação com a bebida, com os modernistas que vieram no mesmo período, com Monteiro Lobato e Machado de Assis e indo além até o seu triste fim, conforme palavras da própria historiadora, mostrando toda a construção posterior em torno de sua figura, o papel de Francisco de Assis Barbosa, primeiro biógrafo de Barreto são todos pontos destacados no desenrolar da escrita. Dessa maneira, dá um enfoque especial entre a relação entre Assis e Barreto, que se torna próxima, onde a imagem de ambos acaba se misturando. Isso se dá após a morte de Assis, quando sua esposa, d. Yolanda, doa a coleção de seu marido a José Mindlin, um grande bibliófilo brasileiro, e que por meio dela que Schwarcz tem acesso a boa parcela dos documentos de Barreto. É aqui que a autora traz a discussão de Pierre Nora, sobre lugares de memória, quando afirma que “qualquer objeto, qualquer documento, (…) só ganham sentido se incluirmos neles nossas lembranças e afetos”[6]. E de tal modo em que se teve o ganho de sentido entre Francisco de Assis Barbosa e Lima Barreto, teve-se o mesmo para com Lilia Schwarcz e seus protagonistas. Escrever um livro desses em tempos de discussões sobre preconceito e racismo levanta questionamentos que começaram no início do século XX e que permeiam a nossa sociedade atual. E que a partir da tomada de uma reflexão crítica sobre alguns pontos, podem dizer muito sobre nosso futuro. Desse modo, a impressão que se tem ao ler o livro é que a autora presta uma homenagem a um personagem tão importante na História de nosso país, deixando que o mesmo tenha um protagonismo e um reconhecimento tal qual deveria ser: triste e visionário.
Notas
1. Para ver mais: Acesso em: 16 nov 2017.
2. SCHWARCZ, Lilia. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p.16
3. Ibid., p.195.
4. Ibid., p.218.
5. Ibid., p.2345.
6. Ibid., p.508.
Lucas Krammer Orsi – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. E-mail: [email protected]
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: Triste Visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de: ORSI, Lucas Krammer. Lima Barreto em três tempos: passado, presente e futuro. Cantareira. Niterói, n.28, p. 231 – 234, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
What is Global History?
Um dos temas mais discutidos nos departamentos de humanidades ultimamente é a História Global. Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão em geral, tem havido uma proliferação de trabalhos que procuram adotar a história global seja como uma perspectiva, seja como um objeto de estudo. Centros de pesquisa como o Center for Global history na Universidade de Oxford, o Institute for Global and Transnational History na Universidade de Shandong (China) e o centro para História global da Freie Universitat Berlin; publicações como o Global History Journal e o New Global Studies Journal [1] e ainda redes de pesquisadores tal qual a Global History Collaborative e a European Network in Universal and Global History demonstram o crescente interesse pela temática que aqui tratamos [2].
Para o historiador Sebastian Conrad, a História global nasceu da convicção de que os instrumentos que os historiadores vinham utilizando para explicar o passado já não eram mais suficientes. Há duas razões para isso, dois pecados originais das ciências humanas que foram formadas no século XIX. Primeiro, elas foram fundadas a partir de uma ideia de estado-nação, de um “nacionalismo metodológico”, isto é, uma tendência a considerar o Estado-Nação como unidade fundamental de análise. E o segundo pecado original seria o eurocentrismo, ou seja, a tendência das ciências humanas de ver a Europa como o motor da história mundial.
No entanto, não é possível dizer que os historiadores globais foram os primeiros a reagirem a essas limitações. Modelos de História-Mundo já existiam desde Heródoto, Sima Qian e Ibn Khaldun, pois eles produziram narrativas que pensavam a história de seus próprios povos mas também a de outros, mesmo que fossem para constratar civilização com barbárie. Mais recentemente, a História comparada, as teorias de sistema-mundo e os estudos pós-coloniais já desafiavam a compartimentalização arbitrária do passado.
Assim, se temos consciência das origens remotas das formas de pensar globalmente o passado, resta saber o que distingue a Global History dessas outras abordagens? O que, afinal, é a História Global? Essa é a questão que o livro de Sebastian Conrad busca responder.
Sebastian Conrad é professor de História na Freie Universität Berlin, interessado em abordagens de História global e transnacional, em História da Europa Ocidental, da Alemanha e do Japão. Outras publicações conhecidas suas são German Colonialism: A Short History e Globalisation and the Nation in Imperial Germany. Desde 2006, ao menos, o autor vêm publicando artigos, capítulos e livros de cunho teórico-metodológico sobre História global, como o que aqui tratamos, What is Global History?.
No primeiro e introdutório capítulo deste livro, o autor contextualiza brevemente o surgimento dessa abordagem, afinal, provavelmente não haveria História global sem globalização, e disserta sobre o por quê a maneira como os historiadores reconstrõem o passado está mudando, na medida da crescente integração do mundo presente. Além disso, ele aponta três variedades de História Global, a ver: História de Tudo, História das Conexões e História baseada no conceito de Integração.
Na sequência, em “A short history of thinking globally”, ele reconstitui a trajetória das formas de pensar a história para além das fronteiras nacionais, desde as narrativas ecumênicas na Antiguidade e Idade Média, na Época Moderna, a partir da hegemonia ocidental no século XIX, chegando até a World History do Pós-Guerra.
No terceiro capítulo, Conrad mostra como diferentes abordagens mais recentes contribuiram para construir visões do passado que ultrapassam a fronteira do Estado-Nação. Uma delas, a História Comparada, que busca olhar para similitudes e diferenças entre dois ou mais casos, bem como estabelecer conexões entre eles sempre que possível. Ainda, há a História Transnacional, surgida na década de 90, e que pode ser considerada uma mãe da Global History, pois já procurava abertamente transcender a o Estado-Nação. Adicionamos a teoria dos sistemas-mundo que não busca ver a nação, mas blocos regionais e sistemas como unidades primeiras de análise, enfatizando a integração de mercados (economia-mundo) e a integração política em extensos territórios (império-mundo). E, enfim, os estudos pós-coloniais e as modernidades múltiplas que contribuiram, cada um a sua maneira, para crítica ao eurocentrismo.
No capítulo 4, Sebastian Conrad finalmente oferece ao leitor uma definição de História Global enquanto uma perspectiva particular, distinta dos estudos pós-coloniais, da História Comparada e das modernidades múltiplas. Para ele, há um foco nos contatos e interações que marcam os trabalhos dessa corrente. A palavra-chave mais associada a essa linha é a “conexão”, porém a busca por redes e nexos globais não é suficiente para delimitar o que é História global. A Global History, além disso, explora espacialidades alternativas (parte de uma “spatial turn”), busca entender unidades históricas (civilização, nação, família, etc) sempre em relação a outras e é crítica, ou pelo menos auto-reflexiva, quanto à questão do eurocentrismo. No mais, os historiadores globais se distinguem pelo exame de transformações estruturais em larga escala e pela tentativa de rastrear cadeias causais a nível global. Essas são algumas mudança heurísticas que marcam a passagem dos antigos modelos de História-mundo para a atual História Global.
No quinto capítulo, o autor trata da relação entre História e integração global. Deve-se lembrar que História Global não é uma história da globalização, mas a integração global é o contexto em que o historiador, com essa perspectiva, trabalhará. Obviamente, o impacto das conexões a serem estudadas depende do grau de integração de sua época.
Na parte seguinte, Conrad disserta, em dois capítulos, a respeito do espaço e do tempo. Em primeiro lugar, existem algumas espacialidades privilegiadas para historiadores globais. Os oceanos, por exemplo, permitiram interconexões econômicas, políticas e culturais por toda história humana e as redes, enquanto partes amplas de estruturas de poder, são objetos comuns nesses estudos. Mas nem sempre história global quer dizer narrativas planetárias, é possível fazer uma micro- história do global, se quisermos olhar como processos amplos se manifestam localmente. Dessa maneira, uma consequência imediata de se transcender as fronteiras nacionais é ter que adotar uma outra periodização, é preciso periodizar o passado não só localmente, como também globalmente.
Nos três últimos capítulos, o autor se debruça sobre a questão dos “lugares de fala”, ao observar que, mesmo que historiadores queiram contar uma história global, eles sempre o fazem de uma origem geográfica em particular. Além disso, ele mergulha na noção de “world-making” do filósofo Nelson Goodman. E conclui, num dos capítulos mais interessantes do livro, fazendo uma sociologia da Global History, ponderando os seus impactos políticos, seus desafios e horizontes.
Um dos méritos do trabalho de Sebastian Conrad é encontrar a originalidade de cada abordagem que ele trata, sem perder de vista as semelhanças entre cada uma delas. Como é comum nos bons trabalhos de historiografia e História intelectual, ele consegue estabelecer a relação entre os objetivos de cada escolha metodológica (seu programa) e seus resultados nas obras mais representativas de cada uma, às vezes lançando mão de críticas e apontando os limites de algumas perspectivas.
Ademais, Conrad faz um percurso que coloca a História Global ao lado de suas antecessoras, a insere em seu contexto acadêmico e político e a distingue de outras correntes históricas também avessas ao “nacionalismo metodológico”. Neste sentido, podemos dizer que o autor responde a pergunta do livro “ O que é História Global?” tanto diacronicamente, ao investigar as raízes da Global History até as narrativas ecumênicas de Heródoto e de outros, bem como sincronicamente, ao destaca-la de outras formas contemporâneas de narrativas transnacionais.
Por fim, o autor considera e analisa as diferente maneiras de se fazer História Global, na longa e curta duração, na ampla e pequena espacialidade. Ele enxerga a Global History não como uma tentativa de se fazer uma história de tudo, em escala planetária, mas como um perspectiva que não necessariamente exclui outras abordagens históricas como a marxista, a micro- história, os estudos pós-coloniais, etc. Justamente por ser um paradigma abrangente, talvez a História Global possa se consolidar nos meios acadêmicos do Brasil e do mundo. Como Conrad afirmou em tom otimista no final de seu livro: “O gradual desaparecimento da retórica do global irá então, paradoxalmente, assinalar a vitória da História Global como um paradigma” (p.235).
Notas
1. Além disso, revistas importantes como a American Historical Review e a Past & Present têm cada vez mais publicado artigos nesse campo.
2. Nos Estados Unidos, por exemplo, a História global vem respondendo a demandas de inclusão étnica no âmbito do ensino de História tanto nos níveis escolares quanto no superior. As tentativas (nem sempre sem reações) de substituição de cursos de “Civilização Ocidental” e “História dos Estados Unidos” por cursos de “História Global” vão no sentido de construir narrativas que dêem voz a todo o conjunto de imigrantes que construiram o país. Para um panorama desse debate, ver: ÁVILA, A. L. “A quem pertence o passado norte-americano?: A controvérsia sobre os National History Standards nos Estados Unidos (1994-1996)”, Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p.29-53, jul. 2015.
Filipe Robles – Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: [email protected]
CONRAD, Sebastian. What is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016. Resenha de: ROBLES, Filipe. Escrevendo e pensando a História globalmente. Cantareira. Niterói, n.28, p. 235-237, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez / Revista Brasileira do Caribe / 2018
Neste primeiro número de 2018, a Revista Brasileira do Caribe (RBC) convidou ao professor Dernival Venâncio Ramos Junior que organizou em 2017 uma jornada intitulada “Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez. Leituras 50 anos depois”, evento ocorrido no Campus de Araguaína da Universidade Federal do Tocantins, e que deu nome ao dossiê. A RBC, volume 18, No.36, de janeiro a junho de 2018 oferece aos leitores um dossiê temático composto por cinco artigos, além de três colaborações livres.
Em 2017, Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez completou cinqüenta anos de publicação. Desde o seu lançamento em 1967, o livro foi lido e relido a partir de diversos pontos de vista, o histórico, o político, o sociológico, o cultural, o literário e o filosófico. Essa riqueza da fortuna crítica indica uma obra multifacetada e de difícil apreensão por um viés disciplinar. Por isso, convidaram-se pesquisadores de diversas áreas (História, Lingüística, Arquitetura, Filosofia, Geografia e Crítica literária) a participar da seguinte edição. As perguntas feitas, tanto no evento quanto no dossiê foram: Como as novas gerações de leitores e leitoras, críticos e críticas leram a obra Cem Anos de Solidão? O que ainda falta dizer sobre ela, que apenas as novas gerações podem dizer? O que as traduções da obra ajudam a dizer sobre ela e sobre a fortuna crítica? O que precisa ser dito sobre as linhas interpretativas clássicas sobre essa obra? Qual o lugar dessa obra na atual cultura caribenha, latino-americana e ocidental? Sabemos que essas perguntas são difíceis de responder, mas acreditamos que elas estarão sempre no horizonte das gerações e gerações de leitores dessa obra clássica da literatura colombiana e caribenha. Afinal, o clássico é o que se relê, que se relê, que se relê… O clássico sempre coloca respostas novas a velhas perguntas ou perguntas novas a consolidadas respostas.
Abre o dossiê o artigo “Cem anos de Solidão: resistências, invenção e decolonialidade” de Pláblio Marcos Martins Desidério e Ludmila Brandão que problematizam a obra de Gabriel Garcia Márquez a partir da decolonialidade. Afirmam que a obra Cem Anos de Solidão pertence a “zonas pelágias” e procuram problematizar a forma como a crítica e os leitores europeus classificaram o romance como “realismo mágico.” Também propõem mostrar como o autor colombiano escapa da hegemonia eurocêntrica, pois ele indica caminhos para fugir da abissalidade atribuída pela colonialidade.
Em seguida, Olivia Cormieiro e Euclides Antunes de Medeiros em “Caminhos entre imaginação e método historiográfico na obra Cem Anos de Solidão” trabalham na interface entre Literatura e História, propondo-se descrever as relações entre a dimensão metodológica da pesquisa histórica e a dimensão imaginativa das obras ficcionais. Questões como memória, escrita, invenção e sensibilidade, presentes nas obras literárias, se pode transformar em mecanismos úteis ao trabalho de pesquisa dos historiadores. Articulado à História, mas escrito por uma semioticista, o artigo “Das engrenagens da leitura e do tempo em Cem anos de solidão” de Luiza Helena da Silva aborda o romance a partir de dois aspectos: primeiro, privilegia o caráter propriamente textual e descreve a sua poética; depois, discorre sobre o episódio do massacre dos trabalhadores em greve problematizando a circularidade da narrativa e a história mesma, para iluminar os mecanismos que incidem sobre o binômio memória e esquecimento, tanto em textos ficcionais, quanto na história social da América Latina e Caribe. Nessa mesma linha temática, Marcio de Araújo Melo escreveu “Não esquecer.” O autor centra sua reflexão em um momento de Cem anos de Solidão, qual seja, a peste da insônia e seus desdobramentos como o esquecimento, problematizando-a a partir da etiquetação de objetos e animais com seus nomes, funções e sentimentos, numa tentativa de preservar seus usos práticos, nas leituras do passado através do baralho por Pilar Ternera e, por fim, através do “dicionário giratório”, a máquina que traria os conhecimentos elementares para os cidadãos de Macondo. Assim, o autor discute as formas da memória, das mais simples às mais complexas, destacando o esforço humano por não se deixar ser sugado e destruído pelo esquecimento.
Fecha o dossiê o texto “Macondo: o espaço de existência em Gabriel García Márquez” de Jean Carlo Rodrigues, o autor, propõe pensar a obra a partir da concepção de “vida virtual” de Susanne Langer e “terrae incognitae” de John Wright, tentando mostrar como o espaço imaginado, em obras literárias e poéticas é uma instigante forma para a compreensão da relação homem e espaço e por isso propõe, como hipótese geral, que o direito à arte, à subjetividade e à imaginação sejam resguardados dos ataques positivistas.
Os artigos, assim, a partir de diversos pontos de vista disciplinar e interdisciplinar produzem uma rica leitura da obra magistral de Gabriel García Marquez. Esperamos que o resultados desse esforço coletivo se desdobre em interesse das novas gerações e que essas, ao lê-lo, encontrem respostas as inquietações de seu tempo, mas sobretudo encontrem novas perguntas.
Os três artigos seguintes fazem parte da seção “Outros Artigos” da RBC. Em “Gestionando la identidad:el cabello como capital”, Kristell Villarreal Benítez enfatiza como o cabelo é usado por parte de um grupo de mulheres afrocolombianas, pertencentes ao Caribe colombiano e à cidade de Bogotá, como um capital racial que lhes permite desenhar estrategias para a gestão e negociação de sua identidade em seus contextos específicos. No artigo seguinte: “Bolero, samba-canção e sambolero: matrizes, nomadismo e hibridismo de gêneros musicais latino-americanos no Brasil, anos 1940 e 1950” de Raphael Fernandes Lopes Farias, o autor analisa o encontro do gênero musical caribenho do bolero com o samba-canção no Brasil, ocorrido a partir dos anos 1940 e com forte presença nas mídias sonoras até a década seguinte.
Para tanto, o autor levou em consideração o caminho percorrido pelo bolero e suas afinidades com o samba-canção e com o cenário brasileiro. O autor conclui de “que tanto o sambacanção quanto a Bossa Nova, encontraram no bolero protagonismos, antagonismos e práticas musicais que compõe a identidade da música brasileira”.
No último artigo que encerra este número da Revista Brasileira do Caribe, Danny Armando González Cueto apresenta “La representación visual y las versiones sobre el Carnaval de Barranquilla: de las tres culturas a la fiesta contemporânea”. O autor apresenta as maneiras como se olha para o Carnaval de Barranquilla, levando em consideração “que a diferencia de muitos outros carnavais no mundo, o seu componente cultural se deve em grande medida ao cruzamento de culturas”.
Agradecemos a todos os que viabilizaram o lançamento deste novo número da Revista Brasileira do Caribe, especialmente, à Pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, a Editora e gráfica da Universidade Federal do Maranhão e a todos os pareceristas que participaram com o seu trabalho e generosidade na avaliação dos artigos recebidos.
Agradecemos também à Superintendência de Comunicação (Sucom) da Universidade Federal do Tocantins pela disponibilização da arte do evento para usarmos como capa deste número da revista.
Convidamos a todos os leitores a percorrer as páginas desta nova edição da Revista Brasileira do Caribe que nos apresenta diversos pontos de vista da produção historiográfica sobre o Caribe.
Dernival Venâncio Ramos Júnior – Organizador do Dossiê temático e Editor Adjunto da RBC.
Isabel Ibarra Cabrera – Editora da Revista Brasileira do Caribe.
VENACIO, Dernival. Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.19, n.36, p.4-6, jan./jun., 2018. Acessar publicação original. [IF].
Memória: questões teórico-metodológicas nas pesquisas historiográficas / Caminhos da História / 2018
Prezadas (os) leitoras(es),
É com enorme satisfação que publicamos o segundo número do volume 23 da Caminhos da História, Periódico do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes-MG). Nesta edição, contamos com a presença de um dossiê. Apesar disso, não abrimos mão de uma seção livre, onde artigos que exploram diferentes temas caros à História possam ser contemplados. Nossa finalidade, com esse formato, é proporcionar números temáticos que apresentem maior evidência aos artigos que os compõem, bem como às suas autoras e aos seus autores.
No atual número, assim, apresentamos o dossiê “Memória: questões teórico-metodológicas nas pesquisas historiográficas”, organizado pelos pesquisadores Rejane Meireles Amaral Rodrigues (Unimontes) e Gilberto Cezar de Noronha (UFU). Com a intenção de congregar trabalhos produtos de estudos que exploram fontes, temáticas e enfoques teórico-metodológicos diferentes, o dossiê trava diálogo com discussões da história e da historiografia interessada na problemática da memória, dos saberes e das relações de poder / submissão / subversão nos usos políticos do passado; a gestão dos sentimentos e das paixões sociais; a construção de racionalidades, os afetos e sensibilidades, a alteridade e as subjetividades envolvidas no ato de lembrar e esquecer; questões epistemológicas relacionadas às tênues fronteiras entre memória e história e ao próprio estatuto do conhecimento histórico, em suas diversas orientações teóricas. A proposta deste dossiê, enfim, é abrir o diálogo e a possibilidade de repensar as formas, as escalas, a duração e a espacialização dos jogos de poder que instituem as relações sociais e os processos de subjetivação que envolvem a gestão da lembrança e do esquecimento.
Para ilustrar a edição deste relevante dossiê, a Caminhos da História conta com a ilustração de Salvador Dalí. Nativo de Figueres, o pintor espanhol apresenta, em sua trajetória, admiráveis contribuições por meio de sua arte surrealista. A espantosa e admirável pintura que ilustra nossa capa recebe o título de La persistencia de la memoria (1931). “Toda a minha ambição no campo pictórico é materializar as imagens da irracionalidade concreta com a mais imperialista fúria da precisão”. Esta citação de Dalí sintetiza a pintura em questão; os elementos ilusórios – relógios derretidos – embaralham-se com figuras familiares aos olhos humanos, cunhando uma impressão de que eles realmente estão ali. Ao fundo, podemos observar um penhasco e o mar no horizonte. Esse cenário é a imagem do lugar onde Dalí vivia.
A edição conta ainda com artigos livres, que perpassam o debate sobre a introdução do futebol no estado do Rio de Janeiro, a trajetória profissional de mulheres na medicina em Montes Claros-MG e sobre o processo de transformação econômica no governo de Salvador Allende, no Chile.
Atenciosamente,
Ester Liberato Pereira,
Rafael Dias de Castro,
e Comissão Editorial
PEREIRA, Ester Liberato; CASTRO, Rafael Dias de. Editorial. Caminhos da História, Montes Claros, v.23, n.2, jul / dez, 2018. Acessar publicação original [DR]
History of Education in Latin America | UFRN | 2018
A revista History of Education in Latin America – HistELA (Natal, 2018-) é um periódico vinculado ao Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, exclusivamente eletrônico, de acesso aberto e publicação contínua de pesquisas com temas associados à história e à historiografia da educação.
A revista aceita manuscritos do tipo artigos, resenhas, entrevistas e documentos em português, francês, espanhol e inglês na área de história da educação e áreas correlatas.
[Periodicidade anual]. [Acesso livre].ISSN 2596-0113
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
História e Educação: narrativas, práticas e sensibilidades / Ágora / 2018
Ao finalizar a organização do Dossiê “História e Educação: narrativas, práticas e sensibilidades”, vem-nos a certeza de que alcançamos os objetivos propostos, uma vez que congregamos textos que foram resultados de investigações realizadas no sentido de contribuir para os debates acerca das interfaces possíveis entre História e Educação, considerando tanto sua contribuição para a pesquisa quanto para a formação do historiador e do educador.
Dessa forma, oferecemos ao leitor um painel sobre as questões que podem, atualmente, sintetizar e orientar os estudos que se esforçam em relacionar História e Educação, considerando, especificamente, formas de narrativas, diversidade de práticas e as sensibilidades aí presentes.
Ora, a questão das sensibilidades na História, destacada por Lucien Febvre, não está limitada às fontes, mas diz respeito à própria compreensão da História e das durações. As formas de narrativas, nesse sentido, contribuem para as diferentes possibilidades de leitura das inscrições com as quais práticas do sensível marcam o tempo.
Assim, Leonardo Querino B. F. dos Santos, reflete, em seu texto A educação como problema médico: a pena de Belisário no debate sobre os males do Brasil (1912 – 1933), sobre as representações construídas por Belisário Pena sobre educação e saúde, priorizando fontes epistolares e a imprensa comum. Dessa forma, analisa como educação e saúde foram amalgamadas em uma representação de solução nacional, assim como discute sobre os debates que, naquele contexto específico, erigiram uma representação de “males brasileiros” a partir do paradigma médico. Conclui que, para Belisário, uma educação curativa e redentora só poderia ocorrer em três eixos unidos pelo referencial higienista: instrução, educação sanitária e cuidados com a saúde.
Por sua vez, Hadassa A. Costa estudou a arquitetura escolar em Campina Grande (PB) no início do século XX. No artigo intitulado A modernidade no corpo e no espaço: Práticas de Subjetivação, Higiene Moderna e Arquitetura Escolar, a autora analisa as influências das ideias de modernização no cotidiano escolar, especificamente a simbologia que a arquitetura moderna imprimia à escola. Nesse sentido, ao considerar a digestão do ambiente escolar como partícipe do aprendizado, analisa também os elementos que compuseram a construção da subjetividade daqueles alunos.
Entre o coletivo e o individual: memórias de um professor de História de escola pública é um, texto que reflete sobre o papel do educador considerando as urgências dos dias atuais. Assim, a autora Simone dos Santos Pereira analisa a narrativa de um professor de História sobre sua trajetória de vida e vivências na profissão docente entre o último quarto do século XX e a primeira década do século XXI. O olhar sensível sobre a fala desse professor permitiu à autora analisar diacronicamente as condições de sua permanência na docência considerando: sua paixão pela disciplina lecionada, seu engajamento político e seu reconhecimento como ser histórico, refletindo sobre seu papel social.
As práticas educativas efetivadas por docentes e discentes em uma determinada comunidade escolar é o tema do artigo de Janielly Souza dos Santos intitulado Não NEGO minha história: sou paraíba, sim senhor! Trata-se de um relato de experiência a partir da concepção de um ensino de História baseado no cotidiano dos alunos. História e Educação imbricam-se, assim, a partir da narrativa de práticas educativas fruto das sensibilidades produzidas pelos sujeitos que encenaram reflexões sobre história local e sobre suas próprias histórias.
Giuslane Francisca da Silva apresenta um trabalho sobre a atuação das chamadas Irmãs Azuis na educação escolar em Mato Grosso. Evangelizar, rezar e educar: a atuação da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres no campo educacional em Mato Grosso (1904-1971). Para tanto, analisa o percurso da instalação da Congregação no Brasil para além de seu intuito de fundar colégios. Focaliza, dessa forma, priorizando os arquivos da Congregação e textos produzidos também pelas freiras, as sociabilidades estabelecidas entre as Irmãse os que estavam sob seus encargos, construindo uma narrativa que dá visibilidade aos sujeitos envolvidos.
Agilidade, destreza e resistência adquiridas na infância: jogos e brincadeiras nas aulas de educação física da Paraíba (1920-1945)é um artigo de autoria de Alexandro dos Santos e Azemar dos Santos Soares Jr. Utilizando como fontes impressos que circularam na Paraíba durante a primeira metade do século XX, analisam, nesses veículos midiáticos, o valor educativo atribuído aos brinquedos, jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física como meio para a medicalização e disciplinarização do corpo dos alunos.
Este conjunto se oferece à leitura em momento oportuno, quando vemos educação e ensino de História ameaçados em suas práticas e sentidos, em nome de uma política puramente mercadológica que esvazia os sujeitos do processo educacional. Faz-se, hoje, urgente, uma reflexão histórica sobre práticas e sentidos da educação, visando a compreendermos o como e o porquê representações hegemônicas em um determinado contexto constituíram práticas educativas que ainda perduram e alimentam outras representações.
Juçara Luzia Leite
Iranilson Buriti de Oliveira
Organizadores.
[DR]40 anos da Lei da Anistia: movimentos – narrativas – história / Ágora / 2018
O conceituado historiador francês Marc Bloch definiu, em um de seus principais livros, que o objeto da histórica “o homem no tempo”. Assim, para o historiador francês, o que deve mobilizar o historiador são as questões do presente, e, nesse sentido, a história passa a ser compreendida como um poderoso instrumento por meio do qual nós, homens da contemporaneidade, procuramos dirimir problemas que encontram-se contemporaneidade, incluindo aqueles que estão subscritos em um passado que não passa, parafraseando Reinhart Koselleck.
Considerando tal assertiva, o objeto sobre o qual os colaboradores do presente dossiê se debruçam é a Lei de Anistia, editada em 28 de agosto de 1979, e que tem sido tema de diversas pesquisas e reflexões de variados historiadores, sociólogos, juristas e cientistas políticos – que produziram uma literatura relativamente variada a respeito da temática em nível nacional. E próximo de completar 40 anos desde sua instauração, a referida Lei tem sido revisitada nas últimas décadas, e revista sob múltiplas temáticas que o assunto acaba por ensejar. Nos últimos anos, os debates sobre os legados da Lei da Anistia ganharam numerosas abordagens, interpretações e críticas, especialmente após a criação da Comissão Nacional da Verdade, com vistas a se apurar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro no contexto do regime autoritário decorrente do Golpe de 1964.
E o presente dossiê encontra-se inserido exatamente nesse conjunto de preocupações e, dessa forma, procura cotejar diversas sub-temáticas, o que é feito com a generosa colaboração de vários estudiosos. Assim, diante da pluralidade de temáticas, o dossiê apresenta um conjunto de artigos que dialogam com inúmeras questões em torno dos legados da Lei da Anistia. Essa diversidade, em certa medida, reflete as diversas possibilidades de abordagens das questões ligadas a redemocratização e ao modelo de Justiça de Transição no Brasil.
Assim, o conjunto de textos que compõe esta edição aponta para diversas dimensões Da Lai da Anistia, o que nos remete a pensar, num espectro mais abrangente, acerca da própria democracia brasileira fundada e decorrente dela, e os dilemas em torno da própria da sua consolidação, em um momento em que seus marcos vêm sofrendo importante ameaças, diante da onda conservadora pela qual passa o país na atual conjuntura. Deste modo, buscamos, com o dossiê, além de fomentar o debate em um momento em que, mais uma vez, a temática que retorna para o centro atenções, aliar o exercício reflexivo para a compreensão dos mecanismos por meio dos quais se forjam a natureza e as características da Democracia Brasileira.
Pedro Ernesto Fagundes
Ueber José de Oliveira
Organizadores
[DR]Diálogos sobre a Modernidade | UFES | 2018
Diálogos sobre a Modernidade (Vitória, 2018-) é a revista do Grupo de Estudos Modernidade Ibérica, sediada no Laboratório de História, Poder e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo.
O Grupo de Estudos Modernidade Ibérica foi criado em 2011 com o objetivo de reunir investigadores brasileiros dedicados a refletir sobre o Reino português, nos seus mais diversos aspectos, durante a Época Moderna.
Surge no contexto do Programa de Pós-graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculado ao Laboratório de História Poder & Linguagens.
Valorizando a pesquisa empírica e o diálogo com as metodologias e as abordagens contemporâneas, propõe-se a descortinar temáticas já consagradas pela historiografia luso brasileira sob diferentes prismas, bem como introduzir novos objetos na cena da produção do conhecimento histórico.
Tendo como eixo o Estado, seus trabalhos vêm contemplando uma gama de problemáticas que, para além da história política, incluem as trajetórias e biografias, as redes de sociabilidade, as novas sensibilidades cortesãs, a produção de discursos e narrativas diversas, a história intelectual e institucional, dentre outros recortes.
Para além de sua composição regional, o GEMI tem ampliado sua interlocução com pesquisadores do Brasil e do exterior, por meio de parcerias sedimentadas no âmbito dos interesses e produções comuns: Universidade Católica de Salvador, Universidade de Salamanca, Universidade de Coimbra, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade Nova de Lisboa, Université Paris-Est.
[Periodicidade anual].Acesso livre
Kwanissa | UFMA | 2018
A Kwanissa – Revista de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (São Luís, 2018-) é uma revista científica criada no seio do curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e tem como foco: História e Cultura Africana e Afro-Diaspórica; – Relações étnico-raciais; Educação das relações étnico-raciais e lei 10.639/03; Políticas Públicas de promoção da igualdade racial; Epistemologias do Sul; Estudos da diáspora africana (cultura, ciência, etc.); Gênero, direito e políticas na diáspora africana.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2595-1033
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Teoria da história e história da historiografia: debates e desafios no século XXI / Canoa do Tempo / 2018
Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. [1]
A imagem do anjo da história interpretada por Benjamin nas teses Sobre o Conceito de História (1940) ainda representa não apenas o fardo, mas também uma série de desafios que o século XXI tem apresentado aos historiadores. Para Benjamin, a produção de conhecimento histórico é vibrante e reverbera em direção ao passado a partir das reivindicações feitas no presente. Nesse sentido, a rememoração e a redenção são conceitos chave para a teoria da história benjaminiana e, ambos, apresentam um convite para se pensar sobre o papel fundamental da história para a formação integral dos cidadãos em uma democracia republicana.
Em um contexto fortemente marcado pelo refluxo das utopias, a perspectiva teórica benjaminiana inscreve, assim, o campo da Teoria da História em uma perspectiva social e política porque necessária e fundamental para a problematização da produção do conhecimento histórico, permitindo que personagens e questões consideradas mortas e enterradas possam ser compreendidas, reivindicadas e reinseridas no contexto contemporâneo. Como hóspedes efêmeros do tempo, Benjamin nos convida a desenvolver um comportamento crítico em relação à ingênua perspectiva implantada pela noção de progresso. Essa postura conservadora adotada por positivistas e alguns historicistas recusava abordar as reivindicações e lutas de resistência empreendidas por pessoas comuns. Sendo assim, as atividades culturais e políticas cotidianas permaneciam abandonadas por clivagens conceituais enrijecidas e presas a formulações teóricas cientificistas e, ingenuamente, empiristas. Como pensarmos outra história?
A escrita da história: viradas de século, viradas teóricas
A batalha conduzida por Benjamin tampouco foi concluída, perspectivas empiristas continuam fascinando uma parcela considerável de historiadores que, nesse início de século, acreditam e trabalham arduamente na proposição de um cientificismo ironicamente sustentado por projetos políticos ultraconservadores. É exatamente porque os embates pela escrita da história se adensam novamente que os historiadores progressistas devem estar atentos às diferentes facetas assumidas pelas lutas de resistência propostas pelos trabalhadores ao longo da história, uma vez que, propositalmente, foram abandonadas pela historiografia escrita pelos vencedores e seus herdeiros. Quando investigadas e interpeladas pelos historiadores, defende Benjamin, as práticas de resistência empreendidas no passado podem se tornar “centelhas de esperança” para as sociedades contemporâneas. Exercida criticamente, a história pode transformar reivindicações populares aniquiladas no passado em centelhas capazes de contagiar as novas gerações em um “tempo saturado de agoras”.
Ao invés de ser tomada como um círculo vicioso tal qual “as contas de um rosário” – com começo, meio e fim já previamente definidos –, a história ganha na proposta teórica de Benjamin um contorno ativo no qual interessa reconstruir o passado em diálogo franco e aberto com a elaboração do tempo presente e também de novas perspectivas para o futuro. De maneira geral, verificamos continuidade desse problema levantado por Benjamin na constatação trazida pelo historiador britânico Eric Hobsbawm, muito cabível perante a proposta apresentada nesse dossiê:
A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. [2]
Podemos recuar ao ano de 1874 para nos vincularmos ao chamado “mal-estar da história”, situação que guarda paralelos, por exemplo, com os ataques sofridos pela disciplina nos últimos anos no Brasil. Desde Nietzsche contamos com a possibilidade de um posicionamento moderno que se situa como que, em uma metáfora espacial, em situação de fronteira: aquela posição em que é possível se ver como Outro, “de fora”. Nietzsche criticou a modernidade historicista com tal olhar, ao apresentar sua conhecida II Consideração Intempestiva. [3] Nesse mesmo horizonte, porém em uma perspectiva temporal, o conceito de contemporâneo guarda o significado igualmente atribuído pelo filósofo alemão ao adjetivo “intempestivo” (fora do tempo, anacrônico). Agamben afirmaria, nesta mesma direção:
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. [4]
Trata-se, efetivamente, de outra relação com o tempo, tanto mais ética. Era isso que Benjamin reivindicava. Passado e futuro articulados a partir dos dilemas do presente. Um compromisso com os mortos, firmado com o olhar voltado a um futuro possível, mais humano e justo. É sobre um tempo, o nosso, igualmente saturado de “agoras”, que nos fala o historiador François Hartog. Em hipótese de trabalho já significativamente discutida e criticada, ele aponta para o predomínio de uma dimensão presentista em nossa experiência de tempo contemporânea. A perspectiva inaugurada pelo “presentismo” teria consolidado socialmente, para este autor, uma percepção do tempo muito diferente daquela proposta por Benjamin. O presente teria se expandido tanto em direção ao passado quanto rumo ao futuro, ao ponto de grande parte das pessoas já não guardarem qualquer conexão mais profunda com as diferenças marcadas em outras temporalidades. Em outras palavras, o presente teria se tornado onipresente, comprometendo a capacidade das pessoas de estabelecerem relações temporais. [5] Se a hipótese do historiador francês é discutível, como complemento e meio de torná-la mais complexa, podemos considerar as transformações nas experiências humanas após o avanço das novas tecnologias. [6] No entanto, é também Hartog quem situa a historiografia em outro momento epistemológico. Considerando as transformações políticas e sociais bem como as mudanças no interior da própria disciplina, sobretudo, após a década de 1970, percebe-se que a história ingressou em outro momento, definido por Hartog como “movimento reflexivo”. [7] A partir dessa fase, houve a aproximação, entre os historiadores, dos termos epistemologia e historiografia. Envolvidos com novos problemas, abordagens e objetos, os profissionais da área passaram a enfrentar indagações colocadas pelos diferentes contextos históricos e historiográficos.
Ainda que estejamos falando de um movimento reflexivo com mais de quatro décadas de duração, a atualidade da discussão confirma-se, por exemplo, no atual debate pertinente ao ensino de história. Da ampla discussão filosófica acerca do conceito de tempo e suas variantes (cujas obras do filósofo alemão Martin Heidgger e do filósofo francês Paul Ricoeur aparecem como algumas das mais conhecidas e significativas que cobrem o século XX, guardadas as suas diferenças), na modernidade, história e ensino de história permaneceram, em certa medida, desconectadas no que se refere àquela discussão conceitual. [8] Embora o diálogo das teorias da história com a filosofia, de maneira geral, e com a epistemologia, em particular, tenha se desenvolvido, a pluralidade e complexidades dos debates acerca das temporalidades apenas tangenciaram as discussões didático-pedagógicas da história apreendida como ensino. Diante disso, no caso brasileiro, tem havido esforço por parte de uma nova geração de historiadores no sentido de integrar a história ensinada às investigações epistemológicas. Fernando de Araújo Penna é um dos pesquisadores mais atentos e propositivos, neste aspecto. Penna, dentre as muitas frentes de sua atuação na pesquisa, no ensino e, sobretudo, na extensão que visa ao debate acerca do papel social do historiador, critica fortemente certa acepção dominante sobre o que é a epistemologia da história. Segundo Penna, a “operação historiográfica”, clássica noção desenvolvida por Michel de Certeau, em A escrita da história (1975), não considera as dimensões pedagógicas e sociais do conhecimento histórico. [9] Ainda de acordo com o pesquisador, inclusive a releitura da concepção, levada a cabo por Ricoeur, não supera o problema básico de entender os termos “epistemologia da história” como restrito à produção do conhecimento, excluindo qualquer consideração relativa à função social desse conhecimento e ao seu ensino: “o objetivo primordial da História pode até não ser o ensino escolar, mas ignorar esse aspecto constituiria uma limitação prejudicial”. [10]
Os imperativos de uma cultura histórica e mesmo de uma consciência dita histórica atribuem às categorias que circundam o conceito de tempo e que o torna inteligível papel central (por exemplo: sentido, processo, experiência, orientação, narrativa, memória, etc.). [11] Muitas dessas categorias, como se pode perceber, não pertencem exclusivamente ao conhecimento histórico. Elas fazem parte de diversas áreas e saberes e, sobremaneira, ao espaço público, ao âmbito político. Jörn Rüsen, historiador alemão, tem insistido na necessidade dos historiadores prestarem atenção nas dimensões práticas do saber que produzem. Em Rüsen, percebemos certo movimento na direção de examinar o problema da cultura histórica articulando as noções de consciência histórica e de ensino de história. Em alguma medida, é o que Penna tem chamado a atenção dos historiadores brasileiros: “o diálogo entre uma Epistemologia da História voltada para a produção do saber e uma Didática preocupada com a transposição e o ensino desses saberes é inquestionavelmente profícuo para ambos os campos de pesquisa. [12]
Os autores presentes nesse dossiê trazem, a partir de diferentes perspectivas, outros exemplos de como os historiadores trabalham com suas fontes e constroem suas interpretações do e no tempo, e, também, entre temporalidades diferentes, contribuindo com algumas respostas possíveis aos problemas que nos cercam atualmente. Todos, no entanto, são unânimes em criticar a tese de que caberia ao conhecimento histórico apenas uma avaliação objetiva e neutra de fatos ocorridos. Afinal, para quê, para quem e porquê investir esforços na formação em teoria da história? Em que medida as teorias da história podem contribuir para uma reflexão mais apurada da história e, por sua vez, para um combate concreto contra as discriminações, para a conquista de uma democracia econômica e social e uma emancipação efetiva dos sujeitos históricos?
Questões como estas demonstram que não somente a produção e a divulgação das pesquisas são essenciais, mas é preciso ainda que a teoria da história faça parte do trabalho dos professores nas salas de aula da educação básica. Um programa educacional que vise à conquista de autonomia por parte dos alunos e compreenda-os enquanto sujeitos históricos protagonistas em seu próprio tempo, não pode ignorar as problematizações conduzidas pela teoria da história. A tão comentada autonomia só pode ser conquistada concretamente, como afirma Saviani ao apresentar as fundamentações teóricas da Pedagogia Histórico-Crítica, se o aluno compreender como os conhecimentos são produzidos, inclusive o histórico, e quais são os meandros do processo de sua confecção, os ingredientes teóricos e as questões políticas implicadas nesse trabalho reflexivo. [13]
Para Michel Löwy, o materialismo de Benjamin estava preocupado em reabrir cada presente como um portal para a tomada de decisões, sendo o historiador um “apanhador de centelhas de esperanças”. [14] Uma das premissas que motivou a organização do presente dossiê foi justamente a possibilidade de fomentar o debate em torno de pesquisas no campo da teoria da história empreendidas hoje que, imbuídas do desafio de perscrutar o passado, também permitam aos leitores palmilhar a seara da produção do conhecimento histórico e compreender o quanto o manejo dessas questões é fundamental para o entendimento de como a própria história é escrita.
Possíveis respostas
O dossiê apresentado por esta breve reflexão teórica e historiográfica, assim, traz uma série original de artigos que contribui em grande medida para as reflexões próprias ao campo de conhecimento compreendido pela teoria da história, inscrevendo Canoa do Tempo em um manancial nacional de debates. Nesse sentido, o presente dossiê apresenta artigos que estão empenhados em demonstrar como a epistemologia da história é base fundamental e necessária para a compreensão dos processos de produção do conhecimento histórico e da formação dos historiadores e professores de história. A teoria permitiu aos autores a abordagem de objetos variados, demonstrando como os historiadores, em meio a diferentes perspectivas, desenvolvem um raciocínio próprio ao seu ofício e responsável pela análise das ações e suas personagens no tempo.
Patrícia Marciano de Assis discute em seu texto a concepção de Estado no âmbito de obras específicas dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. A proposta diferenciada a partir da qual ambos sugerem possibilidades alternativas de apropriações da história como recurso para exame das condições de acesso ao conhecimento são exploradas pela autora bem como situa sua leitura da perspectiva micropolítica. Segundo Assis, ao abrirem mão do ponto de vista tradicional, que prima pela representação, em nome de outro, calcado na diferença, Deleuze e Guattari nos trazem possibilidades variadas para pensarmos não apenas o Estado, mas todos os mecanismos que o fazem existir (com vistas para sua transformação).
O artigo de Diego José Fernandes Freire é fruto de um estudo que procurou investigar a produção historiográfica no Brasil com ênfase na década de 1970, evidenciando aspectos relativos à sua historicidade. Trata-se de um ensaio teórico que tem o mérito de reivindicar a importância desse período da historiografia brasileira como essencial para a compreensão de um contexto no qual os historiadores acadêmicos – em processo de profissionalização – passaram a produzir propostas teóricas que rivalizavam com outras perspectivas já existentes. O artigo demonstra como a historiografia acadêmica, inclusive aquela produzida no Departamento de História da USP, passou a construir a legitimação de suas pesquisas a partir da crítica aos modelos de reflexão historiográfica praticados anteriormente, evidenciando, contudo, que essa estratégia indicava também a existência de disputas intelectuais que iam muito além das questões teóricas.
O estudo de Júlio Ferro Silva da Cunha Nascimento enfrenta corajosamente um tema ainda muito tangenciado pela historiografia, qual seja: a militância e o protagonismo político e intelectual de pessoas transexuais, trangêneros e travestis. Apenas recentemente nossa área tem voltado sua atenção aos problemas de gênero e, infelizmente, ainda há preconceitos que acabam por subestimar tais discussões, de central relevância acadêmica e política. A área de Teoria e História da Historiografia tem assumido, ainda que timidamente, o compromisso perante o que é trazido no artigo de Nascimento, mas ainda há longo caminho a ser trilhado. Nesse sentido, o texto constitui marca significativa em um dossiê que pretende apontar para discussões relevantes a serem ampliadas neste século.
A contribuição de Jacson Schwengber parte do conceito de crítica desenvolvido pelo filósofo francês Michel Foucault para pensar formas alternativas de se examinar a modernidade. Partindo de uma interessante discussão acerca da ideia de crise na história, o historiador explora a questão para encaminhar aquilo que tanto Foucault como o historiador alemão Reinhart Koselleck ajudaram a explicar: a ideia de crise está ligada à certa forma a partir da qual o mundo moderno percebe e se relaciona com as mudanças temporais desde os seus primórdios. Pierre Bayle é tomado como fio condutor para problematizar e compreender tal hipótese a partir de olhares que nos são contemporâneos.
Eduardo Antonio Estevam Santos traz importante contribuição ao presente dossiê, tendo em vista que parte do diálogo com intelectuais africanos para confrontar a questão da exclusão da história africana pela historiografia europeia ocidental. Ao explorar o conceito de razão etnográfica, o historiador demonstra como o discurso científico europeu, no século XIX, impossibilitou a construção de historiografias africanas ao deslocar todas as suas diversidades para além das fronteiras do que poderia ser (re)conhecido dentro do rígido e unitário estatuto daquele discurso. A análise parte de um exame do historicismo europeu, particularmente alemão, para, em seguida, explorá-lo por meio de investigações de estudiosos africanos. Santos demonstra, ainda, que havia historiadores africanos desde o século XIX, mas o avanço do historicismo, no decorrer do século, acabou por impor determinada perspectiva que tornou a África e os africanos invisíveis, constatação que tem exigido e merece profundas reflexões nos dias de hoje.
O trabalho de Rafael Terra Dall’agnol é fruto de um estudo que procurou compreender o papel que a biografia desempenhou no regime de escrita da história no Brasil oitocentista, quando funcionava como importante modo de elaboração de experiências do passado. Trata-se de um ensaio cujo objetivo principal é investigar como Pereira da Silva utilizou a biografia para empreender a escrita da obra Plutarco Brasileiro. O texto tem ainda o mérito de passar em revista à biografia como problema historiográfico. Nesse sentido, discute-se como a história biográfica tem como um dos aspectos positivos compreender melhor a relação entre história e biografia, destacando ainda como o projeto biográfico proposto por Barbosa para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), possuía particularidades ligadas ao seu contexto histórico. O artigo apresenta, assim, uma contribuição significativa para o debate e a reflexão em torno da teoria do conhecimento histórico, em particular, para o desenvolvimento de uma leitura crítica em relação ao modo como os chamados “grandes homens” da história eram parte essencial dos projetos biográficos presentes no âmbito do IHGB. Em particular, a reflexão sobre o papel conferido à biografia de narrar a história da nação, permite compreender como ela e a história se encontravam e se confundiam para defender que o passado deveria ensinar através dos “grandes homens” e de seus feitos.
Fernando Cauduro Pureza convida os historiadores “a entrarem numa festa que não foram convidados e, de forma crítica, serem os ‘desmancha-prazeres’ que vão questionar justamente os jogos eletrônicos e suas narrativas a partir de seu métier”. O artigo é fruto de um estudo que procurou compreender as representações produzidas em narrativas históricas “gameficadas”, dedicando atenção especial para o modo como alguns games que tratam de temas históricos naturalizam a passagem do feudalismo para o capitalismo e as próprias relações capitalistas de produção. Ao partir dos games enquanto fonte para discutir a invisibilidade pública existente em torno da origem do capitalismo, Pureza apresenta os meandros de uma problematização fundamental para a teoria marxista da história: a historicidade do próprio sistema capitalista. Trata-se de um ensaio que tem o mérito de reivindicar, ainda, uma ampliação do espaço de discussão e intervenção pública a ser realizada pela ação dos historiadores.
Rogério Lopes Pinheiro de Carvalho propõe um artigo desafiador que instiga os historiadores a pensarem a teoria marxista da história tendo como base seu valor heurístico. Ao mesmo tempo, o autor critica aqueles que consideram o materialismo histórico um procedimento metodológico estéril, denunciando a superficialidade e os interesses nitidamente políticos de algumas proposições que procuram anular o seu potencial teórico e interpretativo. Além disso, a preocupação de Carvalho tem por intuito revelar a articulação intrínseca existente entre os pressupostos epistemológicos e políticos presentes no materialismo histórico. Nesse sentido, o autor destaca a importância de se compreender o significado de conceitos chave para a teoria marxista da história, tais como o de crítica da economia política e o de totalidade. Através deste último, Carvalho enfatiza a importância de pensá-lo como uma “intensa relação entre economia, classe social e política”, capaz de permitir ao historiador investigar os fenômenos sociais a partir de suas raízes e contradições profundas. O grande mérito deste artigo está em demonstrar como o conceito de totalidade é central para o materialismo histórico e também primordial para a elaboração de uma história capaz de combater o avanço das práticas empiristas, explicitando o ultraconservadorismo que as sustentam.
Por fim, antes de desejarmos uma excelente leitura a todas e a todos, gostaríamos de ressaltar nossa satisfação com o resultado do trabalho coletivo que se apresenta neste número de Canoa do Tempo. A reunião de textos que concretiza o dossiê que se segue chama a atenção pela pluralidade temática, institucional e regional. Há artigos de pesquisadores das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, o que garante uma abrangência e uma abertura sem iguais para a área de Teoria e História da Historiografia. Além disso, evidencia o crescimento da área em regiões diversas e distantes dos conhecidos centros especializados do País. É seguro afirmar que temos muito a ganhar, coletivamente, com essa dinâmica de produção que, ao mesmo tempo em que dialoga com pesquisas de ponta – nacionais e internacionais –, traz, pouco a pouco, os anseios e projetos particulares de diferentes espaços à vista da comunidade historiadora brasileira. Com votos de continuidade nessas aproximações, desejamos ótima leitura!
Notas
1 Tese IX “Sobre o conceito de história” de Walter Benjamin. Ver: LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – uma leitura das teses “sobre o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.
2. HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.
3. NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.
4. AGAMBEN, Giogio. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009, p. 58-59.
5. HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
6. PEREIRA, Mateus; ARAUJO, Valdei. Reconfigurações do tempo histórico: presentismo, atualismo e solidão na modernidade digital. Revista UFMG, Belo Horizonte, vol. 23, n. 1 e 2, p. 270-297, jan./dez. 2016.
7. HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.
8. HEIDEGGER, Martin. Temporalidade e historicidade. In: Ser e Tempo. Tradução revisada de Márcia Sá Cavalcante Schuback. Volume Único. Petrópolis: Vozes, 2006; RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2007.
9. CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
10. PENNA, Fernando de Araújo. A relevância da didática para uma epistemologia da história. In: MONTEIRO, Ana Maria et. all. (Orgs.). Pesquisa em ensino de história: entre desafios epistemológicas e apostas políticas. Rio de Janeiro: Mauad X; FAPERJ, 2014, p. 51.
11. RÜSEN, Jörn. O que é a teoria da história? In: Teoria da história: uma teoria da história como ciência. Curitiba: Editora UFPR, 2015.
12. PENNA, Fernando. Op. cit., p. 51.
13. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica – primeiras aproximações. Campinas: Autores Associados, 2005.
14. LÖWY, Michael. Op. cit..
Referências
AGAMBEN, Giogio. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e técnica, arte e política: ensaio sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 222-232.
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.
HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
HEIDEGGER, Martin. Temporalidade e historicidade. In: Ser e Tempo. Tradução revisada de Márcia Sá Cavalcante Schuback. Volume Único. Petrópolis: Vozes, 2006.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – uma leitura das teses “sobre o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.
NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.
PENNA, Fernando de Araújo. A relevância da didática para uma epistemologia da história. In: MONTEIRO, Ana Maria et. all. (Orgs.). Pesquisa em ensino de história: entre desafios epistemológicas e apostas políticas. Rio de Janeiro: Mauad X; FAPERJ, 2014, p. 41-52.
PEREIRA, Mateus; ARAUJO, Valdei. Reconfigurações do tempo histórico: presentismo, atualismo e solidão na modernidade digital. Revista UFMG, Belo Horizonte, vol. 23, n. 1 e 2, p. 270-297, jan./dez. 2016.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2007.
RÜSEN, Jörn. O que é a teoria da história? In: Teoria da história: uma teoria da história como ciência. Curitiba: Editora UFPR, 2015.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica – primeiras aproximações. Campinas: Autores Associados, 2005.
Evandro Santos – Doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor de Teoria da História no Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CERES-UFRN).
Glauber Cícero Ferreira Biazo – Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professor de Teoria da História no Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
[DR]África e Amazônia: experiências missionárias da “tutela” e da “promoção humana” / Canoa do Tempo / 2018
Este dossiê propõe-se problematizar a emergência do princípio da “Promoção Humana”, que se origina nos anos 60 do século XX com a orientação das missões AD GENTES (para todos os povos e culturas), como uma resposta à crítica ao colonialismo na África e na Ásia e do envolvimento das Igrejas cristãs com esse processo. A “Promoção Humana” seria a tradução cristã da ideia de autodeterminação dos povos e propiciou importantes diálogos no campo religioso sobre o que seria o fim da tutela colonial e o favorecimento das reivindicações e das singularidades dos povos não brancos que eram cristãos.
Neste processo de importantes experiências de interação com a sociedade civil e com espaços missionários africanos e da América Latina, se enriqueceram as práticas pastorais e a emergência de novos protagonistas na ação evangelizadora. Diálogos em torno da “Promoção Humana” surgiram em espaços religiosos propiciados por diferentes congregações missionárias, dentre as quais destacamos aqui a Congregação do Espírito Santo, que tem presença em Tefé e também em espaços missionários do Sul de Angola, entre outras áreas na África e no Brasil atendidas pela ação desta instituição. Investigar esses diálogos possíveis entre experiências missionárias em espaços amazônicos e africanos, pós Concilio Vaticano II, é o desafio lançado para os artigos que compõem este número da Revista.
O tema das experiências missionárias tornou-se muito importante para uma compreensão das trajetórias históricas do Brasil e da África, para além dos estudos da escravidão atlântica e do pós abolição no Brasil. Fazer missão e a atenção às chamadas populações nativas no século XX trouxe, para o estudo da história das Igrejas cristãs, todo um arcabouço conceitual e teórico que influenciou os processos de formação dos estados africanos nos anos 60 do século XX, e traçou novos rumos para a participação social civil no Brasil da democratização e da Nova República. Neste sentido, é fundamental apontarmos para as transformações que a ideia e a ação missionária sofreram ao longo do século XX, fundamentadas em dois importantes aspectos: o princípio da “Tutela” que durou até os anos 60, e o da “ Auto-determinação dos Povos”, que vem do universo político e que ganhou um equivalente religioso, denominado “Promoção Humana”.
A ação missionária cristã católica, até o fim da Primeira Guerra Mundial, estava profundamente imbricada no projeto de expansão da civilização europeia ocidental e pela perspectiva de negação ou de aceitação das estruturas sociais e religiosas indígenas da África e América. A Missão era, concretamente, o processo de mudança da paisagem e da estrutura social, da corporiedade das populações englobadas por esta ação, que visava construir uma estrutura material, económica e espiritual que marcasse a inserção do território e dos seus habitantes na esfera católica, tutelada por uma nação europeia apoiadora daquele projeto religioso.
As populações tuteladas nas relações religiosas e nos regimes de trabalhos forçados fariam uma necessária transição da barbárie para a civilização, que havia se tornado sinônimo de se tornar também cristão. Nas experiências missionárias africanas e na América, o Estado colonial incorporava os territórios missionários e coexistiam as estruturas religiosas com a administração colonial. Em alguns setores, como na área da educação e da saúde, as Igrejas Cristãs forneciam os hospitais e escolas que tornaram-se também instituições dos diferentes regimes coloniais. Na região que hoje corresponde à Amazônia brasileira, no século XVIII quase todas as localidades da sociedade colonial eram missões antes da expulsão dos jesuítas e a criação dos “diretórios” por Marquês de Pombal.
No entanto, o desenvolvimento desta ação de civilização, que pressupunha a inserção religiosa ao mesmo tempo na estrutura do controle do trabalho e da administração dos territórios, exigiu um sistema educacional que preparasse para o trabalho e que acabou por levar ao fim da herança escravista nas relações de trabalho, tornando-as “modernas”, “civilizadas” e “ocidentais”. O que se perceberá neste dossiê é que essas ações disciplinadoras dos trabalhadores africanos, por parte da pedagogia missionária do trabalho (com o desenvolvimento de escolas artesanais, de institutos de artes e ofícios, criação de escolas e universidades técnicas) se estendeu para além dos espaços missionários africanos, controlados por administrações estrangeiras, e também foram utilizadas em áreas missionárias do Brasil e da América Latina, notadamente entre as populações indígenas. Suas gentes e terras precisavam na lógica de Estados republicanos que os definiam como povos e territórios tutelados. O trabalho e a lógica da organização dos espaços precisavam ser orientados para essa nova organização política, que os colocava dentro de fronteiras nacionais e lhes atribuia um papel histórico subalterno que, no caso brasileiro, surgiu a partir de 1889.
Os missionários que chegaram nas áreas amazônicas no início do século XX, trouxeram no horizonte mental e nas experiências de ação as formas de controle e de educação das chamadas populações indígenas africanas. Além disso, apostavam na educação artesanal, no desenvolvimento das artes e ofícios e na cristianização dos espaços e das relações, para que as missões pudessem produzir na experiência brasileira um espaço civilizado para a República do Brasil. Percebe-se nos artigos apresentados que, da década de 1910 até os anos de 1960, a tutela era a ação esperada para os povos considerados indígenas em suas próprias terras, e que tais estruturas de educação podiam circular em espaços considerados tão diversos porque tinham a perspectiva de conduzir seres diversos a uma estrutura de Estado que era considerada universal, homogeneizadora e civilizada.
No entanto, se no desenho da ação civilizadora missionária dos estatutos do indigenato em África estava prevista a negação da relação de pertença dos territórios indígenas, o que deveria garantir populações mais dóceis e passíveis de serem tuteladas, a realidade das estruturas missionárias era mais complexa. Estas se revelaram frágeis ante os sistemas sociais africanos, o que suscitou uma série de negociações, conflitos e acomodações entre os agentes religiosos e os sistemas de chefaturas locais. O cristianismo permaneceu em grande parte das sociedades africanas porque também se tornou africano, ou seja, houve um processo de reapropriação e reelaboração das experiências religiosas e cosmogônicas, no qual o cristianismo que persistiu foi o que necessariamente tornou-se também uma religião local, uma forma de compreensão do processo de ocidentalização do mundo, e um caminho de reatualização e de preservação dos cultos de ancestrais. Com relação a este aspecto, temos a contribuição de um importante artigo que analisa os processos de descrição missionária e de produção de sentidos dessa interação, através do estudo sobre os rituais e a celebração do Boi Sagrado no sul de Angola, de Josivaldo Pires de Oliveira.
É importante destacarmos aqui a grande importância da atuação do chamado catequista nativo. Se ao missionário branco cabia a fundação da missão, a benção da capela e a ação dos sacramentos, ao catequista cabia toda a comunicação e tradução possível de discursos e símbolos que circulavam entre os universos dos missionários estrangeiros e das populações locais. Se o missionário estrangeiro circula, é o catequista não branco que permanece, organiza, faz reuniões, mobiliza, prepara as populações para os sacramentos e que garante, portanto, a construção de um espaço missionário de fato, pelo qual transitam pessoas, línguas de contato, hierarquias e estruturas de poder.
As escolas artesanais e os institutos de artes e ofícios ganharam também importantes significados locais, que extrapolaram a educação tutelar missionária. Tornaram-se signos de distinção social, requalificação de antigas hierarquias locais e de um novo empoderamento que garantiu a autoridade para que agentes dos sistemas de chefaturas pudessem negociar com as autoridades missionárias e coloniais os termos dos processos de recrutamento e das hierarquias nos postos de trabalho. Os espaços africanos sofreram o impacto da presença missionária cristã, mas as Igrejas cristãs e suas sedes e hierarquias foram afetadas também por essas dinâmicas, o que torna complexo o seu complexifica os estudos sobre as dinâmicas coloniais africanas e quando observados e analisados, trazem mais informações do que foi o sistema de administração colonial indireta, que foi majoritário durante o colonialismo no continente africano no século XX.
As populações indígenas da área amazônica deram também contornos e expressões especiais para as estruturas de educação artesanal e agrícola trazidas pelos missionários, e também permitiram, com a sua ação, a construção de uma experiência católica local que não poderia ser reduzida à perspectiva homogeneizadora tanto do catolicismo quanto do Estado republicano brasileiro. Esse dinamismo próprio reconfigurou antigas hierarquias sociais, como por exemplo no caso da experiência missionária em Tefé, Amazonas, dos anos 1940, onde também investiu as antigas relações de poder, dando às mesmas um forte poder mobilizador e de negociação com o Estado brasileiro e as demais entidades sociais. Havia portanto o cristianismo africano, como também um brasileiro e, dentro desses universos, diversas outras formas de vivências sociais e políticas, nas quais as missões e demais espaços religiosos se tornaram, tanto para missionários quanto para missionados, importantes espaços e veículos de negociação, de formação de hierarquias e elites regionais, produzindo as vozes públicas que tiveram importantes papéis políticos de intervenção e reivindicação.
O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe um abalo a essas estruturas missionárias centradas nas ações de tutela e de controle de territórios. Nas experiências africanas, os estatutos de indigenato foram extintos e as guerras coloniais trouxeram novos horizontes de renegociação de poder, mas também a tensão de serem inseridas numa nova situação histórica desconhecida. Neste processo, diversas ordens e congregações missionárias católicas e igrejas protestantes foram expulsas da África. A partir da criação da ONU e da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a tutela foi denunciada como colonialismo, como ações de violação dos direitos humanos. Nos anos 60, a atuação de Claude Lévi-Strauss na UNESCO consolidou uma importante reflexão sobre as culturas do mundo que incluiu a crítica do colonialismo europeu enquanto violador do princípio do respeito às culturas e, com ela, da humanidade e dos antigos povos coloniais.
A crise do paradigma da missão foi profunda. Para as Igrejas cristãs denunciadas por intelectuais e políticos africanos como “agentes do colonialismo”, era preciso repensar tudo o que havia ocorrido. Os missionários retornados à Europa, às suas antigas dioceses e cidades, estavam deslocados. A Europa que deixaram para ir à África não era mais a mesma, e os territórios de missão não os queriam. Diante desta situação, eles se colocaram a seguinte pergunta: os cristianismos africanos morreram com a expulsão dos missionários? Esta questão foi fundamental por ocasião da convocação do Concilio Vaticano II em 1961 pelo Papa João XIII, e que teve prosseguimento com o Papa Paulo VI. Em face da crise missionária, o Concilio reconheceu que existia um catolicismo africano transformado e reorganizado de acordo com as dinâmicas locais. Além disso, os rituais católicos passaram a ser realizados nas línguas nacionais e a forma ‘africana’ de celebração da missa, chamada de “Rito Zairense” em homenagem ao antigo Reino do Congo e aos primeiros cristãos da África, passou a existir junto com o ritual romano da missa.
Tais transformações foram de grande importância para o reconhecimento das Igrejas africanas cristãs e para a formação do alto clero do continente, que passou a participar das decisões do catolicismo mundial em Roma e a ter a possibilidade de lançar candidatos ao papado. Essas mudanças contribuíram para o retorno dos missionários nos anos 1960, momento histórico das lutas anticoloniais, e com isso as Igrejas foram desafiadas a se incorporar nos projetos de construção das novas nações africanas. Para isto, um pressuposto do Concílio foi de fundamental importância: o reconhecimento do pluralismo religioso e o desafio de ser uma religião que coexistiria com as demais, desenvolvendo uma atitude de presença e de diálogo nas nações, não mais a colonização de territórios missionários. Neste dossiê temos uma importante contribuição de Nuno Falcão sobre as visões da Santa Sé sobre as missões, as transformações que ocorreram em torno da autodeterminação dos povos nos ano 60 e as mudanças no paradigma missionário, que aprofunda os temas colocados nesta apresentação.
Com o fim da visão da missão de tutela dos povos missionados e a colocação de que as mesmas se dirigem a povos livres e autodeterminados, os paradigmas da ação missionária em África e no Brasil foram transformados pela crítica colonial, e os missionários passaram a enfrentar o dilema de serem uma presença religiosa num universo político laico pós guerras de libertação nacional, e no caso da América Latina, pós ditaduras fascistas. Junto com as mudanças na ação pastoral, promoveu-se também a ação de salvaguardar a memória não só da missão, mas das Igrejas nos antigos locais missionados. Os registros das ações pastorais e dos movimentos leigos são de inestimável valor de pesquisa, e temos neste dossiê a contribuição de Jubrael Mesquita de Oliveira e Tenner Inauhiny de Abreu a respeito dos documentos do arquivo da Prelazia de Tefé, no Amazonas, que se referem às primeiras décadas do século XX e que nos ajudam a refletir sobre outros contextos missionários do Brasil, da América Latina e da África.
Também na perspectiva da produção da musealização e da memória das missões e dos povos missionados, temos neste dossiê o artigo de Janaína Cardoso de Mello, que analisa a trajetória dos Frades Capuchinhos da Umbria no Amazonas e as interfaces com o processo de musealização dessa experiência no Museo Missionario Indios (MUMA) da Umbria, Italia.
Sobre os acervos documentais e patrimônios artísticos produzidos pelos missionários, Santos aponta:
Temos a compreensão de que a ação missionária produziu um espectro bastante amplo de artefatos, textos, edificações e diferentes tipos de fontes escritas e audiovisuais que nos levam a aprofundar a perspectiva da análise do processo de mediação também como uma ação de produção de patrimônios materiais do Cristianismo, que precisam ser abordados de forma diferenciada e que merecem projetos específicios de trato documental, análise e contribuição para o estudo da ação dos missionários na África e a constituição das cristandades locais do final do século XVIII ao XX. (SANTOS, Patricia Teixeira, FALCÃO, Nuno e SILVA, Lucia Helena, 2015, p.19)
Os anos 60 do século XX foram marcados pela emergência de um catolicismo social que dialogava com a vida e as experiências de populações antes vistas como tuteladas, mas que passaram a ser consideradas como partes da Igreja, como protagonistas no desenvolvimento da vida eclesial e comunitária. Em tais espaços produziram-se importantes vozes públicas que tiveram expressão na transformação das condições materiais da vida social. Em Tefé, Amazonas, foi fundada em 1963 a Rádio Educação Rural de Tefé que, seguindo o exemplo da Rádio Sutatenza, da Colômbia, levou a evangelização e a educação popular para lugares distantes da selva, reunindo povos indígenas e seringueiros, antes dispersos pela economia da borracha, em novas comunidades ribeirinhas mais próximas dos centros urbanos. Tendo como referência a pedagogia de Paulo Freire, o Movimento de Educação de Base em Tefé durou 40 anos ajudando a formar cidadãos, movimento sociais e instituições a partir de um viés de diálogo e valorização das tradições e identidades regionais. Essa dimensão do catolicismo social também pode ser vista num artigo deste dossiê que analisa o reconhecimento do Quilombo da comunidade de Boa Vista, no Pará, de Karl Heinz Arenz.
Com este dossiê propomos, então, percorrermos os desafios da compreensão das experiências missionárias no contexto contemporâneo, as aproximações que são possíveis de serem realizadas através dos paradigmas da “Tutela” e após anos 60, do princípio da “Promoção Humana”. Tais análises nos fazem repensar as relações entre Estados e Instituições Missionárias, e a continuidade das ações missionárias e da produção de vozes públicas são fatos que suscitam a seguinte pergunta: porque as missões persistem? Um dos caminhos interpretativos pode passar pela importância que os Estados contemporâneos atribuem à mediação dos missionários para se chegar a populações periféricas, não incluídas na vida e participação cidadã plena. Outra possibilidade pode ser a importância da produção e salvaguarda de vozes públicas que questionam os Estados e suas políticas de exclusão. O fato é que esse fenômeno ainda é muito forte na experiência contemporânea das sociedades originárias dos antigos sistemas coloniais nas Américas e em África (SANTOS, Patrícia Teixeira, 2015, pp. 71-74). Esperamos poder contribuir com essas problematizações.
Referências
SANTOS, Patricia Teixeira, FALCÃO, Nuno, SILVA, Lucia Helena Oliveira. Fontes e pesquisas da História das missões cristãs na África: arquivos e acervos, in: Africania Studia 23. Experiências Missionárias: Trajetórias coloniais e pós coloniais em África. Porto: CEAUPHumus Editorial, 2015. PP. 15-23
Patrícia Teixeira Santos (UNIFESP) – Professora de História da África do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadora colaboradora do Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM-Universidade do Porto).
Guilherme Gitahy de Figueiredo (UEA – Tefé) – Professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH), do PARFOR e do curso de Pedagogia do Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas.
[DR]Para que votar? História do voto e das eleições no Brasil / Aedos / 2018
Pensar as motivações do voto em um momento em que a maioria da população brasileira é movida por um sentimento de descrença nos políticos e mesmo de rejeição à política se faz necessário para compreender o complexo jogo de representação e de expressão da vontade popular nas mais diversas conjunturas históricas e políticas da República brasileira. Enquanto o Brasil experimentava um processo eleitoral dramático, os editores da revista Aedos trabalhavam no dossiê Para que votar? História do voto e das eleições no Brasil, que teve como objetivo reunir trabalhos que abordassem a temática das eleições e do sistema eleitoral no Brasil Republicano e, sobretudo, que refletissem sobre o sentido do voto e da representação política.
Em virtude da complexidade da experiência republicana, marcada por regimes políticos e legislações eleitorais distintas que vigoraram no período, convidamos os pesquisadores a contribuírem no estudo da dinâmica dos processos eleitorais, da história do voto e da representação política nesse recorte temporal, buscando reunir trabalhos que, a partir do estudos de casos ou dinâmicas específicas, proporcionassem reflexões sobre os diferentes sentidos do voto e os diferentes papéis das eleições no jogo político ao longo da República. O objetivo do dossiê também foi o de reunir trabalhos que questionassem a relação estabelecida entre representante e representado na legitimação da autoridade política e na construção democrática do exercício do poder.
No centro desse debate, sobre os regimes representativos, encontram-se os partidos políticos, que ao mesmo tempo que se constituem em instrumento de aproximação e articulação entre os diversos segmentos sociais, também representam demandas particulares e aspirações universais. Durante os processos eleitorais, as siglas partidárias se empenham para promover a personificação das aspirações sociais na pessoa do seu representante e na desconstrução da imagem e no discurso dos seus adversários, com o propósito de convencerem os eleitores a votarem no seu candidato. Logo, são nesses momentos de competição eleitoral que os representados ganham destaque, são o objeto do discurso político, ao serem chamados a exercerem um direito, o do sufrágio. O voto além de manifestar uma escolha e uma posição, diante de um determinado contexto político, econômico e social, também é um instrumento que vincula o representante ao representado.
O voto como objeto da História Política parte da premissa de que sua implementação como meio de participação política possui uma historicidade a ser pensada: longe de ser um meio natural para tomadas de decisão coletivas, o voto foi historicamente instituído, até mesmo em detrimento de outras formas presentes em um vasto repertório de ação coletiva, e constituído como meio legítimo. É o que apontam reflexões de autores como Bernard Manin (1995), Alain Garrigou (1988), Michel Offerlé (1993; 2011) e os diversos textos da coletânea organizada por Letícia Bicalho Canêdo (2005) no Brasil. Um história do voto se apresenta como um empreendimento capaz de identificar, contextualizar e problematizar as práticas e as concepções que levaram eleitores e eleitoras a se constituírem como tais, a se tornarem eleitores, e a estabelecerem relações entre o ato de votar e a vida cotidiana.
A história do voto e das eleições no Brasil está longe de ser a história de uma evolução linear. Sua trajetória foi acidentada e influenciada pelas contingências de um cenário político com alterações constantes. Da implantação do regime republicano até a promulgação da Constituição de 1988 muitas reformas ocorreram em relação ao direito ao voto, que passaram, paulatinamente, a incluir uma massa de indivíduos (não abastados, mulheres e analfabetos) que outrora tinham negado esse direito e determinaram a mudança do voto facultativo para obrigatório. Os artigos que formam o presente dossiê passam por diversos momentos dessa história, em diferentes fases da República, abordando desde os aspectos legais da representação política até as práticas de partidos políticos, as campanhas eleitorais e a competição política.
Neste dossiê, contamos com um artigo sobre as eleições no período da Primeira República (1889-1930), intitulado As Eleições na Primeira República: Abstenções, Legislação e Controle Eleitoral, de autoria de Carina Martiny. Sobre as articulações visando à eleição presidencial de 1937 temos o artigo Luiz Mário Dantas Burity, “Eis o que me ocorre, por hoje”: a campanha presidencial de 1937 e a candidatura de José Américo de Almeida nas correspondências de Juraci Magalhães e Artur Neiva. O período da experiência democrática (1945-1964) foi contemplado por quatro artigos, sendo dois sobre as eleições no Piauí: Jackson Dantas de Macedo e Marylu Alves de Oliveira são autores de História e política: Fontes documentais como lugares de memória e a análise do processo eleitoral de 1945 no Estado do Piauí; e Ábdon Eres da Silva Neto contribui com o artigo O município e o processo eleitoral de 1954 no Piauí. Sobre a dissidência do PSD no Rio Grande do Sul temos o artigo de Tiago de Moraes Kieffer e Marcos Jovino Asturian, intitulado O Partido Social Democrático Autonomista (PSDA): Apontamentos Preliminares de Pesquisa. Completam o dossiê os artigos de Laila Correa e Silva, O direito ao voto feminino no século XIX brasileiro: a atuação política de Josephina Álvares de Azevedo (1851-1913) e o de Letícia Sabina Wermeier Krilow intitulado Democracia em perspectiva: as representações no Correio da Manhã sobre as eleições gerais de 1958.
Acompanham o dossiê duas entrevistas que realizamos tangenciando o tema do voto e da representação política, gentilmente concedidas pelas professoras Cláudia Maria Ribeiro Viscardi (UFJF) e Céli Regina Jardim Pinto (UFRGS). A primeira, destacando as novas abordagens que vêm ressignificando o tema da competição política na Primeira República e a segunda trazendo uma reflexão sobre a democracia no Brasil realizada no calor dos resultados eleitorais de 2018.
Referências
CANÊDO, Letícia Bicalho (Org.). O sufrágio universal e a invenção democrática. São Paulo: Estação Liberdade, 2005.
GARRIGOU, Alain. Le secret de l’isoloir. Actes de la recherche en sciences sociales, v. 71-72, março 1988.
MANIN, Bernard. As Metamorfoses do Governo Representativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, nº 29, pp. 5-34, 1995.
OFFERLÉ, Michel. Un homme, une voix? Histoire du suffrage universel. Paris: Gallimard, 1993.
________________. Perímetros de lo político: contribuiciones a una sócio-historia de la política. Buenos Aires: Antropofagia, 2011.
Douglas Souza Angeli – Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: [email protected]
Paula Vanessa Paz Ribeiro – Professora da EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: [email protected]
ANGELI, Douglas Souza; RIBEIRO, Paula Vanessa Paz. Apresentação. Aedos, Porto Alegre, v. 10, n. 23, Dez, 2018. Acessar publicação original [DR]
Jurisdições, Soberanias, Administrações / Almanack / 2018
Se é correto afirmar que as Independências foram uma solução, entre outras, possíveis, para os projetos em curso nas primeiras décadas do século XIX na América Ibérica, é igualmente verdadeiro sustentar que elas geraram um problema central: o da constituição de novas unidades jurídico-políticas de projeção nacional. Como é já sabido, este problema derivou da ausência de uma força política capaz de impor um programa geral nas disputas pela soberania e reconfiguração territorial que se seguiram, tanto na Europa como na América, à crise imperial ibérica desde 1807. Consequentemente, os projetos existentes tinham de afrontar não apenas a definição de seus difusos limites externos, senão também o que Ilmar Mattos chamou de “expandir-se para dentro”(Matos, 2005). O que exigiu tanto dar novo sentido às unidades políticas anteriores, como vice-reinados, províncias e domínios, quanto reorganizar novos territórios, definindo suas relações entre si com novos centros políticos. Tudo isso imerso na tradição de governo colonial que condicionou o desenvolvimento de novas estratégias e seguiu operando como pano de fundo comum de algumas concepções e práticas institucionais emergentes.
Apesar dos significativos avanços historiográficos sobre esta problemática, entendemos que ainda segue sendo um ponto a explorar o do processo histórico de conformação das unidades interiores com suas soluções políticas e institucionais. Para além de qual tenha sido o “sujeito-espaço político” que predominou em uma ou outra experiência, entendemos que são poucos os estudos comparativos que têm abordado o como, quer dizer, discursos, técnicas, dispositivos institucionais, etc., mediante os quais aqueles “sujeitos-espaço políticos” se consolidaram dentro das novas nações. Esta foi a principal motivação para que realizássemos, em junho de 2016, o Colóquio Jurisdições, soberanias, administrações: a configuração dos espaços políticos na construção dos Estados Nacionais na América Ibérica, ocorrido na Faculdade de Direito (USP), com financiamento da FAPESP e da CAPES (PAEP), o qual contou com a participação de pesquisadores do Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile, Cuba, Portugal, Espanha, Itália e França. Seu escopo foi discutir a questão no interior das novas unidades estatais na América ibérica, com foco na criação dos instrumentos de governo e controle sobre o território e a população durante o século XIX, assim como as tensões suscitadas pela sua implementação; e seu resultado foi muito frutífero, resultando em parcerias e publicações.
Uma delas é o dossiê que aqui se apresenta em que concentramos parte dos textos que discutiram um dos eixos de nossa proposta para o Colóquio: os agentes de governo (magistrados, oficiais, funcionários, etc.) e seus órgãos tendo como foco os modos de administração, como se organizaram institucionalmente os espaços provinciais, como se operou o processo de recrutamento de agentes do Estado, como se buscou a ordem pública, entre outros. Os trabalhos aqui reunidos tratam do caso do Brasil, dois deles antes da deflagração do movimento constitucionalista em Portugal, quando já era ali evidente a busca de soluções alternativas à crise da monarquia diante das transformações que se viviam em todo mundo ao redor. Única exceção é um estudo sobre Cuba, o qual se justifica, a despeito da manutenção de seu estatuto colonial, pela semelhança de problemas vividos na ilha diante da herança dos elementos coloniais no regime constitucional espanhol; isso sem contar a existência da escravidão, que muito faz pensar sobre o caso brasileiro.
Obviamente, cabe destacar que, no marco de um mesmo conjunto de problemas, estamos diante de uma rica pluralidade de enfoques oferecida pelas autoras. Além da alta qualidade das reflexões presente em todos os trabalhos, uma questão os une no afrontamento da reflexão proposta desde o início: o da qualificação do processo que, em cada um dos temas específicos tratados nos artigos, está longe de ser redutível a uma simples avaliação acerca de suas rupturas ou continuidades. Suas respostas são convergentes à necessidade de conhecer a complexidade deste momento transicional de estabelecimento de regimes constitucionais, cujas soluções, projetos e disputas políticas ocorreriam em meio a um universo contaminado culturalmente por práticas jurídicas consolidadas.
Neste sentido, alguns textos põem em questão o recurso a dispositivos ou ao modus operandi existentes na organização destes novos espaços nacionais. É o caso do trabalho de Renata Silva Fernandes que analisa as petições apresentadas ao Conselho Geral da Província de Minas Gerais, entre 1828 e 1834, buscando entender suas implicações no processo de criação do poder provincial, mesmo sendo o movimento peticionário prática consolidada no regime anterior. Neste escopo está o caso de Cuba, que Alina Castellanos Rubio afronta por meio da discussão acerca do Tribunal Especial Militar, atuante na primeira metade do XIX como tribunal de intervenção executiva de “excepcionalidade” (para controle da criminalidade, do bandoleirismo, e também crimes políticos), o qual fez parte de um programa consciente de conservação de um equipamento político militar colonial num ambiente de afirmação do regime constitucional espanhol. Numa outra chave, mas tendo em vista a mesma questão, Maria Luiza Oliveira explora os modos de governar dos presidentes das províncias brasileiras por meio das narrativas presentes em suas correspondências, as quais descortinam um quadro de acumulação de saberes e interesses pessoais que buscava lógicas diferentes das que os novos espaços institucionais almejavam construir.
Os revezes desta transição podem ser frequentemente vislumbrados no discurso da necessidade de reformas, cuja enunciação, mesmo quando não efetivadas, costuma ser um dado mais que significativo; sobretudo às vésperas do movimento constitucional no mundo português, em que se fazia necessário estar atento às possibilidades abertas em outras experiências coevas. Este é o caso visível do trabalho de Adriana Barreto de Souza ao analisar a Junta do Código Penal Militar e de Melhoramento das Coudelarias do Reino, instituída pelo príncipe regente D. João em 1802 com o intuito de modernização, em meio a um conjunto de reflexões sobre o foro militar e seu papel na estruturação das suas instituições, em especial do Exército. Tratando especialmente dos impasses que se colocaram no estabelecimento de novas soluções estão os trabalhos de Adriana Pereira Campos e Cláudia Maria das Graças Chaves. O primeiro, tendo como tema os juízes de paz no Brasil, explora os diversos sentidos conferidos àquela magistratura ao longo do período de sua “experimentação”, que vai desde sua criação em 1827 até a acomodação de suas funções em 1841, descortinando as contradições presentes na sua concepção e implantação. O segundo, concentra-se na discussão das Juntas da Real Fazenda que, como formas tradicionais e jurisdicionais de administração fazendária, tornaram-se a base dos novos poderes políticos e econômicos regionais quando da criação das Juntas Provisórias de Governo, organizadas desde as Cortes de Lisboa.
A complexidade das soluções experimentadas neste período talvez possa ser mimetizada pela ordem de problemas levantadas no texto de Roberta Stumpf. Ao analisar as modalidades de recrutamento dos oficiais americanos durante o governo joanino, chega à conclusão que a ocorrência de mudanças, por um lado, indicava o reforço do sistema de remuneração de serviços (a economia das mercês), essencial à consolidação do papel do monarca como promotor da justiça distributiva, mas, por outro, anunciava uma tendência de aceitação dos princípios meritocráticos, mesmo que no âmbito de uma monarquia tradicional. Nem apenas o caminho do patrimonialismo, nem somente o da burocracia, servem para sintetizar algo cuja graça está na sua própria história, ou seja, em descortinar como os protagonistas agiram e inventaram, com os instrumentos disponíveis, uma Era que foi vivida como de transformações. Oxalá este conjunto proporcione a seus leitores semelhantes vôos.
Referências
MATTOS, Ilmar Rohloff de. “Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política”. Almanack Braziliense, 1 (2005), pp. 8-26. [ Links ]
Andréa Slemian – Universidade de São Paulo. Professor Adjunto III no Departamento de História da EFLCH – Universidade Federal de São Paulo. http: / / orcid.org / 0000-0002-2745-7073
José Reinaldo de Lima Lopes – Doutor (1991) em direito pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, São Diego (1995), e livre-docente pela Universidade de São Paulo (2003).
Alejandro Agüero – Graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Master Europeo en Historia y Comparación del as Instituciones Jurídicas y Políticas de la Europa Mediterránea por Universidad de Messina (Italia); Doctor en Derecho por Universidad Autónoma de Madrid (España). Cargo: Investigador Independiente CONICET – Prof. Adjunto Historia del DerechoDepartamento: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad: Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Córdoba (Arg.). Contacto: [email protected] / / [email protected].
SLEMIAN, Andréa; LOPES, José Reinaldo de Lima; AGÜERO, Alejandro. Palavras Introdutórias. Jurisdições, Soberanias, Administrações (Primeiras décadas do século XIX). Almanack, Guarulhos, n.18, jan / abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Regência e Imprensa / Almanack / 2018
Presença dos anos 1980: esperanças, nostalgias e historiografia / Anos 90 / 2017
Organizar o dossiê “Presença dos anos 1980: esperanças, nostalgias e historiografia” representou um desafio ao demandar a articulação da leitura acadêmica e das experiências e vivências de cada um de nós. Período ainda negligenciado pela historiografia, a década tem sido revisitada no âmbito público a partir de questionamentos sobre continuidades e rupturas, sobre sua atualidade e seus legados, em suas manifestações culturais, estéticas, políticas e religiosas. Pensamos o dossiê como uma possibilidade de encontrar respostas historiográficas ao “retorno” dos / aos 1980, como uma vivência utópica ou nostálgica e, ainda, como encontrar outras leituras sobre aqueles anos, leituras estas realizadas majoritariamente a partir do âmbito político.
Susan Sontag, ao avaliar seu livro Contra a interpretação (1966) mais de trinta anos após o lançamento, produzia um diagnóstico sobre aquela década: “Como tudo isso [os anos 1960] parece maravilhoso em retrospectiva. Como se deseja que algo de sua coragem, seu otimismo, seu desdém pelo comércio tivesse sobrevivido. Os dois polos do sentimento distintamente moderno são a nostalgia e a utopia. Talvez a característica mais interessante do que hoje chamamos de anos sessenta seja a parca existência da nostalgia. Nesse sentido, aquele foi de fato um momento utópico.”1
Impressão retrospectiva escrita após o que convencionalmente seria “o tempo de uma geração”, se é possível entender os anos 1960 como momento verdadeiramente utópico, ou, pelo menos, mais utópico que nostálgico, é preciso reconhecer que estas reflexões de Sontag nos anos 1990 são permeadas por certa nostalgia. A partir da ideia de uma oscilação entre nostalgia e utopia é que, enquanto organizadores, nos questionamos: o que nós e nossos colegas teríamos a dizer sobre os anos 1980, anos de experiência vivida e objeto de pesquisa? Teriam sido um tempo perdido?
Uma resposta à pergunta seria o impulso de reviver os anos 1980. Acompanhando a cultura nostálgica própria de nosso tempo, há pouco assistimos ao revival da cultura pop dos anos 1980 no que virou um fenômeno de classe média como as Festas Ploc. E desses fenômenos espontâneos surgiu um movimento da indústria cultural que reviveu bandas e personagens que marcaram aquele tempo. Não por acaso, portanto, Roger e Lobão, ídolos da transgressão para parte da juventude de então, podem ser alçados atualmente à condição de comentaristas políticos imprescindíveis. Na televisão a cabo, há um canal dedicado a novelas “antigas”, muitas delas produções da década de 1980. Ainda no campo da cultura de massa, internacionalmente, o sucesso de uma série como Stranger Things evidencia que os anos 1980 estão por toda parte, assim como a atenção e atualização de outros tempos que caracterizariam nosso presente como um tempo de expectativas decrescentes ou como momento pós-utópico.
Voltando à pergunta sugerida pela afirmação de Susan Sontag, os anos 1980 teriam sido tempos simultaneamente utópicos e nostálgicos na igual medida? Ou ainda se vivia, no Brasil, plenamente a utopia, dadas as esperanças jogadas no processo de redemocratização que não atingia apenas a política, mas o político entendido, a partir de Rossanvallon, como instância de conformação do social que atravessa diversos momentos e lugares das sociedades modernas? Se admitirmos que parte da narrativa historiográfica ainda preserva a história política como ossatura essencial, pode-se dizer que a história produzida sobre os anos 1980 seguiria a hierarquizar as instâncias e personagens da redemocratização: o fim da ditadura como evento principal e os novos movimentos sociais como seus principais agentes, secundados por novas organizações partidárias que lhe conferiam legitimidade num cenário ainda marcado pelo autoritarismo estatal.
É certo, porém, que já há 10 anos, a tímida, mas importante produção sobre o período torna visível a diversidade daquela década, tornando possível identificar naquela circunstância histórica muitas das pautas políticas contemporâneas: a luta das mulheres por seus direitos e outras questões de gênero, debates sobre a sexualidade, enfrentamento de preconceitos de cunho étnico-raciais e pela população LGBT etc. Nesse sentido, é possível reconhecer a marca utópica que funda a história e a historiografia moderna? Se pensarmos a redemocratização reconstruída pela historiografia atualmente, é possível identificar nesse esforço o compromisso essencial da historiografia com o futuro.
Mas a história hoje não participa também da nostalgia? A reconstrução dos anos 1980 pelos historiadores também não obedece ao impulso nostálgico que toma as relações mais gerais com o passado? Se assim for, é necessário distinguir dois tipos de nostalgia. Um, de caráter restaurador, leva a uma reconstrução pouco crítica de passados idealizados para cumprir fins identitários no presente; outro, que se conceitua como nostalgia reflexiva se caracteriza como um impulso melancólico, toma o gosto pelo passado como ponto de partida para pensar ainda futuros possíveis e abertos2. A historiografia teria, então, aqui um ponto de contato positivo com a cultura nostálgica contemporânea.
Algumas perguntas que nos moveram ao propor essa reflexão receberam respostas provisórias ao longo dos artigos que compõem o dossiê; outras permanecem como interrogantes para seguir retornando ao período e buscando alguma inteligibilidade para o presente: quais as possíveis relações entre a crise sociopolítica iniciada em 2013 e as especificidades de nossa transição da ditadura civil-militar para a democracia? O que permanece do legado autoritário, bem como das lutas e conquistas democráticas experimentadas desde o fim dos 1970? Estamos vivendo o fim da “Nova República”? Quais eram as esperanças e fantasmas desse passado-presente (“anos 1980”)? Quais os legados, as esperanças perdidas, os afetos atuais e inatuais daquele tempo? O que passou e o que não passou dos anos 1980? E, finalmente, como a historiografia responde ao movimento de “retorno” aos anos 1980 que atravessa nossa cultura?
Em 1986, a banda Legião Urbana lançava o álbum Dois. Aquela juventude que nascera sob uma ditadura civil-militar e sob o regime de terrorismo de Estado questionava-se sobre seu tempo e afirmava que não havia sido tempo perdido. As diferentes percepções em relação à década daqueles que a viveram e por outros que gostariam de tê-la vivido permitem que a pergunta seja apresentada e recolocada à produção historiográfica: o que há para ser escrito sobre a história dos anos 1980?
O dossiê é aberto com o artigo “Qual a importância de uma época? Anacronismo e história”, em que o autor, André Fabiano Voigt, teoriza, a partir de Kant, Hegel e Marx, quais as relações que o ser humano estabelece com o tempo e quem possui autoridade para determinar que indivíduos têm uma visão ou compreensão melhor da situação que outros. O artigo nos sugere, então, pensar a qualidade dos anos 1980 como uma época.
“Será que nada vai acontecer? Tempo e melancolia na poética da Legião Urbana”, de Henrique Pinheiro Costa Gaio, além de apresentar uma discussão sobre o rock nacional da década de 1980, analisa a emergência de certa sensibilidade sobre o tempo a partir da poética da Legião, que apresenta uma estética melancólica e afetos localizados entre a esperança e a frustração. Pode-se pensar, a partir dessa leitura, até que ponto a tensão entre expectativa e desilusão não foi uma percepção generalizada sobre a época.
Seguindo o dossiê, temos o artigo “O filme documentário Mauvaise Conduite: memória e direitos humanos em Cuba”, de Isabel Ibarra Cabrera e Rickley Leandro Marques, que apresenta reflexões sobre a relação história e cinema e o uso desse artefato cultural como fonte para o estudo do passado, analisando um filme de caráter documental sobre a violação de direitos humanos durante o período.
O artigo de Alvaro de Oliveira Senra, “CNBB, democracia e participação popular na década de 1980”, apresenta as concepções de democracia e participação popular elaboradas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e demonstra que estas ideias guardavam relação com o pensamento social católico e serviram de base para ação de diversos movimentos sociais. Uma importante contribuição para se pensar quais sentidos de democracia foram derrotados pelas perspectivas liberais que se hegemonizaram no debate político.
Um dos temas negligenciados pela historiografia do período, a Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição de 1988 – que completa 30 anos em 2018 –, a despeito da existência e disponibilidade de fontes para a pesquisa, é o tema do artigo de Mayara Paiva Souza e Noé Freire Sandes, intitulado “Entre silêncios e ruídos: a Anistia na Assembleia Constituinte de 1987 / 88”. Os autores analisam os debates sobre a ampliação da anistia durante a Constituinte e os setores que consideravam a discussão perniciosa para a construção da democracia.
Por fim, o dossiê se encerra com a contribuição de Francisco Gouvea de Sousa, “Escritas da história nos anos 1980: um ensaio sobre o horizonte histórico da (re)democratização”, em que o autor, a partir de algumas leituras realizadas em cursos de formação de professores, procura reconstruir o período de transição em diálogo com a história da historiografia e da construção da democracia com a institucionalização da pesquisa histórica no Brasil.
Os artigos reunidos neste dossiê apresentam uma dimensão da miríade de possibilidades de um retorno historiográfico àqueles anos. Desejamos uma boa leitura.
Notas
1. SONTAG, Susan. Against Interpretation and Other Essays. New York: Picador, 2001. p. 311.
2. Sobre essa diferença ver o livro e artigo de Svetlana Boym: BOYM, Svetlana. The future of nostalgia. New York: Basic, 2001 e BOYM, Svetlana. Mal-estar na nostalgia. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 23, p. 153-165, abr. 2017.
Caroline Silveira Bauer – Professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: [email protected]
Marcelo Santos de Abreu – Professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. E-mail: [email protected]
Mateus Henrique de Faria Pereira – Professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. E-mail: [email protected]
BAUER, Caroline Silveira; ABREU, Marcelo Santos de; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 24, n. 46, dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010) | Patrícia R. Silva
Com alguma frequência, ainda em nossos dias, através das mídias: sites, jornais televisionados ou impressos, há menções em torno das disputas sobre o uso do espaço conhecido Manaus Moderna, um local que abrange porto, feiras, lojas das mais diversos artigos, barracas improvisadas de vendedores ambulantes às margens do Rio Negro e suas proximidades, no Centro da cidade de Manaus. O trabalho da professora Patrícia Rodrigues da Silva recentemente publicado, “Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010) [1] ” traz grande contribuição ao desvelar as disputas em torno dos projetos para Manaus desde a década de 1960 até o ano de 2010.
A autora perscrutou o desenvolvimento do “Projeto Manaus Moderna”, que tinha o objetivo de modificar a capital do Amazonas, a partir da efetivação da Zona Franca de Manaus. Silva explica que dentro desse grande projeto de modificação da capital, houve atenção para a adequação do espaço às margens do Rio Negro, com a construção de Avenida Beira Rio – hoje denominada Avenida Lourenço da Silva Braga –, a construção da Feira Coronel Jorge Teixeira conhecida popularmente como a Feira da Manaus Moderna, e passagens de acesso entre a praia e a Avenida. Chama a atenção, pois o Projeto Manaus Moderna se estabelece a partir do caráter higienizador da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado do Amazonas, estes empenhados em dinamizar o transporte de material utilizado no Distrito Industrial que são descarregados na área portuária, e o desenvolvimento do comércio na área central da cidade.
Dentro das projeções do Governo do Estado do Amazonas para a área, as formas como estas adequações vão ganhando expressivas notas – às vezes de maneira ambígua – nos jornais diários da cidade, e nas denúncias e manifestações dos trabalhadores da Manaus Moderna é onde Silva vai delineando os contextos das disputas pelo espaço.
A obra de Silva se insere na concepção da História que, “procura entender o fazer-se dos homens, mulheres, crianças etc., e sua cultura, entendida como todo um modo de vida, ou seja, seus valores, tradições, esperanças, conflitos, perspectivas e práticas sociais [2] ”, como propõe a autora, concepção esta que é inspirada em autores difundidos amplamente durante a década de 1980 nas Universidades brasileiras, como os ingleses Edward Palmer Thompson e Eric Hobsbawm preocupados em uma análise mais profícua em tornos dos sentidos e ações constituídos pelos trabalhadores, ampliando os diálogos das experiências dos sujeitos.
Patrícia Rodrigues da Silva com sensibilidade vai tecendo as análises a partir das narrativas dos trabalhadores da Manaus Moderna, aproximando do administrador da Feira Coronel Jorge Teixeira, professor (ex-camelô), carregadores, lojista, e moradores da região, aí encontra-se uma grande contribuição da autora para a historiografia regional que utiliza as fontes orais como ponto norteador para observar os conflitos, resistências dos trabalhadores mediante a imposição do Projeto Manaus Moderna sem nenhuma consulta pública, impactando a dinâmica do cotidiano de trabalhadores e moradores. A autora por meio das narrativas dos trabalhadores que lhes cederam entrevistas busca compreender os significados desses sujeitos a partir das experiências e memórias, apontando que a busca de significados não se refere a um caráter homogêneo das memórias e experiências construídas pelos sujeitos: “Assim, o sujeito se mostra, ao mesmo tempo, um ser individual e social [3] ”. Dentro dessa compreensão em torno dos significados e experiências dos indivíduos, Silva dialoga com referências importantíssimas das fontes orais e memória como, Alessandro Portelli [4], Michael Pollak [5], Alistair Thomson [6], que carregam em suas obras aspectos de como se forjam as memórias, e como elas estão carregadas de subjetividades, elemento de grande importância para a análise dos historiadores.
As disputas pelas memórias estavam também dentro das Instituições, onde Silva identifica um dos embates entre a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico (SPHAN) que aponta uma série de problemas para a construção da Avenida Beira Rio (Avenida Lourenço da Silva Braga), observando que a mesma traria impactos prejudiciais ao prédio do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, e aos trabalhadores e moradores das proximidades, ponto que o Governo do Estado, como executor do Projeto e a Prefeitura de Manaus elaborador do Projeto não consideraram, pois para estes, as adequações feitas estavam alinhadas com o desenvolvimento urbano e econômico previstos no Projeto. Silva vai mais afundo quando analisa que mesmo que a SPHAN tenha suas justificativas nos embargos feitos à obra, esta deixa a desejar ao buscar o entendimento genérico de Patrimônio, idealizando o histórico a partir das “edificações, o meio físico”, e não inserindo preocupação ao que tange “aos anseios e demandas de moradores e usuários do espaço”. O entendimento de “patrimônio esvaziado” destacada no livro para a SPHAN advém das reflexões que a autora tem a partir da concepção de Nestor García Canclini, no que este chama de tradicionalismo substancialista, onde Canclini critica esta noção de que “patrimônio está constituído por um modo de formas excepcionais, onde não contam as condições de vida e trabalho de quem os produziu [7] ”.
O papel dos jornais no período do Projeto Zona Franca de Manaus é constantemente na obra uma ponta de lança para análise do quanto os jornais como o A Crítica, apoiador do Projeto Zona Franca de Manaus, e de vários projetos que vão se desenvolvendo paralelo às normativas do capitalismo, se atrelando ao discurso do Estado e da elite quanto às modificações da área da Manaus Moderna reforçando o caráter saneador e de desenvolvimento econômico, mesmo que por vezes, aponte os problemas que o projeto vai causando para os trabalhadores e moradores. O Jornal A Crítica em várias notas corrobora os aspectos higienizadores, como atenta Silva para a legenda de uma das fotos do A Crítica, 13 de Agosto de 1980, “consumada a limpeza da escadaria”, em referência a retirada dos comerciantes. O jornal “A Notícia” de circulação diária inaugurado no período da Ditadura Militar expunham em suas páginas a retirada dos moradores da cidade Flutuante, na Escadaria dos Remédios com a seguinte notícia no dia 11 de Agosto de 1980: “Capitania e prefeitura acabam hoje com a “vergonha” da escadaria dos Remédios”.
Destacam-se como referências metodológicas para análises das matérias jornalísticas, as obras da historiadora Heloísa de Faria Cruz, que se direciona a abordar a cultura letrada e o viver urbano, no sentido de que a imprensa é uma “prática social e momento de constituição /instituição dos modos de viver e pensar [8] ” em São Paulo nos fins do século XIX e início do XX. A historiadora Maria Luiza Ugarte Pinheiro, também é uma grande contribuição para Silva, pois Ugarte coloca a imprensa como possibilidade de aprender “múltiplas dimensões do viver social [9] ”, no Amazonas nos fins do século XIX e início do XX.
Com muito esmero a autora se debruça em analisar as fotografias a partir de referências como Boris Kossoy [10] e Pilippe Dubois [11]. Silva menciona que a fotografia, “sendo uma produção cultural, carrega elementos da subjetividade e requer um trato específico, uma reflexão sobre a natureza e a forma como deve ser tratada dentro do trabalho, como quaisquer fontes que possamos utilizar”. Neste sentido, a obra segue destacando a atenção para as fotografias expostas nos jornais, publicadas na internet, revistas e acervo pessoal de alguns feirantes, e algumas publicadas em livros de memorialistas. Silva denota que as fotografias oriundas da imprensa devem ser “compreendidas como força atuante na configuração e difusão da notícia [12]”, e inspirada em Gisèle Freund [13] – autora que metodologicamente sobre o uso das fotografias dispostas em jornais – aponta que o fotojornalismo funciona a partir de interesses, se convertendo em meio de propaganda e manipulação.
Silva sinaliza que os usos de termos como “limpar” significava o “esvaziamento dos modos de viver e morar naquela espacialidade [14]”. Esses termos eram percebidos pelos entrevistados que apontavam os momentos que foram expulsos os camelôs e feirantes, e as maneiras como eram identificados pelos jornais, autoridades e parte da sociedade manauara como “responsáveis pelas falta de estrutura da feira”, “foco de doenças como a cólera”, articulando um sentido pejorativo para a favela, e “a favela como lugar de não trabalho”. A polícia muitas vezes, como mostra a obra de Silva, vai participar das retiradas de trabalhadores e moradores da área, e novamente, atentos aos modos que são pensados pelas autoridades, tanto os camelôs quanto os feirantes apanhavam da polícia, eram perseguidos e reprimidos com a apreensão de mercadorias – violência que se agravou com a chegada de Arthur Virgílio Neto à Prefeitura de Manaus, em 1989. Em alguns momentos, a “guerra do lugar”, como Silva chama a disputa pela espacialidade se relacionava às demandas dos atacadistas que eram defendidos pelos jornais como grupos importantes ao abastecimento da cidade, sendo defendidos, também, pela Secretaria Municipal de Abastecimentos, Marcados e Feiras – SEMAF [15], que disponibilizava para os atacadistas boxes da feira, quando na verdade, eram destinados aos permissionários, “Lei Municipal n°123, de 25 de novembro de 2004”. As possibilidades encontradas das narrativas dos trabalhadores e moradores da área da Escadaria dos Remédios e da Cidade Flutuante constituíram significados para suas experiências individuais e aquelas que foram compartilhadas socialmente, interpretando as práticas e sentidos que fiscais da feira adotavam com os empresários, compactuando se não com a retirada de uma só vez dos trabalhadores e moradores, aos menos, tinham aprendido a fazer de outras maneiras, como ceder o espaço que daria para três ou quatro permissionários para um empresário. Alessandro Portelli nos direciona à reflexão da importância da subjetividade, da reflexão, e da trajetória que segue a memória do entrevistado,
Pois, não só a filosofia vai implícita nos fatos, mas a motivação para narrar consiste precisamente em expressar o significado da experiência através dos fatos: recordar e contar já é interpretar. A subjetividade, o trabalho através do qual as pessoas constroem e atribuem o significado à própria experiência e à própria identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo do discurso. Excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse somente uma fastidiosa interferência na objetividade factual do testemunho quer dizer, em última instância, torcer o significado próprio dos fatos narrados [16].
A memória de muitos trabalhadores ficou marcada pela exclusão, pela a perda total ou quase total de suas mercadorias e de seus rendimentos, mesmo depois de deslocados para outras feiras que ficavam em áreas distantes do Centro dificultando que os trabalhadores tivessem contato com os clientes antigos e tivessem vigor em suas vendas. Quando podiam comprar suas mercadorias, e quando podiam contar com outros trabalhadores, os feirantes articulavam o retorno à Manaus Moderna, reivindicando direitos e denunciando as manobras das Secretarias ligadas à Prefeitura para atender as demandas de empresários. Os sujeitos que vivenciaram os momentos de lutas, e tiveram suas barracas/casas destruídas pelo poder público, e depois por um incêndio ocorrido em 1991, nas entrevistas contidas no livro revelam memórias sobre a violência que viveram com a perda do espaço de trabalho, da sobrevivência, e o surgimento de necessidades que começam ou pioram ao enfrentarem o fim de seus modos de vida.
A continuidade do Projeto Manaus Moderna ficou sob responsabilidade, em 1993, do prefeito Amazonino Mendes, que Silva vai identificar como político que desperta admiração de vários trabalhadores, pois oferece boxes da feira Coronel Jorge Teixeira aos feirantes, mas não abrange a todos que foram retirados anteriormente. Ao tempo que alguns dos entrevistados de Silva guardam fotos de Amazonino, ou atribuem ao ato dele chamar os feirantes aos boxes da Manaus Moderna como um ato de solidariedade aos trabalhadores, outros atribuem a ele outro significado, como um político que usa as necessidades alheias para conseguir votos.
As tensões sobre a espacialidade da Manaus Moderna ganham novos contornos, novos sujeitos se estabelecem enquanto trabalhadores, a espacialidade vai entre alguns anos sendo modificada. A obra de Patrícia Rodrigues da Silva nos leva aos mundos de possibilidades de projetos permeados de disputas, e os trabalhadores estão inseridos enquanto construtores de projetos para a área portuária, afinal, suas resistências como permanecerem, voltarem, reivindicarem marcam também o quanto os trabalhadores e moradores não estavam dispostos a serem engolidos por planos alheios às suas expectativas, às suas experiências, as redes de sociabilidades e principalmente às suas memórias.
Notas
1. SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010). Manaus: EDUA, 2016.
2. SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010), p. 16-17.
3. SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010), p. 42.
4. PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Dossiê Tempo, Rio de Janeiro, v.1, n.2, p. 59-72, 1996. ___________________Forma e significado na história oral: a pesquisa como um experimento de igualdade. Projeto História, São Paulo, Departamento de História da PUC/SP, n. 14, p. 07-24, fev. 1997.
___________________ O momento em minha vida: funções do tempo na história oral. In: KHOURY, Yara Aun et al. Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho D’Água, 2004.
5. POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Revista de Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.
6. THOMSON, Alistair. Quando a memória é um campo de batalha: envolvimentos pessoais e políticos com o Exército Nacional. Projeto História, São Paulo, Departamento de História da PUC/SP, n 16, 1998.
7. CANCLINI, Nestor García. O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, IPHAN, n.23, p. 95-115, 1994.
8. CRUZ, Heloísa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1980-1915. São Paulo: Edusc, 2000.
9. PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Folhas do Norte: letramento e periodismo no Amazonas (1890-1920). 2001. Tese (Doutorado em História) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.
10. KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia, SP: Ateliê, 2007.
11. DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas, SP: Papirus, 1993. (Série Ofício de Arte e Forma).
12. SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010), p. 37.
13. FREUND, Gisèle. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo Gilli, 2008.
14. SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010), p. 238.
15. SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010), p.277. Esse aspecto, é mencionado por um entrevistado de Silva, no sentido de que o entrevistado ciente da Lei existente não se conforma com as práticas da SEMAF.
16. PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Dossiê Tempo, Rio de Janeiro, v.1, n.2, 1996, p. 60
Rafaela Bastos de Oliveira – Mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas. E-mail: [email protected]
SILVA, Patrícia Rodrigues da. Disputando espaço constituindo sentidos. Vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus – AM – 1967-2010). Manaus: EDUA, 2016. Resenha de: OLIVEIRA, Rafaela Bastos de. Sobrevivendo à Manaus moderna. Canoa do Tempo. Manaus, V. 9, n. 1, p. 166-171, dez, 2017. Acessar publicação original [DR]
Arquivos e Direitos Humanos / Revista do Arquivo / 2017
Finalizo com as palavras de Santo Agostinho: “A esperança tem duas filhas queridas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a recusar as coisas como estão e a coragem, a mudá-las”. Continuamos a lutar!
Margarida Genevois
No próximo ano se comemorará os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, que advoga uma norma comum a ser alcançada “por todos os povos e nações”. Para nós, a comemoração deve ter sentido de reflexão e debate, pois as razões que a motivaram permanecem, agregadas pelas demandas postas pelas mudanças socioculturais nesses 70 anos.
O tema direitos humanos se pretende universal, mas as abordagens possíveis são tantas quantas as possibilidades de apropriação ideológica dele. Há quem não ultrapasse a generalidade pueril que enxerga essa bandeira como um discurso acima da política e das classes sociais. Há quem defenda a prática da tortura como válida em nome da “democracia e do progresso” e que o extermínio de “bandidos” não é assunto de direitos humanos. Há outros que concebem os direitos humanos como cidadela da propriedade privada e do conceito de indivíduo genérico, portanto, não histórico, a justificar práticas de terrorismo de Estado com suas artilharias de ogivas ou de mercadorias contra povos inteiros.
Encontrar-se-ão várias nuances em torno do conceito de direitos humanos nos artigos e textos desta Revista, mas, em todos eles nota-se a adoção do conceito na perspectiva da luta contra o terror da tortura, contra a violência nua do Estado ou em defesa dos seres humanos mais vulneráveis, submetidos às mais vis crueldades, porém, sem qualquer visibilidade social. Em suma, os direitos humanos como campo de luta contra a barbárie.
De qualquer forma, tratar desse tema é sempre oportuno e necessário, afinal, continuamos a conviver com guerras regionais e com o terror da guerra total, atômica, hidrogenada e convencional. Bombardeios por Estados “democráticos”, “desenvolvidos” e “civilizados” a povos que, de alguma forma se contrapõem à lógica estrita dos impérios do capital. No mundo capitalista globalizado, permanece a massacrante concentração de renda e de riqueza nas mãos de um punhado de afortunados, geradora de misérias, de deslocamentos humanos maciços, desestruturados e até letais
Governos pelo mundo afora alimentam esse caos humanitário contemporâneo com combustível inflamável das políticas que quebram direitos econômicos e sociais duramente conquistados; restringem verbas para as atividades humanas mais elementares, como alimentação, saúde e educação, sempre em prol da acumulação financeira insaciável.
As rebeliões sangrentas nos presídios brasileiros superlotados e a persistente violência policial, com práticas de tortura, geradoras de mais violência social, são apenas expressões visíveis de uma sociedade assentada na desigualdade e na violência estruturada e institucional.
De qualquer modo, a propositura dos direitos humanos, sob quaisquer perspectivas, continua sempre atual e dependente dos arquivos, desde que foi sugerida. Como afirma Paulo Sérgio Pinheiro, “não existe avanço linear em direitos humanos, há retrocessos e progressos, é quase um jogo de xadrez”.
Não obstante a polêmica em torno das práxis e do conceito de direitos humanos, são os arquivos e os arquivistas elementos indispensáveis para se trazer à tona evidências e provas de atrocidades empreendidas por organizações estatais e civis em quaisquer partes e circunstâncias.
E esta edição da Revista do Arquivo convoca o leitor para um olhar especial sobre a luta da Comissão Teotônio Vilela como exemplo de abnegação, coragem e prática de quem não espera respostas, mas as praticam diante dos gritos de dor que ecoam de corpos e mentes destroçados sem qualquer amparo. Depois do seminário e da exposição, a nossa Revista já anima a outra vida da CTV, conforme definiu José Gregori: “Com a guarda dos documentos no Arquivo, a Comissão Teotônio Vilela começa a ter uma outra vida. Teve a vida real e agora terá a vida contada, que eu sei que os pesquisadores têm muita curiosidade de saber como foram esses anos de ditadura e sabem que a Comissão Teotônio Vilela exerceu um papel importante”.
Boa leitura!
Marcelo Antônio Chaves
CHAVES, Marcelo Antônio. Editorial. Revista do Arquivo, São Paulo, Ano III, n.5, outubro, 2017. Acessar publicação original [DR]
História Cultural / Revista de História Bilros: História(s) Sociedade(s) e Cultura(s) / 2017
É com enorme satisfação que anunciamos a 10ª edição da “Revista de História Bilros: História(s), Sociedade(s) e Cultura(s)”. Fruto, inicialmente, do interesse conjunto de discentes da graduação em História e do Mestrado Acadêmico em História (MAHIS) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), este periódico eletrônico chega ao seu quinto volume e ao seu número dez composto de doze textos inéditos de acadêmicos e acadêmicas de Universidades de todo o Brasil. Esta edição está sendo lançada composta por oito artigos no Dossiê Temático História Cultural, três artigos na seção Artigos Livres e uma Entrevista com a atual presidenta da ANPUH nacional.
A caminhada desta complexa empreitada não foi fácil. A Revista de História Bilros surgiu ainda em 2012 como proposta de gestão de Centro Acadêmico, passou por instâncias e colegiados para garantir sua aprovação e foi encampada por discentes da graduação e da pós-graduação em História da Universidade Estadual do Ceará. Aprender regras básicas de editoração, manutenção de sistema, bem como a necessidade de manter um núcleo articulado de editores (as) e pareceristas se constituiu como uma árdua, mas saborosa e intrigante tarefa. Aprendizados diversos foram surgindo durante o caminho, assim como novos(as) integrantes que se propuseram a somar cada vez mais. Leia Mais
Revolução Pernambucana de 1817 / Revista do IHGB / 2017
É tradição estabelecida do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro revisitar eventos e personagens do passado em datas como centenários, sesquicentenários e bicentenários. Em 2017, comemoraram-se os 200 anos da Revolta de Pernambuco, fazendo com que o acontecimento merecesse um olhar especial por meio do Seminário – “Revolução Pernambucana de 1817” –, que, nos dias 5 e 6 de abril de 2017, reuniu especialistas de diversas áreas, vindos inclusive da antiga capitania de Duarte Coelho. Ainda tendendo a ser encarado, nos dias que correm, por visões divergentes, o movimento sempre foi objeto de grandes polêmicas entre historiadores, juristas e outros estudiosos. Na realidade, estes podem mesmo considerá-lo segundo uma ampla gama de perspectivas, que se estendem desde um dos momentos fundadores da História nacional, precursor da Independência de 1822 – a versão dominante, às vezes ufanista –, até um olhar crítico, cético talvez em demasia, que o reduz a uma explosão local, manifestação de autonomia da província, insatisfeita com a política adotada pelo governo de D. João no Rio de Janeiro.
Assim sendo, este último número de 2017 da Revista centrou-se, portanto, na organização de um dossiê sobre Pernambuco em 1817, cujos artigos foram fruto das reflexões e discussões que ocorreram ao longo daquele evento. Proposto com o objetivo de repensar o acontecimento histórico, em busca de novas interpretações e do estabelecimento de relações entre a historiografia e a memória do evento, o Seminário possibilitou o amadurecimento de trabalhos diversos, que, ampliados e aprofundados, constituem o núcleo central desta publicação. Em seu conjunto, a despeito de também comemorar os 200 anos de Pernambuco 1817, os autores dos artigos aqui incluídos realizaram não só um balanço geral da memória que o acontecimento deixou na historiografia, mas procuraram igualmente avaliar o potencial desse passado para discutir o presente e averiguar, ainda, as ligações simbólicas do poder, da sociedade e da economia na formação do futuro Império do Brasil.
O dossiê contou com 11 artigos. Abre-se com uma discussão jurídica sobre a conceituação da Lei Orgânica da Revolução Pernambucana de 1817, e segue com o debate sobre a dialética entre tradição e inovação no discurso político presente neste processo histórico. Mais adiante, busca inserir o movimento de 1817 no contexto do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, passando, em seguida, para uma discussão historiográfica sobre o “fazer-se (de 1817) uma revolução”. Encontram-se também presentes análises sobre o ideário liberal na revolta, as relações de 1817 com as ideias de Simon Bolívar, as tentativas diplomáticas que o movimento encetou e ainda as configurações espaciais que este tomou na vila do Recife. Se as conclusões podem se mostrar diversas, numa leitura final, apesar da variedade dos temas, o conjunto permite não só exumar homens, heróis e correntes de pensamento bem conhecidas, como ampliar ainda mais um corpus, hoje na ordem do dia dos trabalhos historiográficos, de fenômenos relacionados à difusão e à recepção de ideias. Como resultado, são novos olhares sobre a Revolta Pernambucana de 1817, que buscam, no fundo, como se espera, a forma como homens de determinada época pensavam sua própria vida.
Este número, contudo, não se limita ao dossiê. Completam-no dois artigos inéditos, que se ligam pela análise da cultura material, em épocas distintas. No século XVIII, o primeiro diz respeito a retábulos atribuídos a Aleijadinho, enquanto, no século XIX, o segundo trata das moradas do Conde da Barca no Rio de Janeiro.
Na seção de comunicações, contempla-se novamente o século XIX com mais dois estudos: um sobre as ideias políticas do Visconde do Uruguai e a construção do Estado no Império; o outro acerca da imigração, o ensino agrícola e o projeto da Província do Rio Sapucaí.
A seção de Documentos traz a transcrição de manuscrito fundamental para os estudos sobre feitiçaria na América portuguesa do século XVIII. Ecoando a célebre publicação de 1978 que J. R. Amaral Lapa fez da visita da Inquisição ao Pará entre 1763 e 1769, constitui-se de devassa criminal com o propósito de investigar o delito de feitiçaria cometido por indígenas na primeira metade daquele século, mas no outro extremo da América portuguesa, ou seja, na Ouvidoria de Paranaguá. Para melhor situar o documento, um texto introdutório curto, mas aprofundado, apresenta as principais características arquivísticas do documento, explicando algumas particularidades da feitiçaria e categorias jurídicas encontradas na fonte. Diante de seu ineditismo e originalidade, torna-se desnecessário enfatizar sua relevância.
Completa a Revista uma resenha a respeito dos modos sobre escravizar gente e governar escravos entre Brasil e Angola, séculos XVII-XIX. Como o resenhista afirma, a partir da visão de Sergio Buarque de Holanda, uma das funções sociais do historiador consiste “em exorcizar os fantasmas do passado”. Entre aqueles que ainda rodam e assombram o Brasil, até os dias de hoje, encontra-se sem dúvida a experiência histórica da escravidão.
Aproveitem!
Lucia Maria Bastos P. Neves – Diretora da Revista.
NEVES, Lucia Maria Bastos P. Carta ao leitor. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, v.78, n.475, p.11-13, set./dez., 2017. Acesso apenas pelo link original [DR].
Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands 1800-1850 | Andrew Torget
Three enslaved people – Richard, Tivi, and Marian – fled enslavement in Louisiana in 1819, seeking relief from the brutality of slavery in the United States in the northern borderlands of New Spain. At this time, the Mexican province of Tejas was home to a small population of ethnic Mexicans, known as Tejanos, along with a larger indigenous population, including the powerful Comanche. Less than thirty years later, this area would be the state of Texas within the United States and home to the fastest-growing enslaved population in the slaveholding republic. In his meticulously-researched book, Andrew Torget follows the emergence of an Anglo-Texan society, nation, and, eventually, state. The book takes a firmly political and economic approach to history, which makes for a propulsive and clear narrative, but Richard, Tivi, and Marian aside, keeps that narrative largely the preserve of economically and politically powerful individuals and groups – legislators, empresarios, generals, and merchants. Torget masterfully integrates an intricate explanation of the politics of New Spain and Mexico with a more familiar narrative of the expansion of the United States cotton frontier into Texas. The advancing cotton frontier, however, appears mostly in the form of increasing numbers of cotton bales leaving Texas and the growth of migration of enslavers to the region, bringing with them enslaved people. Seeds of Empire thus occupies an interesting place, both linked to recent scholarship on the connections between slavery and capitalism in the nineteenth-century United States and circum-Caribbean world, like Walter Johnson’s River of Dark Dreams, but also employing different methods and narrative strategies than much of that scholarship.
Seeds of Empire tells the history of the Texas borderlands in three sections, beginning with an introductory chapter on the region “on the eve of Mexican independence,” continuing to a second part on the tension between the extension of the United States’ cotton frontier into Mexico and increasing Mexican antipathy toward slavery in Mexico, and concluding with a section on independent Texas’ attempts to create a successful proslavery cotton republic. It is in discussing the debates surrounding slavery in northern Mexico that Seeds of Empire makes its greatest contribution. Torget lays out an important and, in the historiography of Texas, largely untold narrative of the debates between proslavery Americans and Tejanos and antislavery political forces in Mexico. This section of the book transports readers to debates in Saltillo and shows how important Mexican resistance to slavery would be for Anglo-Texans and enslaved people in Texas.
For Torget, there are three main factors that shape the period of the 1830s and 1840s when Texas seceded from Mexico and pushed to join the United States. He often glosses these three factors as “cotton, slavery and empire,” but his fuller description of each factor is more revealing of the approach of the study. (6) Cotton is really the “rise of the global cotton economy,” slavery is the “battles over slavery that followed,” and empire is “the struggles of competing governments to control the territory” of Texas. (5-6) The brief terms suggest a clear connection to ideas scholars have recently termed “The New History of Capitalism” and “The Second Slavery,” both of which emphasize economic shifts in plantation commodity production under slavery, an increasingly industrial approach to enslavement, and the expansion of plantation complexes to new territory. This scholarship, at its best, connects large shifts in economics, politics, and society to the lived experience of enslaved people. For example, in his River of Dark Dreams, Walter Johnson connects his discussion of the cotton economy to the daily lives of enslaved cotton pickers in Mississippi by tracing the journey of cotton from seed to boll to lint to bale on a Liverpool wharf. (Johnson, 246-279) While both Johnson and Torget use cotton as a way into the world of the Second Slavery, Torget chooses different individual human actors to focus on – largely politicians, empresarios, and powerful cotton planters. While this allows Seeds of Empire an admirably comprehensible and tight narrative of complex and oft-ignored political developments in northern Mexico and, later, Texas, it also means that enslaved people appear largely as subjects of debate, rather than agents of historical change. This is reflected in Torget’s insistence that the aspect of slavery most shaping Texas is national and international debates in Mexico, the United States, and Europe over the future of slavery. This is a result of the political approach the book takes to explaining this period of the history of Texas, but it is still a missed opportunity. Adam Rothman, in writing a history of the advancing cotton frontier that Torget foregrounds, writes a narrative with a central role for politics and warfare, but also foregrounds the active role enslaved people played in shaping the cotton frontier with, for example, the German Coast Uprising.
Torget’s key intervention – that the history of the Texas borderlands can only be understood in terms of the advancing United States cotton frontier – fits naturally into recent scholarship emphasizing capitalism and the Second Slavery, yet Seeds of Empire stands, in terms of its narrative approach, historical actors, and political and economic focus, in stark contrast to much of this work. Historians of the Second Slavery and the New History of Capitalism have largely sought to integrate the testimony of enslaved people, understand historical change as deeply influenced by the actions of enslaved people, and play down the influence of British abolitionism on the daily actions of enslavers in the United States. Torget convincingly argues that Mexican and British abolitionism was central to the history of the Texas borderlands, but is unable to reckon with the ways enslaved peoples actions shaped these borderlands. The book could have offered a fuller explanation of the failure of the Texan proslavery republic by integrating an approach similar to that of Stephanie McCurry’s Confederate Reckoning, which combined an analysis of high politics with an emphasis on political history operating at all levels – showing that, in her case, the Confederacy was crumbling from within outside of its diplomatic and military defeats.
Torget’s book presents an admirably clear and engaging narrative of the competing influences on the borderlands of northern Mexico and the southern United States. Seeds of Empire makes a significant contribution to existing scholarship on the southern United States and northern Mexico by showing how important the antislavery politics of New Spain and Mexico were to the expansion of cotton slavery in the Texan borderlands. While retaining the common emphasis on the importance of the United States cotton and slavery complex, empresarios, and the Comanche in shaping American immigration, the growth of slavery in the borderlands, and the eventual secession of Texas from Mexico, Torget forcefully demonstrates that it is nearly impossible to fully understand this process without a fuller understanding of the politics of Mexico that conditioned the actions of empresarios and free migrants from the United States. In many ways, the narrative shows that it was primarily determined Mexican resistance to slavery in the province of Tejas that prevented enslavers from the United States from migrating in large numbers before the secession of Texas, then the abolitionist politics of Great Britain and threat of Mexican military force that slowed this same migration before the United States annexed the Texan republic. Seeds of Empire is key reading for scholars interested in the history of Texas, the Second Slavery, and the history of the expansion of the United States. Historians of cotton slavery in the United States have recently emphasize the centrality of expansion into Texas to late-stage slavery in South and Torget provides an important step toward exploring and explaining that expansion.
Ian Beamish – Assistant Professor of History of 19th Century US and History of Slavery in the University of Louisiana. E-mail: [email protected]
TORGET, Andrew. Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850. The University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: BEAMISH, Ian. Capitalism and Second Slavery in Texas. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 460-464, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
How the West Came to Rule: the Geopolitical Origins of Capitalism | Alexander Anievas e Kerem Nisancioglu
This ambitious book covers over six hundred years of global history and offers a specifically ‘geo-political’ correction to a Marxist understanding of the emergence of capitalism. The book has extensive chapters on the Mongolian Empires, the clash between Hapsburgs and Ottomans, the impact of the Black Death , the turn to slave plantations of the Americas and the profits of British rule in India. While developing a critique of traditional Marxist accounts, they uphold both Marx’s concept of ‘primitive accumulation’ and what they call the ‘classical’ narratives of successive ‘bourgeois revolutions’ , each helping to confirm a capitalist dynamic and the ‘Rise of the West’. According to the ‘consequentialist’ doctrine they espouse the nature of revolutions is set by their results rather than their agents. The authors structure much of their narrative around a critique of ‘Eurocentrism’, which they see as conferring an unjustified salience and superiority on western institutions and a failure to register the weight of geo-political advantages and handicaps. The authors supply a new narrative that reworks the ‘transition debate’, Trotsky’s theory of ‘uneven and combined development’ and a concept of the ‘international’ derived from International Relations, all of this from an avowedly ‘anti-capitalist’ standpoint.
The book develops a historical materialist approach but does not suppose that human history is an orderly march of successive modes of production, each born out of the contradictions of their predecessors. While their critique is welcome so is their refusal to throw out the baby with the bath water. The elaboration of theoretical models of social relations, and the identification of characteristic tensions within them, is an essential part of making sense of history. The book takes seriously the task of identifying the succession of structures and struggles that enabled capitalism to embody and promote increasingly generalized and pervasive commodification.
The authors argue that early capitalism was a more complex and global affair than is often allowed. Heteroclite labour regimes, and types of rule, gave rise to uneven and combined development in which the new and the old were closely interwoven. The authors often quote Marx’s powerful passage from Capital, volume 1 chapter 31 sketching the successive moments of ‘primitive accumulation’, linked to gold and silver from the Americas, the Atlantic slave trade, slave plantations, trade wars, colonialism and so forth. New forms of plunder and super-exploitation punctuate later decades and centuries, with Western rule casting a long shadow. ‘Primitive accumulation’ was not just a passing phase but was stubbornly recurrent. It supplied would-be capitalists with the capital and labour force they otherwise lacked. The racialization of the enslaved and/or colonized generated an intermediary layer of ‘free workers’ that, if given slightly easier conditions, would become useful allies of the slaveholders, serving in their patrols and militias. Capitalist development, in this account, is invariably linked to racialization and super-exploitation, and is devoid of a progressive dimension.
The book’s subtitle presumably supplies a key element of the answer to the question posed by the main title. The West’s rise to global ascendancy is a team race which is won by Britain around 1763. (p. 272) The British win because their maritime-manufacturing complex is now turbo-charged by capitalism. While we may anticipate this conclusion much of the book’s interest lies in the account it gives of how this point itself was reached.
The authors explain how Europe’s mercantile and proto-capitalist elites exploited the toilers of the ‘East’ but they grant that it can also sometimes be thought of as the global ‘North’ exploiting the global ‘South’. While the East and South were mercilessly plundered they contributed to the rise of the West in other ways too.
Anievas and Nisanancioglu – henceforth AA and KN – urge that in preceding epochs the Mongolian empires created relatively peaceful conditions along the Silk Road and in adjacent areas which were consequently favorable to the revival of Western commerce in the Baltic and Mediterranean. The nomad’s military prowess inspired emulation. They observe: ‘The Mongol Empire also facilitated the diffusion of such key military technologies as navigational techniques and gunpowder from East Asia to Europe all of which were crucial to Europe’s subsequent rise to global pre-eminence…The Mongols would acquire such techniques in one society and then deploy them in another…’ (p. 73). We can agree that these exchanges were highly significant without seeing those involved as capitalists.
The authors urge that the hugely destructive Mongol invasions of China led its rulers to abandon their projects of expansion and to stand down the voyages of Admiral Zheng He’s mighty fleet. As Joseph Needham used to insist, China made an outstanding contribution to the science and material culture of the West. AA and KN remain focused mainly on the geopolitical and do not concern themselves with Needham’s “Grand Titration”.
It is fascinating to consider what would have happened if Chinese sailors and merchants had made contact with the Americas before the Europeans. Admiral Zheng He repeatedly sailed to the Indian Ocean but neglected the Pacific. If he had turned left rather than right, and sailed to the Americas, China might have been able to pre-empt Columbus and Cortes, especially when it is borne in mind that a silver famine was asphyxiating the Chinese economy at this time. A Chinese mercantile colony in Central America would have thrived on the exchange of silk fabrics and porcelain for silver. The Aztec and Inca rulers would, perhaps, have been able to strengthen their defenses with Chinese help (and gunpowder) and repulse Spanish attempts to conquer the ‘American’ mainland. (China did not go in for overseas territorial expansion).
AA and FN confer great importance on the bonanzas of American silver and gold arguing that the differential use made of precious metal plays a key role in explaining the great divergence between West and East. ( p. 248-9) But they and the authorities they quote do not explain how the silver and gold were extracted and refined, processes that fit their mixed labour model because it involved tribute labour and wage labour but fell short of a capitalist dynamic because the indigeneous miners had to spend most of their earnings on buying food and clothing from the royal shops that were kept supplied with these essentials of life in the mountains from the tribute goods which the Spanish overlords secured from the native villages. This closed circle of production and consumption led to output of thousands of tons of silver, with the royal authorities taking the lion’s share but did not promote capitalist accumulation.
In their own accounting for the divergence between East and West they cite the ‘indispensable’ work of Jack Goody (p. 304, footnote 22) but do not take sufficient account of his stress on differences concerning family form and the regulation of kinship. Goody maintained that clans and kin accumulated so much power in the East that they weakened the state’s power to tax and regulate. In Goody’s view this challenge to the power of kinship was a Western European phenomenon and was driven by the material interests of the Catholic Church. (The Development of the Family and Marriage in Europe, 1988). This interesting line of thought has not received the attention it deserves from historical materialist accounts, including How the West Came to Rule. Whether it is right or wrong, it points to a level of analysis of social reproduction that should figure in any materialist account.
AA and KN eschew speculative ‘counter-factuals’, but they do claim a positive role for Asian empires despite the latter’s often-tight mercantilist policies. They have little time for the argument of some global historians that the land-based empires of Asia briefly encouraged trade only to strangle its autonomous momentum by over-regulating and over-taxing it. Ellen Wood has argued in The Empire of Capital (2004) that the geographical fragmentation of Europe allowed for the rise of sea-borne empires whose merchants became more difficult to control. But for AA and KN the empires were already highly diverse and made their own qualitative input to the rise of Western capitalism through a multitude of dispersed influences and contributions.
Thus the rise of the Ottomans issued a powerful check to European expansion and tied them down in the Balkans, the Adriatic, the Levant and North Africa. According to AA and KN this blockage to the East allowed the western Europeans to seize their chance in the Americas and to initiate a new type of global trade: ‘By blocking the most dominant European powers from their customary conduits to Asian markets, the Ottoman’s directly compelled then to pursue alternative routes.’ (p. 115). However this free-floating compulsion was only compelling because of the breakthrough of a new and more intense – now capitalist – consumerism.
The authors do give importance to Dutch and English trading patterns and to what they call ‘company capitalism’, the state chartering of companies to trade with the East and West Indies. They see these companies as dominating the English and Dutch maritime economy of the 17th and 18th century (p. 116). They urge that the Dutch were constrained by the fact that they were reliant on Ottoman sources for cotton and other vital raw materials for their textile manufacturing. (p. 117) The English eventually prevail because they are less exposed to continental warfare than the Dutch.
The geographic advantages conferred by England’s relative ‘isolation’ from the continent enabled it to outflank its rivals. (p. 116). They conclude: ‘English development in the sixteenth century can best be understood as a particular outcome of “combined development” […] Ottoman geopolitical pressure must therefore be seen as a necessary but not sufficient condition for the emergence of agrarian capitalism in England.’ (p. 119) The causality embraced by the authors in these passages is a weak one whether addressing the impetus to trade, England’s ‘isolation’ or the authors’ exaggerated view of ‘company capitalism’. Indeed the turn to the Americas should be seen as a having two distinct waves, firstly the silver surge of the mid and late 16th century while allowed Europe to buy Eastern spices and silks and, secondly, the rise of the sugar and tobacco plantations of the Americas, which really belongs to 17th century and after. It was not until the early 17th century that Dutch and English merchant adventurers turned to setting up plantations to meet the popular demand for sugar and tobacco, discovering that this offered far larger returns than either the Eastern trades or preying on Spanish fleets. At first these plantations were worked by free, European youths but demand was so buoyant that the merchants brought African captives who had greater immunity to tropical diseases and brought valuable agricultural skills. The Dutch West and East India companies played a role in this because they blazed a trail for English and French planters. Once the Dutch had lost Angola, Brazil and New Amsterdam, their operations became a side-show.
How the West Came to Rule pushes the debate about the transition to capitalism into new areas and that is itself salutary. The geo-political perspective yields new insights. But the argument from geo-political necessity to economic novelty moves too rapidly and insists that the emergence of capitalism in England has no primacy in the switch from luxury trades to building slave plantations (this gruesome primacy should be a source of national shame not pride).
As already mentioned, the Eastern trade was largely confined to small quantities of expensive luxuries in the 16th and 17th centuries. The Dutch and English 17th century interlopers and marauders, with their contempt for Spanish mercantilism, pioneered the large scale Atlantic trade in items of popular consumption. Before long the European companies were left far behind and the free-lance slave traders, privateers and smugglers became the champions of laissez faire and free trade, and became thoroughly respectable.
Sugar and tobacco, the new popular pleasures, came to Europe not from Asia but from Brazil, Barbados and Virginia. The surge of plantation development was initiated by ‘New Merchants’ not by the official trading companies. The chartered trading companies played a very modest role because they embodied the backward practices of feudal business, with its royal charters. By contrast the New Merchants favoured a much looser variety of mercantilism that allowed for competition and innovation. Whereas the companies were looted by their own management, the ‘New Merchants’ kept a close eye on their investments. The initiatives of the new merchants stemmed from a surge of commodification and domestic demand, itself the product the spread of capitalist social relations in the English countryside as well as towns. Tenant farmers, improving landlords, lawyers, stewards, and the swelling ranks of wage labourers, had the cash or credit to buy these popular treats and indulgences. Without the forced labour of the plantations, and Hobsbawm’s ‘forced draught’ of consumer cash, these trades would not have kindled the 18th and 19th century blaze of the hybrid Atlantic economies. AA and KN do register the plantation revolution but insist that it would be wrong to see English capitalism and wage labour as a ‘prime mover’.
How the West Came to Rule has a good chapter on the slave plantations and their massive contribution to capitalist accumulation in the long 18th century. But AA and KN do not concede that the plantations were summoned into being by the cash demand generated by the world’s first revolutionary capitalism. They underplay the role of the New Merchants (and their captains and seamen) with their double role as entrepreneurs and political leaders. This was the epoch of the English Civil War and ‘Glorious Revolution’. The classic work on the New Merchants stresses their link to England’s transition to capitalism is Robert Brenner’s Merchants and Revolution (1993). One might have thought that Brenner’s work would be grist to the mill so far as AA and KN are concerned. However the reader of How the West Came to Rule is repeatedly warned not to be misled by Brenner’s account of capitalist origins and development (see especially pp. 22-32, 118-9, 279-81 amongst many others).
AA and FN contest the novelty and centrality that Brenner accords to the spread of capitalism and commodification in 16th and 17th century rural England. They see instead a long chain of ‘value added’ contributions from colonial or semi-colonial Asia, Africa and the Americas, all helping to bring global capitalism into existence. They concede to Brenner ‘the great merit of de-naturalising the emergence of capitalism’ (p. 81) but dispute the idea that this remarkable new twist in human history was the unintended result of a three-way struggle between English landlords, tenant farmers and landless labourers as he argued in his now-classic articles in Past and Present and New Left Review in the 1970s and 1980s. Brenner did not himself always connect his decisive research into the New Merchants with the so-called ‘Brenner thesis’. Nevertheless he identified the crucial break-through, showing that agrarian capitalism developed from landlords who demanded money rents, tenant farmers needed cash to pay rent, and landless rural workers, who had to sell their labour power if their families were to be housed and fed. Farmers who needed or wanted to pay for extra hands had an incentive to seek labour-saving innovations. The wages and fees paid by employers would also helped to swell the domestic market, encouraging commodification. Since agriculture accounted for at least 70% of GDP its transformation had great consequences.
Jan de Vries argues that early modern Europe was gripped by an ‘industrious revolution’ reflecting a more intense labor regime and a proto-capitalist consumerism. A taste for tobacco, sugar, coffee and cotton apparel encouraged many into new habits premised upon the increasing importance of the wages, rents, profits, fees and salaries of an Anglo-Dutch ‘market revolution’ in the years 1550-1650. Shakespeare’s The Tempest (1614) gives us a glimpse of the feasting and rebellions that early modern capitalism, with its visions of plenty, could inspire and of the varieties of enslavement it entailed. By the mid-19th century daily life had been re-shaped by sweetened beverages, jam, confectionary, washable clothes, colourful prints and the chewing or smoking of tobacco.
AA and KN decry what they term the ‘ontological singularity’ of Brenner’s economic logic, urging that it leads to a reductionism that has no space for race or patriarchy. They argue that ‘patriarchy and racism’ are ’not external to capitalism as a mode of production but constitutive of its very ontology.’ (p. 278). It is difficult to see how any account could be more reductionist than one which simply (con)fuses capitalism with racism and patriarchy. Nevertheless there are interesting questions which arise here. Could capitalism survive if deprived of the fruits of gender and racial exploitation? There are certainly feminists and anti-racists who believe that much can be achieved short of the total suppression of capitalism – and there are some who believe that better versions of capitalism could assist in promoting feminist and anti-racist goals. The spectrum here was illuminated by Nancy Fraser’s Fortunes of Feminism (2014).
Back in the day the more radical British and US abolitionists campaigned courageously for racial justice and equality in the name of a ‘free labour’ or forty acres and a mule, demands compatible with capitalism. Socialists might be happy to form alliances for progressive goals to be achieved ‘by any means necessary and appropriate’. If we grant the theoretical possibility that patriarchy and racism could be suppressed but capitalism remains, this outcome might still prove to be undesirable, impractical and unstable. The intimacy of the connections between capitalism, racism and patriarchy suggest that they could share a common fate, though other outcomes are quite possible.
AA and KN endorse the classic claim that the rise of capitalism was given needed extra-momentum by a series of ‘bourgeois revolutions’. Their account of the main revolutions is not detailed but adds the dialectical sweep of their story. AA and KN quote Anatolii Ado to the effect that ‘the popular revolutions of the petty producers ought to be seen as an essential element of the capitalist dynamic’. (p. 212). Slave resistance sometimes took the form of demanding wages while itinerant peddlers happily bought ‘stolen goods’ from the slaves.
While I find AA and KN’s sketch of the bourgeois revolutions makes for a more complex account, there is still a way to go. The American War of Independence led to the destruction of the European colonial empires in the Americas. This was a mighty blow for capitalism in the Atlantic societies and helped to trigger the French Revolution and hence the Haitian revolution. The further impact on Spanish America and Brazil are not discussed. All these events echoed themes of bourgeois revolution and the ‘rights of man’ as re-worked by free people of colour, slave rebels, liberty boys, dockers, sailors and the ‘picaresque proletariat’. The black Jacobins denounced the ‘aristocracy of the skin’. AA and KN could, perhaps, have drawn on their notion of a mixed social formation to consider in more depth the worlds of indios, caboclos, petty producers, runaways, store keepers, itinerant peddlers and the ‘sans culottes of the Americas’. The bourgeois character of these revolutions in the end excluded as many as it aroused.
How the West Came to Rule offers so much that it would not be fair to dwell on its omissions. The American Revolution tests the limits of the model advanced by AA and KN. The North American farmers and merchants have a solid claim to have defied and destroyed mercantilism and colonial subjection. But the planters were not exactly bourgeois and the indigenous peoples and the enslaved Africans found no solace and much suffering and bitterness in the extraordinary rise of the White Man’s Republic. In this as in other cases the initial impact of bourgeois revolution was to stimulate the plantation trades rather than weaken slavery or racialization.
How the West Came to Rule (HWCR) rightly stresses the massive ‘Atlantic’ contribution to the development of capitalism in the 17th, 18th and 19th centuries. Whether it is Britain, France, Spain, or even Portugal and the Netherlands, the volume of trade that was bounded by the Atlantic was very much greater – down to about 1820 – than Europe’s trade with the East. Of course after that date British rule in India, and the sub-continent’s commerce, became far more important for the metropolis, and the same could be said for Indonesia and Dutch rule. Whereas the spice trade to Asia required two or three galleons a year in the 16th century the plantation trade was to require thousands of ships by the mid 19th century. AA and KN maintain that Britain’s early industrialisation was based on Indian inputs (p. 246). In fact England’s 18th century cotton manufacturers looked to the Caribbean and Anatolia for most of their raw material. It was not until the 19th century that India became Britain’s main source of cotton and the captive Indian market a major outlet. AA and KN could have dwelt at greater length on the hugely destructive impact of British rule in India – famines, fiscal exactions, de-industrialization and so forth – but they do explain the Raj’s success in building a locally-financed and recruited Army of India and alliance with the subcontinent’s ‘martial races’. British India troops held down the widening boundaries of the Raj and were deployed to many parts of the empire. They formed part of the British forces that invaded China in 1839-42, 1859-62 and 1900. (p. 263) This was the true apogee of empire. But the rapacious ultra-imperial unity of the Western powers and Japan did not last for long, leading, as it did, to a new epoch of war and revolution.
How the West Came to Rule addresses a large and complex question in interesting new ways and is to be commended for that. It draws on wide reading and demonstrates the continuing relevance of the debates on the transition to capitalism and gives them a geographically and conceptually wider scope. While their account may be open to objection at various levels their choice of topic and the breadth of their approach is timely and welcome.
Robin Blackburn – Teaches at the New School in New York and the University of Essex, UK. He is the author of the The American Crucible (2011). E-mail: [email protected]
ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West Came to Rule: the Geopolitical Origins of Capitalism. London: Pluto Press, 2015. Resenha de: BLACKBURN, Robin. Revisiting the Transition to Capitalism Debate. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 465-475, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil | Beatriz Mamigonian
A publicação de Africanos Livres oferece ao público em geral e, especialmente ao campo historiográfico brasileiro, uma referência incontornável sobre temas como escravidão e abolição do tráfico no Império do Brasil. Desde o doutorado desenvolvido na Universidade de Waterloo, no Canadá, a obra é resultado de mais de vinte anos de pesquisa e da análise de uma vasta documentação. A pesquisa original se referia aos africanos traficados ilegalmente e que tiveram tal condição reconhecida pelo Estado brasileiro, mas a presente obra abarca aqueles escravizados ilegalmente com a conivência das autoridades. Desse modo, Beatriz Mamigonian narra uma história da abolição do tráfico no país a partir da experiência dos africanos contrabandeados entre as décadas de 1820 e 1850.
Ainda na introdução, a autora reitera seu posicionamento entre os historiadores da escravidão enfatizando o papel dos sujeitos históricos, com destaque aqui para os africanos livres. Hegemônica no campo acadêmico desde meados da década 1980, a agenda da agência escrava ofereceu ganhos conceituais e políticos para a compreensão da escravidão e do racismo no Brasil. No entanto, o livro busca incorporar dinâmicas mais amplas da política e das relações internacionais, seguindo o movimento recente de historiadores do campo.[1] Cabe ressaltar que essa história da escravidão “vista de baixo” inspirou-se nos estudos de Edward Thompson sobre as transformações na sociedade inglesa à época da Revolução Industrial. Marxista heterodoxo, Thompson criticava e recusava a imposição de conceitos abstratos às experiências de indivíduos e suas percepções. Contudo, as condicionantes e amarras do capitalismo sempre estiveram presentes em suas análises. Desse modo, a reorientação recente dos estudos brasileiros sobre a escravidão, tal como se vê na pesquisa de Mamigonian, aponta para uma bem-vinda conciliação com seu paradigma original, embora a dinâmica da economia global e os conflitos interestatais ainda permaneçam obliterados na narrativa de Mamigonian.
Os capítulos acompanham as trajetórias dos africanos livres desde o início do século XIX, quando a categoria foi criada em resultado das primeiras leis e tratados que limitavam ou condenavam o tráfico, até a década de 1880, quando a vertente mais radical do movimento abolicionista brasileiro adotou a estratégia de reconhecer todos os africanos escravizados ilegalmente no país como africanos livres. Ordenada cronologicamente, a narrativa parte do caso da Escuna Emília e dos africanos nela contrabandeados ao norte da linha do Equador em 1821, violando os tratados firmados entre a Grã Bretanha e a diplomacia de D. João VI. Os dois primeiros capítulos avançam até a independência de 1822 e o reinado de D. Pedro I, em um encadeamento não linear, mas coerente, entre o projeto antiescravista de José Bonifácio na Assembleia Constituinte, os Tratados firmados com a Grã Bretanha em 1826 e a promulgação da Lei de 7 de novembro de 1831. Conhecida no senso comum como uma “lei para inglês ver”, essa lei foi efetivamente aplicada nos primeiros anos, caindo em conveniente desuso em meados da década de 1830, a partir da convergência entre a campanha dos cafeicultores escravistas e os membros do Partido da Ordem. A política conservadora em prol do tráfico não se concretizou na revogação da lei, mas no aceno a escravistas e traficantes no sentido de que o Estado não adotaria medidas no sentido do combate do contrabando. A narrativa descreve então o acirramento das relações entre Brasil e Grã Bretanha, tanto no cenário que levou à promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, quanto no dos embates entre o governo imperial e o embaixador britânico William Christie, que culminou com a ruptura das relações entre os países na década de 1860. Em ambos os casos, a autora propõe um argumento semelhante, segundo o qual os africanos livres teriam contribuído para o afloramento das tensões entre os países, reivindicando seus direitos na esteira das crises políticas instauradas. A despeito da emancipação definitiva dos africanos livres em 1864, os capítulos finais avançam até a década de 1880, revelando a precariedade da liberdade desses africanos, assim como seu papel nas estratégias do movimento abolicionista durante a crise que levou à derrocada do cativeiro em 1888.
Os sujeitos históricos ilegalmente escravizados são personagens em todos os capítulos. Sob a promessa do retorno à África ou da sua incorporação à sociedade brasileira, os africanos livres foram submetidos a trabalhos compulsórios, fosse em órgãos públicos ou nas casas e fazendas de particulares. Em condições próximas ao cativeiro e convivendo com escravos, viveram sob a insegurança jurídica de sua condição e a falta de clareza sobre os prazos da tutela. Mais do que um eufemismo, sua definição como “livres” carregava um componente ideológico típico do discurso escravista (e posteriormente do racismo) brasileiro. No entanto, a consciência da ambiguidade de sua posição social os tornava potencialmente disruptivos tanto para os governos quanto para a ordem social escravista. Ao acionarem a embaixada britânica, associações abolicionistas e o judiciário, eles constrangiam autoridades do Estado, inclusive diante da comunidade internacional. Por sua vez, a proximidade com os escravos poderia estimular sua resistência, especialmente daqueles contrabandeados e escravizados ilegalmente.
Ao descrever as experiências de indivíduos submetidos ao contrabando, ao cativeiro ilegal e a trabalhos forçados, a obra resgata a memória silenciada de opressões do passado. A despeito da importância política dessa escolha, nem todas as trajetórias correspondem ao papel decisivo que lhes é imputado em cada capítulo. A autora sustenta que o protagonismo dos africanos livres deve ser compreendido a partir de um jogo de escalas que revela novas dinâmicas de três eixos temáticos: as consequências jurídicas da Lei de 1831, a experiência do trabalho no Atlântico oitocentista e a conjuntura que levou à abolição do tráfico. A escala da vivência dos africanos livres de fato materializa e humaniza a experiência da ilegalidade que marcou a formação da sociedade brasileira e do Estado nacional entre as décadas de 1820 e 1840, assim como o cenário de mobilização política das últimas duas décadas da escravidão no país. No entanto, a autora narra a agência dos africanos livres nos primeiros e nos últimos capítulos em paralelo com eventos mais amplos da política nacional e das relações exteriores, como se apenas sugerisse tênues relações de causalidade.
O capítulo sexto, por sua vez, consiste na empreitada mais ambiciosa do referido jogo de escalas, tanto metodologicamente quanto pelas contribuições à historiografia, sendo o ponto mais polêmico do livro. Bem organizado, o capítulo apresenta o cenário que levou à promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, destacando atores institucionais, como o Ministro Britânico Palmerston, o embaixador James Hudson e os membros do gabinete conservador no poder à época. Juntam-se a eles a conspiração de escravos descoberta em 1848, apontada pelo historiador Robert Slenes como influente nos temores que levaram as autoridades a acatarem a agenda da abolição do tráfico.[2] A contribuição de Mamigonian está em apontar a participação de políticos liberais nos conflitos que levaram ao fim do tráfico, com destaque para duas instituições que militavam contra a conivência das autoridades com o contrabando: o periódico “O Philantropo” e a “Sociedade contra o Tráfico de Africanos e Promotora da Colonização e da Civilização dos Indígenas”. O capítulo atinge o clímax nas últimas páginas, quando a historiadora sugere a existência de uma articulação política que interligaria o governo britânico e o embaixador Hudson a políticos do Partido Liberal, que teriam se valido das duas instituições mencionadas e, possivelmente, até mesmo de um estímulo à articulação dos escravos conspirados. Mamigonian caminha no mesmo sentido do estudo recente de Angela Alonso sobre o movimento abolicionista, enfatizando o papel da sociedade civil, da opinião pública e da militância durante o Império.[3] Segundo a autora, o discurso de Eusébio de Queiroz, em 1852, mais do que defender o governo conservador à época da abolição do tráfico, serviu à construção de uma memória seletiva, que apagou a articulação entre abolicionistas ingleses e brasileiros e sua estratégia de incitar escravos e africanos livres como meio para desestabilizar a política em prol do contrabando.
A hipótese demanda mais estudos e dados, especialmente no tocante ao último elo – entre abolicionistas e escravos -, como reconhece a própria autora. A argumentação inevitavelmente abre flancos para críticas. A título de exemplo, a leitura permite uma interpretação equivocada das agendas dos partidos, como se houvesse uma divisão clara entre conservadores-escravistas e liberais-abolicionistas. Em segundo lugar, a argumentação reproduz indiretamente a autoimagem humanitária do abolicionismo britânico, como fazem os estudos do historiador Seymour Drescher, perdendo-se de vista seu caráter ideológico como instrumento imperialista.[4] Em uma breve passagem do quinto capítulo, a historiadora chega a sugerir um enquadramento mais amplo, em que o debate acerca do tráfico e dos africanos livres cumpriria diferentes funções nas duas margens do Atlântico, relacionando-se, de um lado, aos riscos imanentes à sociedade escravista brasileira, e de outro, à ideologia da “missão civilizadora” que permitiria aos britânicos intervirem no território africano. A curta passagem mereceria uma análise mais aprofundada e deixa de repercutir no capítulo sexto. De todo modo, trata-se do melhor exercício do método de escalas proposto pela historiadora, assim como de sua defesa do papel dos sujeitos históricos no processo de abolição do tráfico – embora apresente mais provas da agência dos abolicionistas do que dos africanos livres. A despeito das lacunas, a contribuição para o debate historiográfico atesta a importância da pesquisa e da publicação.
A respeito do enquadramento teórico, o estudo tem o mérito de propor um jogo de escalas que integraria sujeitos às camadas da política e da economia, superando as fronteiras nacionais. No entanto, a narrativa se limita a quatro níveis de análise nem sempre articulados: a exploração e a resistência de africanos livres; instituições da sociedade civil, como associações e veículos da imprensa (essencialmente “O Philantropo” e a “Sociedade contra o Tráfico”, presentes em poucos capítulos); a dinâmica da alta política imperial; e a pressão diplomática britânica. Além disso, as escalas tendem a recair no individualismo metodológico quando se reduzem aos agentes que as compõem, sejam os africanos, os políticos ou os abolicionistas. O estudo se beneficiaria da incorporação de dinâmicas geopolíticas e econômicas globais, ou ao menos atlânticas. No que diz respeito à década de 1830, Mamigonian descreve a guinada política representada pelo Regresso Conservador e sua nova agenda no tocante ao tráfico e aos africanos livres. No entanto, embora mencione o papel da campanha dos produtores do Vale do Paraíba na campanha pela revogação da Lei de 1831 e sua articulação com os políticos do Partido da Ordem, a historiadora não atenta para as demandas econômicas internacionais a partir da abertura dos mercados estadunidenses para o café brasileiro. Mais relevante ainda seria a percepção do cenário atlântico nas décadas de 1850 e 1860, quando ocorreram as emancipações dos africanos livres – primeiramente daqueles concedidos a particulares (1853) e posteriormente daqueles mantidos como prestadores de serviços forçados ao Estado (1864). A primeira emancipação foi associada por Mamigonian à crescente demanda dos africanos livres após a crise política que levou à abolição do tráfico em 1850, devido à consciência de um novo horizonte de oportunidade. Por sua vez, a emancipação definitiva na década de 1860 foi interpretada como resultante da pressão abolicionista de políticos liberais e do embaixador William Christie. No entanto, o horizonte do cativeiro se estreitara naquela década a partir da Guerra Civil nos Estados Unidos, que legou ao Brasil a condição de único Estado nacional escravista das Américas. O mesmo contexto que provocou um racha entre a elite política e o declínio do consenso que sustentava a política da escravidão contribuiu para a percepção dos africanos livres como elementos disruptivos na ordem escravista. O jogo de escalas proposto por Mamigonian perde fôlego para além das fronteiras nacionais, reduzindo-se às pressões britânicas e aos discursos e ações de políticos e abolicionistas e às suas influências unilaterais na política e na sociedade brasileiras.
Sobre a dimensão econômica global de seu jogo de escalas, a historiadora propõe uma reflexão a respeito do mundo do trabalho no século XIX, questionando a falsa antítese entre escravidão e trabalho “livre”. A exploração de africanos livres junto a escravos, prisioneiros e indígenas demonstrou tanto a precariedade da liberdade na era da abolição, quanto a multiplicidade de formas de trabalho compulsório no período. Ao se aproximar do tema do trabalho, Mamigonian abdicou de um debate sobre o capitalismo oitocentista. Na introdução do livro, esboçou tal movimento ao apresentar a dinâmica da escravidão como radicalmente nova, tendo em vista a expansão de zonas produtoras de artigos tropicais para o mercado internacional, em referência aos estudos de Dale Tomich. Mas o diálogo com a agenda de estudos sobre capitalismo e escravidão não encontrou eco nos capítulos seguintes – seria importante fazê-lo inclusive no capítulo sexto. Do mesmo modo, os historiadores que têm levado adiante a perspectiva de Tomich e defendido uma abordagem sistêmica da escravidão no século XIX não figuram nos parágrafos ou notas.[5] O mesmo valeria para o diálogo com a historiografia que cruza dinâmicas mais amplas a partir de biografias.[6] A proposta da metodologia em escalas de Mamigonian poderia se valer da incorporação ou da crítica a outras matrizes teóricas, de modo a esclarecer suas premissas e vantagens. A obra se beneficiaria, especialmente, do diálogo com os estudos recentes de Leonardo Marques e Tâmis Parron, que vêm analisando o tráfico negreiro e a escravidão à luz da dinâmica da economia global no mundo pós Revolução Industrial e da ordem geopolítica sob a hegemonia da Grã Bretanha.[7] Se a autora tivesse optado por dialogar com esses estudos, poderia ter realizado melhor o próprio jogo de escala que propõe no início do livro e nem sempre realiza a contento.
No epílogo, a historiadora apresenta em retrospecto as contribuições da pesquisa, destacando o desafio à memória oficial sobre as leis antitráfico de 1831 e 1850. Na contramão da narrativa construída por Eusébio de Queiroz, a primeira lei não teria sido legada ao esquecimento absoluto, e a segunda não seria o resultado do protagonismo patriótico dos saquaremas contra a Grã-Bretanha. Tampouco haveria uma linha progressiva e gradual entre a abolição do tráfico e a da escravidão. Mamigonian retoma com maior contundência seus argumentos referentes à resistência e articulação entre abolicionistas, africanos livres e escravos, enfatizando a imprevisibilidade de cada contexto e a importância de seu protagonismo. Para além dos ganhos historiográficos, a obra se destaca pelo engajamento político no presente. Acessível ao público em geral, o livro segue a tônica de estudos recentes ao refutar a memória oficial brasileira, marcada por esquecimentos seletivos e interessados, que negam a relevância social dos marginalizados e as estruturas políticas e econômicas que os marginalizaram. Em tempos de precarização das relações de trabalho e de discursos negacionistas do passado e do presente racial brasileiro, a lembrança dos africanos livres incomoda posições de privilégio e de poder ao denunciar o que se convencionou legar ao silêncio.
Notas
1. O mesmo movimento se nota nos estudos de Sidney Chalhoub. Visões da Liberdade (1990) foi um dos marcos da agenda da agência escrava, mas as recentes publicações do historiador apontam para as constrições políticas do cativeiro, como em A Força da Escravidão (2012). A guinada historiográfica, no entanto, é mais evidente nas contribuições de estudos recentes como os mencionados mais adiante, nas notas 6 e 7 desta resenha.
2. Ver SLENES, Robert. “A árvore de Nsanda transplantada: Cultos Kongo de aflição e identidade escrava no sudeste brasileiro (século XIX)” In: LIBBY, Douglas Cole; FURTADO, Júnia (orgs.) Trabalho livre, trabalho escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX. São Paulo: Anablume, 2006, pp. 273-314;
3. Ver ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro, 1868-1888. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. O diálogo entre as perspectivas teóricas de ambas as autoras contribuiria para o campo, mas não consta a referência na bibliografia de Mamigonian.
4. Ver DRESCHER, Seymour. Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
5. O diálogo proposto se refere aos estudos de Dale Tomich e o conceito da “Segunda Escravidão”, mas não se estende aos historiadores brasileiros que vem desenvolvendo pesquisas no mesmo sentido nas últimas décadas. Ver TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Trad. Port. São Paulo: EDUSP, 2011. E sobre a referida omissão ver BLACKBURN, Robin Blackburn, The American Crucible. Slavery, Emancipation and Human Rights, Londres, Verso, 2011; PIQUERAS, José A. (ed.), Trabajo Libre y Coactivo en Sociedades de Plantación, Madri, Siglo XXI, 2009; SCHMIDT-NOWARA, Christopher. Empire and Antislavery: Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833 – 1874, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1999; ZEUSKE, Michael. “Comparing or interlinking? Economic comparisons of early nineteenth-century slave systems in the Americas in historical perspective”, In: Enrico dal Lago & Constantina Katsari (eds.), Slave Systems. Ancient and Modern, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 148-183; MARQUESE, R. B.; SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016; KAYE, Anthony, “The Second Slavery: Modernity in the Nineteenth-Century South and the Atlantic World”, Jornal of Southern History, vol. 73, n. 3, August 2009, p. 627-50; DAL LAGO, Enrico, American Slavery, Atlantic Slavery, and Beyond. The U.S. “Peculiar Institution” in International Perspective, Boulder, Paradigm Publishers, 2012.
6. Sobre essas abordagens, ver SCOTT, Rebecca; HÉBRARD, Jean. Provas de Liberdade: Uma odisseia atlântica na era da emancipação. São Paulo: Unicamp, 2014. REIS, João; GOMES, Flávio; CARVALHO, Marcus. O Alufá Rufino. Tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (1822-1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
7. Ver PARRON, Tâmis. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. Universidade de São Paulo,2015; MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776-1867. New Haven; London: Yale University Press, 2016. O mesmo pode ser dito no tocante à experiência do direito e da escravidão no Atlântico oitocentista com relação ao estudo de, Waldomiro da Silva Junior, Entre a escrita e a prática: direito e escravidão no Brasil e em Cuba, c. 1760-1871. Tese. Universidade de São Paulo em 2015. Por fim, embora se posicione entre os historiadores que defendem a agenda da agência escrava, a pesquisa deixou de dialogar com estudos como o de Maria Helena Machado, O Plano e o Pânico: os movimentos sociais na década da abolição. São Paulo: Edusp, 2010. Seria igualmente relevante a incorporação do estudo sobre a precariedade da liberdade de Henrique Espada Lima, “Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de trabalho no século XIX”. Topoi (Rio de Janeiro), v. 6, n. 11, Julho-dezembro de 2005, pp. 289-326.
Marcelo Ferraro – Formado em Direito (2009) e História (2013) pela Universidade de São Paulo, e possui Mestrado em História (2017) pela mesma instituição. E-mail: [email protected]
MAMIGONIAN, Beatriz. Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de: FERRARO, Marcelo. Entre cativeiros: africanos livres na formação do Estado imperial e na economia-mundo oitocentista. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 476-485, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas 1776 – 1867 | Leonardo Marques
O tema do livro de Leonardo Marques é a participação dos Estados Unidos no tráfico atlântico de escravos entre a fundação da nação, em 1776, e o fim efetivo desse tráfico para a colônia espanhola de Cuba, em 1867. O livro origina-se da tese de doutorado defendida pelo autor na Universidade de Emory, em 2013. A participação norte-americana no tráfico se deu, em primeiro lugar, pelo fato, menos notado pela historiografia e pelo senso comum, de que os Estados Unidos foram o maior país consumidor de bens produzidos por escravos do século XIX (p. 9-10). Mas essa participação ocorreu também pelo envolvimento de traficantes, comerciantes, seguradores, financistas, construtores navais, capitães e marinheiros norte-americanos no tráfico para o próprio Estados Unidos, até 1808, para o Brasil, até 1850, e para Cuba, até 1867. Tal envolvimento foi tanto legal e aberto, até a abolição do tráfico para os EUA em 1808, quanto mais nebuloso, indireto e, eventualmente, ilegal após essa data. Marques trata ainda das atitudes e políticas implementadas pelo congresso e pelo governo federal norte-americanos a respeito do assunto ao longo desse período.
Com base em diversas fontes arquivísticas nos Estados Unidos, Brasil, Cuba e Grã-Bretanha, da análise dos dados disponíveis sobre o tráfico de escravos africanos no site Slavevoyages e da discussão com a literatura secundária, Leonardo Marques aborda seu tema em seis capítulos, além da introdução e da conclusão: a participação norte-americana no tráfico na era das revoluções, entre 1776 e 1808; o período de transição entre essa última data, em que comércio internacional de escravos tornou-se ilegal nos Estados Unidos, e 1820, quando a legislação contra o tráfico tornou-se mais rigorosa; a consolidação do comércio de contrabando internacional de escravos, entre 1820 e 1850, data da abolição efetiva do tráfico para o Brasil; a participação norte-americana no contrabando para o Brasil, entre 1831 e 1850. Os dois capítulos finais tratam das relações da república escravista com Cuba, entre 1851 e 1858, e da crise dessas relações e da própria escravidão norte-americana entre 1859 e 1867, data em que, finalmente, o tráfico foi abolido para a colônia espanhola.
O assunto não é novo, mas ainda é pouco explorado pela historiografia e só recentemente vem recebendo maior atenção. De acordo com Marques, as seguidas revisões historiográficas sobre a tese de W. E. B. Du Bois, The Supression of the African Slave Trade to the United States of America, 1638 – 1870, de 1896, que teria inflado os números sobre o comércio internacional de escravos para as Américas em geral e para os Estados Unidos em particular, subestimaram a participação indireta de cidadãos estadunidenses no tráfico. Assim como a tolerância, quando não a defesa, governamental em relação a essa participação (p. 7-10). Só essa “revisão da revisão”, por assim dizer, já recomendariam o livro aqui resenhado, além das novas informações que sua pesquisa traz. Mas, o mais importante é como Leonardo Marques realiza essa revisão, inserindo seu tema nos grandes fluxos e redes mercantis, culturais e políticas em escala mundial que ganharam nova forma e impulso no século XIX. Desse modo, sem que o termo seja empregado, pode-se dizer que se trata de um trabalho de História Global, novo invólucro – com importantes inovações, sem dúvida – para tratar de temas amplos que foram negligenciados pelas correntes historiográficas dominantes nos últimos trinta anos. Além disso, The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas adota a perspectiva, primeiramente desenvolvida por Dale Tomich, que considera a escravidão – e o tráfico atlântico – do século XIX como uma Segunda Escravidão. De acordo com essa visão, a escravidão e o tráfico do século XIX não foram uma sobrevivência dos tempos coloniais, mas reconfigurações ainda mais poderosas dessas mesmas instituições, que se desenvolveram em íntima conexão com a nova fase de desenvolvimento da economia e do mercado internacional capitalista e da nova ordem mundial regida pela formação dos Estados Nacionais sob hegemonia britânica.
Essa segunda escravidão nasceu sob impulsos contraditórios. Ela respondeu a um incremento substancial da demanda de determinados produtos – algodão, açúcar e café – ocasionado pelos processos de industrialização, urbanização e intensificação do consumo e do comércio internacional na Grã-Bretanha, em outras regiões da Europa e nos Estados Unidos. Tal incremento da demanda foi um dos fatores que propiciaram o desenvolvimento da escravidão em novas áreas no Sul dos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, especialmente no Vale do Paraíba. O tráfico de escravos, que, mesmo depois de ter sido declarado ilegal, aumentou seu volume conforme se expandia a demanda por bens produzidos por escravos, inseria-se em circuitos comerciais mais amplos que incluíam até mesmo bens produzidos por potências antiescravistas: mosquetes, tecidos e chumbo da Grã-Bretanha; tecidos e conhaque da França; tecidos, tabaco e rum dos Estados Unidos. O tráfico também estava inserido na estrutura financeira e comercial internacional com suas letras de câmbio, bolsas de valores e companhias por ações (p. 107). Finalmente, o tráfico era peça integrante do contexto mais amplo de relações das regiões escravistas entre si. É conhecida a presença econômica britânica no Brasil, mas os Estados Unidos não ficavam muito atrás. As relações entre Cuba e Estados Unidos eram intensas, ficando atrás apenas da Grã-Bretanha e França. Tudo isso mostra como as elites das três regiões escravistas estavam integradas no mundo do livre comércio (p. 109).
Paradoxalmente, nesse mesmo período, a escravidão e o tráfico passaram a ser globalmente contestados, em resultado dos desdobramentos diretos ou indiretos da campanha britânica pela abolição do tráfico internacional, datada das últimas décadas do século XVIII, da Independência Americana, da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. Nesse contexto, a defesa do livre comércio e o combate ao tráfico internacional de escravos foram pontos fundamentais na imposição da hegemonia britânica na ordem mundial que emergiu após 1815. Portugal, em seguida o Brasil e Espanha, nação soberana sobre a ilha de Cuba, como potências escravistas que dependiam do fluxo de escravos africanos para sua expansão, resistiram o quanto puderam à pressão britânica pela extinção do tráfico. Apesar de aceitarem formalmente a ilegalidade do tráfico africano em 1820 (império espanhol) e 1830 (Império do Brasil), continuaram praticando-o, em escala ainda mais ampliada, até 1850 (Brasil) e 1867 (império espanhol).
E quanto aos Estados Unidos? A partir dos dados levantados e analisados do site Slavevoyages – uma constante no trabalho – Leonardo Marques nos mostra que, entre 1783 e 1807, último ano em que o comércio de escravos africanos foi permitido para o país, traficantes norte-americanos transportaram pouco mais de 165 mil cativos africanos para a América, grande parte deles destinada ao próprio país. Esses traficantes, contudo, não eram provenientes de portos do Sul escravista, mas da região da Nova Inglaterra, especialmente Bristol e Newport (ambas em Rhode Island), evidenciando uma aliança entre o Sul e o Norte. A estrutura desse comércio era eminentemente nacional, em comparação com o esquema altamente internacionalizado que tráfico de contrabando adquiriu a partir da década de 1830 em diante. Traficantes, financiadores, seguradores, capitães, tripulações, praticamente tudo era doméstico. A proibição do tráfico, em 1808, respondeu ao temor do perigo que uma grande massa de africanos poderia representar ao país e atendeu os interesses das áreas escravistas mais antigas, onde a população escrava se reproduzia e crescia naturalmente, que poderiam substituir a oferta externa de cativos para as áreas em expansão (p. 96). Quebrava-se, desse modo, a aliança anterior entre Sul e Norte em torno do tráfico, substituída agora por um novo compromisso entre as duas regiões.
A participação norte-americana no comércio internacional de escravos, contudo, prosseguiu, principalmente através do financiamento do tráfico para Cuba, da venda de navios para traficantes espanhóis, da participação direta de capitães e marinheiros norte-americanos na atividade. Em 1820, uma nova legislação antitráfico foi aprovada, transformando a participação nesse comércio ilícito em crime de pirataria e, portanto, passível de pena de morte. Essa legislação selou o fim da estrutura negreira da Nova Inglaterra que havia florescido entre 1783 e 1808 e que sobrevivera daí em diante alimentando o tráfico para Cuba. A médio prazo, na medida em que o tráfico prosseguiu como contrabando para Cuba e Brasil, a legislação, de acordo com Marques, tornou-se “obstáculo insuperável às possíveis alianças entre as três potências escravistas da América em meados do século XIX” (p. 105)
Na década de 1830, todas as nações atlânticas haviam abolido formalmente o comércio internacional de escravos. Espanha e Brasil, os dois principais Estados nacionais importadores de escravos tinham assinado acordos bilaterais com a Grã-Bretanha que lhe asseguravam o direito de busca e apreensão de navios suspeitos de prática do ilícito comércio. Não é possível saber a dimensão que o tráfico de escravos africanos teria adquirido caso ele não tivesse sido declarado ilegal e esses acordos não tivessem sido firmados. O que sabemos, contudo, é que, mesmo assim, entre 1831 e 1850, data da proibição efetiva do tráfico pelo governo brasileiro, 387.966 africanos escravizados foram desembarcados em Cuba e 903.543 no Brasil (p. 110-11, 112, 123). O tráfico ainda prosseguiu para Cuba até 1867. No todo, entre 1820 e 1860, mais de dois milhões de escravos africanos, 20% do total desembarcado na América entre 1501 e 1867, foram trazidos para o Brasil e Cuba (p. 136).
A participação de cidadãos e companhias norte-americanos nesse tráfico foi significativa. Até 1820, de forma direta, como mencionado acima. A partir dessa data, de maneira mais indireta. Capitães e marinheiros estadunidenses, mas também de outras nacionalidades, inclusive britânicos, participavam do tráfico. Como o governo norte-americano só firmou uma convenção de busca bilateral de navios suspeitos de tráfico com a Grã-Bretanha em 1862, navios com sua bandeira ficavam mais protegidos da fiscalização e da repressão britânicas. Muitos navios norte-americanos transportavam produtos que seriam trocados por escravos até a costa africana. Lá esses produtos eram vendidos a traficantes e os navios voltavam para os portos americanos apenas com lastro. Ou ainda, os navios eram vendidos ou fretados para traficantes, que os utilizavam, com ou sem a bandeira estadunidense, para transportar os cativos para a América. Companhias norte-americanas vendiam e fretavam navios para traficantes, como a firma Maxwell, Wright & Co., principal exportadora de café do porto do Rio de Janeiro, que manteve essa prática até o início da década de 1840, quando foi pressionada, por representantes diplomáticos de seu país junto ao governo imperial, a cessar essa atividade. Traficantes, frequentemente, lançavam mão das bandeiras dos Estados Unidos, mas também de outros países, como França e Sardenha, para encobrir suas atividades. De qualquer modo, a principal contribuição estadunidense para o tráfico internacional de escravos se deu pelo fornecimento da maioria dos navios utilizados nessa atividade, principalmente no período de contrabando. Entre 1831 e 1840, pouco antes do acordo Webster-Ashburton, entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, que intensificou o combate ao tráfico por parte do governo deste último país, navios construídos nos Estados Unidos realizaram 1.070, ou 63% de todas as viagens de contrabando de escravos nesse período, e transportaram 422.453 escravos africanos para Brasil e Cuba.
No que diz respeito especificamente ao Brasil, Marques contesta a ideia esposada por muitos historiadores, como Seymour Drescher, de que o transporte de metade dos africanos desembarcados no país entre 1831 e 1850 teria sido feito, por via direta ou indireta, por norte-americanos. Estes historiadores estariam seguindo a avaliação feita nesse sentido pelo representante do governo norte-americano no Brasil em 1850, David Tod. O problema é que nesta avaliação estão desde a venda e a transferência legal de navios para traficantes até a participação direta de capitães no embarque na África. Enquanto essa última forma constituía claramente uma violação das lei antitráfico, as outras formas ocorriam na zona cinzenta que conectava atividades comerciais legítimas com o tráfico. O fato é que, entre 1831 e 1850, 58,2% dos desembarques de contrabando para o país, transportando 429.939 escravos africanos, foram realizadas em navios fabricados nos Estados Unidos. Navios fabricados no Brasil, por sua vez, fizeram 15,4% dessas viagens e transportaram 113.569 cativos. Outros 26,4% das embarcações eram de outras procedências e transportaram 194.600 africanos. Talvez por isso, alguns historiadores tenham considerado, erroneamente, segundo Marques, que os norte-americanos mantiveram-se à frente do tráfico para o Brasil. Na verdade, brasileiros e portugueses controlavam o comércio de contrabando de escravos para o país (p. 141-43). Finalmente, ao considerar esses dados, não se deve perder de vista que os Estados Unidos eram o principal fornecedor de navios para o comércio internacional como um todo. Assim, não seria surpreendente que a maioria das embarcações empregadas no tráfico também tivesse essa mesma proveniência.
Do ponto de vista político, Marques assinala que o governo norte-americano e seus diversos representantes diplomáticos no Brasil entre 1831 e 1850 mostraram-se hesitantes em relação ao tráfico, ora o combatendo com veemência, ora fazendo vistas grossas. Essa hesitação e a resistência do governo estadunidense em assinar uma convenção antitráfico com a Grã-Bretanha não seriam, primordialmente, um sinal da predominância dos interesses escravistas do Sul junto ao governo federal. Respondiam mais a disputas geopolíticas com a Grã-Bretanha e a convicções, relativamente ocasionais, sobre o papel dos Estados Unidos na região em relação ao Império do Brasil e ao tráfico internacional. De qualquer forma, ele conclui que mesmo se uma eventual permissão de revista mútua nos navios suspeitos de tráfico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha tivesse ocorrido em 1842, e não em 1862, como de fato aconteceu, isso não teria feito diferença significativa nos números do tráfico de contrabando para o Brasil (p. 183).
Em relação a Cuba, a constatação é inversa. A participação norte-americana no tráfico – e na própria escravidão, com diversos cidadãos sendo donos de plantation na ilha – foi muito maior, principalmente a partir da década de 1850. Um número maior de navios e de capitães estadunidenses participaram do contrabando para a colônia espanhola. A bandeira norte-americana também foi mais empregada na atividade. Navios com bandeira estadunidense, em 20 viagens de 97, transportaram 10.528, ou 20,4% de um total de 51.628 africanos escravizados trazidos para Cuba entre 1851 e 1854. Entre 1855 e 1858, os números quase triplicaram. Embarcações com a bandeira norte-americana trouxeram 33.134, ou 67,45%, dos 49.167 africanos traficados para Cuba, em 61 de um total de 90 viagens. Traficantes portugueses e espanhóis com representações nos Estados Unidos controlavam o tráfico para a colônia espanhola. Mas, o ponto principal da participação norte-americana no tráfico de contrabando para Cuba era de natureza política. O peso norte-americano no tráfico, sua presença em plantations na ilha e a pequena distância entre Cuba e o Sul fizeram com que o governo estadunidense servisse como poderoso anteparo à intervenção britânica na repressão ao tráfico para Cuba. A proximidade geográfica com o Sul dos Estados Unidos, assim como a forte presença de interesses norte-americanos diretamente na colônia espanhola, por sua vez, traziam sempre a ameaça de anexação da ilha à república. Possibilidade que a Grã-Bretanha buscava evitar não minando completamente a autoridade espanhola na colônia. Nessa situação, as autoridades espanholas equilibravam-se em uma corda bamba no jogo geopolítico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha (p. 191).
De todo esse panorama, traçado com maestria pelo historiador brasileiro, emerge um quadro complexo que enriquece nosso conhecimento sobre as relações entre escravidão, tráfico e capitalismo no século XIX. Isso não de um ponto de vista teórico, mas a partir das relações concretas entre as classes, elites e governos nacionais que protagonizaram essas relações. Emerge também a constatação do papel central dos Estados Unidos nesse cenário e o significado da Guerra da Secessão como ponto de virada na sorte da escravidão naquele país, mas também em Cuba e no Império do Brasil.
Esperamos que a tradução do livro para o português, imprescindível para o estudioso da escravidão do século XIX, venha logo.
Ricardo Salles – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (2011). Publicou diversos livros, entre eles Nostalgia Imperia: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. É professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). E-mail: [email protected]
MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776 – 1867. New Haven: London: Yale University Press, 2016. Resenha de: SALLES, Ricardo. Capitalismo, Estados Unidos e o tráfico internacional de escravos no século XIX. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 486-493, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil | João Feres Júnior
João Feres Júnior (IESP/UERJ) e Marcelo Jasmin (PUC-RJ) são dois pesquisadores brasileiros que, no início da década de 2000, abordaram, em algumas obras organizadas por eles, os preceitos elaborados pela história conceitual alemã, na qual o historiador alemão Reinhart Koselleck é um dos maiores expoentes. Algumas destas publicações foram: História dos conceitos: debates e perspectivas, de 2006, e História dos Conceitos: diálogos transatlânticos, de 2007 (apud ROIZ, 2014).
Neste sentido, Feres Júnior dá continuidade às propostas teórico-metodológicas de Reinhart Koselleck na obra intitulada Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil (2014). O trabalho em questão é uma continuidade ou, como o próprio João Feres Júnior afirma, a segunda fase e/ou uma edição revisada e ampliada da obra organizada por ele, em 2009, ambos com o mesmo título e derivados das pesquisas dos historiadores brasileiros participantes do Proyecto Iberoamericano de Historia Conceptual – Iberconceptos2. A ideia que mobilizou a criação deste grupo de pesquisa foi elaborada pelo organizador das referidas obras, juntamente com Javier Fernández Sebastián e Vicente Oieni, em 2004. No entanto, a publicação de 2009 possuía menos capítulos – que, assim como a obra por nós resenhada, tiveram o caráter de verbetes de dicionário, o que demonstra a originalidade deste trabalho (apud FERES JÚNIOR, 2014).
Contudo, Feres Júnior – que atua sem a participação de Marcelo Gantus Jasmin tanto na organização da obra de 2009 quanto na de 2014 – e os demais participantes brasileiros do Proyecto Iberconceptos, optaram por utilizar não somente as sugestões teóricas de Koselleck, mas compatibilizá-las com as ideias propostas pela Escola de Cambridge, representada por Quentin Skinner e John Greville Agard Pocock (apud FERES JUNIOR, 2014). Ao justificar a complementaridade entre estas duas correntes teórico-metodológicas, João Feres Júnior afirma que Melvin Richter, por meio do seu trabalho intitulado The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction (1995), defende a ideia de que os historiadores mais simpáticos aos preceitos elaborados pela Escola de Cambridge passassem a considerar, também, as ideias propostas pela história conceitual alemã (RICHTER, 1995 apud FERES JUNIOR, 2014, p.15). Além disso, o cientista político finlandês Kari Palonen também recomendou o mesmo caminho proposto por Richter e que foi adotado pelo Proyecto Iberconceptos (PALONEN, 2003 apud FERES JUNIOR, 2014, p.15).
Ainda neste sentido, sobre as escolhas teórico–metodológicas de Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil (2014), acreditamos ser pertinente acrescentar que a defesa da complementaridade entre estas duas correntes pode ser corroborada pela seguinte afirmação de Koselleck, que denuncia a tendência que seria própria da história das ideias, em relação às expressões históricas, de conceber estas últimas “[…] como constantes, articuladas em figuras históricas diferentes, mas elas mesmas fundamentalmente imutáveis” (KOSELLECK, 1985a, p.80 apud JASMIN, 2005, p.31).
Em consonância com estas concepções teóricas, Feres Júnior argumenta, no capítulo onde realiza uma leitura de caráter transversal acerca do conceito de “civilização”, com base em outros trabalhos sobre este termo (2014, p.423-454), que a utilização daquelas duas correntes teóricas, de forma conjunta, evitaria a “[…] cilada de ter de optar pelo aspecto descritivo ou normativo dos conceitos. Os elementos descritivos e normativos são tomados como partes da semântica do conceito e, portanto, como objetos a serem estudados” (FERES JÚNIOR, 2014, p.427). Além disso, segundo o organizador da obra, também não é necessário que haja uma escolha pelo total desprendimento entre as questões objetivas e as subjetivas, característica e/ou tendência mais ligadas à linha cartesiana de pensamento, pois
[…] a inspiração fenomenológica embutida na história conceitual foca a experiência e a construção da linguagem através de um processo social de atribuição de significado intersubjetivo, que nunca é totalizante ou propriamente objetivo, pois se encontra fracionado como a própria sociedade (FERES JÚNIOR, 2014, p.427).
Neste sentido, na ótica de Feres Júnior, pelo fato de a História conceitual não se alicerçar em uma dita “perfeição” teórica e/ou não defender a utilização de um único conceito tido como “inquebrantável” na busca pela compreensão de determinado assunto – modelo que seria mais próprio das ciências naturais, e que parte das ciências humanas seguem, como, por exemplo, a Ciência Política, e algumas vertentes das Ciências Sociais -, a escolha pelas indicações de Koselleck e Skinner se mostram mais favoráveis, pois se dispõem a “[…] resgatar a linguagem em seus múltiplos usos e significados” (FERES JÚNIOR, 2014, p.427).
Dessa forma, tentando seguir estes postulados, a obra derivada da primeira fase (2009) contou com análises transversais sobre todos os conceitos abordados até àquele momento, embasadas nos verbetes resultantes das discussões sobre os próprios conceitos e compôs uma publicação em língua espanhola, intitulada Diccionario político y social iberoamericano: conceptos políticos en la era de las independências, 1750-1850 (apud FERES JÚNIOR, 2014). Além disso, a primeira fase (2009) foi derivada do artigo Algumas notas sobre História Conceptual e sua aplicação ao espaço Atlântico Ibero-Americano (2008, p.5-16 apud ROIZ, 2014, p.280), de autoria de Javier Fernández Sebastián e que compôs o dossiê intitulado História Conceptual no Mundo Luso-Brasileiro, 1750-1850, também apresentado por Sebastián e que compõe o número 55 da revista Ler História (apud ROIZ, 2014). Este número, de acordo com Diogo da Silva Roiz, teve, no Brasil, acesso limitado e enfatizou as relações existentes entre o mundo ibero-americano na época das independências (ROIZ, 2014).
Além disso, contou com ensaios que, assim como ainda nos informa Roiz, tratavam de vários conceitos como América-Americanos (João Feres Júnior e Maria Elisa Noronha de Sá), Cidadão-Vizinho (Beatriz Catão Cruz Santos e Bernardo Ferreira), Constituição (Lúcia Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves), Federalismo (de Ivo Coser), História (João Paulo Pimenta e Valdei Lopes de Araújo), Liberal-Liberalismo (Nuno Gonçalo Monteiro), Nação (Sérgio Campos Matos), Opinião pública (Ana Cristina Araújo), Povo (Fátima Sá e Melo Ferreira) e República-Republicanos (Rui Ramos) (apud ROIZ, 2014).
No entanto, na obra de 2009 que foi publicada no Brasil e que focou na operacionalização de todos estes conceitos no caso específico brasileiro daquele recorte temporal – ou seja, não colocou a atenção em Portugal, como havia sido feito no trabalho de 2008 – alguns conceitos foram trabalhados por outros autores e a disposição dos capítulos ficou da seguinte forma: América/Americanos (João Feres Júnior e Maria Elisa Noronha de Sá); Cidadão (Beatriz Cruz Santos e Bernardo Ferreira); Constituição (Lúcia Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves); Federal/Federalismo (Ivo Coser); História (João Paulo Pimenta e Valdei Lopes de Araujo); Liberal/Liberalismo (Christian Edward Cyril Lynch); Nação (Marco A. Pamplona); Opinião Pública (Lúcia Bastos Pereira das Neves); Povo/Povos (Luisa Rauter Pereira); e República/Republicanos (Heloisa Maria Murgel Starling e Christian Edward Cyril Lynch) (apud ROIZ, 2014).
Dessa forma, João Feres Júnior, ainda no prefácio da obra sobre a qual estamos direcionando nossa atenção por meio deste trabalho, nos inteira que a intenção ao elaborar o Léxico da segunda fase (2014) foi a mesma da que motivou a publicação do livro de 2009, mas com uma novidade: trouxe a abordagem de outros dez conceitos além dos que estão presentes na obra resultante da primeira fase. Os dez novos capítulos tratam sobre: Soberania (Luiza Rauter Pereira), Independência (Lúcia M. Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves), Partido/Facção (Ivo Coser), Democracia (Christian Edward Cyril Lynch), Pátria (Marco Antonio Pamplona), Estado (Ivo Coser), Liberdade (Christian Edward Cyril Lynch), Ordem (Cláudio Antonio Santos Monteiro), Civilização (João Feres Júnior e Maria Elisa Noronha de Sá) e Revolução (Lúcia M. Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves) (FERES JÚNIOR, 2014).
Dessa forma, aos dez trabalhos referentes à publicação resultante da primeira fase do Iberconceptos (2009) se somaram mais 10 novos capítulos, totalizando uma produção de 20 conceitos trabalhados neste Léxico publicado em 2014. Neste sentido, ao tratarmos aqui de modo breve sobre cada verbete que compõe a nova obra, iniciamos pelo trabalho de João Feres Júnior e Maria Elisa Noronha de Sá que, ao abordarem a noção de América/Americanos (2014, p.25-39), identificam seis diferenciações deste conceito e afirmam que o mesmo parece começar a obter características políticas:
[…] com o advento das independências dos Estados Unidos da América e das colônias espanholas, e o conseqüente uso desses exemplos por parte dos atores coloniais descontentes com o Império português. A associação da América com o valor da liberdade tornou-se comum a partir da primeira década do século 19, ao mesmo tempo que a depreciação das experiências políticas das novas repúblicas da América espanhola rapidamente se converteu em tropo retórico daqueles que não desejavam o governo republicano no Brasil, ou seja, da parte dominante do espectro político brasileiro por toda a primeira metade do século 19 e além (NORONHA DE SÁ; FERES JÚNIOR, 2014, p.36).
O capítulo sobre Civilização (NORONHA DE SÁ; FERES JÚNIOR, 2014, p.209- 231) também é escrito por aqueles dois autores, que indicam um processo de “nacionalização” do referido termo – na expressão de Pim den Boer trabalhada por eles -, protagonizado pela geração romântica brasileira. No que tange ao conceito de Cidadão, Beatriz Catão Cruz Santos e Bernardo Ferreira afirmam que existia uma relação entre a preservação da ordem escravocrata e a manutenção das hierarquias de caráter tradicional, o que contribuía para o vínculo entre liberdade, cidadania e propriedade que classificava as pessoas entre “cidadãos ativos”, “cidadãos passivos” e os “não cidadãos” (SANTOS; FERREIRA, 2014, p.54-55).
Por sua vez, Lúcia M. Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves estabelecem a relação entre a noção de Constituição com questões religiosas ou, nas palavras dos próprios autores, uma “[…] dificuldade demonstrada por portugueses e brasileiros em lidar com a democracia, esse ‘poder dos homens tomando o lugar das ordens definida por Deus ou desejada por Deus” (NEVES; NEVES, 2014 p. 72). Além deste capítulo, estes autores também atuam juntos em outros trabalhos componentes deste livro, que são os casos dos trabalhos sobre Independência (NEVES; NEVES, 2014, p.233-252) e sobre a ideia de Revolução (NEVES; NEVES, 2014, p.379-399). Em relação à Independência, estes autores afirmam que o referido termo, “[…] confundia-se com a honra e o orgulho do Brasil” (NEVES; NEVES, 2014, p.248) e não teria mudado tanto a não ser na década de 1860, período em que houve uma maior aproximação com a ideia de “soberania”. Por sua vez, em relação às questões sobre as possibilidades de ruptura total que envolvem o conceito de Revolução, Lúcia M. Bastos Pereira das Neves e Guilherme Neves concluem que, no período analisado, “[…] somente poucos, sem conseguir-se desprender tampouco de uma perspectiva reformista, pareciam dotados de condições para superar essa visão litúrgica do mundo e reconhecer o potencial dos homens para interferir na vida pública em seu próprio proveito” (NEVES; NEVES, 2014, p.394).
Sobre as modificações que envolveram as concepções acerca da própria disciplina histórica propriamente dita – no verbete intitulado História -, João Paulo G. Pimenta e Valdei Lopes de Araújo abordam, dentro do recorte temporal estabelecido (1750-1850) e de seu processo de mudança, o desprendimento dos preceitos religiosos na escrita da história, perpassando pelo estágio onde se percebeu uma ligação entre o letramento e a narrativa histórica, até a fase em que “[…] a história deixava de ser apenas a sucessão de acontecimentos isolados, tornando-se fator de desenvolvimento dessa identidade” (PIMENTA; ARAÚJO, 2014, p.116).
No capítulo Liberal/Liberalismo, Christian Edward Cyril Lynch nos traz a informação de que “no Brasil, o verdadeiro liberal era o conservador, que exigia, pela centralização, o robustecimento da autoridade do Estado, agente civilizador capaz de se impor à aristocracia rural, acessar a população subjugada no campo e fazer valer os direitos civis” (LYNCH, 2014, p.132). Neste sentido, podemos considerar, também, o verbete Ordem, de autoria de Claudio Antonio Santos Monteiro indicando que “[…] com os perigos representados pelo mundo da desordem (homens pobres e livres e escravos), ordem no Brasil imperial implica a total inviabilidade da expansão da liberdade […]” (MONTEIRO, 2014, p.354).
Alguns autores escreveram mais de um capítulo, assim como já colocamos em relação ao texto de Beatriz Santos e Bernardo Ferreira. Esse também é o caso de Lúcia M. Pereira das Neves em seu trabalho sobre o conceito de Opinião Pública, no qual trata sobre a permanência da “[…] perspectiva da opinião como uma, próxima às concepções de cultura política do absolutismo” (NEVES, 2014, p.166), do trabalho de Luisa Rauter Pereira que, além do capítulo sobre Soberania – assim como já pontuamos – também trata sobre a noção de Povo/Povos (PEREIRA, 2014, p.173-189), abordando a relação entre este conceito e a soberania política, liberdade, igualdade e a natureza geográfica do país, não tão ligados assim à esfera política e de Christian Edward Cyril Lynch, que, assim como no trabalho sobre o conceito de Libera/Liberalismo, também se debruçou em outros como sobre a ideia de República/Republicanos – o qual escreveu em parceria com Heloisa Maria Murgel Starling (STARLING; LYNCH, 2014, p.191-207) -, Democracia (LYNCH, 2014, p.253-274) e Liberdade (LYNCH, 2014, p.323-339) – nos quais atuou sozinho –, capítulos estes que nos possibilita perceber uma ligação entre estes conceitos, os quais estavam relacionados às características da monarquia de então.
Outros autores também participam da obra com mais de um trabalho, tais como, Ivo Coser e Marco A. Pamplona. Aquele, ao analisar os sentidos das ideias de Federal/Federalismo (COSER, 2014, p.79-101), Estado (COSER, 2014, p.301-322) e Partido/Facção (COSER, 2014, p.359-377), por meio dos textos de Paulino José Soares de Souza (o Visconde do Uruguai), Alves Branco, Tavares Bastos, entre outras personalidades, chama a atenção para a complexidade entre o estabelecimento da fragmentação do poder estatal, a continuidade do personalismo e a transformação da facção em partido – com um programa racional definido. Por sua vez, Pamplona analisa o conceito de Nação (PAMPLONA, 2014, p.137-153) que, ao dialogar tanto com o trabalho de Beatriz Catão Cruz Santos e Bernardo Ferreira (Cidadão), quanto com o de Luisa Rauter Pereira sobre Soberania (PEREIRA, 2014, p.401-421), aborda a discussão sobre quem seria considerado cidadão dentro daquela formação político-social no Brasil, defendendo que a “adoção do princípio da ‘soberania do povo’ iniciou uma transformação mais profunda da moldura normativa existente até o momento para a legitimação do poder político” (PAMPLONA, 2014, p.148). Pamplona também trata sobre o conceito de Pátria (p. 275-300), que, segundo o autor, sofreu um processo de singularização, “[…] sendo utilizado cada vez mais na sua identificação com a nação, à medida que esta aprofundava sua sinonímia com o Estado Imperial” (PAMPLONA, 2014, p.297).
Além de conter os verbetes com os conceitos trabalhados por todos os pesquisadores brasileiros neste Léxico, de 2014, a obra também conta com mais um capítulo escrito por João Feres Júnior, mais ao final do livro. Trata-se do posfácio intitulado De olho nas pesquisas futuras: as camadas teóricas da história dos conceitos (FERES JÚNIOR, 2014, p.455-477), no qual trata um pouco mais sobre a possibilidade de complementaridade entre os pressupostos teóricos da Escola de Cambridge e as noções propostas pela Begriffsgeschichte e realiza uma análise crítica sobre a utilização ou não de algumas ideias de Koselleck – como, por exemplo, as noções de “temporalização”, “ideologização”, “politização” e “democratização” dos conceitos – nas pesquisas que tem a história dos conceitos como o principal norte teórico-metodológico (FERES JÚNIOR, 2014).
Dessa forma, ao tratarmos sobre os principais aspectos da obra organizada por Feres Júnior, não temos dúvida de que o recorte enfatizado – que diz respeito à segunda metade do século XVIII e as cinco primeiras décadas do século XIX – contribuiu muito para a riqueza dos resultados obtidos não somente por Feres Júnior, como também por todos os autores envolvidos neste trabalho, pelo fato de ser um período de profundas transformações da sociedade brasileira vinculadas à política do país. Além disso, assim como Diogo Roiz (2014) bem observou sobre a utilização do norte teórico-metodológico escolhido – complementaridade entre o contextualismo linguístico, de Skinner e Pocock, e a história dos conceitos alemã, de Koselleck – na obra da primeira fase (2009) – é totalmente pertinente, pois proporciona discussões frutíferas e inovadoras ao analisar as fontes selecionadas com foco nos conceitos estudados dentro do período trabalhado, o que permite conciliar análises históricas, políticas, linguísticas e sociais. Todos estes fatores colaboram para uma leitura fluida e compõem uma obra que contribui consideravelmente para a historiografia acerca dos temas e período trabalhados, além de despertar novas reflexões sobre as questões abordadas.
Notas
2. Assim como o próprio organizador do Léxico nos informa, O Iberconceptos consiste em um projeto iniciado por meio de uma reunião entre João Feres Júnior, Javier Fernández Sebastián e Vicente Oieni (que não atuou no projeto posteriormente) durante a VII Conferência Internacional de História dos Conceitos, realizada em 2004. Desde o início, o objetivo desta iniciativa era o “[…] de se fazer uma história conceitual dos países de fala espanhola e portuguesa na Europa e na América […]” (FERES JÚNIOR, 2014, p.9), e Sebastián foi o responsável pela angariação de financiamento para a realização deste projeto em seu país natal, a Espanha. João Feres Júnior ficou a cargo da coordenação do Iberconcpetos no Brasil. Sob a coordenação de João Feres Júnior aqui, no Brasil, atuam vários pesquisadores de diversas instituições tais como Beatriz Catão Cruz Santos (UFRRJ), Bernardo Ferreira (UERJ/IUPERJ), Christian Edward Cyril Lynch (IESP-UERJ/FCRB), Cláudio Antonio Santos Monteiro (Université Robert Schuman, de Strasbourg, França), Guilherme Pereira das Neves (UFF), Heloisa Maria Murgel Starling (UFMG), Ivo Coser (UFRJ), João Paulo G. Pimenta (USP), Lúcia M. Bastos Pereira das Neves (UERJ), Luisa Rauter Pereira (IUPERJ/UFF), Marco A. Pamplona (PUC-Rio), Maria Elisa Noronha de Sá (PUC-Rio) e Valdei Lopes de Araújo (UFOP). Além dos pesquisadores brasileiros anteriormente citados, o Projeto Iberconceptos também é composto por equipes de pesquisadores de outros vários países: Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela e países do Caribe e da América Central (FERES JÚNIOR, 2014).
Referências
FERES JÚNIOR, João (org.). Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil. Belo Horizonte, MG: EDUFMG, 2014.
ROIZ, Diogo da Silva. A história dos conceitos no Brasil: problemas, abordagens e discussões. Caicó, vol. 15, no 34, p.279-285, jan. / jun. 2014.
JASMIN, Marcelo Gantus. História dos conceitos e teoria política e social. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS). vol. 20, no 57, p.27-38 (fevereiro, 2005).
Elvis de Almeida Diana1 – Mestre em História pela UNESP. E-mail: [email protected]
FERES JÚNIOR, João (org.). Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil. Belo Horizonte: EdUFMG/Humanitas, 2014. Resenha de: DIANA, Elvis de Almeida. Aedos. Porto Alegre, v.9, n.20, p.587-594, ago., 2017.Acessar publicação original [DR]
K.: relato de uma busca | Bernardo Kucinsk
A obra K. configura-se como trabalho histórico e memorialístico na medida em que expõe, denuncia e recupera o relato de dor e sofrimento2 do pai de Ana Rosa Kucinski Silva, desaparecida política brasileira. Durante o regime militar no Brasil (1964-1985), a agonia do pai e dos sobreviventes, vítimas da ditadura, intensificou-se com o silenciamento instaurado na sociedade, pelos detentores do poder, em relação ao paradeiro dos desaparecidos políticos. Nota-se que em 1974, ano em que ocorreu o desaparecimento de Ana Rosa e de seu marido, Wilson Silva, o regime ainda sentia os reflexos da concentração de poder nas mãos dos militares, fruto da instalação do Ato Institucional nº 5 (AI-5, de 13 de dezembro de 1968), que enrijeceu o sistema autoritário e levou vários dissidentes à morte.
Durante a ditadura, cidadãos que se opunham ao regime, como Ana Rosa Kucinski Silva e Wilson Silva, foram violentados, massacrados (expressão que carrega o sentido de humilhação)[3] e “desapareceram”. Para Bernardo Kucinski, trataram-se de crimes contra a humanidade, uma vez que, independentemente da posição política de esquerda comungada pelo casal – eram integrantes da Aliança Libertadora Nacional (ALN), que combateu o regime militar no Brasil –, os crimes contra a vida não se justificam, situação que se agrava ao avaliar a atrocidade dos acontecimentos e a existência, desde 1948, em âmbito internacional, da Declaração Universal dos Direitos Humanos [4].
As pistas e os vestígios [5] referentes ao casal e demais perseguidos políticos que compunham a organização clandestina de resistência ao regime foram destruídos pelos militares e por outros agentes, que endureceram o rigor do regime autoritário. Dessa forma, o jornalista Bernardo Kucinski, filho de Majer Kucinski e irmão de Ana Rosa Kucinski, utilizando-se da narrativa ficcional [6], oferece-nos a oportunidade de reconstruirmos o passado que se esconde pelas vias silenciosas das ações dos detentores do poder, que impuseram sua vontade através do apagamento dos rastros, de violências, atentados e humilhações contra a vida humana.
Além de militante política, Ana Rosa ocupou o cargo de professora doutora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), onde cumpriu com suas funções de forma assídua até o dia 23 de abril de 1974, quando, segundo suas colegas de trabalho, ela não retornou à universidade. Wilson Silva, seu marido, era físico e trabalhava em uma empresa. Já seu pai, o senhor Majer Kucinski, foi resistente judeu na Polônia e se dedicou integralmente, no Brasil, ao iídiche [7].
Amparado neste enredo, o jornalista Bernardo Kucinski amarrou os fios que estabelecem a intriga por meio da vivência familiar e ocupou, dessa maneira, o papel de testemunha [8], mesmo vivendo grande parte da sua vida no exterior. O autor alerta: “Caro leitor: Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu” (p. 8), ou seja, a reunião das informações esfaceladas, seja através do registro sobre o caso de desaparecidos políticos encontrado nos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), seja através do depoimento da escritora Maria Victoria Benevides – que rememora a aflição de Majer Kucinski na Comissão de Justiça e Paz, quando este estreitou laços de amizade com Dom Paulo Evaristo Arns –, ajuda-nos a situar este relato nos debates acerca da história, do trauma e da memória.
A tensão entre testemunho, denúncia, literatura, trauma e memória converge, no trabalho historiográfico, no labor com a realidade e a ficção. Na constituição da narrativa de Bernardo Kucinski, ao invés de se oporem, existe integração entre o par realidade e ficção [9], que se evidencia como um dos pontos centrais explorado no livro por meio dos sentimentos de agonia e dor alimentados por Majer na busca por sua filha. Indubitável que o livro, ao retratar o sofrimento angustiante de Majer Kucinski no resgate memorialístico de sua filha Ana Rosa (vinculada à história do regime militar no Brasil), vem assinalar um marco problematizador nos debates historiográficos referentes à ditadura brasileira, uma vez que revela uma atenção por parte de Bernardo em investigar as incertezas, o medo, a indignação, as mentiras e outras facetas decorrentes de regimes autoritários pela América Latina.
O desespero de Majer Kucinski diante do sumiço de sua filha, ao mesmo tempo que recupera sua singular trajetória de vida como militante político na Polônia, no pré-Holocausto – período em que foi reconhecido como prestigioso escritor do iídiche, com destaque para a literatura –, revela os meandros da política autoritária brasileira. Este sistema, regido especificamente pelo autoritarismo, guarda sua especificidade nacional diante de regimes totalitário-autoritários ocorridos na Itália e na Alemanha, na medida em que os militares, a mando dos detentores do poder no Brasil, desapareciam com as figuras oponentes ao regime sem deixar vestígios, tornando-as, portanto, desaparecidos políticos.
Além da incerteza do que realmente aconteceu com o casal, a experiência de dor visualizada no pai de Ana Rosa permite o paralelismo com os sentimentos de Primo Levi, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial (1939- 1945) [10]. Se a preocupação sobre o paradeiro de Ana Rosa e Wilson Silva é central para o autor, o sofrimento do pai, dos irmãos, o vazio, a humilhação e “a supressão dos sentidos ordinários comuns da vida” (p. 186), escancarado pelas vias do silêncio e perpetrado em suas veias pelos detentores do poder, desabrocha nos sentimentos da nossa indignação e ira diante da ditadura militar no Brasil.
É, portanto, diante o retrato de sentimentos como a culpa, a impunidade, o trauma, alimentados pela família Kucinski devido o desaparecimento de Ana Rosa que, não podemos perder de vista o quanto a obra de Bernardo Kucinski se constitui como se Bernardo assumisse a voz do seu pai na narrativa de desaparecimento de Ana Rosa. Interessante que, neste aspecto, as contribuições de Sigmund Freud (1856-1939) vêm ao encontro da problemática deste livro. Porque, por meio da A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 2001) apreende-se que o autor ao retratar acerca da “psicologia dos processos oníricos” e da “função dos sonhos – sonhos de angústia” descreve que “no inconsciente, nada pode ser encerrado, nada é passado ou está esquecido”. O que Freud quer explorar com essa passagem é que no estudo das histórias humanas “a via inconsciente de pensamentos que conduz à descarga no ataque histérico volta imediatamente a tornar-se transitável quando se acumula excitação suficiente”. E continua Freud, “uma humilhação experimentada trinta anos antes atua exatamente como uma nova humilhação ao longo desses trinta anos, assim que obtém acesso às fontes inconscientes de afeto” [11]. Nesse sentido, Bernardo Kucinski se constitui personagem paciente deste retrato apresentado por Freud. E, Kucinski, ao trazer suas inquietações a público por meio deste livro nos conduz automaticamente ao desdobramento de Freud, supracitado.
Por outro lado, foi possível notar ainda que a estrutura de K. é bastante sugestiva no que tange à maneira como vamos ler a obra, pois, diante de uma leitura rápida, é difícil encontrar uma linearidade que conduza a história de forma objetiva. O leitor desavisado só conseguirá configurar o enredo após a leitura do posfácio de Renato Lessa. Nesse sentido, percebe-se que Lessa se volta às problemáticas e considerações a respeito dos estudos sobre as vítimas do regime militar no Brasil, apresentadas também por Maria Victoria Benevides na orelha do livro, em que a autora analisa os usos da ficção e da literatura no escopo do discurso do autor.
Bernardo Kucinski traz informações sobre a chegada da sua família ao Brasil e enriquece o retrato sobre a vida de Majer e Ana Rosa Kucinski Silva. Além de usar a letra K, sugerindo correlação com a trajetória de vida do escritor Franz Kafka (1883-1924) – escritor tcheco, que sofreu por ser judeu; escreveu para revistas literárias e mantinha grande simpatia pelo socialismo e sionismo –, Bernardo evidencia a perseguição política que Majer Kucinski sofreu na Polônia, sendo obrigado a fugir para o Brasil em 1935. Por escrever em iídiche, passou a ser reconhecido pelos judeus do bairro de Bom Retiro, em São Paulo. Além disso, escreveu em jornais de São Paulo, Buenos Aires e Nova Iorque. Logo, angariou um sócio com grande capital para abrir uma loja de tecidos.
Como alguém que carrega um trauma do que viveu [12], Majer não contou aos filhos a dor que sofreu no passado para não influenciar a formação psíquica e ética deles. Majer Kucinski tinha 30 anos quando foi arrastado pelas ruas de Wloclawek, uma pequena cidade polonesa, onde se deu o primeiro massacre organizado da população judaica pelas tropas alemãs na invasão da Polônia. Neste episódio, em que sua irmã mais nova morreu sua outra irmã, mais velha, Guita – militante de esquerda que ajudou a fundar o Linke Poalei Tzion (Partido dos Trabalhadores de Sion de Esquerda) –, foi presa e veio a falecer de frio. Já a mãe de Ana Rosa Kucinski, Ester, perdeu toda sua família. Ester veio para o Brasil um ano depois da chegada do marido. Ela desenvolveu câncer no seio direito na mesma época em que engravidou de Ana Rosa, que nasceu em 1942. A mãe de Ana Rosa veio a falecer, e Majer casou-se com sua segunda mulher. Porém, reclamava desta devido à vida pacata que levava, uma vez que sempre foi um homem ativo na sociedade.
Bernardo retrata a agonia de Majer diante das pistas incertas e seu cansaço ao seguir as indicações de informantes – dentre eles, o decorador de vitrines (Caio), o dono da padaria (o português Amadeu) e o farmacêutico (reconhecido como excelente informante dos judeus em São Paulo, que indicou a Majer um rabino em São Paulo e um dirigente da comunidade no Rio de Janeiro que mantinham contatos com os generais). Em busca de respostas, Majer viajou para Nova York ao escritório American Jewish Committee – ambiente que o recebera no passado para lhe conceder o prêmio pelo poema “Haguibor”, publicado na revista Tzukunft (revista literária iídiche publicada em Nova York). Foi a Londres, na Anistia Internacional, e antes esteve em Genebra, onde apelou à Cruz Vermelha. Bernardo Kucinski retrata o desgosto de Majer com a Comissão de Direitos Humanos, que rejeitou sua petição. Por fim, todas as buscas foram em vão. Ademais, muitas pessoas que Majer procurou não lhe ajudaram por medo do sistema, que perseguia pessoas e desaparecia com os opositores ao regime sem deixar rastros.
A insistência de Majer na busca por Ana Rosa levou-o a descobrir a vida clandestina da filha tanto em relação à política como em relação a sua própria família, já que, procurando protegê-los, Ana Rosa omitiu diversos fatos de sua vida, como o casamento com Wilson Silva. Sua luta política foi cultivada no anonimato e, com o casamento, Ana Rosa aproximouse ainda mais do marido, que mantinha maior vínculo com as ideologias incentivadas pelos grupos de esquerda no Brasil.
O desespero de Majer intensificou-se ao tomar conhecimento de outras famílias que procuravam por seus desaparecidos. Muitos queriam apenas enterrar seus mortos, uma vez que o tempo dera provas de que já não havia mais esperanças. Dessa maneira, o que se pode notar é que Majer estava ante uma especificidade do Estado autoritário brasileiro, que conseguia escamotear, acabar com as pistas, vestígios, rastros que levassem aos autores dos crimes encomendados.
A forma com que os militares desapareciam com os corpos no Brasil é comparada por Bernardo ao que fizeram os nazistas com seus prisioneiros: antes de serem reduzidos a cinzas, era dado baixa do número que cada um tinha tatuado no braço num livro. Depois, eram enterrados em vala comum. Dessa forma, era possível saber que os judeus e as vítimas de outra ordem se encontravam enterrados em determinado local. Já no Brasil, como Bernardo afirma, o luto referente às vítimas da ditadura continua em aberto devido à ausência e ao sumiço dos cadáveres. Neste encalço e na suposição de que este assunto ainda deva atormentar os sonhos de Bernardo Kucinski vale atentarmo-nos ao que Freud nos assegura “a interpretação dos sonhos é a via real para o conhecimento das atividades inconscientes da mente” [13]. Ou seja, por meio das dúvidas e “certezas” que cercearam os sonhos e a mente de Majer, estes, agora, passaram a atormentar os sonhos e mente de Bernardo. Nesse sentido, o ato do sepultamento tanto para Bernardo quanto às famílias vítimas de narrativas de mesma natureza simboliza o fim do trabalho de dor e luto pelo desaparecido político.
Outra análise motivada por Bernardo Kucinski é: diante dos acontecimentos com sua irmã e seu pai, como ficam os torturadores em relação às manifestações de sobreviventes e presos políticos, como o “dossiê das torturas” e o “relatório prometido à Anistia Internacional”, citados no livro? Se, para ele, a punição aos mentores dos crimes está longe de se tornar realidade, em contrapartida, ela ainda persiste em relação às vítimas. Este assunto remete aos debates e catalogações dos historiadores e se vincula aos estudos sobre os crimes cometidos contra a humanidade [14], em que se configuram atrocidades inimagináveis quanto à vida humana.
Se, por um lado, o livro de Bernardo denuncia a realidade cruel sofrida por seu pai, por outro, tece pontos estratégicos ao retratar como funcionou o sistema político no Brasil, que desapareceu com as pessoas sem deixar vestígios, humilhando-as e levando-as à morte. Nos capítulos “A Cadela” e “A Abertura”, os diálogos sugeridos por Bernardo entre os mandantes do governo e os sujeitos nomeados pelo autor como Lima, Mineirinho, Fogaça e Fleury revelam a tortura psicológica que as vítimas sofreram ante a instauração do silêncio e das informações falsas concedidas por estes mesmos sujeitos acerca dos desaparecidos políticos. O governo, através de um aparelho de Estado repressor que tudo sabia e que constantemente estreitava contatos de fidelidade com pessoas dentro e fora do país para enrijecer o sistema, tentou a todo custo despistar, cansar, manipular e mentir aos familiares sobre o paradeiro de seus desaparecidos. Dessa maneira, Bernardo realizou um trabalho notável ao explorar as vias enigmáticas em que se instaurou o sistema autoritário brasileiro, que conseguiu levar Majer à exaustão, uma vez que seus movimentos foram monitorados por agentes do governo, desviando-o de seu objetivo: encontrar a filha, ainda que morta.
Um dos pontos auges do livro encontra-se no capítulo “A Terapia”. Neste, Bernardo, utilizando-se do relato da personagem Jesuína Gonzaga, expõe os bastidores de uma casa em Petrópolis [15], no Rio de Janeiro, onde um dos chefes de comando do regime militar, o suposto Sérgio Paranhos Fleury, vinha de São Paulo para comandar e realizar torturas psicológicas, físicas e massacrar, de fato, os opositores ao regime. Fleury era reconhecido pela terapeuta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelos demais como “o Fleury do esquadrão da morte”. Segundo Jesuína, nesta casa havia uma espécie de garagem ou depósito que ela só pôde conhecer quando esteve sozinha no local. As atrocidades reveladas por testemunhas oculares [16] como Jesuína, mesmo que de forma fragmentada, colocam em evidência os horrores a que as vítimas diretas do regime foram sujeitadas. Jesuína, por exemplo, por não suportar conviver com aquela realidade, procurou o INSS para realizar um tratamento psicológico, além de fazer uso de pílulas para dormir. Neste capítulo, Bernardo escancarou a realidade do local onde ocorria a carnificina e o esquartejamento dos corpos que, posteriormente, eram levados em sacos de lonas bem amarrados para lugares até hoje desconhecidos.
Bernardo, ao relatar o encontro de Majer com o arcebispo de São Paulo, solidário às famílias que buscavam por seus desaparecidos políticos, revelou a incapacidade do pai em relatar coerentemente o acontecido. Ainda que Majer Kucinski fosse contrário ao catolicismo no passado, naquele momento tentou preencher o vazio com notícias que talvez o arcebispo poderia lhe conceder sobre a filha e o genro. É indubitável que a supressão de provas tornou a busca de Majer ainda mais dolorida, pois, diferente da Polônia – onde a família do preso era notificada, podia visitá-lo, e os presos tinham direito à defesa –, no Brasil os corpos simplesmente desapareciam.
O livro K., através de sua narrativa ficcional, procura compreender o papel de sobreviventes ante acontecimentos estarrecedores, como foi o caso da invasão na Polônia, em que Majer perdeu suas duas irmãs, e sua primeira mulher, toda a família. Conforme retratado anteriormente, Majer não relembrou esses episódios aos filhos para evitar causar-lhes mal no período em que estavam construindo suas vidas, além disso a lembrança provocava-lhe malestar. Por meio de estudos acerca do trauma nota-se que o sobrevivente procura viver o presente tentando se recuperar do trauma do passado. Dessa forma, o passado vivia adormecido na vida de Majer Kucinski até o momento em que sua vida no Brasil fê-lo vítima das atrocidades do regime militar. Nesse sentido, é importante observar que o livro de Bernardo apresenta problemáticas quanto ao estudo de passados traumáticos [17], por exemplo, em relação ao sobrevivente que, além de carregar o mal do passado, sente-se culpado e tornase vítima de um sistema que imputa a ele a responsabilidade psicológica de não ter oferecido o amor necessário à filha, como retrata Bernardo na obra ao afirmar que os sobreviventes sempre vasculham o passado “em busca daquele momento em que poderiam ter evitado a tragédia e por algum motivo falharam” (p. 168). Ou seja, a culpa alimentada através da dúvida e das incertezas impostas pelo sistema permanece dentro de cada sobrevivente como um drama pessoal e familiar, que foge da ordem coletiva. Dessa forma, a dor psicológica e a culpa instalam-se.
Bernardo deixa explícito o poder de imposição do sistema ao final da obra, no “Post Scriptum” de 31 de dezembro de 2010, quando toma como referência um telefonema que recebeu em que uma voz originária de Florianópolis-SC relatou que, numa viagem ao Canadá, uma pessoa de nome Ana Rosa Kucinski Silva se apresentou a ela. Bernardo não retomou contato com a pessoa do telefonema porque acredita que o sistema repressivo continua articulado. Ou seja, segundo Bernardo, essa ação é fruto de uma reação referente a um vídeo gravado por uma atriz brasileira convidada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para personificar o desaparecimento de Ana Rosa. Nesse sentido, a obra K. contribui de forma categórica à problemática em que se circunscrevem as vítimas diretas e os sobreviventes do regime militar no Brasil, conduzindo esse problema aos debates acerca da história, do trauma e da memória e contribuindo decisivamente com estudos de passados traumáticos.
Bernardo estimula-nos ao imaginário individual e de ordem coletiva que funciona como via de regra na constituição dos fatos. Assim como o luto continua em aberto, uma vez que não foi possível oferecer às vítimas uma lápide devido à ausência dos corpos, esta mesma ausência causa transtornos aos familiares dos desaparecidos políticos, que ainda buscam por certezas e justiça para seus entes, baseados nos debates constantes acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em desacordo com os crimes de qualquer natureza cometidos contra a humanidade. No encalço dessas problematizações cabe ainda salientarmos a importância dos debates no Brasil acerca da temática “Justiça de Transição”. Este é um assunto que tem ganhado espaço nos debates acadêmicos devido aos “conceitos de legados autoritários, justiça transicional e política do passado como são hoje aplicados e analisa também as formas de justiça transicional que estavam presentes durante os processos de democratização na Europa do Sul” [18].
Por fim, o livro resenhado atribui aos pesquisadores e intelectuais de um modo geral a tarefa de investigar pistas, rastros e vestígios em busca de respostas sobre esse passado traumático que sucumbiu com a vida de pessoas como a de Majer Kucinski – pelos tormentos da culpa, do trauma e da morte causados pelo cansaço e exaustão ao procurar sua filha – e de Ana Rosa Kucinski Silva, que até agora continua sem um túmulo, sem uma lápide que a insira num tempo que contabilize seu nascimento e morte, pois, conforme os judeus, “Sem corpo não há rito, não há nada”.
Notas
2. É importante deixar claro que o livro de Bernardo Kucinski se situa no âmbito das discussões teóricas da egiptóloga Aleida Assmann, a qual, por meio do livro Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural (ASSMANN, 2011), nos oferece a oportunidade de analisar que o resgate da memória traumática, referente a acontecimentos do nosso passado recente, nos remete a posicionarmos contra as catástrofes, atrocidades dos eventos traumáticos. Um dos exemplos chave que podemos apontar nesta abordagem, o Holocausto.
3. Conferir o texto do historiador Edgar Salvadori de Decca A humilhação: ação ou sentimento? (MARSON; NAXARA, 2005). Nesse texto, Decca contribui sobre o que é humilhação. Segundo o autor, diante de várias características que a palavra carrega, a humilhação é o processo em que a “vítima é forçada à passividade, sem ação e sem socorro” (p. 108).
4. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 dez 1948. Disponível em . Acesso em: 30 out. 2015.
5. Vale lembrar que, para o historiador Carlo Ginzburg as pistas e vestígios do passado são fundamentais ao historiador no processo investigativo de determinado acontecimento histórico. Dessa maneira, através deste pressuposto, reconhecido como “paradigma indiciário” é que, também, podemos ler as lacunas e os silêncios que muito nos contribuem sobre aquele objeto de estudo e o tempo em que ele está imerso. Conferir: Sinais: Raízes de um paradigma indiciário (GINZBURG, 1989, pp. 143-179).
6. Nesse sentido, Hayden White expõe a problemática de que o historiador em seu processo de escrita, onde a leitura das fontes se apresenta como norteadora, deve se utilizar da sutileza e da herança cultural literária que ele carrega, oferecendo, portanto, um sentido específico ao que objetiva narrar. Dessa forma, para White essa ação é uma “operação literária e criadora de ficção”. Consultar: O texto histórico como artefato literário (WHITE, 1994, p.104).
7. “O iídiche é falado pelos judeus da Europa Oriental e teve seu apogeu no início do século XX, quando se consolidou sua literatura; sofreu rápido declínio devido ao Holocausto e à adoção do hebraico pelos fundadores do Estado de Israel” (p. 13).
8. É importante considerar neste contexto que para Paul Ricouer o testemunho se configura como elemento muito importante para que o historiador possa resgatar o passado. Conferir: O testemunho (RICOUER, 2007, p.170).
9. O historiador italiano Carlo Ginzburg argumenta que a relação entre narrações ficcionais e narrações históricas “devia ser enfrentada da maneira mais concreta possível”. Ou seja, nota-se que tanto para Hayden White quanto para Carlo Ginzburg as duas formas de narrativas são fundamentais em nossa operação historiográfica. Conferir o livro O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício (GINZBURG, 2007, p.12).
10. Consultar: É isto um homem? (LEVI, 2000).
11. Cabe salientarmos que para melhor apreensão acerca deste assunto é preciso consultar a obra: A interpretação dos Sonhos (FREUD, 2001, p.554).
12. É interessante notar que os estudos do historiador Dominick LaCapra sobre trauma são bastante sugestivos justamente ao enfoque que ele dá aos traumas de pessoas que testemunharam eventos históricos estarrecedores. Observa-se que as vítimas sentem-se como sua linguagem ficara comprometida devido aos efeitos psicológicos. Pois as testemunhas oculares de eventos limites carregam imagens do ocorrido e que vem a lhe causar tormentos constantes diante das cenas que lhes vem à memória. Conferir: Writing History, Writing Trauma (LACAPRA, 2001).
13. Consultar a obra: A interpretação dos Sonhos (FREUD, 2001, p.581).
14. O historiador Francês Pierre Nora à frente da Associação Liberdade para a História na França tem chamado a atenção acerca da liberdade dos historiadores em representar os crimes cometidos contra a humanidade. Pois essa assertiva vai à contramão de políticas públicas que muitas vezes procuram através de leis e ações políticas salvaguardar o retrato desses acontecimentos à luz de interesses políticos ou de natureza particular. Conferir o livro: Liberté pour l’histoire (NORA, 2008).
15. Vale lembrar que a esta altura do livro, Bernardo Kucinski, ao referir-se à uma casa em Petrópolis ele faz alusão à existência da Casa da Morte em Petrópolis no Rio de Janeiro para onde foram levados os presos políticos e lá, massacrados.
16. A abordagem da historiadora argentina Maria Ines Mudrovcic acerca de testemunhas oculares se faz bastante pertinente nesta resenha no que concerne à abordagem referente à dor psicológica causada no indivíduo que testemunhara a um evento limite. Segundo Mudrovcic, testemunha ocular é todo indivíduo que vê o que acontece diante os seus olhos, portanto, no caso de Jesuína, ela testemunhara os horrores à sua frente. Logo, essas experiências desencadearam com o tempo, trauma. Conferir: El debate em torno a la representación de acontecimientos límites del pasado reciente: alcances del testimonio como fuente (MUDROVCIC, 2007, pp. 127-150).
17. Os estudos do literato Márcio Seligmann-Silva vem a calhar com questões acerca de passado traumáticos assim como os trabalhos da historiadora Maria Ines Mudrovcic. As expressões eventos limites, trauma, literatura, ficção, história e memória são bastante recorrentes nas obras de Seligmann-Silva, dentre elas, consultar: A História como Trauma (SELIGMANN-SILVA, 2000, p.78).
18. Consultar: O Passado que não Passa: A sombra das Ditaduras na Europa do Sul e na América Latina (COSTA; MARTINHO, 2012, p.5).
Referências
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Trad. de Paulo Soethe. Campinas: Editora da UNICAMP, 2011.
MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005.
COSTA, António Pinto; MARTINHO, Francisco Carlos Palomantes. O Passado que não Passa: A sombra das Ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
DECCA, Edgar Salvadori de. A humilhação: ação ou sentimento? In: MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (Org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005.
FREUD, Sigmund. A interpretação dos Sonhos. Trad. De Walderedo Ismael de Oliveira. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. Trad. de Frederico Carotti. 2ª ed. São Paulo: Companhia das letras, 1989.
_________________. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. Trad. de Rosa Freire d’ Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
LACAPRA, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: The Johns Hopkins Universty Press, 2001. LEVI, Primo. É isto um homem? Trad. de Luigi Del Re. 3ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
MALERBA, Jurandir (org.). A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
MUDROVCIC, María Inés (editora). Pasados em conflicto: Representación, mito y memoria. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.
MUDROVCIC, María Inés. El debate em torno a la representación de acontecimientos límites del pasado reciente: alcances del testimonio como fuente. Diánoia. México, v.52, n 59, pp. 127-150, 2007.
NORA, Pierre; CHANDERNAGOR, Françoise. Liberté pour l’histoire. Paris: CNRS Éditions, 2008.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Trad. de Alain François. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. (orgs.). Catástrofes e representação. São Paulo: Escuta, 2000.
WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. Trad. de Alípio Correia de Franca Neto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994
Varlei da Silva1 – Mestrando em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Bolsista do CNPq. E-mail: [email protected]
KUCINSKI, Bernardo. K.: relato de uma busca. São Paulo: Cosac Naify, 2014. Resenha de: SILVA, Varlei da. As lacunas e os silêncios de uma busca que não terminou. Aedos. Porto Alegre, v.9, n.20, p.595-605, ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
Corpo, gênero e sexualidade no Caribe / Revista Brasileira do Caribe / 2017
Corpo – gênero – sexualidade no Caribe / Revista Brasileira do Caribe / 2017
O corpo é a expressão material e biológica da existência humana. Mas haveria um corpo material preexistente à experiência cultural? Na tradição ocidental há muito tempo cristalizou-se a ideia essencialista de um binarismo corpo/alma, corpo/espírito, corpo/mente, natureza/cultura. Entretanto, é impossível pensar o ser humano separado da cultura. Nesse sentido, o corpo não pode ser separado da cultura, em uma preexistência, como algo já dado em que se inscreve a experiência social e cultural. Portanto, o corpo é um produto histórico e cultural, e também produtor de cultura, status, identidades e sexualidades.
Se admitirmos que o corpo seja produto e produtor de identidades, então as identidades de gênero são mesmo performances sociais contínuas, nem verdadeiras ou falsas, nem reais ou aparentes, nem originais ou derivadas. Por conseguinte, as sexualidades também constituem disposições, representações e práticas voltadas para a experiência do desejo que contribuem na formação das identidades de gênero e de outra ordem. Por outro lado, a sexualidade também pode ser vista como um dispositivo normativo para controle da dissipação das energias, para o estabelecimento de normas e valores, enfim, para o controle e a docilidade dos corpos.
O trinômio corpo, gênero e sexualidade como produto e produtor das experiências culturais, históricas, políticas e sociais, tem produzido relações de poder em que o masculinismo e a heterossexualidade aparecem como hegemônicos e naturalizados, muitas vezes, marginalizando, excluindo, perseguindo e silenciando outras formas identidárias de gênero e de sexualidade.
Por essas razões, foi organizado para este número da Revista Brasileira do Caribe, um dossiê intitulado “Corpo, gênero e sexualidade no Caribe”, com o objetivo de debater as experiências históricas, artísticas, políticas e sociais dessas três categorias no Caribe. Como corpo, gênero e sexualidade se articulam no Caribe para formar identidades, relações de poder, desejo? O dossiê se inicia com o artigo “El amor en tiempos de Sidentidades: eros y thanatos en las “autohistorias” de Pedro Lemebel y Reinaldo Arenas” de Massimiliano Carta. Nesse artigo, Carta analisa como a obra de Reinaldo Arenas e Pedro Lemebel, no contexto sanitarista da pandemia da AIDS, nos EUA do final do século passado. O texto aborda a questão do amor, da morte, das identidades latino-americanas e LGBTQI (Lésbica, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers e Intersexuais) na formação de identidades, mais especificamente as sidentidades proposta por Llamas.
O segundo artigo, “La metáfora de la libertad: el discurso del cuerpo en la literatura de Zoé Valdés” de Brigida Pastor trata de uma análise do romance La nada cotidiana da escritora cubana exilada em Paris, Zoé Valdés. Pastor aborda em seu artigo o uso da linguagem do corpo utilizada pela escritora Zoé Valdés como instrumento e “estratégia feminina/feminista” de resistência da mulher a qualquer forma de repressão.
O terceiro artigo, “Big Bang o el uso de los cuerpos en la poesía de Severo Sarduy”, de Denise León, trata da obra Big Bang de Severo Sarduy, que explora em sua poesia a divulgação científica, restos literários em uma linguagem minimalista, bem como o papel dos corpos no universo do desejo erótico e sua ambígua trajetória, onde o importante é ter algo ou alguém a quem desejar. São corpos que, nas palavras de León, se quebram sem limites e se abrem em infinita expansão.
No artigo “Corpo e negritude no discurso do rap cubano e do rap brasileiro: diálogos (d)e resistência”, Yanelys Abreu Babi analisa, por meio da análise de discurso de Pêcheux, como as condições de produção, formação ideológica e formação discursiva são usadas na construção de sentidos em torno do corpo negro. Para tanto, o artigo analisa seis letras de rap, compostas por rappers negros de Havana e São Paulo no período entre 2000-2012.
O artigo de Clara Heibron trata da representação da mulher Mokaná. A autora reúne na sua análise uma documentação variada constituída por crônicas, imagens do artesanato local que evidencia o constituir feminino na comunidade Mokaná, especialmente, da mulher mohana, a mulher guerreira.
A seção Outros Artigos abre-se com o artigo “Legal and Extra-Legal Measures of Labor Exploitation: Work, Workers and Socio-Racial Control in Spanish Colonial Puerto Rico, c. 1500-1850” de Jorge Chinea. O artigo analisa e debate a conexão entre trabalho, regimes de trabalho e o desenvolvimento da colônia espanhola de Porto Rico de 1500 até a metade do século XIX, em que os exploradores buscaram extrair o máximo de trabalho da população alvo ao mínimo custo possível para reduzir despesas operacionais e maximizar os lucros em seus empreendimentos de mineração, criação de gado e agricultura, bem como controlar essa população.
O artigo “Convenios laborales de las personas de origen africano y afrodescendientes en el valle de Toluca, siglos XVI y XVII”, de Georgina Flores, Maria Guadalupe Zárate Barrios e Brenda Jaqueline Montes de Oca, também trata da temática do trabalho. Com base na documentação histórica do Arquivo Geral de Notarías do Estado do México as autoras debatem parte da história laboral de homens e mulheres africanos e afrodescendentes que habitaram o vale de Toluca durante o período colonial. O artigo apresenta a forma na qual os escravos alcançaram a liberdade, as atividades realizadas, as relações sociais e econômicas entre os grupos étnicos, os contratos laborais pactuados entre indivíduos de diferentes qualidades etc.
Por sua vez, no seu artigo, “A Revolução Cubana e o perfil ideológico do Movimento 26 de Julho”, Rafael Saddi analisa o perfil ideológico do Movimento 26 de Julho na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista e algumas de suas consequências para a Revolução Cubana após a tomada do poder.
Fechando a seção de outros artigos, “Bob Marley: memórias, narrativas e paradoxos de um mito polissêmico”, de Danilo Rabelo, debate por meio da biografia de Marley as várias representações e discursos elaborados sobre Bob Marley durante sua vida e após a sua morte, estabelecendo significados, apropriações, estratégias políticas e interesses em jogo, bem como as contradições e paradoxos da sociedade jamaicana quanto ao uso das imagens elaboradas sobre o cantor.
Por último, a resenha sobre a obra de Elzbieta Sklodowska “Invento, luego resisto: El Período Especial en Cuba como experiencia y metáfora (1990-2015)” de Marcos Antonio da Silva. O autor nos convida a ler essa importante obra sobre a História do tempo presente em Cuba e as grandes mudanças do fim de século após o desaparecimento do campo socialista e os reflexos dessas transformações no cenário social e cultural da ilha caribenha.
Na oportunidade, agradecemos aos autores e autoras que contribuíram para a publicação deste fascículo e desejamos aos nossos leitores e leitoras uma ótima e proveitosa leitura.
Danilo Rabelo Isabel Ibarra
RABELO, Danilo; IBARRA, Isabel. Corpo, gênero e sexualidade no Caribe. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.18, n.35, jul./dez. 2017. Acessar publicação original. [IF].
A Redemocratização Brasileira e o Seu Processo Constituinte / Cantareira / 2017
No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo
voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição.
(Machado de Assis)
O encerramento dos anos 1980, dando lugar a última década do século, consagrou um marco para a história brasileira, servindo de palco para a retomada, pela sociedade, de uma série de movimentos sociais e culturais. As campanhas em torno de uma Anistia Ampla Geral e Irrestrita e pelas Diretas Já! são exemplos evidentes desse estado de mobilização transformadora – e essa mesma participação popular culminou na luta por uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC), desaguando em uma etapa inédita na vida dos brasileiros. O processo constituinte trouxe reflexos de cunho cultural, social, político e jurídico, chegando ao seu ápice na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB / 88) – considerada, segundo expressão do constituinte Ulysses Guimarães, uma “Constituição Cidadã”.
Durante seus 18 meses de funcionamento, a ANC ocupou o centro do cenário político, mobilizando forças e atenções de agentes nas escalas políticas e populares. Os 584 dias que se seguiram à instalação da ANC de 1987-88 foram marcados por disputas e acordos, bem como por uma relação, sem precedentes, entre atores parlamentares e extraparlamentares. Segundo o cientista político Antônio Sérgio Rocha, estima-se que nove milhões de pessoas tenham passado pelo Congresso Nacional naqueles dois anos [2]. Porém, as mobilizações não ocorreram apenas durante a ANC; começaram bem antes, dentro e fora do Congresso, por meio do envio de cartas, telegramas e sugestões e caravanas, entre outras manifestações.
Uma série de desconhecidos se comprometeu com a Constituinte, ampliando a rede de atores que, até então, era composta quase que apenas por líderes políticos. Além dos partidos, inúmeras organizações da sociedade, como sindicatos e associações, dialogaram com a população acerca da Constituinte. O debate político incluía palavras de ordem e uma luta por um espaço visual para que permitisse colocar em evidência as mais diversas reivindicações. Neste contexto, foi criado o slogan “Constituinte sem povo não cria nada de novo”[3].
A compreensão de um fenômeno cultural só pode ser entendida em prisma histórico através da reconstrução do ambiente social e político onde ocorreu o debate. Logo, é preciso registrar que este período de transformações no cenário político foi marcado pela junção de duas forças: centrífuga, de dentro para fora, notadamente por meio da transição política conservadora, lenta e gradual, firmada através de acordos; e centrípeta, de fora para dentro, principalmente no que diz respeito à feitura da vindoura Carta Magna de 1988, baseada na participação popular. Em termos simbólicos, o processo de redemocratização visava ao equilíbrio da conjuntura, mas não às custas da herança institucional do passado. Contudo, em termos práticos, a mobilização popular foi o “x” da questão, equacionando a seguinte fórmula final: uma nova Constituição, elaborada por uma ANC que fora, por sua vez, pressionada pelas campanhas do próprio destinatário do documento final: o povo. Este, por seu turno, contribuiu fortemente para a confecção do diploma constitucional de 1988, impedindo, por meio da reivindicação de seus direitos, que o texto definitivo revelasse carga ainda mais conservadora.
Tendo em vista a coexistência inevitável, portanto, de forças opostas, contesta-se a ideia de que a transição esteja relacionada exclusivamente à operação do sistema político, que enfatiza as instituições e a negociação entre os parlamentares, deixando de analisar o papel dos movimentos sociais e sua relação com o Estado. É preciso abandonar o enfoque exclusivo da faceta da democratização relacionada às instituições políticas para abarcar, também, as ações sociais.
Faz-se necessário, ainda, calibrar o olhar e projetar a análise para o tempo atual, uma vez que o presente só pode ser compreendido de forma plena por meio de uma investigação do passado, de modo a promover uma síntese da dinâmica destes tempos, que se comunicam em via de mão dupla: “A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente”[4].
Outra citação se faz pertinente: “O meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio do meu passado”[5]. Se, em seu tempo, o poeta Mário de Andrade encontrou razões para estranhar o passado, que dizer do tempo atual, neste século XXI? Além do passado, o presente também é analisado de forma desconfiada. A recente expansão de ideologias antidemocráticas – tais como o clamor pela volta dos militares ao poder – deixa em evidência o quanto “é preciso estar atento e forte”, como já diziam Caetano Veloso e Gilberto Gil na música Divino, Maravilhoso.
O advento, nestes últimos anos de crise política, de novas medidas normativas voltadas para alterações no panorama da Carta Magna de 1988 endossa o presente apelo. É manifesto que o rumo de supressão de direitos e garantias individuais e coletivas em nome de interesses políticos conservadores, importa na transgressão ao espírito garantista da ANC de 1987-88 e à letra da norma petrificada nos títulos da CRFB / 88, intitulados “Dos Direitos e Das Garantias Fundamentais” e “Da Ordem Social”[6]. Dentre as mudanças mais recentes que acenam para a retirada de direitos, destaca-se a reforma trabalhista, engendrada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Em contraste com o direcionamento adotado rumo à ANC de 1987-88, por meio do qual se buscava consolidar uma nova e relativamente ampla gama de direitos no seio constitucional, a tônica que hoje se desvela traz um cunho predominantemente autoritário. Dentro deste entrelace do ontem com o hoje, os acontecimentos do passado constituinte atravessaram os anos, perpetuando-se nos dias atuais. Por que, afinal, apesar de registrarem aspectos específicos de seu momento, seus embates e expectativas persistem? Frente a esse novo cenário, muito mais complexo e desafiador, a população não espera concessões da parte dos poderes estabelecidos – o que, curiosamente, evidencia o entrelace entre tempos idos e presentes e remete aos versos de Geraldo Vandré, na música “Pra não dizer que não falei das flores”, que traduzem a inquietude e a necessidade de ação: Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Esta edição tem por objetivo elucidar a redemocratização brasileira e a importância do processo constituinte para o entendimento dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo, cujas políticas públicas, em grande parte, possuem fundamento nas reivindicações daquele período. A redução da distância entre o processo constitucional e as práticas cotidianas fomentou o amadurecimento das experiências e de novas iniciativas rumo ao fortalecimento da identidade do povo brasileiro. O novo diploma legal incorporou ideias comprometidas com os direitos sociais e individuais, corroborando a noção de que o processo constituinte democrático estabelece novas bases de fortalecimento popular à medida em que investiga o passado com o intuito de ascender a um novo patamar na emancipação social.
Quatro artigos abordam temas relacionados à temática deste dossiê. O primeiro, intitulado Um Olhar Histórico-Jurídico da Liberdade Religiosa no Brasil: do Império à Constituição Cidadã (1824 a 1988), de autoria de Walber da Silva Gevu, faz um apanhado histórico que visa compreender o avanço do instituto da liberdade religiosa ao longo das Constituições brasileiras de 1824 até 1988 – enfatizando os avanços nesta última e a preocupação com os tempos presentes que, segundo o autor, “parecerem sombrios e de retrocesso”.
O segundo, por sua vez, foi escrito por Aílla Kássia de Lemos Santos, tendo como título Movimentos Negros em Pernambuco e a Imprensa Negra como estratégia de luta (1980-1990). O artigo examina o Movimento Negro Unificado de Pernambuco no período de redemocratização do país entre os anos de 1980 e 1990, suas estratégias de luta e sua relevância para a sociedade, notadamente nas suas ações voltadas para o combate ao racismo e ao mito da democracia racial.
As Diretas Já foram analisadas no terceiro artigo, intitulado Indiretamente pelas Diretas. A Democracia Corinthiana no Conjunto das Manifestações pelas Diretas Já!, de coautoria de Ana Cláudia Accorsi, Gabriel Félix Tavares, Mateus Henriques de Souza e Nathália Fernandes Pessanha. Neste texto, a Democracia Corinthiana é considerada como um movimento da década de 1980 que lutava não apenas pelas demandas do futebol, mas também pelo voto. Os autores procuram entender a inserção de tal movimento no contexto das Diretas Já, ilustrando a transformação do estádio esportivo em espaço de manifestação política.
O quarto e último artigo do dossiê – Mídia e Democracia: a Atuação dos Jornais na Ruptura da Ordem Constitucional de 1964 e no Cenário de Reabertura Política, de Matheus Guimarães Silva de Souza – está centrado no debate acerca da mídia e da democracia, por meio da análise de fontes de jornais. O autor aponta que a mídia contribuiu para a subida e consolidação dos militares ao poder político, elaborando um panorama do golpe de 1964 enquanto mostra a participação das principais publicações brasileiras como responsáveis pelo curso da história. O autor visa não somente alicerçar o regime autoritário, mas também a ação de tais veículos de comunicação, almejando “reaver a atuação da mídia durante o processo de redemocratização do país”.
Também constam quatro artigos da seção livre, a saber: o primeiro, de autoria de Robson Williams Barbosa dos Santos, aborda o papel desempenhado pelos escravos do rio Poxim na Vila Real de São José do Poxim, atual município de Coruripe (Alagoas), sendo intitulado Fragmentos da Escravidão em Alagoas: Escravos, Sociedade na Villa Real de São José do Poxim – 1774 a 1854; o segundo, intitulado O instrumento da Correição Geral na São Paulo Setecentista: o Caso do Juízo dos Órfãos (1744), de autoria de Amanda da Silva Brito, trata do “papel da correição geral enquanto mecanismo de disciplinamento da ação do juiz de órfãos”, no século XVIII; o terceiro, por sua vez, escrito por Denilson de Cássio Silva, chama-se O ‘Afeto das Palavras’: Pátria, Nação e Estado em Fernando Pessoa, Mário de Andrade e Cecília Meireles (Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro, Primeira Metade do Século XX), e tem por objetivo abordar, nos textos de Fernando Pessoa, Mário de Andrade e Cecília Meireles, os conceitos de “pátria”, de “nação” e de “Estado”; e o quarto e último possui como título Cultura em Campo: Entre o Elitismo e a Popularização do Futebol (1897-1938), de autoria de Lucas de Carvalho Cheibub, e tem por foco o exame do “processo de popularização do futebol na sociedade do Rio de Janeiro, durante a Primeira República”.
Encerrando esta edição, apresenta-se entrevista com a parlamentar constituinte de 1987-88 e atual Deputada Federal Benedita da Silva. Independentemente de bandeira partidária, é necessário ter acesso à perspectiva de quem participou diretamente do processo, de modo a evidenciar, sob o olhar de um dos Constituintes, a trajetória daquele momento histórico e expor alguns dos resultados das dinâmicas de enfrentamento, das disputas de poder e das resoluções de interesse entre parlamentares e extraparlamentares.
Tendo em vista os 30 anos da inauguração da ANC, em 1º de fevereiro de 1987, e da própria promulgação da Constituição Federal, em 2018, as questões abordadas neste dossiê assumem dimensões de destaque, invocadas que são por estas datas comemorativas. O desenvolvimento de uma análise sobre as relações entre a sociedade brasileira e o seu processo de redemocratização, pela via constitucional, tem sua importância, assim, amplificada.
Boa Leitura!
Notas
- ROCHA, Antônio Sérgio. “Genealogia da Constituinte. Do autoritarismo à Redemocratização”, Lua Nova: Revista de Cultura e Política, Dossiê “Constituição e Processo Constituinte”, nº88, 2013, p.74.
- BRANDÃO, Lucas Coelho. Os movimentos sociais e a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988: entre a política institucional e a participação popular. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2011, p.217
- BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001, p.65.
- ANDRADE, Mário de. O movimento modernista. Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Livraria Martins / INL, 1978, p.254.
- Títulos II e VIII da Carta Magna, respectivamente
Aimée Schneider Duarte – Doutoranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: [email protected]
DUARTE, Aimée Schneider. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.27, jul / dez, 2017. Acessar publicação original [DR]
As conexões e as dinâmicas atlânticas na formação do mundo moderno / Anos 90 / 2017
Entre os dias 5 e 7 de novembro de 2014, o Instituto Latino- -Americano de Estudos Avançados (ILEA–UFRGS) foi palco do Seminário Internacional Conexões Atlânticas – evento promovido pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e organizado por nós, juntamente com o colega Luiz Alberto Grijó. O Seminário pretendeu ser um espaço de debates sobre a história brasileira entre os séculos XVI e XIX, a partir de perspectivas historiográficas recentes que tratassem das múltiplas dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais mais globais, com ênfase nas inter-relações entre as sociedades atlânticas – Europa, África e as Américas. Entendíamos que era um momento mais do que necessário para tais reflexões e debates, uma vez que o número de professores e estudantes brasileiros no exterior aumentava a cada ano, implicando em uma intensa troca de ideias e experiências acadêmicas com pesquisadores estrangeiros. Além disso, de uma realidade em que a nossa história era unicamente objeto de estudo de pesquisadores europeus e norte-americanos, os últimos anos nos revelavam um sentido inverso, pois numerosos grupos de historiadores brasileiros cada vez mais pesquisavam a história dos países latino-americanos, da Europa medieval e moderna e das sociedades africanas, entre outras. Portanto, o Seminário buscou oferecer uma oportunidade para pensarmos os mencionados caminhos até então percorridos e as possibilidades de pesquisa abertas às gerações futuras.
Historiadores e historiadoras nacional e internacionalmente renomado(a)s conferenciaram ao longo dos três dias, revisitando antigos debates reanimados à luz de novas pesquisas, e propondo novos enfoques analíticos sobre diferentes temáticas. Carlos Alberto Sánchez e Giovanni Levi trataram da Atlantic History, suas contribuições, seus desafios e seus limites analíticos; João Paulo Pimenta, Ana Frega, Gabriel Di Meglio e Jose Carlos Chiaramonte proferiram suas falas a respeito do processo de Independência no sul da América e suas conexões políticas com o outro lado do Atlântico; Marcus Carvalho, Paulo Moreira e Eduardo França Paiva relacionaram a escravidão africana com o tráfico transatlântico e às dinâmicas de mestiçagem; João Luís Fragoso e Ana Volppi Scott refletiram sobre as migrações, as relações familiares e o uso das fontes paroquiais para o estudo do Brasil colonial; Tiago Luís Gil e Maria Fernanda Martins palestraram a respeito das estratégias sociais das elites luso-brasileiras no século XVIII; e Angela Alonso tratou das redes de relações e do papel dos mediadores no movimento abolicionista internacional no século XIX. Neste sentido, o presente Dossiê foi pensado não apenas como um capítulo final do Seminário que obteve um grande sucesso de público, como também um outro espaço para propiciar novas reflexões a respeito do tema, visto que o número de pesquisas inspiradas pelo mesmo continua crescendo.
Nos últimos anos, a grande repercussão internacional de algumas matrizes historiográficas que apostam nas abordagens e métodos de análise em escala mais global é notável. A “Global History”, por exemplo, tem pautado coletâneas, debates em periódicos e temáticas de eventos no mundo todo. Contudo, no que diz respeito à história das sociedades ocidentais, a chamada “Atlantic History” também atraiu uma série de investigadores preocupados com a chamada “formação” do mundo moderno entre os séculos XV e XIX. Fruto de uma iniciativa da parte de um grupo de historiadores da Universidade Johns Hopkins, liderados por Jack Greene, os mesmos adotaram o Atlântico como campo de investigação e promoveram um amplo e dinâmico grupo de pesquisa que reunia metodologias interdisciplinárias e uma perspectiva comparativa. Uma das propostas do grupo era fugir do molde imperial ou nacionalista das análises anteriores, atravessando divisas e fronteiras e estudando os movimentos das pessoas, de animais, de plantas e mercadorias, com fins de reconstituir o ir e vir de costumes, ideias, estilos e artes. Ao reunir estudiosos de várias disciplinas, as novas pesquisas contribuíram para a criação de uma nova perspectiva e uma aproximação original das facetas do Atlântico e da inter–conectividade dos povos que habitavam as costas dos continentes banhados pelo mesmo oceano.
Não demorou muito e estes ventos começaram a soprar para os lados do Brasil. Dialogando com estas e outras correntes historiográficas, um número significativo de pesquisas proporcionou uma profunda revisão de interpretações clássicas a respeito de temas ligados tanto à América portuguesa quanto ao Brasil monárquico. Por ocasião destas recentes perspectivas, a constituição da sociedade colonial tem sido entendida nos quadros do Império português e sob uma comparação mais complexa com outras realidades coloniais do período. O maior número de estudos escritos por africanistas possibilitou uma melhor compreensão da escravidão, do tráfico atlântico e das sociedades neles envolvidas sob uma perspectiva multiculturalista, valorizando, cada vez mais, a história da África e a sua importância para a compreensão da história do Brasil. A história dos povos originários também se viu renovada, apresentando importantes contribuições a partir de um diálogo mais aproximado com a Antropologia e a Arqueologia. As diferentes sociedades escravistas do atlântico, as migrações em escala mais global, as diversas elites locais forjadas em economias agrárias e mercantis, seus espaços de atuação e suas estratégias e a possibilidade de compará-las umas com as outras tem oferecido uma visão do passado muito mais complexa do que há 40 anos. Com relação aos aspectos políticos e econômicos, a preocupação em vincular a crise do Antigo Regime europeu com o processo de independência das colônias americanas e as distintas trajetórias institucionais dos Estados constituídos durante a “Era das Revoluções” com o avanço do capitalismo e a desagregação das economias escravistas tem crescido bastante. Em suma, pode-se dizer que a configuração de um mosaico social e econômico tem se tornado cada vez mais claro aos pesquisadores que buscam estudar realidades históricas circunscritas regionalmente sem perder de vista as dimensões atlânticas em que as ditas sociedades estavam envolvidas.
Não se pode dizer que estas preocupações estavam totalmente ausentes em pesquisas realizadas antes dos anos 1970. Contudo, a renovação historiográfica posterior pautou os novos estudos a partir de referenciais teóricos e metodológicos distintos. Escapando da rigidez estruturalista e dos postulados caros à Teoria da Dependência, a perspectiva atlântica das décadas posteriores trazia consigo um maior protagonismo dos agentes históricos, dialogando com uma história vista debaixo, e trazendo para o centro das atenções estudos referentes ao papel dos indígenas, dos escravos, dos libertos, dos homens livres pobres, das mulheres de todas as classes sociais, em diferentes enfoques. As noções de “Centro” e “Periferia”, “Metrópole” e “Colônia”, “Colonizadores” e “colonizados” foram revistas. Neste sentido, os antes chamados “povos sem história” também foram contemplados e a sua ação social foi encarada como ingrediente cultural fundamental na constituição das sociedades atlânticas do mundo moderno. Para tal empreitada, novas fontes documentais foram descobertas e novos métodos em história social disseminaram-se entre os historiadores que buscam a comparação de resultados gerais sem deixar de atender à riqueza das trajetórias individuais. O presente Dossiê reúne seis artigos e todos eles são tributários de parte dessas reflexões e debates.
Carlos Alberto Sanchez estuda o profundo impacto do descobrimento e da conquista da América no imaginário dos europeus do século XVI. Sevilha é destacada como a grande metrópole do século e, ao lado de Lisboa, tornou-se o eixo que coordenava as dinâmicas políticas e econômicas atlânticas daquele novo mundo. Por fim, o autor advoga a necessidade de se praticar uma “nova história atlântica” que integre o Mundo Atlântico em um contexto mais amplo da história global. Uma história que integre todas as Américas (espanhola, portuguesa, inglesa, francesa e holandesa) e que supere uma historiografia empenhada em destacar apenas as diferenças e disparidades. Neste sentido, critica vertentes que enfatizam a excepcionalidade do caso norte-americano que exibe o sucesso do norte frente ao fracasso do sul, trazendo para o debate interpretações que defendem que a colonização puritana da Nova Inglaterra foi, também, uma continuação dos modelos ibéricos e não um capítulo de ruptura na história do período.
Rubens Leonardo Panegassi analisa o contexto intelectual que caracterizou a formação do mundo moderno enquanto espaço de circulação de ideias e juízos diversos. Para tanto, o autor recupera o senso de ordem social próprio do imaginário europeu da primeira modernidade a partir de diferentes registros literários produzidos no contexto do Renascimento ibérico. Tais registros remeteriam ao ideário do cristianismo primitivo – referência intelectual coerente aos propósitos espirituais da mundialização levada a cabo pelos ibéricos. Portanto, apesar das concepções etnológicas da primeira modernidade serem tributárias do “pensamento patrístico”, elas se vinculam à experiência estatal moderna. Neste sentido, nas palavras do autor, a sujeição política foi a tônica dominante do fenômeno da mundialização.
Fernando Bouza analisa os debates gerados no século XVII a respeito das potencialidades da exploração comercial da erva-mate (Ilex Paraguaienseis). Sua pesquisa permite acompanhar as discussões que pautaram a construção de saberes locais na América do Sul na primeira metade do seiscentos. No memorial enviado ao rei Felipe IV, pelo fray agostinho Gonzalo del Valle, em 1637, onde consta a sugestão de introduzir uma nova taxa sobre o consumo da erva mate paraguaia, – é possível compreender as estratégias presentes na tomada de decisão pelo governo espanhol e os critérios adotados nos assuntos referentes as Índias ocidentais. Bouza trabalha com documentos inéditos a respeito da produção, distribuição e consumo de erva mate nas colônias espanholas até sua eventual chegada na corte espanhola. A discussão reporta a um debate intelectual travado entre sujeitos que ocupavam posições de destaque tanto na Península Ibérica como na América, gerando uma circulação de saberes entre as duas margens do Atlântico, tema que evidencia as conexões entre o Velho e o Novo mundo.
Fábio Kuhn trabalha com a construção da hegemonia portuguesa no contrabando de escravos para o rio da Prata durante a primeira metade o século XVIII. Enquanto que entre 1715 e 1730, os contrabandistas luso-brasileiros atuaram a partir da Colônia de Sacramento, afrontando diretamente os interesses britânicos estabelecidos em Buenos Aires, após essa conjuntura, e por conta de mudanças no contexto político e da nova guerra anglo-espanhola que interrompeu as operações da South Sea Company no rio da Prata, o predomínio lusitano consolidou-se. Os traficantes luso-brasileiros passaram a tomar conta do negócio negreiro estabelecendo as conexões atlânticas necessárias para formação de uma rede de agentes envolvidos no comércio ilícito de cativos. O contrabando trans -imperial de escravos conectou os traficantes luso-brasileiros que operavam na Colônia do Sacramento aos dois principais portos negreiros da América portuguesa (Rio de Janeiro e Salvador). Tais negócios foram fundamentais no desenvolvimento econômico e social da região platina, aproximando mais ainda os interesses dos colonos tanto do lado português quanto do lado espanhol das fronteiras imperiais.
A presença de comerciantes estadunidenses no Rio da Prata entre a última década do século XVIII e o fim do período das independências na América do Sul é o objeto do artigo de Fabrício Prado. Normalmente negligenciada por historiadores em detrimento de análises da consolidação dos laços comerciais entre os países sul-americanos e o império britânico, a presença comercial norte-americana, de acordo com Prado, se estabeleceu através de redes construídas no contexto do domínio colonial ibérico na região do Prata e se reconfigurou de acordo com as mudanças políticas, entre elas a invasão de Napoleão à Espanha, a subsequente tomada de Montevidéu e Buenos Aires pelos ingleses nos primeiros anos do oitocentos, o período das guerras revolucionárias e, no caso de Montevidéu, o período Cisplatino. As flutuações das relações entre mercadores norte-americanos e as elites locais são aqui estudadas através da presença de navios estadunidenses na região do Prata.
Finalizando o Dossiê, Jonas Vargas estuda a importância da Irlanda na produção e no comércio atlântico das carnes preparadas nos séculos XVII e XVIII e de como tal êxito serviu de modelo para as Coroas ibéricas incentivarem a criação das suas próprias fábricas de carnes em barris no sul da América. Apesar da vinda de mestres irlandeses para as principais cidades da região, as tentativas foram frustradas e um outro tipo de carne, mais simples e de qualidade inferior (e que já era do conhecimento dos indígenas americanos), acabou vingando. O charque (que no Rio da Prata era conhecido como tasajo) trouxe grande riqueza para os investidores de Pelotas, Montevidéu e Buenos Aires e teve uma função primordial no interior dos sistemas econômicos que caracterizaram o mundo atlântico no colonial tardio, pois fomentou a entrada de escravos africanos para trabalharem nas fábricas, abasteceu as plantations açucareiras e cafeeiras do Atlântico e garantiu a alimentação da tripulação dos navios negreiros.
Boa leitura!
Eduardo Santos Neumann – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Jonas Moreira Vargas – Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Renata Dal Sasso Freitas – Universidade Federal do Pampa (Unipampa).
NEUMANN, Eduardo Santos; VARGAS, Jonas Moreira; FREITAS, Renata Dal Sasso. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 24, n. 45, jul., 2017. Acessar publicação original [DR]
A grande estrangeira: sobre literatura – FOUCAULT (A)
FOUCAULT, Michel. A grande estrangeira: sobre literatura. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. Resenha de: LIMA,Wallas Jefferson de. Antítese, v. 10, n. 20, p. 1115-1119, jul./dez., 2017.
Além da multiplicidade de releituras, acredita-se que o mais impressionante na obra de Michel Foucault é sua pluralidade de interesses, temas e objetos de estudos, a aplicação que ele fez de sua habilidade de escrita e pensamento a tantos campos de pesquisa, indo da Filosofia e da História a ensaios acerca do poder, da loucura, da sexualidade, da penalidade, da linguagem e da estética, sem esquecer os registros de suas aulas, as entrevistas concedidas e sua atuação direta nos acontecimentos da França de 1968. Teria sido tudo isso um acaso? Alguns afirmam que essa variedade simbiótica entre teoria e prática foucaultiana deve ser aclamada como riqueza axiomática do filósofo. Outros problematizam que tal escrita, apesar de abastada, tem sido pouco compreendida em sua profundidade. Como é possível que um homem tenha conseguido escrever acerca de tantas temáticas a partir de diferentes aportes teóricos (às vezes contraditórios e discordantes entre si) e sob óticas tão heterogêneas? Qual é o segredo da escrita de Foucault? Tais questões, aparentemente irrelevantes, são suficientes para explicar os motivos da paralisia crítica presente atualmente nas Ciências Sociais em relação ao autor de História da Loucura. Ocorre que se tem esbarrado, quase sempre, na espantosa complexidade dessa escrita polivalente, ainda hoje não assimilada em sua totalidade. E poderia ser diferente? Entretanto, dentre tantos livros já escritos acerca de Foucault, talvez pouco tenha sido dito em relação ao complexo vínculo estabelecido entre ele e a Literatura. O que um tem a dizer a respeito do outro? Em A grande estrangeira, tais questões são problematizadas e demonstram que até mesmo os labirintos da escrita se tornaram um problema para esse filósofo. Essa inquietação com o literário, é verdade, não é algo novo em Foucault. Mas, constata-se que nessa obra ela ganhou novas perspectivas analíticas: o que está em jogo é uma investigação que toma como problema filosófico a polivalência das formas, as estratégias, os usos, as modalidades, as enunciações, os procedimentos e a construção das narrativas dentro do campo literário.
Formulada assim, é possível asseverar que o elo entre Foucault e a Literatura abarca múltiplos desdobramentos. A presente edição sustenta-se referencialmente em transcrições datilografadas de pronunciamentos públicos feitos pelo próprio Michel Foucault – seja em programas radiofônicos ou em conferências. É o caso do primeiro capítulo, A linguagem da loucura, em que o filósofo analisa as diferentes formas de linguagens patológicas por meio de duas transmissões radiofônicas no programa L’Usage de la Parole, veiculados pela RTF France III National e dirigido por Jean Doat. Foucault analisa a figura do louco a partir de releituras de Cervantes, Shakespeare, Corneille, Gérard de Nerval, Raymond Roussel, Mario Ruspoli, Michel Leiris, Jean-Pierre Brisset e Henri Michaux. Lendo citações de textos literários, o pensador francês explica como a cultura ocidental silenciou a loucura e, paralelamente a esse fenômeno, criou a ideia de que os loucos possuem uma linguagem peculiar caracterizada pela sobrecarga, por signos e por “delírios epistemológicos” (FOUCAULT, 2016, p. 63). Se analisada mais de perto, é possível afirmar que a Literatura ora buscou afastar a loucura de sua visão, ora lançou-lhe um olhar distante, tomando-a pelo seu lado cômico, irônico e melancólico. É o que pode ser percebido por exemplo, na figura de Dom Quixote. O estudo da Literatura, sob o ângulo dessa tensão entre loucura e linguagem, ainda está por ser feito, mas isso não significa, reconhece Foucault, que “toda linguagem de loucura tenha uma significação literária” (FOUCAULT, 2016, p.70). Há, naturalmente, problemas epistemológicos intricados a serem resolvidos, o que torna o discurso do louco um problema a ser examinado pela estética literária.
O capítulo dois, Linguagem e Literatura, é a transcrição de uma conferência realizada em 1964, na Facultés Universitaires Saint-Louis, em Bruxelas. Foucault inicia sua fala questionando o que é a Literatura, considerada como um objeto estranho. Para ele, antes de responder a essa pergunta, é necessário distinguir três coisas: a linguagem, as obras e, por fim, a Literatura. Chamada de “vértice de um triângulo”, a Literatura pode ser entendida como um “texto feito de palavras (…) escolhidas e arranjadas” (FOUCAULT, 2016, p. 81) que constrói em seu interior duas figuras importantes: a figura da transgressão e a figura da morte. A complexidade implicada pelo estudo dessas duas figuras demonstra o quanto a escrita do Marquês de Sade simboliza essa palavra transgressiva, interdita, profana e de morte.
Analisando escritos de Dostoiévski, Proust, Diderot e Joyce, Michel Foucault explica que a Literatura é uma espécie de jogo que coloca em seu meio o simulacro, o irreal, o fantasioso em que o tempo é encerrado, longínquo e irrecuperável. Nessa perspectiva, não é um acaso que Proust tenha intitulado sua obra mais famosa de Em busca do tempo perdido. O tempo da escrita literária é, para Foucault, fragmentado, despedaçado e disperso. Essa preocupação com o tempo não é, aliás, característica apenas da escrita proustiana; ela também é encontrada em Ulisses, de James Joyce. Nessa obra, o tempo e o espaço constituem configuração essencialmente circular: todo o livro passa-se em um único dia, em uma única cidade; o círculo temporal vai da manhã à noite e o personagem dá voltas, passeia, caminha por esse espaço virtual, vivenciando as ruas, as multidões e os ambientes diversos.
É no interior dessa relação entre tempo e espaço que Foucault estuda, ainda, a linguagem literária. Esta experiência representa uma espécie de releitura acerca dessa linguagem, caracterizada por seus redobramentos, suas reduplicações e repetições. Em síntese: a literatura é uma linguagem ao infinito. O filósofo francês dedica-se a estudar as noções de metalinguagem e esoterismo estrutural a partir de releituras do linguista russo Roman Jakobson. A ideia central é analisar as formas da linguagem, seus códigos e suas formas para compreender como a Palavra literária (com P maiúsculo) faz-se presente de forma soberana ao leitor. Trata-se de uma espécie de decodificação do discurso que objetiva compreender como a palavra literária – um simples texto de palavras – se metamorfoseia e transforma-se em palavra deificada, glorificada, sublimada, enaltecida. Por que ela é respeitada? Por que a palavra do literário extasia, fascina, deslumbra? Como se dá essa mudança? A partir de que meios isso acontece e sob que condições? Essas são, ao que tudo indica, as preocupações principais de Foucault. Do ponto de vista da literatura, ele levanta e deixa em suspenso problemas interessantes: como se pode analisar essa linguagem? Como esboçar uma teoria que leve em consideração a estrutura de repetição dessa linguagem? Para responder a tais questões, seria preciso, segundo Foucault, levar adiante uma análise semiológica que estabelecesse qual é o “sistema de signos” (FOUCAULT, 2016, p. 118) que funciona no interior de uma obra literária. Isso é importante, uma vez que a Literatura não se realiza com beleza e sentimentos, mas com ideias e linguagem. Foucault faz o leitor pensar o literário a partir de uma combinação de signos verbais à maneira de Saussure. Que signos seriam esses? São, antes de tudo, signos de escrita aqui entendidos como “certas palavras ditas nobres” (FOUCAULT, 2016, p. 119), constituindo-se, também, em espécies de estruturas linguísticas caracterizadas por certa configuração e por uma narrativa literária que lhe são próprias. São esses signos e estruturas significantes que ajudam o crítico literário a diferenciar Proust de Balzac, por exemplo. Em outras palavras, os signos dão uma identidade à obra literária. Capitalizam as mobilidades léxicas. Restauram heranças verbais. Exprimem um pensamento individual. A Literatura nasce, enfim, dessas misturas heterogêneas e complexas.
O terceiro capítulo, Conferência sobre Sade, contém duas sessões de uma palestra proferida por Foucault na Universidade do Estado de Nova Iorque, em Buffalo. A primeira sessão examina a relação entre desejo e verdade na obra do Marquês de Sade. Tendo como mote La Nouvelle Justine, Foucault envereda-se pela escrita labiríntica sadiana e, percorrendo-a, explica que ela se situa do início ao fim sob o “signo da verdade” (FOUCAULT, 2016, p. 141). A verdade, na Literatura francesa do século XVIII, era uma tradição usada como procedimento de autenticação da história narrada. Mas, que tipo de verdade é essa? Essa verdade, segundo o filósofo, “não pode absolutamente ser tomada ao pé da letra” (FOUCAULT, 2016, p. 144). A realidade ontológica da escrita sadiana está posta no centro do debate. Difícil saber o quanto Foucault terá tentado seguir o conselho de Georges Bataille, pensador da transgressão e do erotismo1. O fato, entretanto, é que para discutir a função da verdade sadiana, noção repleta de problemas epistemológicos, foi-lhe necessário não apenas mergulhar no pensamento de Bataille, a quem admirava2, mas também atravessar sua análise com referências implícitas ao autor de Histoire de l’oeil. Para Foucault, a função da ‘verdade” em Sade é sobrecarregar o texto, redobrá-lo e exasperá-lo ou, em outras palavras, “fazer aparecer no exercício da dominação, da selvageria e do assassinato alguma coisa que seja uma verdade” (FOUCAULT, 2016, p. 145). Entretanto, pelo caráter essencial que preside essa verdade, a escrita de Sade está, desde já, destinada a auxiliar o erotismo, a sexualidade e a fantasmagoria individual. Ocorre, dentro desse contexto, uma espécie de junção entre imaginação e escrita que confere aos personagens seu caráter de degradação. Ora, onde reside essa verdade? Na técnica de escrita do libertino que Foucault passa a analisar. Como esquema geral, pode-se afirmar que essa escrita atua como “elemento intermediário entre o imaginário e o real” (FOUCAULT, 2016, p. 153). Somente quando posta no papel é que a imaginação ganha ares de realidade. Tal escrita é, portanto, um procedimento que conduz ao real, na medida em que repele a imaginação do escritor. Ela comporta regras específicas. Faz sua historicidade específica. Produz sua unidade a partir do pensamento. Essa situação se redobra em uma outra, que dela é indissociável para o leitor: que papel desempenha essa escrita? Para Foucault, a escrita sadiana possui quatro funções: afastar a porosa fronteira entre realidade e imaginação; apagar os limites do tempo no intuito de liberar a repetição; permitir à imaginação superar seus limites; e, por fim, colocar o escritor em uma espécie de singularidade na qual as fantasias, os limites, o tempo, as normas e os costumes não mais exercerão influência em seu corpo.
A segunda sessão analisa o significado da alternância entre discursos teóricos e cenas eróticas presentes na obra de Sade. Essa alternância é uma verdadeira obsessão ou, para ser mais exato, uma espécie de “regularidade mecânica” (FOUCAULT, 2016, p. 163) na qual cada cena de sexo é precedida de um discurso teórico. Que conclusão tirar daí? Seguindo a pista dada por Foucault, isso seria consequência de um desejo de representar teatralmente e justificar o que será encenado. Esse discurso não objetiva, como muitos tendem a acreditar, explicar o que é a sexualidade. Na verdade, para Foucault, os discursos de Sade “não falam da sexualidade” (FOUCAULT, 2016, p. 164); discorrem acerca de Deus, do contrato social, do conceito de crime, da natureza humana, da transgressão. A segunda consequência que se pode tirar é que o discurso serve para “construir o teatro onde a cena se desenrolará” (FOUCAULT, 2016, p. 165). Inteiramente ligado à trama, o discurso teórico de Sade possui uma ligação com a excitação sexual. Ele estreita as ligações entre os parceiros sexuais, atua frequentemente como elemento estimulante e, por essa via, ajuda no desenvolvimento da encenação. As palavras são, portanto, o motor do desejo, seu princípio, sua mecânica e seu eixo. É uma espécie de escrita que altera o corpo ao mesmo tempo em que edifica o discurso. Os termos dessa equação se equivalem e, portanto, se reiteram. Por isso, discurso e desejo se encadeiam um no outro.
Comparado a um poliedro de quatro faces, o discurso sadiano possui em sua base quatro teses de inexistência: primeiro, constata-se que Deus não existe, uma vez que ele é contraditório, impotente e mau; segundo, afirma-se que a alma não existe porque, estando submetida ao corpo, é material, sendo, portanto, perecível; terceiro, depreende-se que onde “não há lei, não há crime” (FOUCAULT, 2016, p. 168), uma vez que se uma lei não proíbe algo esse “algo” não existe enquanto ato criminoso; por fim, nota-se que a natureza não existe ou, se existe, é apenas sob o signo da destruição, o que significa afirmar que é a natureza que destrói a si mesma. Que tipo de indivíduo assimila esse tipo de discurso? O libertino, sujeito que não está ligado a nenhuma eternidade, que não reconhece nenhuma soberania acima dele (Deus, alma, lei, natureza, etc.), que não reconhece nenhuma norma e que possui existência irregular.
Foucault se questiona para que servem esses discursos. Que função exercem no texto? Afirma o filósofo que, em primeiro lugar, elas objetivam aniquilar todos os limites que o desejo talvez possa encontrar, posto que o homem nunca pode renunciar a seus desejos, ainda que, para isso, tenha que sacrificar o desejo do outro. Esse discurso tende a opor-se ao discurso religioso e teológico que é, em relação à escrita sadiana, um “discurso castrador” (FOUCAULT, 2016, p. 170), que visa à renúncia, à negação e à ordem. A segunda função é servir de brasão, ou seja, de signo de reconhecimento, uma vez que a escrita de Sade busca, em sua essência, distinguir os libertinos e as vítimas, duas categorias de indivíduos completamente opostas. Os primeiros encontram-se no interior do discurso e são eles que aceitam as quatro teses da inexistência, tomando seus corpos enquanto objetos usados para o prazer. Os segundos encontram-se no exterior do discurso e são eles que morrem, são torturados, estuprados e violados ao longo da trama. A terceira função refere-se ao que Foucault chama de “função de destinação” (FOUCAULT, 2016, p. 180). Caracterizada pela ideia de que Deus não existe, Sade constantemente afirma em seus escritos que a alma, a natureza e o Divino são quimeras e, portanto, “a inexistência de Deus se consuma a cada instante no discurso e no desejo” (FOUCAULT, 2016, p. 188). A quarta função refere-se à rivalidade: a escrita faz surgir uma pluralidade de sistemas que versa acerca das relações entre os homens, das obrigações, das sanções e do contrato social. Destacam-se, portanto, as noções de desigualdade e violência além do caráter destrutivo da natureza. A escrita sadiana deseja acima de tudo destacar a irregularidade dos indivíduos dentro desse sistema que favorece apenas os libertinos. A última função: “expor o libertino à morte” (FOUCAULT, 2016, p. 193). Todavia, esta morte é algo maravilhoso, uma vez que, para o libertino, a alma não é imortal, Deus não existe e não há crime verdadeiro. Assim, por que o libertino teria medo da morte? Foucault consegue compreender a base da escrita de Sade. São essas funções que, vistas de forma panorâmica, conseguem explicar o edifício completo das obras sadianas.
Dessa forma, literatura, loucura e desejo formam o tripé de A grande estrangeira. Para Foucault, era importante dedicar-se aos volteios da linguagem que – insistente e sutil – tece considerações de ordem existencial, exerce sua influência no cotidiano, produz heróis, relativiza a morte, fornece modelos, cria sistemas e projeta ideais. A literatura é, para Foucault, essa “estrangeira”, esse enigma que precisa de decifração. Seguindo evoluções definidas por novas configurações, a escrita foucaultiana é atravessada por alusões aos sistemas, aos códigos, aos esquemas perceptivos e às técnicas da literatura. Trata-se de um aprofundamento das ideias defendidas em As palavras e as coisas. O estudo dessa tensão entre escrita e vontade, entre palavra e desejo vai habitar toda a extensão dessa obra que se preocupa, quase sempre, em apoderar-se da literatura enquanto estratégia de análise. O leitor, seduzido por esse emaranhado de releituras, se vê perplexo diante dessas problemáticas. Acompanhar a complexidade teórica de Foucault, pleitear sua leitura e avaliar suas análises são procedimentos que, ainda hoje, se continua a fazer. E, ao que tudo indica, essas dificuldades analíticas ainda vão perdurar por muito tempo.
Referências
BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
FOUCAULT, Michel. Presentation. In: BATAILLE, Georges. Oeuvres completes. Paris: Gallimard, 1970.
_____. A grande estrangeira: sobre literatura. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
Notas 1 Bataille afirmava que nada seria mais vão que ler a obra de Sade “ao pé da letra” (BATAILLE, 2015. p. 105).
2 Michel Foucault descreveu Bataille como “um dos mais importantes escritores do nosso século”, uma vez que “a ele devemos em grande parte o momento onde estamos”. (FOUCAULT, 1970. p. 5).
Wallas Jefferson de Lima – Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, vinculado a linha de Pesquisa “Espaço e Sociabilidades“.
A ditadura espelhada: conservadorismo e crítica na memória didática dos anos de chumbo
Alípio da Silva Leme Filho – Mestre em Educação pela Universidade Nove de Julho. Professor Titular de Cargo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e Coordenador na Escola Estadual Reverendo José Borges dos Santos Júnior. E-mail: [email protected]
MAFRA, Janson Ferreira. A ditadura espelhada: conservadorismo e crítica na memória didática dos anos de chumbo. São Paulo: BT Acadêmica/Brasília: Liber Livro, 2014. Resenha de: LEME FILHO, Alípio da Silva. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 9, n. 18, p. 225-228, jul./dez., 2017.
(Des) Caminhos do Ensino de História no Brasil / Revista Trilhas da História / 2017
Os enfrentamentos para professores e professoras de História dos ensinos fundamental, médio e superior têm se configurado como amplos e polêmicos. Em um panorama em que cada avanço parece trazer consigo retrocessos, este dossiê busca pensar quais são alguns dos “(Des)Caminhos do Ensino de História no Brasil”, passando por reflexões acerca de políticas públicas e manuais didáticos, por temas como o Nazismo e Segunda Guerra Mundial diante do saber escolar, por experiências bem sucedidas de programas governamentais e a formação histórica voltada para a Educação do Campo.
O dossiê inicia-se com o artigo de Osvaldo Rodrigues Júnior sobre a reforma do Ensino Médio a partir da lei n°13.415, texto que busca discutir seus impactos para o ensino de História e aponta para a constituição de uma “nova” (e atual) crise do código disciplinar da História no Brasil.
O segundo artigo, de Giseli Origuela Umbelino, busca pensar os livros didáticos a partir de alguns elementos da coleção Nova História Crítica, de Mario Schmidt. A autora analisa impactos e repercussão da coleção entre docentes, jornalistas e no meio acaêmico.
O terceiro artigo, de autoria de Carlos Eduardo Miranda, traz à tona um importante tema curricular: o nazismo. O autor reflete sobre a representação do tema em livros didáticos, bem como sua relação com o universo acadêmico, indicando, por fim, sua importância para a discussão de temas como xenofobia, racismo, intolerância e participação política no espaço escolar.
O quarto artigo, de Jorge Paglarini e Lincoln D´Avila Ferreira, discute o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) a partir das experiências dos autores como coordenador do programa e supervisor na escola, respectivamente. A discussão se pauta nas experiências das ações desenvolvidas na escola e seus alcances diante do que são objetivos gerais do Pibid.
O quinto artigo, contribuição de Mariana Esteves de Oliveira, adentra o espaço da Educação do Campo para refletir sobre o ensino de História a partir do entendimento, por meio de entrevistas, das perspectivas teóricas e influências historiográficas que professores e professoras de História de onze escolas de assentamentos trazem consigo.
Encerrando o dossiê, a contribuição coletiva de Tânia Zimmermann, Mônica Suminani e Márcia Maria de Medeiros, discute um tema caro à História: a Segunda Guerra Mundial. Tomando como ponto de partida o mangá “Gen Pés Descalços” as autoras problematizam a questão da bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima, debatendo os impactos nas práticas e experiências de pessoas que sobreviveram ao episódio da bomba.
Nosso objetivo com esse Dossiê é problematizar alguns dos desafios enfrentados pelo ensino de história no Brasil, desafios que atravessam legislações, instrumentos de ensino, programas voltados para a docência e os próprios temas do ensino de história. Cientes da importância desse debate e das recentes críticas e perseguições por alas conservadoras da sociedade ao ensino de história e outras disciplinas das humanidades, acreditamos que os artigos integrantes do Dossiê buscam trilhar novos caminhos teóricos e políticos para uma disciplina constantemente ameaçada pelos que temem a transformação.
A seção de Artigos Livres conta com as contribuições de Flavio Rafael Mendes Campos e Thaís Fleck Olegário. O primeiro discute o episódio do chamado “Dia D” no contexto da Segunda Guerra Mundial. Já a autora Thaís Olegário debate importantes regimes ditatoriais vigentes no Cone Sul (Brasil, Uruguai, Argentina e Chile) no tocante à Doutrina de Segurança Nacional.
Na seção Ensaios de Graduação Pedro Henrique Duarte da Costa propõe uma breve reflexão em torno do movimento Escola sem Partido e seus desdobramentos a partir da oposição religiosa às discussões de gênero na escola. Janai Harin Lopes problematiza a escola e o Ensino de História, como lugares de reafirmação, mas também de desconstrução de expectativas de gênero.
Thiago Henrique Sampaio resenha o livro “Tenho algo a dizer: memórias da UNESP na ditadura civil militar (1964-1985)” organizado por Maria R. do Valle, Clodoaldo M. Cardoso, Antonio Celso Ferreira e Anna Maria M. Corrêa.
Esta edição da Revista Trilhas da História se encerra com a tradução do artigo de Alessandro Portelli intitulado “Um trabalho de relação: observações sobre a história oral”, feita por Lila Cristina Xavier Luz.
Cintia Lima Crescêncio
Leandro Hecko
Três Lagoas-MS, primavera de 2017.
CRESCÊNCIO, Cintia Lima; HECKO, Leandro. Apresentação. Revista Trilhas da História. Três Lagoas, v.7, n.13, jul. / dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Haitian Connections in the Atlantic World: Recognition after Revolution | Julia Gaffield
Em Haitian Connections in the Atlantic World: Recognition after Revolution, Julia Gaffield enfatiza a importância de inserir o processo de independência do Haiti no mundo Atlântico, levando em conta suas dimensões políticas, econômicas e diplomáticas no início do século XIX. Ao abordar as relações do Haiti independente com a comunidade internacional do período, com ênfase nas relações com o Império Britânico, Gaffield lança mão do conceito de “estratos de soberania”, emprestado de Lauren Benton (A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400-1900, 2004). Mas, enquanto Benton o utiliza para analisar relações entre impérios, Gaffield estende sua aplicabilidade para o estudo do caso haitiano no cenário internacional:
Enquanto o trabalho de Benton foca nos diferentes estratos entre impérios, o caso haitiano demonstra que esses estratos também eram importantes no contexto internacional. O reconhecimento não oficial não culminou em um isolamento diplomático, ocorrendo, inclusive, reconhecimento temporário da independência haitiana pela França. Além disso, esses estratos são visíveis não apenas na diplomacia, mas também nas relações comerciais. Governos estrangeiros estavam visando estender o reconhecimento econômico ao Haiti, ao mesmo passo que retinham seu reconhecimento diplomático (p.13).
Dessa perspectiva, Gaffield enquadra a história do Haiti como a de um país que, embora parcialmente aceito na arena internacional por sua relevância comercial, sofreu profundamente com o fato de não ter sido diplomaticamente reconhecido no início do século XIX por ter fundado sua independência sobre uma revolução de escravos bem-sucedida, desafiando, portanto, as estruturas do escravismo no mundo atlântico.
No primeiro capítulo da obra, a autora nos traz a questão das tentativas do império francês de isolar o Haiti independente no cenário atlântico, reivindicando autoridade legal sobre aquele território, que supostamente atravessava uma situação temporária e que em breve retornaria à jurisdição francesa. A proclamação de independência, assinada por Jean-Jacques Dessalines em 19 de novembro de 1803, continha lacunas que permitiram que os franceses continuassem reivindicando sua autoridade legal sobre o Haiti e visassem apoio no cenário internacional para isolá-lo. A intenção da França em reassumir eventualmente o controle da colônia motivava-se, de acordo com Gaffield, pelo fato de que os franceses “se preocupavam com um espraiamento revolucionário em suas colônias remanescentes no Caribe – Martinica, Guadalupe, e Guiana; visavam também prevenir o monopólio britânico nos mercados coloniais; e almejavam revitalizar o comércio francês no Atlântico” (p. 20).
Dessa perspectiva, proibir o comércio britânico com o Haiti era central para impedir que Londres alcançasse seus desígnios de controlar os mercados atlânticos. Para tanto, os agentes fiscalizadores franceses centraram suas ações nas ilhas de Curaçao e St. Thomas, sob jurisdição batava e dinamarquesa, respectivamente, que eram pontos de partida esseciais para a atividade comercial estrangeira com o Haiti. Embora Paris arrancase das metrópoles europeias a proibição do comércio com o Haiti, a França não possuía meios de patrulhar efecientemente o Mar do Caribe, o que, na prática, permitiu a continuação do intercâmbio entre mercadores estrangeiros estabelecidos em Curaçao e St. Thomas e hatianos. A pressão dos agentes franceses sobre essas ilhas findou quando, em 1807, o império britânico assumiu o controle de ambas. As leis do comércio ultramarino britânico (Navigation Acts) confirmaram as suspeitas francesas sobre os planos geopolíticos de Londres para o Novo Mundo: enquanto elas proibiam o comércio das Antilhas britânicas com o estrangeiro, abriam uma honrosa exceção para o Haiti, evidenciando que o que estava em questão para Westminster era incorporar a ex-colônia francesa às redes de comércio de seu sistema colonial.
Os capítulos 2 e 5 tratam das relações internacionais do Haiti, principalmente com o império britânico. No segundo, Gaffield traz importantes assertivas acerca da limitação do direito de propriedade a brancos, com exceção de poucos imigrantes que arribaram na ilha no período, política esta que será seguida pela proibição de proprietários absenteístas. Abordando os desígnios britânicos em relação ao Haiti, afirma a autora que Londres tentava absorver o território em seu imperialismo. Contudo, nesse capítulo, as questões diretas que envolviam o comércio haitiano com o restante do mundo atlântico relacionam-se não com a Grã-Bretanha, mas sim com outros territórios americanos: a proibição do comércio por parte dos Estados Unidos e também das ilhas de Curaçao e St. Thomas. Por meio dessa restrição no mercado internacional, encontravam os britânicos caminho livre para a efetivação de seus objetivos. O capítulo 5, por sua vez, trata em especial dos anos de 1807 a 1810, época marcada pela guerra civil que dividiu a ilha entre o Norte, comandado por Henry Christophe, e o Oeste e o Sul, governados por Alexandre Pétion, bem como pela limitação das relações econômicas com diversos países do espaço atlântico. Gaffield trabalha com as tentativas daqueles dois governantes de assinar, com o Império Britânico, tratados econômicos de caráter similar àquele negado por Dessalines em 1804 em relação à Jamaica. A historiadora salienta também que nesse período os mecanismos do chamado “império informal” – conceito utlizado para explicar as relações de poder assimétricas entre um Estado mais forte e um mais fraco, em que o primeiro estabelece controle político sobre o segundo sem exercer domínio formal de fato – característico do mundo pós colonial, sobretudo na América Latina, começaram a se delinear nas políticas econômicas entre o Haiti e o império britânico. Gaffield discorre ainda durante o capítulo sobre os elementos que contribuíram para o sucesso da independência da antiga colônia francesa, afirmando que as relações econômicas no mundo atlântico, sobretudo com os britânicos, apesar de seu papel importante, não teriam sido as únicas responsáveis. Em conjunto com esse fator externo, a rígida militarização implantada pelos governantes da nova nação, em detrimento dos direitos individuais, foi um elemento crucial para o sucesso da emancipação.
No capítulo 3, a autora trata dos múltiplos “estratos de soberania” da independência haitiana por meio da análise de quatro julgamentos envolvendo navios mercantes pelo departamento da marinha britânica, capturados e sentenciados em dois momentos distintos (dois em 1804 e os outros em 1806). Aqui, Gaffield mostra questões relativas ao status ambíguo do Haiti no espaço atlântico, já que nos primeiros casos a ilha foi considerada uma colônia francesa e, portanto, proibida de comerciar, e nos últimos um reconhecimento temporário da soberania foi concedido, já que o comércio exercido com os haitianos não foi julgado ilegal. Tal mudança de atitude britânica, segundo a historiadora, deve-se às tentativas cada vez mais assíduas de estabelecimento de acordos econômicos entre as duas nações, mesmo que a recognição diplomática ainda não fosse uma realidade. Nesse sentido, Gaffield afirma que o reconhecimento da soberania temporária “permitiu que tanto britânicos como negociantes estrangeiros tivessem acesso aos benefícios financeiros disponíveis por causa da independência de fato da ilha em relação à França” (p. 114).
No capítulo 4, a autora aborda a relação dos Estados Unidos com o Haiti, e aqui mais uma vez as trocas comerciais entre as duas nações, bem como a tentativa de estabelecimento de acordos formais entre os governos, servem de exemplo para mostrar o lugar significativo que a ex-colônia ocupava no mundo atlântico. Mesmo com a proibição do comércio de 1806 a 1810 envolvendo os dois países, assunto igualmente tratado neste capítulo, as transações mercantis entre eles mostram-se valorosas já nos primeiros dois anos de independência haitiana, e logo retornam com a expiração do decreto de Thomas Jefferson responsável pela proibição das trocas comerciais com o Haiti. Apesar disso, assim como ocorreu no império britânico, os benefícios econômicos daqui advindos não implicaram reconhecimento diplomático do novo país americano, o qual só ocorreria em 1862, malgrado tais benefícios terem grande influência nas discussões do Congresso americano sobre a suspensão das trocas comerciais ocorridas entre 1804 e 1806.
A produção historiográfica focada no século XIX haitiano é recente, e o trabalho de Gaffield mostra-se importante não apenas pela análise lúcida das conexões estabelecidas entre a ilha e o mundo atlântico, mas também por contribuir para o próprio entendimento da situação interna do país nos primeiros anos de sua independência. Mas, como a historiografia em geral vem mostrando há décadas, o estudo da independência do Haiti no início do século XIX é essencial também para a compreensão das dinâmicas do mundo ocidental do período. Situada no ínterim marcado por transformações de caráter político, econômico e social, sua independência se ajusta cronologicamente às transformações que moldaram o mundo moderno. Obras magistrais que abordam as agitações e mudanças do período do ponto de vista de uma grande angular, como os clássicos The Age of the Democratic Revolution (1959 – 1964), de R. R. Palmer, e The Age of Revolution, 1789-1848 (1963), de Eric Hobsbawm, centraram suas análises no mundo europeu e nos Estados Unidos da América, excluindo o Haiti (bem como, poderíamos dizer, o Brasil). O livro de Gaffield, portanto, insere-se num panorama de renovação desse campo.
As fontes para a realização de um estudo como o de Gaffield são encontradas principalmente nas línguas francesa e inglesa. Apesar de se concentrar inicialmente nos arquivos francese e haitianos, a historiadora também percorreu arquivos nos Estados Unidos Inglaterra, Jamaica e Dinamarca a fim de reconstituir o conjunto das ligações atlânticas do Haiti e, assim, superar o estreito círculo da história nacional. A própria natureza desses documentos, divididos entre debates do Congresso norte-americano, correspondências diplomáticas e de comerciantes e registros de tribunais, espalhadas por vários territórios atlânticos, só reforça a ideia do não isolamento do Haiti no período analisado.
Gaffield, assim, nos traz à tona a desenvoltura do processo formativo do Haiti em sincronia com outros quadrantes do mundo atlântico. Segunda nação independente do continente americano, formada por ex-escravos, com uma população composta em sua esmagadora maioria por negros, e ainda importante economicamente apesar do relativo declínio após o início de seu processo revolucionário (1791), o Haiti fez convergirem para si os olhos das duas principais potências do período, os impérios britânico e francês, além dos EUA. Sua notabilidade internacional possuía raízes econômicas e políticas. Enquanto a ex-colônia oferecia oportunidades comerciais relevantes aos grandes atores internacionais do período, ela também inpirava temores por ter nascido de um movimento revolucionário de escravos que, se tomado como exemplo, poderia levar ao desmoronamento do escravismo colonial nas Américas. Como sugere Gaffield neste breve, porém iluminador trabalho, o Haiti, isolado pela comunidade ocidental devido aos temores que inspirava, mas fortemente integrado a ela por outras vias, parece, desde suas origens até nossos dias, ter como destino pôr a nu os paradoxos do capitalismo.
Isabela Rodrigues de Souza – Estudante de graduação em História na Universidade de São Paulo.
João Gabriel Covolan Silva – Estudante de graduação em História na Universidade de São Paulo.
GAFFIELD, Julia. Haitian Connections in the Atlantic World: Recognition after Revolution. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: SOUZA, Isabela Rodrigues de; SILVA, João Gabriel Covolan. Formação do Haiti no mundo atlântico do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 359-364, maio/ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
Criar a Nação: História dos Nomes dos Países da América Latina | José Carlos Chiaramonte e Carlos Marichal
Em 1860, a província de Buenos Aires encontrava-se separada das outras com as quais havia formado o Vice-Reino do Rio da Prata e mergulhada em debates acerca de se, e como, deveria realizar uma reintegração nacional. Um editorial do periódico El Nacional, de propriedade de Bartolomé Mitre, tratou de colocar em pauta a questão do nome que assumiria o país resultante dessa reunião. O autor antecipa seus críticos: embora pudesse parecer impossível recorrer à “questão de nomes” sem “cair na trivialidade”, ela envolvia “outra questão de honra e de vergonha”.
É de momentos como este que Criar a Nação: História dos Nomes dos Países da América Latina se nutre. O livro, publicado em português pela primeira vez este ano pela Hucitec e originalmente em espanhol em 2008 pela Editora Sulamericana, aposta na importância que os nomes assumiram em tais momentos, para usá-los como novos pontos de observação da história das nações. Dezesseis nomes hoje reivindicados por países e regiões da América Latina são examinados em dezessete artigos de autores diferentes, dois deles dedicados ao México. O conjunto da obra apresenta mais altos que baixos e tem na coerência com seus pressupostos uma característica da qual deriva duas de suas qualidades mais interessantes.
A primeira é uma relação de reforço mútuo entre a História aqui praticada e o aparato teórico que lhe sustenta, calcado na ideia de nação como artefato cultural. A importância disso para o trabalho aqui realizado fica evidente em alguns textos. A pesquisa de José Carlos Chiaramonte1 sobre os termos Argentina, Províncias Unidas do Rio da Prata e Confederação Argentina se beneficia imensamente da compreensão de nação como entidade circunstancialmente construída. O mesmo pode ser dito sobre o trabalho de Ana Frega, da Universidad de la República (Uruguai), sobre o par oriental/uruguaio, que, interrogado por essa lente, revela o retrato de uma identidade nacional fraturada, cindida originalmente pelas diferentes reações ao movimento juntista de 1810 esboçadas pelo governo de Montevideo e pelos habitantes do restante da banda oriental do rio Uruguai. Ambos os casos apresentam conflitos que, lidos a partir da noção essencializada da nação, perderiam importância. Seus resultados já estariam determinados de antemão pelo presente. A história dos nomes assim alimentada se restringiria a uma história da revelação do nome, da vitória do nome atual. A nação inventada liberta os eventos passados de destinos inexoráveis e dá voz aos diferentes projetos apresentados nas instâncias de discussão destas questões. Os nomes deixam de ser sinas e tornam-se símbolos, prenhes de expectativas e desejos; suas histórias deixam de ser a narrativa de suas descobertas e convertem-se em reflexões acerca de seus usos. A abordagem assim concebida, por sua vez, transforma-se em importante testemunha contra uma representação reificada da nação ao possibilitar uma indexação de eventos que confirmam a natureza histórica da nação. A imbricação entre a história aqui praticada e a teoria que lhe dá substância se revela recíproca. O estudo de Pablo Buchbinder, da Universidad de Buenos Aires, sobre Paraguai é emblemático disso, pois captura na indecisão em estabelecer-se como república ou província as dificuldades de autodeterminação enfrentadas por uma individualidade próxima o bastante a Buenos Aires para estar em sua esfera de influência, mas distinta o suficiente para não ser por ela absorvida.
A aglomeração das várias histórias nacionais no espaço de experiência latino-americano é o segundo ponto de interesse decorrente do pressuposto teórico da nação como construção. A justaposição dos casos individuais confere ao livro muito de sua força explicativa e permite que os casos específicos elucidem uns aos outros. A construção de si passa pelo reconhecimento do outro; histórias como as aqui escritas precisam necessariamente superar as fronteiras nacionais, com as quais seus objetos nem sempre coincidiram.
Alguns nomes se prestam mais que outros para exemplificar essas relações transnacionais. Os assumidos pelas repúblicas construídas no antigo território da Gran Colombia estão entre os mais úteis para sublinhar o papel do outro na definição de si. Venezuela foi, de acordo com Dora Dávila Mendoza, da Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), uma identidade em cuja construção a percepção de si esteve informada pela presença do outro. A indeterminação histórica da formação de um território venezuelano, em mais de uma ocasião englobado por outros nomes (designado, por um momento, como parte do vice-reino de Nova Granada; e, em outro, como componente da Gran Colombia) orientou parte significativa da produção historiográfica do país.
Aimer Granados, do México, dá conta de como o pensamento político de Bolívar expressava-se exemplarmente no nome Colombia, que engendrava um projeto de superação das identidades locais através da grande pátria americana. A Gran Colombia foi o corolário desse desejo, um projeto de nação que incluía os atuais territórios de Equador, Venezuela e Colômbia. Mesmo após seu esfacelamento o nome persistiu, herdado pelo antigo vice-reino de Nova Granada; se a república que hoje existe neste antigo território herda seu nome do sonho falido de Bolívar é porque houve um esforço consciente por parte de uma elite para inventar uma tradição. O autor relata que, no momento da emancipação, o termo Nova Granada possuía mais potencial aglutinador que o termo sobrevivente.
A influência da alteridade na formação da individualidade nacional segue relevante, mas de forma surpreendente, na história por trás do nome adotado pela outra entidade política que surgiria com a derrocada da Gran Colombia. Ana Buriano, do Instituto Mora, México, relata como Equador, que foi um nome usado para se referir ao território após as missões científicas francesas de 1736 destinadas a estabelecer a forma exata da Terra, significou a possibilidade de consenso entre as rivais Guayaquil, Quito e Cuenca. Historicamente neutro, o nome permitiu que o território construísse sua identidade sem que uma das partes se impusesse sobre a outra.
O caso mais emblemático da presença da alteridade na formação do eu nacional, porém, está nos artigos dedicados aos países que compartilham a ilha de São Domingos. O historiador porto-riquenho Pedro L. San Miguel defende que o nome República Dominicana representa uma ruptura com os governos de Espanha e Haiti, de quem a comunidade esteve próxima em outros momentos. Abandonando o São Domingos colonial, a nação se marcava como república independente e, ao mesmo tempo, evocava o antigo nome espanhol como forma de se diferenciar do vizinho, tônica forte na construção de sua identidade. O passado do nome Haiti, que para os taino, habitantes originais, significava toda a ilha, foi questionado no marco desse desejo de oposição. Quisqueya foi a alternativa encontrada pelos dominicanos, chegando a constar do hino nacional, embora seja considerado exemplo de revisionismo politicamente enviesado.
Interessantemente, Guy Pierre, professor de História Econômica da Universidad Autónoma (México), dirá que as fontes não permitem afirmar que a ilha se chamava Ayiti, embora exista um virtual consenso sobre o assunto. Mais importante para ele, porém, são os conteúdos de futuro e passado que podemos depreender do batismo. Dessalines, ao escolher o nome taino, expressava uma ruptura com a Saint Domingue escravista e apontava para um porvir de liberdade, significado informado também pela referência ao momento pré-colombiano, e, portanto, anterior ao cativeiro.
Os nomes e os batismos foram, no pós-independência latino-americano, ferramentas comumente usadas para marcar novos começos. Jesús Aguilar, da Pontifícia Católica do Peru, nos traz um exemplo capaz de mostrar que os nomes não servem somente para fundar novas eras. O termo Peru, mantido na passagem do vice-reino à república independente, é lido aqui como expressão do desejo de continuidade, o que nos demonstra como elites locais encontraram valor justamente no caráter inercial da palavra. O termo se confundia com o momento da colônia. Seu conteúdo temporal sugere um futuro idêntico ao passado, alimentado pela memória de levantes de nativos.
O tema indígena é um dos principais enfoques dos trabalhos dedicados aos termos Bolívia e México. O trabalho de Esther Aillón, da Universidad de San Andrés (Bolívia), faz astutas observações acerca da existência de uma identidade organizada ao redor do imaginário inca que conferiu capacidade de atuação e espaço de pertencimento a um setor da população não contemplado no projeto nacional boliviano. Uma das contribuições da história dos nomes para o estudo das identidades é a possibilidade de mapearmos o arraigamento destas a partir da verificação da adoção daqueles. É por este mecanismo que a autora demonstra a importância da experiência da Guerra do Chaco (1932-1935) para que uma integração fosse observada.
O caso mexicano é notadamente distinto, pois o mesmo dispositivo nos mostra que, em vez de marginalizada, a memória do passado pré-colombiano foi um eixo aglutinador. É único também no contexto da obra, que lhe dedica dois artigos, suficientemente distintos para que ambos tenham contribuições a oferecer. Dorothy Tanck de Estrada parte da reação crioula a uma crítica do século XVIII, feita à vida intelectual mexicana – palavra aqui entendida em seu sentido original, referente à cidade do México – e inicia uma reflexão acerca da expansão das fronteiras do termo a partir daí. O trabalho de Alfredo Ávila, da Universidad Autónoma, por sua vez, evidencia a natureza histórica da atual composição territorial do país. Sua tese assenta na percepção de que os mesmos nomes foram, por diversas razões, compartilhados por regiões diferentes. México engendrava tanto a cidade capital do vice-reino quanto a região sob sua influência. Nova Espanha, por sua vez, tinha tantas formas quanto tinha facetas a soberania do vice-rei. Estava definida pelo alcance de sua autoridade, que era variável nas diferentes esferas em que ele a exercia.
Similar à Gran Colombia até onde também representa uma resposta agregadora à emergência das soberanias locais, o nome Centroamerica nos é apresentado pela costa-riquenha Margarita Silva Hernández como conceito histórico-político, diferenciando-se de América Central, que designa um espaço geográfico. A autora nos traz a importância de um na composição do outro, o que integrou as características de seu espaço no caráter de sua identidade. Para ela, o feitio de istmo significou a compreensão do território como passagem. Entre o mundo inca e o asteca. Entre o Atlântico e o Pacífico.
O estudo dedicado a Chile é outro que olha para a influência de uma percepção do espaço na formação da nação e de sua organização política. Visto primeiro como ermo e hostil, e depois como “cópia feliz do Éden”, o território entre os Andes e o Pacífico, limitado ao norte pelo Atacama, teve desde os primeiros momentos da emancipação quem quisesse dar forma política às suas fronteiras geográficas. A realidade do nome como ponto nodal permite que Rafael Baeza, da PUC do Chile, reúna na mesma narrativa esta dimensão, características da identidade do país, visto como estável e ordenado, e a da política, percebida como autoritária e centralista.
José Murilo de Carvalho, o brasileiro convidado para a coleção, tira também proveito do caráter do nome como espaço de encontros e sugere, na interação das imagens religiosas (Ilha de Vera Cruz; Terra de Santa Cruz), exóticas (Terra dos Papagaios), econômicas (Brasil), temporais (mundus novus; realização do império futuro português), a formação de uma identidade ressentida de seu passado. Os nomes se prestam a revelar essa mágoa; a prevalência do nome de uma madeira vulgar e o abandono dos que faziam referência à religião é vista como causa da decadência do país. Similarmente, a tentativa de encontrar na mítica Hi-Brazil, ilha fantástica do imaginário europeu medieval, uma nova raiz para o nome da nação, é, segundo o autor, declaradamente um esforço para estabelecer uma origem “mais agradável ao espírito e ao coração dos brasileiros”.
Os artigos dedicados a Puerto Rico e Cuba desenvolvem descrições bem embasadas de trajetórias interessantes – Rafael Rojas, do Centro de Investigación y Docencias Económicas (México) nos descreve as diferenças de pertencimento entre pátria e nação para o caso cubano e como uma deu lugar à outra. As porto-riquenhas Laura Náter e Mabel Rodriguez Centeno falam sobre as peculiaridades de uma identidade desenvolvida numa unidade política como Puerto Rico, descrita aqui como uma nação sem Estado. As autoras fazem também uma avaliação dos significados de resistência que as diferenças entre Porto Rico e Puerto Rico (bem como entre porto-riquenho e puerto-riquenho) engendrou. O artigo revela desafios específicos à tradução de uma obra desta natureza, que requer atenção a diferenças importantes entre terminologias por vezes similares. O trabalho de tradução de João Ribeiro demonstra sensibilidade nesse quesito e preserva os termos originais quando substituí-los constituiria prejuízo para o texto.
Embora o livro contenha certa desigualdade qualitativa entre os capítulos, o que é habitual em obras coletivas, Criar a Nação revisita temas fundamentais de maneira provocante e deixa a porta aberta para que o leitor encontre paralelos e contrastes capazes de sugerir novas discussões.
Numa famosa passagem de Romeu e Julieta em que reflete sobre a desimportância das palavras diante da realidade ontológica das coisas, a protagonista imagina que uma rosa não teria um perfume diferente se tivesse outro nome. O trecho aparece como epígrafe em Criar a Nação, retoricamente apresentado para que sua premissa seja desmontada. A própria narrativa de Shakespeare desmentiria Julieta, afinal, vítima que foi da história do nome de sua família. Agregamos que o que diferencia “Capuleto” de “rosa” é o conteúdo histórico do primeiro. Existem nomes que integram categorias e nomes que marcam individualidades. Criar a Nação apresenta um caso convincente da importância destes últimos para o historiador: como possibilitadores de projetos, como facetas de identidades, como vestígios por estudar.
Pedro Henrique Falcão Sette – Graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco.
CHIARAMONTE, José Carlos; MARICHAL, Carlos; GRANADOS, Aimer (Orgs). Criar a Nação: História dos Nomes dos Países da América Latina. Trad. João Ribeiro. São Paulo: Hucitec, 2017. Resenha de: SETTE, Pedro Henrique Falcão. As nações e seus nomes: invenção de entidades e identidades nas emancipações latino-americanas. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 365-371, maio/ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
Feminismo e Política: uma introdução | Felipe Luis Miguel e Flávia Biroli
O objetivo dos autores em Feminismo e Política: uma introdução, como o nome sugere, é propor uma discussão introdutória referente à teoria política feminista, apontando e discutindo as diferenciadas vertentes do movimento feminista, bem como as suas contribuições no combate às desigualdades e na busca de uma sociedade mais justa. A obra, publicada em 2014, é organizada no formato de uma pequena coletânea, que é composta por onze artigos.
Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli são os organizadores e os autores dos estudos. Luis Felipe Miguel é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, professor titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília – UNB, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades – Demodê. O estudioso é autor de livros como: Mito e discurso político[1] ; Política e mídia no Brasil [2] ; O nascimento da política moderna [3] ; Mídia, representação e democracia [4] ; Coligações partidárias na nova democracia brasileira [5] ; Caleidoscópio convexo: mulheres, política e mídia [6] ; Teoria política e feminismo: abordagens brasileiras [7] ; Teoria política feminista: textos centrais [8] ; Desigualdades e democracia: o debate da teoria política [9] ; Coligação e disputas eleitorais na Nova República [10]; Encruzilhadas da democracia [11] , [1]2 . Leia Mais
Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926) | Lúcia Helena Oliveira Silva
Paulistas afrodescendentes é o esperado fruto da tese de doutoramento de Lúcia Helena Oliveira Silva, defendida no ano de 2001, e se insere no contexto de consolidação do pós-Abolição como um campo autônomo de investigação historiográfica. Informado pela historiografia social da escravidão e do processo de abolição do trabalho escravo no Brasil, o estudo desvenda os caminhos que ex-escravos e seus descendentes trilharam ao buscar melhores condições de vida e ampliação da cidadania e conferir significados próprios à liberdade durante os anos posteriores à Abolição.
Desde os anos 1980 a historiografia social brasileira procura associar o tema das relações raciais com o problema gerado pelas tentativas de controle social da classe trabalhadora. A historiografia social do trabalho enquadrou essa especificidade do Brasil republicano com a compreensão das mais diversas esferas da vida cotidiana dos sujeitos. A perspectiva tem sua explicação no fato de que a questão do controle social, quando abordada pelo viés da experiência cotidiana da classe trabalhadora, ressalta o caráter da disputa política presente na vida cotidiana dos agentes sociais. Historiadoras(es) do pós-Abolição brasileiro têm percebido que a luta por cidadania da população negra também pode ser assimilada quando analisada à luz das práticas sociais dos sujeitos em seus dia a dia, e não só da realização de movimentos de reivindicação (Sidney Chalhoub, “Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque”).
Desse modo, Paulistas afrodescendentes é um livro que fornece ao leitor importante imersão no panorama teórico por que o campo acadêmico do pós-Abolição brasileiro passou entre os anos 1990 e 2000. Nele está presente o viés metodológico que privilegia as visões da liberdade que os sujeitos mobilizam para elaborar estratégias de garantir a manutenção de suas vidas no mundo após o fim do cativeiro.
O texto de Lúcia Helena Oliveira Silva revela os anos iniciais da República como um período recheado de expectativas orientadas pelos padrões socioculturais do mundo escravista do século 19, mas também engendradas pelas novas condicionantes sociais no Brasil após a abolição. A autora segue a tendência, muito presente na historiografia desde o fim da década de 1990, de demonstrar que a relação de negros com a sociedade pós-escravista foi marcada por numerosas redefinições, todas elas pautadas em concepções de cor que tenderam a se transformar com o passar do tempo, fosse para negros ou para brancos – como apontou o estudo de Hebe Mattos, Das Cores do Silencio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (1995).
Sendo assim, juntando-se a uma historiografia que começou a assumir as visões da última geração de escravos brasileiros como um problema histórico importante, a historiadora não se limita a atestar a marginalização dos ex-escravizados no mercado de trabalho. Oliveira Silva interpreta as estratégias de resistência de uma parcela da população negra paulista, acompanhando suas trajetórias e seus desejos de protagonizar uma vida mais justa frente ao convívio intenso que tiveram que ter com imigrantes, poder público e as economias de lugares como o estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro.
Protagonizar uma vida com melhores condições econômicas e com a efetividade do direito à cidadania não poderia deixar de levar em conta toda uma experiência acumulada durante os anos do cativeiro. Portanto, o racismo, somado à falta de acesso à propriedade e ao mercado formal de trabalho, contribuiu para a escolha da migração como solução por parte dos ex-escravizados e seus descendentes. Mobilidade territorial, nesse contexto, significou, para muitas mulheres e muitos homens, tomar as rédeas de suas vidas e lutar por mais direitos. Oliveira Silva propõe a noção de redes de solidariedade e de trajetórias para apreender o horizonte de experiências que a população negra de migrantes paulistas teve de lidar para resistir ao racismo pós 1888.
O debate sobre mobilidade territorial e migração no pós-Abolição tem importância historiográfica. Inspiradas por uma historiografia norte-americana que entende que migrar foi uma dimensão crucial da noção de liberdade, Ana Lugão e Hebe Mattos sugerem que o exercício da liberdade de movimentação do ex-cativo significou uma possibilidade de realizar rotas que poderiam proporcionar melhorias na condição de vida (O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas, 2004). Migrar traduzia a necessidade dos agentes históricos de constituir família, obter moradia e trabalho em locais onde as redes de solidariedade amenizassem a experiência do racismo.
A publicação do livro de Lúcia Helena Silva contribui para o cenário da historiografia nacional, tendo em vista os diálogos que seu texto estabelece com as gerações posteriores de historiadores. Esse texto pertence a um grupo que soube enfrentar o problema com as fontes que os temas relacionados ao pós-Abolição apresentam. Para acessar a experiência histórica dos ex-cativos, os historiadores dependem de documentação que só parcialmente comunica a cor dos indivíduos negros. A maior parte costuma ocultar a cor das pessoas envolvidas. De maneira muito habilidosa, Silva analisa os livros de registros de presos da Casa de Detenção da Corte (posteriormente denominada de Distrito Federal) que, por ser uma fonte policial, em muitos casos apresenta a cor dos presos, além de evidenciar o seus locais de emigração. Desse modo, a autora traça um quadro geral sobre os locais de habitação e os locais por onde os migrantes negros paulistas circularam e viveram na cidade do Rio de Janeiro.
Mas os livros de registro deixam de fora aspectos da rotina daqueles personagens. Como alternativa metodológica, Silva usa processos criminais e cíveis para captar os padrões de sociabilidade dos habitantes das regiões estudadas (p. 140). Enquanto os livros da Casa de Detenção fornecem indícios quantitativos sobre a repressão aos negros na cidade carioca, os processos delineiam um caminho qualitativo para a análise das experiências de negras naquela cidade.
A utilização de processo-crime também contribui para a coleta de evidências acerca das condições de vida, trabalho, lazer e religiosidade da população negra. Servindo-se de relatos orais, periódicos da grande imprensa, anuário estatístico e imprensa negra, a autora mescla informações de diferente natureza para delinear o quadro de racismo e de situações adversas que negros tiveram que enfrentar.
Quanto à periodização, a autora esclarece que “partimos de 1888, data da Abolição, e concluímos com 1926, data que marca o fechamento do jornal Getulino e o momento em que o item cor deixa de ser preenchido na documentação da Casa de Detenção” (p. 28).
Antes da análise dos capítulos, cumpre levantar questões metodológicas que nortearam os caminhos investigativos da autora. O caráter empírico da abordagem micro-histórica possibilitou a problematização de práticas sociais no pós-1888. Em alguma medida, para a historiografia do pós-Abolição brasileiro, o método da redução de escala foi a saída encontrada para cumprir com o objetivo de organizar e explicar a sociedade no seu período. Portanto, Lúcia Helena Silva opta pela investigação das trajetórias de sujeitos como uma maneira de se aproximar dos tipos de experiência que o novo mundo republicano possibilitou à população negra. A redução de escala, ao nível das trajetórias individuais ou coletivas, dos conflitos cotidianos, é importante instrumento metodológico para a captação das contradições, dos limites e das escolhas que os indivíduos fazem (Giovanni Levi, “Sobre Micro-História.” In: BURKE, Peter (Org). A Escrita da História: novas perspectivas, 1992.).
Com base nessas premissas metodológicas, Lúcia Silva argumenta que negros enfrentaram fortes dificuldades no Estado de São Paulo devido à mescla de características e estereótipos dos tempos escravistas e à perseguição policial e judicial. A escolha pela migração para lugares onde a vida poderia ser melhor foi uma consequência direta das condições sociais, culturais e econômicas que minavam as oportunidades que negros poderiam ter em São Paulo.
Desse modo, o primeiro capítulo analisa a experiência de vida de afrodescendentes paulistas no campo e na cidade no estado de São Paulo. Aproveitando-se de um processo-crime, de depoimentos orais, artigos da imprensa negra e da imprensa paulista, a autora investiga as sociabilidades e as relações de trabalho da comunidade negra focando nas relações raciais (p. 33). A população negra em São Paulo teve sua experiência social demarcada por conflitos raciais que, pautados em estereótipos grosseiros, acabaram por moldar posturas sociais, policiais e judiciais que forjaram mecanismos de discriminação contra pretos e de pardos. Fugindo da simples interpretação da exclusão, Lúcia Silva sugere que, se o negro sofreu com um processo de afastamento dos direitos à cidadania, isso não se deu sem conflito e sem contestação. Graças à sua capacidade de estabelecer laços de solidariedade, os negros puderam enfrentar o preconceito de cor e a violência das relações raciais (p. 46).
Mas num estado onde a política de branqueamento teve grande êxito e as teorias racialistas pautavam os rumos das práticas policiais e jurídicas, ser trabalhador negro não parecia coisa simples. Em São Paulo houve clara orientação política pela escolha de estrangeiros para a ocupação dos postos de trabalho. No campo, os imigrantes foram escolhidos para se submeter ao regime de colonato. Mas, e esse é um dos primeiros estudos a apontar para o fato, o negro também participou dessa prática de produção agrícola. Estudos recentes têm comprovado que houve uma considerável participação negra nas práticas de colonato dentro das fazendas paulistas (Karl Monsma, “Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros : emprego, propriedade, estrutura familiar e alfabetização depois da abolição no oeste paulista”, Dados, v. 53, n. 3, 2010).
Ainda assim, na cidade ou nos campos de São Paulo o grande contingente imigrante e o racismo contaram para a exclusão do negro dos postos de trabalho e para a não consolidação de seus direitos de cidadania. Essa parcela da população sofreu com a precariedade e com a inconstância no trabalho (p.78-79). É dentro desse contexto que a possibilidade de migração apareceu como forma de efetivação de interpretações de liberdade. O segundo capítulo do livro trata da experiência de migração como uma das possibilidades de vivenciar a liberdade por parte dos libertos ao lhes dar uma visão de mundo mais larga e autônoma. A cidade do Rio de Janeiro foi um espaço aglutinador, onde migrantes negros e naturais dessa região tiveram como inventar suas próprias maneiras de sobrevivência. Era uma cidade com uma vida cultural negra muito rica, que distou da cultura da “elite da belle époque” (p.99-100). Não obstante, e mesmo com todas as possibilidades urbanas cariocas , com toda a expectativa dos ex-escravos e seus descendentes, ser pobre num período de grande esforço para o controle das ações e das ocupações populares representou lutar constantemente contra a saga reformadora da cidade do Rio de Janeiro (p. 105-117).
Mas o Rio de Janeiro ofereceu melhores possibilidades de formação de laços de amizade e de solidariedade que serviram como estratégia para burlar todo assédio do poder público (p.122-123). Mesmo com a forte perseguição policial e com uma reforma urbana que visava afastar o negro e o pobre do centro da cidade, a presença de manifestações religiosas afrodescendentes é um indício de que, com base nesses espaços de solidariedade e lazer, a comunidade negra transformou o território urbano em um campo de batalha política, onde houve constante negociação entre a cidade que se queria “civilizada” e a cidade “africana” (p.127). Dessa forma, Lúcia Silva enxerga o Rio de Janeiro como um campo de disputa mais favorável do que foi o estado de São Paulo. Podia-se estabelecer alianças – inclusive com a classe dominante – e estratégias de manutenção da vida cotidiana (p.127-128).
Por fim, no terceiro e último capitulo Lúcia Helena Oliveira Silva examina as relações entre migrantes paulistas e os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, observando como se deu sua interação durante a transformação do espaço social e físico da cidade. A historiadora enfoca nas vivências cotidianas de migrantes negros, mulheres e homens, afirmando que existiram alguns sujeitos que galgaram espaços em profissões relativamente estáveis e de boa remuneração. Eles conseguiram comprar casas, terrenos e alfabetizar-se, o que demonstra que migrar poderia ser uma maneira de mudança (p.146-147). Se é verdade que migrantes negros paulistas escolheram a cidade do Rio de Janeiro por estarem em busca de melhores condições de vida, e que lá estabeleceram laços socais que tornavam o dia a dia mais leve, também é verdade que tiveram que optar por moradias precárias para ficar perto das regiões que mais empregavam. A vida em cortiços era revestida de diversos conflitos que irrompiam quando os limites de privacidade e de convívio eram ultrapassados. É importante perceber que mulheres negras (migrantes aí incluídas) sofreram, repetidamente, com os padrões morais que deslegitimavam a forma de vida dessas agentes que, pelo caráter de suas profissões, deveriam ocupar espaços que se queriam masculinos.
Graças ao uso das ferramentas metodológicas da micro-história, Lúcia Silva oferece em Paulistas Afrodescendentes no Rio de Janeiro um rico quadro de experiências subjetivas dos negros que escolheram migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro como uma estratégia possível de luta pela cidadania. É um estudo altamente recomendável para os interessados na construção social da liberdade no Brasil do fim do século 19.
Fábio Dantas Rocha – Possui graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (2014). Atualmente é membro do conselho editorial da Editora Palácio e analista de produção e difusão do conhecimento da Fundação Perseu Abramo. Mestrado em andamento na Universidade Federal de São Paulo.
SILVA, Lúcia Helena Oliveira. Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926). São Paulo: Humanitas, 2016. Resenha de: ROCHA, Fábio Dantas. O caminho para Pasárgada: negros paulistas no Rio de Janeiro do pós-Abolição. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 352-358, maio/ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
A questão feminina em nossos meios | Lucía Sánchez Saornil
“A questão feminina em nossos meios”, é um livro de e sobre Lucía Sánchez Saornil. Lucía, foi uma anarquista espanhola que viveu e militou de forma ativa durante a Guerra Civil/Revolução Social Espanhola. Esse livro lançado em sua homenagem é uma apresentação histórica sobre sua vida e militância em um período marcante da história da Espanha e do anarcossindicalismo espanhol, com ênfase na organização feminina Mujeres Libres, que durou de 1936 a 1939. A obra apresenta a historicidade das mulheres anarquistas que se dedicaram à revolução e à emancipação feminina, elucidando os problemas estruturais enfrentados pelas mesmas dentro do movimento anarcossindicalista espanhol.
A autora, diferente de outras militantes anarquistas e feministas, é pouco conhecida no Brasil, e por isso o livro inicia com uma introdução feita por três outros autores que apresentam, de forma breve sua vida e obra. Em seguida inicia-se os escritos de Lucía. Esses escritos baseiam-se em artigos que a autora escreveu para mídias libertárias espanholas como o “Solidariedad Obrera” entre outros, onde trata da “questão feminina” nos meios anarquistas. A maior parte de seus artigos apresentados nesse livro possuem o mesmo nome que o título do livro aqui trabalhado. Leia Mais
Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola – séculos XVII-XIX – DEMETRIO et al (RIHGB)
DEMETRIO, Denise Vieira; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos; GUEDES, Roberto (orgs.). Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola – séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. Resenha de: TAVARES, Luiz Fabiano de Freitas. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 178 (474) p.343-349, maio/ago. 2017.
Segundo um de nossos mestres maiores, Sérgio Buarque de Holanda, uma das funções sociais do historiador consistiria em exorcizar os fantasmas do passado. Entre os espectros do nosso Brasil podemos contar a experiência histórica da escravidão, que ainda nos assombra, passados já cento e trinta anos da abolição. Objeto ainda de discussões sobre o presente e de polêmicos projetos para o futuro do país, o tema convida sempre o historiador a retomar e renovar a reflexão sobre esse fenômeno social que gostaríamos talvez de esquecer. Assim sendo, são sempre bem -vindos estudos como Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos, organizado por Denise Vieira Demetrio, Ítalo Domingos Santirocchi e Roberto Guedes.
Vale destacar, antes de tudo, a qualidade de composição da obra enquanto conjunto, uma vez que os capítulos se articulam com notável harmonia, complementando-se mutuamente de modo muito consistente – virtude importantíssima para qualquer obra coletiva. Não vemos no livro uma colcha de retalhos apressadamente costurada, mas um conjunto orgânico, dando-se a perceber como fruto de um diálogo amplo e continuado entre seus autores, ligados aos projetos Governos, resgates de cativos e escravidões (Brasil e Angola, séculos XVII e XVIII) e Testamentos e hierarquias em sociedades escravistas ibero-americanas (séculos XVI -XVIII), ambos coordenados pelo professor Roberto Guedes desde 2011.
O próprio título já é bastante feliz: a contraposição entre “escravizar gente” e “governar escravos” explicita as incontornáveis tensões e contradições vivenciadas em sociedades baseadas no trabalho escravo, exploradas de modo muito rico em suas múltiplas facetas ao longo dos capítulos do livro. Recorrendo à diversificada gama de fontes primárias, os autores perseguem com grande consistência empírica os rastros documentais tanto da gente escravizada quanto da gente que governava escravos – por sinal, gente que, às vezes, tanto foi escravizada quanto governou escravos, em diferentes momentos da vida, no que poderia parecer um paradoxo para nós do século XXI. Evitando compromissos fáceis com modismos acadêmicos ou causas sociais e políticas do presente, os autores analisam suas fontes sem ceder a interpretações de ordem teleológica acerca de problemas que ainda hoje nos acompanham, nem ao uso anacrônico do conceito de racismo, que, como salienta Guedes, em certas abordagens historiográficas recentes “se tornou tão largo que explica tudo, ou nada”2.
Recorrendo a testamentos, registros de batismo, recenseamentos, correspondências administrativas, periódicos e relatos de viagem, entre outros gêneros de documento, os autores nos apresentam um curioso elenco de personagens célebres ou nem tanto do mundo escravista dos dois lados do Atlântico, como Maria Correia de Sá, forra e senhora de escravos, Braz Leme, apresador de índios e pai de muitos mestiços, D. Paschoal, jaga de Cassange e (suposto) vassalo da coroa lusitana, D. Antônio Viçoso, “bispo ultramontano e antiescravista” ou ainda László Magyar, aventureiro húngaro nos sertões e costas angolanos, entre muitos outros.
Os capítulos alternam diversas escalas de análise, alguns centrados em trajetórias individuais, outros voltados à análise serial em escala regional, por vezes combinando métodos quantitativos e qualitativos de análise. A exemplo de outros grandes trabalhos em história atlântica, os estudos exploram de modo rico as dimensões partilhadas e imbricadas de experiências americanas e africanas. Sob esse aspecto, há que ressaltar a atenção concedida às práticas de escravidão vigentes em África, lançando nova luz sobre alguns aspectos da vivência da escravidão na América, apontando interseções e divergências entre as duas margens daquele “rio chamado Atlântico”. Também do ponto de vista cronológico há grande variedade de abordagens, enfatizando tanto processos de curta quanto de longa duração, de modo a desvelar as complexas e variadas temporalidades da escravidão atlântica entre os séculos XVII e XIX. O desdobramento dos capítulos permite refletir sobre continuidades e descontinuidades ao longo de todo esse período, apresentando a escravidão não como um bloco monolítico, mas como uma série de momentos distintos, um conjunto de experiências singulares, interligadas, mas não homogêneas, cada uma delas refletindo e refratando as dinâmicas mais amplas de uma América portuguesa, uma África não tão lusitana e um mundo atlântico em perpétuo movimento. Bom exemplo disso são as complicadas relações entre o jaga de Cassange e a coroa lusitana exploradas por Flávia Maria de Carvalho, que, embora vertidas no familiar idioma da vassalagem, revelam dimensões muito mais complexas, nem de parceria, nem de rivalidade, nem de dominação, nem de submissão – ou melhor, são um pouco de cada, à medida que se mostram diplomáticas, tanto quanto dialéticas: desdobram-se na duração, a partir dos encontros e desencontros de tensos cúmplices do trato negreiro3.
Uma característica digna de destaque é o apuro terminológico da obra, cujos autores se mostram atentos aos riscos de usar variados termos de modo anacrônico, reducionista ou reificado, salientando muitas vezes que essas noções não eram usadas de maneira linear ou uniforme em todos os contextos abordados, lembrando a polissemia de diversas palavras importantes no léxico da escravidão. Nesse sentido, são interessantes as anotações de Éva Sebestyén sobre as categorias de escravos que o idioma ovimbundu distinguia, como háfuka (escravo de penhor), em oposição ao pika ou dongo (escravo de compra), cujos respectivos estatutos jurídicos e perspectivas de vida no sobado de Bié eram bastante diferenciados, ou ainda sobre as distintas formas de fuga reconhecidas, como vatira, tombika ou kilombo. Seguem caminho semelhante as observações de Silvana Godoy acerca dos ambíguos significados de termos como alforria ou liberdade nos testamentos da São Paulo seiscentista. Da mesma forma, Guedes propõe interessantíssima discussão acerca do uso das “qualidades de cor” como negro, preto, mulato, pardo ou branco – qualificações que, muitas vezes, podiam ser aplicadas ao mesmo indivíduo em momentos, e principalmente, em circunstâncias distintas4.
Algumas problemáticas atravessam diversos capítulos da obra. Uma delas é a questão da heterogeneidade da classe senhorial; longe de constituir um grupo homogêneo e coeso, sua composição aponta para um caráter extremamente diversificado. Entre os senhores de escravos se encontravam desde os grandes pecuaristas e senhores de engenho aos pequenos agricultores e mesmo boa quantidade de egressos do cativeiro, alguns até nascidos em terras africanas; senhores que contavam seus escravos nos dedos de uma mão, e aqueles que os contavam às centenas. Ao que tudo indica, é provável que esses senhores com perfis tão variados mantivessem relações igualmente diversificadas com seus cativos. O estudo de Ana Paula Souza Rodrigues Machado investiga testamentos em busca de pistas sobre como diferentes senhores no recôncavo da Guanabara conduziam suas respectivas escravarias, enquanto o capítulo de Márcio de Souza Soares traça amplo panorama das peculiaridades da demografia da escravidão na região de Campos dos Goytacazes entre 1698 e 1830; Nielson Rosa Bezerra e Moisés Peixoto, por sua vez, estudam as trajetórias de duas senhoras egressas do cativeiro. Por fim, como ressalta Demetrio, a coisa podia se complicar ainda mais quando o senhor de escravos era também funcionário a serviço da Coroa5.
Outra rica problemática explorada pela obra é a questão da alforria em seus múltiplos aspectos. As situações de alforria estudadas pelos autores são interessantes não apenas enquanto testemunhos dessa prática, mas pela luz mais ampla que jogam sobre o próprio cotidiano da escravidão.
Em seu conjunto, os estudos enfatizam que em episódios específicos as modalidades jurídicas sob as quais a prática podia se dar contavam tanto quanto – ou até menos que – as motivações para sua realização, bem como os diferentíssimos significados com que os envolvidos em cada caso podiam investi-la. As detalhadíssimas instruções testamentárias deixadas por alguns senhores, alforriando certos escravos e deixando outros no cativeiro, legando aos libertos mais ou menos bens, exigindo ou impondo condições diferenciadas para cada remissão sugerem quanto de singularidade as relações entre um senhor e cada um de seus cativos podia comportar. O livro nos apresenta a alforria como fenômeno complexo, envolvendo dimensões de barganha e disciplina, cálculo econômico e gratidão, afeição e piedade cristã, entre outras possibilidades.
Desse modo, os autores exploram a alforria para além da prosa jurídica, abordando-a como um costume cujas implicações repercutiam em todas as esferas da sociedade escravista; longe de ser mero problema de razão econômica, atravessava os domínios da sexualidade e da religiosidade, do cotidiano doméstico e da governança pública, do nascimento e da morte.
Em seus variados registros documentais, os episódios de alforria permitem entrever a multiplicidade de vínculos entre senhores e escravos, livres, libertos e cativos, superando as simples relações dicotômicas entre opressores e oprimidos.
No desenrolar de seus capítulos, a obra também explora, com significativo rendimento analítico, as imbricações entre a escravidão e a religiosidade cristã; não poderia ser de outro modo numa sociedade profundamente católica e amplamente escravista. O cativeiro era, obviamente, objeto de controvérsias teológicas, mas essas interseções são igualmente visíveis enquanto problema moral, nas alforrias concedidas por amor de Deus ou por descargo da consciência, como discute Godoy. Também se refletia nas dimensões litúrgicas da vida, como o batismo, que tanto produzia parentesco espiritual como conformava o cotidiano de escravos, libertos e livres nas relações de compadrio, como Maria Lemke analisa cotejando registros de batismo. Também era tema de política eclesiástica, conforme exploram Ítalo Domingos Santirocchi e Manoel de Jesus Barros Martins em seu excelente capítulo sobre D. Antônio Viçoso, que propõe questionamentos importantes acerca das relações históricas entre a Igreja Católica e a escravidão no Brasil, convidando a repensar os significados do ultramontanismo no Império, bem como o conteúdo específico do conservadorismo professado pelo clero ultramontano, para além de estereótipos historiográficos consagrados6.
Por fim, vale mencionar os últimos capítulos do livro, centrados principalmente nas dinâmicas escravistas em solo africano, enfatizando principalmente as dimensões diplomáticas das relações estabelecidas entre autoridades lusitanas e poderes políticos africanos, como o estudo de Ariane Carvalho, devotado às dinâmicas guerreiras entretidas em terras angolanas, ou ainda o capítulo onde Ingrid Silva de Oliveira Leite explora
as sutis nuances dos escritos de Elias Alexandre da Silva Correa, militar português que servira em África no século XVIII7.
Evidentemente nenhum livro conseguiria exorcizar os fantasmas da escravidão em nossa formação nacional, mas Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos certamente traz valiosas contribuições para se pensar sobre o assunto a partir de um trabalho empírico denso e metodologicamente robusto, escorado em interlocuções historiográficas consistentes e questionamentos teóricos instigantes, a um só tempo olhando para o passado e dialogando com questões atuais de modo delicado, prudente e desapaixonado, com as melhores ferramentas que a crítica acadêmica pode oferecer.
1 – Luiz Fabiano de Freitas Tavares – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional. Autor dos livros Entre Genebra e a Guanabara – A discussão política huguenote sobre a França Antártica (Topbooks, 2011), Da Guanabara ao Sena – Relatos e cartas sobre a França Antártica nas Guerras de Religião (EdUFF, 2011) e A ilha e o tempo – Séculos e vidas de São Luís do Maranhão (Instituto Geia, 2012).
2 – Cf. GUEDES, Roberto. “Senhoras pretas forras, seus escravos negros, seus forros mulatos e parentes sem qualidades de cor: uma história de racismo ou de escravidão?”. In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Ítalo Domingos e GUEDES, Roberto (org.). Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola – séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017, pp. 31-33, 43-45.
3 – Cf. CARVALHO, Flávia Maria de. Uma saga no sertão africano: o jaga de Cassange e a diplomacia comercial portuguesa no final do século XVIII. In: DEMETRIO, Denise Vieira. SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 227-252.
4 – Cf. SEBESTYÉN, Éva. Escravização, escravidão e fugas na vida e obra do viajante explorador húngaro László Magyar (Angola, meados do século XIX); GODOY, Silvana. Alforrias de forros indígenas: pelo amor de Deus e por descargo da consciência (São Paulo, século XVII). In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 173-196, 291-312.
5 – Cf. MACHADO, Ana Paula Souza Rodrigues. Testemunhos da mente: elites e seus escravos em testamentos (Fundo da Baía do Rio de Janeiro, 1790-1830); SOARES, Márcio de Souza. Angolas e crioulos na planície açucareira dos Campos de Goytacazes (1698-1830); BEZERRA, Nielson Bezerra e PEIXOTO, Moisés. Gracia Maria da Conceição Magalhães e Rosa Maria da Silva: os testamentos como documentos autobiográficos de africanos na diáspora; DEMETRIO, Denise Vieira. Artur de Sá e Meneses: governador e senhor de escravos. Rio de Janeiro, século XVII. In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 51-108, 125-172.
6 – LEMKE, Maria. Nem só de tratos ilícitos se forma uma família no sertão dos Guayazes. Os Gomes de Oliveira diante da pia batismal, c. 1740-1840; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos e MARTINS, Manoel de Jesus Barros. “Quanto ao serviço dos escravos, eu os dispenso”: D. Antônio Ferreira Viçoso, bispo ultramontano e escravista (século XIX). In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. org.), op. cit., pp. 109-124, 197-224.
7 – CARVALHO, Ariane. “E carrega de cativos os vencedores”: guerra e escravização no reino de Angola (1749-1772); LEITE, Ingrid Silva de Oliveira. Tráfico e escravidão em Elias Alexandre da Silva Corrêa (Angola, século XVIII). In: DEMETRIO, Denise Vieira, SANTIROCCHI, Italo Domingos e GUEDES, Roberto. (org.), op. cit., pp. 253-290.
The World the Civil War Made | Gregory P. Downs e Kate Masur
A discussão sobre as consequências da Guerra Civil constitui campo central dos debates sobre a extensão da cidadania e a ampliação da ação estatal naquela república. Essa circunstância imprime forte demanda por originalidade aos trabalhos publicados pelas novas gerações, especialmente naquilo que toca à natureza do Estado que emergiu daquela contenda. Esse movimento implica tanto a escolha de novos temas, quanto a revisão dos cânones centrais da tradição anterior. Os trabalhos mais recentes buscam superar o que ficou conhecido como “a narrativa da liberdade”.[1] O que vem sendo contestado por essas pesquisas é uma forma de descrever o conflito e suas consequências a partir das transformações que levaram à emancipação dos escravos, a aprovação de três emendas que universalizaram a cidadania e o crescimento vertiginoso do poder de intervenção do Estado Nacional. A história seria muito bonita se tivesse terminado por aí, mas os caminhos tomados pela política dos Estados Unidos mostraram-se pouco promissores em termos das aspirações por integração racial e extensão da cidadania que marcaram os anos imediatamente posteriores ao final do conflito.
As abordagens que agora são criticadas operaram sobre a dicotomia escravidão/liberdade, na qual a Guerra atuaria como o grande vetor dessas transformações. Essa visão, que sobressaiu nos últimos cinquenta anos, derivou do impulso pelos direitos civis, que galvanizou o país com os movimentos de contestação do status quo, o combate à segregação racial e as lutas por inclusão social envolvendo negros, mulheres, índios e outras minorias. A percepção de que o país que ajudou a derrotar o nazi-fascismo discriminava parcelas expressivas da sua própria população causava desconforto na opinião pública. Essa sensação, potencializada pelos traumas da guerra fria, estimulou gerações de historiadores a mergulharem numa época em que foi possível pensar a construção de uma sociedade multiétnica tendo por base a ação de um Estado nacional de caráter reformista. Um período da história dos Estados Unidos durante o qual capitalismo e reforma social pareceram caminhar unidos.
A era da Guerra Civil passou a ser vista como uma janela de oportunidades durante a qual reformas importantes entraram em execução, destacando-se a emancipação de quase quatro milhões de pessoas e a destruição do sistema de plantation no Sul. Nesse contexto, a atuação do Estado nacional e de suas organizações, principalmente o Exército, foi associada a ações positivas que transformaram o caráter da cidadania norte-americana mediante a sua nacionalização e a redução da autoridade dos estados ou do poder das elites locais. A experiência da guerra teria sido positiva, sobretudo pela destruição da influência da oligarquia sulista, que exercia uma atuação reacionária na organização nacional tanto pelos obstáculos internos que ela criava quanto por seu projeto de expandir o escravismo no plano internacional. A derrota do Sul levou a um fortalecimento sem precedentes das prerrogativas do Estado Nacional, desacorrentado das amarras que limitavam suas ações no período pré-guerra. O Estado, segundo essa visão, tornou-se não apenas o propulsor do desenvolvimento econômico, mas a principal arena de defesa da expansão dos direitos, tendo como sua principal ferramenta a atuação de um Exército vencedor. Emblemático dessa posição é o livro de Eric Foner, que redefiniu a “revolução inacabada” como central para as mudanças nos padrões de comportamento da população frente ao Estado nacional. O trabalho de Foner reavaliou o processo de reconstrução do Sul dos Estados Unidos após a vitória da União como um momento significativo de mudanças, ressaltando a aliança entre o Partido Republicano, o Exército e os libertos, no contexto daquilo que Lincoln denominou como “O renascimento da liberdade”.[2]
As críticas atuais partem geralmente da percepção de que persiste a discriminação, que penaliza minorias e imigrantes. Da constatação de que promessas reformistas dos movimentos pelos direitos civis não se cumpriram. Da persistência de um processo de marginalização de amplos setores da sociedade norte-americana, a despeito de anos de políticas de ação afirmativa. Da comprovação de que essa situação é apoiada por setores da população. E da constatação das limitações do Estado que surgiu no pós-guerra. A pauta aqui enfatiza as continuidades, preocupando-se em entender os elementos que possibilitaram a manutenção das estruturas elitistas que permaneceram ativas no mundo criado pela Guerra. Esse movimento de revisão do revisionismo foi denominado pela historiadora israelense Yael A. Sternhell como “The Antiwar Turn”.[3
]A coletânea de treze textos organizada por Downs e Masur vincula-se ao movimento de reconsideração que contesta o legado libertário da Guerra. Ela resultou de uma conferência realizada na Pennsylvania State University sob o título “New Directions in Reconstruction”. Trata-se de uma visão mais cética da herança do conflito, atenta às injustiças e arbitrariedades que permaneceram ou mesmo se expandiram como resultado das forças que a vitória da União ajudou a deslanchar. Mas principalmente descrente dos efeitos benéficos da relação entre reformismo e capitalismo na história da nação. Ela cobre principalmente o período da chamada Reconstrução (1863-1876), quando as lideranças do Partido Republicano estabeleceram os parâmetros da operação do sistema político e do acesso aos direitos básicos nas diferentes regiões. Trata-se do projeto de reestruturação do Sul após a derrota, quando o partido Republicano e o Exército se associaram aos libertos e aos grupos pró-União numa tentativa de transformar as relações de trabalho expandindo direitos e realizando outras reformas tendentes a erradicar os fundamentos da sociedade escravista. Trata-se de uma revisão pela base, com o claro intuito de reformular o entendimento das consequências do conflito para diferentes setores, com ênfase nas experiências das minorias: índios, mulheres negras, coolies, mexicanos e outros grupos cujas identidades permaneceram subalternas no mundo que a Guerra Civil ajudou a criar. Como Steven Hahn destacou na conclusão “a principal tarefa daquilo que costumeiramente denominamos como ‘Reconstrução (…) foi a reorganização da economia política dos Estados Unidos, definindo o curso daquilo que se tornaria a próxima reconstrução – não nos anos de 1950 e 1960, mas através da reconstrução corporativa da América, na década de 1890” (340).
A crítica dirigida à Reconstrução fica evidente já na introdução, quando os organizadores sugerem que “a ideia é dispensável”. Essa sugestão deriva da persuasão de que a “Reconstrução” não proveu “a estrutura mais adequada para o entendimento do sentido das várias histórias dos Estados Unidos no pós-guerra” (4). O ponto reaparece com intensidade variável em diversos capítulos subsequentes ainda que alguns mantenham uma abordagem mais tradicional ao tratar de temas como o terror e a agressão sexual. Kidada E. Williams enfoca como os Afro-Americanos lidaram com o trauma dos ataques noturnos, praticados por organizações paramilitares como a Klu Klux Klan. Esses ataques visavam à eliminação ou a neutralização das lideranças negras que lutavam por igualdade de oportunidades entre as raças. Trata-se de um levantamento dos depoimentos prestados aos agentes da Secretaria dos Libertos (Freedmen’s Bureau) que expõem as representações do terror que estes indivíduos suportaram e os traumas decorrentes da violência e das injúrias recebidas, num contexto definido como “sofrimento social” (161). Numa linha semelhante, Crystal N. Feimster discute como a experiência da Guerra e da ratificação da 14ª emenda renovaram os esforços das mulheres negras no sentido de determinar quando e com quem consentiriam ter relações sexuais. Essa movimentação ocorreu contra uma cultura do estupro que era comum tanto aos senhores sulistas quanto aos soldados do exército da União. A despeito dos avanços obtidos após o final da Guerra, a retirada das tropas colocou em risco novamente a integridade física das mulheres negras, demonstrando a limitação do governo federal para protegê-las de uma tradição estupradora e intimidante, que persistiu no assim chamado “novo sul”. Ao expor como a herança da escravidão continuou a influenciar a economia política norte-americana, essas historiadoras contestam a noção de que a transição da escravidão para a liberdade tenha sido tão profunda como Eric Foner e outros gostariam. O continuum de violência contra os negros, se alongado do campo para as cidades, levanta questões traumáticas a respeito da narrativa da Guerra Civil e do período subsequente a sua conclusão, sugerindo que o mundo que a Guerra Civil criou permaneceu imerso em concepções de cidadania muito pouco igualitárias.
O legado da Reconstrução, agora enfocado como miragem, é igualmente minimizado no artigo de K. Stephen Prince, que trata da forma como as fotografias das ruínas das cidades sulistas foram recebidas pela opinião pública do Norte. Antes mesmo do fim da guerra a disseminação de exposições fotográficas retratando a destruição das principais cidades sulistas fortaleceu um senso de irreversibilidade histórica entre as audiências nortistas. As imagens de ruínas eram relacionadas à promessa de um Sul renascido (114), misturando-se tanto com a concepção de uma justa punição à rebelião quanto com o fim daquela sociedade tal como havia existido até então (114). Nesse sentido, a catástrofe confederada era vista como “produtiva, construtiva e necessária” (123). No entanto, essa interpretação ignorava que as lideranças sulistas não haviam aceitado sua condição como permanente. Um velho ditado sustenta que “o sul perdeu a guerra, mas venceu a paz”. Ele indica, entre outras coisas, que a mentalidade sulista foi menos atingida pela derrota que a realidade física de suas cidades. Consequentemente, a amargura da porção branca da população sulista fermentou intenções muito diferentes daquelas que os fotógrafos pensavam registrar. Intenções que favoreciam comportamentos, ideologias e estruturas sociais que antecediam à guerra. A permanência dessas atitudes ressalta o que o autor define como a “teimosa tenacidade do passado” (129).
Ainda no campo das crenças e representações, Luke E. Harlow demonstra como a chamada contrarrevolução sulista, baseada na manutenção da supremacia racial branca, derivou em grande medida da manutenção de uma moral cristã que antecedia à eclosão da rebelião. Esse padrão era sustentado pelos ramos sulistas das igrejas Batista, Metodista e Presbiteriana, que aturam como uma força coerente e que continuam a plasmar a cultura política da região. Elas constituíram o que o autor denomina como “uma teologia da escravidão” (151) em oposição aos ideais milenaristas que prevaleciam nos ramos nortistas das mesmas denominações. A busca de elementos de sustentação do passado escravista e a análise da sua persistência constituem pontos fortes dos artigos aqui analisados, especialmente quando lidam com questões relacionadas à memória e as comemorações do pós-guerra.
O principal alvo dos autores, no entanto, não é a propriamente a Reconstrução, mas o conceito de Leviatan Ianque, desenvolvido pelo sociólogo Richard Bensel no final dos anos 80 do século passado.[4] A visão de um Estado nacional revigorado, emergindo do período da guerra com a força de um vitorioso mandato sangrento foi central para a corrente conhecida como “American Development”. A ratificação do Homestead Act, o apoio à industrialização, o controle da atividade monetária constituem etapas importantes da aceleração do processo de formação do Estado, em cumprimento de uma agenda que datava do período Federalista. Os organizadores e a maioria dos autores de The World the Civil War Made criticam esse entendimento da autoridade esposada pelo governo federal. Eles enfatizam a vulnerabilidade dessa estrutura frente a soberanias locais e sua dificuldade para impor a autoridade longe dos centros urbanos.
Em geral, os artigos desta coletânea definem o Estado do pós-guerra através do conceito de “Stockade State” ou Estado de Paliçada. Essa estrutura seria constituída por uma coleção de postos avançados, espalhados pelo território, poderosos apenas dentro de limites geográficos estreitos. Essas composições encontravam-se vulneráveis tanto à ação de centros de poder alternativos, como ao movimento de indivíduos que viviam além de qualquer autoridade pública. A ênfase, portanto, encontra-se na fraqueza relativa do Estado Nacional que emergiu da vitória da União, destacando-se sua incapacidade para incorporar grupos minoritários a uma concepção mais abrangente da cidadania, bem como sua inaptidão para gerenciar os conflitos que emergiram na esteira da guerra. O ponto encontra seu paroxismo no trabalho de Laura F. Edwards, que sustenta que “nem o governo federal e nem mesmo os governos estaduais controlavam a lei e a governança nos Estados Unidos oitocentistas” (28).
Outros capítulos apresentam uma descrição dramática dos conflitos a respeito das formas de trabalho compulsório que se mantiveram após o fim da escravidão. Para Stacey L. Smith as lutas centrais do pós-guerra visavam ao mapeamento dos limites coativos no intuito de determinar como o governo Federal interviria para restringir o poder coercitivo de empregadores, corporações e estados. Analisando as situações da peonagem indígena e da exploração dos coolies, a autora demonstra como o governo republicano foi capaz de confrontar com sucesso a assertiva “de que a servidão indígena poderia ser benéfica” (52), ainda que soluções para a questão da peonagem viessem a ser estabelecidas de maneira lenta e conflituosa. Simultaneamente, a defesa da autonomia individual e da mobilidade ascendente, pedras basilares do credo liberal, levou os mesmos republicanos a baterem-se pela exclusão dos imigrantes chineses. Isso se deu a partir do entendimento de que os coolies, como eram pejorativamente chamados, seriam servis e dependentes num nível que excluiria sua assimilação como trabalhadores livres.
The World the Civil War Made apresenta o poder público como uma estrutura sitiada por forças locais, por funcionários ineptos, por questões constitucionais, todos atuando como limitadores da capacidade estatal de agir com alguma autonomia num cenário de tensões e incertezas. Nesse cenário, a violência assume papel central na narrativa, praticada com liberalidade frente à incapacidade do Estado para atuar com força na periferia da sociedade. Nas palavras dos editores: “{P}erguntamos se a cidadania, os direitos individuais, e a autoridade federal definiram a era” (14). A resposta certamente é negativa. As situações da persistência da peonagem e da exploração continuada dos imigrantes coolies evidenciam os limites da ação do Governo Federal frente a forças locais e costumes de exploração do trabalho, que pareceriam arraigados nas paisagens do Novo México e da Califórnia. Demonstram também que muitas das concepções ideológicas dos republicanos eram insuficientes para lidar com o grau de complexidade das realidades da fronteira oeste daquela república.
Outro lado da mesma crítica refere-se aos efeitos perversos das forças que a guerra deslanchou. Assim, o mesmo Estado que estimulou um desenvolvimento capitalista acelerado mostrou-se cada vez mais insensível frente à questão indígena. Stephen Kantrowitz em seu estudo sobre os índios Ho-chuck observa que as leis e emendas que referendaram a cidadania em escala nacional pretendiam que os nativos abraçassem uma matriz de valores e comportamentos que incluíam os princípios da propriedade privada e os hábitos da colonização, da orientação para o mercado e do lar patriarcal. Para Kantrowitz a experiência dos Ho-Chunks sugere que “a luta pelo significado da cidadania e a política de civilização coercitiva se entrecruzaram” (77). A partir da condição de rivais na disputa pelo uso do solo norte-americano, as tribos indígenas representaram um desafio direto à ideia do solo livre. A política de paz do presidente Grant procurou destribalizar os índios, substituindo sua vida comunal e a posse coletiva das terras por um sistema agrícola patriarcal. Dessa forma, “o conceito de cidadania funcionou como uma ferramenta disciplinar do Estado, não como um caminho para a cidadania indígena” (99).
Em seu capítulo sobre os paradoxos da política indígena, C. Joseph Genetin-Pilawa dissocia os conflitos envolvendo os nativos da trajetória da Reconstrução. O autor entende que o otimismo expresso na criação do Office of Indian Affairs declinou devido a mudanças de concepção entre os próprios legisladores. Estes deixaram de entender a soberania como pilar da política indígena, cedendo à política de colonização que afetava profundamente a capacidade de sobrevivência daquelas comunidades. Nesse sentido, a débâcle da soberania indígena sobre suas terras não resultou do terror ou da intimidação política, como no Sul, mas da ação de forças econômicas e migratórias que o governo Federal não quis ou não pôde controlar. O papel do exército também foi diferente. Se no Sul a instituição envolveu-se na reforma do sistema político contra uma oligarquia branca agressiva, sua atuação no Oeste foi bastante diferente. Ali o exército atacou sistematicamente as comunidades indígenas como forma de erodir sua soberania, tornado-se “um agente poderoso da política de colonização” (194). Sem o Exército, a política de remoção indígena que prevaleceu no final do século XIX seria impossível.
Barbara Krauthamer oferece um dos textos mais originais e provocativos da coletânea. Ela analisa a situação das nações indígenas, muitas das quais possuíam escravos e aliaram-se ao Sul durante a Guerra. O capítulo analisa o tratado de 1866, firmado entre o governo Federal e as nações Choctaw/Chicasaw. O tratado emancipou os escravos negros dos indígenas, simultaneamente afetando a soberania indígena sobre suas terras. Ao invés de alinhar-se às análises que consideraram a pressão antiescravista como um instrumento do avanço colonizador, a autora propõe entendê-lo como “ilustrativo do escopo complexo, contraditório e continental da Reconstrução” (242).
Dois capítulos parecem destoar da proposta do livro. Andrew Zimmerman tenta combinar uma analogia da tradição historiográfica marxista nos EUA aos escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil. Através da análise da participação de exilados alemães nas forças da União o autor critica o conceito de Revolução Burguesa, que parte da tradição marxista associou ao legado da guerra. Zimmerman afirma que a própria dinâmica da Guerra mudou o conceito de revolução, influenciando os escritos posteriores de Marx e Engels. Trata-se de texto exploratório, crítico aos trabalhos que mais recentemente procuraram encontrar vínculos entre as revoluções europeias de 1848 e a liderança republicana nos EUA. O capítulo também reforça o conceito de agência, a partir da reconsideração da luta dos escravos, considerados atores centrais do proposto processo revolucionário. Aqui inexiste discussão sobre a Reconstrução ou sobre o caráter do Estado emergindo da Guerra, mas uma tentativa isolada e sofisticada de conectar o mundo da Guerra a uma perspectiva internacionalista.
A discussão de Amy Dru Sanley sobre os efeitos do Civil Right Act (1875) na política de direitos humanos demonstra os efeitos positivos da política da Reconstrução, ao considerar essa medida como precursora da criação de uma esfera dos direitos humanos. Essa ação infere que a linguagem dos direitos humanos nasceu naquele contexto, representando um divisor de águas tanto para o fim da escravidão como para a emergência dos discursos sobre reforma social, a partir da disputa sobre o direito ao divertimento. O artigo parte de um processo movido por um negro contra a segregação nos teatros. O direito ao lazer, visto como uma atividade menos relevante, fornece o ponto de partida para uma discussão crítica em relação à historiografia sobre direitos humanos. Trata-se de um dos mais imaginativos capítulos da coletânea, ainda que ele não se alinhe diretamente à discussão sobre a natureza do Estado proposta pelos organizadores.
A introdução, os doze capítulos subsequentes e a conclusão expõem as ambiguidades do mundo que a Guerra criou, enfatizando realidades complexas e multifaceadas. Assim, mais que um era de esperanças e promessas de liberdade, os trabalhos aqui expostos delineiam uma sociedade marcada pela violência e pela persistência de comportamentos tradicionais, estimulados por diferentes aglomerações de poderes locais. Eles descortinam uma agenda de pesquisas que permitirá ao leitor brasileiro situar-se a respeito das abordagens mais recentes sobre a História dos Estados Unidos durante a segunda metade do século XIX.
A distribuição dos artigos poderia ter obedecido a alguma forma de subdivisão temática que ordenasse por assunto. Essa organização tornaria a leitura mais agradável, reforçando a continuidade e facilitando a compreensão sobre as diferenças de concepção entre os colaboradores. Por outro lado, algumas vezes a uniformidade parece um pouco forçada sobre os textos, apesar dos esforços de vários autores para alinharem seus trabalhos aos conceitos-chave do livro. É compreensível que assim seja, já que um dos objetivos dos organizadores é o de entender “{C}omo as mudanças {proporcionadas pela guerra} ecoaram nas vidas das pessoas comuns e das comunidades”. Mas é preciso levar em conta o fato de que nem todos os autores parecem estar lendo por uma mesma cartilha analítica, apesar das referências trocadas entre vários dos capítulos. Ou seja, a coesão analítica nem sempre é consistente, circunstância que pode ser comprovada pela dificuldade para romper com a própria periodização da Reconstrução. Além disso, um pouco mais de uniformidade no tratamento de certos termos seria bem vinda. Os conceitos de Governo Federal, Estado Federal, Governo Central poderiam ter sido padronizados. Mas esse é um problema menor, que futuras reedições deverão corrigir. No geral, ainda cabe refletir até que ponto essas abordagens desautorizam ou complementam os estudos anteriores, particularmente no que diz respeito à longa tradição analítica sobre state building proporcionada pelos trabalhos da Sociologia Histórica, cuja ausência nesta coletânea é completa.[5] O estudo do Estado constitui uma espécie de caixa de pandora que uma vez aberta precisa ser enfrentada na sua totalidade. Assim, pode-se dizer que os estudos dessa coletânea apresentam propostas inovadoras e interpretações alternativas à grande narrativa da liberdade propondo novas direções para os estudos sobre a Guerra Civil e suas consequências. Portanto, eles abrem um caminho, mas ainda é cedo ainda para saber se um novo paradigma está sendo estabelecido.
Notas
1. A esse respeito ver, Caroline Emberton, “Unwriting the Freedom Narrative: A Review Essay”. In The Journal of Southern History, Volume LXXXII, no. 2, maio de 2016, pp.377-394.
2. Foner, Reconstruction: America´s Unfinished Revolution. Nova Iorque, Harper & Row, 1988; Lincoln, “The Gettysburg Address” In Harold C. Syrett (org.), Documentos Históricos dos Estados Unidos, p. 221.
3. Yael A. Sternhell, “Revisionism Reinvented: The Antiwar Turn in Civil War Scholarship,” Journal of the Civil War Era 3 (junho de 2013), pp. 239-256.
4. Richard Franklin Bensel, Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in America, 1859-1877. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
5. Para uma coletânea sobre o debate ver, Peter Evans, Dietrich Rueschmeyer & Theda Skocpol, Bringing the State Back In. Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
Vitor Izecksohn – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFF, Niterói – RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
DOWNS, Gregory P; MASUR, Kate. The World the Civil War Made. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: IZECKSOHN, Vitor. Guerra Civil nos Estados Unidos: novo balanço da Reconstrução. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 346-355, jan./abr., 2017.
Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império | Marta Amoroso
Conheçamos o projeto de uma fazenda ideal, imaginada por um francês no Brasil durante a primeira metade do século XIX. O sujeito pensou-a cercada por um cenário paradisíaco na Serra da Mantiqueira, interior de Minas Gerais. Seria uma fazenda produtiva e assentada em terras férteis. Para viabilizar tal prosperidade, o francês acreditava ser possível manter índios e negros em paz, submissos a ele e trabalhando de maneira eficiente. Os africanos escravizados, a benevolência de seu senhor faria que eles se portassem de maneira cordata, retribuindo com dedicação ao trabalho. Já os índios, estes deveriam ser atraídos com presentes. Uma vez que se tornassem aliados, o caminho para sua submissão seria a catequese (p. 38-39). Esse foi um projeto idílico de Auguste de Saint-Hilaire, botânico que viajou por diversas partes do Brasil entre 1816 e 1822, coletando milhares de espécies vegetais e animais, escrevendo relatos. Seus textos são alguns dos mais preciosos escritos sobre o Brasil no século XIX. Apresentam elementos não só sobre a fauna, a flora e a geografia do território, mas também sobre as populações dos sertões do Brasil, incluindo os povos indígenas das várias províncias que conheceu.
O projeto idílico da fazenda Saint-Hilaire, nunca realizado, era apenas uma miragem, uma idealização de como controlar a natureza submetendo-a aos interesses da ciência e do desenvolvimento econômico. Dentro dessa visão, alguns cientistas como ele acreditavam que os povos ameríndios representavam um estágio de degeneração da espécie humana e que cabia aos povos europeus encontrar caminhos para os “civilizar”.
A passagem descrita acima é uma das preciosidades apresentadas e analisadas neste novo trabalho de Marta Amoroso, publicado em 2014 e lançado em 2015 pela editora Terceiro Nome. Com base em arquivos sediados em diferentes países, em especial a documentação da Ordem Menor dos Frades Capuchinhos, de orientação franciscana, sediada no Rio de Janeiro (Arquivo da Custódia dos Padres Capuchinhos no Rio de Janeiro), – Amoroso escreveu uma importante contribuição aos estudos sobre os índios do século XIX. Utilizando-se das ferramentas teóricas da Antropologia, relendo os estudos clássicos de Telêmaco Borba e Curt Ninuemdaju sobre os Guarani no início do século XX, a autora visa não só descrever as políticas de Estado e os dilemas que os freis enfrentaram nos interiores do Brasil, principalmente no Paraná, mas problematizar como os coletivos indígenas (termo up to date entre os etnólogos para se referir aos grupos indígenas) se inseriram nos aldeamentos.
Os aldeamentos no Império do Brasil foram um novo-velho modelo de controle dos índios. A política das aldeias sob controle dos brancos no XIX pode ser lida no sentido de uma reedição, uma espécie de mescla de referências jesuíticas e pombalinas do período colonial. Ao mesmo tempo, traz as novidades de um Estado nacional que buscava controlar as populações do território que pretendia como seu, dinamizando a economia dessas regiões dentro da lógica produtiva do capitalismo. Além disso, a autora mapeia os fundamentos científicos que embasaram as ações dos viajantes europeus ao Brasil no XIX, das concepções dos padres capuchinhos e das formas como os diferentes grupos indígenas traduziam e se inseriam nas novas situações.
Marta Amoroso é antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Defendeu o seu mestrado na Unicamp, sob orientação de Roberto Cardoso de Oliveira, estudando o povo Mura na Amazônia no século XVIII. No doutorado, na USP, sob orientação de Manuela Carneiro da Cunha, fez uma etnografia do aldeamento São Pedro de Alcântara (1855-1895), onde viveram populações Guarani, Kaiowá e Kaingang na província do Paraná. Ingressou na USP como docente no ano de 2000. Desde então vem integrando importantes grupos de pesquisa, orientando pesquisadores e produzindo uma série de artigos e coletâneas centrados nos temas da Etnologia Indígena, História dos Índios no Brasil e estudos sobre os Mura na Amazônia. É uma das pesquisadoras principais do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA) na USP, coordenado por Dominique Gallois.
A tese de doutorado de Marta Amoroso, “Catequese e evasão. Etnografia do aldeamento indígena de São Pedro de Alcântara, Paraná (1855-1895)”, defendida na USP em 1998 é um estudo denso que articula dados de arquivos e levantamentos quantitativos por meio de uma refinada leitura etnográfica. Amoroso, ao longo de sua obra e especialmente em sua tese de doutorado, resolve muito bem a leitura dos dados etnográficos sobre as sociedades indígenas, conseguindo fazer esses dados serem compreendidos dentro do contexto em que foram gerados. Realizar esse tipo de análise com méritos tanto no campo da História como na Antropologia, à maneira de Manuela Carneiro da Cunha e Nádia Farage, é algo raro e merece ser celebrado.[1]
No entanto, a tese de doutorado de Marta Amoroso permanece inédita, pois o livro não é a tese, avisa a autora logo na introdução. Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império é uma síntese dos estudos realizados nos últimos 20 anos pela autora. É certo que esses estudos se iniciam na tese, mas transcendem a ela. O presente livro, dividido em três partes, se propõe permitir uma melhor compreensão dos aspectos que cercaram seu objeto inicial, a experiência do aldeamento São Pedro de Alcântara no Paraná e os relatos do frei capuchinho Timotheo de Castelnuovo. É importante registrar que a não publicação da tese configura-se numa grande perda, pois ela é quase inacessível, estando disponível apenas para empréstimo físico na Biblioteca Florestan Fernandes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O banco de teses online da universidade não possui a tese de Amoroso em seu catálogo, visto que ela foi defendida antes de a USP implantar seu acervo digital de acesso universal.
Voltemos ao livro. A primeira parte, “Explorando a Mata Atlântica”, é composta pelos capítulos “O mal-estar de Guido Marlière” e “Dos Andes e Amazônia, rumo ao crânio botocudo”. Discute os princípios científicos que respaldaram a atuação de muitos viajantes estrangeiros atraídos para o Brasil depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro. É nessa parte que está situada a análise da “fazenda imaginária” de Saint-Hilaire, mencionada no início desta resenha.
Já a segunda parte, “Propondo a catequese e civilização”, integrada pelos capítulos “Das selvas ao solo ubérrimo” “Descontinuidades”, aparece como um ensaio antropológico. Aqui a autora utiliza o conceito de “equivocações controladas”, de Eduardo Viveiros de Castro, para pensar desencontros e traduções dentro e fora dos aldeamentos entre os diversos coletivos indígenas, capuchinhos, escravos negros, imigrantes e demais moradores do entorno.
A terceira e última parte, “Construindo o aldeamento indígena”, que contém os capítulos “Ficções em frei Timotheo de Castelnuovo”; “Lavoura (s)” e “Um kiki-koi para Arepquembe”, é identificada pela própria autora como uma releitura de sua tese.
Como já mencionado, há várias passagens riquíssimas no livro. Destaco aqui o capítulo intitulado “Um kiki-koi para Arepquembe”, em que Amoroso apresenta a forma como os Kaingang aldeados, mesmo já convertidos ao cristianismo, conseguem retomar um ritual funerário típico de seu grupo, o kiki-koi, para enterrar o cacique Manoel Arepquembe, assassinado em 1872. Uma das grandezas do capítulo está nas relações que a autora estabelece entre as doenças mortais que atingiram diversas vezes os índios dos aldeamentos e de seu entorno e as releituras das mitologias de fim de mundo entre os Guarani e Kaiowá. Outro aspecto analisado é que o modelo de missão do século XIX eliminou uma estratégia fundamental dos jesuítas no período colonial, que era a tradução das línguas indígenas. No Oitocentos, isso resultou no fato de que os freis Timotheo de Castelnuovo e Luís de Cimitille tinham muito menos elementos para descrever e compreender os rituais funerários Kaingang do que os missionários de séculos anteriores tiveram em relação às etnias com as quais conviveram.
Para o historiador Carlos Zeron, que escreve a orelha do livro, o trabalho de Amoroso prima justamente pelas “pontes” que estabelece com outros períodos históricos. De um lado, o modelo de catequese capuchinha é obrigado a dialogar com a tradição colonial jesuítica, que vigeu no Brasil durante cerca de 200 anos. De outro, a realidade dos indígenas no Brasil de hoje é tributária de ações de avanço sobre os territórios indígenas no século XIX.
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, no prefácio do livro, destaca por sua vez as peculiaridades do Brasil do século XIX. Tratava-se de um território que, ainda sob o domínio português, se abriu aos interesses de artistas e cientistas europeus convidados pelo príncipe-regente João VI e que culminou com uma política de civilização e catequese de índios a partir de 1845, a qual também previa a vinda de estrangeiros, desta vez padres, sob controle do Estado para se efetivar.
O livro de Amoroso possui uma característica relevante, menos de conteúdo e mais de forma, que eu gostaria de apontar nesta resenha. É uma reflexão que nos ajuda a pensar a eficácia dos formatos aos quais destinamos nossas pesquisas acadêmicas. Por uma série de motivos profissionais e pessoais, podemos deixar de publicar, em formato de livro, as teses e dissertações que produzimos. O que não significa que sejamos pouco produtivos. Ao contrário, desenvolvemos uma série de pesquisas, obtemos financiamento, realizamos trabalhos de campo, vamos a arquivos fora do país, participamos de congressos em diversas partes do mundo. As pesquisas são ricas, como no caso de Marta Amoroso, as análises refinadas, os resultados promissores. No entanto, a exigência de uma produtividade acadêmica que nos remete a uma escala de produção industrial obriga-nos a realizar muito, porém muito fragmentado. Papers em congressos, conferências e comunicações, artigos com número de palavras e páginas estritamente controlado. Com isso, os textos que produzimos, pelos limites impostos pelo tempo e espaço, não conseguem aprofundar os assuntos, muitas vezes são pinceladas a respeito de uma pesquisa maior. A pergunta é: quando, em nosso meio, conseguimos dar a conhecer essa pesquisa maior tanto em tamanho quanto em grau de aprofundamento?
Assim, quando Amoroso opta por publicar um livro que é uma coletânea de artigos, acaba trazendo resultados panorâmicos inconclusos. O leitor fica com muitas indagações que foram mais bem respondidas em outros artigos e na própria tese da autora. Uma das questões, por exemplo, refere-se às articulações e arranjos políticos que estiveram por trás da vinda dos missionários capuchinhos ao Brasil, medida efetivada com a lei de 1845 (Decreto 426 de 24/07/1845). Em artigo publicado em 2006 a autora arriscou uma hipótese, bastante plausível, envolvendo o casamento do imperador Pedro II com a princesa Teresa Cristina, de Nápoles, em 1843, demonstrando que a aliança matrimonial tinha também sentido político e estratégico. Daí concluirmos, seguindo os passos da autora, não ser por acaso a vinda de trabalhadores imigrantes italianos e padres capuchinhos ao Brasil a partir da segunda metade do Oitocentos.[2]
A despeito da ressalva, é evidente que o livro releva grandes achados. No capítulo 4, por exemplo, a autora inicia uma discussão sobre os termos da legislação indigenista do Império e seus desdobramentos. Amoroso nos mostra que os aldeamentos do período significariam uma “descontinuidade” em relação às ações missionárias cristãs. Para a autora, a política dos aldeamentos do Império (1845-1889) trouxe o conceito de tutela do Estado aos índios e, ao mesmo tempo, propôs que seu direito à terra estivesse atrelado ao grau de “selvageria” (p. 76). Dentro dessa lógica, os antigos aldeados não teriam mais direito de permanecer nas missões. Os Guarani-Kaiowá rapidamente aprenderam a jogar dentro desse esquema: se necessário, antigos aldeados “vestiam-se de selvagens” para poder entrar nos novos aldeamentos que se iam fundando (p. 78-80).
No Capítulo 2, Amoroso mostra que o príncipe alemão Maximiliamo Wied-Neuwied, após uma convivência intensa entre os Botocudos, subverteu o binômio tupi-tapuia no século XIX, ao afirmar que os “botocudos” com os quais conviveu eram tão amistosos quanto os tupis do passado. A despeito dessa interpretação mais progressista, os cientistas no período se pautavam nos pressupostos da nascente antropologia física, que postulava os princípios da degeneração das espécies da América, crendo que os botocudos se assemelhariam aos animais, pois não tinham chefia, uma liderança como os andinos (p. 43-8).
Já no capítulo 6, Amoroso mostra uma das formas através das quais os franciscanos tiveram êxito no programa de catequese: com a montagem de uma destilaria de aguardente no aldeamento de São Pedro de Alcântara em 1870. O assunto não foi propagandeado, na verdade seguiu oculto no meio da documentação da Ordem Menor (no Arquivo da Custódia dos Padres Capuchinhos do Rio de Janeiro), visto que o consumo de bebidas alcoólicas entre os índios foi sempre uma prática condenada pela religião católica, o que obviamente não evitou o seu uso, especialmente de bebidas fermentadas e utilizadas nos rituais indígenas. No caso da cachaça, seu consumo esteve sempre relacionado aos danos que causava às populações indígenas, daí o ocultamento do tema (p. 160-1).
Por fim, Amoroso traz novos aportes para que os especialistas enfrentem uma antiga polêmica. Trata-se da afirmação de Manuela Carneiro da Cunha, escrita no começo dos anos de 1990, de que “questão indígena no século XIX era uma questão de terras”:
A “questão indígena”, no século XIX, deixou de ser uma questão de mão-de-obra, para se converter essencialmente numa questão de terras. Há variações regionais, é claro: na Amazônia, onde a penúria de capitais locais não permitiu a importação de escravos africanos, o trabalho indígena continuou sendo fundamental, e foi reaviventado no fim do século, com a exploração da balata, da borracha e do caucho. No Mato Grosso e no Paraná, ou mesmo em Minas Gerais e no Espírito Santo, as rotas fluviais a serem descobertas e consolidadas exigiram a submissão dos índios da região. Mas se se pode arriscar falar “em geral” de um século inteiro e do Brasil como um todo, a tônica foi, no século XIX, a conquista de espaço. Em áreas de índios ditos então “bravios”, tentava-se controlá-los, controlando-os em aldeamentos, “desinfestavam-se” assim os sertões. Nas áreas de ocupação colonial antiga, tentavam-se ao contrário extinguir os aldeamentos, liberando as terras para os moradores. Essas diferenças regionais nada mais eram, portanto, do que duas etapas de um mesmo processo de expropriação. [3]
Amoroso demonstra em seu livro que o projeto dos aldeamentos no Paraná a partir da segunda metade do XIX não tinha por objetivo engajar trabalhadores em atividades de interesse do Império, mas retirar os índios de terras e caminhos estratégicos, abrindo espaço para que chegassem outros trabalhadores, como os imigrantes europeus, considerados mais lucrativos no sistema capitalista. Nisso a afirmação de Cunha casa-se com os dados levantados aqui. De todo modo, a análise de Cunha assenta numa generalidade que o próprio trabalho de Amoroso permite contradizer ao exibir inúmeros episódios em que os índios trabalhavam para além dos aldeamentos, especialmente quando já eram considerados “civilizados” e empregavam-se como “camaradas” contratados por jornadas pelos fazendeiros paulistas (p. 173). Além disso, o problema do texto clássico de Manuela Carneiro da Cunha é afirmar isso para o século XIX como um todo, quando estudos mais recentes sobre a primeira metade daquele século vêm mostrando a importância dos índios como mão de obra em várias partes do território brasileiro.[4]
Outro dado importante, que instiga o leitor a compreender melhor, mas que a autora não fornece maiores dados no livro, ao contrário do que faz na tese, é sobre a presença de população de negros nos aldeamentos e em seu entorno. Esse dado gera perguntas no leitor sobre como se dava essa convivência, que papel ocupavam os negros nesse contexto. Na tese de 1998 é possível descobrir alguns dados mais sobre essas populações que, no entanto, não são explicados no livro. Assim, a presença de africanos e afrodescendentes nos aldeamentos esteve relacionada ao envio de trabalhadores especializados, como ferreiros, marceneiros etc. para trabalhar na Fábrica de Ferro de Ipanema em Sorocaba na década de 1850. Não eram necessariamente libertos, mas estavam na condição de “tutela”, sofrendo ainda castigos físicos conforme as vontades de seus senhores.[5]
Em síntese, os estudos de Marta Amoroso, em seu conjunto, são de uma qualidade ímpar, de grande importância tanto no campo da História quanto da Antropologia, principalmente na intersecção entre elas. A única coisa a lamentar é que o livro foi muito curto perto dos dados que a autora levantou ao longo das últimas duas décadas.
Notas
1. CUNHA, Manuela Carneiro da. (org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras/Fapesp/SMC, 1992 (como organizadora e autora de um dos capítulos); _____ (org.). Legislação indigenista no século XIX. Uma compilação (1808-1889). São Paulo: Comissão Pró-Índio/Edusp, 1992; FARAGE, Nádia. As Muralhas dos Sertões. Os Povos Indígenas no Rio Branco e a Colonização. Rio de Janeiro: Paz e Terra ANPOCS, 1991.
2. AMOROSO, Marta. Crânios e cachaça: coleções ameríndias e exposição no século XIX. Revista de História 154 (1º, 2006), 119-150 p. 128-30. Disponível em http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19024/21087 Último acesso em 07/04/2017. Outros estudos que poderiam ajudar a problematizar a questão: SAMPAIO, Patrícia Melo. Política indigenista no Brasil imperial. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil imperial. Volume I: 1808-1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009; SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012
3. CUNHA, Manuela Carneiro da. Prólogo. In: ____ (org). Legislação indigenista no século XIX. Op. Cit., p. 4
4. Alguns trabalhos mais recentes, no campo da história sobre os índios, abordaram a participação indígena também no trabalho no Brasil império: COSTA, João Paulo Peixoto. Na lei e na guerra: Políticas indígenas e indigenistas no Ceará (1798-1845). Tese de Doutorado. Campinas: IFCH, 2016; LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de café? A resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; MACHADO, André Roberto de. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime Português na província do Grão-Pará (1821-25). 1. ed. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010; MOREIRA, Vania Maria Losada. Autogoverno e economia moral dos índios: liberdade, territorialidade e trabalho (Espírito Santo, 1798-1845). Revista de História, nº 166, 2012; SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Op. cit.; XAVIER, Maico Oliveira. Extintos no discurso oficial, vivos no cenário social: os índios do Ceará no período do império do Brasil. Trabalho, terras e identidades indígenas em questão. Tese de Doutorado. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, 2015.
5. AMOROSO, Marta. Catequese e evasão. Etnografia do aldeamento indígena de São Pedro de Alcântara, Paraná (1855-1895). Tese de Doutorado em Antropologia. São Paulo: FFLCH-USP, 1998, p. 130-2.
Fernanda Sposito – Pesquisadora de Pós-Doutorado em História na Unifesp. Bolsista FAPESP. E-mail: [email protected]
AMOROSO, Marta. Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império. São Paulo: Terceiro Nome, 2014. Resenha de: SPOSITO, Fernanda. Além do sertão: indígenas no Brasil do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 343-351, maio/ago., 2017.
Arquivos privados de interesse público / Revista do Arquivo / 2017
Todo arquivo é fragmento: de fatos, atividades e vidas. Todo arquivo é substrato de seleções e circunstâncias imponderáveis. Os arquivos privados de personalidades públicas impõem desafios a quem pretende organizá-los. No princípio, o caos. Amontoado de registros distantes dos seus contextos de produção, documentos sem vínculos explícitos, destituídos de sentidos: cartas românticas, um despacho burocrático, processo judicial, livros técnicos e de arte, poemas, rascunhos de discursos, recortes de jornais, referência a uma Maria… uma mecha de cabelos! Não há um político, um advogado, um fazendeiro, um esposo, ou um poeta. Há uma pessoa e muitas profundezas de vidas. Aos profissionais de arquivo cabe a missão de “colar” esses fragmentos documentais para que, por fim, se vislumbre um “rosto” inteligível, não de um homem, mas de um tempo.
Este inspirado texto de abertura da exposição “Júlio Prestes, o último presidente da República Velha: o arquivo privado de um homem público”[1], expressa em poucas palavras alguns dos desafios enfrentados pelos profissionais de arquivo diante da tarefa de dar sentido aos fragmentos documentais dos arquivos privados nas instituições de custódia.
Ao escolher o tema ARQUIVOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO para esta edição da Revista do Arquivo, os editores chamam a atenção para a necessidade de elaboração de políticas de preservação de acervos dessa natureza no Brasil e de definições legais mais claras que regulamentem com maior eficácia as questões situadas nos interstícios das esferas do público e do privado. De acordo com Lopes & Rodrigues, as definições legais no Brasil são “pouco satisfatórias”[2]. Citando Manuel Vásquez, Sônia Troitiño sugere que “a adoção de uma política arquivística não é uma prerrogativa exclusiva do Estado, sendo igualmente passível de ser formulada por entidades de qualquer natureza ou origem”[3].
Afinal, os arquivos privados são componentes importantes para as pesquisas científicas e para a cultura em geral. Ou, nos dizeres de Oliveira, Macêdo & Sobral[4], são “produtos socioculturais que constituem referenciais para a memória coletiva e para a pesquisa histórica”. Exemplos confirmadores dessa assertiva podem ser facilmente acessados em portais eletrônicos como o do Museu de Astronomia ou o da Casa Rui Barbosa, ambos no Rio de Janeiro.
Sabemos que se trata de luta difícil se atentarmos para a dramática situação em que se encontram até mesmo arquivos públicos de todo país. Mas, há motivos para renovarmos a esperança por tempos melhores, afinal, alguns dos artigos aqui publicados situam a década de 1970 como o período em que importantes iniciativas acontecem no Brasil em relação à preservação de arquivos privados. De lá para cá já não são poucas as experiências de sucesso que viraram referências para nós: podemos citar o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB / USP); o Centro de Documentação e Memória da UNESP (CEDEM / UNESP), a Fundação Casa de Ruy Barbosa, o Museu de Astronomia, a Fundação Fernando Henrique Cardoso e o próprio acervo do APESP, que cresceu nos últimos 20 anos, fato corroborado pelo artigo de Márcia Pazin[5]. Isso só para citarmos as instituições que nesta edição da Revista se fazem representar por meio de seus articulistas.
Além do mais, também nos alentam os impulsos às políticas de arquivos com os visíveis impactos positivos para esta causa a partir da implementação de dispositivos decorrentes da Lei 12.527 / 2011, que tem acionado instâncias do judiciário e de órgãos de controle, além de tribunais de conta.[6] Assim, esperamos que essa boa onda que estimula a criação e organização dos arquivos públicos, em várias esferas, também sensibilizem gestores públicos e privados para a importância dos arquivos privados de interesse público. Para o bem da ciência e da construção da nossa história.
Notas
1. Essa exposição esteve em cartaz no Arquivo Público do Estado de São Paulo, no período de 05 de abril a 17 de junho de 2016. Edição virtual dessa exposição pode ser acessada no site do APESP: http: / / www.arquivoestado.sp.gov.br / exposicao_julioprestes
2. Ver artigo Os arquivos privados na legislação brasileira: do anteprojeto da Lei de Arquivos às regulamentações nesta edição
3. Ver artigo De interesse público: política de aquisição de acervos como instrumento de preservação de documentos nesta edição
4. Ver artigo Arquivos pessoais e intimidade: da aquisição ao acesso nesta edição
5. Ver artigo Acervos Privados no Arquivo Público do Estado de São Paulo: uma visão sobre os fundos institucionais nesta edição
6. O Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (DGSAESP) acumula muitas experiências que confirmam essa expectativa. Consultar: http: / / www.arquivoestado.sp.gov.br / site / gestao
Marcelo Antônio Chaves
CHAVES, Marcelo Antônio. Editorial. Revista do Arquivo, São Paulo, Ano II, n.4, março, 2017. Acessar publicação original [DR]
Jamaxi | UFAC/ANPUH-AC | 2017
Jamaxi: Revista de História e Humanidades ([Rio Branco], 2017-) é um periódico eletrônico, semestral, editado sob a responsabilidade da área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre e da Associação Nacional de História – ANPUH/Seção Acre, sem fins lucrativos, com o objetivo de propiciar o intercâmbio, circulação e difusão de estudos e pesquisas nas áreas de História e Ciências Humanas e Sociais.
Tem como objetivo mobilizar e envolver pesquisadores, professores e estudantes de pós-graduação de universidades dessa macro região, bem como manter relações com as experiências de professores da educação básica e de movimentos sociais das florestas e cidades amazônico-andinas.
As contribuições, na forma de artigos, entrevistas, ensaios e resenhas, poderão ser livres ou vinculadas a dossiês temáticos organizados por profissionais dos cursos de História e outras instituições.
Intelectualidade Latino-americana, Cultura e Política no Século XX / Cantareira / 2017
Ao longo do século XX, a figura do intelectual tanto no Brasil quanto na América Latina em geral, foi moldando-se através das décadas. O chamado intelectual circulava entre os meios políticos e culturais, produzindo, criando e recriando através do lugar onde considerava estar e suas relações com a sociedade. Entre as décadas de 1920 e 1940, ocorreu um determinado esforço dos meios intelectuais em construir e afirmar uma identidade nacional no nosso país e pela América. A ideia era definir o que seria a cultura nacional, noção que foi fortalecida após 1930, momento em que essa intelectualidade flertou com os movimentos autoritários, muitas vezes apoiando o fortalecimento das funções do Estado e rejeitando a noção de democracia representativa em todo continente, como vemos claramente no Brasil, Argentina, etc. Por mais que se falasse em nação e sociedade, as formas de ação vinham de “cima para baixo”, tendo a elite à frente dos processos e não as camadas mais baixas, a partir de uma visão hierárquica da ordem social.
Os anos de 1950 modificam essa noção, transformando a visão de mundo e as ideias dessa intelectualidade a partir de um processo de modernização iniciado em décadas anteriores e que ganhou maior impulso nesse período, abrangendo diversos países latino-americanos. Povo e nação tornaram-se indissociáveis, pois as massas populares eram a garantia da unidade nacional, tornando essas noções tanto panfletos da intelectualidade quanto de grupos políticos, principalmente os de cunho populista.
A intelectualidade de esquerda começa a ganhar força a partir das décadas de 1950 e 1960. Muitos desses intelectuais acreditavam ter como missão atuar como interpretes desse povo, ajudando-os na tomada de consciência de sua vocação revolucionária. Estava em curso um projeto que visava ao desenvolvimento econômico e à emancipação das classes populares, o que levaria à independência das noções que se envolvessem nesse plano. Os intelectuais de esquerda desse período, de modo geral, sofreram a influência do marxismo e de ideologias vinculadas aos partidos comunistas espalhados pela América Latina. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro auxiliou na construção de uma cultura política e a identidade do grupo. Havia a existência de um lugar que esses intelectuais atribuíram a si e uma necessidade de reconhecimento de seu lugar e importância dentro da sociedade presente neste processo.
Com o fim das ditaduras militares e governos autoritários, juntamente com o processo de redemocratização política em curso em diversas nações latino-americanas, houve uma transformação na posição dos intelectuais na sociedade. Nessa dança das cadeiras, a intelectualidade abandonava uma determina posição de superioridade em relação às demais categorias sociais. Se durante muitos anos as noções diferenciadas da realidade desses países e a heterogeneidade social desses grupos haviam sido deixadas de lado em prol de uma oposição aos regimes autoritários, o retorno a democracia escancarou os limites dessa, até então, união, abrindo as portas para conflitos de identidade.
Foi a partir de fins dos anos de 1970 e na década de 1980, no novo contexto político e social que se apresentou nesses países latino-americanos, que intelectuais renomados e atuantes foram gradativamente perdendo seus espaços na sociedade, dentro da política, dos meios culturais, onde quer que fossem seus meios de atuação. Aos intelectuais atuantes e engajados das décadas anteriores se propunha um novo dilema: a hora era de adaptação, sendo momento de reinventar-se ou sair de cena. As últimas duas décadas do século XX marcaram um período de transição política, econômica e social no Brasil e no mundo, além de mudanças e buscas por novos espaços pela intelectualidade. O colapso dos regimes comunistas na Europa, a crise do marxismo, o início do desgaste de modelos alternativos de esquerda como o caso da China, levaram a intelectualidade nos moldes que eram até então estabelecidos a diminuir sua influência e credibilidade na sociedade, levando a uma crise política no interior desse grupo.
Dentro desse processo de instabilidade ocorreu uma crise de caráter identitário, principalmente pelo surgimento de novos formadores de opinião, com quem essa intelectualidade característica do século XX veio a disputar lugar. Com a perda de espaço para personalidades midiáticas, paulatinamente, os intelectuais foram perdendo seu locus como porta-vozes das questões nacionais, o que os guiou e reforçou uma crise ideológica que pode ser percebida tanto na América Latina como em outros lugares do mundo. As novas vozes começaram a se levantar da mídia, sendo alçadas ao papel de formadores de opinião e tendo presença marcante nos meios de comunicação. Com isso, aquela intelectualidade identificada com os modelos que vinham desde a década de 1920 ia gradativamente perdendo seus espaços anteriormente conquistados.
As arenas que nas décadas do século XX foram ocupadas por uma determinada intelectualidade através dos livros, passando pelos palcos teatrais e chegando às telas de tevê durante a segunda metade do século XX com o fim do milênio e entrada no século XXI tiveram suas definições foram atualizadas. Hoje, onde a internet com seus canais de vídeos, blogs, vlogs e etc. – através de computadores, tablets e smartphones – ocupa um acentuado papel junto a outras mídias como televisão, cinema e rádio, houve uma ampliação dos ambientes para ver, ouvir e falar. Personagens ligadas à televisão, ao meio musical, à internet, e atividades intelectuais foram ganhando espaço dentro dessas diferentes mídias. Num mundo cada vez mais tecnológico, no qual os livros feitos de “papel e tinta” disputam atenção com os hipertextoscom gadgets, algumas personagens como os astros de futebol mantêm sua importância, juntamente com as novas personalidades. Ocorre também uma tendência de pessoas cada vez mais jovens exporem suas opiniões e ideias para um público igualmente jovem. Esses chamados influenciadores por vezes tornaram-se vozes das novas gerações, que estão cada vez mais conectadas e influenciadas pelas plataformas digitais. Dos ídolos adolescentes a filósofos reconhecidos, esses grupos foram ocupando locais de diálogo que décadas atrás eram vinculados a uma intelectualidade que tinha bases nas definições feitas ainda no século XX.
Esta edição teve como objetivo estimular uma reflexão e debate sobre a intelectualidade através das conexões entre história, política e cultura, essa vista como uma convergência de métodos e interesses diversos, relacionada às atividades culturais e as atividades sociais, estabelecendo uma conexão estreita entre cultura e política.
Esses intelectuais eram, em geral, ideólogos de um projeto que primava pelo desenvolvimento econômico, pela emancipação das classes populares e pela independência nacional. Havia a crença de serem conscientizadores do povo e uma ideia de que a proximidade da revolução, tanto social, política, ou socialista, era latente, movimento esse sentido em diversos países latino-americanos.
As relações entre cultura e política e as discussões sobre o papel da intelectualidade – seus ideais, transformações e permanências – foram os eixos centrais das discussões aqui apresentadas. Os debates sobre a noção de cultura e intelectualidade, oferecendo um panorama geral sobre a cultura latino-americana na primeira metade do século XX; a cultura em tempos de exceção, o papel dos intelectuais – tanto os de direita, quanto os de esquerda – e as formas de engajamento; argumentações acerca da cultura, do papel dos intelectuais e dos seus meios de atuação à partir da redemocratização no Brasil e em outros países da América Latina.
Três artigos articulam as questões levantadas seguindo a temática do dossiê. O primeiro – Literatura e(m) movimento (negro): debates e embates sobre cultura, política e organização entre a intelectualidade negra brasileira (1978-2000) –, de autoria de Bárbara Araújo Machado, analisa os debates e as estratégias políticas, culturais e de organização da intelectualidade – a partir da concepção de intelectuais orgânicos de Antonio Gramsci – dentro do movimento negro contemporâneo. Nele está apontado as mudanças ocorridas dos anos de 1970 até o início do século XXI. Rachel de Queiroz e seu engajamento político dentro de jornais e revistas durante a primeira metade dos anos de 1960, das eleições de Jânio Quadros ao início do governo militar, é o tema do segundo texto – “Jornalismo de combate” nas páginas da revista O Cruzeiro: o engajamento político de Rachel de Queiroz (1960-1964) –, de autoria de Fernanda Mendes. Amanda Bastos da Silva é a autora do terceiro artigo do dossiê – Euclides da Cunha, Manoel Bonfim e a complexidade do século XX. Seu trabalho está centrado nas relações entre intelectualidade, a partir das figuras de Euclides da Cunha e Manoel Bonfim, suas concepções e ideias de Brasil e suas influências na cultura nacional, com foco no cinema, mais especificamente nos filmes O Pagador de Promessas e Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Na seção livre, temos o artigo de Paula de Souza Valle Justen – A palavra escrita do rei: chancelaria e poder régio através de uma carta plomada –, que refere-se à análise de um diploma régio emitido por Afonso X, por seu caráter excepcional, além de suas condições e seu lugar de produção, pensando sobre a sua função dentro no contexto da segunda metade do século XIII. Bárbara Benevides, em seu texto Implantação e Normatização da Pena Última no Brasil Colonial (1530-1652), reflete sobre a normatização e estabelecimento da pena de morte no Brasil durante os anos de 1530 e 1652. Limites das Administrações Ibéricas: e Conflitos Sociais no Rio da Prata de Inícios do Século XVIII: Um Estudo de Caso, de Matheus de Oliveira Vieira, se debruça sobre questões concernentes à administração portuguesa e o escoamento de produtos em região de fronteira na Colônia de Sacramento.
Daniel Schneider Bastos trata das polêmicas dentro dos grupos liberais e conservadores em torno da utilização e exploração do trabalho infantil dentro das indústrias da Inglaterra, além da introdução de leis trabalhistas que também beneficiassem a burguesia industrial, durante as décadas de 1830 e 1840 no texto A Questão dos Pequenos Operários: Liberalismo, Conservadorismo e Trabalho Infantil Durante a Fase Final da Revolução Industrial na Inglaterra. O artigo de Fabiane Cristina de Freitas Assaf Bastos – A Crise do Capitalismo e o Mundo Imperialista (1870-1920) – estabelece um debate sobre as relações entre o Imperialismo e as modificações em relação a globalização do mundo a partir da crise do Capitalismo inglês a partir de 1870, além da transição de um antigo para um moderno capitalismo. Finalizando os artigos desta edição, temos o texto de Pedro Sousa da Silva – A Trajetória da Revista Municipal de Engenharia: Planejamento Urbano e Influência do Urbanismo Norte-Americano no Rio de Janeiro (1930-1945) –, que aborda as mudanças dentro dos debates sobre o planejamento urbanístico durante as décadas de 1930 e 1940 através da Revista Municipal de Engenharia, que foram analisados entre os anos de 1932 e 1945.
Fechando esta edição, temos uma entrevista com Paulo César Gomes Bezerra, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e editor / criador do site História da Ditadura2 , que produz e divulga conteúdos sobre a história recente de nosso país. Nela, apresentam-se aspectos de suas pesquisas recentes, focadas nas relações diplomáticas entre Brasil e França durante as décadas de 1960 e 1970, além de reflexões sobre a produção de conteúdo historiográfico em mídias digitais e a chamada História Pública.
Boa Leitura!
Nota
1. http: / / historiadaditadura.com.br / sobre /
Aline Monteiro de C. Silva – Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: [email protected]
SILVA, Aline Monteiro de C. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.26, jan / jun, 2017. Acessar publicação original [DR]
Arquivo Público | RAPEES | 2017
A Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Vitória, 2017-) tem por objetivo fomentar a pesquisa em História, Arquivologia, Ciências Sociais, Geografia, Biblioteconomia, como áreas prioritárias da nossa linha editorial. Para isso, buscamos estabelecer parcerias com o meio acadêmico, no sentido de modernizar nossas atividades enquanto órgão do Governo do Estado do Espírito Santo, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, no que diz respeito às responsabilidades legais no âmbito da Gestão Documental. Além disso, visamos incentivar a utilização do nosso acervo como importante fonte para os estudos sobre a História do nosso Estado, bem como difundir e compartilhar o conhecimento produzido.
A RAPEES tem como principal contribuir para a construção do conhecimento, saber histórico e arquivístico, dentre outros, do e no Estado do Espírito Santo, priorizando pesquisas que tenham o acervo do APEES como fonte documental, visando, dessa forma, demonstrar a riqueza de informações existentes e disponíveis nesta instituição arquivística. Além de divulgar pesquisas de significativa contribuição e importância às áreas do conhecimento acima citadas, visando aproximar e estreitar os laços entre arquivistas, historiadores, bibliotecários, geógrafos e cientistas sociais, dentre outros, com a população capixaba.
Para o desenvolvimento deste projeto contamos com a parceria da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), por meio do Laboratório de Estudos em Teoria da História e História da Historiografia (LETHIS), do Departamento de História, e do Grupo de Pesquisa Cine Memória: salas de cinema do estado do Espírito Santo, do Departamento de Arquivologia, sendo seus respectivos representantes os professores, doutores, Julio Bentivoglio e André Malverdes, os quais são os Coordenadores Editoriais da nossa revista.
[Periodicidade semestral].Aceso livre.
ISSN 2527-2136
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Política de Saúde Pública na América Latina e no Caribe / História Ciências Saúde — Manguinhos / 2017
Neste último número de 2017 temos a satisfação de entregar-lhes um cardápio variado de artigos de diferentes áreas do conhecimento, campos temáticos, abordagens, temporalidades e geografias, sempre procurando privilegiar a perspectiva histórica, que confere identidade a este veículo transdisciplinar que é História, Ciências, Saúde – Manguinhos. A diversidade, que não é exclusividade desta edição, teve reconhecimento na recente avaliação quadrienal de periódicos pela Capes. A revista manteve-se como A1 nas áreas de História; Interdisciplinar; Sociologia; e Educação. Foi classificada como A2 em Arquitetura; Urbanismo e Design; Ciência Política e Relações Internacionais; Ensino; Planejamento Urbano e Regional / Demografia; e Serviço Social. Nosso periódico passou a ser classificado também em novas áreas: Artes (A2); Comunicação e Informação (A2); e Direito (B2).
Certamente isso é motivo de particular satisfação, pois a capacidade de dialogar com campos disciplinares tão variados representa uma virtude, mas também impõe desafios em termos de política editorial, os quais implicam lidar com o paradoxo de manter essa interface com diversas áreas do conhecimento sem comprometer a identidade do periódico, que, em certa medida, obedece a parâmetros disciplinares. As escolhas nesse sentido são estratégicas, pois apontam para a revista que queremos ter no complexo cenário de início de século e para o potencial de manter-se longeva. Por ora, parece-nos que o enfrentamento da complexidade envolvida nos diversos dilemas contemporâneos requer exatamente a articulação de conhecimentos para superar barreiras disciplinares. Sem respostas ainda claras, temos agido pragmaticamente no intuito de favorecer a qualidade, que não é um parâmetro claramente delimitado, porque envolve subjetividades, mas é a bússola que nos orienta, assim como o amparo de nosso conselho de editores, e, acima de tudo, dos avaliadores. Não podemos deixar de prestar a estes últimos, no derradeiro número de 2017, um profundo e sincero agradecimento, por encontrarem tempo, em meio a rotinas acadêmicas cada vez mais atribuladas e burocratizadas, para examinar com cuidado os manuscritos que nos chegam em números crescentes e com variedade temática cada vez mais ampla.
O julgamento final deste complexo critério chamado “qualidade” é sempre conferido por vocês, leitores, a quem também expressamos gratidão por terem se mantido fiéis este ano, seja pela leitura de nossas edições impressas e digitais, seja pelo acompanhamento de nossos blogs e mídias sociais. Tal agradecimento é extensível aos autores, publicados ou não, que vislumbraram em nossas páginas um veículo atraente para divulgação de pesquisas, comentários e pontos de vista.
A perspectiva latino-americana, bastante presente nos artigos desta edição, é reforçada e ganha nuances caribenhas com o dossiê “Política de Saúde Pública na América Latina e no Caribe”, coordenado pela historiadora Henrice Altink, da Universidade de York (Inglaterra), pela pesquisadora Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz (Brasil), e pela professora Debbie McCollin, da University of the West Indies (Trinidad e Tobago). Os artigos resultam das apresentações de três encontros promovidos por cooperação entre a Casa de Oswaldo Cruz e a Universidade de York financiada pela British Academy. Os encontros ocorreram em 2014, 2015 e 2016 em York, Rio de Janeiro e Port of Spain, respectivamente. Os cinco trabalhos que compõem o dossiê trazem um rico panorama das dinâmicas envolvendo saúde pública, política e cultura em países como Haiti, Cuba, Jamaica, Brasil, Peru e Bolívia, e as redes de circulação de saberes com Europa e EUA.
Este número traz também debate sobre a epidemia de zika, travado quando a doença suscitou uma série de anseios, em virtude dos enigmas que ainda pairavam em torno de sua transmissão, patofisiologia e correlação com a microcefalia que acometia bebês de mulheres infectadas pelo vírus na gravidez. Apesar da virose de certa forma ter retrocedido do debate público, permanece uma ameaça concreta, ainda mais às vésperas do verão, quando seu vetor, o Aedes aegypti, alastra-se pelos centros urbanos, instaurando verdadeiro caos sanitário. O debate representa excelente registro das percepções de especialistas dedicados a pensar a doença em seus condicionantes sociais, econômicos e culturais.
Não podemos deixar de registrar nestas linhas que já se estendem nossa inquietude com os recentes ataques à liberdade e à autonomia do pensamento acadêmico no Brasil. Ataques revestidos de nebuloso autoritarismo querem censurar aquilo que destoa da agenda proposta para o país por segmentos fundamentalistas. Já assistimos ao cerceamento da expressão na arte, com argumentos de ordem pseudomoralista, mobilizados para defender a família – sempre este ente abstrato e flexível, que junto com Deus e a liberdade pôs nas ruas milhares de pessoas clamando por intervenção autoritária na véspera do golpe de 1964. No campo da educação, há algum tempo ganha vulto o movimento “Escola sem Partido”. Não tem faltado ataques a professores e alunos atinados com o debate contemporâneo de gênero e sexualidade e outras temáticas de cariz progressista. Na Universidade Federal da Bahia, professores e estudantes que pesquisam questões relacionadas a gênero foram ameaçados de morte. Notícia bastante recente (22 de novembro de 2017) veiculada na Folha de S.Paulo dá conta que artigo da área de educação, avaliado por pares, foi retirado da página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a contragosto da editora responsável, abrindo uma crise entre pesquisadores do campo. Aos colegas e instituições, nossa solidariedade.
O fascismo, de definição ampla e heterogênea, mas de percepção bastante clara quando diante de nossas faces, avança a passos largos. Mantenhamo-nos atentos, na esperança de que, no próximo ano, a sociedade brasileira possa manifestar nas urnas suas aspirações em eleições plenamente democráticas.
A todos uma boa leitura e um 2018 mais auspicioso!
André Felipe Cândido da Silva – Editor científico
Marcos Cueto – Editor científico
CUETO, Marcos; SILVA, André Felipe Cândido da. Carta dos editores. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.4, out. / Dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
História e imprensa / Antíteses / 2017
A chamada inicial para esse dossiê temático teve por objetivo reunir artigos sobre História e Imprensa em distintas perspectivas de historiadores e estudiosos do Impresso e sua importância na construção de abordagens propostas pela historiografia contemporânea. Durante muito tempo a imprensa foi vista pelos historiadores apenas como fonte de informações. As transformações historiográficas contemporâneas têm, contudo, promovido a abordagem da Imprensa como fonte e objeto da pesquisa histórica. Como vários teóricos já observaram a imprensa cria fatos, interfere e produz realidades dotando o presente de sentidos diversos. Assim buscou-se selecionar textos de autores que contivessem a pluralidade das abordagens historiográficas do tempo presente acerca das relações entre História e Imprensa, envolvendo periódicos, revistas, projetos editoriais, formas de edição, toda uma gama de temas que ajudam a compor um universo de
Os textos que integram esse número da revista apontam para novos horizontes alcançados dentro da historiografia brasileira sobre o estudo dos impressos, com um universo temático bastante rico e multifacetado e que refletem o amadurecimento dos estudos do tema. Também indicam recortes temáticos e de periodização que contemplam os séculos XIX, XX e buscam iluminar novas perspectivas sobre História e Imprensa, suas interseções e margens. Isto significa novos olhares e reflexões sobre o tema, superando tradicionais interpretações e apontando novas direções de maneira multifacetada, inter-relacional e dinâmica. Nas últimas décadas, aliás, as tendências historiográficas têm questionado as explicações generalizantes e reducionistas. Hoje em dia, as pesquisas sobre História e Imprensa, e sobre os Impressos em geral, guardam uma riqueza ampla que está presente nos quatorze textos selecionados para compor esse dossiê
Seguindo a linha editorial da Revista Antíteses , os conteúdos dos artigos voltam-se para a questão da recepção dos impressos, nos mais diferentes registros que circularam na sociedade brasileira, considerando tais escritos não só enquanto instrumentos de poder – poder político, poder das elites, poder daqueles que detinham o privilégio do saber e da escrita – como também espaços de lutas, polêmicas, formas de consagração, debates, análises e vitrine para os autores inseridos nessas diversas conjunturas históricas.
O conjunto de textos pretende, assim, trazer à luz investigações, cujas abordagens teórico-metodológica encontram-se nas fronteiras da história dos periódicos, dos livros, do teatro, da música nas lutas e dos movimentos sociais e políticos registrados através dos impressos, tal como preconizam a historiografia francesa e anglo-saxônica, mas combinando com enfoques da nova história política e da história cultural.
O artigo de Aristeu Elisandro Machado Lopes analisa as ilustrações de três periódicos: A Vida Fluminense, O Mosquito e Semana Illustrada e o ambiente positivo criado pelos republicanos brasileiros para celebrar a República Espanhola. As notícias veiculadas e a iconografia utilizada pelos periódicos assinalavam para os leitores a mudança de regime político na Espanha e as festividades envolvidas com viés de humor e irreverência que caracterizava os jornais de ilustrações do período.
Silvia Cristina Martins de Souza nos insere no universo da cultura teatral do século XIX através dos diálogos estabelecidos entre os títulos de peças teatrais publicadas que se respondiam ou se parodiavam. Tais práticas criaram uma espécie de “sistema telefônico” baseado numa relação estreita entre palavra, intérprete, produtor e receptor, indo ao encontro das expectativas e interesses das plateias cada vez mais heterogêneas que assistiam às representações teatrais.
Camila Bueno Grejo tem como enfoque um periódico, a Revista de Derecho, Historia y Letras, fundada e dirigida por Estanislao Zeballos e na sua análise destaca a importância desse intelectual e de sua Revista, especialmente em relação à construção de uma identidade internacional argentina.
As pesquisas de Paulo Rodrigo Andrade Haiduke o levaram a abordar as relações que se estabeleceram entre literatura, imprensa e mercado editorial na França da Terceira República, mais especificamente em Paris nas décadas de 1910 e 1920. A ênfase do artigo está no papel do novo intermediário cultural que se configurou então através da imprensa e do mercado livresco, e que marcou de maneira fundamental a história do modernismo literário, enfocando Proust e o projeto editorial que o consagrou.
Leandro Antonio Guirro, aborda as relações conflituosas entre Portugal e Moçambique colonial e as narrativas presentes em alguns periódicos que fizeram do colonialismo o centro de discussões entre várias narrativas, em dupla perspectiva, isto é na imprensa portuguesa e moçambicana e levantaram a problemática da tradição imperialista portuguesa para seus leitores.
Nas polêmicas político-partidárias presentes na imprensa brasileira do século XX, Rodolpho Gauthier Cardoso dos Santos analisa um episódio, conhecido como carta Brandi, cuja polêmica se iniciou dias antes das eleições presidenciais de 1955. A principal fonte histórica do trabalho é o diário carioca Tribuna da Imprensa, de propriedade de Carlos Lacerda, então deputado federal pela UDN (União Democrática Nacional) e destaca sua atuação nos calorosos debates desse momento político convulsionado, marcado pelo forte imaginário antiperonista.
Ivania Skura, Cristina Satiê de Oliveira Pátaro e Frank Antonio Mezzomo dividem a autoria de um artigo que trata do jornal Folha do Norte do Paraná como fonte e objeto de pesquisa, analisando as representações de beleza de mulher presentes no periódico entre os anos de 1962 a 1964. Fundado pela Igreja Católica da diocese de Maringá / PR, o destaque pretendido é centrado nas perspectivas de um jornal regional e das representações socioculturais históricas da mulher na sociedade norte paranaense.
Marcelo Garson analisou, no período entre 1960 e 1965, como a imprensa foi fundamental para dar corpo e substância à ideia de música jovem no Brasil. As fontes que destaca para sua abordagem são A Revista do Rádio – em especial a sessão O mundo é dos Brotos, de Carlos Imperial – e também publicações especializadas, como A Revista do Rock, que segundo o autor ajudaram a definir os códigos sonoros, visuais e morais que nortearam um novo nicho profissional de música popular brasileira.
A personalidade de Adalgisa Nery e o papel polêmico de sua coluna no jornal Ultima Hora são apresentados por Isabela Candeloro Campoi em artigo que busca discutir a polarização política refletida na imprensa brasileira às vésperas do golpe civil-militar de 1964, a partir da análise dos artigos da coluna “Retrato sem retoque” assinada pela jornalista e escritora que lhe deram projeção no mundo político brasileiro.
Elisangela Silva Machieski e Silvia Maria Fávero Arend optam por enfocar a imprensa regional e o discurso presente nas reportagens do jornal Tribuna Criciumense, da cidade de Criciúma (SC), acerca da infância pobre na década de 1970, quando o chamado ciclo da marginalização do menor, enunciado pelas autoridades da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), ganhou as páginas dos periódicos brasileiros. As crianças, adolescentes e jovens pobres foram noticiadas no jornal Tribuna Criciumense, sobretudo, sob três enfoques jurídicos: menores abandonados, menores delinquentes e menores trabalhadores.
Alvaro de Oliveira Senra e Flávio Anício Andrade tem como fonte o Jornal da Baixada, publicado nos anos de 1979 e 1980, e discutem a emergência da luta por melhores condições de vida na periferia da cidade do Rio de Janeiro, no contexto de reaparecimento na cena política de movimentos sociais que reivindicavam o usufruto ao direito e à cidadania em suas variadas formas. Outro ponto de destaque desse texto é usar como fonte privilegiada um órgão da então chamada “imprensa alternativa” politicamente identificado com as lutas por direitos, nos anos finais do governo militar instalado em 1964.
O objetivo do artigo de Everton de Oliveira Moraes é compreender os modos de historicidade presentes no suplemento Anexo, caderno de cultura e artes publicado no jornal Diário do Paraná no final da década de 1970, com a intenção de ser um espaço gráfico de experimentação artística, uma tentativa de fazer arte no jornal.
O artigo de Fabiano Coelho analisa as representações do MST quanto à figura do presidente Fernando Collor de Mello, no Jornal Sem Terra, no período em que esse ocupou a presidência da República (1990-1992). O recorte escolhido centra-se nos editoriais do periódico, por serem espaços exclusivos da Direção Nacional, que dessa forma o utiliza para falar em nome do Movimento. A ideia de representação, a partir das contribuições do historiador Roger Chartier, foi significativa para as reflexões do artigo. Ao longo do texto, destaca que Collor foi representado como inimigo dos trabalhadores e da reforma agrária, assim como a figura de um presidente autoritário.
Por fim, Carla Luciana Souza da Silva procura problematizar algumas questões sobre as dificuldades encontradas pelos historiadores no uso da imprensa como fonte, destacando especificamente, as concepções de verdade e mentira veiculadas pela mídia. Essas noções criam imensas dificuldades para a leitura do texto midiático, já que as mentiras possuem um lugar social e político e misturam fatos e narrativas com nítidas intenções ideológicas.
Para a escolha de todos esses textos contamos com a participação de um número significativo de pareceristas, aos quais queremos agradecer pela disponibilidade e cuidado ao analisar e apontar aqueles que melhor se adequavam ao dossiê. Nós, os editores, temos a satisfação de apresentar um conjunto de textos que refletem a riqueza de narrativas e das pesquisas desenvolvidas no Brasil por estudiosos de História e Imprensa e História do Impresso tal como preconizam as mais recentes correntes historiográficas.
Tania Maria Bessone da Cruz Ferreira – UERJ
José Miguel Arias Neto – UEL
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Outrora | UFRJ | 2017
A Revista Outrora (Rio de Janeiro, 2017-), criada pelos estudantes de História da UFRJ, é um periódico científico com publicação semestral em formato eletrônico, que inclui artigos, resenhas e entrevistas.
Autônoma e independente, a Revista Outrora mantém sobretudo a irreverência estudantil, constituindo-se em um espaço de formação voltado aos estudantes de graduação de História e suas áreas correlatas, objetivando estender a esse segmento a possibilidade de publicação e divulgação de trabalhos acadêmicos entre nós graduandos.
Periodicidade anual.
Acesso livre.
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Cultura material e cultura intelectual (séculos XVI-XIX) / Antíteses / 2017
Este dossiê temático que intitulámos “Cultura material e cultura intelectual (séculos XVI-XIX)” constitui mais um resultado palpável da parceria iniciada há alguns anos entre as duas signatárias, as docentes, Maria Renata da Cruz Duran, da Universidade Estadual de Londrina, e Isabel Drumond Braga, da Universidade de Lisboa. No decurso do pósdoutoramento da primeira, pensou-se na preparação de um número temático de uma revista brasileira que acolhesse trabalhos de investigadores dedicados ao estudo da história da cultura com os quais as coordenadoras tivessem, de algum modo, trabalhado. O resultado que agora vem a público é apenas uma parte desse projeto que tem continuidade em outras vertentes e suportes.
Objeto de estudo da História enquanto matéria autónoma, desde o século XIX, com os textos fundacionais de Jacob Burckhardt e Johan Huizinga, e com percursos e autores muito diferenciados ao longo dos tempos, a cultura é o foco do presente dossiê, tendo em conta as suas facetas material e intelectual, naturalmente enlaçadas. Os séculos XVI e XIX servem como fronteiras de um panorama que tem início na Península Ibérica, com o texto “As Leguminosas no Portugal Moderno: uma presença constante e discreta”, de uma das organizadoras, e também autora convidada, Isabel Drumond Braga, da Universidade de Lisboa. Elaborado no rescaldo do Ano Internacional das Leguminosas (2016) o texto apresenta fontes como livros de culinária, informações sobre dietas de estudantes, de religiosos e de presos, provérbios, relatos de viajantes estrangeiros e outras, a fim de explorar as potencialidades da História da Cultura.
“Cultura material en la clausura de la realeza: “Las reliquias (tipos, simbología y cuidado) en el Monasterio de Las Descalzas Reales en Edad Moderna” é o texto subsequente, onde Esther Jimenez, da Universidade de Granada, explora as esferas de poder no universo feminino quinhentista a partir de seus vestígios materiais.
O doutor Carlo Pellicia, investigador do CLEPUL (Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias), da Universidade de Lisboa, apresenta em suas “Notas sobre influência da cultura portuguesa no Japão (séculos XVII e XVIII): o legado dos missionários europeus”, uma sondagem acerca do nanbangaku ou nanban bunka, ou seja, o conjunto das doutrinas dos “bárbaros do sul”, que não conheceu o seu epílogo com a proscrição do cristianismo, nem com o afastamento do mercantilismo ibérico. Situado entre 1641 e 1715, o artigo nos transporta para uma Ásia portuguesa.
Através de um profícuo diálogo entre Literatura e História, Markus Ebenhoch, da Universidade de Salzburgo, produziu o texto “O discurso religioso nas Obras do diabinho da mão furada”. Dedicado ao estudo de António José da Silva (1705-1739), chamado “o Judeu”, Ebenhoch apresenta uma análise dos processos inquisitoriais levantados contra António José da Silva, detendo-se no que classificou como “uma crítica satírica ao catolicismo e ao Santo Ofício, escrita por um antigo preso desta instituição”.
Maria Marta Lobo de Araújo, da Universidade do Minho, parte da análise intrínseca de um recolhimento do norte de Portugal, durante o século XVIII em “Aprender na clausura: a aula publica do recolhimento da Caridade de Braga, no século XVIII”. Local de preservação e definição da honra feminina, o espaço é sondado a partir de um cruzamento de fontes relativas às questões materiais e intelectuais.
Da mistura desses aspectos também se vale Francisco de Almeida Dias, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), com o seu texto sobre “D. Alexandre de Sousa e Holstein e a cultura lusitana numa Roma em ebulição (1790-1803)”. No artigo, o autor aborda a formação artística dos jovens portugueses enviados pela Casa Pia de Lisboa, bem como a fundação de uma efémera Academia de Belas-Artes, que teve D. Alexandre de Sousa e Holstein como protagonista.
Com “Assistência e cultura material: o património móvel do hospital da Santa Casa da Misericórdia de Pombal na segunda metade do século XIX”, Ricardo Pessa de Oliveira destaca o âmbito patrimonial em que a cultura artística, assim como a material, costumam operar. Claudia Marques Martinez, da Universidade Estadual de Londrina, atua no mesmo sentido, situando, todavia, uma abordagem da cultura intelectual no Brasil em que emerge o termo “cultura imaterial”, no texto “Manoel Bernardes da Cunha Cação, o inventário de um abolicionista: da cultura material à cultura imaterial”.
Carollina de Lima, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira, nos situa no campo do papel social da literatura na sondagem da cultura imaterial e / ou intelectual em ”A conciliação nos folhetins: Joaquim Manuel de Macedo e a carteira do meu tio (1855)”. Aldrin Figueiredo, da Universidade Federal do Pará, distende a história social ao analisar o papel da arte sacra e religiosa na Amazônia no contexto do movimento de renovação do catolicismo brasileiro no século XIX, mediante fontes em prosa, verso, pintura e escultura.
Na intersecção do design, “Joalheria de Crioulas: Subversão e Poder no Brasil Colonial”, de Amanda Gatinho Teixeira, mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, integra a seção dedicada a estudantes de pós-graduação, reaberta nesse número, apresentando uma visão histórico-antropológica acerca da joalheria Oitocentista no Brasil.
O dossiê fecha com o texto da organizadora Maria Renata da Cruz Duran, professora de História Moderna e Contemporânea da Universidade Estadual de Londrina, pós-doutoranda pela Universidade de Lisboa e bolsista PDE / CNPq, com o artigo “A ´augusta mãe por cima das ondas do oceano´: a corte portuguesa no púlpito brasileiro”, no qual revisa um sermão de frei Francisco de São Carlos, pregador real no Rio de Janeiro em 1809, com a finalidade de averiguar, na sermonística, um modelo de narrativa histórica que procura estabelecer uma interligação entre Portugal e Brasil, no solo sagrado das Capelas Reais.
Como se pode notar, o presente dossiê explora diferentes fontes, métodos e objetos, destacando na História da Cultura um manancial de compreensão da sociedade moderna e contemporânea que, tal como os autores aqui reunidos, ultrapassa e entrelaça fronteiras.
Maria Renata da Cruz Duran, Universidade Estadual de Londrina – PDE / CNPq
Isabel Drumond Braga, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras e CIDEHUS-EU
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Manduarisawa | UFAM | 2017
A Manduarisawa – Revista Discente do Curso de História da UFAM (Manaus, 2017-) nasceu da inquietação de jovens acadêmicos que almejavam contribuir e incentivar a produção do conhecimento científico na Amazônia tendo por objetivo ser um periódico anual, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), que conta com a participação, no seu corpo editorial, dos alunos da graduação do Curso de Licenciatura Plena em História (UFAM) e do Programa de Pós-graduação em História (PPGH/UFAM).
Dessa forma, desejamos que a Revista Discente seja um canal de divulgação das pesquisas acadêmicas e um meio no qual possibilita a troca de experiências e saberes.
Esperamos que o periódico possa também colaborar de forma significativa para o desenvolvimento intelectual de cada autor (a), parecerista e leitor (a). E por fim, que esse seja um espaço de debate, crítica e reflexão sobre a nossa prática de pesquisa e escrita no campo da História.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2527-2640
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Ofícios de Clio | UFPEL | 2017
A Revista Discente Ofícios de Clio (Pelotas, 2017-) é um projeto ligado ao Laboratório de Ensino de História (LEH), e ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), ambos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
A Revista objetiva proporcionar aos nossos graduandos e pós graduandos, bem como aos alunos de áreas afins e/ou de outras Instituições, um espaço qualificado de debate e de incentivo ao incremento da pesquisa.
Como se sabe, um grande número de revistas acadêmicas não aceitam artigos de alunos não formados e, em alguns casos, apenas de portadores de título de Mestrado. A Ofícios de Clio almeja oportunizar aos discentes o incremento de seus currículos, visando seu futuro desenvolvimento acadêmico e profissional.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2527-0524
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Campo da História | FAFICA | 2017
A Revista Campo da História (Caruaru, 2017-), [da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru – FAFICA], surge com a finalidade de ser mais um importante veículo de acolhimento e de divulgação da produção historiográfica, realizada tanto por pesquisadores nacionais como estrangeiros. Contudo, seu foco direciona-se aos trabalhos voltados para o que se convencionou chamar de História do Tempo Presente e de História Imediata.
Trata-se, pois, de privilegiar a análise e a discussão em torno de acontecimentos, processos e experiências individuais e coletivas, forjadas – historicamente – pelos mais variados atores e segmentos sociais, entidades, empresas e instituições, entre o Pós Segunda Guerra Mundial e os tempos atuais.
A Revista Campo da História caracteriza-se como um espaço de diálogo amplo e interdisciplinar, uma vez que acredita que a produção do conhecimento histórico torna-se mais rica e consistente mediante a contribuição de outros olhares e saberes. As questões do Tempo Presente atravessam, moldam e interpelam indistintamente os pensamentos e as ações dos pesquisadores, a despeito das suas filiações teóricas ou políticas.
Nela, tanto historiadores como sociólogos, educadores, antropólogos, filósofos, jornalistas, geógrafos, economistas poderão usar da mediação histórica para interpretar e tecer narrativas sobre diversas nuances das sociedades contemporâneas. Portanto, tais aberturas e possibilidades de diálogos levam Campo da História a ocupar um lugar importante na produção e na promoção do conhecimento cientifico e cultural.
[Periodicidade semestral]Acesso livre
ISSN 25263943
Acessar resenhas [Acesso indisponível]
Acessar dossiês [Acesso indisponível]
Acessar sumários [Acesso indisponível]
Acessar arquivos [Acesso indisponível]
Teoria da Religião. Seguida de Esquema de uma história das religiões | Georges Bataille
Georges Bataille (1897-1962), autor de textos filosóficos, históricos e de violentas ficções eróticas, como História do Olho (1928), tem seu livro póstumo Teoria da Religião, redigido em 1948, novamente publicado no Brasil. A edição anterior, lançada pela Editora Ática em 1993, contou com tradução de Sergio Gois de Paula e Viviane de Lamare, e revisão de Eliane Robert Moraes. Desde então, a obra se encontrava esgotada. A nova e excelente versão, publicada pela Editora Autêntica em 2015, é seguida da conferência Esquema de uma história das religiões, que esclarece e complementa o texto principal.
A tradução foi realizada por Fernando Scheibe, autor de uma importante tese de doutorado sobre Bataille com o título de Coisa Nenhuma: ensaio sobre literatura e soberania (na obra de Georges Bataille). Scheibe também assina as recentes traduções de O Erotismo, A Literatura e o Mal, A Experiência Interior e da revista Achéphale (1936-1939), fundada por Bataille e onde se encontram alguns de seus textos seminais. Tal esforço tem contribuído para colocar definitivamente a radical obra batailleana no horizonte dos debates no Brasil na filosofia e no campo das ciências humanas. Leia Mais
Um Só Corpo, Uma Só Carne: Casamento, Cotidiano e Mestiçagem no Recife Colonial (1790-1800). | Gian Carlo de Melo Silva
“Um só corpo, uma só carne: Casamento, cotidiano e mestiçagem no Recife colonial (1790-1800)”, escrito pelo historiador Gian Carlo de Melo Silva, formado pela Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE), é professor adjunto dos cursos de História da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) onde desenvolve pesquisas na área de História Social e Cultural com ênfase em História do Brasil Colônia, atuando principalmente nos temas de: Escravidão, Família, Mestiçagem, Cotidiano, Batismo, Casamento, Igreja Católica, População, Sociedade e Cultura. Estudou os vários casos de casamento na região do Recife colonial, escrevendo essas análises na obra citada acima. Assim, esse tema foi amplamente trabalho em sua dissertação de mestrado defendida em 2008, cujo resultado foi recentemente publicado.
Dessa forma, ao pesquisar os tramites que envolviam na ação de casar, ele propõe compreender a função social do matrimônio na sociedade colonial do Recife e como a população conseguiu se apropriar desse sacramento para alcançar seus desejos e suprir necessidades. O autor dividiu o livro em três capítulos, com o intuito de construir uma ordem que possibilite o entendimento sobre as regras matrimoniais e seus sentidos durante o período do século XVIII. Leia Mais
Piquiri o vale esquecido: História e memória da luta pelas terras do “grilo Santa Cruz” na colonização de Nova Aurora, oeste do Paraná | Maurilio Rompatto
Obra originária de pesquisa para obtenção do título de mestre em história-social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP, o livro “Piquiri o vale esquecido: História e memória da luta pelas terras do “grilo Santa Cruz” na colonização de Nova Aurora, oeste do Paraná, tem temática que vira em torno das histórias da violência que ocorreram durante as décadas de 1950 até 1970 e conta as histórias de vidas de pessoas camponesas na luta pela posse das suas terras conquistadas como pioneiros na região do vale do Piquiri e mais especificamente em Nova Aurora/PR. O que Rompatto faz em sua pesquisa é dar voz a trinta trabalhadores do campo, captando as narrativas com grande sensibilidade e rigor metodológico que exige a postura da história oral.
Assim, história e memória vão se entrecruzando na trama dos acontecimentos fazendo emergir um tipo de história vista de baixo como pede a historiografia renovada, à lá Annales. Assim como dialoga diretamente com E.P. Thompson para ali encontrar os conceitos de economia moral, cultura camponesa, valores camponeses e classe camponesa. Este último conceito muito bem apropriado e operacionalizado na obra, na qual o leitor irá se deparar com essa categoria, por vezes, muito bem organizada na luta por seus direitos. Pode-se aferir que Rompatto chega a sugerir certa ideia de classe em si para os camponeses aqui narrado. Fazendo, dessa forma, implodir o sentido de trabalho e os valores dados à terra por esses camponeses pioneiros que vão travar uma epopeia agrária nos confins do oeste paranaense contra os grileiros sendo eles o Estado, a União e também empresas privadas como a Colonizadora Norte do Paraná S.A do paulista Oscar Martines.
Outro grande mérito da pesquisa é fazer da chamada história regional, do Norte do Paraná, Vale do Piquiri, uma história total, em que para explicar o micro cosmo de uma região “esquecida” nos dizeres do autor, este recorte a história estrutural para ali buscar o entendimento da questão agrária no Brasil, voltando á época do Brasil Imperial ao ano de 1850, quando é publicada a primeira lei agrária brasileira, a Lei de terras que passa a dar valor imobiliário a esse bem, que até então a terra era distribuída pela União via sesmarias. Depois a pesquisa ainda explica que com a Proclamação da República a terra passa a ter outros valores, bem como os Estados que agora substituem as províncias imperiais passam a ter a posse e o direito às terras e ao seu comércio. Por fim, Rompatto ainda nos revela outro aspecto da história do Brasil relacionada à questão agrária e seus complicadores em relação à posse dessa durante a fase politica do Estado Novo ditatorial implantado no Brasil pelo Presidente Getúlio Vargas que durou de 1939 até 1945. Este regime faz com que as terras de fronteiras sejam devolvidos para a União em razão da ideia de proteção das fronteiras. Vale dizer que o objeto de estudo aqui narrado é interdisciplinar num diálogo muito profícuo entre a história e geografia, a geo-história. Nesse quesito a obra é rica em mapas detalhados acerca da região do Vale do Piquiri, sua riqueza hidrográfica, com rios e fluentes que margeiam o Rio Piquiri. São num total de treze mapas, todos eles bem inseridos ao longo da narrativa e com caráter e função de melhor explicar o acontecimento dentro de uma regionalidade, assim como levar o leitor a viazualizar o lugar da história. Cabe também, nesse contexto do uso de imagens, ressaltar a sensibilidade do autor ao estampar fotos de algumas famílias pioneiras mostrando parte do seu cotidiano rural, perfazendo um total de quinze fotos de pessoas e residências. Dentre elas, a contra capa estampada a família Ballico cercada pelo arame farpado em delimitação das suas terras por empresa particular grileira.
Entender a história das lutas camponeses no Brasil é um processo muito complexo e angustiante em que o próprio historiador se depara com momentos de injustiça. Complexa porque as próprias fontes são escamoteadas ou se encontram em lugares de difícil acesso, e angustiante uma vez que os depoimentos trazem á toma memorias e relatos de camponeses sendo injustiçados, quer pelo poder público, quer pelas empresas privadas que tem interesse nas terras ditas devolutas que são também conceitos vazios meramente politico, haja vista que nunca houve terra devoluta, pois a princípio estas eram dos índios ou dos quilombolas que nela habitavam e produziam.
Como disse Peter Burke “ a função da história é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer”. Rompatto cumpre nessa sensível e competente obra essa função de historiador profissional e comprometido com a história política e social vista de baixo. Dando voz aos camponeses para eles expressarem suas experiências e vivências. Numa trajetória de história local dialogando com a história total para o construto de uma narrativa coerente e explicativa. Temos aqui um livro de história do Brasil do período varguista e seus desdobramentos da politica nacionalista nos confins do oeste paranaense, um livro onde o local e o total se permeiam, dialogando com a escrita da história.
Depois de tudo que foi analisado acima cabe ainda uma última referência a outra imagem; a da capa que foi escolhida com grande sensibilidade e rigor teórico-metodológico ao se optar pela foto do Rio Piquiri, margeando o Vale e passando a impressão de calmaria e tranquilidade o que não se encontrará ao abrir o livro, longe disso, a narrativa que se lerá está muito mais próxima de uma história de faroeste, no sentido mesmo de velho oeste, o velho Oeste paranaense e suas disputas desleais entre homens grileiros fortemente armados contra camponeses com suas famílias ali estabelecidas há tempos.
Por fim o livro é recomendado a todos os amantes de uma boa narrativa e trama histórica, mas sobretudo para dois públicos específicos os historiadores e aos moradores do Vale do Piquiri em especial da cidade de Nova Aurora/PR.
Eduardo Martins – Doutor em História pela UNESP/ Assis e Docente do Curso de História do Campus de Nova Andradina, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
ROMPATTO, Maurilio. Piquiri o vale esquecido: História e memória da luta pelas terras do “grilo Santa Cruz” na colonização de Nova Aurora, oeste do Paraná. Curitiba: CRV, 2016. Resenha de: MARTINS, Eduardo. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 9, n. 17, p. 286-288, jan./jul., 2017.
História e Crime / Aedos / 2017
A Casa de detenção de São Paulo, também conhecida como Carandiru, foi fundada no início do século XX, tendo sido um dos maiores presídios da América Latina. Há 25 anos, em 02 de outubro de 1992, o Carandiru foi palco de um dos maiores massacres do país resultando em um saldo de 111 presidiários mortos e 87 feridos. Importante ressaltar que essas imagens não imprimem a totalidade de temas do dossiê “História e crime”, contudo, pode-se entrelaçar questões pertinentes tais como: crime e justiça; sistema prisional, disciplina e violência estatal; limites da justiça e direitos humanos.
Dito isso, a visualização dessas imagens nos permitem pensar variadas interpretações, nesse momento, escolhemos a primeira imagem como a perspectiva do Estado, homens uniformizados e disciplinados em prontidão para a realização de suas atribuições policiais. Foto no momento anterior a sua entrada no Carandiru. A segunda imagem, por sua vez, encaramos como ponto de vista dos detentos e, mais, dos grupos marginalizados e excluídos da sociedade.
Nesta edição, o leitor não encontrará unicamente textos que versam especificamente sobre “História e crime” e isso se deve, em grande medida, nos desdobramentos e nas potencialidades de uma reflexão mais profunda, na última década, sobre os referenciais teóricos-metodológicos acerca da documentação. Alinhando-se a esse pensamento, a escolha por entrevistar os Professores Marcos Bretas e Ivan Vellasco teve como finalidade, com base em suas largas e consolidadas experiências em pesquisas empíricas, nas quais suas falas situaram o contexto da produção historiográfica atual e o alargamento de documentos na produção do conhecimento histórico.
Foram selecionados 16 artigos para compor o dossiê “História e crime”. De início, abrimos os trabalhos com o artigo “Circulación trasandina de saberes de identificación. Dactiloscopia en Chile, 1893-1909” que, com uma proposta de análise para entender a ação de instituições policiais para a investigação de crimes, os autores buscaram entender de que forma a datiloscopia influenciou na circulação de técnicas e saberes na Argentina e Chile em fins do século XIX e início do XX. Isso nos remete ao constante esforço e processo de racionalização por parte do Estado no estabelecimento de padrões de conduta social, na qual a atuação da polícia têm destaque na ação punitiva.
Nesse sentido, o artigo “A força pública e o policiamento do estado republicano em Minas Gerais” traz à tona a atuação dos indivíduos responsáveis pela ordem pública, comandantes e chefes de polícia em Minas Gerais, exibindo uma documentação rica em detalhes, como conjunto de relatórios de gestão da Secretaria de Polícia entre outros. Contudo, o projeto de policiamento e controle da população sob disciplina não partia apenas do Estado, as elites participaram ativamente e, inevitavelmente, partilhavam seus interesses. Assim, “Controlar e reprimir: a criminalidade em Bragança-PA no início do século XX” demonstra como a marginalidade e a transitoriedade de indivíduos de classes populares eram preocupações para a elite, do mesmo modo, as estratégias de sobrevivência de um grupo de criminosos em Bragança / PA e sua margem de atuação num espaço onde sua margem de ação era limitada uma vez que sua condição social determinava suas escolhas.
Já o artigo “Um legítimo homicídio emocional”: a Justiça e o crime “passional” no Brasil dos anos 1950” apresenta outros elementos não racionais envoltos na aplicação da justiça. A motivação dos crimes podem ser justificadas a partir do ciúme e atos de honra, valores presentes quando adentramos nas questões de gênero e na construção da masculinidade. Se, nesse texto, se analisou crimes passionais cometidos por homens acusados pela morte de suas companheiras; em “Occultar a deshonra: práticas de infanticídio em Castro – Paraná (1884-1899)” consiste em identificar e revelar as mulheres que cometeram o crime de infanticídio e, assim quebraram a ordem da lei. “Processos crimes de infanticídio e saberes científicos: a busca pela verdade inscrita nos corpos (Rio Grande do Sul 1891- 1919)” explora a questão dos procedimentos de corpo de delitos nos corpos das mulheres que cometiam o infanticídio, englobando, também a relação da medicina e o judiciário.
Esses casos, por sua vez, ganhavam, muitas vezes, uma versão distorcida e assumiam uma caráter de julgamento quando publicados em periódicos. É, igualmente desse modo que o artigo “O samba da morte”. O assassinato de um soldado da Força Policial no Morro da Favela (Rio de Janeiro, 1909)” confronta, através de processos criminais o assassinato de um soldado, revelando as falas de testemunhas e acusados, o que ocasiona, finalmente, em diferenças gritantes entre o que foi repercutido na imprensa e o que, de fato, se escreveu nos processos policiais. Por seu turno, o texto “Longe de pacíficos e ordeiros”: Os crimes e os criminosos na Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo” constata, pela investigação de processos crimes, que os alemães e seus descendentes foram, com frequência, réus ou vítimas, desmitificando um discurso que os representava como passivos e cumpridores das leis.
Os artigos “Impressões sobre a Cadeia Velha (1750-1808)” , “Dimensões e facetas do trabalho prisional: as fugas da Casa de Detenção do Recife nos tempos do administrador Rufino Augusto de Almeida (1861-1875)”, “Anatomia do crime: o perfil dos delitos cometidos por cativos no contexto de intensificação do tráfico interno (Pelotas, 1850-1884)” e “Um crime de cor, do sistema penal racista ao tribunal racial: reflexões sobre a condenação de Preto Amaral em 1927” embora com temas distintos, operam seus trabalhos seguindo o objetivo, em linhas gerais, de exibir o perfil, comportamentos e mecanismos de sobrevivência de vítimas dos delitos e de escravos. Torna-se, claro, com a leitura de seus trabalhos que as leis não eram justas, a pobreza e a origem social delineava uma situação de vulnerabilidade e racismo, nos quais descortina questões de má administração da justiça.
Desde o século XVI, com a instalação gradual de um aparato administrativo e jurídico no Brasil, agentes em nome das leis desempenharam atribuições múltiplas e concisas para regular a ordem pública. O texto “Para punir os culpados e evitar malfeitorias: a inserção do juiz de fora na estrutura judiciária brasileira no final do século XVII” e “O degredo como punição: a pena de degredo para o Brasil no Livro V das Ordenações Filipinas”, demonstram, o papel desses cargos na configuração judiciária e também as formas de punições prescritas pela lei àqueles que se desviavam da obediência.
Não obstante, recorrer à justiça nem sempre prevaleceu como primeira alternativa, é o que os leitores encontrarão na leitura dos textos como “Crimes do Oeste: os ladrões de gado em meio às transformações sociais no início do século XX no município fronteiriço de Uruguaiana”, “Honra, litigiosidade e justiça: os crimes de honra na região de Formiga – Minas Gerais (1807-1875)” e Noções de honra e justiça entre as classes populares da fronteira no Brasil meridional na segunda metade do século XIX – estudo de casos”.
Ainda nessa edição trazemos ao leitor onze artigos livres e duas resenhas de temas e recortes variados. O primeiro artigo da seção livre é “A dimensão da ideia de civilização no contexto da reforma urbana de Pereira Passos”, que aborda a ideia de civilização no início do século XX, ou seja, no contexto das reformas do prefeito do Rio de Janeiro Francisco Pereira Passos, o autor realiza sua análise através da abordagem dos discursos propagados à época pelo referido prefeito.
Em seguida temos “Guerra e Infância: um olhar poético infantil sobre os cenários brutais da Segunda Guerra Mundial”, artigo no qual se busca conectar a produção cinematográfica aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, são destacadas pelo autor questões como momento em que determinado filme foi produzido e a presença de imagens instantâneas que não demandam a mobilização de uma imaginação maior por parte do espectador. Desse modo, são analisados os filmes A menina que roubava livros (2013) e o Menino do Pijama Listrado (2012), ambos adaptações de livros de literatura.
Assim, seguindo um recorte cronológico segue-se o artigo “Configurações políticas, articulações e estratégias de imigrantes e descendentes diante das mudanças decorrentes do Estado Novo no Rio Grande do Sul (1937 – 1945)” que explora questões como imigração, religião e vínculos de imigrantes com a política local e regional, centrados no município de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul.
Em “Transição democrática na Argentina e no Brasil: continuidades e rupturas” são discutidos os conceitos de transição e consolidação, bem como as diferenças e semelhanças entre os processos de abertura política nos países Brasil e Argentina. Por sua vez, “Castigos, Revoltas e Fugas: A fundação do bem-estar do menor retratada nas páginas da Folha de São Paulo 1980-1990” realiza, através de fontes periódicas e jurídicas, a análise da construção de uma imagem negativa a respeito da população infanto-juvenil pobre e / ou infratora, com uma percepção histórica são abordadas questões como transformação ao longo do tempo do discurso propagado sobre jovens infratores diante de mudanças ocorridas na legislação a respeito da criança e do adolescente.
Na segunda parte, estão “Banco de dados e acervos digitais: o uso das TCI’s na pesquisa em História” e “Transi Tombs: pesquisa com fontes medievais através do acesso virtual”. O primeiro investiga a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) por pesquisadores da área de história do interior do estado do Ceará. Destacam-se questões pertinentes como a dificuldade de acesso a arquivos, seja por inexistência ou má conservação de documentos, encontradas por pesquisadores que não estão nas grandes cidades e a importância do acesso às fontes de maneira digital. Além disso, o artigo destaca também a relevância do recurso virtual frente à ausência de fontes físicas em áreas como História Antiga e Medieval. Por conseguinte, temos “Transi Tombs: pesquisa com fontes medievais através do acesso virtual” que apresenta possibilidades de pesquisa de História Medieval através da análise de fontes primárias disponíveis em acervos digitais. As Transi Tombs ou tumbas cadáveres inglesas do século XV são analisadas pela autora com base no aspecto iconográfico.
Já “Os símbolos da Brigada de Infantaria Paraquedista: influências, permanências e rupturas” destacando a importância de estudos sobre a tradição, neste caso a militar, faz a análise das origens, continuidades e rupturas dos símbolos da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Por fim, o artigo “Hermenêutica e historiografia” e “Perspectivas em História da Ciência: A Revolução Científica e sua relação com o cristianismo” desenvolvem-se ao redor dos temas: história, ciência e modernidade. Portanto, perpassam questões como a escrita e a teoria da história.
Ao longo do processo de recepção e tratamento dos artigos que compõe esse número, felizmente, contamos com a participação de pesquisadores vinculados ou formados por importantes instituições, como: Universidade Federal de Santa Maria, Universidad Nacional de General Sarmiento, Museo Nacional de Odontología, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Instituto Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Santo Amaro, Universidade Estadual Paulista, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Federal de São João del Rei, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade de São Paulo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Cariri, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Meira Mattos e Universidade Estadual de Campinas.
Michele de Oliveira Casali (Editora-Chefe)
Thaís Olegário Fleck (Editora-Gerente)
CASALI, Michele de Oliveira; FLECK, Thaís Olegário. Apresentação. Aedos, Porto Alegre, v. 9, n. 20, Ago, 2017. Acessar publicação original [DR]
Política na América Latina Contemporânea / Aedos / 2017
As múltiplas abordagens e interfaces com o presente propiciadas pelo estudo da História contemporânea movimentam muitos debates entre os profissionais das Ciências Humanas. O interesse por esta temática no Brasil também é reflexo da conjuntura política e econômica da atualidade. Estudos tem se debruçado em buscar, oferecer e reforçar a aplicabilidade de modelos explicativos que ofereçam contribuições para se compreender a gênese de problemas como as desigualdades sociais e o aumento substancial da violência e da repressão no cenário político. Estes esforços científicos permitem, por exemplo, ampliar a análise das consequências que medidas repressivas de alta intensidade, como o decreto de intervenção militar no estado do Rio de Janeiro neste ano de 2018, aportam à degeneração das relações democráticas e ao distanciamento em relação a políticas de direitos humanos.
Na história do século XX brasileiro, podemos encontrar duas ditaduras: a do Estado Novo, entre 1937 e 1945, e a Ditadura Civil-Militar, que persistiu entre os anos de 1964 e 1985. Os períodos intermitentes não guardam menos complexidade, sendo objeto de inúmeras abordagens acadêmicas. Na América Latina como um todo, em que pesem as diferenças, processos análogos reforçam a potencialidade de estudos comparativos e demonstram a validade histórica e política dos objetos de análise. Neste sentido, o dossiê Política na América Latina Contemporânea, trazido neste número, conta com oito artigos com temas variados que podem ser enquadrados nas seguintes categorias: pensamento autoritário e práticas repressivas, relações internacionais e ditadura civil-militar brasileira (1964-1985).
O primeiro artigo apresentado é Leis que atuam no tempo e no espaço: um diálogo entre o pensamento de Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e família (1937-1945), no qual o autor, Fábio Wilke, analisa as construções teóricas de Oliveira Vianna e de Azevedo de Amaral e sua relevância para a sustentação política e econômica do Estado Novo.
Já os artigos Reformas Neoliberais na América Latina: um balanço geral, A Ingerência estadunidense na Venezuela chavista e Um estudo das relações entre a Argentina e Paraguai em torno do impasse sobre a navegação do Rio Paraná por meio de documentos diplomáticos brasileiros e as negociações para construção de Yacyretá (1965-1973), inserem-se na linha temática das relações internacionais, tanto entre países latino-americanos e os Estados Unidos da América (EUA), quanto entre países componentes da América Latina. O primeiro texto, de Rafael Brandão, aborda as políticas econômicas neoliberais aplicadas na América Latina por meio das diretrizes do Consenso de Washington. Brandão cede destaque ao Chile, mas analisa também os casos boliviano, mexicano, venezuelano, peruano e argentino.
Tiago Salgado, por sua vez, trata do caso da Venezuela e das relações de interferência realizadas pelos EUA neste país. A abordagem é ainda mais significativa em um momento em que se discute amplamente a situação venezuelana na mídia e no qual se demanda o aprofundamento das análises sobre as relações de dominação e dependência existentes na América Latina, bem como sobre seus impactos políticos.
No texto de Luiz Barros, o leitor encontrará uma investigação acerca das disputas relativas ao aproveitamento dos rios internacionais componentes da Bacia do Rio da Prata por intermédio da observação das relações diplomáticas entre a Argentina e o Paraguai.
Na linha temática da ditadura brasileira, Jocyane Barretta, em seu artigo A importância da materialidade dos Centros Clandestinos de Detenção e Tortura para contar histórias da Ditadura no Brasil, explora as discussões sobre a dinâmica repressiva e a materialidade dos espaços. A autora realiza um levantamento dos Centros Clandestinos de Detenção e Tortura (CCDT) em todo o país e se detém na análise de um desses centros, o Dopinha, de Porto AlegreRS. A linha temática abrange também o artigo Lágrimas que vertem do solo: lutos e supressões nas disputas da memória em torno de mais uma vala sul-americana (Bairro de Perus, São Paulo, 1990 – 1993), de Roger Barrero Junior. O autor aborda questões relacionadas às disputas de memória sobre o período ditatorial brasileiro, explorando questões como a ausência de uma discussão mais profunda a respeito das violações de direitos humanos e do desaparecimento de pessoas.
Em Carreiras políticas de sucesso: o apoio ao Golpe Civil-Militar de 1964 e o recrutamento da elite política gaúcha, Guilherme Catto qualifica os parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por meio de uma análise prosopográfica, dividindo-os em duas categorias de análise: aqueles que aderiram ao golpe de 1964 e os que se opuseram.
O último artigo a compor o dossiê é Liberais e a Intervenção Estatal: Controvérsias Econômicas em “Quem é quem na Economia” de Fernando Coelho, que a partir da dimensão econômica discute os embates ideológicos sobre os projetos liberal e desenvolvimentista, concebidos pelo empresariado para o Brasil durante a ditadura.
Ainda nessa edição trazemos ao leitor dezesseis artigos livres de temas e recortes variados. A reflexão sobre o ensino foi o assunto que perpassou os artigos Movimento Negro, educação e os princípios da Lei 10.639 / 03; Combater as desigualdades sociais pelo ritmo escolar? O caso do Brasil e da França; Leitura e literatura: o letramento literário como processo de intelectualização e O ofício do historiador como pesquisador dos videogames: teorias e métodos. Nestes artigos, são abordadas as relações étnico-raciais e a Cultura Afro Brasileira e Africana no ensino brasileiro; as profundas desigualdades sociais e seu reflexo na educação de crianças e jovens brasileiras; e o repertório teórico e metodológico que permite ao historiador analisar os jogos como fontes.
O artigo Dentre fronteiras: a coca, o crime e a História na Bolívia traz importantes considerações sobre a representação da coca e seu lugar no cenário político e cultural atual. A análise historiográfica de práticas de crime e justiça também está presente nos artigos “Praça de exemplar comportamento e estimado por seus superiores”: Notas de pesquisa sobre o cotidiano policial através de um processo crime (Porto Alegre / fins do século XIX) e O aipim e a espingarda: juventude, criminalidade e pensamento criminológico no século XIX a partir de um caso concreto. Nestes textos, os focos de abordagem são o cotidiano dos indivíduos e o envolvimento e impacto das autoridades policiais em suas vidas. Relevante destacar a correspondência entre a pobreza e o crime, as motivações particulares e como essas práticas afetam o funcionamento da ordem pública.
A violência e suas imbricações sociais e culturais foi tema dos artigos Violência e Imprensa no Oeste Paulista: um estudo de caso e Cultura e violência na República Velha Rio-Grandense: os processos-crime de homicídio e lesão corporal da Comarca de Soledade. Enquanto o primeiro analisa um caso de assassinato e sua repercussão em dois periódicos do período também relata as omissões e os discursos abordados por tais jornais. O segundo discute as muitas transformações ocorridas no período da República Velha e a análise dos processos-crimes revelam a violência como alternativa constante para a resolução de litígios cotidianos.
As possibilidades de aplicação de fontes não-escritas são respaldadas pelo texto Fotografias Judiciárias, História e Processos criminais: notas de pesquisa (Irati-PR; 1948 e 1951), que enfatiza a potencialidade metodológica desse tipo de registro para a reconstituição de um delito. Por outro lado, o artigo Experiências do tempo e laços identitários nos periódicos mineiros Abelha do Itaculumy e O Universal (1824-1827), o trabalho busca compreender nas fontes escritas a concepção de tempo e as relações entre escrita da história e temporalidade no Império Brasileiro diante da independência e a nova configuração jurídica.
O artigo O ideal nobiliárquico e a busca por distinção Social no Antigo Regime Português: em Busca de uma definição para o conceito de Nobreza da Terra destoa dos artigos que apresentamos até aqui. Circunscrito ao período da Colônia, o texto propõe uma revisão historiográfica que dê conta das origens e do percurso do conceito de “Nobreza da Terra” e do seu entendimento para a designação de um grupo específico desse tempo.
André Leme, em A biografia de Júlio Cesar e os riscos do poder absoluto: Suetônio e a política romana em tempos de Adriano (século II d.C.), analisa a obra escrita por Suetônio e lançada no século II d.C., abordando especialmente a biografia escrita pelo autor sobre Júlio César.
Em relação à análise da historiografia brasileira apresenta-se Histórias gerais, histórias particulares: Pedro Calmon e a prática historiográfica na década de 1960, de Nayara do Vale. No artigo, a autora aborda as discussões entre a história enquanto produção institucionalizada e história extra acadêmica. Para tanto, utiliza conferências de Pedro Calmon e discute os projetos em disputa na década de 1960.
Por fim, inseridos na temática de gênero e relações de poder estão: Mujeres libres e a emancipação feminina: apontamentos sobre anarquismo, revolução e feminismo libertário na Espanha dos anos trinta e Sangue menstrual e magia amatória: concepções e práticas históricas, de Talita Sobrinho e Andressa Ferreira, respectivamente. Mujeres libres explora uma organização de mulheres trabalhadoras anarquistas na Espanha durante a Guerra Civil e Revolução espanholas, e tem como enfoque “o feminino dentro da Revolução”. O artigo de Andressa Ferreira compõe um panorama sobre como ao longo do tempo o sangue menstrual foi concebido, analisando as diversas interpretações e representações desse fluido e discutindo permanências e imaginários entre a mágica e a medicina moderna.
Michele de Oliveira Casali (Editora-Chefe)
Thaís Fleck Olegário (Editora- Gerente)
Fernanda Feltes (Editora de seção)
CASALI, Michele de Oliveira; OLEGÁRIO, Thaís Fleck; FELTES, Fernanda. Apresentação. Aedos, Porto Alegre, v. 9, n. 21, Dez, 2017. Acessar publicação original [DR]
História, democracia e diferenças: os direitos humanos na contemporaneidade / Albuquerque: Revista de História / 2017
É com grande satisfação que apresentamos ao público-leitor o dossiê “História, democracia e diferenças: os direitos humanos na contemporaneidade”. A proposta desse compêndio de artigos escritos por pesquisadores de diversas partes do mundo é construir, desde o campo acadêmico, um olhar mais aberto ao inventário social que estabelece a relação entre História e contemporaneidade. A partir de abordagens teóricas plurais, as discussões sobre temas centrais como racismo, política, território, memória, gênero, e episteme, compõem um mosaico cultural definidor do maior desafio do atual cenário político internacional: a defesa de certo sentido de democracia no que se convencionou chamar de “Direitos Humanos”
O debate sobre o lugar das minorias em situações de conflito como as vivenciadas no mundo contemporâneo revela a urgência com que a produção científica atual precisa não apenas se posicionar em relação a contextos de exceção, de resistência e de luta, mas também se debruçar sobre temas espinhosos que, de forma geral, fazem com que a História e as demais ciências humanas tenham algo a dizer sobre a visibilidade social e politica que determinados grupos reivindicam. O silêncio diante da opressão é algo que precisa ser superado e debatido amplamente, e nada melhor do que a reflexão acadêmica para trazer à discussão as questões que fundamentam diversas agendas sociais. A utilização de um espaço consolidado de análise como a Revista Albuquerque mostra que o propósito desse dossiê atinge não somente a sensibilidade dos grupos envolvidos nessas demandas, mas alcança um universo alargado de preocupações teóricas que extrapola as convenções científicas e obriga a universidade pública a se aproximar das tensões que nos definem desde o passado em direção ao presente.
Os artigos que fazem parte desse dossiê foram produzidos a partir dessas inquietações, e almejam fomentar o anseio de se compreender a importância do tema dos Direitos Humanos e reconhecer a necessidade de considerá-lo como uma conquista que não pode ser monopolizada politicamente em tempos difíceis como o que vivemos. Com esse espírito, por meio de um olhar abrangente sobre o tema, Agustín Ávila Romero e José Luis Silvaran mostram como a História deve ser definida a partir de um binômio singular: a diversidade biocultural e as ontologias espaciais na América Latina. Para tanto, os autores superam a tendência geral de se olhar para a História mexicana exclusivamente por meio de fontes escritas espanholas, demonstrando certa resistência epistemológica ao se debruçar sobre formas narrativas próprias dos maias tzeltales de Chiapas para se compreender valores e saberes que se sedimentam no chamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A defesa do olhar local sobre o citado movimento é reforçada por escolhas teóricas apropriadas e inovadoras, especialmente quando se recorre aos conceitos de colonialidade do saber e colonialidade do poder para se redefinir uma espécie de memória zapatista. No pulsante coração da América Latina, o exemplo epistemológico dos autores serve de modelo para que outros movimentos sociais no mesmo continente sejam lidos por um viés mais autêntico e fiel aos grupos locais do que a velha e mofada epistemologia clássica.
Ainda sobre as questões ligadas ao exercício da dominação cultural na teoria do conhecimento que se reproduz nas universidades ocidentais, José Marín destrincha o vínculo entre eurocentrismo, racismo e interculturalidade no mundo globalizado. Os problemas contemporâneos, em suas múltiplas faces, garantem a sobrevivência de aspectos das relações humanas que já deveriam ter sido extintos no trato entre as diferentes culturas. Um desses elementos nocivos, que reforçam a necessidade de discussão sobre os Direitos Humanos é a herança colonial europeia de se desqualificar o outro para oprimi-lo. Marín nomeia essa estratégia epistemológica de “perversão ideológica” fundadora do racismo e do nacionalismo que nos dias atuais, se transformam em políticas de massas. Não reduzindo sua reflexão à denúncia dos males, e estendendo suas conclusões em direção a caminhos que permitam a solução desses problemas, o autor apresenta a educação como principal ferramenta de conciliação entre valores universais e particularidades culturais. O primeiro passo, portanto, seria a validação da ideia de que a História da humanidade é a história de nossas migrações.
Já Bruno do Prado Alexandre e Raquel Gonçalves Salgado, em artigo sobre as narrativas de travestis, transferem o olhar do leitor para outro universo silenciado: o lugar desses indivíduos e de seus corpos no ambiente escolar brasileiro. A base teórica para essa análise seria o que os autores chamam de “estudos de gênero e pós- feministas”, o que por si só já conferiria a originalidade e a importância desse trabalho. O mapeamento da questão a partir das vozes de cinco jovens travestis de Rondonópolis, Mato Grosso, escancara pela ótica acadêmica o que se tenta ocultar pela opressiva caracterização de certa “normalidade” social O tempo da infância, o espaço escolar e a sociabilidade cotidiana são marcados por categorias emblemáticas da violência sofrida pelo “diferente”, traduzida em acepções como “viadinho”, “estranho” e até mesmo “corpo abjeto”. O resultado dessa dinâmica de opressão singular é a construção de estratégias de sobrevivência e resistência dentro de um espaço que deveria originalmente ser acolhedor e integrado como a escola. A dinâmica de violência do ambiente escolar em relação aos travestis tem um palco de atuação ainda mais central: o banheiro. É aqui que o “processo de negação e privação de direitos empreendidos sobre os corpos considerados grotescos certamente, a dimensão mais cruel das memórias escolares desses sujeitos formados pelos silêncios e pelas invisibilidades.
Outro universo a ser revelado pelas questões ligadas aos Direitos Humanos nesse dossiê é a luta pela terra como agenda global. Em seu artigo, Cassio Rodrigues da Silveira estabelece os parâmetros da reforma agrária como uma reivindicação social que transcende a demanda específica dos integrantes de um movimento organizado como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Em conflito não apenas com o latifúndio, mas também com o viés globalizante do capitalismo neoliberal, o combate pelo direito à terra defendido pelo MST confere uma dimensão social à questão agrária, já que passa a ser movida pela necessidade de sobrevivência, e não pela lógica do mercado fundiário. O problema da concentração da posse da terra, portanto, ultrapassa as fronteiras nacionais, pois o sistema econômico, o Estado e os interesses de classe são distintas dimensões de um debate assumido pelo MST como altermundialista. No entrecruzamento dessa questão estão as relações com os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as expectativas construídas a partir do Fórum Social Mundial em 2001, e a luta anti-imperialista mundial, tudo expresso nas publicações do MST e na construção de um vocabulário político próprio em seus textos e redes de informação.
Mantendo-se no campo das lutas políticas em contextos de repressão, Aguinaldo Rodrigues Gomes apresenta o tema da resistência de intelectuais e estudantes do PCB (Partido Comunista Brasileiro) ao regime militar brasileiro. O primeiro desafio enfrentado aqui é justamente contribuir com o recente debate historiográfico acerca do tema, que tem buscado pensar como esse acontecimento político, um dos mais dramáticos de nossa história, repercutiu fora dos centros de poder do país, especificamente o eixo Rio-São Paulo. O autor enfatiza no artigo as estratégias adotadas pelo PCB para a construção de uma luta pelos diretos civis no campo educacional por parte de estudantes e professores que ousaram enfrentar o regime em defesa das liberdades de expressão. No momento em que se discute o que foi a ditatura militar no Brasil, notória por seu completo desprezo aos Direitos Humanos mais fundamentais, estender o debate para outras partes do país é democratizar a luta contra um passado recente, além de ser também uma forma de resistência epistemológica que quebra a centralidade do Rio de Janeiro e de São Paulo no discurso sobre a memória política do Brasil contemporâneo.
Ainda em relação à resistência a ditadura militar em nosso país Ary Cavalcanti Junior nos traz uma narrativa sobre a resistência das mulheres ao regime a partir da trajetória da militante Diva Soares Santana que atuou em defesa dos direitos dos mortos e desaparecidos durante a ditadura civil-militar no grupo Tortura Nunca Mais-Bahia. Utilizando a metodologia da história oral, o autor busca representar as memórias, seus confrontos e ressignificações a partir dos relatos de Diva Santana. Nas palavras de Cavalcanti Junior a inserção de Diva na militância ocorreu devido ao desaparecimento de sua irmã Dinaelza, mas uma vítima do regime ditatorial. Sua busca pelo corpo da irmã nos fornece um claro retrato da face perversa da ditadura na Bahia, a exemplo do que ocorreu em diversas regiões do país e que ainda estão por ser descortinadas pelas pesquisas acadêmicas, daí a importância do texto de Cavalcanti Junior.
Com os olhos voltados para um dos grandes ícones da cultura brasileira, Tadeu Pereira dos Santos analisa a condição de subalternidade do negro no Brasil pela biografia de Sebastião Bernardes de Souza Prata, conhecido como Grande Otelo. As representações sobre negros e atores na imprensa brasileira, fonte principal desse trabalho, coloca elementos depreciativos como definidores da carreira de Grande Otelo, como por exemplo, a estratégia constante de reforçar a presença do alcoolismo em sua biografia. Alguém realmente pode conceber que o excesso de consumo de álcool pode ser um elemento central na trajetória de uma figura marcante como Grande Otelo? Parece que para a imprensa e a sociedade civil brasileira, com seus preconceitos e estigmas, o artista negro merece destaque por aquilo que se espera de alguém como ele: instabilidade, vício e práticas religiosas abalizadas pela dubiedade. A malandragem e a astúcia, tomadas em determinados contextos como uma ação social pejorativa, passa a definir, no artigo de Tadeu Pereira dos Santos, uma estratégia de sobrevivência a ser exaltada. Não se trata apenas de discutir os Direitos Humanos como uma questão de ordem jurídica e moral, mas como mais uma expressão da necessidade de se humanizar determinados grupos marginalizados pela hierarquia social vigente.
Na esteira das reflexões sobre a marginalização dos negros a historiadora Priscila Xavier de Oliveira Scudder ancorada no mapa da violência 2016 e na obra “A democracia da Abolição” da filosofa Ângela Davis nos apresenta uma comparação entre as facetas do racismo nos Estados Unidos da América e no Brasil. Perscrutando a história brasileira e suas práticas racistas decorrentes do colonialismo que se apresenta em um viés duplo, a saber, no plano da organização social e da própria construção do saber acadêmico, denuncia assim, o apagamento / silenciamento das minorias no âmbito da esfera social e mesmo no campo das narrativas epistemológicas. Seu texto aponta para a necessidade de uma resistência intelectual e popular contra as práticas legitimadoras da subalternidade que favorecem a discriminação, as novas formas de escravização e, sobretudo o extermínio da população negra em nosso país.
Se falar em democracia e Direitos Humanos é, sobretudo, conferir humanidade aos destituídos dessa condição, o artigo de Eliete Borges Lopes e Luis Augusto Passos segue esse mesmo princípio ao dedicar-se à análise da população em situação de rua da chamada Ilha do Bananal, em Cuiabá. A noção de resistência abarca também estigmas sociais comuns no Brasil como a pobreza e a violência, alicerçados em um competente arcabouço metodológico composto por uma cartografia das ruas, uma pesquisa exploratória e uma interpretação-descrição dos fenômenos. Independente das condições de vida e marginalização desse território e de seus moradores, os autores se valem de uma sensibilidade acadêmica rara para identificar nos sujeitos de sua pesquisa aquilo que chamam de arte-fatos e afetos da vida da cidade, expressos na paisagem local negociada entre o patrimônio arquitetônico e os graffitis, além da visibilidade de certa performance da população em situação de rua. Há que se considerar, portanto o potencial de “educação popular” da Ilha do Bananal, em uma época em que a presença do poder público nesses espaços de marginalização se fortalece por meio de ações autoritárias e de políticas intervencionistas agressivas nomeadas como “higienização”
E por fim, contribuindo para o debate sobre as relações étnico-religiosas e as origens do discurso sobre os Direitos Humanos, Karina Arroyo e Murilo Sebe Bon Meihy trazem à tona a necessidade de se romper o monopólio ocidental sobre o discurso dos Direitos Humanos. O lugar do Islam, e especificamente de um de seus grupos mais perseguidos, os muçulmanos xiitas, é analisado nesse artigo por meio de uma espécie de aproximação dos valores da citada religião com a moralidade laica e universalista atribuída de forma unilateral ao Ocidente após o século XVIII. Neste artigo, da filosofia de Kant às interpretações dos textos religiosos do Islam por seus jurisprudentes, o caminho escolhido pelos autores é o de reforçar o diálogo entre culturas como precondição para o debate sobre a aplicação geral do legado dos Direitos Humanos. Os xiitas no Brasil são os atores centrais desta reflexão, o que obriga o leitor a considerar que se há um processo de identificação do Oriente Médio como o espaço de desrespeito flagrante aos pilares dos Direitos Humanos contemporâneos, não nos esqueçamos de que as principais vítimas desse tipo de violência são os próprios muçulmanos, especialmente grupos minoritários como os xiitas, tanto no Oriente Médio, como no Brasil.
Enfim, a Revista Albuquerque oferece a todos um mapa bastante detalhado do uso político e seletivo que se dá atualmente aos princípios democráticos e ao direito em geral. O contato com esse dossiê deve ser acompanhado desse espírito crítico. Em um mundo tão pouco democrático e desumanizado como o atual, ter acesso a esses textos é mais que uma atividade intelectual. Chega a ser um direito…
Boa leitura!
Murilo Sebe Bom Meihy – Professor de História Contemporânea do Instituo de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
Aguinaldo Rodrigues Gomes – Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: [email protected]
MEIHY, Murilo Sebe Bom; GOMES, Aguinaldo Rodrigues. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.9, n.17, 2017. Acessar publicação original [DR]
História Indígena: o campo interdisciplinar renovado / Albuquerque: Revista de História / 2017
CASTRO, Iára Quelho de; VARGAS, Vera Lúcia Ferreira; MOURA, Noêmia dos Santos Pereira. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.9, n.18, 2017. Acesso apenas pelo link original [DR]
Patrimônio, Cultura Material e Imaterial: diálogos e perspectivas / Albuquerque: Revista de História / 2018
GIAVARA, Eduardo; FERREIRA FILHO, Aurelino José. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.10, n.19, 2018. Acesso apenas pelo link original [DR]
A invenção dos direitos humanos: uma história | Lynn Hunt
A autora de A invenção dos direitos humanos, Lynn Avery Hunt, nasceu em 1945 no Panamá e cresceu no estado de Minnesota nos Estados Unidos da América. Atualmente, leciona História europeia na Universidade da Califórnia e utiliza os pressupostos da História Cultural em suas produções acadêmicas.
Vinculada à História Cultural, em A invenção dos direitos humanos Lynn Hunt salienta a importância de abordar as transformações das mentes individuais ao trabalhar os processos históricos. Sendo assim, nos capítulos iniciais do livro a autora busca elucidar as novas formas de compreensão de mundo surgidas no século XVIII que possibilitaram a construção de pressupostos como os presentes na Declaração de Independência Americana (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ao se desfazer da subordinação política para com a Coroa Britânica, fez uso das idéias iluministas ao declarar verdades auto-evidentes como igualdade de todos os homens e seus direitos inalienáveis: “Vida, liberdade e busca da felicidade”. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adiante e traçou que todos os homens são iguais perante a lei e que todos possuem o mesmo direito independente de sua origem ou nascimento. Pressupôs-se, então, a tolerância religiosa e a liberdade, além da autonomia e da independência dos homens.
Para as declarações, os direitos eram universais e iam além de classe, cor ou religião. No ato da escrita, já se partia da idéia de auto-evidência dos direitos, o que aponta para uma mudança radical nos pensamentos ao longo do século XVIII e insere uma problemática: se os direitos são auto-evidentes por que precisam ser declarados? Ao responder a essa questão Hunt salienta que a construção dos direitos é contínua.
As declarações são a materialização das discussões que haviam interpelado o século XVIII e rompiam com a estrutura tradicional de sociedade. Um novo contrato social foi forjado, centrado nas relações entre os próprios homens sem contar com o intermédio religioso: era o fim do absolutismo e a desconstrução do Direito Divino dos Reis de Jacques Bossuet. O fundamento de toda a autoridade se deslocou de uma estrutura religiosa para uma estrutura humana interior: o novo acordo social se dava entre um homem autônomo e outros indivíduos igualmente autônomos.
A montagem dessa nova estrutura só é possível devido a uma nova visão do homem: agora visto como alguém livre que tem domínio de si, que pode tomar decisões por si e viver em sociedade. A autonomia individual nada mais é do que a aposta na maturidade dos indivíduos. A partir dessa nova visão, nasce-se uma nova vertente educacional: modelada pelas influências de Locke e Rousseau, a teoria educacional deixa de focar na obediência reforçada pelo castigo para o cultivo cuidadoso da razão para formar esse novo homem crítico e independente.
Paralelo a isso, nasce-se uma nova visão de corpo. O corpo passa a ser algo de domínio privado, individual e não mais como algo pertencente ao corpus social ou religioso. Os corpos também se tornaram autônomos, invioláveis, senhores de si e individualizados.
Como um importante mecanismo de transformação, Hunt aponta a popularização dos chamados romances epistolares. As cartas enviadas pelas protagonistas abordam as emoções humanas para todos os leitores. As lutas de Clarissa e Pâmela, criadas por Richardson, além das questões de Júlia, escrita por Rousseau, fizeram com que os leitores reconhecessem que todos tem seus sonhos, almejam tomar suas próprias decisões e dirigir a própria vida. O desenvolvimento de um sentimento de empatia tornou possível a construção de pressupostos básicos como a autonomia, a liberdade e a independência, além da igualdade.
Outro exemplo de transformação social ocorrida no século XVIII foi a campanha contra a tortura. Hunt cita o caso Callas como disparador de um processo que espelhou a nova visão de corpo na sociedade francesa do século XVIII. Para Hunt, ler relatos de tortura ou romances epistolares causou “mudanças cerebrais” que voltaram para o social como uma nova forma de organização.
Houve uma queda na visão do pecado original, na qual todos são pecadores e duvidosos, para a ascensão do modelo de homem rousseauniano que aposta na bondade de cada indivíduo. Essa concepção, aliada ao novo conceito de corpo, agora dentro do limite privado, formulou um posterior novo código penal que gradualmente aboliu a tortura e deu ênfase à ressocialização do indivíduo. O corpo já não era punível com a dor para vingar o social e estabelecer um exemplo ao restante da população. O corpo agora era privado e o foco se tornou a honra social do indivíduo.
Após abordar as transformações que tornaram possíveis as declarações, Lynn Hunt se ateve às aplicações e ao processo de formação das sociedades ao tentarem aplicar esses direitos. Uma assertiva importante que a autora faz nesse capítulo é que declarar é um ato político de alteração da soberania: esta passou a ser nacional, pautada no contrato entre homens iguais perante a lei, sem intermédio da religião. Declarar significava consolidar o processo de mudanças que vinham ocorrendo ao longo do século.
Mesmo dizendo que naquele momento os direitos já eram auto-evidentes, os deputados criaram algo inteiramente novo que era a justificatição de um governo a partir de sua capacidade de garantir os direitos universais. Entretanto, nessa fase encontram-se os problemas inerentes a aplicação desses conceitos generalistas: declarar os direitos universais significava conceder direitos políticos às mais variadas minorias, e proclamar a liberdade colocava em cheque a escravidão colonial.
A partir daí muitos direitos específicos começaram a vir à tona na esteira: liberdade de culto aos protestantes significava direito religioso também aos judeus, bem como participação política; o mesmo acontecia com algumas profissões, além da situação das mulheres, defendida de maneira inovadora por Condorcet e Olympe de Gouges. Os direitos foram sendo concedidos gradualmente, a liberdade religiosa e os direitos políticos iguais às minorias religiosas foram concedidos no prazo de dois anos, bem como a libertação dos escravos.
A discussão da universalidade dos direitos foi caindo ao longo do século XIX. Alguns grupos assumiram as lutas políticas do século seguinte às declarações como os trabalhadores e as mulheres. O nacionalismo foi um protagonista importante da luta por direitos ao longo do século XIX, os pressupostos franceses internacionalizados pela expansão napoleônica surtiram o efeito inverso.
Após a dominação que caracterizou o período napoleônico, nos territórios ocupados se criou uma aversão a tudo que viesse dos franceses em detrimento do que simbolizasse uma identidade nacional. Com o tempo o nacionalismo foi tomando características defensivas e passou a ser xenófobo e racista, baseando-se cada vez mais em inferências de caráter étnico.
Teorias da etnicidade representaram um enorme retrocesso ao ideal de igualdade pois partiam para determinação biológicas da diferença, montando hierarquias e justificando a subordinação, e, por conseguinte, o colonialismo. Houve uma falência do novo modelo educacional, visto que dentro da nova ideologia social só algumas raças poderiam chegar à civilização rompendo também com o ideal de universalidade.
O ápice dessa visão nacionalista e racista foi a Segunda Guerra mundial, que com os milhões de civis mortos representou a falência dos direitos humanos, principalmente com os seis milhões de mortos por intolerância religiosa e discurso de raça. As estatísticas assombrosas e o julgamento de Nuremberg trouxeram à tona a necessidade de um compromisso internacional com os direitos humanos.
Apesar de reconhecimento da urgência desse compromisso, foi preciso estimular as potências aliadas a assinar a Declaração dos Direitos Humanos, visto que havia um receio de perder colônias e áreas de influência. Sendo assim, a Declaração de 1948 só foi assinada porque deixava claro que a Organização das Nações Unidas (ONU), ali criada, não influenciaria nos assuntos internos de cada país. Ao longo do tempo, as Organizações Não-Governamentais foram mais importantes para a manutenção dos direitos humanos ao redor do mundo do que a própria ONU.
A discussão acerca dos direitos humanos feita por Hunt termina por ressaltar o quão paradoxal é esse tópico, além da dificuldade de conter “atos bárbaros” até os dias atuais. Hunt (2009, p. 214) fala de “gêmeos malignos” trazidos pela noção de direitos universais: “A reivindicação de direitos universais iguais e naturais estimulava o crescimento de novas e às vezes até fanáticas ideologias da diferença”. Há uma cascata contínua de direitos repleta de paradoxos como o direito da mãe ao aborto ou o direito do feto ao nascimento.
Para Hunt, a noção de “direitos do homem”, bem como a própria Revolução Francesa, abriu espaço para essa discussão, conflito e mudanças. A promessa de direitos pode ser negada, suprimida ou simplesmente não cumprida, entretanto jamais morre.
Anny Barcelos Mazioli – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo; bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. E-mail: [email protected].
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. Tradução de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 288p. Resenha de: MAZIOLI, Anny Barcelos. Um panorama da história dos direitos humanos: uma construção necessária. Revista Ágora. Vitória, n.25, p.142-145, 2017. Acessar publicação original [IF].
História Tardo Antiga e Medieval / Caminhos da História / 2017
ARAÚJO, Vinícius Cesar Dreger de. [História Tardo Antiga e Medieval]. Caminhos da História, Montes Claros, v. 22 n. 1, 2017. Acessar dossiê [DR].
Novos objetos, novas abordagens / Caminhos da História / 2017
Prezadas/os leitoras/es,
Ao cumprimentarmos nossas leitoras e leitores, apresentamos a mais atual edição da Caminhos da História, destacando uma série de mudanças pelas quais o periódico vem atravessando durante esse ano, com a finalidade de acolher o conjunto de processos empregados pela Qualis Capes na avaliação de periódicos científicos afiliados às Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.
Em 2020, o periódico Caminhos da História passa a fazer parte do novo Portal de Periódicos da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. Como a própria página do portal destaca, a intenção básica do portal é promover periódicos empenhados com a circulação, nacional e internacional, da produção científica, nos diferentes campos científicos, afora proporcionar apoio aos editores, autores e leitores dos periódicos, fornecendo infraestrutura, formação e facilidades de software.
Dessa maneira, o periódico do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Unimontes, dentro da sua ação de reformulação, passa a integrar, ao lado de outros 17 periódicos científicos da Instituição, esse portal, cujas publicações são feitas dentro do sistema Open Journal Systems (OJS), um software de código aberto para o gerenciamento de periódicos acadêmicos revisados por pares e criado pelo Public Knowledge Project, lançado sob a General Public License – GNU.
Mais uma questão abraçada pelo periódico foi a reformulação de sua Comissão Editorial, com evidência para o Comitê Consultivo. Neste ponto, o periódico expõe um conjunto de pesquisadorxs doutorxs especialistas em múltiplos domínios da História e campos afins. Nosso escopo foi, basicamente, contar com pesquisadorxs de Universidades Estaduais e Federais das cinco regiões brasileiras, afora pesquisadorxs estrangeirxs que pudessem colaborar com novos olhares para refletirmos acerca da História no Brasil. De tal modo, compõem o quadro pesquisadorxs vinculadxs a universidades na América Latina e Europa. Procuramos, ainda, ter o cuidado de combinar pesquisadorxs já estabilizados em suas carreiras com pesquisadorxs em ascensão, para que o periódico possa ser mantido por diferentes caminhos acadêmicos. Para nós, a finalidade dessa cartografia intelectual é clara: primar pela heterogeneidade geracional, institucional, de gênero e de fluxos de investigação. Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de destacar a configuração que o periódico recebeu em 2019. O periódico passou a pertencer ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Unimontes, um programa com curso de mestrado.
Perante esse quadro, neste fascículo, apresentamos ao público 07 artigos originais e uma resenha, decompostos em duas seções: a primeira parte compõe um dossiê, com a temática “Novos objetos, novas abordagens”, organizado pela Profa. Dra. Ilva Ruas de Abreu, do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Unimontes. Nele, os artigos destacam desde a História das Ciências, o campo médico-científico e suas técnicas e procedimentos, passando por novos olhares sobre os debates de gênero e suas formas de análise, enfatizando abordagens diversas que focam objetos instigantes, como a implementação de tecnologias e a sociabilidade esportiva. A segunda parte, composta por artigos de temáticas livres, conta com artigo sobre práticas fúnebres vinculadas a irmandades nos séculos XVIII e XIX, a análise do projeto integralista de Gustavo Barroso, finalizando com uma resenha do livro “Egressos do Cativeiro”, de Roberto Guedes, debatendo os significados da mobilidade social de diferentes camadas do período.
Como dito anteriormente, primamos pela diversidade institucional. Deste modo, o número ora apresentado agrega produções de autorias de distintas origens e formações do Brasil.
Indo direto ao ponto: esperamos que toda(o)s tenham uma excelente leitura!
Ester Liberato Pereira
Rafael Dias de Castro
PEREIRA, Ester Liberato; CASTRO, Rafael Dias de. Apresentação. Caminhos da História, Montes Claros, v.22, n.2, jul / dez, 2017. Acessar publicação original [DR]
Carnaval e Ritmo / Revista Brasileira do Caribe / 2017
¡A RITMO CARIBE!
Los carnavales caribeños son expresiones culturales de síntesis y pugnas, en donde lo simbólico y lo material se dan cita una vez por año para restaurar memorias festivas, irónicas, tradicionales y ampliamente populares a través de sus músicas, bailes, trajes, juegos, personajes, escenificaciones mitológicas y espectáculos característicos. El presente número de la Revista Brasileira do Caribe tiene como objetivo abrir un diálogo regional en torno al complejo mosaico que configuran los carnavales caribeños contemporáneos.
Pese a que muchas veces asumimos o vivimos los carnavales como espacios de total libertad o de disolución de las fronteras sociales, lo cierto es que los festejos carnavaleros han enfrentado históricamente una serie de construcciones normativas, morales, económicas, políticas y patrimoniales, fenómenos que en nuestros días han redundado en toda suerte de reglamentaciones a sus desfiles, estandarizándolos como espectáculos exóticos de alto costo.
Así, ciertos festejos de la escena latinoamericana y caribeña se han homogeneizado y elitizado, convirtiendo una celebración de origen predominantemente disidente, diversa y popular, en un espectáculo mayoritariamente hegemónico y con un alto nivel de exclusión.
Entendemos la hegemonía como el estado en el cual los grupos dominantes ejercen una dirección ideológica sobre la manera en la que los sectores dominados conciben el mundo para legitimar y mantener el poder. Funciona desde la subordinación política, social y económica, más lo hace por consentimiento, permitiendo la coexistencia “pacífica” de heterogéneos e incluso antagónicos sectores sociales en un mismo espacio social. El rol de la hegemonía es garantizar la reproducción de una sociedad jerarquizada. Sin embargo, ella no es ni estable ni fija. Al contrario, parte de su eficacia radica en su capacidad de actualización y reproducción permanentes.
La disidencia por su parte, a diferencia de la rebelión, no confronta directamente a los detentores del poder. Se trata de acciones cotidianas y concretas que intentan detener los procesos de homogenización hegemónicos. Las respuestas disidentes suelen tener un origen sutil, poco visible, pero trascendentales en la medida en que logran realizarse históricamente, proyectarse socialmente y mantenerse en el tiempo, pudiendo configurarse como respuestas contra-hegemónica, es decir, de disputa directa al papel ideológico, sociopolítico y/o económico de los sectores dominantes.
En este marco, las grandes fiestas públicas aparecen como espacios privilegiados para la expresión de resistencias simbólicas y respuestas disidentes o contra-hegemónicas frente a la cultura dominante, aun cuando el festejo y su vistosidad expresiva puedan volcarse al poder o al mercado, al punto de desdibujar la politicidad de sus posiciones.
Como veremos a lo largo de los artículos de este dossier, el carnaval caribeño contemporáneo sigue siendo un espacio político en el que las identidades y relaciones sociales de clase, “raza”, etnia y género, se dan cita para reivindicarse, contestarse y reconfigurarse, transformando también al carnaval oficial en una vitrina simbólica de contradicciones sociales. O bien, generando respuestas autogestivas, en forma de carnavales no oficiales, a los diferentes tipos de dominaciones económicas y políticas al festejo.
Todas estas dinámicas, están además enmarcadas en políticas multiculturales del turismo global y la institucionalidad patrimonializadora, que vuelven un terreno aún más complejo y ambiguo al carnaval, haciendo de lo tradicional un espectáculo contemporáneo, y de lo popular una alegoría festiva que muchas veces queda excluida de su propio festejo.
Abordamos el carnaval caribeño contemporáneo desde sus rincones más vistosos, pero también más difusos, desde sus múltiples dimensiones y formas, así como también desde sus significaciones escondidas, camufladas. Cada artículo es una vitrina que permite afinar nuestra mirada, instándonos a abrir nuevas preguntas y posibilidades interpretativas sobre las especificidades y rasgos compartidos de los muchos carnavales caribeños, como también sobre las fricciones y conflictos latentes en su festejo: tensiones entre espectador y participante activo; adaptaciones de danzas y músicas “tradicionales” a un gusto “global”; reivindicaciones políticas y valorizaciones estéticas en resistencia que conviven con presiones económicas tendientes a su homogeneización; negociaciones y reivindicaciones de identidades invisibilizadas; y la constante pugna entre control y reglamentación del festejo, y su insistente subversión impúdica, satírica, creativa y organizativa.
En concordancia con la línea editorial de la Revista, comprendemos geográfica y simbólicamente el Caribe desde una amplia perspectiva territorial, como un dinámico espacio social, cultural, geopolítico y económico, que va más allá de las Antillas, abarcando las costas del Circuncaribe en centro, norte y sur América, lo que nos permite incluir reflexiones sobre expresiones de carnaval en “los caribes” colombiano, venezolano y mexicano. Asimismo, extendemos nuestra comprensión sobre “lo caribeño” a aquellos lugares donde el legado de la diáspora afrodescendiente y mestiza, producida durante la esclavitud colonial por los procesos de trata trasatlántica y comercio triangular, son parte fundamental en la cultura y la so ciedad caribeña contemporánea. Así, además de los territorios antillanos considerados –Haití, Cuba, Trinidad y Tobago y República Dominicana–, abordamos ejemplos situados en Brasil, en diálogo con Jamaica o EE.UU., o incluso coordenadas ampliamente lejanas de su propia geografía, resultantes de procesos migratorios contemporáneos, donde aparecen el Carnaval en Melbourne, Australia, o el recientemente inaugurado Carnaval Multicultural Migrante en Santiago de Chile. Dinámicas festivas caribeñas que en ese flujo dinámico y migrante, terminan siendo recreadas, actualizadas y adoptadas como propias.
El dossier abre con la sección Hegemonía y carnaval en el Caribe contemporáneo el cual incluye dos artículos de autoría de las dos organizadoras. En ellos se discuten las aproximaciones eurocéntricas, hoy clásicas, sobre el carnaval, para proponer rutas teórico-metodológicas propias, adaptadas a las especificidades de la escena carnavalera latinoamericana y caribeña. Después de habitar, desde la investigación festiva, diferentes expresiones del carnaval en la región, fue evidente que los planteamientos de Peter Burke, Julio Caro Baroja y Mijail Bakthin (tantas veces citados), no eran ya suficientes para explicar las complejidades y particularidades de los carnavales caribeños contemporáneos, considerados en su perspectiva histórica. Además, muchos de los procesos de mercantilización, significación política, subversión simbólica, reivindicación identitaria, (in)visibilización, disciplinamiento, resistencia y patrimonialización que identificamos, desbordan ampliamente las explicaciones clásicas del fenómeno carnavalesco. A partir de esta constatación Lorena Ardito desde la apropiación, deconstrucción y resignificación de la teoría cultural de Raymond Williams, y Laura De la Rosa desde la actualización metodológica propuesta por Michael Houseman, desarrollan su propuesta a la luz de dos ejemplos histórico-concretos del carnaval circuncaribeño. Esta sección cierra con el artículo de Danny González quien a través de sus análisis de imágenes (propias y de archivo) del Carnaval de Barranquilla, Colombia, nos ofrece un ejemplo de cómo una hegemonía estética se va construyendo y afianzando a través del lente fotográfico.
A continuación, cuatro artículos en la sección Disputas y horizontes en la escena de la calle discuten las tensiones entre hegemonías, contra-hegemonías y disidencias que tienen lugar en el espacio público. Las calles que se suponen comunes, colectivas, se vuelven espacios de confrontación entre el afán de control y reglamentación “desde arriba” del “orden” establecido por las élites y la reapropiación creativa de los sectores subalternos que responden desde el propio carnaval, como un espacio para la reivindicación, la ironía, la autoafirmación y la disputa.
El primer caso es expuesto por Mathilde Pèrivier, quien hace un contraste entre las notas periodísticas que muestran las “bandes-a-pie” del Carnaval de Puerto Príncipe en Haití, como “destructoras del espacio público”, y los datos recogidos en su trabajo de campo que demuestran la potencia en los procesos de re-significación política y articulación social comunitaria de los territorios habitados por las prácticas festivas de los grupos de jóvenes Seguidamente, Karen Gómez analiza la transformación patrimonial de uno de los blocos afrobrasileros más representativos del movimento musical, social y político del Samba Reggae, Ilê Aiyê, luego de haber irrumpido en el desfile de 1974, ser perseguido por la policía y recibir el apelativo de “bloco racista” por la prensa y las élites locales. Utilizando como bandera el ritmo de los terreiros de candomblé, la formación instrumental de las Escolas de Samba, la consciencia musical del reggae jamaiquino y la inclusión de los procesos reivindicativos afronorteamericanos del Black Power, Ilê Aiyé logró instalar un proceso de autoafirmación etnica e institucionalizar un espacio educativo propio en el entorno del barrio “de periferia”, utilizando como tribuna al propio carnaval que antaño le fuera negado.
Karina Smith, por su parte, traslada la discusión de la disputa por el derecho a las calles que tiene lugar en los festejos carnavaleros de Australia. En este caso, una comunidad negra anglófona venida del Caribe, encuentra en el desfile Moomba su espacio de visibilización en una sociedad que, aunque se declara multicultural, no se reconoce como multirracial.
Para cerrar esta sección central del dossier sobre disputas y escenificaciones carnavaleras en la escena de la calle, presentamos el trabajo de Priscilla Stilwell, quien realiza una comparación entre el arte callejero y festividades públicas masivas –dentro de las que considera al carnaval–. Su principal eje analítico es el uso social que adquiere el espacio público en tales manifestaciones, reiterando el poder de las calles como escenarios de expresión política popular, así como su potencial de reivindicación y disputa, cuya relevancia en América Latina y el Caribe radica en nuestras profundas condiciones de desigualdad social, conflicto y exclusión.
Finalmente, el dossier cierra con la sección Caribe a contracorriente el cual incluye dos trabajos histórico-sociales sobre los carnavales de Santiago de Cuba y Cartagena de Indias, territorios plenamente insertos en las dinámicas globales del colonialismo, la expansión capitalista, la trata trasatlántica esclavista, y sus formas conexas de organización social y simbólica, racializada y sexualizada, de la desigualdad. En ambos, se constata la ineludible impronta eurocéntrica en la formación de la sociedad y la cultura caribeñas, no obstante, también se evidencian los procesos de interconexión, respuesta y resistencia “desde abajo” que disputan el derecho a re-fundar un Caribe con voz propia.
Daniela Quintanar nos remite a la enorme influencia de la migración haitiana en el oriente cubano desde finales del siglo XVIII, empujada como consecuencia de la Revolución Francesa. Procesos globales que se actualizan en lo local, en este caso, como expresión de diversidad e interconexión que se manifiesta en los carnavales, músicas, danzas y formas de organización social (los cabildos de nación), adoptadas y adaptadas en Santiago de Cuba, como parte de una historia común diversa en las Antillas.
En el artículo de cierre del dossier Milton Moura propone una lectura irónica, desde el espíritu carnavalesco de la ciudad de Cartagena de Indias, al afán de control imperial español, recapitulando códigos normativos y cartas apostólicas, que pretendieron en el siglo XVIII constreñir la fiesta popular sin éxito, escandalizándose por la tozuda insolencia de sus protagonistas negros, pobres y artesanos.
Fuera del Dossier, en Otros artículos, Massimiliano Cartas describe el fenómeno de las artistas que afiliaron sus imágenes a la religión afro caribeña.
Invitamos a nuestros lectores y lectoras a recorrer las calles de este Caribe ampliado, danzando sus rasgos históricamente hegemónicos, contra-hegemónicos y disidentes, al ritmo de sus comparsas, disfraces, grupos musicales y cantos satíricos.
Agradecemos a todas las autoras y autores cuyas miradas enriquecen y entregan nuevas perspectivas a los planteamientos iniciales del presente dossier, como también a Olga Cabrera, por su infinita paciencia y compromiso con desenterrar de la Cuaresma a estos carnavales caribeños contemporáneos.
Laura de la Rosa Solano Lorena Ardito
SOLANO, Laura de la Rosa; ARDITO, Lorena. Carnaval e Ritmo. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.19, n.34, p.9-14, jan./jun., 2017. Acessar publicação original. [IF].
História e Historiografia da Educação | GTHE/ANPUH-BR | 2017
A Revista de História e Historiografia da Educação (2017-) é uma publicação organizada pelo Grupo de Trabalho em História da Educação da Associação Nacional de História, em parceria com seus núcleos regionais.
Tem como objetivo a divulgação da produção científica no âmbito da História da Educação, proveniente de instituições de pesquisa nacionais e internacionais.
Periodicidade quadrimestral.
A Revista proporciona acesso público (Open Access) a todo seu conteúdo, seguindo o princípio que tornar gratuito o acesso a pesquisas gera um maior intercâmbio global de conhecimento.
ISSN 2526-2378
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
De Caboclos a Bem-Te-Vis: formação do campesinato numa sociedade escravista: Maranhão 1800-1850 | Mathias R¨hring Assunção
A publicação do livro De caboclos a Bem-te-vis em 2015 deve ser saudada, antes de tudo, por trazer ao público, 25 anos depois, o texto completo, atualizado e traduzido de um dos estudos mais utilizados pela historiografia maranhense dedicada às pesquisas situadas no século 19, embora o alcance e a atualidade do texto não se restrinjam ao Maranhão nem ao Oitocentos.
Até então, a tese defendida em 1990 na Freie Universität Berlin e publicada, em 1993, com o título Pflanzer, Sklaven und Kleinbauern in der brasilianischen Provinz Maranhão, 1800-1850 (Fazendeiros, escravos e camponeses na província brasileira do Maranhão, 1800-1850), circulara em versões não publicadas, ou de modo fragmentado, em relevantes artigos acadêmicos e capítulos de coletâneas1.
Evidentemente, a publicação é impregnada pelas marcas do tempo em que o texto original foi produzido e, por isso, traz vigorosos debates acadêmicos comuns na década de 1990: a existência e a conformação de um campesinato no Brasil; um sistema escravista e suas variáveis; o plantation e o convívio com outras formas de produção. Tempo esse que convive com questões sempre contemporâneas, especialmente no estado do Maranhão, marcado por um processo contínuo de concentração fundiária, desapropriação de terras comunais e luta pela legalização/manutenção de territórios quilombolas.
Dentre os méritos que emergem do texto, talvez o mais significativo e (ainda) original esteja na proposta de explorar formas não escravistas de trabalho em uma das mais escravistas províncias do Império do Brasil. Tal opção não significou o desprezo pela análise da sociedade escravista; ao colocar em xeque a ideia de monocultura escravista algodoeira, propôs o debate sobre a diversidade dos meios de produção que conviveram/conflitaram com aquela estrutura, oferecendo ao leitor o resultado de uma pesquisa de fôlego sobre a sociedade maranhense.
Nas palavras do autor:
A tese central defendida ao longo das páginas que seguem é que a economia escravista de plantation – apesar de sua implantação tardia – caracterizou-se no Maranhão pelo desenvolvimento de uma economia camponesa relativamente importante, diferenciada e autônoma, sobretudo quando comparada a outras regiões brasileiras onde também predominou a grande lavoura escravista. Apesar de um segmento da economia camponesa assumir uma função complementar à economia de plantation, o antagonismo estrutural entre os dois setores está na base do conflito entre os fazendeiros escravistas e os camponeses, chamados e autodenominados caboclos desde aquela época. Este antagonismo foi a pré-condição para a eclosão da Balaiada (p.21, grifos meus).
A transcrição é longa, mas indispensável por evidenciar o principal pressuposto metodológico que orienta o argumento de Assunção: a perspectiva de uma história comparada à procura das diferenças que caracterizariam a sociedade maranhense, tornando-a capaz de produzir as condições para a emergência do movimento que ficou conhecido como Balaiada.
Confessadamente, o autor propusera-se analisar originalmente uma história da resistência popular maranhense que na Balaiada encontrara o seu ápice2. Ao longo da pesquisa, deslocara o foco para uma “análise das estruturas que levaram ao conflito” (p. 12).
Tais estruturas são apresentadas com base em quadros fartamente subsidiados pela rica documentação que orienta a pesquisa, dá solidez ao texto e serve como referência para a elaboração de dezenas de mapas, gráficos e tabelas, oferecidos pelo autor aos seus leitores (p.411-472). Paisagem; população; luta pela terra; economia e sociedade; estruturas de poder e processo político sucedem-se e imbricam-se, conduzindo o leitor à Balaiada, reservada ao último item do último capítulo (p. 352-366).
Ao longo desse percurso, o autor constrói um quadro com o que definiu como excepcionalidades da ocupação do território maranhense. Esse quadro seria composto por uma série de elementos, a saber: a) às vésperas da Independência, a população ainda se concentrava no núcleo inicial da colonização, com incipiente inserção no centro sul da capitania (p.60); b) a população indígena, arredia ao domínio português, era superior à população colonial (p.60); c) forte predominância de escravos da Guiné na região de plantation (p.72)3; d) menor predomínio da escravidão masculina (p.92-93); e) extensos territórios, nas imediações das zonas de plantation, escapavam ao controle das autoridades (p.106); f) a média de escravos por propriedade era inferior às existentes no engenho açucareiro (p.180); g) presença pouco significativa de uma classe média baixa, branca e escravista, capaz de cooperar com a estabilidade do sistema (p.234); h) parte da população livre, inclusive fazendeiros de médio porte, era hostil ao governo (p.311).
Pari passu, Assunção constrói outro quadro, centrado na região do Maranhão Oriental, especialmente o Vale do Parnaíba, palco principal da Balaiada. Para a região o pesquisador identificou elementos como a presença significativa de migrantes nordestinos (p.134); o número elevado de propriedades em que o dono não residia na freguesia (p.135); a importância dos proprietários médios e de uma “classe média rural” (p. 137-138); o mercado de terras ainda incipiente e predominância de formas não privadas de uso da terra (p.139-141).
Haveria assim, na região, uma concentração de camponeses e de fazendeiros voltados para o mercado interno, cujos interesses se chocariam com aqueles defendidos por negociantes e proprietários envolvidos na economia algodoeira. Razões políticas, historicizadas pelo autor a partir da Independência, teriam criado condições objetivas para a eclosão do conflito. Segundo Assunção, elas se acumulam no tempo. Desde de a Independência era recorrentes as queixas de políticos da região do Parnaíba pela não participação no governo da província – manifestações favoráveis à divisão da província foram relativamente comuns até o final da década de 1830 (p.317). Na década de 1830 se intensificou a histórica denúncia da exploração fiscal provincial por parte do governo central (p.279), a montagem da Guarda Nacional desencadeou resistência ao seu alistamento e, por fim, o sistema de prefeituras, introduzido no Maranhão em 1838, concentrou em São Luís a distribuição dos cargos mais lucrativos no interior da província (p.294). Como se vê, as reformas implementadas pela Regência teriam provocado ou agravado o desequilíbrio de poder entre as elites locais, regionais e nacionais (p. 302).
Contudo, se a motivação inicial da pesquisa foi a Balaiada, ou a análise das estruturas que levaram ao conflito, os resultados ultrapassaram extraordinariamente esses intentos. De Caboclos a Bem-te-Vis é leitura obrigatória para os pesquisadores dedicados às primeiras décadas do século 19. Mais ainda, é leitura obrigatória também aos interessados em compreender as estruturas econômicas, políticas e sociais do estado do Maranhão, outrora grande exportador de produtos primários, e que ontem como hoje preserva o gene da desigualdade social, da violência contra as populações mais pobres e do clientelismo político.
Notas
1. Como exemplos, cito: Quilombos maranhenses. In: João José Reis; Flávio dos Santos Gomes. (Orgs.). Liberdade por um fio. História dos quilombos no Brasil. 1ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, v. 1, p. 433-466; Exportação, mercado interno e crises de subsistência numa província brasileira: o caso do Maranhão, 1800-1850. Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ), 2000, v. 14, p. 32-71; e Miguel Bruce e os horrores da anarquia no Maranhão, 1822-27. In: István Jancsó. (Org.). Independência: História e Historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005, v. 1, p. 345-378.
2. O próprio título do livro em português revela esse intuito. De um modo geral, as populações camponesas do Maranhão eram reconhecidas como “caboclos”; já os “bem-te-vis” eram os membros do partido liberal no Maranhão, origem de algumas reivindicações incorporadas pelos revoltosos, que passaram a ser reconhecidos, também, como “bem-te-vis”. De Caboclos a Bem-te-Vis transparece o percurso dessas populações até o momento de eclosão do conflito. Em 1988, antes, portanto, da defesa da tese, o autor publicou o livro A guerra dos bem-te-vis. A Balaiada na memória oral, reeditado em 2008 (São Luís: Edufma, Coleção Humanidades, v. 6).
3. Para essa excepcionalidade, o autor apenas observa que suas implicações foram pouco estudadas até aquele momento.
Marcelo Cheche Galves – Universidade Estadual do Maranhão, Maranhão – MA, Brasil. E-mail: [email protected]
ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. De Caboclos a Bem-Te-Vis: formação do campesinato numa sociedade escravista: Maranhão 1800-1850. São Paulo: Annablume, 2015. Resenha de: GALVES, Marcelo Cheche. O Maranhão nas primeiras décadas do Oitocentos: condições para a eclosão da Balaiada. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 356-359, jan./abr., 2017.
Slave Emancipation and Transformations in Brazilian political citizenship | Celso Thomas Castilho
O livro de Celso Castilho apresenta uma abordagem pouco convencional e inovadora da abolição brasileira. Centrada na província de Pernambuco, com particular ênfase no Recife, uma das cidades onde o abolicionismo mais floresceu, a análise percorre do final da década de 1860 até os anos subsequentes à abolição, fornecendo um quadro de reflexões históricas e historiográficas de grande importância para todo o Brasil.
Castilho analisa a abolição à luz das disputas políticas geradas no seio do movimento da emancipação escrava e de sua inter-relação com práticas de cidadania efetivadas no devir histórico. Assim, o estudioso concebe a crise da escravidão como um ponto de entrada para a compreensão do problema da cidadania política brasileira, algo que extravasa a marcação temporal do século 19. Para atingir esse objetivo, o historiador escrutinou dois jornais de grande circulação no Recife, ações de liberdade, peças teatrais, correspondências privadas e coleções inéditas de documentos remanescentes de associações abolicionistas.
Munido dessas fontes, Castilho mapeia a “fermentação política” entre o final da década de 1860 e a aprovação da Lei do Ventre Livre, marcada pela intensa participação popular em manifestações a favor da abolição, que se expressaram na criação de associações, na celebração de cerimônias de manumissão, na ocupação do espaço público e em encenações de peças teatrais. Segundo Celso Castilho, nada disso tolhia a autoridade dominial e, por esta razão, essas ações foram toleradas pelos proprietários de escravos. A tolerância, todavia, mudou com a aprovação da Lei de 1871, que concedeu aos escravos novas prerrogativas legais para a obtenção de liberdade. Desse momento até a abolição, em 1888, senhores e abolicionistas mantiveram-se em severa oposição e tentaram determinar os termos do fim do cativeiro, algo que ecoou no período pós-emancipação.
Dois grupos antagônicos em oposição por conta do encaminhamento da questão servil? Até aqui, nada de novo. A inovação do trabalho de Castilho consiste no espaço dado ao embate entre os abolicionistas pernambucanos e os senhores de escravos daquela região, que, contrariamente ao que já se pensou, resistiram, como muito bem mostra o autor, até os últimos momentos na defesa da manutenção da ordem escravista. No desenvolvimento do livro, salta aos olhos do leitor a dinâmica de lutas políticas em torno da emancipação, ocorrida no Recife, que colocou em embate grupos sociais pró-emancipação e pró-escravidão. Uma das consequências desse tipo de análise para a compreensão histórica é o reconhecimento de que o fim da escravidão brasileira não foi um processo pacífico, mas sim fortemente marcado por um duríssimo conflito ideológico e social. De fato, essa noção atravessa todo o livro e faz com que seu autor lance luz não apenas sobre a mobilização dos abolicionistas, mas igualmente sobre a ação dos proprietários de escravos, algo ainda pouco desvelado pela historiografia brasileira.
É na relação conflituosa entre defesa e condenação do escravismo que Castilho consegue retirar elementos capazes de demonstrar que, nos últimos vinte anos do Império, houve transformações de fundo na cidadania política brasileira. As estratégias de manifestação dos abolicionistas, ao tomarem as ruas ou levarem o problema da escravidão para palcos de teatro, atraíam os diversos estratos da sociedade (inclusive libertos e mulheres), e não apenas uma restrita parcela dela. Desse modo torna-se possível constatar que o movimento abolicionista teve um forte caráter popular e, ao permitir o engajamento político do povo, mudou o exercício da cidadania política no Brasil. Desde jovens estudantes (alguns inclusive começaram sua carreira política na defesa da abolição) até antigos escravos, todos passaram a ter uma chance de participar nos rumos políticos e sociais do país. Tal prática política extrapolava muito as condições necessárias para o exercício do voto e as limitadas perspectivas de ascensão social e aquisição de direitos civis garantidas aos africanos libertos e aos seus filhos pela Constituição de 1824.
A agência escrava ocupa igualmente um lugar de relevo no livro. Ao perquirir os arquivos remanescentes do Clube Abolicionista e da Nova Emancipadora, associações abolicionistas do Recife, o historiador constatou que os escravos tiveram intensa participação no processo de emancipação. Por meio do pecúlio, oficializado desde 1871, os cativos contribuíam sobremaneira com o valor corresponde à compra de sua liberdade. Com efeito, os escravos tipicamente manumitidos pela primeira associação, as mulheres, chegavam a custear quase 70% do valor de suas alforrias. Além disso, os escravos, também na sua maioria as mulheres, peticionavam ao governo pela sua liberdade ou pediam empréstimos para comprá-la.
A açucarocracia escravista também se organizou, mas sem a participação dos setores populares da sociedade. De modo a defender seus interesses, em 1872, criou a Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco, “a primeira vez que os fazendeiros se mobilizaram politicamente como ‘fazendeiros’”. Contudo, vale mencionar que, possivelmente, essa não foi a primeira mobilização dos fazendeiros pernambucos enquanto grupo político. Em 1871, seguindo de perto seus pares do Vale do Paraíba, que enviaram representações ao parlamento imperial contra o ventre livre, os senhores de Pernambuco também endereçaram ao legislativo, pela via peticionária, sua oposição à emancipação escrava. Os proprietários pernambucanos chegaram a organizar dois Congressos Agrícolas, em 1878 e 1884, para discutirem os rumos econômicos da região. No primeiro, inclusive, a grande preocupação foi em como utilizar o trabalho dos ingênuos.
Ligando a análise regional à macropolítica imperial, Celso Castilho ainda demonstra como a abolição da província do Ceará, em 1884, impactou tanto o movimento abolicionista quanto os senhores de Pernambuco. No primeiro caso, houve um adensamento da participação popular e, no segundo, uma maior organização e um repensar da ação dos proprietários de escravos. De fato, foi nesse contexto que surgiu a primeira associação exclusivamente feminina, a Ave Libertas, e que as fileiras do partido republicano engrossaram. Mas não apenas: o auxílio a fugas de escravos para o Ceará, que já tinha áreas libertas desde 1883, tornou-se uma realidade premente. Tudo isso teve grande repercussão nas eleições, também em 1884, dos deputados ao Parlamento. Realmente, os candidatos manejaram do inicio ao fim da campanha os temas emancipacionistas.
Na esteira dos acontecimentos na província vizinha, os proprietários de escravos passaram a se organizar em clubes agrícolas e estruturam o segundo Congresso Agrícola do Recife. Nele, a grande preocupação dos senhores foi evitar que o radicalismo cearense se enraizasse em Pernambuco. Assim, eles se dedicaram a diminuir publicamente a importância do movimento cearense de tal forma a subvalorizar a participação popular. Na lógica dos senhores de engenho de Pernambuco, o abolicionismo havia se tornado um delírio.
Num salto qualitativo de análise, que nos permite a compreensão geral do livro, Celso Castilho demonstra que a abolição, cada vez mais intensa e com maior participação popular no decorrer da década de 1880, também animou as preocupações políticas dos fazendeiros quanto à manutenção da ordem social. Em Pernambuco isso se deu, sobretudo, por conta da ação do Clube Cupim, que até 1888 auxiliou na fuga de escravos em direção ao Ceará . A aceleração da abolição, que ocorria na frente de seus olhos, implicava a erosão da secular influência política dos senhores de engenho pernambucanos. Reavaliando as suas estratégias, os fazendeiros da região passaram a anunciar, no final de 1887, manumissões condicionais aos seus escravos, isto é, os cativos teriam a liberdade garantida mediante a prestação de serviços aos senhores durante certo intervalo de tempo.
A tentativa, por parte açucarocracia, de manutenção da ordem era apenas um prelúdio da ação que eles tomariam no pós-emancipação. A antiga elite escravista, junto aos setores republicanos, ao encetarem o golpe que culminou com a proclamação da República, construiu uma narrativa própria da abolição em que evocaram o caráter parlamentar do fim da escravidão e evitaram a memória do engajamento político popular. Não permitir que uma ampla participação do povo, agora adensado pelos escravos libertos em 1888, interferisse novamente nos destinos do país passou a ser o mote desse grupo. Assim, a construção da memória da abolição teve um intenso caráter ideológico e pautou a reformulação da estrutura política brasileira no advento da República. Nas palavras de um contemporâneo, dirigidas na última eleição do Império a um adversário que se opunha à participação popular na política: “Ele sempre tolerou a escravidão e agora ele quer uma ditadura sobre o branco proletário e sobre o descendente do escravizado, porque isso de governo não é para todos, mas só para quem é fidalgo, rico, e ainda hoje tem saudades dos bons e bucólicos tempos das senzalas e dos eitos para os quais quer fazer a pátria voltar” (p.189).
Por fim, vale salientar a falta de um exame mais detido acerca da economia e da demografia açucareira da província pernambucana na segunda metade dos oitocentos. Castilho não menciona que, a despeito da concorrência cubana, as exportações pernambucanas de açúcar mais do que dobraram entre 1860 e 1880. Assim, apesar de não representar o primeiro produto da pauta exportadora do Império, a importância da produção açucareira e, portanto, de seus produtores não era desprezível naquele momento. No que diz respeito à mão de obra empregada na produção de açúcar em Pernambuco, que mesclava livres e escravos, o historiador, a despeito de citar alguns dados demográficos, não fornece ao leitor qual a proporção do braço escravo em relação ao livre. Algumas estimativas sugerem que, em 1872, havia cinco trabalhadores livres para cada escravizado nas plantations açucareiras da região. Dado o avanço abolicionista na década de 1880, essa proporção favorável aos livres certamente aumentou. Já se argumentou, inclusive, que, em virtude do avanço do trabalho livre, a abolição praticamente não afetou a produção daquela província. Esses dados, sugerindo que a Pernambuco do final do século XIX tinha uma pujante economia com o concurso cada vez menor do trabalho escravo, reforçariam a conclusão de Castilho de que a elite agrária da região, mais do que lutar contra o fim da escravidão, tinha um projeto de manutenção da ordem que o movimento abolicionista colocava em perigo.
Bruno da Fonseca Miranda – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian political citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016. Resenha de: MIRANDA, Bruno da Fonseca. Novas perspectivas para o estudo da abolição brasileira: cidadania e ação senhorial. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 360-365, jan./abr., 2017.
A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889) | Sandra Rita Molina
Ao longo das últimas três décadas, historiadores trataram o tema da escravidão com perspectivas que rediscutiram a atuação dos cativos dentro do regime escravista brasileiro, lançando luz sobre os diversos episódios em que a agência escrava se revelou crucial para entender o cotidiano, as formas de resistência e as vitórias (ou derrotas) desses personagens nos processos históricos do período colonial ou do Império do Brasil. Além do próprio ineditismo de tal abordagem, essa nova visão historiográfica desconstruiu a visão de que os escravos eram personagens sem vontade e totalmente submissos às vontades senhoriais.
Dentro dessa abordagem, autores como Maria Helena Machado, Sidney Chalhoub, Silvia Hunold Lara, Robert Slenes, Jaime Rodrigues, Beatriz Mamigonian, Keila Grinberg e Ricardo Salles, entre outros, descrevem como personagens subalternos atuavam em suas realidades, demonstrando um grande conhecimento de sua condição, abrindo a possibilidade de confrontá-la e, em muitos casos, reconstruí-la conforme suas vontades. Estamos falando de marinheiros, cativos urbanos, escravos de ganho, forros e famílias que ao longo de suas vidas construíram sua própria história. É dentro desse grupo de autores que Sandra Rita Molina se insere com uma obra baseada em extensa pesquisa.
Ao contrário dos outros autores citados, Sandra Rita Molina nos apresenta um mundo diferente e, até aqui, pouquíssimo analisado pela historiografia brasileira, que é a realidade dos escravos das ordens regulares, mais especificamente, dos escravos pertencentes aos Carmelitas Calçados. Esse novo mundo é explorado através das “relações desenvolvidas entre os frades e seus escravos em meio a um contexto de repressão legislativa empreendida pelo Estado Imperial” (p. 22). Dessa forma, a autora apresenta ao longo de seu trabalho uma tentativa de aproximação dos debates historiográficos sobre o abolicionismo e o debate em torno das relações entre Estado e Igreja, examinando qual é o lugar do clero regular dentro da esfera política e quais foram as alianças realizadas nesse processo.
Como não poderia deixar de ser, além do forte diálogo com a historiografia em torno da condição escrava e do abolicionismo, Molina apresenta grande contribuição para o debate em torno da questão da Igreja no Brasil ao contradizer a visão de que a Igreja era um espaço homogêneo e sem rupturas, uma instituição pura e injustiçada pelos desmandos do poder temporal. Molina também apresenta uma leitura alternativa às interpretações historiográficas do CEHILA (Centro de Estudos da História da Igreja na América Latina) e até mesmo com de pesquisas acadêmicas recentes. Ao contrário da maioria dos estudos disponíveis, a autora reconstitui o mundo das ordens regulares focando não apenas na perseguição da igreja pelo Estado e a consequente submissão eclesiástica aos decretos imperiais, mas sim nas relações, barganhas e atitudes cotidianas dos frades da Ordem com as diversas instâncias do Império, da própria Igreja e com a comunidade leiga.
Molina apresenta seu argumento em quatro capítulos bem estruturados e que impressionam pelo minucioso trabalho de pesquisa. O primeiro capítulo (“O mundo entre os muros do convento”) nos apresenta um importante panorama da vida dentro do claustro e da vivência com a sociedade que orbitava em torno desses prédios. O panorama permite que o leitor apreenda as estratégias religiosas para construir resistência às pressões externas, manter privilégios e governar a ordem como um todo. A relação das ordens regulares com o Estado Imperial sobressai no capítulo. Molina faz todo um percurso expositivo para que o leitor entenda a situação dessas ordens no século 19, apontando as diversas medidas que a Coroa tomou para a supressão das instituições religiosas, com um interesse especial para as que detinham grandes patrimônios, como o caso dos próprios Carmelitas Calçados e dos Beneditinos. Apesar da perseguição, são notórias as estratégias das ordens para fugir à investida, utilizando algumas vezes a própria estrutura e o discurso do Estado Imperial a seu favor (p. 88).
O capítulo 2 (“Uma Gomorra na Corte. Como o Estado imperial deveria agir com o clero regular?”) apresenta o outro lado da história, a perspectiva do Império no processo de supressão das ordens. Ao longo desse capítulo, o leitor se depara constantemente com as diversas revisões da legislação e das decisões políticas do Estado para conseguir seu objetivo máximo, que é a tomada do patrimônio das ordens regulares. As estratégias são as mais variadas. Incluem denúncias de desmoralização do clero, visto que para o Governo Imperial “a decadência e a ineficiência testemunharam que as Ordens traíram um pacto tradicional entre o Estado e estas Corporações, que previa atuação de benevolência e educação religiosa da população” (p. 120); e até medidas de controle dos bens dessas instituições, através de listagens, censos e regras para a celebração de contratos sobre esses bens. O capítulo também permite que o leitor tenha visão ampla sobre os bens eclesiásticos. Além dos imóveis conventuais e dos imóveis dentro dos centros urbanos, os maiores bens carmelitas eram as fazendas e os escravos sob sua tutela. Para protegê-los, garantindo que o Império não os incorporassem, os religiosos empregavam estratagemas como a realização de contratos de arrendamento das propriedades rurais e dos respectivos escravos.
O capítulo 3 (“Honestas estratégias: o Carmo reorganizando seu patrimônio em função da sua sobrevivência”) nos faz mergulhar ainda mais nas ações dos religiosos para conseguir a manutenção dos bens da ordem, seus privilégios e, consequentemente, a sobrevivência de um modo de viver. Nesse capítulo, aparece um elemento crucial na resistência dos religiosos às investidas do Estado imperial: a comunidade leiga. Desde o período colonial, as ordens religiosas gozaram de grande prestígio frente à comunidade leiga, não sendo incomum o fato de Câmaras Municipais solicitarem a instalação de conventos de franciscanos, carmelitas ou beneditinos em suas respectivas cidades. O cenário não muda ao longo do 19. Mesmo perante todos os problemas relacionados às medidas restritivas do Império e, em alguns setores, as constantes críticas à moralidade do clero regular, a cumplicidade entre leigos e clérigos é ferramenta poderosa para os frades. As relações, porém, eram de via dupla. No jogo de apoio recíproco, proprietários leigos acabavam recebendo o benefício de celebrar contratos com as ordens e usufruir das propriedades ou dos cativos da Santa.
O capítulo 4 (“Frades feitores e os escravos da Santa”) centra a sua discussão na relação dos frades com os cativos. Os momentos de convivência pacífica entre uns e outros eram frutos de várias concessões aos cativos por meio de práticas cotidianas que chegavam a ignorar os ordenamentos do Capítulo Provincial (p. 265). Um exemplo notável do espaço de autonomia concedido aos escravos é o caso de fazendas como a de Capão Alto em Castro no Paraná. Referências apontam que “essa fazenda ficou mais de setenta anos sob a administração direta e livre dos escravos” (p. 272/273). Obviamente, a autonomia se dava após “longos períodos de construção de cumplicidade em um mesmo espaço” (p. 266).
A autonomia dos cativos podia ser afetada com arrendamentos, cada vez mais comuns, devido a contexto de repressão à Ordem somada à carência de braços na lavoura depois do fim do tráfico negreiro transatlântico. Nesse contexto, a autora traz outra importante contribuição para a historiografia acerca da escravidão, especificamente ao pensarmos nas estratégias empreendidas pelos cativos para conseguirem fazer valer seus interesses. Alguns autores, como Lucilene Reginaldo e Antônia Aparecida Quintão, que tratam sobre a religiosidade negra e abordam em suas obras a questão da relação com os santos patronos das irmandades religiosas, apontam que eram comuns os irmãos dessas associações criarem uma aproximação ao nível de parentesco com o patrono. No caso dos escravos da Santa, essa lógica reaparece, mas transformada devido aos interesses dos cativos. Dentro de suas experiências, “incorporaram a ideia de que os frades eram apenas uma espécie de feitores e de qualquer decisão afetando seu cotidiano, deveria partir diretamente de sua senhora, que, no caso, era uma Santa” (p. 277), conseguindo dessa forma um forte argumento frente à opinião pública para conseguir seus objetivos. Do outro lado desse jogo, os frades detinham interesse em manter uma relação amistosa com seus cativos, pois essa era uma forma consistente de fruir seus privilégios tanto dentro como fora dos conventos. “Este processo colocou em muitos momentos escravos e senhores do mesmo lado, procurando impedir o fim do mundo que conheciam”, observa Molina nas considerações finais de seu trabalho.
A morte da tradição traz elementos complexos que contribuem para as diversas correntes da historiografia brasileira sobre a escravidão e igreja no Império do Brasil. O livro não apenas se soma à narrativa da história social que entende os escravos como personagens cujas lutas são peça-chave no quebra-cabeça que é o escravismo no Brasil. Explorando tópicos como autonomia escrava, estratégias clericais para manutenção de privilégios e ramificações das relações sociais de ambos os grupos, A morte da tradição ilumina o mundo clerical de uma maneira que as macro-análises da relação Estado-Igreja não conseguem capturar.
Rafael José Barbi – Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Guarulhos – SP, Brasil. E-mail: [email protected]
MOLINA, Sandra Rita. A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí/SP: Paco Editorial, 2016. Resenha de: BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 366-370, jan./abr., 2017.
Acessar publicação original [DR]
No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres | Jaime Rodrigues
Esta resenha começa com uma advertência, figura literária comum (como os modernistas tão bem sabem) em obras de autores pós-tridentinos, que a incluíam essencialmente para se exonerarem de responsabilidades, ao sustentarem a sua boa ortodoxia e ao afastarem de si e da sua obra todas as suspeitas de heresias religiosas ou políticas que pudessem fazer tremer trono e altar.
A minha humilde advertência não se rege pelas necessidades políticas ou religiosas, mas pela honestidade intelectual. A resenha que se segue é de autor cujo trabalho se centra no estudo da história religiosa nas vertentes institucional, cultural e das mentalidades, pelo que se afasta do perfil conhecido do nosso caríssimo Jaime Rodrigues.
Aproxima-nos a dedicação ao Atlântico enquanto espaço histórico de análise, e o interesse dedicado aos povos africanos (afinal tivemos por denominador comum a pertença ao Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto) e ao seu papel neste mundo definido pela língua portuguesa. A minha leitura é pois de alguém que, não sendo especialista nas áreas trabalhadas, está no entanto familiarizado com tema e com o autor e como tal atreve-se (humildemente) a resenhar. Perdoe o leitor (e o próprio autor) as limitações e as falhas de tal processo.
O primeiro contacto pessoal que tive com o autor de No Mar e em Terra – História e Cultura de trabalhadores escravos e livres foi no ano de 2013, quando de uma conferência que este proferiu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Jaime Rodrigues teve então o ensejo de nos deliciar com a apresentação do seu projeto de pesquisa sobre a marinhagem escrava e liberta nos navios Atlânticos dos séculos 18 e 19.
Recordo não apenas o entusiasmo do palestrante sobre o tema que então o ocupava, mas também o daqueles que tivemos o privilégio de o ouvir dissertar, mesmo os que vindos de outras áreas de investigação (como eu próprio) e que rapidamente foram contagiados pelo interesse e novidade do que era apresentado. Jaime Rodrigues demonstrou a importância da pesquisa para um melhor conhecimento da marinhagem atlântica lusófona, em particular o papel quase ignorado dos escravos e libertos e das questões complexas que se lhes punham no tabuado dos navios portugueses que cruzavam o Mar Oceano.
Ao modernista que o ouvia foi difícil não ouvir o apelo de uma pesquisa que procurava recuperar o papel dos africanos neste universo tão particular e que foi elemento estrutural num Estado com características talassocráticas como o era o português da Época Moderna. Particularmente fez-me recordar, como ressonância longínqua, as linhas de Rui de Pina em que descreve a chegada de Diogo Cão ao reino do Congo e de como “…os negros da terra se fiavam delle, e seguramente entravam, já nos navios…” que os trariam a Portugal e à corte de D. João II. Dura ironia certamente.
Três anos passados sobre tal apresentação, e ao folhear o mais recente fruto do trabalho de Jaime Rodrigues (aquele que aqui se tenta resenhar), tive a felicidade de reencontrar (como capítulo terceiro do livro) o tema daquela apresentação de projeto, agora já convertido num produto final. O capítulo, antecedido por um sólido trabalho de enquadramento e de problematização, oferece ao atual leitor as mesmas premissas que nos tinham sido apresentadas em 2013 e a que se juntam agora os passos de pesquisa, os dados por ela coligidos e que sustentam a validade e a importância das conclusões.
O rigor científico e a erudição do trabalho do autor, não apenas neste como nos demais capítulos do livro, e que são naturalmente apanágio de um investigador e docente que conta com uma trajetória sólida e reconhecida, são o garante da qualidade do que nos é oferecido.
Como o prefácio de João José Reis e a própria apresentação do autor esclarecem, No Mar e em Terra é uma coletânea de diferentes artigos produzidos ao longo dos anos e dos quais resultam os sete capítulos da obra. Procurou o autor reunir num só volume trabalhos que andariam dispersos mas cuja afinidade de temas aconselhava a congregar, com toda a coerência, num único volume. Como já o prefaciador salienta, a atualização de bibliografias e a reflexão paralela que Jaime Rodrigues faz sobre a validade dos resultados do seu trabalho à luz da mais recente pesquisa histórica colocam-nos perante um livro que não apenas reúne como atualiza a pesquisa que o autor vem desenvolvendo ao longo do seu percurso profissional.
Com um arco temporal de abordagem que vai do século inicial da expansão marítima portuguesa até ao ainda muito próximo século 19, estes trabalhos encontram o seu fio condutor comum na geografia atlântica e no enfoque nas questões sociais geradas em torno das questões do trabalho (no mar ou em terra) e do papel e lugar dos escravos e libertos africanos neste mundo Atlântico lusófono.
Desde meados do passado século que as historiografias portuguesa e brasileira (e não só) têm dedicado um olhar cada vez mais interessado e aprofundado à importância econômica e social do mundo Atlântico português. O campo tem-se revelado vasto e fértil, as abordagens são múltiplas e vão-se renovando sistematicamente. Ultrapassadas as tradicionais abordagens de história essencialmente política, cujas vicissitudes do devir histórico faziam acentuar as diferenças, tornou-se possível aos acadêmicos compreender a importância dos elementos comuns.
Este é aliás o postulado do autor, bastante notório na introdução ao 2º capítulo, onde sustenta precisamente que uma análise histórica que tenha por foco o Atlântico não deve simplesmente fechar-se na experiência histórica dos homens do norte Atlântico (como fará a historiografia anglo-saxônica) mas perceber o que no conjunto dos territórios mediados por este oceano é elemento comum e pode ser analisado como tal.
Trabalho de um historiador representante de uma academia situada no sul Atlântico, como o Brasil geograficamente se situa e culturalmente se entende (pelo menos de um modo geral), a pesquisa de Jaime Rodrigues evita a tentação de centrar geográfica e humanamente a pesquisa na “sua” metade do Oceano.
Ainda que correndo o grave risco de cair em anacronia, seria interessante equacionar o entendimento que Jaime Rodrigues (bem como os historiadores que partilham do seu entendimento) tem do mundo Atlântico, como uma geografia histórica que é unida, e não separada, pelo oceano, com a visão que a civilização Romana tinha do mar Mediterrânico, o de um mar que mais não era que uma plataforma distribuidora que unia os limites do mundo latino que o rodeavam, e não a fronteira líquida em que se converteu a partir do século 7 e da expansão do mundo islâmico.
A amplitude da perspectiva na abordagem histórica, que também é perceptível na internacionalização do autor (já mencionei a sua participação num centro de investigação ligado à Universidade do Porto), é reforçada pelas fontes e pela bibliografia que utiliza na elaboração dos diversos trabalhos que formam este livro.
Será o caso da utilização que Jaime Rodrigues faz dos fundos dos arquivos históricos portugueses, onde trabalha com documentação que lhe permite contribuir para uma melhor percepção desse espaço Atlântico que é o cenário da sua pesquisa, e que se nos apresenta como um saudável desafio à própria academia portuguesa para que aprofunde os estudos sobre a questão laboral dos africanos nos contextos do mundo lusófono Atlântico.
É uma forma de acentuar o diálogo enriquecedor que o autor já mantém com os investigadores e os centros de investigação portugueses, onde as pesquisas focadas no universo marítimo estão em crescimento, nomeadamente – no que à Universidade do Porto e ao seu Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) respeita – com pesquisas em torno dos estudos dos portos e das comunidades marítimas, ou das redes comerciais dos primeiros séculos da modernidade, em que o comércio transatlântico tem um papel nada desprezível.
Também uma rápida leitura da listagem bibliográfica utilizada permite alargar esta compreensão do diálogo e inserção internacional do autor, ao colocar-nos perante bibliografia ampla e significativa para os temas abordados (aliás, como já mencionado, foi especialmente atualizada para esta edição), com uma notória e expressiva presença de bibliografia portuguesa e anglo-saxônica da mais recente produção.
Salienta-se o entendimento preciso que o autor tem sobre o universo que trabalha, bem como a diversidade e relevância das fontes e bibliografia que utiliza, para acentuar o fato de esta obra não ser de interesse circunscrito e localizado. Jaime Rodrigues organizou esta sua coletânea de textos numa gradação variável de perspectivas de âmbito geográfico e cronológico que nos permitem, sob a mesma linha de entendimento, ver diferentes graus de abordagem.
O autor aborda desde pesquisa que poderemos designar como de história local e regional (o estudo centrado na Fábrica de Ipanema, no capítulo sexto), ou com uma natureza temporal muito precisa (como o estudo sobre os escravos que tentaram obter a sua liberdade por recurso à Constituinte Brasileira de 1823, capítulo quarto), a estudos bastante mais dilatados no espaço e no tempo.
Com uma orgânica que segue inteiramente o plasmado no título, o livro pode-se dividir entre os capítulos que situam a sua análise no Mar Atlântico (os três primeiros capítulos) e os que a situam em Terra (capítulos quarto a sétimo).
O primeiro conjunto de artigos que supra se menciona apresenta três diferentes abordagens ao universo dos marinheiros Atlânticos e a questões culturais, materiais e laborais que se desenvolviam em alto-mar.
O primeiro capítulo introduz um interessante estudo no domínio da cultura marítima criada pelos marinheiros Atlânticos, que se apresentam como criadores, promotores e conservadores de patrimônio imaterial, num estudo dedicado aos ritos de passagem do equador, analisados entre os séculos 16 e 20, com testemunhos de autores oriundos das mais diversas nações que cruzam o mar Atlântico.
O capítulo sequente introduz-nos a uma das questões materiais mais relevantes na vida marítima, com consequências diretas na própria sobrevivência dos mareantes: Jaime Rodrigues oferece-nos um estudo sobre a relação entre alimentação e saúde a bordo dos navios que cruzavam o Atlântico, erguido sobre a análise cruzada das descrições de viajantes europeus e dados recolhidos em arquivos portugueses.
Salienta-se, num tema já tratado anteriormente pelo autor na sua tese doutoral e que agora retoma, a sua abordagem (no ponto III) à questão do conhecimento empírico gerado pela experiência de mar, uma verdadeira cultura prática marítima colocada ao serviço da preservação física dos homens do mar (nomeadamente no tratamento do escorbuto), e a importância desse conhecimento contra o qual se levantava a desconfiança dos oficiais médicos. Uma experiência aliás que transpunha para a alimentação a bordo todo o conhecimento novo que se obtinha de alimentos desconhecidos dos europeus pré-modernos e que as viagens de navegação Atlântica somaram à sua cultura material.
O terceiro capítulo, fruto da pesquisa que se menciona no início desta resenha, encerra o conjunto de trabalhos especificamente dedicados ao universo marítimo, cedendo passo aos trabalhos “terrestres”, conjunto de quatro trabalhos que têm por elo comum os trabalhadores escravos e libertos.
O capítulo quarto introduz-nos às tentativas de escravos de obterem a sua liberdade por recurso à primeira constituinte brasileira, cuja memória o autor recupera dos fundos do arquivo parlamentar. Demonstra materialmente como a retórica que acompanhou a emancipação política do Brasil teve eco entre a população escrava, que do recurso ao judicial e às novas autoridades políticas procurou obter a sua liberdade, anseio que soçobra ante o primado (próprio de um regime liberal) do direito à propriedade.
Se o quinto capítulo analisa e contextualiza criticamente a proposta teórica apresentada por um acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, logo nos primeiros anos desta instituição, em que defende a substituição da mão de obra escrava africana (que advoga incivilizável e até fonte de barbarização) por indígenas brasileiros “civilizados”; já o sexto capítulo vai no sentido oposto, passando dos debates teóricos sobre a natureza do trabalhador escravo africano à materialidade da situação do trabalhador africano livre em contexto industrial.
Com um artigo sobre os africanos que alcançavam a liberdade quando compreendidos na lei de 1831 que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, Jaime Rodrigues analisa como a adoção de uma prática comum em estados com tradição histórica de escravatura, de colocar homens livres na condição de trabalhadores forçados, se desenvolve na fábrica de ferro de Ipanema, em São Paulo, análise que insere numa aprofundada contextualização e que termina urgindo por maiores pesquisas sobre o tema.
O último artigo desta coletânea avança numa direção diferente, e apresenta uma reflexão diacrônica sobre o modo como o preconceito contra África e os africanos assumiu um importante papel na construção de um discurso historicamente duradouro que atribui ao continente e aos seus filhos, muitas vezes transportados forçadamente e na pior das condições, a condição de fonte epidêmica, uma leitura que Jaime Rodrigues situa inicialmente no presente, para recuar nos séculos e demonstrar a sua constância.
Reunindo textos publicados entre 1995 e 2013, esta coletânea encontra um fio condutor que nos conduz à reflexão da importância comum do mundo Atlântico, e do papel que na sua construção tiveram os africanos, escravos e livres, e de como esse papel foi sendo acompanhado de incríveis demonstrações de preconceito e processos de subalternização; reflexão que o autor situa muito bem entre os trabalhos produzidos por esta área de pesquisa em constante expansão.
Ao mesmo tempo que nos apresenta os resultados do seu competentíssimo esforço, Jaime Rodrigues apresenta novas interrogações e apresenta linhas possíveis de pesquisa que apenas nos faz desejar que prossiga, sem mais demoras, o seu trabalho.
Nuno de Pinho Falcão – Universidade do Porto, Porto, Portugal. E-mail: [email protected]
RODRIGUES, JAIME. No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: FALCÃO, Nuno de Pinho. O Mar que nos une: trabalho, escravos e libertos no Atlântico Moderno e Contemporâneo. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 371-376, jan./abr., 2017.
Debates, polêmicas e conflitos: relações entre estabelecidos e ‘outsiders’ no ocidente tardo antigo e medieval / Ágora / 2017
O dossiê temático desta edição, intitulado “Debates, polêmicas e conflitos: relações entre estabelecidos e outsiders no Ocidente tardo antigo e medieval”, teve como proposta, e objetivo principal, reunir trabalhos que discutam a História do Ocidente tardo antigo e medieval, incluindo estudos sobre o pensamento. Foram aceitos trabalhos sobre todos os tipos de debates, polêmicas e tensões entre poderes em conflito, maioria e minorias, Igreja e dissidentes, que enfoquem os temas tratados.
O primeiro artigo é de autoria de Álvaro Alfredo Bragança Júnior e versa sobre um gênero literário, a Narrenliteratur (literatura dos insensatos), cujo principal objetivo era advertir o homem de então dos perigos de uma nova instância reguladora do orbe, não sendo a Igreja. Sebastian Brant com seu Das Narrenschiff (A nau dos insensatos) critica os desvios de então, personificando os agentes sociais como insensatos, que se deixam levar por novos modelos de comportamento. O espaço é o Sacro Império e o o recorte temporal é o século XV.
O segundo artigo é de autoria de Ana Paula Tavares Magalhães (USP), que também coordena este dossiê e trata do franciscanismo, um tema que tem reaparecido e gerado interesse na academia e na sociedade. Como ela explica, trata-se de uma “[…] controvérsia fundamental no interior da Ordem Franciscana ao longo do século XIII e parte do século XIV que opôs duas formas de interpretação da regra: ao passo que os “Conventuais” eram defensores de uma observância ampla, os “Espirituais” preconizavam a observância estrita, conforme o que imaginavam ser o projeto original de Francisco”.
O terceiro artigo nos vem do Paraná e também trata do franciscanismo. É de autoria de Angelita Marques Visalli e seu tema enfoca um dos espirituais franciscanos, nos apresentando uma abordagem sobre o personagem Jacopone de Todi (1236- 1306) a partir das relações de poder tanto institucionais (relação com o papado) como pessoais. Alocado na Itália medieval, no século XIII e início do XIV e no auge do conflito entre conventuais e espirituais. Faz, portanto um conjunto, com o artigo anterior, pois elabora um estudo de caso meticuloso, com análises de textos em italiano medieval e reflexões inéditas sobre este personagem.
O quarto texto é de um colega que colabora como nosso grupo de pesquisa há mais de uma década, sendo especialista em Inquisição e autor de alguns livros. Trata-se de Geraldo Magela Pieroni (UTP/PR) em conjunto com Alexandre Martins, doutorando em Filosofia (PUC/PR). O artigo denominado “Heréticas à margem: os estabelecidos inquisidores e as bruxas outsiders” faz um interessante contraponto entre a teoria de Elias e Scotson e as inter relações entre inquisidores e as mulheres acusadas de bruxaria. Como nos dizem os autores: “Muitas mulheres foram acusadas de práticas desviantes que maculavam a ortodoxia religiosa. Quem determinava estas condutas consideradas fora da lei? O que legitima a criminalização de um grupo acusado de heterodoxo? As leis são filhas do tempo no qual foram produzidas e, portanto, é inequívoco o embate entre duas visões de mundo, de um lado, a concepção erudita dos juristas e teólogos os quais definem situações e comportamentos como “certos” ou “errados”; e do outro, a da cultura popular do povo supersticioso”.
O quinto artigo nos vem de um dos discípulos do homenageado neste dossiê, que atingindo a titulação de doutor, pode homenagear seu mestre e amigo com esta publicação. Trata-se de Germano Miguel Favaro Esteves (UNESP/Assis) com seu artigo: “Entre a fé e o pecado: o olhar feminino na Incipit Obitvs cvivsdam Abbatis Nancti” que através da análise de um clássico da hagiografia do período visigótico, a obra “Vida dos Santos Padres de Mérida” faz uma análise da aguda misoginia clerical do personagem Nanctus. O tema é muito contemporâneo, mesmo sendo da Antiguidade Tardia e espacialmente alocado no reino visigótico, pois mostra a visão eclesiástica da malignidade da mulher e dos riscos que elas apresentam a um homem santo.
O sexto artigo, alocado na História das Mulheres enfoca a contribuição de uma mulher à cultura medieval, mostrando a participação destas na sociedade. O artigo vem do nordeste e é de autoria de Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne (UFPB) e se denomina: “As memórias de Leonor López de Córdoba (1362/23-1430): inaugurando linhagens”. Nas palavras da autora trata-se de: “[…] obra escrita nos primeiros anos do século XV e considerada a primeira autobiografia em castelhano. Dada a importância desta obra, tanto do ponto de vista histórico, quanto literário, o estudo busca evidenciar a contribuição das mulheres nos estudos sobre gêneros autobiográficos […]”.
O sétimo artigo é de Mario Jorge Mota Bastos (UFF/Niterói/RJ) e se denomina: “Estabelecidos e outsiders na medievalística contemporânea”, nos traz reflexões sobre o tema no âmbito da historiografia. O autor visita a escrita da história recente, nos colocando a percepção dos europeus, em relação aos medievalistas de outros continentes e suas contribuições. Indaga e reflete sobre a visão de quem vive nos espaços outrora medievais, em relação a nós e outros como nós, e a nossa obra desenraizada, já que não tivemos medievo. Mário questiona, provocando a polêmica: “[…] Mas, será que de fato lhes pertence, de alguma forma superior ou específica, o “passado” em questão? Seremos, todos nós ‘outros’, outsiders ao promovermos a medievalística desde as “periferias” do mundo contemporâneo?”.
O oitavo artigo também vem da UFF (RJ) e é de autoria de Renata Vereza e se denomina: “Revendo a ideia de tolerância: os contornos da marginalização das comunidades mudéjares castelhanas no século XIII”. Um artigo que busca refletir sobre as relações dos castelhanos cristãos com os muçulmanos dos territórios ‘reconquistados’ pelos reis Fernando III e Afonso X, além de outros anteriores e posteriores. A autora revisita o conceito da ‘convivência’ tão caro aos historiadores no período da celebração dos 500 anos da reconquista/descoberta da América (1491/1992). Tenta demonstrar que já havia conflitos e tensões no século XIII e que se tornarão mais fortes no século XVI.
O nono artigo nos traz o segundo discípulo de nosso homenageado, que foi seu primeiro doutorando a defender na UNESP/Assis. Trata-se de Ronaldo Amaral (UFMS – Campo Grande) e que nos apresenta um artigo denominado: “Entre a longa-duração e a ruptura: a consciência mítica medieval apreendida pela dialética do eu e do outro no mesmo”. Traz no artigo uma ampla reflexão da compreensão de mundo no período tardo antigo ( e diria também medieval). Como nós, hoje, podemos entender o homem do passado? Seus códigos, sua concepção do mundo são vistos, por nós através das lentes do presente. O autor sugere: “Contudo, não havendo a possibilidade de encontrar o pensamento e o modus desse pensar do homem do pretérito por ele e nele mesmo, só poderemos apreendê-lo a partir de nós, no interior de nosso próprio espírito, e por meio de uma dialética entre a alteridade e a identidade, quando, sobretudo esta última poderá sobreviver ainda que obnubilada e ressignificada pela primeira”.
O décimo e último artigo é de minha autoria, como coordenador deste dossiê, não poderia deixar de homenagear Ruy de Oliveira Andrade Filho com um texto, mesmo se humilde demais, para tal missão. Como nos conhecemos estudando Isidoro de Sevilha e o reino visigótico de Toledo, não poderia ser outro o texto que agregaria a esta coletânea de autores para homenagear Ruy. Meu texto se denomina: “A ética e a concepção religiosa de Isidoro de Sevilha: o livro das Sentenças”. O artigo analisa a concepção de mundo isidoriana, na qual o mundo é um palco do confronto entre o bem e o mal, Deus e o diabo, chegando a se aproximar de um dualismo inaceitável para a Igreja. Nas palavras do autor, o artigo: “[…] pretende descrever e analisar a visão de mundo isidoriana, vista através do prisma da luta do Bem e do Mal, do confronto entre as boas ações e os pecados, que emana desta obra. A vida humana é o palco da luta das virtudes contra os vícios/pecados (De pugna virtutum adversus vitia). Tudo o que for prazer carnal, é definido como uma armadilha, uma tentação que leva o homem a cair nos braços do Diabo. Para vencer as tentações do Diabo e da carnalidade deve se elevar aos céus, a Deus”.
Ana Paula Tavares Magalhães
Sergio Alberto Feldman
Organizadores.
[DR]Mythos | UEMASUL | 2017
Mythos – Revista do Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e Medieval (Imperatriz, 2017-), originou-se do interesse de investigação de docentes e discentes sobre mundo antigo e medieval. As civilidades antigas, sejam orientais, sejam ocidentais, bem como a sociedade do ocidente medieval, são as matrizes culturais da sociedade contemporânea e revelam muitos aspectos das origens do nosso comportamento social. Olhar para o passado é, em certo sentido, olhar para si mesmo. A revista tem como objetivo divulgar e estimular o desenvolvimento de novas pesquisas acerca das sociedades antigas e medievais. Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN: 2527-0621
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Trabalhismo, populismo e democracia na América latina / Canoa do Tempo / 2017
Diante de um quadro político marcado pelo avanço de uma onda conservadora e por sucessivos ataques à democracia, não apenas no Brasil, mas também pelo mundo afora, propusemos um dossiê intitulado “Trabalhismo, Populismo e Democracia na América Latina”. O objetivo central foi buscar subsídios para compreender a conjuntura política atual e a crise radical das instituições democráticas brasileiras, fazendo uma reflexão sobre os fenômenos do Populismo e do Trabalhismo bem como sobre as experiências democráticas nesses países.
Para iniciar essa discussão, apresentamos o artigo A flexibilização da legislação trabalhista brasileira: a redução dos direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho ao longo do tempo, de Alisson Droppa. Nesse trabalho, o autor busca fazer uma relação entre as modificações ocorridas na Consolidação das Leis do Trabalho a partir do golpe civil-militar de 1964, apresentadas como uma “primeira onda liberal” e a atual investida sobre a legislação trabalhista e a nova onda de ataques sobre os direitos sociais.
Em Da harmonia ao conflito: a Delegacia Regional do Trabalho em Alagoas (1956- 1959), Anderson Vieira Moura se propõe a analisar atuação de Edson Falcão na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) em Alagoas, destacando os conflitos e disputas que acabaram acarretando um desgaste de sua figura junto com os O autor faz uso de vasta documentação, utilizando de atas sindicais, reportagens de jornais, processos trabalhistas e até uma entrevista feita com seu primogênito.
Amaury Oliveira Pio Jr busca discutir as relações políticas que se desenvolvem no estado do Amazonas a partir da implantação da Revolução de 30 e do novo modelo sindical proposto por Getúlio Vargas. Para isso, analisa o periódico Tribuna Popular, jornal inicialmente vinculado ao Partido Trabalhista Amazonense (PTA) e que representava um importante veículo de divulgação do projeto varguista no estado. No artigo Jornal Tribuna Popular e a construção de um ideário “proto-trabalhista” no Amazonas, o autor percebe o surgimento de uma proposta trabalhista em um estágio embrionário já na década de 30 no estado.
No artigo Conflitos, solidariedade e formação de classe – “nacionais” e estrangeiros nos primórdios da mineração de carvão do Brasil (1850-1950), Clarice Speranza analisa as relações entre trabalhadores brasileiros e imigrantes na construção nas minas de carvão do Sul do Brasil. Discutindo o processo de migração e sua importância para o o desenvolvimento das minas de carvão, destaca ainda a resistência desses trabalhadores, suas formas de organização e a tensão percebida entre uma identidade de ofício calcada na coesão e na solidariedade e a existência de espaços de segregação entre os trabalhadores.
Cremos que esse seja um momento extremamente apropriado para discutir temas como as investidas sobre a legislação trabalhista, os ataques sobre os direitos sociais e as estrategias de resistência e organização dos trabalhadores. Que a leitura dos artigos do dossiê possa contribuir para o debate e a reflexão sobre o tema. Agradecendo a excelente contribuição dos autores, desejamos uma boa leitura.
César Augusto Bubolz Queirós – Doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: [email protected]
[DR]Imigrações / Almanack / 2017
Fenômeno de longa duração, as migrações destacam-se como marca da modernidade. Rearranjos dos grandes impérios, transformações do capital, conflitos civis e novas demandas da organização do trabalho no interior do sistema capitalista provocaram fome e miséria. Tal quadro justifica o vertiginoso deslocamento ocorrido entre 1815-1914, quando cerca de 50 milhões de mulheres e homens, na maior parte europeus, abandonaram suas terras de origem e dirigiram-se às Américas para iniciar uma nova vida.
Cerca de um século depois, a globalização da economia vem fomentando uma nova onda migratória. Vemos a formação de um extraordinário fenômeno de mobilidade de indivíduos pelo planeta, em uma proporção muito superior àquele período, anteriormente citado, conhecido como da Grande Imigração. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, em 2013, estimava-se em cerca de 232 milhões o número de imigrantes no mundo.
De um lado, a transnacionalização e a multinacionalização das empresas vem promovendo uma intensa circulação de trabalhadores nos mercados de produção, gerando novas formas de imigração, que devem ser consideradas como componentes da estruturação da sociedade na era da globalização.1 De outro, um número recorde de conflitos civis, étnicos e / ou religiosos, e os terríveis desastres ambientais que tem assolado diferentes regiões do planeta se somam à sociedade globalizada para explicar esse maciço deslocamento humano que caracteriza o tempo presente.
Trata-se de uma imigração diferenciada, porque volátil, uma vez que a nova ordem mundial facilita a continuidade desses deslocamentos, dificultando o enraizamento, adicionando-lhe novas e delicadas questões, como a receptividade da sociedade brasileira a esses novos grupos e o conflito gerado pela disputa no mercado de trabalho e por direitos políticos, civis e sociais. Além disso, antigas questões se reapresentam ante a opinião pública, como o debate sobre o imigrante desejável, produzindo uma incômoda sensação de retorno ao final do século XIX. Xenofobias reaparecem e nos fazem refletir se o Brasil é de fato um país cordial.
Assim, não seria errado afirmar que a e / imigração é um tema fundamental da história, e que talvez seja, na atualidade, um dos campos mais instigantes para os historiadores. Vale dizer que para o estudo desse fenômeno e dos seus desdobramentos convergem questões centrais do tempo presente como o debate sobre as identidades, os desejos e deveres de memória e as comunidades de sentido, problemas diretamente relacionados ao avanço da globalização sobre os estados e economias nacionais e locais.
É sob a luz das questões e inquietações do presente que o dossiê Imigrações, organizado pelas professoras Ismênia de Lima Martins, Gladys Sabina Ribeiro e Érica Sarmiento, aborda o “longo século XIX”- e os seus diferentes fluxos migratórios e grupos de imigrantes que encontraram nas Américas seu pouso e destino.
Na historiografia relacionada aos estudos migratórios, o Oitocentos estende-se até o ano de 1930, compreendendo, assim, também o denominado período da Grande Imigração (1880-1930) e todo o arcabouço deixado pelo numeroso contingente migratório que cruzou o atlântico. O dossiê reúne um conjunto de textos, escritos por especialistas de longa trajetória na temática, que analisam, desde diferentes perspectivas, as políticas migratórias, as experiências, a memória, a opinião pública e a integração nas sociedades de recepção dos diferentes grupos de imigrantes.
O continente americano constituiu-se em um grande receptor de imigração ao longo do século XIX. Muito dos jovens Estados, ainda em formação, fortaleceram e consolidaram as suas políticas em função da chegada de imigrantes, que foram entendidos como elementos de progresso e de civilização para as promissoras sociedades em desenvolvimento.
No caso do Cone Sul, em particular Brasil e Argentina, a imigração representou uma das molas propulsoras das políticas estatais, partícipes das políticas de povoamento, substituição de mão de obra escrava e de branqueamento da população. Já nos primórdios do século XIX, os intelectuais argentinos que fizeram parte da mítica Geração de 37, de Buenos Aires, deixaram em seus escritos a importância do elemento estrangeiro no desenvolvimento de sua sociedade, como foi o caso de Juan Bautista Alberdi, que imortalizou a frase “governar es poblar”. No artigo de Alejandro Férnandez, intitulado “La ley argentina de inmigración de 1876 y su contexto histórico”, o autor analisa a chamada Ley de Inmigración y Colonización, promulgada no ano de 1876, considerada como um dos pilares legislativos da modernização da Argentina. A lei atribui ao imigrante o seu papel modernizador, tanto no plano da economia como na sociedade como um todo.
Diferente das jovens repúblicas da antiga América espanhola e dos Estados Unidos, o Império brasileiro discutiu e estimulou a questão imigratória no âmbito de uma sociedade ainda escravista. Nesse sentido, o artigo de Paulo Gonçalves realiza uma importante análise sobre as tensões estabelecidas no âmbito do fornecimento e controle da mão de obra para a economia agroexportadora oitocentista. No contexto do período conhecido como de transição do trabalho escravo para o livre, em fins do XIX, a mão de obra assalariada imigrante viu-se refém da mentalidade escravista dos fazendeiros brasileiros, do mandonismo local, e de seus instrumentos de coerção econômica e do uso da força.
O texto de Ana Scott apresenta o estudo da experiência migratória ocorrida entre Portugal (Província da Beira / Concelho da Lousã) e a província de São Paulo (região de Espírito Santo do Pinhal). Nesse caso, a história demográfica forneceu informações importantes para a análise e cruzamento de fontes por meio da exploração de registros paroquiais de batismo e de casamento correspondentes às décadas de 1860 e 1880, da Vila da Lousã (próximo à cidade de Coimbra), e do Núcleo Nova Lousã, no interior da província de São Paulo. Vale ressaltar a relevância dos registros paroquiais como importantes fontes nominativas na construção de tipologias de grupos migratórios. Outrossim, o estudo das variações regionais ou provinciais demonstra um amadurecimento dos estudos migratórios, nas últimas décadas, com uma profunda compreensão e conhecimento da realidade de origem e recepção dos migrantes, bem como das relações que se estabelecem entre ambos os universos. A questão da variação da escala aos níveis locais – antes muito limitada- a recortes maiores sem dúvida representou um grande avanço para a análise de fatores microssociais dos processos migratórios.
O patrimônio e o legado cultural construídos por imigrantes na sociedade de acolhimento é uma das contribuições mais significativas relacionadas ao fenômeno migratório. Eloisa Capovilla Ramos, em seu artigo, analisa dois monumentos, um na cidade de Buenos Aires e outro em Caxias dos Sul, erigidos como símbolos da identidade da imigração italiana. Os monumentos, segundo a autora, representam espaços de memória e rememoração que pertencem ao patrimônio cultural de seus países. Na memória dos imigrantes, a história se inicia somente no ponto onde acaba a tradição, momento que, segundo Maurice Halbwachs, se apaga ou se decompõe a memoria social. Quando a memória se dispersa, então o único meio de salvar as lembranças é fixá-las por escrito em uma narrativa, em símbolos, uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem.2 A autora em questão dá uma original contribuição para estender tais pressupostos aos monumentos urbanos construídos para celebrar a imigração no quadro urbano.
O artigo de Martín Pérez Acevedo lança luz sobre a presença imigrante de irlandeses no México. Tal grupo não tinha merecido ainda um esforço de pesquisa sistematizada, talvez por ser quantitativamente inferior no quadro da grande imigração para aquele país. Assim, o autor demonstra, a partir de dados extraídos do Registro de estrangeiros no México do ano de 1925, como esta coletividade formou parte de projetos colonizadores de povoamento do norte do país, ao logo do século XIX, por meio da mineração e do comércio, sendo, muitos deles, agentes de empresas britânicas.
Outra temática que preenche lacunas na historiografia das migrações encontra-se no texto de Oscar Alvarez Gila. Trata-se da análise da opinião pública na imprensa sueca em relação aos primórdios da emigração para os Estados Unidos, um dos destinos preferenciais deste grupo no período da Guerra Civil. O autor realiza um importante levantamento da imprensa da época, ao elencar várias questões afins ao processo migratório publicado na imprensa, como as cartas, as agências de imigração e a posição dos periódicos quanto à emigração.
O conjunto de artigos apresentados nesse dossiê representa uma importante contribuição, do ponto de vista teórico e metodológico, para a nova historiografia das migrações. O leitor poderá acompanhar as discussões realizadas pelos autores e os seus percursos bibliográficos a partir dos quais estabeleceram suas conclusões.
Tais análises contribuem, também, como chaves de leitura para que os historiadores do tempo presente enfrentem os dilemas, as inquietações e as tensões das migrações contemporâneas.
Finalmente, cabe agradecer ao PPGH-UFF por ter custeado a diagramação e a marcação XML deste número. A Almanack é um revista interinstitucional que precisa contar com o apoio dos programas de pós-graduação partícipes da grande aventura que é a manutenção de uma publicação em tempos de escassos recursos.
Notas
1. Canales, Alejandro apud BAENINGER, Rosana. Desafios teórico-metodológicos para a interpretação da migração internacional na sociedade contemporânea. Rev. bras. estud. popul., São Paulo , v. 34, n. 1, p. 181-184, Apr. 2017 . Available from<http: / / www.scielo.br / scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982017000100181&lng=en&nrm=iso>. access on 19 Sept. 2017. http: / / dx.doi.org / 10.20947 / s0102-3098a0015.
2. HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro Editora, 2006.
Érica Sarmiento – Professora Adjunta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Professora titular do Programa de Mestrado em História da Universidade Salgado de Oliveira. Coordenadora do Laboratório de Estudos de Imigração (Labimi / UERJ) e do Laboratório de Imigração e Estudos Ibéricos (UNIVERSO). É pesquisadora Jovem Cientista Nosso Estado da FAPERJ. E-mail: [email protected]
Ismênia de Lima Martins – Professora Emérita da Universidade Federal Fluminense. Coordenadora de Editoração e Acervo da FAPERJ e Membro do CONARQ. Integra a Comissão de Altos Estudos do Programa Memórias Reveladas, da Casa Civil da Presidência da República. Coordena o projeto Portugueses no Brasil, em cooperação com o CEPESE, da Universidade do Porto; o GT Imigração, Identidade e Cidadania, da ANPUH, e o Projeto Entrada de Imigrantes no Brasil, Listagem de Vapores, Arquivo Nacional, BNDES. É presidente da Associação Cultural do Arquivo Nacional e Sócia Honorária do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro – IHGB. E-mail: [email protected]
Gladys Sabina Ribeiro – É professora titular do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense; bolsista de produtividade do CNPq e Cientista do Nosso Estado / FAPERJ. É coordenadora do NEMIC (Núcleo de Estudos de Migrações, Identidades e Cidadania), vice-coordenadora do CEO (Centro de Estudos do Oitocentos) e uma das fundadoras da SEO (Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos). E-mail: [email protected]
SARMIENTO, Érica; MARTINS, Ismênia de Lima; RIBEIRO, Gladys Sabina. Apresentação. Almanack, Guarulhos, n.17, set / dez, 2017. Acessar publicação original [DR]
Modos | Unicamp | 2017
Criada pelo Grupo de Pesquisa MODOS – História da Arte: modos de ver, exibir e compreender, a revista MODOS (Campinas, 2017-) objetiva publicar textos que visam discutir a produção artística, crítica e [produção] historiográfica dedicada às artes visuais em suas várias dimensões, dando ênfase aos lugares de exibição, à circulação, às coleções e às narrativas que instituem como percebemos, interpretamos e divulgamos a produção artística e o objeto de arte. MODOS está vinculada a seis Programas de pós-graduação em Artes/Artes Visuais (UnB, UNICAMP, UFRJ, UFRGS, UFBA e UERJ).
A revista aceita artigos (em português, espanhol e inglês), traduções, entrevistas e resenhas de livre tema, bem como textos para dossiês temáticos, organizados por pesquisadores convidados pela Comissão Editorial ou pelos Editores.
Periodicidade trimestral.
Acesso livre.
ISSN 2526-2963
Acessar resenhas [Ainda não publicou resenhas de livros]
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
História Política: problemas e estudos / Anos 90 / 2016
A história política, vinculada às relações de poder político-institucionais que permeiam as sociedades e o Estado em suas múltiplas dimensões, renovou-se muito nas últimas décadas, ganhando cada vez mais impulso e importância. Neste dossiê, a revista Anos 90 abriu-se para contribuições concernentes a recortes temáticos que pudessem se enquadrar nesta área de estudos históricos, tanto para os problemas teóricos e metodológicos enfrentados pelos pesquisadores quanto para os estudos de objetos característicos desse campo de análise. Recebemos diversas contribuições de várias partes do país e do exterior, pelas quais agradecemos aos pesquisadores que se dispuseram a apresentar seus originais a este dossiê. Depois das avaliações realizadas, restaram os nove artigos que se seguem.
Os artigos estão apresentados em uma ordem lógica e cronológica ao mesmo tempo. Assim, o dossiê inicia com a contribuição de Maria Helena Capelato. Em História do Brasil e revisões historiográficas, a autora busca refletir sobre questões teóricas e metodológicas a respeito da escrita da história de modo geral e, em particular, sobre os seus usos políticos. Desse modo, o trabalho toma uma dimensão ético-política que traz importantes contribuições para o debate tão atual acerca dos lugares de produção de história, seus usos sociopolíticos e o papel dos profissionais e não profissionais nestas tarefas científicas e / ou culturais.
O segundo texto, das professoras portuguesas Isabel Maria Freitas Valente e Maria João Guia, trata da premente e espinhosa questão das políticas de imigração na União Europeia, centrado no exame da legislação respectiva. Ao mesmo tempo em que procura historiar as contribuições legislativas mais gerais a respeito do tema, ao final, as historiadoras concentram-se na temática propriamente portuguesa.
Luiz Alberto Grijó, por sua vez, aborda as empresas de meios de comunicação brasileiras, traçando um panorama amplo, desde o período pré-64 até os dias atuais. O artigo explora a transformação paulatina dos meios. Desde a situação anterior, na qual eram espécies de apêndices da luta política mais ampla, até o momento atual, em qum sequestraram a democracia em nome de seus próprios valores apresentando-se como protagonistas centrais no jogo político-partidário, inclusive agindo para a deposição da presidenta eleita em 2014.
Esteban Javier Campos, em seu artigo, propõe uma história comparada sobre as práticas e concepções políticas da Ação Popular e dos Montoneros tomando suas semelhanças e suas diferenças. O autor parte da análise desses movimentos a partir de suas origens católicas, suas aproximações com o socialismo e seus redirecionamentos entre linhas maoísta e peronista, em meio a reflexões sobre processos políticos em escala nacional.
Por sua vez, Larissa Rosa Correa e Paulo Roberto Ribeiro Fontes dedicam-se, através da análise da produção historiográfica mais recente sobre os trabalhadores e os movimentos sindicais brasileiros na época da Ditadura Militar (1964-1985), a observar “um certo apagamento” da história e da presença desses extratos sociais e suas organizações de classe na referida literatura. Visam, com isso, a lançar luzes em aspectos e lacunas ainda existentes a propósito do regime instaurado em 1964.
Adriane Vidal Costa procura na “prática epistolar de Júlio Cortazár”, em seu período mais frutífero, os anos de 1960 e 1970, instrumentos de compreensão para a formação de redes de sociabilidades intelectuais; de suas ideias políticas como um escritor engajado, ao mesmo tempo em que visa a recuperar o ambiente cultural de discussão literária e as funções sociais do intelectual em meio à defesa que Cortazár promovia do socialismo e sua condenação das ditaduras militares latino-americanas do momento.
O partido do Rio Grande: redes de relações, mediação e revolução de 1930, de Cássia Daiane Macedo da Silveira, discute o papel e a participação dos chamados intelectuais nos acontecimentos que envolveram a Revolução de 1930, especialmente nas articulações que acabaram levando a ela. Cássia centra-se na questão fundamental destes homens de letras como mediadores culturais e sociais e nos efeitos políticos que isso possibilitava, abordando os casos de dois deles: o carioca Rodrigo Otávio Filho e o gaúcho Felipe d’Oliveira.
Carla Brandalise, em seu artigo, remete-se às políticas internacionais da Itália sob o fascismo voltadas para a América Latina na década de 1920. Com efeito, assiste-se nesses anos a um recrudescimento dos interesses italianos sobre essa região, a partir do que se estabelece estratégias, pacíficas, de maior inserção econômicas e político-culturais. Para tanto, joga-se com a questão da latinidade intrínseca ao continente e com a perspectiva de que a Itália constitui a verdadeira líder dos povos latinos, dado que se outorga como lócus original e atemporal da romanidade. Suas ambições, portanto, vão para além da maior interação com sua comunidade emigrada.
Rodrigo da Rosa Bordignon, que encerra o dossiê por ser o que aborda o momento cronologicamente mais recuado, analisa as narrativas dos homens de letras, de comentadores, políticos e pensadores do Brasil na virada do século XIX para o XX. Enfoca especificamente a clivagem entre as posições “monarquistas” e “republicanas” a partir da perspectiva não de reificá-las, mas de desvendar os mecanismos que levaram a estas tomadas de posição, os quais ajudam a revelar qual ou quais concepções de política estavam em jogo e sua relação com os critérios de classificação e ordenação sociais e ideológicos e seus modos de legitimação.
Carla Brandalise.
Luiz Alberto Grijó.
BRANDALISE, Carla; GRIJÓ, Luiz Alberto. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 43, dez., 2016. Acessar publicação original [DR]
A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 1939) | Jerzy Mazurek
Dos milhões de imigrantes poloneses que se espalharam ao redor do planeta, mais de cem mil chegaram ao Brasil entre 1869 e 1939, ocupando majoritariamente colônias rurais nos estados do sul do país. Esse grupo, apesar de menor em comparação com as imigrações italiana, portuguesa, alemã ou espanhola, faz parte do processo mais amplo da imigração europeia massiva para a América Latina entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Um fenômeno de grandes proporções, como afirma Devoto, “la migración de masas fue uno de lós fenómenos más característicos del mundo euroatlántico entre los siglos XIX y XX” (2007, p.531), e que moldou a configuração dos países latino-americanos em diferentes aspectos, incluindo o Brasil, no qual esteve presente em diversas regiões, sendo de maneira mais forte em termos populacionais nas regiões sul e sudeste brasileira.
Como parte deste processo mais amplo, a e/imigração polonesa para a América Latina, de modo geral e para o Brasil, de maneira específica, tem sido um tema com múltiplas possibilidades de análise, mas que dentro dos estudos migratórios ainda demanda pesquisas empíricas rigorosas que apontem novos dados sobre a presença deste grupo étnico em terras americanas. Vários fatores explicam o fato de as produções acadêmicas sobre este grupo migrante ainda serem restritas (WEBER, WENCZENOVICZ, 2012) e estarem em um estágio inicial, especialmente no caso da literatura em português no Brasil. Por várias décadas, cientistas sociais poloneses em seu país vêm se debruçando sobre a temática da emigração polonesa, mas muitas vezes, em razão da escrita em polonês, seus trabalhos ficavam circunscritos à realidade local. Um exemplo de novos trabalhos que trazem avanços e contribuições para esta temática, e que permitem o acesso ao leitor brasileiro, é o livro A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 1939) de Jerzy Mazurek.
Mazurek é nascido na Polônia e estudou história e biblioteconomia na Universidade de Varsóvia, onde completou seus estudos com uma pós-graduação em museografia, história da arte e em administração. Atualmente é Vice-Diretor do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Museu Histórico do Movimento do Povo Polonês), em Varsóvia (desde 1998), e também professor na área de História do Brasil no Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos, da Universidade de Varsóvia).
O professor é autor de vasta bibliografia sobre os poloneses no Brasil e América Latina como Kraj a emigracja: ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku) (O país e a emigração: o movimento popular contra a emigração dos camponeses para os países da América Latina (até 1939)) de 2006; Piórem i czynem Kazimierz Warchałowski (1872-1943) – pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru (Penas e ação Kazimierz Warchałowski (1872-1943) – um pioneiro da colonização polonesa no Brasil e no Peru) de 2013; e a participação no livro bilíngue Polacy pod Krzyżem Południa (Os Poloneses sob o Cruzeiro Do Sul) de 2009. Além de ser redator de outras obras com temas semelhantes através da edição da Biblioteka Iberyjska (Biblioteca Ibérica), vinculada ao supramencionado instituto do qual o professor Mazurek faz parte.
O volumoso livro (458 páginas) traduzido por Mariano Kawka e publicado pela editora Espaço Acadêmico (Goiás), é uma versão modificada e ampliada do mencionado livro “O país e a emigração: o movimento popular contra a emigração dos camponeses para os países da América Latina (até 1939)”, sendo o modelo daquelas obras que se tornam referência obrigatória para os pesquisadores que querem iniciar estudos sobre um tema específico como a presença dos imigrantes poloneses na América Latina. O texto é escrito com base numa ampla fonte documental que varia de documentos oficiais do Brasil, Argentina e Polônia; impressos de ficção, relatos de viagem, memórias, romances, produção científica; documentos pessoais; pesquisa em fontes paroquiais; análise de periódicos de diferentes países, artigos científicos e de divulgação, além de ampla bibliografia contemplando a produção da Polônia, Brasil e Argentina. Estes aspectos fazem com que a obra de Mazurek seja também um inventário para novas fontes sobre a história dos poloneses na América Latina e permite o cruzamento de dados e informações sobre personagens, opiniões, ações, entre outros assuntos relacionados com a imigração polonesa.
Voltado para um público mais amplo, o texto tem fluidez na leitura, acompanhado de muitas informações, com detalhamento e exploração das fontes a fim de descrever com minúcias aquilo que se propõe. O livro todo é marcado por uma exposição detalhada, a partir das fontes, da relação dos intelectuais e Estado poloneses e o processo emigratório.
O autor analisa uma diversidade de documentos (oficiais, da imprensa, romances, relatórios, crônicas, realtos de viagens, etc.) contextualizando sua postura a partir de seus produtores, seu posicionamento político e diante do fenômeno imigratório. Configurando os escritos a partir de diferentes ideologias sobre a questão nacional polonesa, a economia e as relações com os países vizinhos, minorias e países ocupantes. Além disso, leva em conta as visões sobre o Brasil e a América Latina em geral, ponderando estereótipos e análises feitas por intelectuais que estiveram nas áreas de colonização.
O foco principal é analisar como os partidos e movimentos populares, maneira pela qual Mazurek chama às agremiações partidárias ligadas aos camponeses e ao âmbito rural na Polônia durante e depois da ocupação estrangeira2, se posicionaram em relação à emigração polonesa para a América Latina. Segundo o autor, “no presente trabalho, propusemo-nos apresentar a posição do movimento popular organizado, isto é, dos partidos, facções e organizações, diante da ação colonizadora camponesa na América Latina” (2016, p.13), pensando também como os líderes populares atuaram com relação a essa coletividade emigrada, dando importância à voz dos indivíduos, suas opiniões e ações num contexto de relevância da mobilidade do campo europeu para o ultramar. Mazurek escreve a partir do país de saída dos indivíduos, considerando a emigração e a trajetória dos emigrados em outros continentes como parte fundamental da história da própria Polônia.
Uma das novidades da obra é pensar nas categorias de emigração colonizadora e emigração econômica para o caso polonês. A primeira, centrada na criação de colônias (rurais), onde o camponês recebia terras para o cultivo próprio, era o motor da emigração polonesa para a América Latina. Torna-se uma política de Estado, principalmente após a recuperação da independência e o início da utilização da emigração com fins coloniais. A segunda caracteriza o movimento para a América do Norte, podendo ser muitas vezes uma emigração individual e sazonal, focada em trabalhos urbanos ou então para períodos de colheitas no interior da Alemanha ou na produção de café em São Paulo.
Assim sendo, o livro apesar do foco centrado na relação dos partidos populares e a emigração, em virtude da multiplicidade de fontes, extensa bibliografia e temas abarcados, contribui para outros aspectos associados com a presença polonesa na América Latina. Abrange novos dados estatísticos relacionados com a saída dos emigrantes; lideranças importantes que participaram de forma ativa na promoção ou refração da emigração de camponeses; a atuação dos estados ocupantes atinentes às tentativas autonomistas polonesas no século XIX e o próprio processo emigratório; analisa também a ação da II República Polonesa frente ao problema emigratório após a independência do país, durante o período entre guerras, um tema ainda muito pouco estudado na historiografia.
O trabalho se permite ampliar o recorte temporal desde finais do século XIX até meados do XX, perpassando diferentes realidades e contextos, os quais moldaram o mapa e as mentalidades europeias. Ademais, a periodicidade pretende dar conta não apenas do processo de emigração, mas também do estabelecimento da comunidade polonesa na diáspora: seu trabalho, instituições, religiosidade, entre outros aspectos.
É importante notar que todo o livro é dividido no período anterior e posterior à Independência Polonesa em 1918, marco importante por trazer mudanças significativas na atuação de intelectuais e políticos em terras polonesas, bem como em razão das mudanças econômicas durante e após a dominação estrangeira. Leva, portanto, em consideração a pressão exercida pelas nações ocupantes (Império Russo, Alemão e Áustro-Húngaro) desde 1795-1918 sobre o campesinato polonês nas diferentes regiões, cada qual tratada com singularidade em virtude das diferentes políticas agrárias, étnicas e sociais perpetradas por aquelas nações. O segundo período, o entre guerras (1918-1939) ou da II República Polonesa, é notadamente importante, uma vez que, do ponto de vista da emigração, é o menos estudado e sobre o qual o autor aponta novos dados emigratórios: com a presença das chamadas “minorias étnicas” (ucranianos, lituanos e judeus) da Polônia Renascida entre os imigrantes (sendo inclusive o maior grupo emigrante no período), bem como a diminuição do número total daqueles que deixavam o país, seja em virtude de uma melhoria das condições na nação de partida e políticas de impedimento de saída de emigrantes, seja em função da restrição nos países de imigração (como as políticas varguistas no Brasil a partir de 1930) em função da crise mundial.
Com base nestes pressupostos, passamos propriamente a análise das diferentes partes da obra composta de quatro capítulos. O autor no primeiro capítulo discorre sobra a colonização polonesa entre 1869-1939. O objetivo geral é explicar as causas da emigração, os caminhos percorridos, os espaços de estabelecimentos e a história da colonização camponesa dos emigrantes poloneses na América Latina. Evidencia o papel das organizações sociais, educativas, culturais, religiosas, bem como a questão rural; tendo como países de destino principais o Brasil e Argentina, sobre os quais recolheu a maioria dos dados e análises. Nessa parte, o autor contempla as diferentes ondas imigratórias, isto é, as chamadas febres, sobre as quais aponta variados números estatísticos dando um panorama da quantidade do afluxo deste grupo emigratório para o Brasil.
Mazurek recorre à importância do aspecto econômico como causa propulsora da emigração dos camponeses. A tese da passagem de sistemas semi-feudais para o capitalismo e consequentemente do superpovoamento dos campos, da minifundização agrária e, assim, da disputa pela terra na Polônia, a qual relegava miséria e problemas sociais para o camponês polonês, são razões pelas quais o autor sugere o desenvolvimento do fenômeno massivo emigratório.
Após esse exame contextual, Mazurek no segundo capítulo ocupa-se mais centradamente das opiniões dos intelectuais poloneses durante o período de domínio estrangeiro e as políticas emigratórias polonesas no entre guerras. Demonstra as mudanças de concepção referentes a emigração, flutuando de movimentos restritivos por parte de periódicos de Varsóvia (então sob ocupação russa), até grupos preocupados com a organização e o apoio aos emigrantes, como a Sociedade Comercial e Geográfica de Lwów (na Galícia austríaca). Consultando fontes escritas em livros, romances e jornais, permite identificar grupos pró e contra as saídas dos camponeses, com argumentos que variavam desde a necessidade de despressurização do campo, os problemas dos países de imigração e a penúria pela qual passavam os emigrantes, até a eminente perda de elementos que contribuiriam com a nação polonesa, seja econômico seja cultural e socialmente. Portanto, demonstra como havia momentos de inflexão no raciocínio dos intelectuais poloneses, ora preocupados com a situação econômica do país, ora com a situação política e a luta pela independência ou a manutenção dela.
No terceiro capítulo, analisando o período anterior a independência, Mazurek descreve as diferenças entre a Galícia (região ocupada pela Áustria-Hungria), o Reino (região ocupada pela Rússia) e a zona de ocupação prussiana. A primeira com uma garantia de maior liberdade para os poloneses permitia uma atuação ampla de movimentos camponeses e partidos, através de um autogoverno3 e de intelectuais, os quais participavam de eleições, das decisões e emitiam opiniões sobre a saída camponesa em direção a América (tanto do Norte como a Latina). Assim, era destacada no âmbito rural da Galícia a emergência de uma legislação polonesa própria, que problematizava o fenômeno emigratório. Além da ação direta de grupos com objetivos de guiar ou impedir os camponeses de emigrarem como a mencionada Sociedade Comercial e Geográfica. Apesar dessa liberdade de ação, a região era a mais pobre das três partilhas polonesas, onde os processos de desagregação no campo estavam mais avançados e relegavam piores condições de vida aos camponeses, o que em geral conduzia à mobilidade rumo ao Novo Mundo.
No Reino a emigração era ilegal e havia um controle por parte do Império Russo para impedir a evasão dos camponeses poloneses. Através da imprensa, fruto dos movimentos populares poloneses da região, eram emitidas a maior parte das opiniões acerca do movimento emigratório, que apesar da proibição, acontecia em larga escala, especialmente no final do século XIX. A questão da luta pela independência era contribuinte para a repressão estatal russa, uma vez que ao longo do século XIX emergiram movimentos independentistas na região e conflagraram-se conflitos com as autoridades russas.
As organizações populares polonesas, ainda que com menor espaço para ação, existiam e propagavam suas ideias pelos periódicos. Nesse contexto, a emergência de um sentimento de desnacionalização, percebia os emigrantes como uma “perda” para a “nação” e uma característica de esvaziamento da luta pela recuperação da condição independente. Apesar da identificação dos problemas rurais por parte da intelectualidade, em geral, havia uma intenção de impedir a saída dos camponeses poloneses ou então a perspectiva de “mal necessário”, um escape em função da pobreza no campo e da repressão russa.
Na Prússia (depois Alemanha) a questão era diferente das duas anteriores. Existia um projeto estatal de germanização e de enfrentamento da “questão polonesa” como um “perigo” para o Estado, de modo que a repressão e o controle eram muito maiores. Nesse ínterim, a limitação de publicações e do uso da língua polonesa eram mais evidentes e existia o impedimento da conformação de organizações especificamente polonesas, mesmo no campo. Também, a emigração ultramarina era minorada em função de uma migração interna dentro dos diferentes estados alemães para trabalhos sazonais. Ainda assim, o tema da emigração importava mais ainda para a intelectualidade polonesa local, uma vez que como existia uma política alemã da desnacionalização, havia um estímulo por parte do estado germânico para a saída de camponeses poloneses que vendiam suas terras a alemães, garantindo a ocupação do território. Este fato era visto como uma forma de acelerar o processo de germanização da região, e portanto, as produções sobre o fenômeno por parte da intelectualidade polonesa são de movimentos contrários a emigração de camponeses poloneses a fim de evitar o aceleramento da germanização e impedir uma possível retomada do Estado Nacional.
Ao verificar as múltiplas opiniões e discussões promovidas nas regiões partilhadas polonesas, Mazurek explora o fato de a emigração para a América Latina, devido aos números que atingia, ser vista como um “problema” a ser resolvido, devendo ser impedida ou organizada. O fato é que se torna uma questão a ser pensada, refletida, teorizada e resolvida pela intelectualidade polonesa nas regiões ocupadas, buscando-se avaliações e proposições para lidar com o fenômeno existente, que se tornava cada vez mais massivo e vai ser interrompido apenas com a Primeira Guerra Mundial em 1914.
Por último, no capítulo quatro, o autor se concentra no período da Polônia renascida, após o fim da Primeira Guerra e no momento de uma retomada – ainda que numericamente inferior que as décadas anteriores – no fenômeno emigratório até 1939, quando outra guerra termina novamente com a independência polonesa. Com o retorno da existência da nação no mapa europeu, o autor passa a concentrar-se no jogo político-partidário polonês, nas questões legislativas e executivas, os debates levados a cabo pela intelectualidade na Polônia, bem como continua analisando os periódicos pertencentes especificamente aos partidos populares.
Mazurek também destaca a presença de políticas de colonização com ideias imperialistas coordenadas por sociedades particulares com apoio estatal, as quais visavam também a colonização de outras regiões, para além do Brasil e Argentina, como Peru e Bolívia. Um exemplo eram as atividades da Liga Morska i Kolonialna4.
Entre 1918 e 1939, a tensão no campo e os motivos emigratórios continuavam basicamente os mesmos, desenvolvidos por diversas crises econômicas. Neste momento, a questão da reforma agrária passa a ser central para a maioria dos partidos populares e camponeses, sendo a emigração vista como uma consequência da não consecução da remetida reforma. Múltiplos debates legislativos são levados em consideração, ademais da análise dos programas dos diferentes partidos, suas ideologias e o modo como a emigração era descrita por seus membros a partir de temáticas centrais (impedimento, organização, reforma agrária, colonização), que circulavam nos jornais partidários.
O fato é que, com as restrições impostas pelos países de imigração e consequentemente a diminuição do fluxo de poloneses para a América Latina, o assunto também ganha menos destaque na imprensa partidária. A aproximação da guerra e múltiplos conflitos entre diferentes etnias dentro do território polonês, conduzem ao pensamento de utilização do fenômeno emigratório para a “expulsão” das minorias étnicas do território polonês e a criação de colônias ultramarinas ligadas ao estado, com ideias imperialistas afirmados e, dessa forma, a constituição de instituições com o fito de estabelecer colônias polonesas para o florescimento do país, usando, quiçá, às já existentes comunidades do Brasil e Argentina fruto da diáspora das décadas anteriores.
Em suma, para Mazurek,
o capitalismo era o catalisador de lentas transformações sociais, a mais importante das quais era a libertação da mão de obra agrícola do sistema da servidão. Isso, no entanto, provocou o surgimento de uma enorme população sem terra. Essa massa não podia ser absorvida pelo vagaroso desenvolvimento das cidades e da indústria. A fome de terra dos camponeses e a pouca capacidade do mercado para absorver a mão de obra em excesso tornaram-se as causas da emigração da população rural em busca de melhores condições de vida. A inicialmente lenta emigração aos países da Europa Ocidental e à América do Norte transformou-se num movimento colonizador maciço especialmente no Brasil […] muitas vezes definidos como “febre brasileira” (MAZUREK, 2016, p.405).
O livro traz uma boa descrição dos aspectos concernentes a imigração polonesa e sua vinculação com os movimentos populares ligados ao campo. Em virtude da sua apropriação mais ampla, apresenta um trabalho empírico notável usando fontes de múltiplos países e diferentes idiomas. Um esforço de problematização e análise de diferentes realidades num espectro temporal e espacial ampliado, os quais permitem a constituição de uma obra de referência importante para qualquer estudioso do tema, sendo um significativo elemento para a configuração da historiografia sobre os poloneses no Brasil, escrita em português para leitores nativos neste idioma.
Apesar dos números menores que outros grupos migrantes, os poloneses no Brasil se adaptaram ao país de acolhida e participaram da sua vida social, constituindo um grupo étnico, que longe de ser homogêneo, em muitos aspectos preservou suas especificidades ao mesmo tempo em que se assimilou. Pesquisar a história da imigração polonesa é pesquisar a História do Brasil, em que o fenômeno imigratório massivo trouxe alterações à sociedade brasileira e ajudou na sua conformação.
A historiografia sobre os poloneses na América Latina e destacadamente no Brasil vem aos poucos se desenvolvendo. Um maior relacionamento entre pesquisadores dos dois lados do Atlântico e produções que permitam o acesso linguístico aos estudiosos são meios de avançar na construção do conhecimento sobre as migrações, a fim de renovar estes estudos e propor novos problemas e temas de pesquisa a este assunto que apesar de ser muito trabalhado, como objeto gerador de pesquisas, está longe de esgotar-se.
Notas
1 Doutorando em História na Universidade Federal do Paraná. Contato: [email protected]. Resenha recebida em 10 de novembro de 2016.
2 A Polônia sofreu três partilhas no século XVIII entre Áustria (depois Áutro-Hungria), Rússia e Prússia (depois Alemanha): a primeira em 1772, depois 1793 e finalmente 1795 que acaba definitivamente com a independência daquela nação, a qual retornaria apenas após a Primeira Guerra Mundial.
3 Na Galícia, aos poloneses era permitido escolher dirigentes igualmente poloneses em diversos níveis de atuação política, incluindo representantes para o Parlamento em Viena.
4 A Liga Marítima e Colonial era uma das mais importantes organizações que procurava áreas de colonização para os emigrantes poloneses. A Liga almejava através da colonização dominar territórios na América do Sul e África. Os planos de colonização não ultrapassaram o estágio de planos e desmoronaram-se nos fins dos anos trinta.
Referências
DEVOTO, Fernando J. La inmigración de ultramar. In: TORRADO, Susana (comp). Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Buenos Aires: Edhasa, 2007.
MAZUREK, Jerzy. A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 1939). Goiânia: Espaço Acadêmico, 2016.
WEBER, Regina. & WENCZENOVICZ, Thaís J. Historiografia da imigração polonesa: avaliação em perspectiva dos estudos sobre o Rio Grande do Sul. História UNISINOS, vol. 16, p.159-170, 2012.
Rhuan Targino Zaleski Trindade1 – Doutorando em História na Universidade Federal do Paraná. E-mail: [email protected]
MAZUREK, Jerzy. A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 1939). Goiânia: Espaço Acadêmico, 2016. Resenha de: TRINDADE, Rhuan Targino Zaleski. Polska emigracja: revisitando e ampliando o tema da presença polonesa na América Latina. Aedos. Porto Alegre, v.9, n.18, p.297-305, dez., 2016. Acessar publicação original [DR]
Antropologia e Performance: Agir, Atuar, Exibir – GODINHO (AN)
GODINHO, Paula (Coord.). Antropologia e Performance: Agir, Atuar, Exibir. Castro Verde: 100Luz, 2014. Resenha de: KNACK, Eduardo Roberto João. Em diálogo com as Ciências Sociais. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 44, p. 361-369, dez. 2016.
O livro organizado pela Professora Doutora em Antropologia Paula Godinho, da Universidade Nova de Lisboa/Instituto de História Contemporânea, Antropologia e Performance – Agir, Atuar, e Exibir, publicado pela Editora 100Luz em 2014, permite, além de conhecer pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento nas ciências sociais em Portugal (tendo como tema principal a performance), estabelecer um diálogo profícuo, teórico e prático, com a pesquisa em história. Inicialmente, é importante apresentar algumas considerações sobre o conceito performance e os temas desenvolvidos nos capítulos da obra.
Para Godinho, […] a relação entre a ação, a atuação e a encenação são o fulcro desse livro, que trata de performances, de ritos, de jogos e de quem os realiza e realizou, indagando passagens rápidas ou lentas, tempos e espaços de fronteira (GODINHO, 2014, p. 11).
Momentos que devem ser pensados com um rigor crítico que acabou se esvaindo dos estudos sobre esse tema. Eis uma primeira ponte erguida entre história e antropologia. A autora faz questão de contextualizar historicamente os sujeitos e grupos estudados, pois as práticas em foco ocorrem no presente, que “é histórico, resultado de um processo”, ou seja, não é possível estudar a performance, a ação e atuação de indivíduos e/ou grupos sem levar em consideração sua historicidade e como suas práticas vão se (re)significando ao longo do tempo.
As performances são encaradas como uma atuação que requer algum tipo de palco e uma audiência, apresentando uma dimensão espetacular, com “[…] atores e espectadores que se interlegitimam, tendendo a constituir uma forma de escrutinar o mundo quotidiano, visto como tragédia, comédia, melodrama, etc.” (GODINHO, 2014, p. 14). Essas performances estão presentes nos diferentes grupos sociais, entre “dominantes e dominados”. Ao introduzir a noção de “dialética do disfarce e da vigilância”, que permeia a relação de forças entre dois grupos, é utilizada a tipologia dos “discursos públicos”, que vão ao encontro das visões hegemônicas, que capitulam frente a seus interesses e valores, e a performance exerce papel chave na sua legitimação e dos “discursos escondidos” (SCOTT, 2013), que tem certa liberdade de ação, podendo contradizer e até ridicularizar os dominantes.
A partir dessas considerações iniciais, a obra está dividida em três partes. A primeira apresenta alguns textos que buscam delinear uma “antropologia da performance”, com o subtítulo: Antropologia e performance( s): atuar, encenar, exibir. O primeiro capítulo dessa primeira parte do livro, intitulado For years, I have dreamed of a liberated Anthropology, de Teresa Fradique, indaga sobre a definição do conceito de performance a partir de elementos que lhe seriam próprios, como a participação, a ação e o estranhamento, que estão presentes na própria prática, no comportamento do antropólogo. Assim, emerge a defesa de uma etnografia como experiência subjetiva sem que isso venha a solapar a antropologia enquanto área das ciências sociais e humanas. Embora essas considerações resultem de uma reflexão sobre a prática de uma área vizinha, a questão da subjetividade na pesquisa em história é importante, envolvendo o papel das instituições que legitimam a própria prática, o fazer da história e a dinâmica acadêmica, a partir do estímulo à apresentação dessas pesquisas aos pares, o que envolve performance (apresentação) e audiência.
O próximo capítulo da primeira parte é A dimensão reflexiva do corpo em ação: contributos da antropologia para o estudo da dança teatral, de Mario José Fazenda. Além de empreender uma revisão da literatura de autores que trabalharam com o seu objeto, busca observar a dança teatral em uma perspectiva histórica, entendida como uma ação social, simbólica enquanto sistema de significações dos seres humanos que não é mero reflexo da cultura, mas uma prática cultural construída pelos corpos em movimento. O capítulo A política do jogo dramático: marginalidade descentrada como resistência criativa (estudo de um grupo de teatro universitário), de Ricardo Seiça Salgado, se debruça sobre a história de um grupo teatral, o CITAC (Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra), para pensar o conceito de “jogo dramático” como propulsor de mudanças na arte e na sociedade.
No capítulo Práticas artísticas contemporâneas: imaginação e exibição da nação, Sónia Vespeira de Almeida relaciona os conceitos de prática artística e performance, associados a maneiras de fazer e à criatividade cultural dos grupos sociais. Sua análise volta-se para uma exposição realizada em um museu e no trabalho de dois artistas de gerações diferentes, concluindo que as práticas de arte, enquanto modos de comunicação, articulam a capacidade de significar, construir e exibir a subjetividade dos sujeitos. No último texto da primeira parte, Metateatro da morte: as encomendadoras das almas numa aldeia da Beira Baixa, Pedro Antunes e João Edral centram sua análise em um ritual de culto dos mortos realizado durante a quaresma em aldeias de Portugal, onde segundo os autores, as práticas e discursos de uma religiosidade popular são indissociáveis de ações performativas e políticas.
A segunda parte do livro, O lugar do político: memória, ação e drama social, inicia com o capítulo Os ataques anticlericais na I República (1910-1917): historiografia, violência e performance, de Diogo Duarte, que estuda as ações que envolveram a danificação, destruição ou mesmo uso profano de objetos religiosos em um contexto de transformação nas relações entre Estado e Igreja em Portugal. Processo que tem início com o governo do Marquês de Pombal, mas atinge seu auge na implantação da República a 5 de outubro de 1910. Seu olhar recaí sobre a performance desses atos como reveladora de intenções políticas e/ou provocadoras, e não apenas servindo a interesses superiores, muitas vezes alheios aos sujeitos que os praticaram. Em A performance do viver clandestino, segundo texto dessa parte do livro, Cristina Nogueira observa, durante o fascismo português, uma cultura política da clandestinidade comunista, com diferentes regras a serem cumpridas que alteravam o comportamento dos sujeitos, obrigando-os a assumir uma nova forma de ser, através da criação de um papel a ser representado, o que envolve viver em uma permanente performance.
Paula Godinho escreve o capítulo A violência do olvido e os usos políticos do passado: lugares de memória, tempo liminar e drama social, no qual realiza um estudo sobre três momentos onde o passado é evocado a partir da construção de placas comemorativas, rompendo silêncios e omissões por parte de grupos dominantes, como aquele em que uma placa foi colocada, em 1996, em uma aldeia de Cambedo da Raia, zona fronteiriça que sofreu com a repressão por ter abrigado fugitivos do franquismo; em 2012 um monumento foi erguido em Ourense, para lembrar as vítimas portuguesas do franquismo na Galiza; e, ainda em 2012, o descerramento de uma placa de homenagem a trabalhadores portugueses que construíram a estrada de ferro Zamora e Ourense. Ao observar essas cerimônias, conclui a autora que existe a necessidade de rememorar, comemorar, para ultrapassar o trauma deixado pelas feridas da repressão de regimes autoritários nas localidades analisadas.
Elsa Peralta também se dedica à análise de monumentos com o capítulo O Monumento aos Combatentes: a Performance do Fim do Império no Espaço Sagrado da Nação. Partindo da ideia de que cemitérios e cultos dos mortos constituem representações simbólicas da ordem social dos grupos envolvidos, Peralta pesquisa o Monumento aos Combatentes do Ultramar nas guerras coloniais em que o regime português se envolveu entre 1961 e 1975. Tal monumento teria sido erguido em nome da normalização da ordem social partindo de uma associação própria dos combatentes e de seu ressentimento, ao observar a opinião pública oscilar entre posições contrárias e a favor das guerras e de suas ações nesse contexto. O último capítulo da segunda parte, Teatro de amadores em Almada: performance e espoir em tempo de Revolução, de Dulce Simões, observa um grupo de teatro amador, o TACA (Teatro de Animação Cultural de Almada), formado por estudantes das escolas técnicas de Almada entre 1974-1976. A autora conclui que as companhias teatrais, nesse momento, aparecem como uma força representativa de opções políticos-ideológicas diferentes que emergiram com uma descentralização do teatro promovido pelo processo revolucionário.
Fazer teatro era participar das transformações sociais e políticas significativas que estavam em curso em Portugal, e a performance desses sujeitos produziam significados que circulavam com força na sociedade.
A terceira e última parte do livro, Homo Performans: entre ação e atuação, começa com o texto de Sónia Ferreira, “Magazine Contacto”: Media e Performance na Construção da Identidade Nacional, onde a autora analisa um programa televisivo sobre comunidades portuguesas na diáspora enquanto prática performativa.
O capítulo de Nuno Domingos, Boxe e Performance: Lisboa, anos quarenta, busca interpretar o jogo, o boxe em particular, enquanto performance histórica, percebendo as atividades desportivas como espaços de intenção normativos, em constante disputa e negociação pela própria linguagem performativa que legitima modos de agir no cotidiano. Xerardo Pereiro e Cebaldo León escrevem o capítulo Turismo e performances culturais: uma visão antropológica do turismo indígena onde observam como o turismo indígena guna do Panamá recria espaços sociais e culturais através de práticas performativas, buscando analisar todos os envolvidos nesse turismo controlado, desde os gestores, até os serviços oferecidos aos sujeitos que desempenham, recriam performances ritualísticas para os turistas.
Maria Alice Samara, no capítulo Outras cidades: as cooperativas e a resistência cultura no final do Estado Novo, busca identificar modos de vida alternativos e sociabilidades comunitárias de grupos que lutavam contra o regime ditatorial, assim analisa algumas cooperativas culturais na grande Lisboa como a Pragma (Cooperativa de Difusão Cultural de Acção Comunitária) criada em 1964, a Devir Expansão do Livro, de 1969 e a Livrelco, do início de 1960.
O último capítulo, Vidas e performances no lúdico de Ana Piedade, apresenta suas considerações a partir de um trabalho realizado ao longo de vários anos na localidade de Lavradio, em Portugal. A autora reflete sobre o papel da memória na reprodução do gesto lúdico e como o lúdico (entendendo o jogo como prática ritual, como performance) se constitui como memória, “culturalizando” tempos e espaços vividos na infância.
A obra demonstra com clareza que as performances não são apenas simples reflexos ou mesmo expressões de uma cultura, mas são elas mesmas agentes ativos de mudanças (TURNER, 1988, p.
24). A referência a Turner não é mero acaso, pois se trata de um dos autores citados com recorrência nos diferentes capítulos descritos acima. Juntamente com Schechner (2003), baliza as fundamentações sobre o principal conceito/tema tratado – performance. Para Schechner: The phenomena called either/all ‘drama’, ‘theater’, ‘performance’ occur among all the world’s peoples and date back as far as historians, archeologists, and anthropologists can go (SCHECHNER, 2003, p. 66).
Em síntese, fazem parte da existência humana. Soma-se a esta contribuição de caráter geral e legitimador do estudo da performance as noções de “Drama”, “Script”, “Theater” e “Perfomance” (SCHECHNER, 2003, p. 71).
Drama pode ser entendido como o domínio dos autores de uma prática/produção, o srcipt como domínio daqueles que ensinam, theater aparece como a atuação daqueles que desempenham as performances, e a performance adentra no domínio da audiência. É claro que um indivíduo pode realizar mais de uma dessas funções, mas essas definições permitem, metodologicamente, observar todo o trabalho realizado em torno de uma performance em diferentes grupos e cenários culturais, como bem demonstram os temas abordados no decorrer do livro. As próprias danças e demais atividades teatrais, as práticas artísticas levadas a cabo por grupos que visam construir/legitimar identidades nacionais, rituais populares, as encenações que envolvem inaugurações de monumentos, a movimentação dos corpos, práticas esportivas, enfim, uma variedade de atividades desempenhadas em público podem ser pensadas, analisadas a partir das contribuições de Schechner.
Turner (1988, p. 25) contribui com a autonomização da noção de “liminality”, que caracteriza a fronteira de um ritual, de uma performance, “[…] entre um antes (de que nos desfazemos, purificando- nos) e um depois, em que nos reagregamos” (GODINHO, 2014, p. 12). A liminaridade constitui, portanto, uma espécie de ápice das práticas performativas, permitindo observar como elas mudam os sujeitos e/ou grupos que participam, seja como atores ou como audiência. Outro autor que está presente nas discussões no transcorrer da obra é James C. Scott (2013) e a formulação dos conceitos “discurso público” e “discurso oculto”. Os discursos públicos designam “[…] as relações explícitas entre os subordinados e os detentores do poder”, e o discurso oculto é aquele que ocorre nos bastidores, “[…] fora do campo de observação directa dos detentores do poder” (SCOTT, 2013, p. 28, p. 31).
Dentre os diálogos possíveis com a história que a obra Antropologia e Performance pode trazer, sua aproximação fundamental está na própria base da pesquisa. A crítica das fontes, dos documentos produzidos por sujeitos e grupos no passado, pode ser concebida, em muitos casos, como uma prática performativa, as próprias fontes, muitas vezes, são produzidas em virtude de práticas culturais, ritualísticas e performáticas. A sociedade política é permeada de ritualizações que envolvem produções documentais. A imprensa, seja escrita, falada ou televisionada, também é marcada por essa dimensão performativa. Assim, levar em consideração as diversas performances envolvidas na produção de documentos analisados pelos historiadores pode revelar traços importantes dos modos de ser, agir e pensar de determinados grupos. A própria performance é carregada de uma historicidade particular, o que abre outro diálogo possível com a antropologia.
Pesquisar a historicidade das práticas performativas pode revelar mudanças profundas não apenas nos rituais, festividades, jogos, etc., mas transformações importantes pelas quais as sociedades passaram, alterando, ou estruturando, o cotidiano vivido dos indivíduos. Também é importante pensar nas relações de poder que envolvem as performances, pois se há um “drama”, um “script”, agentes que organizam, desempenham e muitas vezes se apropriam dessas práticas, há uma audiência, que não permanece imobilizada, mas também se envolve, e em certas ocasiões passando à condição de organizadores, em um processo dinâmico de (re)construção das práticas performáticas. A noção de discurso público e discurso oculto também abre portas para os historiadores, que devem buscar mais do que a produção de uma massa documental e de um investimento material e simbólico em representações de grupos que figuram como elites em determinado contexto. Mas há, mesmo entre as elites, discursos ocultos que ocorrem fora do palco (o mesmo ocorre com os grupos subalternos) que podem ser percebidos ao se aproximar o olhar para as performances, especialmente em seus momentos liminares. Dessa forma, a leitura da obra proporciona um diálogo profícuo entre historiadores, antropólogos e demais pesquisadores das ciências sociais, abrindo horizontes e possibilidades de estudos interdisciplinares.
Referências
GODINHO, Paula (Coord.). Antropologia e Performance: Agir, Atuar, Exibir. Castro Verde: 100Luz, 2014.
SCHECHNER, Richard. Performance Theory. London: Routledge, 2003.
SCOTT, James C. A dominação e arte da resistência: Discursos Ocultos. Lisboa: Letra Livre, 2013.
TURNER, Victor. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1988.
Eduardo Roberto Jordão Knack – Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Pós-Doutorando na Universidade Federal de Pelotas – UFPel.
Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória – HUYSSEN (AN)
HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Trad. Vera Ribeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2014. Resenha de: MACHADO, Diego Finder. Imaginar o futuro em um mundo globalizante: paisagens transnacionais dos discursos do modernismo e das políticas da memória. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 44, p. 371-379, dez. 2016.
Como imaginar futuros em um mundo cada vez menos confiante em relação às promessas de progresso de uma época anterior? As sociedades contemporâneas do Ocidente, em contraste com outras sociedades, têm manifestado um renovado interesse pelo passado e pelos seus vestígios. Frente ao que podemos considerar uma “crise de futuro”, o presente vem ocupando uma posição dominante em nossas experiências de tempo. Contudo, trata-se de um presente que procura, insistentemente, enraizar-se em um passado apropriado às suas ansiedades, em uma tentativa de barrar a efemeridade dos nossos dias. Neste contexto, ainda é possível imaginar futuros alternativos que não sejam apenas o futuro da memória?
O crítico literário alemão Andreas Huyssen, em seu último livro traduzido para o português, a coletânea de ensaios intitulada Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória, aproxima duas temáticas centrais em suas pesquisas: as consequências do modernismo na obra de alguns artistas contemporâneos e as políticas da memória, do esquecimento e dos direitos humanos. Estabelecendo trânsitos pelas fronteiras que demarcam essas temáticas, a afinidade entre os diferentes capítulos do livro é construída em torno da problematização da memória em contextos transnacionais. Para o autor: A afirmação mais geral deste livro é que tanto o discurso do modernismo quanto a política da memória se globalizaram, mas sem criar um modernismo global único ou uma cultura global da memória e dos direitos humanos (HUYSSEN, 2014, p. 12-13).
Para além das experiências históricas da Alemanha e dos Estados Unidos, que lhes são mais familiares, buscou interpretar conexões transnacionais que ultrapassam as geografias do Atlântico Norte, aproximando-se de geografias alternativas das paisagens de memórias traumáticas e de experimentações estéticas modernistas na América Latina, Ásia e África.
Diante da evidência contemporânea de um declínio do debate sobre o “pós-modernismo”, o autor chama atenção para o retorno dos discursos sobre a modernidade e o modernismo na arquitetura e nos estudos urbanos, assim como na literatura, nas artes plásticas, na música, nos estudos midiáticos, na antropologia e nos estudos pós-coloniais. Para ele, aquele debate foi “uma tentativa norte-americana de reivindicar a liderança cultural”, a partir dos anos de 1920, por isso marcado por um “provincianismo geográfico” (HUYSSEN, 2014, p. 11).
A primeira parte da obra é dedicada a interpretar geografias alternativas do modernismo em um mundo globalizante, colocando em discussão as maneiras como a cultura metropolitana de um modernismo clássico foi traduzida e apropriada criativamente em países colonizados e pós-coloniais na Ásia, África e América Latina, antes e após a Segunda Guerra Mundial. Um diálogo crítico com alguns artistas e seus experimentos estéticos é tramado: o argentino Guillermo Kuitca e seus experimentos cartográficos como um pintor do espaço; o sul-africano William Ketridge e a indiana Nalini Malani e os seus teatros de sombras como arte memorial; o vietnamita Pipo Nguyem-duy e sua série de fotografias de ruínas ecológicas da modernidade; e a colombiana Doris Salcedo com sua instalação artística que convida à reflexão sobre as continuidades entre colonialismo, racismo e imigração. Não deixa de lado outros artistas de diferentes nacionalidades, fazendo-nos compreender que a geografia do debate deve focar como o modernismo, nas artes visuais, é reiterado e reinterpretado.
Inspirado no antropólogo indiano Arjun Appadurai (2004), Huyssen procura analisar como a modernidade e o modernismo foram disseminados por fluxos culturais complexos que aproximaram as ideias de local e global em constante negociação. Para ele, é preciso escapar da crença inocente em uma cultura local autêntica que deveria ser preservada dos encantos homogeneizantes da globalização.
Como afirma, “[…] o binário global-local é tão homogeneizante quanto a suposta homogeneização cultural do global à qual se opõe” (HUYSSEN, 2014, p. 23). Esse olhar dualista, atado ao local, impede a compreensão transnacional das práticas culturais e o reconhecimento dos fluxos desiguais de traduções, transmissões e apropriações locais de um “modernismo sem entraves”.
Outra questão apontada é a necessidade de retomar, sob novos ângulos, o modelo superior e inferior pelo qual o espaço cultural do início do século XX foi hierarquicamente clivado entre cultura de elite e cultura de massa. Segundo o autor, este modelo, prematuramente descartado nos estudos norte-americanos sobre o pós- modernismo, ainda pode servir como paradigma para analisar modernismos alternativos e culturas globalizantes que assumiram formas distintas em diferentes momentos históricos. A reinscrição desta problemática nas discussões da modernidade cultural em contextos transnacionais pode estimular novos tipos de comparação que vão além das dicotomias clichês – tais como global versus local, colonial versus pós-colonial, moderno versus pós-moderno ou centro versus periferia –, recolocando em debate hierarquias e estratificações sociais que atravessam as culturas de acordo com as circunstâncias e as histórias locais. Além disto, repensar a relação superior-inferior hoje nos remete aos debates sobre os novos vínculos entre estética e política, bem como entre experiência e história.
A segunda parte do livro é dedicada à problematização das políticas de memória, de esquecimento e de direitos humanos na contemporaneidade, retomando, sob novos matizes, questões já apresentadas ao público brasileiro em Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia (HUYSSEN, 2000). Antes, como um entremeio que estabelece conexões entre modernismos e culturas de memória, Huyssen lança um debate instigante que se desloca entre a nostalgia contemporâneas das ruínas e as memórias traumáticas dos escombros da modernidade. Esta diferenciação entre ruína e escombro, que faz eco aos escritos do filósofo alemão Walter Benjamin (2012), nos convida a pensar sobre às diferentes maneiras como, em um presente globalizado, olhamos para a decadência dos vestígios do passado. Por um lado, há um olhar nostálgico que se aproxima do encantamento pitoresco dos românticos pelas ruínas, uma utopia às avessas que demonstra a saudade de um outro lugar localizado no passado. Segundo o autor, “[…] essa obsessão contemporânea pelas ruínas esconde a saudade de uma era anterior, que ainda não havia perdido o poder de imaginar outros futuros” (HUYSSEN, 2014, p. 91). Por outro, a nossa contemporaneidade se depara cotidianamente com os escombros de uma modernidade cruel, marcada por atrocidades que soterraram os futuros sonhados pelos vencidos da história. Como lembra, os bombardeios nunca pretenderam produzir ruínas, mas escombros. Porém, em uma época seduzida pelo passado, tais escombros, muitas vezes, acabam estetizados enquanto ruínas, alimentando um mercado da memória como entretenimento que banaliza e envolve em sentimentos nostálgicos as marcas presentes de um passado traumático. Este imaginário das ruínas é, como destaca o autor: Central para qualquer teoria da modernidade que queira ser mais que o triunfalismo do progresso e da democratização, ou a saudade de um poder passado de grandiosidade (HUYSSEN, 2014, p. 99).
Para além de um otimismo cego, podemos nos defrontar com o lado obscuro e destrutivo da modernidade visível nas ruínas, os desastres do passado que continuam a assombrar a nossa imaginação.
Estabelecendo um diálogo crítico com os estudos consagrados sobre a memória, especialmente com a obra dos franceses Maurice Halbwachs (2006) e Pierre Nora (1993), Huyssen destaca que tais estudos inseriram a memória primordialmente em contextos nacionais, bem como procuraram demarcar uma fronteira que colocava em lados opostos a história e a memória. Atualmente, o divisor história/ memória tem sido superado, reconhecendo a interdependência entre as maneiras de narrar o passado. Além do mais, tais estudos se mostram insuficientes em um momento no qual os discursos sobre a memória e a análise das histórias traumáticas tornaram-se transnacionais.
É preciso, segundo o autor, abandonar o conceito de memória coletiva, tal como uma memória mais ou menos estável de um grupo ou uma nação como ideal, em busca de memórias conflituosas. Para ele, “[…] a memória é sempre o passado presente, o passado comemorado e produzido no presente, que inclui, de forma invariável, pontos cegos e de evasão” (HUYSSEN, 2014, p. 181). A memória “nunca é neutra” e “[…] está sempre sujeita a interesses e usos funcionais específicos” (HUYSSEN, 2014, p. 181). Neste sentido, para além do conflito entre memórias coletivas e memórias individuais, ou entre memória e historiografia, seria importante analisar “[…] os conflitos entre campos de memórias rivais que tentam eliminar ou, pelo menos bloquear um ao outro” (HUYSSEN, 2014, p. 182).
Esta virada teórica e metodológica faria com que atentássemos às batalhas entre passados, travadas não apenas em contextos nacionais, como também em contextos transnacionais. Portanto, pensar em políticas da memória em um mundo globalizante está para além da circunscrição do que seria uma “memória cosmopolita”. É preciso compreender as assimetrias e competições travadas nas trajetórias transnacionais da memória.
Em um mundo obcecado pela memória, o esquecimento, o duplo inevitável da memória, é malvisto, considerado uma falha ou uma deficiência que deveríamos combater. Mesmo em excesso, a memória é positivada, visto ser considerada fundamental para a coesão social e como alicerce para identidades. Neste contexto, pouco se refletiu a respeito da importância de uma política do esquecimento que, para além do “dever da memória”, pusesse em pauta uma ética do esquecimento.
Em diálogo com o pensamento do filósofo francês Paul Ricoeur (2007), Huyssen busca interpretar situações em que uma política de esquecimento foi importante na construção de um discurso politicamente desejável e de uma esfera pública democrática: o esquecimento das mortes causadas pela guerrilha urbana na Argentina em prol de um consenso nacional em torno da figura vitimada do desaparecido e o esquecimento dos bombardeios de cidades alemãs durante a Segunda Guerra Mundial para o pleno reconhecimento do horror do Holocausto. Em ambos os exemplos, uma forma de esquecimento foi necessária para atender reivindicações culturais, jurídicas e simbólicas em consonância com as políticas nacionais de memória.
Ao propor a discussão sobre uma ética do esquecimento público, o autor se aventura em um tema difícil que, sem dúvida, consiste no ponto mais audacioso e inovador da obra. No entanto, apesar de insistir no caráter residual de como o tema aparece nos escritos de autores que, como Paul Ricoeur, privilegiaram o estudo da memória, não deixa muito clara uma proposta original para refletir sobre o que considera um “esquecimento voluntário”, um tipo de esquecimento que exigiria esforço e trabalho. Mesmo ao complexificar a questão, situando as estratégias de esquecimento num campo de termos e fenômenos tais como “[…] silêncio, desarticulação, evasão, apagamento, desgaste, repressão” (HUYSSEN, 2014, p. 158), acaba não esclarecendo as diferenças entre estas estratégias.
Afinal, é possível dizer que algo silenciado ou reprimido foi de fato esquecido? Talvez, uma atenção maior às sutilezas de cada um destes termos poderia nos mostrar níveis intermediários entre a memória e o esquecimento, tal como já há alguns anos propôs Michael Pollak (1989) ao problematizar o silêncio não como uma forma de esquecimento, mas como uma “memória subterrânea” que, em disputas de memórias, resiste aos excessos das memórias oficiais.
A emergência à esfera pública de memórias traumáticas em busca pela reparação de injustiças cometidas no passado, coloca em questão as aproximações entre as políticas de memória e as políticas de direitos humanos. Na contemporaneidade, há uma sobredeterminação entre estes discursos. Contudo, como destaca o autor, não é raro que os debates sobre os direitos humanos permaneçam separados dos debates sobre a memória, sendo o discurso da memória dominante nas humanidades e o discurso dos direitos humanos nas ciências sociais. Se faz necessária a ligação dos estudos da memória aos direitos e à justiça, não somente em termos teóricos e discursivos, mas também em termos práticos. Por um lado, as políticas de memória precisam de uma dimensão normativa jurídica, que lhe dê sustentação na reivindicação de direitos de indivíduos e grupos. Por outro, os discursos sobre os direitos humanos, alimentados pelas memórias de violações de direitos, deixariam de pautar-se apenas em princípios abstratos, levando em consideração os contextos históricos, políticos e culturais. Entretanto, como afirma o autor, tal aproximação não é isenta de riscos, pois “[…] tanto o discurso dos direitos quanto o da memória são alvos fáceis de abuso, como véu político para encobrir interesses particulares” (HUYSSEN, 2014, p. 201).
Um campo onde as aproximações entre direitos humanos e memórias têm emergido de maneira mais intensa é o campo das reivindicações pelos direitos culturais de populações indígenas ou descendentes de escravizados na América Latina, no Canadá e na Austrália, bem como os direitos civis e sociais nas novas formas de imigração e diáspora. Essa dimensão dos direitos humanos: Reivindica os direitos de grupos culturais dentro de nações soberanas, mas entra em conflito com a ideia tradicional dos direitos humanos como direitos dos indivíduos, e também com um entendimento homogêneo da nacionalidade (HUYSSEN, 2014, p. 206).
O movimento pelos direitos culturais, movimento que desestabiliza as ideias de identidade nacional, tem dado ênfase na diversidade cultural em um mundo cada vez mais interligado, aderindo, fundamentalmente, à política de identidade grupal. Neste debate, as ideias de global e local entram em conflito, em reações contra a globalização e a temível possibilidade de uma homogeneização cultural. Novamente o autor traz à tona uma crítica a concepções que imaginam uma suposta autenticidade intocada das culturas locais, o que gera conflitos quando grupos culturais diferentes entram em contato. Para além de uma compensação identitária, “[…] os direitos culturais devem preservar a prerrogativa de que o indivíduo nascido numa dada cultura possa deixá-la e escolher outra” (HUYSSEN, 2014, p. 209).
Embora não circunscrita no interior dos limites do campo da História, a obra de Andreas Huyssen tem sido fundamental para pensar a prática historiadora, especialmente em relação à História do Tempo Presente. As análises elaboradas pelo autor nos convidam a pensar, a partir da problematização das políticas da memória e dos modernismos em um mundo globalizante, as imbricações entre temporalidades e espacialidades no presente vivido. Como um crítico da cultura, este autor propõe uma reflexão sobre as maneiras como no presente se articulam passado e futuro, global e local, alertando para a importância da imaginação de futuros alternativos. Não se trata da nostalgia de uma crença inocente nas promessas de progresso atualmente desacreditadas, mas uma incitação a pensarmos sobre as maneiras como futuros possíveis, desamarrados de um peso asfixiante do passado, foram e continuam sendo imaginados.
A experiência histórica brasileira, embora brevemente mencionada em alguns dos seus ensaios, praticamente está ausente da cartografia de geografias alternativas analisada e interpretada pelo autor. O Brasil, ao contrário da Argentina, não é, nesta obra, um território privilegiado na compreensão das políticas de memória e dos modernismos na América Latina. Apesar disso, a historiografia brasileira da última década tem se valido de conceitos e teorias mobilizadas pelo autor em seus trabalhos, especialmente a noção de “cultura da memória”. Em diálogo com autores do campo da História, como Reinhart Koselleck (2006) e François Hartog (2013), a obra de Andreas Huyssen tem sido apropriada pelos historiadores interessados em pensar o tempo não apenas como um instrumento taxionômico, pelo qual os acontecimentos de um passado são medidos e circunscritos, mas o tempo como algo vivido e experimentado em sociedade. Na atualidade de nosso país, experiências diversas de tempo são friccionadas, colocando lado a lado, por exemplo, os traumas do período da nossa ditatura civil-militar e as lutas pelo reconhecimento de direitos culturais negados a minorias.
Neste sentido, a leitura de Culturas do passado-presente pode ser um interessante convite a novos olhares para a nossa própria história, a um olhar crítico para um tempo presente demasiadamente encantado pelo passado e temeroso por um porvir que se mostra pouco promissor.
Referências
APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalização: a modernidade sem peias. Lisboa: Teorema, 2004.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 8. ed. revista. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras escolhidas v. 1).
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
HARTOG, François. Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2014. (Coleção ArteFíssil).
Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007.
Diego Finder Machado – Doutorando em História na História da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Representações Literárias Coloniais de Angola, dos Angolanos e das Suas Culturas (1924-1939) – PINTO (AN)
PINTO, Alberto Oliveira. Representações Literárias Coloniais de Angola, dos Angolanos e das Suas Culturas (1924-1939). Lisboa: Fundação para a Ciência e Tecnologia; Fundação Calouste Gulbenkian, 2013. Resenha de: LIBERATO, Ermelinda. A Construção do “Outro”. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 44, p. 355-360, dez. 2016
Nesta obra, que resulta de um trabalho complexo de investigação, Alberto Oliveira Pinto desenvolve um tema peculiar e sensível, expondo inúmeras referências e acontecimentos que reforçam toda a sua investigação. O autor dispõe-se a analisar as Representações Literárias Coloniais de Angola, dos Angolanos e das suas Culturas, no período compreendido entre 1924 e 1939, recorrendo a um extenso e consistente trabalho de pesquisa em arquivos históricos (legislação, arquivo colonial), bem como à análise de obras literárias editadas no período em questão e que passaram pelo concurso de literatura colonial1.
O exame extremamente cuidadoso e bem fundamentado, não somente do período em análise (1924-1939) como também mais alargado – período de intensificação da política colonial portuguesa (criação do 3ª Império), o mapa cor-de-rosa, a Conferência de Berlim, a implantação da República Portuguesa em 1910 e a instabilidade política e económica que se viveu posteriormente, levando assim ao golpe de estado e à instalação da ditadura militar em 1926 e mais tarde, à instauração do Estado Novo – leva-nos a considerar como obra essencial e um útil instrumento não só para académicos, investigadores, professores, estudantes, como para o público em geral, quer em Angola e em Portugal, quer nos restantes países lusófonos, em particular aqueles que se localizam no continente africano.
A obra encontra-se dividida em quatro partes, cada uma delas dividida em 2 capítulos, perfazendo no total 8 capítulos. Na primeira parte – Representações do “Outro” – o autor disserta sobre os conceitos de cultura, identidade e memória, conceitos-chave para se perceber a “produção do outro” (PINTO, 2013, p. 69), ou seja, os pilares em que assentaram a política colonial portuguesa para os territórios africanos, no caso concreto, Angola. O autor estabelece assim a relação entre cultura e antropologia, cultura e nacionalismo e cultura e colonialismo, em torno do qual se desenrolará toda a sua investigação. Estes conceitos, utilizados para descrever e justificar a exploração do outro constituem a base em que assentou a política colonial portuguesa para os territórios africanos. A exploração do homem africano, o trabalho forçado (com destaque para o Código do Trabalho de 1928), as teorias do darwinismo social defendidas a partir da segunda metade do século XIX e que encontrou o seu expoente máximo em Oliveira Martins, a ascensão de António de Oliveira Salazar e a publicação do Ato Colonial em 1930, são apenas alguns exemplos.
A segunda parte – Angola na escrita e na memória colonial portuguesa: a emergência do território e dos homens angolanos – é dedicada à apresentação de Angola, ou seja, a “outra” parte da história. Para o efeito, e para melhor compreensão, o autor faz uma breve referência aos reinos aí existentes e que deram origem ao nome Angola, a definição das suas fronteiras bem como o percurso de passagem do “reino de Angola” a “Angola colonial” (p. 161) e posteriormente “província de Angola” (PINTO, 2013, p. 172). De seguida o autor disserta sobre as categorias socio-raciais em que assentou a política colonial e que levaram à criação do “outro”, nomeadamente indígenas (os africanos), assimilados, destribalizados, mestiços, cafrealizados, cafuzo, cabrito (PINTO, 2013, p. 193-241), conceitos imprescindíveis para compreensão da sociedade angolana atual.
Na parte III – A Literatura Colonial Portuguesa: Angola e os Angolanos na Década de 1920 e as Memórias Silenciadas – o autor estabelece a relação entre a história, sua área de especialidade, e a literatura, justificado a sua opção de trabalho e reforçando deste modo a importância da interdisciplinaridade quando se trata de produzir conhecimento, no caso presente, a “[…] literatura como modo de produção de história ou veículo de historiografia” (PINTO, 2013, p. 257). Ainda nesta terceira parte, o autor analisa duas dessas obras publicadas antes da aprovação do Ato Colonial (1930), instrumento legislativo que de certa forma serve como demarcação entre dois períodos distintos da política colonial portuguesa, nomeadamente, Ana a Kalunga. Os Filhos do Mar, de Hipólito Raposo (1926) e, A Velha Magra da Ilha de Luanda: Cenas da Vida Colonial, de Emílio de San Bruno (1929). Nestas obras, o território é descrito como se se tratasse de uma atração exótica, que é preciso desbravar, a colonização é romanceada como “missão civilizadora” que só a raça superior (branca) tem capacidade para empreender e o africano é descrito como negro, animal que deve ser domesticado. A literatura colonial funciona como mais um instrumento de propaganda colonial.
As Imagens Fabricadas dos Angolanos ou a Retórica da “Diferença Negativa” depois do Acto Colonial de 1930, constitui o ponto fulcral de análise da parte IV, onde o autor, como o próprio título indica, analisa obras publicadas depois da aprovação do Ato Colonial (1930). Alberto Oliveira Pinto inicia essa quarta parte com a apresentação de Henrique Galvão, eminente figura portuguesa da época, analisando, para o efeito, uma obra publicada antes de 1930, nomeadamente, Em Terras de Pretos. Crónicas de Angola, e duas obras publicadas depois dessa data: O Velo D’Oiro e O Sol dos Trópicos. De seguida, analisa outras duas obras literárias de dois autores distintos e pouco conhecidos pelo público em geral, nomeadamente, Conquista do Sertão, de Guilherme de Ayala Monteiro e Princesa Negra, de Luís Figueira. Em cada uma das obras analisadas, o autor procura essencialmente mostrar como “[…] são vistos os africanos, concretamente os angolanos, na literatura colonial portuguesa que se segue ao Ato Colonial” (PINTO, 2013, p. 447). Na análise de cada uma das obras subjaz essencialmente a “[…] pura linha darwinista, o branco (que) é uma raça que evolui e o negro (que) é uma raça estagnada” (PINTO, 2013, p. 431), daí ser caraterizado como selvagem, primitivo, polígamo, alcoólatra, animal, bicho, preguiçoso, tribalista, supersticioso, cupido, preto, entre outras.
As mais de 600 páginas que constituem a obra levam-nos assim a uma viagem pela história de dois países, um colonizador e outro colonizado, ultrapassando mesmo essa fronteira pois, apesar de abordar em particular a construção de uma cultura ou identidade angolana na sua relação com Portugal, ela pode ser ferramenta de trabalho para moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, são- tomenses e mesmo brasileiros pois descortina uma época histórica para Portugal e que se liga às ex-colônias. Para o caso concreto do Brasil importa sobretudo compreender o período pós-independência daquele país e a sua relação com Angola e Portugal. A excelente descrição dos conceitos rácicos como mestiço (filho de mãe preta e pai branco), indígenas, assimilados, cafuzos, cabritos, entre outros, ajudam-nos a entender ainda no presente, a sociedade angolana uma vez que a sua base socioeconómica continua assente no legado português. A obra conta ainda com um anexo rico em documentação história, bem como uma extensa listagem bibliográfica organizada e que pode servir de ponto de partida para os novos “aventureiros”.
Não obstante, há dois aspetos que merecem um comentário adicional. Em primeiro lugar, esperar-se-ia que o autor desenvolvesse mais este período histórico, que debatesse mais esse conceito de “angolanos e suas culturas”, isto é, quem eram os angolanos na altura, de que cultura estamos a falar e de que forma isso influi na realidade atual do que é ser angolano e da cultura angolana, aspeto que sem dúvida justificaria uma discussão mais aprofundada porque a obra, pela temática analisada e sobretudo pela metodologia de análise, interessa, obviamente, a um público muito mais vasto do que a academia, sobretudo os luso-angolanos. Ao invés disso, disserta sobre conceitos embora importantes e apenas analisados de forma superficial, não são essenciais para compreensão do estudo, como por exemplo: o espaço greco-romano, o Islão, o etnocentrismo, as referências às Mil e Uma Noites e a Thomas More e a sua Utopia.
Concordamos que enriquece a obra e alarga o nosso campo de conhecimento, mas torna-a demasiado extensa e desvia a nossa atenção do objetivo principal.
Um segundo aspeto prende-se com a análise de trabalhos escritos por autores angolanos ou luso-descendentes, não só como comparação de duas perspetivas diferentes – colonizado versus colonizador – como poderia dar-nos uma ideia não do pensamento sobre os “outros”, mas do pensamento dos “outros”. Um paralelismo com autores angolanos certamente que enriqueceria a obra pois, apesar de parte da história angolana ter que ser encontrada na história portuguesa já que Angola era vista como um “prolongamento de Portugal” (PINTO, 2013, p. 535), teria sido muito interessante constatarmos a diferença de discurso entre portugueses, brancos naturais de Angola, mestiços e africanos. Dada a carência de investigação sobre a temática em particular e sobre o período histórico no geral, teria sido uma mais-valia se o autor tivesse aprofundado um pouco mais sobre esse assunto. Fica assim aqui uma pista para dar continuidade à investigação que permita sobretudo caraterizar a cultura angolana e os angolanos.
Certamente que se trata de uma obra de mestre que enriquece a história angolana e portuguesa, e de todas as ex-colônias portuguesas no geral, abrindo novos caminhos e demonstrando o quanto ainda pode ser feito, constituindo de igual forma um eficiente incentivo para um maior intercâmbio entre pesquisadores angolanos, portugueses e luso-descendentes interessados em saber mais sobre as suas origens, bem como pesquisadores interessados em alargar as suas análises sobre os estudos coloniais e o reflexo desse período na atual sociedade quer da ex-colônia, quer da ex-metrópole.
Notas
1 Criado em 1926 por Armando Cortesão e previsto nos artigos 50ª e 64ª do Ato colonial (1930), realizado anualmente pela Agência Geral das Colónias para “[…] propaganda do Império Português, progresso da cultura colonial e desenvolvimento do interesse pelos assuntos respeitantes às colónias” (PINTO, 2013, p. 396).
Referências
PINTO, Alberto Oliveira. Representações Literárias Coloniais de Angola, dos Angolanos e das suas Culturas (1924-1939). Lisboa: Fundação para a Ciência e Tecnologia; Fundação Calouste Gulbenkian, 2013. 689 p.
Ermelinda Liberato – Doutora em Estudos Africanos no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE- -IUL). Professora da Univeresidade Agostinho Neto – UAN – Angola. E-mail: [email protected].
Gestão documental. Sistemas de arquivos: os desafios da implementação / Revista do Arquivo / 2016
FAZER GESTÃO É PRESERVAR!
Gestão e Preservação. Nos vocabulários que permeiam textos, ambientes de debates e conversas que reúnem profissionais vinculados aos Arquivos, quase sempre essas duas palavras aparecem agarradinhas a circular como se fossem duas irmãs gêmeas que devem caminhar sempre de mãos dadas pelas praças para demonstrar a indissociabilidade da família arquivística. União, aliás, que aparece consagrada em conceitos e leis.
Mas, quem convive próximo a essa família, sabe muito bem que essa aparente união muitas vezes esconde conflitos que só quem os vivencia pode falar com propriedade sobre as chagas causadas por disputas renhidas entre esses pares.
Claro, preservação é a palavra-chave explicativa que brota quase que naturalmente de realidades em que os arquivos se assemelham aos museus que guardam todo o charme erudito de tudo aquilo que sobreviveu do passado, sabe-se lá como e por quê. E é essa, ainda, a realidade em grande parte das praças pelo Brasil a fora. Já a irmã gestão aparenta um enxerto relativamente recente que deu ares de novo e moderno a um instituto que oscila entre o charmoso e o démodé.
Entretanto, a forma como as duas palavras são associadas para definir essencialidades dos arquivos é tão artificial que chega a torná-las incongruentes. Senão, vejamos como o nosso Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define o termo Gestão de Documentos:
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a [sic] sua eliminação ou recolhimento. Também chamado administração de documentos.[1]
Ou seja, entende-se por gestão de documentos um conjunto de práticas que só valem para os arquivos corrente e intermediário. Supõe-se, portanto, que daí pra frente, se faz outra coisa! Essa abordagem é replicada em boa parte dos textos que definem a missão de instituições arquivísticas.
Porém, essa formulação com esse sentido dissociado dado ao par, como se um polo fosse continuidade do outro, aqui termina um e ali começa o outro, não resiste à mínima avaliação crítica. Então, o que explica essa renitência? Talvez, necessidade (injustificada) de se delimitar, com grossas marcas, territórios e afazeres.
No entanto, não obstante a inconsistência conceitual, a legislação e os organogramas político-administrativo dos arquivos (e até as pautas das nossas revistas) resistem de forma ainda quase absoluta, afinal, elas são artifícios funcionais que podem aplacar contendas políticas e várias de suas resultantes, entre elas até disputa de verbas.
Fazer gestão é preservar. Só se preserva se se fizer gestão. Gestão e preservação buscam o mesmo fim: proporcionar o acesso. Em arquivo, preservar é muito mais que higienizar e restaurar, é manter organização e contexto. O pensar filosófico nos fornece bons e eficientes raciocínios capazes de estabelecer relações entre pares. Nós dos arquivos não podemos nos eximir desse pensar.
Certo é que ainda estamos longe de raspar de vez esse verniz que a um concede ar de administração e a outro um suspiro de história. Nosso olhar está viciado. Não sem razões, pois essa esfera conceitual ainda possui base material. Porém, o nervo central do que se convenciona chamar de gestão documental, a avaliação, não é senão a mais eficiente e espetacular forma de preservação dos documentos.
De nossa parte, temos que fazer da comemoração de mais um ano do Sistema de Arquivos, neste outubro, uma motivação na luta pela manutenção de um arquivo uno e integrado, que atue sistemicamente, sem essa dissociação que o descaracteriza.
De fato, o arquivo possui uma dimensão que desperta fascínio erudito tão bem traduzido por Arlette Farge no seu Sabor do Arquivo.[2] Mas, convenhamos, o arquivo é muito mais! Confundi-lo com uma de suas dimensões (panteão de documentos “históricos”) pode ser charmoso, mas o apequena. O universo da gestão documental, hoje por sua íntima vinculação à administração, pode não possuir o charme destilado por autores como a própria Farge, mas é atividade complexa que requer grande esforço intelectual e que tem seus encantos.
Enquanto não tornamos essa falsa dicotomia em discussão estéril (porque desnecessária), é com muito prazer que apresentamos esta revista (ainda com vestígios do insuperado) com o tema Gestão Documental. Sistemas de Arquivo: os desafios da implementação.
BOA LEITURA (E NÃO ABRAM MÃO DA CRÍTICA)!
Notas
1. Acessível: http: / / www.arquivonacional.gov.br / images / pdf / Dicion_Term_Arquiv.pd
2. FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: Edusp, 2009. Para ler a resenha de José Maria Jardim, acessar Ponto de Acesso, Revista do Instituto de Ciência da Informação, da Universidade Federal da Bahia, volume 5, nº 1 (2011) http: / / www.portalseer.ufba.br / index.php / revistaici / issue / view / 554
Marcelo Antônio Chaves
CHAVES, Marcelo Antônio. Apresentação. Revista do Arquivo, São Paulo, Ano II, n.3, outubro, 2016. Acessar publicação original [DR]
Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico – AURELL et al (S-RH)
AURELL, Jaume; BALMACEDA, Catalina; BURKE, Peter; SOZA, Felipe. Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: Ediciones Akal, 2013, 494 p. SILVA, Wilton Carlos Lima da. Outras palavras: sobre manuais e historiografias¹. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [34]; João Pessoa, jan./jun. 2016.v
Entre minhas aventuras recentes se inclui uma tentativa de praticar exercícios e alongamentos através de aulas de Pilates, que resultaram ao mesmo tempo em uma rápida melhoria de minhas condições físicas de homem obeso e sedentário ao custo de algumas pequenas dores musculares e certas sequelas em minha autoestima – se a traição amorosa dói, no entanto pode ser relativizada pelas minhas particularidade e as do objeto do meu desejo, já a percepção de que seu próprio corpo está lhe traindo e que isso acontece porque somente você é o responsável dói o dobro. No entanto, em meio ao desconforto pela constatação de minhas limitações físicas e certo orgulho pela persistência estoica naquela atividade que expunha de forma inquestionável uma de minhas muitas limitações, uma sobrinha, que é fisioterapeuta, me consolou: “Pilates é assim. Se está fácil é porque você não está fazendo direito!”. Ensinar história, particularmente na universidade, é um desafio de mesma natureza e que poderia ser descrito de forma bastante semelhante – quando é feito de forma simples e fácil é porque não está sendo bem feito. A tensão entre as exigências de uma boa formação, as limitações de tempo e de recursos para a construção de um bom curso, os diferentes níveis de envolvimento e cognição dos alunos, a intensa e extensa produção historiográfica contemporânea, a acessibilidade limitada aos textos, as dificuldades de intercâmbios intelectuais, as tendências corporativas e de endogêneses teórico-metodológicas, a crescente especialização do trabalho docente, entre outros aspectos do ensino universitário, tornam o surgimento de bons manuais algo extremamente necessário e positivo. No caso brasileiro, o destaque confirmado pelas seguidas edições de Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia3, de 1997, e o surgimento de Novos domínios da História4, em 2012, ambos manuais organizados por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, entre outros exemplos possíveis, demonstra a importância desse tipo de publicação enquanto ferramenta de trabalho para professores e pesquisadores. Publicações semelhantes em outros idiomas oferecem uma vantagem a mais, além do mapeamento e da ordenação de natureza didática e expositiva de um campo amplo e múltiplo que qualquer historiografia dinâmica apresenta, a possibilidade do reconhecimento de convergências e divergências temáticas e teórico-metodológicas são um ganho difícil de desprezar. Nesse sentido, Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico é um livro com quatro autores, de três países distintos e diferentes especialidades, o que se traduz em um panorama historiográfico rico e diferenciado5. A ambição de se oferecer uma história da historiografia, pelo menos em língua inglesa, tem outros respeitáveis representantes recentes em distintas tradições intelectuais, como A History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century (2007), um alentado volume de 553 páginas do historiador inglês John Burrow6, A global History of History (2011), outro volumoso livro, de 605 páginas, do professor anglo-canadense Daniel Woolf7, ou The Oxford History of historical writing (2011-2012) que é uma obra coletiva, em cinco volumes, que envolve uma infinidade de autores e editores distintos por volume8. Embora todas as três tenham méritos indiscutíveis nenhuma delas está livre de algumas críticas e questionamentos. O historiador inglês Keith Thomas fez uma elogiosa resenha do livro de Burrow, professor emérito de Oxford, na qual reconhece no autor, uma das maiores autoridades sobre a história intelectual dos séculos XVIII e XIX e, na obra, o resultado de um enorme esforço de erudição, com texto um muito agradável e repleto de observações agudas9.
Embora também assinale a existência de alguns pequenos equívocos só perceptíveis por especialistas, como por exemplo, a inclusão de somente duas mulheres entre os historiadores dignos de nota (Anna Commena, um princesa bizantina do século XII, e Natalie Zemon Davis, a autora norte-americana de O retorno de Martin Guerre10) ou seu escopo de análise limitado a historiadores da Europa e da América do Norte (particularmente os que escreveram em inglês ou estão disponíveis em tradução). Por sua vez o livro de Woolf, que já havia organizado A global Encyclopedia of historical writing11, de 1998, impressiona pela combinação de uma significativa erudição com um estilo agradável e didático, utilizando-se de mútuas referências entre textos e imagens, em um esforço de apresentação de uma abordagem claramente desvinculada da perspectiva eurocêntrica, e que em busca de uma perspectiva verdadeiramente global, ao longo de seus nove capítulos, valoriza escritos históricos da América do Sul, Coréia, Tailândia, Islândia, Tibete e Pérsia ao lado de outros da Antiguidade Greco-Romana, do Renascimento e do Iluminismo no Ocidente. Os dois últimos capítulos, inclusive, intitulados respectivamente “Clio’s empire: European historiography in Asia, the Americas and Africa” e “Babel’s tower: history in the Twentieth Century”, trazem duas questões extremamente interessantes: a questão da força e influência dos modelos intelectuais europeus na historiografia não europeia e a poliglosia do discurso historiográfico contemporâneo. Curiosamente, talvez como sintoma de nosso isolamento intelectual, quer pela questão idiomática quer por limitações da produção local, nas dezesseis páginas do índice onomástico da edição em inglês não existe nenhuma referência sobre a historiografia brasileira. Finalmente, a extensa obra financiada por Oxford tem uma clara preocupação em afirmar tanto a excelência acadêmica de sua equipe internacional de estudiosos quanto a ênfase na diversidade cultural. O volume 1, com 672 páginas, é organizado por Andrew Feldherr12 e Grant Hardy13, oferecendo ensaios de diversos autores sobre o desenvolvimento da escrita histórica a partir do antigo Oriente Próximo, da Grécia clássica, Roma, e do Leste e Sul da Ásia desde as suas origens até 600 d.C. O volume 2, também com 672 páginas, sob coordenação de Sarah Foot14 e Chase F. Robinson15 reúne vinte e oito especialistas que buscam apresentar a diversidade da escrita da história na Europa e na Ásia entre 400-1400, realçando tanto características regionais e culturais quanto abordagens temáticas e comparativas sobre gênero, guerra e religião, entre outros aspectos, que se fazem nos trabalhos de historiadores do período delimitado. O volume 3, com 752 páginas, é organizado por quatro especialistas, o argentino Jose Rabasa16, o japonês Masayuki Sato17, o italiano Edoardo Tortarolo18, e o canadense, já citado, Daniel Woolf19, abordando o período entre 1400 e 1800, em ordem geográfica de leste a oeste, da Ásia as Américas, com as principais contribuições da escrita da história no período. O volume 4, com 688 páginas e organizado pelo australiano Stuart MacIntyre20, Juan Maiguashca21 e Attila Pok22, apresenta ensaios sobre a historiografia no mundo entre 1800 e 1945, abordando um leque de culturas e países que se estende do pensamento histórico e da erudição europeia passando por Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, México, Brasil e América do Sul espanhola, além de China, Japão, Índia, Sudeste da Ásia, Turquia, o mundo árabe e da África Subsaariana. Finalmente, o último volume, de número 5, com 744 páginas e organizado pelo sinólogo Axel Schneider23 e pelo canadense Daniel Woolf, que também participou da organização de um dos volumes anteriores, apresenta um arco temporal que se estende de 1945 até os dias atuais, discutindo distintas abordagens teóricas e interdisciplinares para a história assim como buscando demarcar particularidades e similitudes entre historiografias nacionais e regionais. O diferencial de Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico, em contraste com as obras anteriormente citadas, segundo seus próprios autores, é que o time de quatro pesquisadores permite superar as limitações de formação de um único especialista (o caso dos trabalhos de Burrow e Woolf) ao mesmo tempo em que o número relativamente reduzido de colaboradores permite a articulação do texto enquanto um panorama mais articulado e menos semelhante a um jogral com temas estanques – o caso do manual de Oxford –, resultando em uma combinação específica de volume informacional e inteligibilidade do quadro panorâmico. A famosa frase de Gaston Bachelard, que compara o conhecimento a uma fraca lanterna que é utilizada para iluminar um grande sótão, de modo que iluminar um dos cantos do aposento é deixar boa parte dele na escuridão, é uma imagem recorrente para descrever toda obra de síntese. Assim como os três textos referenciados anteriormente apresentam problemas e soluções para o pesquisador ou docente interessado em ampliar ou compartilhar seus conhecimentos em uma perspectiva global da produção historiográfica, o mesmo se percebe no volume de Aurell, Balmaceda, Burke e Soza.
Esse trabalho, inclusive, apresenta mais duas particularidades, uma de dimensão geracional, pois Burke pode facilmente ser reconhecido como um autor consolidado em termos de tempo, extensão da obra e diversidade de temas, Aurell e Balmacera seriam autores de produção mais recente, com obras bem referenciadas, mas que ainda estão se constituindo, e Soza é um jovem pesquisador, e o foco linguístico cultural, pois o historiador inglês, casado com uma brasileira, tem tanto familiaridade com a tradição intelectual de língua inglesa e francesa, como também em português, e os demais autores, enquanto conhecem a historiografia europeia, também transitam pela produção de língua espanhola – entre outros aspectos isso permitiu, em contraste com algumas das obras citadas, que a produção espanhola e portuguesa aparecesse desde de a Idade Média e houvesse um capítulo específico sobre a América Latina (assim como outros dois sobre a historiografia chinesa e a árabe). O esforço em resgatar a prática da cultura historiográfica enquanto rede de relações que envolve produtores do conhecimento, seus receptores e os mecanismos de conservação e divulgação aproxima a estrutura do trabalho da obra clássica da história da literaturas Mimésis24 (1946), de Erich Auerbach, na qual a apresentação do cânone divide espaço com o incentivo a descoberta e a busca dos originais. Para isso, ao final de cada capítulo há um conjunto de indicações bibliográficas e comentários sobre as principais tendências teórico-metodológicas, os autores e as obras mais representativas de cada período. Em termos estruturais, os dois primeiros capítulos, sobre a antiguidade greco-romana (p. 09-94) ficam a cargo de Catalina Balmaceda; o terceiro capítulo, do período medieval (p. 95-142), é abordado por Jaume Aurell; os capítulos 4º, do Renascimento e a Ilustração (p. 143-182), e 5º, sobre historiografia islâmica e chinesa (p. 183-198), são escritos por Peter Burke; o 6º, sobre historicismo, romanticismo e positivismo (p. 199-236), o 7º, sobre a transição do século XIX ao XX (p. 237-286) e o 8º, sobre o giro linguístico e as histórias alternativas (p. 287- 340), são tratados por Jaume Aurell e Peter Burke; enquanto que o 9º e último capítulo (p. 341-437), sobre historiografia latino-americana, é assinado por Felipe Soza25. Além da oportunidade de entrar em contato com características das obras de autores pouco conhecidos na tradição intelectual brasileira, como os árabes Ibn Khaldun e Mustafa Naima, os chineses Sima Qian e Ouyang Xiu ou o indiano Ranajit Guha, o livro destaca-se pela síntese rica e ampla sobre a historiografia latino americana. Em geral os manuais enfrentam o desafio de equilibrarem-se entre a representação da extensão de um conhecimento sobre o qual se projetam e a síntese didática e acessível de um vasto campo de conhecimento, buscando oferecer um que o detalhismo do especialista. Com certeza todos os trabalhos aqui citados, e em especial, pelas particularidades anteriormente expressas, o livro Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico cumpre de forma exemplar tais ambições, merecendo inclusive uma tradução para o português. Quem ler, comprovará.
Notas
1 Este texto é resultado de um estágio de pesquisa realizado na Universidade de Sevilha, Espanha, entre janeiro e fevereiro de 2016, com bolsa do Programa de Movilidad de Profesores e Investigadores Brasil-España, da Fundación Carolina.
3 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
4 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2012.
5 Jaume Aurell é Professor Titular de Historia Medieval e Teoria da História na Universidade de Navarra, Espanha; Catalina Balmaceda, professora de Historia Clássica do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile; Peter Burke, professor emérito da Universidade de Cambridge, Inglaterra; e Felipe Soza, professor adjunto do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile.
6 A obra foi traduzida para o português. Ver: BURROW, John. Uma História das Histórias: de Heródoto e Tucídides ao século XX. Tradução de Nana Vaz de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2013.
7 A obra foi traduzida para o português. Ver: WOOLF, Daniel. Uma História global da História. Tradução de Caesar Souza. Petrópolis: Vozes, 2014.
8 FELDHERR, Andrew & HARDY, Grant (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 1: beginnings to AD 600. Oxford: Oxford University Press, 2011. FOOT, Sarah & ROBINSON, Chase F. (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 2: 400-1400. Oxford: Oxford University Press, 2011. RABASA, José; SATO, Masayuki; TORTAROLO, Edoardo & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 3: 1400-1800. Oxford: Oxford University Press, 2011. MacINTYRE, Stuart; MAIGUASHCA, Juan & POK, Attila (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 4: 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011. SCHNEIDER, Axel & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 5: historical writing since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2012.
9 THOMAS, Keith. “Mapping the world – a History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries, from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century”. The Guardian, Londres, 15 dez. 2007. Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 20 out. 2015.
10 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
11 WOOLF, Daniel (org.). A global ecyclopedia of historical writing. Londres: Taylor & Francis; Nova York: Routledge, 1998.
12 Professor de Antiguidade Clássica na Universidade de Princenton, EUA.
13 Professor da História de Religiões na Universidade da Carolina do Norte, EUA.
14 Professora de História das Religiões na Universidade de Oxford, Reino Unido.
15 Professor da Universidade de Nova York, especializado em História islâmica.
16 Professor da Universidade de Harvard, EUA, especialista em literatura e estudos pós-coloniais. 17 Professor da área de Teoria da História e Historiografia da Universidade Yamanashi, Kyoto, Japão. 18 Professor de História Moderna e de Historiografia da Universidade de Turim, Itália. 19 Professor da Queen’s University, Kingston, Canadá. 20 Professor da Universidade de Melbourne, Austrália. 21 Professor especialista em História da América Latina da Universidade de York, Toronto, Canadá. 22 Professor da Academia Húngara de Ciências, Budapeste, Hungria. 23 Professor da Universidade de Gottingen, Alemanha.
24 AUERBACH, Erich. Mimésis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Tradução de G. B. Sperber. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 25 Sobre História e historiografia da/na América Latina, ver também: MAIGUASHCA, Juan. “História marxista latino-americana: nascimento, queda e ressurreição”. Almanack, São Paulo, UNIFESP, n. 7, mai. 2014, p. 95-116. Disponível em: <http://www.almanack.unifesp.br/>. Acesso em: 21 out. 2015.
Wilton Carlos Lima da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Assis. Professor Livre-Docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Assis. Coordenador do MEMENTO – Grupo de Pesquisa de Memórias, Trajetórias e Biografias (UNESP Assis/ Diretório CNPq). E-Mail: <wilton@ assis.unesp.br>.
https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/download/29242/15841
[MLPDB]Les musulmans dans l’histoire de l’Europe. t. 1. Une intégration invisible / Jocelyne Dakhlia e Vincent
Cet ouvrage collectif ambitieux et novateur interroge, dans un premier tome, « une intégration invisible » des musulmans en Europe occidentale entre le xive siècle et le début du xixe siècle, avant de mettre en exergue, dans un second tome, les dynamiques intégratrices qui animent les sociétés de cet « entre-deux » qu’est l’espace méditerranéen. Les deux volumes partagent la même ambition d’éclairer les débats contemporains sur l’Europe, sa définition, ses contours, ainsi que ses relations avec l’islam et le monde de l’Islam. Alors que la question de la candidature de la Turquie à l’Union européenne ou le projet de l’« Euroméditerranée » ont suscité les passions et interrogé la notion même d’Europe, ces deux volumes offrent de nouvelles perspectives pour mieux remettre en cause la vision réductrice de deux mondes qui s’affrontent et dont les échanges, faits uniquement d’emprunts culturels ou de traités diplomatiques, n’auraient été que sporadiques, voire anecdotiques, avant les expériences coloniales du xixe siècle.
Aussi les deux volumes entendent-ils réviser un certain nombre de topoi pour mieux « restituer de la chair » (t. 1, p. 22) à l’histoire des relations de l’Europe occidentale avec l’islam. Il s’agit de battre en brèche la supposée ignorance islamique de l’Europe de la fin du Moyen Âge à l’époque moderne pour réévaluer des circulations méditerranéennes bien antérieures aux confrontations coloniales. Cette étude des circulations délaisse logiquement l’Europe sous domination ottomane pour privilégier les régions de frontière et les espaces de commerce, à savoir la Méditerranée, la façade atlantique ainsi que la frontière de l’empire des Habsbourg avec l’empire ottoman. L’introduction du premier tome propose un cadre méthodologique et théorique stimulant dans la perspective d’une histoire nécessairement connectée. Elle pose les termes de la réflexion et ses gageures, notamment la difficile identification des musulmans dans les sources, tout en s’interrogeant sur les raisons qui ont poussé l’historiographie à négliger les musulmans présents en Europe lors de la période couverte, jusqu’à les rendre quasiment « invisibles ».
Tout en s’appuyant sur la bibliographie la plus récente, le premier tome explore, de la côte Atlantique du Portugal jusqu’à Vienne, en passant par la France et la Grande-Bretagne, les circulations des musulmans ainsi que la nature de leur intégration sociale, voire sociétale, dans ces espaces. C’est à la recherche des formes d’accommodement à l’islam et aux musulmans, en dépit de contextes souvent conflictuels, que les chercheurs construisent leur apport, dans un souci historiographique et méthodologique constant. Selon cette perspective, la première partie est consacrée à un état des lieux de la présence musulmane en Europe, avant d’en tenter une reconstruction historiographique pour en proposer finalement une lecture dynamique. Au fil des contributions, c’est tout un monde de marchands, de serviteurs, d’esclaves, de diplomates, d’artisans ou de soldats, parfois convertis au christianisme, qui émerge pour sortir de l’ombre historiographique.
Le lecteur comprend que, selon les contextes, des stratégies de dissimulation ont pu être mises en place par les musulmans eux-mêmes tandis que les sociétés d’accueil ont parfois préféré se montrer indifférentes à une telle présence qui, parfois considérée comme banale, explique le silence des sources. Les chapitres proposent différents éclairages sur cet objet complexe, alternant entre des approches micro-historiques de groupes d’individus relativement réduits et l’exploration de présences plus massives. Le service des sœurs Ayche et Fatma à la cour de Catherine de Médicis permet à Frédéric Hitzel de réfuter le préjugé selon lequel l’empire ottoman n’aurait jamais « fourni aucun élément de population intéressant » au royaume de France (p. 33). Les itinéraires étudiés par Simona Cerutti d’un tailleur anatolien à Turin ou par Emanuele Colombo du fils du roi de Fez entré dans la Compagnie de Jésus mettent en lumière la question délicate de la frontière religieuse dans le processus d’intégration individuelle dans les sociétés d’accueil. Dans le cas de Livourne analysé par Guillaume Calafat et Cesare Santus, cette intégration, à la fois considérable et bien visible, a donné lieu à des interactions multiples dans la société portuaire cosmopolite. Ces différentes approches trouvent leur unité dans une commune réflexion sur les sources, leur analyse et leurs limites, ainsi que sur la possibilité d’y identifier des « musulmans » et leurs réseaux.
Le second tome est consacré à une étude renouvelée des passages et contacts en Méditerranée. Cet ouvrage dresse un état des lieux bibliographique, historiographique et épistémologique complet et actualisé sur la Méditerranée comme objet historiographique. Faruk Tabak en avait résumé la disparition dans le champ des études historiques [1]. L’inclusion de travaux en anglais, allemand, italien, espagnol, bosniaque, portugais, français, turc autorise une approche connectée stimulante. Dans l’esprit des areas studies, l’espace méditerranéen n’est pas pensé à travers une indéfinissable unité culturelle, politique, anthropologique ou sociale mais comme un espace de « l’entre-deux » connecté. Au-delà de la Méditerranée « homogène », selon les approches braudéliennes, ou « divisée », selon celles privilégiant le choc des civilisations, cette vaste enquête interroge ces « Méditerranées multiples » que l’on trouve chez Sanjay Subrahmanyam ou David Abulafia.
De la Méditerranée ottomane, européenne et maghrébine en passant par la Méditerranée insulaire, l’espace se dilate jusqu’à un au-delà méditerranéen incluant les colonies portugaises en Guinée. L’étude d’António de Almeida Mendes sur les Blancs de Guinée fait le trait d’union entre espaces méditerranéen et atlantique. Un espace également imbriqué, comme le montrent les présides ibériques au Maghreb et les possessions vénitiennes en Méditerranée islamique, et innervé par un vaste système d’interactions et de parcours.
Un concept clé et fructueux a été retenu dans ce second volume pour problématiser les liens tissés entre les différentes sociétés méditerranéennes, celui de « l’entre-deux ». Il permet de dépasser l’opposition entre une approche irénique et une approche conflictuelle des modalités d’interactions interculturelles ou intersociétales. Une réhabilitation du conflit est suggérée en l’interprétant non pas comme une fracture absolue mais comme une ligne de front et d’alliance, liée à la complexité des mouvements d’une rive à l’autre, où certains sont appelés à vivre un jour de l’autre côté. Wolfgang Kaiser démontre que le rachat des captifs faisait partie de l’ordinaire et non de l’extraordinaire dans la pratique du commerce méditerranéen. Islamiques ou européennes, musulmanes ou chrétiennes, les sociétés méditerranéennes sont traversées par des dynamiques d’exclusion et d’inclusion, de rupture et d’innovation, de rapports de force, d’ouverture et d’assimilation de l’altérité. Mathieu Grenet étudie l’exemple diasporique des sujets ottomans « Grecs de nation » tandis que Natalia Muchnik propose une étude commune des diasporas morisques et marranes pour montrer leur forte hétérogénéité sociale et religieuse.
L’entre-deux introduit un espace tiers, voire une culture et une altérité tierces encouragées par des acteurs qui jouent le rôle de véritables passeurs ou médiateurs entre cultures et langues. G. Calafat s’intéresse ainsi au rôle des interprètes de la diplomatie à Alger dans les années 1670-1680, même s’il n’est pas possible d’établir un idéal-type du médiateur interculturel. Étudier les formes d’interaction entre les sociétés islamiques et celles d’Europe occidentale suppose toutefois la singularisation de l’espace méditerranéen, trop souvent lu à l’aune du schème de conquête conceptualisé dans des contextes américains et hérité du modèle colonial atlantique. L’intercirculation séculaire en Méditerranée rend structurellement impensable une « première rencontre » ou un choc et, par conséquent, la reprise du concept de métissage, favorisant le rapport d’équivalence entre vaincus ou dominés et colonisés.
La question de l’islamophobie et de l’islamophilie savante est également posée concernant les passages de l’Islam en Europe, encore peu étudiés. Daniel Hershenzon souligne la fabrique de la Méditerranée jusque dans l’historiographie à travers la propagande chrétienne de la captivité. Il suggère une histoire connectée des formes de captivité et d’esclavage des musulmans en Europe et des chrétiens à l’intérieur de l’empire ottoman en montrant que les deux systèmes étaient étroitement reliés et interdépendants par le jeu des négociations. Il reconstitue de fait un cadre méditerranéen et non national, privilégié par le champ bourgeonnant des études sur la captivité, pour restituer les liens que la captivité a tissés entre le Maghreb et l’empire des Habsbourg.
L’entre-deux est lui-même invité à être dépassé ou nuancé par trois éléments : « espace liminaire ou hors lieu », il ne figure pas toujours comme un trait d’union entre deux sociétés mais parfois comme un espace plein et neutralisé, propre à la négociation. Il peut aussi s’agir d’un espace syncrétique modelé par des individus ou des groupes sans pour autant créer un tiers espace. Enfin, l’entre-deux n’est pas un monde en soi, un « middle-ground », du fait de l’état transitoire des processus d’intégration et d’assimilation, en recomposition permanente. Au-delà des phénomènes de porosité ou de transfert, un continuum véritable peut parfois émerger sans pour autant abolir les possibles adversités. Jocelyne Dakhlia l’illustre à travers le cas remarquable de Thomas-Osman Arcos. Chrétien renié et converti à l’islam, vivant à Tunis, membre de la République des Lettres, il plaide la possibilité d’être à la fois français et musulman tout en niant son acculturation tunisienne, pourtant bien fondée. M’hamed Oualdi étudie quant à lui l’économie générale de la mobilité des mamelouks des beys de Tunis entre le xviie et le xixe siècle.
Le brassage des cultures dans l’espace méditerranéen ne doit pas occulter les continuités culturelles entre toutes ces sociétés. C’est précisément cette familiarité structurelle qui explique l’aptitude des passeurs de frontières à maîtriser si rapidement les codes d’une société autre. Ce second volume invite donc, à travers de nombreuses études stimulantes, à repenser les sociétés méditerranéennes et les rapports entre l’Europe musulmane et chrétienne, islamique et occidentale.
Clarisse Roche
DAKHLIA, Jocelyne; VINCENT, Vincent (dir.). Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, t. 1, Une intégration invisible. Paris: Albin Michel, 2011. 646p. Resenha de: ROCHE, Clarisse. Annales. Histoire, Sciences Sociales. Paris, n.4, 2016. Acessar publicação original [IF].
L’histoire des Juifs. Trouver les mots. De 1000 avant notre ère à 1492 / Simon Shama
En lisant cette Histoire des Juifs de Simon Schama, on est à la fois ébloui et irrité. Plus on progresse dans la lecture, plus l’admiration et l’irritation vont croissant. C’est d’abord l’admiration qui domine. Pour la stupéfiante performance de l’auteur. L’ouvrage, écrit en marge de la préparation d’une série télévisée, couvre quinze cents ans d’histoire, puisqu’il va des origines bibliques à 1492, année de l’expulsion des Juifs d’Espagne (un second volume devrait suivre, courant de 1492 à l’époque contemporaine). S. Schama n’a travaillé qu’à ses tout débuts sur des aspects de l’histoire juive et si le savoir qu’il met ici en œuvre est pour une large part de seconde main, il a effectué et assimilé des lectures d’une étendue proprement gigantesque.
Pour la période biblique et l’interprétation des données archéologiques, un sujet de débats passionnés en particulier depuis une quarantaine d’années, il s’est adressé à des spécialistes reconnus et a tracé sa voie – une voie moyenne, entre la parfaite confiance dans le récit biblique et le postulat de sa totale a-historicité. Surtout, pour les périodes postérieures, depuis l’Antiquité gréco-romaine, avant et après la destruction du Temple de Jérusalem en l’an 70, jusqu’à l’histoire des Juifs dans l’Europe du Moyen Âge tardif, en passant par le monde juif en terre d’islam, l’auteur a consulté les travaux de recherche les plus récents et les plus novateurs. L’information bibliographique, signalée dans les notes, n’est nullement ornementale : le texte principal s’appuie tout au long sur les dernières publications qui comptent, dont, soupçonne-t-on, les spécialistes, dans les différents domaines, n’ont pas eux-mêmes toujours su saisir ce qui fait leur surcroît d’utilité.
Schama donne un texte très enlevé, mais, comme on pouvait s’y attendre, il est à son meilleur dans les deux exercices où l’on sait qu’il excelle, et d’abord dans l’usage des archives visuelles et des données matérielles. Ainsi fait-il merveille lorsqu’il introduit l’exposé portant sur les déchirements internes de la société juive et les circonstances de la révolte des Maccabées par une description évocatrice du palais édifié, à l’est du Jourdain, par Hyrcan, petit-fils d’un Tobiah connu grâce aussi bien à ce que dit de lui Flavius Josèphe qu’à la documentation laissée par un intendant du ministre des finances de l’Égypte ptolémaïque, et représentant d’un milieu juif particulièrement hellénisé. Ou lorsque, pour montrer l’ouverture sur les cultures environnantes, aux iieet iiie siècles de l’ère chrétienne, du judaïsme diasporique mais aussi palestinien, S. Schama mobilise le témoignage des peintures murales de la synagogue de Doura-Europos en Syrie orientale et celui des mosaïques et des restes architecturaux de Sepphoris en Galilée. Ou encore lorsque, afin de souligner la prospérité des Juifs d’Égypte, ou en tout cas de certains d’entre eux, à l’époque, entre xe et xiie siècle, qu’éclairent les documents découverts dans la gueniza (la remise) d’une synagogue du Vieux Caire, il décrit les garde-robes que nous font connaître les papiers publiés et analysés par Shlomo-Dov Goitein et par Yedida Stillman.
L’ouvrage se distingue ensuite dans la façon qu’a S. Schama de faire du récit l’élément même dans lequel se coule une analyse. Le morceau le plus réussi à cet égard est peut-être la mise en perspective de la condition des Juifs, à la fois solide et précaire, dans l’Angleterre des années 1240-1270, à travers le récit d’une vie, celle d’une femme d’affaires avisée, Licoricia de Winchester. Les grincheux diront que l’auteur emprunte sa documentation à une monographie récente [1] [2] Certes. Encore fallait-il savoir, à partir de celle-ci, à la fois brosser un tableau et conduire une démonstration.
chama fait preuve, en chaque chapitre, d’une remarquable capacité à synthétiser les résultats de la recherche, la clarté de la discussion et sa densité faisant bon ménage. J’ai eu à plusieurs reprises le sentiment, en cours de lecture, que, sur telle ou telle question abordée, et sur laquelle j’ai eu moi-même à consulter une abondante littérature, je n’avais jamais lu de présentation ramassée aussi pénétrante, qui sache dégager ce qui compte, et permette de comprendre mieux ou autrement un épisode que je croyais bien connaître. Il faut espérer que la traduction française de l’ouvrage trouvera de nombreux lecteurs, et qu’en particulier un lectorat universitaire saura reconnaître qu’il dispose là d’une « histoire des Juifs » saisie dans toute son ampleur chronologique, qui cumule les avantages, puisqu’elle est exposée selon les critères de l’histoire savante, qu’elle est parfaitement accessible et présente en même temps toute garantie de fiabilité.
Mais l’irritation ? C’est qu’on ne voit aucune des questions fortes que l’histoire des Juifs appelle, on ne dit pas tranchées, mais seulement posées. Pour fil conducteur, S. Schama a pris le thème de la puissance des « mots » : les mots, c’est-à-dire l’exégèse d’une parole tenue pour révélée, et la réinvention constante du sens attribué à son dépôt (d’où le sous-titre : « Trouver les mots »). Ce sont ces mots, nous dit-on, qui donnent la clé d’une pérennité. Peu importe que la proposition ne pèche pas par excès d’originalité. L’ennui est surtout que, sur ces « mots », l’auteur n’est pas à son affaire. À propos de la littérature talmudique et midrashique, il reprend un discours rebattu, et qu’on espérait définitivement remisé, sur un fatras parcouru d’étranges lueurs. Il s’enthousiasme, en revanche, pour Moïse Maïmonide, sans que perce une véritable familiarité avec l’œuvre et ses problèmes. Il suffit à S. Schama de savoir que Maïmonide a tenté de réconcilier l’intérieur et l’extérieur, l’étude du donné révélé et la réflexion philosophique à l’horizon de l’universel, l’ancrage dans l’intime d’une culture et l’ouverture à des questionnements qui s’adressent à tout homme, par-delà les appartenances spécifiques, sur fond de raison partagée ; et de conspuer les adversaires de Maïmonide, obscurantistes obtus.
On ne nourrit pas nécessairement des préférences et des détestations différentes. Mais ces développements rappellent, par la combinaison de la fadeur de la pensée et du lyrisme du ton, un discours apologétique largement diffusé, au moins dans certains courants du judaïsme des lendemains de l’Émancipation. Il s’agit, aujourd’hui comme hier ou avant-hier, de montrer comment l’influence du judaïsme a profité à l’avancement de la rationalité, comment les deux causes, celle de l’identité juive et celle du progrès moderne, se rejoignent naturellement. Et si le texte atteste une baisse de tension et une dérive vers la banalité, non seulement à propos de Maïmonide (qu’à titre exceptionnel S. Schama professe admirer), mais chaque fois qu’il est question des évolutions intellectuelles et religieuses, c’est que « les mots », l’auteur non seulement les connaît mal (il n’a pour bagage que des souvenirs d’enfance et des lectures récentes peut-être pressées), mais, assez manifestement, ressent pour eux peu d’appétence, et qu’ils suscitent chez lui, d’emblée, le malaise plutôt que la curiosité.
Au point d’avoir, face à l’empire des mots, érigé un contre-modèle : celui que lui offre la vie des soldats juifs en poste à la garnison de l’île d’Éléphantine, à Assouan, que nous font apercevoir, pour l’époque de la domination perse en Égypte, des papyrus en araméen découverts à la fin du xixe siècle. L’auteur ouvre son livre sur l’existence au quotidien, longtemps sans histoires, de cette colonie aux coutumes si éloignées de celles qui prévalaient dans l’Israël biblique (ne serait-ce que parce que ces soldats ont érigé un temple, et ignoré ainsi la prescription deutéronomique qui réserve l’exclusivité du culte au Temple de Jérusalem).
De ce que lui apprennent les documents, qui portent sur la vie familiale et les transferts de biens, S. Schama tire cette leçon : « Comme dans tant d’autres sociétés juives implantées parmi les Gentils, la judéité d’Éléphantine était prosaïque, cosmopolite, vernaculaire (araméenne) plutôt qu’hébraïque, obsédée par la loi et la propriété, attentive à l’argent et soucieuse de la mode, très préoccupée par la conclusion des mariages et les ruptures, le soin des enfants, les subtilités de la hiérarchie sociale, sans oublier les délices et les fardeaux du calendrier rituel juif. Par ailleurs, elle ne semble pas avoir été particulièrement livresque. […] C’est le côté suburbain, ordinaire, de tout cela qui, l’espace d’un instant, paraît absolument merveilleux – un peu d’histoire juive sans martyrs ni sages, sans tourment philosophique, le Tout-Puissant grincheux pas très en vue ; un lieu d’une heureuse banalité, très préoccupé par les conflits de propriété, l’habillement, les mariages et les fêtes […] un temps et un monde innocents du roman de la souffrance » (p. 39).
Il est arrivé à Gershom Scholem de moquer une historiographie juive qui dépeignait parfois les patriarches bibliques comme de braves bourgmestres de Rhénanie [3]. Puis-je prendre exemple sur lui pour exprimer des doutes sur une caractérisation des « sociétés juives implantées parmi les Gentils » qui propose de promener d’une époque à l’autre l’histoire de réussite et les préoccupations typiques d’une upper middle class suburbaine ? On a dénoncé, d’ailleurs très injustement, une historiographie juive du xixe siècle trop souvent organisée autour du diptyque souffrances/élévation spirituelle, misère et grandeur. On conçoit que, en période post-moderne où les causes quelles qu’elles soient ne font ni vivre ni mourir, il paraisse judicieux d’écarter le passé de souffrances et de substituer aux récits trop inspirés le prosaïsme de l’épanouissement personnel. Et, après avoir dit sa détestation de l’histoire lacrymale, de réintroduire le malheur pour réagir contre les excès d’un discours devenu rituel de dénonciation de ce type d’histoire, mais surtout pour mieux souligner la présence continue d’une faculté éminemment contemporaine : le rebond, la résilience. Cela revient à remplacer des anachronismes ridicules par d’autres anachronismes ridicules, et à mener l’œuvre apologétique par d’autres moyens. L’entreprise peut au demeurant rencontrer l’adhésion : le livre se transformera alors en livre-cadeau, offert à des enfants qui ne le liront pas par des parents qui ne le liront pas non plus, puisqu’ils ne ressentiront pas le besoin de légitimer par des précédents historiques l’existence suburbaine d’aujourd’hui. Ce serait dommage : voilà un livre qui, malgré ces faiblesses essentielles, est une manière de chef-d’œuvre.
Notes
1. Faruk Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870: A Geohistorical Approach, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
2. Suzanne Bartlet, Licoricia of Winchester: Marriage, Motherhood and Murder in the Medieval Anglo-Jewish Community, Londres, Vallentine Mitchell, 2009.
3. Gershom Scholem, « Réflexions sur les études juives », no thématique « Gershom Scholem », Cahiers de l’Herne, 92, 2009, p. 133-145, ici p. 143
Maurice Kriegel
SHAMA, Simon. L’histoire des Juifs. Trouver les mots. De 1000 avant notre ère à 1492. Trad. par P. E. Dauzat, Paris, Fayard, [2013] 2016. 506p. Resenha de: KRIEGEL, Maurice. Annales. Histoire, Sciences Sociales. Paris, n.4, 2016. Acessar publicação original [IF].
L’économie de Dieu. Famille et marché entre christianisme, hébraïsme et islam / Gérard Denile
Sous un titre un brin paradoxal, Gérard Delille montre comment les trois grandes religions monothéistes issues du monde antique font système au sens structuraliste du terme, autrement dit comment elles entretiennent entre elles des rapports d’inversion qui sont corrélés à plusieurs niveaux de la réalité sociale. La parenté, au sens où l’entendent en général les anthropologues, sert de levier à l’auteur, lui-même historien, afin de brosser un large tableau du développement différentiel de l’Occident et du Moyen-Orient en fonction de la prédominance de telle ou telle religion. Au-delà de la parenté, l’argument mobilise de nombreux faits de nature théologique, juridique, dynastique, technique et, enfin, économique. Sa progression emprunte à différentes échelles d’analyse, allant de la micro-histoire, en se focalisant sur les communautés dont les archives recèlent de bonnes séries généalogiques – élément clé de la démonstration –, à la reprise critique des grandes synthèses historiques classiques. Au fond, bien que G. Delille s’en défende, son propos possède une indéniable tonalité wébérienne. Il renoue de même brillamment avec Karl Polanyi et sa fameuse thématique de l’émergence, en Occident à l’époque moderne, du marché comme domaine autonome, séparé de l’activité humaine.
La première partie du livre pose les jalons en mettant en relief ce qui différencie les règles matrimoniales dans les trois sphères respectives du judaïsme, de l’islam et du christianisme. Dans le judaïsme, le mariage entre oncle et nièce est préconisé, tandis que dans l’islam, c’est celui entre cousins germains patrilatéraux qui est érigé comme norme. Face à ces logiques d’endogamie s’oppose la règle que l’Église impose progressivement, à partir du haut Moyen Âge, à tout l’Occident chrétien. Ici, une exogamie très étendue, presque infinie, prévaut puisque est frappée d’interdit toute union en deçà du quatrième canon de parenté (extension considérable qui exclut comme conjoint potentiel jusqu’aux personnes issues des arrière-arrière-grands-parents).
Au total, on peut dresser le schéma suivant. À l’exogamie quasi absolue du christianisme s’oppose l’exogamie relative des systèmes juif et musulman. Ainsi que le rappelle G. Delille à la suite de nombreux auteurs, notamment à propos du mariage arabe, ces derniers exigent toujours un assez large degré d’exogamie pour « fonctionner » ; ils ne peuvent être entièrement endogames. Cela étant, leurs endogamies respectives les différencient dans la mesure où le mariage arabe renforce la patrilinéarité, là où les pratiques endogames des juifs (qui incluent le lévirat et le sororat) tendent à effacer l’opposition entre maternel et paternel. Les juifs se rapprochent à cet égard des chrétiens qui se situent du côté du cognatisme en matière de filiation.
La deuxième partie déplace l’argument sur le terrain de l’économie. Chez les musulmans, le système parental est signe de fermeture ; seule la guerre de conquête, synonyme de re-distribution à large échelle des richesses, y est un facteur de développement. Chez les juifs, l’alternance entre endogamie et exogamie parentale aussi bien que locale, associée au maintien de liens autant paternels que maternels, privilégie la constitution de réseaux aux ramifications étendues. Ceux-ci sont prédestinés à servir de support à des opérations commerciales à distance. Enfin, chez les chrétiens, l’exogamie forcée, mais aussi la monogamie et l’impossibilité d’adopter – ce qui revient à conférer à la filiation une sorte d’instabilité structurelle – se révèlent un atout considérable d’un point de vue psychosocial. Poussant à dépasser l’horizon de ses proches pour trouver un conjoint, intériorisant la fragilité des lignages, l’exogamie incite à une ouverture maximale d’un point de vue sociologique ; elle favorise, conceptuellement, la circulation au détriment de la thésaurisation. Assortie de l’interdiction, elle aussi d’origine théologique, du prêt d’usure, elle conduit en outre à rechercher d’abord dans le progrès technique la voie du développement des forces productives. Mais l’importance de la forme que prend la famille en Occident ne relève pas seulement d’un principe abstrait, d’une aspiration à exploiter l’ouverture et l’incertitude, autrement dit à « entreprendre » au sens contemporain du terme. Car si l’Église proscrit l’usure, elle tolère en revanche le prêt avec intérêt en cas de versement différé de la dot. Du coup, le mariage devient le lieu où s’articulent potentiellement circulation des femmes et spéculation monétaire.
Moins nourrie que les précédentes et plus classique dans ses assises théoriques, la troisième partie couronne la démonstration au niveau de l’exercice du pouvoir et de la construction de l’État. Elle oppose ainsi deux modèles, à savoir le despotisme oriental et la souveraineté royale prévalant en Europe (excluant un peu trop rapidement la question du politique dans le cas du judaïsme, alors qu’elle se pose aujourd’hui avec l’État d’Israël). D’un côté, il y a une absence de médiation entre l’État – incarné par un pouvoir centralisé, autocratique et, surtout, exclusivement patrilinéaire (le harem comme ruche procréative) – et les « sujets », que ces derniers soient des paysans attachés à la terre ou des marchands. État et société y vivent dans des sphères presque entièrement étanches, la première assurant le maintien de son existence matérielle et de son appareil militaire par le biais d’un tribut imposé à la seconde. De l’autre côté, le système politique de l’Europe occidentale repose au contraire sur une solidarité sociale assez large car fondée sur la reconnaissance des deux lignées, paternelle et maternelle, et l’exigence d’alliances les plus ouvertes possible. Une hiérarchie sociale existe mais à l’intérieur même de cette solidarité englobante. Là encore le mariage joue un rôle puisque, à travers le mécanisme de la dot, il autorise une légère hypergamie féminine.
L’économie de Dieu est un livre que nous attendions depuis longtemps. G. Delille y combine avec succès et générosité les démarches historiques et anthropologiques. Sa fresque embrasse des espaces, des temporalités et des thématiques extrêmement divers, qu’il parvient à relier avec une puissance heuristique peu commune aujourd’hui. Ce véritable tour de force rend malaisée la critique. Si nous devions toutefois en formuler une, elle porterait sur le primat accordé à la notion d’échange matrimonial.
Celle-ci a été forgée par Claude Lévi-Strauss dans le cadre de la théorie anthropologique, dont Marcel Mauss est l’initiateur, d’un lien social fondamental qui reposerait sur la force de la dette. L’auteur des Structures élémentaires de la parenté, non sans avoir mis entre parenthèses le mariage arabe, avait rangé l’Occident sous la rubrique d’« échange généralisé ». Ce faisant, il diluait tellement la notion d’échange qu’elle devenait synonyme de simple « circulation ». Or G. Delille, ici comme dans ses travaux antérieurs (dont d’ailleurs ce livre est également l’heureuse synthèse), utilise les notions d’échange et de réciprocité de façon, nous semble-t-il, trop rigide. On voit mal comment un dispositif, qui exclut la possibilité d’un « retour » du transfert de la femme concédée en mariage avant cinq générations, peut être globalement conçu sous le régime de la réciprocité, même différée. En l’espèce, et plus encore dans la perspective comparative adoptée ici d’un seul système, de nature transformationnelle, du mariage judéo-islamo-chrétien, il semble plus sage de se contenter du vocabulaire de l’endogamie et de l’exogamie, même si celui-ci apparaît moins « accrocheur » que celui de l’échange matrimonial. Au reste, il s’agit là d’une objection de fond qui n’entache aucunement l’admiration que nous portons à ce livre appelé à devenir rapidement un classique des sciences sociales. Un seul regret le concernant : un appareil de références extrêmement fastidieux à utiliser. L’absence de notes en bas de page, toutes rejetées en fin de volume, et de bibliographie générale se voit bien mal compensée par l’index, aussi exhaustif soit-il.
Emmanuel Désveaux
DENILE, Gérard. L’économie de Dieu. Famille et marché entre christianisme, hébraïsme et islam. Paris: Les Belles Lettres, 2015. 344p. Resenha de: DÉSVEAUX, Emmanuel. Resenha de: Annales. Histoire, Sciences Sociales. Paris, n.4, 2016. Acessar publicação original [IF].
La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918) | Joseph M. Fradera
La gestación de La nación imperial, obra singular y monumental que consta de 1376 páginas repartidas en dos volúmenes, es fruto de un proceso de maduración que viene a ampliar el campo de acción de varios estudios que el historiador catalán Josep María Fradera ha realizado sobre el colonialismo español decimonónico, entre los que destacan Gobernar colonias (1999) y Colonias para después de un imperio (2005). En su nuevo libro, el autor ha decidido salir del ámbito estrictamente peninsular al comprobar la similitud entre las leyes especiales ideadas por Napoleón para las posesiones ultramarinas francesas a finales del siglo XVIII y el nuevo rumbo de los imperialismos europeos y norteamericano a lo largo del siglo XIX. Las fórmulas de especialidad que Fradera localiza en los principales imperios contemporáneos se verificarían hasta las descolonizaciones iniciadas en 1947 y – algo que queda fuera de los límites cronológicos del libro sin ceñir sus intenciones intelectuales – tendrían repercusiones hasta la actualidad.
Para llevar a cabo su investigación, Fradera cuestiona las categorías de los estudios coloniales y nacionales. En un cambio de escala analítica, el historiador desvela modalidades de concesión y restricción de derechos comunes a distintos imperios, más allá del enfoque clásico y circunscrito del Estado-nación [1]. Con todo, Fradera insiste en el hecho de que su trabajo no se debe comprender como un estudio de historia comparada en la acepción usual de la disciplina, ya que su propósito, como afirma, está menos “pensado para oscurecer las diferencias” que para “razonar las similitudes de casos muy diversos” (p. 1295). En este sentido, siempre vela por matizar las categorías generales de los imperios con las especificidades propias de los espacios considerados. Esta articulación entre lo macro y lo micro le permite centrar su análisis en las experiencias respectivas de los actores de la época [2].
En palabras de Josep M. Fradera, el giro historiográfico global actual “es en algún sentido una venganza contra la estrechez que impusieron las historias nacionales, el férreo brazo intelectual de la nación-estado” [3]. No es baladí indicar que Fradera, joven militante antifranquista, dio sus primeros pasos en la Universidad Autónoma de Barcelona a inicios de los años setenta, en el contexto de la revisión historiográfica alentada por las descolonizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial [4]. Impregnado por este cambio epistemológico y por las aportaciones más recientes de la historia global, el nuevo estudio de Fradera propone un marco interpretativo que contempla los imperios en sus interrelaciones y supera la anticuada dicotomía entre metrópolis y colonias. Siguiendo a especialistas como C. A. Bayly, Jane Burbank, Frederick Cooper y Jürgen Osterhammel, el historiador catalán quiere demostrar que los imperios desempeñaron un papel activo en la fabricación y la evolución de la ciudadanía y de los derechos, siempre con la idea de denunciar los nacionalismos contemporáneos, así como los atajos teleológicos y esencialistas que pudieron generar en el plano historiográfico.
Más allá de sus orientaciones metodológicas – e intelectuales -, La nación imperial constituye una aportación de primera importancia al ser, que sepamos, el primer estudio redactado en castellano que brinda un abanico espacio-temporal de semejante trascendencia. Al cotejar los grandes imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos entre 1750 y 1918 (con algunos apartados dedicados a Portugal y Brasil), el libro proporciona un análisis pormenorizado del proceso sinuoso que empieza con el advenimiento de la idea de libertad a raíz de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta la consagración de la desigualdad a nivel mundial a lo largo de las centurias siguientes.
Uno de los designios centrales del libro es evidenciar el modo en que las tensiones que sacudieron los grandes imperios occidentales a raíz de la era revolucionaria desembocaron en la adopción de fórmulas de especialidad o de “constituciones duales”, esto es, constituciones que establecían marcos legislativos distintos para las metrópolis y las posesiones coloniales. Es más, Fradera considera la práctica de la especialidad “como la columna vertebral del desarrollo político de los imperios liberales” (p. XV). Según explica, el proceso revolucionario que arrancó con el carácter radical y universalista de la idea de libertad presente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 conoció una involución notable en el siglo siguiente. La reconstrucción de los imperios tras las revoluciones supuso una delimitación cada vez más marcada en términos de representación entre metropolitanos – es decir, ciudadanos masculinos de pleno derecho – y ultramarinos, cuyos horizontes igualitarios se fueron desvaneciendo a medida que avanzó el ochocientos.
Fradera sostiene que el arduo equilibrio entre integración y diferenciación descansó sobre interrelaciones constantes entre metropolitanos y coloniales. Al comparar múltiples arenas imperiales, el autor muestra también que los paralelismos de ciertas políticas de especialidad respondieron a un fenómeno de emulación en las prácticas de gobierno colonial entre distintas potencias. Por otra parte, una perspectiva de longue durée le permite comprobar que los regímenes de excepción sobrevivieron al ocaso del mundo esclavista atlántico y se reinventaron con los códigos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX para extenderse a territorios de África, Asia y Oceanía. El título del libro, al asociar dos conceptos que no se solían pensar como un todo, sugiere, en última instancia, que las transformaciones de los imperios fueron determinantes en la forja de las naciones modernas.
El libro está estructurado en cuatro partes organizadas cronológicamente. La parte liminar resalta el carácter recíproco de la construcción de la idea de libertad entre los mundos metropolitanos y ultramarinos en los imperios monárquicos francés, británico y español durante los siglos XVII y XVIII. Los derechos y la capacidad de representación no se idearon primero en los centros europeos para ser exportados luego a las periferias, sino que se fraguaron de forma simultánea. Este enfoque policéntrico servirá de base analítica para explicitar la estrecha relación entre colonialismo y liberalismo que se impondrá tras la crisis de los imperios monárquicos en el Atlántico.
“Promesas imposibles de cumplir (1780-1830)” es el título de la segunda parte del libro. Se centra en la quiebra de los imperios monárquicos y muestra cómo la adopción de nuevas pautas constitucionales para las colonias y el advenimiento de situaciones de especialidad en el marco republicano contrastaron con los valores radicales sustentados por las revoluciones liberales de la época.
La independencia de las Trece Colonias, pese a la igualdad de principio que conllevaba, no supuso una ruptura con los patrones socioculturales instaurados por los británicos en el continente americano. La joven república norteamericana circunscribió la ciudadanía a sus habitantes blancos y libres (valga la redundancia) y estableció una divisoria basada en el origen sociorracial y el género. Indios, esclavos, trabajadores contratados y mujeres no tenían cabida en la “República de propietarios”, aunque permanecían en el “Imperio de la Libertad”.
Para Gran Bretaña, la separación de las Trece Colonias marcó un cambio de era e implicó una serie de transformaciones que llevaron la potencia a extenderse más allá del mundo atlántico – donde le quedaban, sin embargo, posesiones importantes – para iniciar su swing to the East, esto es, el desplazamiento de su dominio colonial hacia el continente asiático y el Pacífico. La administración de situaciones diversas del Segundo Imperio, que ya no se resumía a la ecuación binaria del hiato entre connacionales y esclavos, implicó tomar medidas políticas para gobernar a poblaciones heterogéneas que vivían en territorios lejanos. Entre los ejes principales del gobierno imperial, cabe destacar el papel central otorgado a la figura del gobernador y la no representación de los coloniales en el parlamento de Westminster, si bien se toleraban formas de representación a nivel local.
En Francia, las enormes esperanzas igualitarias suscitadas en 1789 fueron canalizadas dos años después con la adopción de una Constitución que sancionaba la marginalidad de los coloniales y establecía raseros distintos para medir la cualidad de ciudadano. Establecer un régimen de excepción en los enclaves del Caribe francés permitía posponer la cuestión ardiente de la esclavitud – abolida y restablecida de forma inaudita – y mantener a raya a los descendientes de africanos, ya fuesen esclavos o libres. Se postergaría igualmente la idea de una representación de los coloniales en la metrópolis.
La fórmula de “constitución dual” inventada en Francia encontraría ecos en España y Portugal. Los dos países ibéricos promulgaron sus “constituciones imperiales” respectivas en 1812 y 1822, en un contexto explosivo marcado por el republicanismo igualitario y el ejemplo de la revolución haitiana. Mientras que la Constitución española de 1812 limitaba los derechos de las llamadas “castas pardas”, los constitucionalistas portugueses hicieron caso omiso de los orígenes africanos, pero, en cambio, excluyeron a los indios de la ciudadanía. Pese a sus diferencias, los casos españoles y portugueses guardan similitudes que tienen que ver con el fracaso de sus políticas liberales de corte inclusivo en los años 1820, y con el retroceso significativo en términos legislativos que desembocarían en el recurso a regímenes de excepción a partir de la década siguiente.
La tercera parte de La nación imperial, intitulada “Imperativos de igualdad, prácticas de desigualdad (1840-1880)”, versa sobre la expansión de los imperios liberales en las décadas centrales del siglo XIX, época marcada por la estabilización de las fórmulas de especialidad y de los regímenes duales.
El imperio victoriano tuvo que encarar situaciones conflictivas muy diversas en sus posesiones ultramarinas heterogéneas. La resolución del Gran Motín indio de 1857-1858 constituyó una crisis imperial de primer orden que permitió a Gran Bretaña demostrar su capacidad de gobierno en el marco de una sociedad compleja y de un territorio enorme que no se podía considerar como una mera colonia. La India británica era, en palabras de Fradera, “un imperio en el imperio” (p. 504) que carecía de la facultad para autogobernarse y que, por lo tanto, tenía que ser administrada y representada de manera transitoria por la East India Company. El caso de las West Indies era distinto en la medida en que aquellas se podían definir como colonias. La revuelta sociorracial de habitantes del pueblo jamaicano de Morant Bay en 1865 y la sangrienta represión a que dio lugar tuvieron un impacto considerable en la opinión pública británica, ocasionando nuevos cuestionamientos sobre los efectos reales de la abolición de la esclavitud y el rumbo de la política caribeña. Como consecuencia, el Colonial Office decidió suprimir la asamblea jamaicana y conferir a la isla el estatuto de Crown Colony, lo que constituía una regresión constitucional en toda regla. La conversión de la British North America en dominion de Canadá en 1867 se resolvió de manera más pacífica, aunque la población francófona y católica sufrió un proceso de aminoración frente a los anglófonos protestantes, mientras que los pueblos indios de los Grandes Lagos perdieron sus tierras ancestrales.
Los sucesos revolucionarios de 1848 en Francia volvieron a abrir pleitos que el golpe napoleónico de 1804 había postergado. Se decretó finalmente la abolición definitiva de la esclavitud, sin resolver satisfactoriamente la situación subordinada de los antiguos esclavos. La Segunda República también heredó un mundo colonial complejo. Fue a raíz de la toma de Argel en 1830 cuando la política colonial francesa comenzó a diferenciar las “viejas” de las “nuevas” colonias. Mientras que en las primeras las personas libres gozaban de derechos políticos y de representación relativos, las segundas – a imagen de Argelia, que estaría regida por ordenanzas reales – se apartaban del espectro legislativo. En el marco de este replanteamiento imperial, se procedió a una redefinición múltiple de la ciudadanía, que se medía, entre otras cosas, según la procedencia geográfica de cada uno: metropolitanos, habitantes de las “viejas” colonias y, al pie de la escala simbólica de los derechos, habitantes de las “nuevas” colonias.
En Estados Unidos, los términos de la ecuación se presentaban de forma algo distinta. En efecto, a diferencia de los imperios europeos, las fórmulas de especialidad se manifestaron en el interior de un espacio que se entiende comúnmente como “nacional”. Con todo, dinámicas internas fraccionaron profundamente el espacio y la sociedad de este “imperio sin imperialismo” (p. 659). La expansión de los Estados esclavistas en el seno del “imperio de la libertad” constituyó una paradoja que solo se resolvería – aunque no totalmente – con la guerra de Secesión. De hecho, la “institución peculiar”, como se la llamaba, ponía al descubierto la diversidad social, étnica y cultural de una población norteamericana escindida en grupos con o sin derechos variables. La expansión de la frontera esclavista no solo concernía a los esclavos, sino que afectaba a poblaciones indias desposeídas de sus tierras y recolocadas en beneficio de oleadas sucesivas de colonos norteamericanos procedentes del Este y de europeos.
El carácter del Segundo Imperio español se aclaró con la proclamación de una nueva Constitución en 1837, que precisaba en uno de sus artículos adicionales que “las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. A pesar de que dichas leyes nunca fueron plasmadas por escrito, quedan explícitas en la práctica del gobierno colonial. A años luz de las promesas igualitarias de las primeras Cortes de Cádiz, las nuevas orientaciones políticas para Cuba, Puerto Rico y Filipinas pueden resumirse en una serie de coordenadas fundamentales: la autoridad reforzada del capitán general, el silenciamiento de la sociedad civil, la expulsión de los diputados americanos y la política del “equilibrio de razas” (es decir, la manipulación de las divisiones sociorraciales y la defensa de los intereses esclavistas).
La cuarta y última parte del libro, que lleva por título “La desigualdad consagrada (1880-1918)”, coincide con la época conocida como el high imperialism. Sus páginas prestan especial atención al desarrollo y consolidación de enfoques de corte racialista. El hecho de que las ciencias sociales se hicieran eco de las clasificaciones raciales propias del desarrollo de los imperios a partir de la segunda mitad del ochocientos demostraba que el Derecho Natural del siglo anterior ya no estaba al orden del día.
El mayor imperio liberal de la época, Gran Bretaña, refleja muy bien la exacerbación de la divisoria racialista con respecto al Segundo Imperio. Los discursos que defendían la idea de razas jerarquizadas se nutrieron de los debates en torno a la representación de los coloniales e impregnaron los debates relativos al imperio. Tal fue el caso, por ejemplo, de Australia, donde se excluyó de los derechos a una población tasmana diezmada por la violencia directa e indirecta del proceso de colonización. Sin embargo, conviene no olvidar que los discursos racialistas actuaron como coartada de la demarcación entre sujetos y ciudadanos.
Argelia fue una pieza esencial del ajedrez político de la Tercera República, en particular, porque se convirtió en laboratorio para las legislaciones especiales del Imperio francés. El Régime de l’indigénat representó la quintaesencia del ordenamiento colonial galo. Este régimen de excepción dirigido inicialmente contra la población musulmana de Argelia fue el broche de oro jurídico de las fórmulas de especialidad republicana hasta tal punto que fue exportado al África francesa y a la mayoría de las posesiones del sudeste asiático y del Pacífico. Esta política de marginalización y de represión propia de la lógica imperial se tiñó de acusados acentos etnocentristas para justificar la “misión civilizadora” de Francia.
La Revolución Gloriosa de 1868 llevó el Gobierno español a mover ficha en sus tres colonias. Si la Constitución del año siguiente anunciaba reformas políticas para Cuba y Puerto Rico, las islas Filipinas quedaban sometidas a la continuidad de las famosas – e inéditas – “leyes especiales”. El ocaso del sistema esclavista explicaba en buena medida el cambio de rumbo colonialista en los dos enclaves antillanos, así como sus dinámicas propias. El archipiélago filipino pasó por un proceso de transformación económica, acompañado de reformas locales de alcance limitado y por una racialización política cada vez más intensa. Los fracasos ultramarinos de la España finisecular tendrían repercusiones en el espacio peninsular con la exacerbación de no pocos afanes de autogobierno a nivel regional.
Estados Unidos conoció serias alteraciones en su espacio interno tras la Guerra Civil. La reserva india, que emergió en el último tercio del siglo XIX, era un zona de aislamiento cuyos miembros no gozaban de derechos cívicos y a los se pretendía incluir en la comunidad de ciudadanos mediante políticas de asimilación. En este sentido, las reservas eran espacios de la especialidad republicana. La victoria de los unionistas distó mucho de significar la superación del problema esclavista y, sobre todo, de sus secuelas. El hecho de que el voto afroamericano se convirtiera en realidad en el mundo posterior a 1865 – conquista cuya trascendencia conviene no subestimar – no impidió que las elites políticas blancas siguieran llevando las riendas del poder, tanto en el Norte como en el Sur. En los antiguos Estados de la Confederación, ya no se trataba de mantener la esclavitud, sino de preservar la supremacía blanca. La segregación racial, que se puede asemejar a una práctica de colonialismo interno, contribuyó a instaurar situaciones de especialidad en las que los afroamericanos serían considerados como súbditos inferiores. En el ámbito externo, el fin de siglo sentó algunas de las bases futuras de este “imperio tardío” (p. 1276). Estados Unidos expandiría sus fronteras imperiales al ejercer su dominio sobre las antiguas colonias españolas y al formalizar el colonialismo que practicaba de hecho en Hawái y Panamá.
Resulta difícil restituir de forma tan sintética los mil y un matices delineados con una precisión a veces quirúrgica en los dos gruesos volúmenes que componen La nación imperial. La elegancia del estilo, la erudición del propósito y los objetivos colosales del libro – que se apoya en una extensa bibliografía plurilingüe – acarrean no pocas repeticiones. Pese a una edición cuidada, se echa en falta la presencia de un índice temático (además del onomástico) y de una bibliografía al final de la obra. Estos escollos, que incomodarán sin duda al lector en busca de informaciones y análisis sobre temas específicos, no cuestionan de modo alguno el hecho de que La nación imperial sea un trabajo muy importante y sin parangón.
Creemos que Josep María Fradera ha alcanzado su objetivo principal al mostrar, como indica en sus “reflexiones finales”, que “la crisis de las ‘monarquías compuestas’ (…) no condujo al Estado-nación sin más, sino a formas de Estado imperial que eran la suma de la comunidad nacional y las reglas de especialidad para aquellos que habitaban en los espacios coloniales” (p. 1291). Otra de las grandes lecciones del libro es que el etnocentrismo europeo no basta para explicitar el modo en que se articularon definiciones y jerarquizaciones cada vez más perceptibles de las poblaciones variopintas de imperios cuyas fronteras políticas, sociales y culturales fueron mucho más borrosas de lo que se suele pensar. El racismo biológico a secas nunca estuvo en el centro de las políticas imperiales, aunque pudo manifestarse puntualmente para justificar algunas de sus orientaciones. Lejos de responder a esquemas estrictamente dicotómicos, las lógicas imperiales, además de relaciones de poder evidentes, estuvieron condicionadas por una tensión permanente en cuyo marco la capacidad de representación – por limitada y asimétrica que fuese -, la sociedad civil y la opinión pública fueron decisivas. En última instancia, el largo recorrido por las historias imperiales invita a adoptar una mirada más crítica acerca de problemáticas tan actuales como el lugar ocupado por ciudadanos de segunda categoría en el interior de antiguos mundos coloniales que no han resuelto las cuestiones planteadas por el despertar de los nacionalismos, la inmigración de nuevo cuño y la construcción de apátridas modernos.
Notas
1. Al respecto, véase Jane Burbank y Frederick Cooper, “Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3/2008, pp. 495-531.
2. Sobre el valor heurístico del vaivén entre varias escalas de análisis puede consultarse el estudio de Romain Bertrand, “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, Prohistoria, 24/2015, pp. 3-20.
3. Josep M. Fradera, “Historia global: razones de un viaje sin retorno”, El Mundo, 04/6/2014 [http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/04/538ed57f268e3eb85a8b456e.html].
4. Jordi Amat, “Josep María Fradera y los estados imperiales”, La Vanguardia, 23/5/2015.
Karim Ghorbal – Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Universitéde Tunis El Manar (Tunísia). E-mail: [email protected]
FRADERA, Joseph M. La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918). Barcelona: Edhasa, 2015. 2 vols. Resenha de: GHORBAL, Karim. Los imperios de la especialidad o los márgenes de la libertad y de la igualdad. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 287-295, set./dez., 2016.