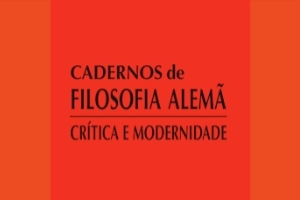Filosofia
Filosofia e História da Biologia | USP | 2006
Filosofia e História da Biologia (São Paulo, 2006-) é uma revista da USP com a parceria da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB). Ela integra as publicações do Centro Interunidades de História da Ciência (CHC) da Universidade de São Paulo. Criada em 2006, passou a ter periodicidade semestral a partir de 2010.
Publica artigos resultantes de pesquisas originais referentes a filosofia e/ou história da biologia e suas interfaces epistêmicas, como história e filosofia da biologia e educação científica.
[Periodização semestral].Acesso livre.
ISSN 1983-053X (Impressa)
ISSN 2178-6224 (Online)
Acessar resenhas [Ainda não publicou resenhas]
Acessar dossiês [Ainda não publicou dossiês]
Acessar sumários [Disponível somente a partir de 2020]
Acessar arquivos
Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano – KILOMBA (AF)
Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano – KILOMBA (AF)
Grada Kilomba. Foto: Divulgação.

Ao ler Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano, de Grada Kilomba, a primeira sensação é de um lago calmo, de águas paradas que, quando tocado, provoca ondulações que reverberam em camadas. Quando as fraturas e os traumas produzidos ao longo de séculos são ratificados no contexto político atual por meio de uma política genocida de corpos e identidades diaspóricas, ler Grada Kilomba é uma convocação a revisarmos nossa existência. Por isso, ainda que muito depois de sua publicação original, esse livro chega ao Brasil no tempo certo.
A versão em português de sua tese de doutorado, tese esta laureada, em 2008, com a “mais alta (e rara) distinção acadêmica” (p. 12), nos diz muito mais do que havia sido registrado em sua versão original, escrita em inglês, pois reitera o quanto nosso idioma oficial é colonial e colonizado. Na “Carta da autora à edição brasileira”, coube à Grada Kilomba criar um glossário de termos coloniais, racistas e patriarcais para ressaltar terminologias produtora s do trauma racial, nos lembrando de que “cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade” (p. 14). Assim, enquanto algumas palavras são registradas em itálico devido à problemática “das relações de poder e de violência” (p. 15), outras são simplesmente abreviadas e grafadas em letra minúscula para que, no processo almejado por seu estudo, que envolve a “desmontagem da língua colonial” (p. 18), não rememoremos termos que expressam traumas. Essa primeira característica é imprescindível para o exercício proposto pela autora de produzir oposição absoluta ao “que o projeto colonial predeterminou” (p. 28). Por isso, neste texto, eu também utilizarei os mesmos formatos e, tal qual ela, produzirei o texto em primeira pessoa. Escrever em primeira pessoa e demarcar sua subjetividade é, sem dúvida, uma convocação de Grada Kilomba a todas as pessoas negras que lêem seu livro. Mas vai além, pois propõe o despojamento das armaduras coloniais e acadêmicas que nos aprisionam em modelos rijos de produção científica. Isso se evidencia não somente pela introdução (denominada “Tornando-se sujeito”), mas por todo o sumário, cuja proposta é de identificar, tratar e curar o trauma vivenciado pelo contato da pessoa negra com a branca, no processo de colonização de corpos e mentes da segunda sobre a primeira. Por isso, nada mais propício do que Memórias da plantação como título da obra, dada a capacidade de captura e dissecação do trauma colonial produzido por meio da Plantation. O seu subtítulo compromete-se com a contemporaneidade e a atemporalidade do trauma: o racismo cotidiano que “de repente coloca o sujeito negro em uma cena colonial na qual, como centro do cenário de uma plantação, ele é aprisionado como a/o ‘ Outra/o ’ subordinado e exótico” (p. 30).
Seu estudo tem como objetivo exprimir a realidade psicológica do racismo cotidiano manifestado, na forma de episódios, por relatos subjetivos, autopercepções e narrativas biográficas, de duas mulheres negras, sendo uma afro-alemã e outra afro-estadunidense que vive na Ale manha. Nesse processo, uma segunda marcante característica é o comprometimento da obra com uma abordagem interpretativa fenomenológica, envolvendo duas importantes dimensões: a escrita em primeira pessoa, entendendo que “[e]u sou quem descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como ato político. […] enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade da minha própria história.” (p. 28); o investimento na mais descrição do fenômeno em si e menos na abstração dos relatos subjetivos de mulheres negras, sob pena de esse processo “facilmente silenciar suas vozes no intuito de objetivá-las sob terminologias universais” (p. 89). Assim, seu estudo responde a um “desejo duplo: o de se opor àquele lugar de ‘Outridade’ e o de inventar a nós mesmos de (modo) novo” (p. 28).
Dividido em quatorze capítulos, Grada Kilomba perfaz as estratégias raciais operadas pela Plantation e atualizadas nas ações cotidianas contemporâneas. O silêncio é metaforizado, no primeiro capítulo, pela máscara, representante do colonialismo. De outro lado, as metáforas do mito da objetividade e da neutralidade acadêmica são exploradas no segundo capítulo (intitulado “Quem pode falar? Falando do Centro, Descolonizando o Conhecimento”), atuando, ao lado do primeiro, como um exercício de dissecação do racismo como discurso, e explorando e denunciando os processos de descrédito intelectual e acadêmico produzido sobre os corpos e identidades postas à margem. Com isso, a primeira cura ao trauma proposta pela autora envolve a necessidade de descolonização do conhecimento, reconhecendo a potência da posição à margem: “Falar sobre margem como um lugar de criatividade pode, sem dúvida, dar vazão ao perigo de romantizar a opressão. […] No entanto, bell hooks argumenta que este não é um exercício romântico, mas o simples reconhecimento da margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local. A margem é tanto um local de repressão quanto um local de resistência […]” (p. 69). Isso envolve, pelo próprio exercício realizado pela autora, o reconhecimento de outras metodologias investigativas e de outros olhares interpretativos. O modo de produzir a pesquisa é impactado diretamente, pois realça as maneiras com o nos apresentamos ao mundo e como somos afetados pelo mundo à nossa volta. Assim, no texto de Grada Kilomba, somos, com nossa subjetividade e experiência individual com o racismo, convocadas/os a nos apresentar ao estudo, como interlocutoras/es ativas/os, críticas/os e conscientes do nosso papel social. É nessa perspectiva que sou impelida a assumir minha posição neste texto resenhístico a partir da minha trajetória pessoal como mulher negra e vivenciadora de experiências cotidianas com o racismo. Não seria possível de outro modo produzir qualquer síntese crítica da obra em questão.
O capítulo 3, “Dizendo o indizível – Definindo o racismo”, produz uma revisão teórica condizente com a proposta de descolonização do conhecimento: ao invés de recuperar a etimologia do termo e sua trajetória ao longo dos séculos, o racismo é apresentado por meio de autoras/es que o interpretam no plano cotidiano das relações sociais. Philomena Essed e Paul Mecheril são os nomes de destaque responsáveis por expor as próprias teor ias raciais e o protagonismo branco em suas definições: “Nós somos, por assim dizer, fixadas/os e medidas/os a partir do exterior, por interesses específicos que satisfaçam os critérios políticos do sujeito branco […]” (p. 73). Assim, a autora acena uma problemática pouco explorada quando se discute o mito da neutralidade: a de que as formulações, teorizações e epistemologias sobre o racismo podem estar sendo confortavelmente produzidas por intelectuais brancas/os que não necessariamente revisam sua própria condição de branquitude. Por isso o capítulo ressalta a necessidade de a pessoa negra tornar-se sujeito falante, ou, nas palavras de Mecheril (p. 74), a “perspectiva do sujeito”, em nível político, social e individual. Ao fazer isso, a autora encaminha-se para a definição do racismo por meio de três características simultâneas por ele assumidas: a construção de/da diferença; a ligação com valores hierárquicos intrínsecos; e o poder de base histórica, política, social e econômica. E, ao expor tais características, a autora ressalta uma afirmação amplamente difundida por nós, estudiosas/os negras/as das relações raciais, em especial no contexto brasileiro: “É a combinação do preconceito e do poder que forma o racismo. E, nesse sentido, o racismo é a suprema cia branca. Outros grupos raciais não podem ser racistas nem performar o racismo, pois não possuem o poder” (p. 76). É imprescindível, para nós, que intelectuais negras/os e intelectuais brancas/os engajadas/os assumam tal perspectiva pois, ainda que seja um aspecto simples e óbvio na interpretação das relações raciais, a compreensão de que poder e racismo são intrinsecamente ligados é uma operação complexa para muitos que resistem em manter sua perspectiva colonial e colonizadora de enxergar o mundo.
Contudo, um aspecto pouco explorado pela autora são as facetas desse racismo: ao passo que ela se dedica a explorar com relativo detalhamento alguns aspectos do cotidiano dos discursos racistas, ao procurar definir racismo estrutural e institucional, Grada Kilomba restringe-se a apresentá-los de modo sintético e sinonímicos, em certa medida. Já a descrição e conceituação do “racismo cotidiano”, uma categoria proposta pela autora – e que, como já destacado desde o início deste texto, representa sua base analítica –, há um maior detalhamento, com destaque para as formas em que o sujeito negro é percebido e que o relegam à condição de “outro”: infantilização, primitivização, incivilização, animalização e erotização. Nesse sentido, a autora conclui que é nos contextos cotidianos que a pessoa negra se depara com tais formas e, por isso, não se trata de experiências pontuais e sim corriqueiras que se repetem “incessantemente ao longo da biografia de alguém” (p. 80).
Nesse capítulo são apresentados os pressupostos metodológicos da pesquisa a partir da perspectiva da “pesquisa centrada em sujeitos ”, tomando como referencial analítico a teoria psicanalítica e pós-colonial a partir de Frantz Fanon. Nessa dimensão, a pesquisa emerge no exame das “experiências, autopercepções e negociações de identidade descritas pelo sujeito e pela perspectiva do sujeito ” (p. 81) e do study up, proposta metodológica em que pesquisadoras/es investigam membros do seu próprio grupo social. Tal proposta é mediada por uma “subjetividade consciente”: a compreensão de que ainda que a/o pesquisadora/a – e membro do grupo – não aceite sem críticas todas as declarações da pessoa entrevistada, ela respeita seus relatos acerca do racismo e demonstra “interesse genuíno em eventos ordinários da vida cotidiana” (p. 83). Assim, as relações hierárquicas frequentemente produzidas entre pesquisadoras/es e informantes é diminuída, considerando o compartilhamento de experiências semelhantes com o racismo. Co m o desenho da pesquisa delimitado, o capítulo adentra na descrição dos procedimentos das entrevistas “ não diretivas baseadas em narrativas biográficas ” (p. 85), que envolveram eixos como: percepções de identidade racial e racismo na infância; experiências pessoais e vicárias de racismo na vida cotidiana; percepções de branquitude no imaginário negro ; percepções de beleza feminina negra e questões relacionadas ao cabelo; percepções de feminilidade negra, entre outras. Foram, ao todo, seis mulheres negras participantes: “três afro-alemãs e três mulheres de ascendência africana que vivem na Alemanha: uma ganense, uma afro-brasileira e uma afro-estadunidense” (p. 84), mas ao final apenas duas – Alicia (afro-alemã) e Kathleen (afro-estadunidense) – tiveram suas entrevistas analisadas, devido ao fato, segundo a autora, de que as demais narrativas “não eram tão ricas e diversas quanto as de Alicia e Kathleen” (p. 84). As entrevistas, respondidas em inglês, alemão e português, captaram as mais diversas percepções acerca das memórias e contato com o racismo cotidiano, tema dos capítulos seguintes do livro.
Mas antes das análises, a autora mais uma vez assume a subjetividade como marca da descolonização acadêmica e mental para conectar raça e gênero a partir de uma experiência pessoal vivida: no capítulo 4 “Racismo genderizado – ‘(…) Você gostaria de limpar nossa casa?’ – Conectando ‘raça’ e gênero”, Grada Kilomba explora a necessidade de interpretações entrecruzadas sobre o racismo cotidiano que marca as experiências de mulheres negras, que são racializadas e generificadas. Para tanto, recupera perspectivas de Essed, Fanon, bell hooks, Heidi Safia Mirza e outras para interpretar, analisar e argumentar como operam as correlações entre mulheres negras e homens negros, mulheres brancas e homens brancos na interface de temas como patriarcado, feminismo, sexismo e violência. São expostas contradições do discurso feminista branco, da ideia de sororidade universal, e são evidenciados os limites do homem negro que não é “beneficiado” com o patriarcado. Por outro lado, sua perspectiva também ressalta a condição em que o termo “homem” é utilizado por Fanon tanto para designar “homem negro ” quanto “ser humano”, que acaba por realçar o masculino como condição única de representação da humanidade. Por isso, ressalta a autora, que a “reivindicação de feministas negras não é classificar as estruturas de opressão de tal forma que mulheres negras tenham que escolher entre solidariedade com homens negros ou com mulheres brancas, entre ‘raça’ ou gênero, mas ao contrário, é tornar nossa realidade e experiência visíveis tanto na teoria quanto na história” (p. 108).
Por meio de categorias, trechos das narrativas das entrevistadas foram divididos em capítulos, por temas. No capítulo 5, “Políticas espaciais”, os relatos dimensionam as experiências relacionadas à “Outridade”, ao estrangeirismo e ao estranhamento daquelas mulheres na Alemanha, país onde vivem. Perguntas como “De onde você vem?”, “Como ela fala alemão tão bem?” ou afirmações do tipo “Mas você não pode ser alemã!” são marcadores latentes nos relatos das entrevistadas, refletindo uma espécie de fantasia que domina a realidade acerca da história alemã, ignorando que existem várias histórias sobre uma mesma localidade. Assim, analisa a autora: “racismo não é a falta de informação sobre a/o ‘Outra/o’ – como acredita o senso comum –, mas sim a projeção branca de informações indesejável na/o ‘Outra/o’. Alicia pode explicar eternamente que ela é afro-alemã, contudo, não é sua explicação que importa, mas a adição deliberada de fantasias brancas acerca do que ela deveria ser […]” (p. 117).
O capítulo seguinte, “Políticas do cabelo”, analisa as experiências de violência e opressão que incidem sobre a imagem, autoestima e identidade das mulheres entrevistadas, ressaltando que existe “uma relação entre a consciência racial e a descolonização do corpo negro, bem como entre as ofensas racistas e o controle do corpo negro ” (p. 128). Na tentativa de aliviar as violências sofridas, a adoção de procedimentos de desracialização do “sinal mais significativo de racialização” (entendido, pela autora, como sendo o cabelo) é uma ação latente nas narrativas das entrevistadas. Mas oscilam, em seus discursos, a percepção da invasão de seus corpos por meio do toque, dos olhares de nojo e desprezo e experiências de resistência e consciência política.
“As políticas sexuais” são abordadas no sétimo capítulo da obra e apresentam o cerne da discussão em torno da objetificação e expropriação da humanidade do corpo negro. As histórias, cantigas, mitos e narrativas difundidas desde a infância constroem, para negras/os e brancas/os, uma barreira racial repleta de violência, sadismo e ódio. A autora explora, por meio da noção de “constelação triangular” (forjada a partir do complexo de Édipo em Freud e das ampliações analíticas de Fanon), as situações cotidianas em que o racismo é produzido sem nenhum cerceamento e, pelo contrário, muitas vezes apoiado por outrem: “Por conta de sua função repressiva, a constelação triangular, na qual pessoas negras estão sozinhas e pessoas brancas como um coletivo, permite que o racismo cotidiano seja cometido” (p. 137). Esse processo de triangulação também opera em contextos em que o homem negro é alvo do ódio do homem branco: “Dentro do triângulo do racismo, o sujeito branco ataca ou mata o sujeito negro para abrir espaço para si, pois não pode atacar ou matar o progenitor” (p. 140).
No capítulo 8, intitulado “Políticas da pele”, os relatos das entrevistadas são analisados sob a perspectiva d a deturpação versus identificação racial, que envolvem processos de negação da negritude feita pela pessoa negra ou branca, a depender das relações afetivas estabelecidas entre ambas. É o caso relatado por Alicia, ao ouvir de sua amiga branca que ela não era negra, ou de sua família adotiva, que se referia a ela como mestiça (Mischling), ao passo que as demais pessoas negras eram referidas pejorativamente como N. (Neger). Grada Kilomba interpreta tal processo como um misto entre fobia racial e recompensa: “Isso permite que sentimentos positivos direcionados a Alicia permaneçam intactos, enquanto sentimentos repugnantes e agressivos contra sua negritude são projetados para fora” (p. 147).
Numa categoria maior, intitulada anteriormente em seu texto como “cicatrizes psicológicas impostas pelo racismo cotidiano” (p. 92), a autora engloba os capítulos de 9 a 12. O primeiro deles, “A palavra N. e o trauma”, a dor, aspecto central de sua tese, é retomada a partir de narrativas que envolvem o contato com a violência exotizadora por meio da utilização discursiva de termos racistas. Para tanto, o capítulo inicia com a narrativa de Kathleen que ouviu de uma criança branca: “Que Negerin [Feminino de Neger ] linda! A Negerin parece tão legal. E os olhos lindos que a Negerin tem! E a pele linda que a Negerin tem! Eu também quero ser uma Negerin !”. Ao afirmar que quer ser uma Negerin também, a menina produz um efeito duplo: de reafirmação de sua posição d e sujeito branco – pois Negerin “nunca significa ser chamada/o apenas de negra/o; é ser relacionada/o a todas as outras analogias que definem a função da palavra N. ” (p. 157) – e recolocação da vítima na cena colonial original: “Essa cena revive, assim, um trauma colonial. A mulher negra continua a ser o sujeito vulnerável e exposto, e a menina branca, embora muito jovem, permanece a autoridade satisfeita” (pp. 157-158). O trauma causa dor, demonstrando os efeitos psicossomáticos do racismo por meio da necessidade de transferir a experiência psicológica para o corpo, buscando “uma forma de proteção do eu ao empurrar a dor para fora (somatização)” (p. 161).
“Segregação e contágio racial” é o título do capítulo 10, no qual o medo branco é acionado pela metáfora da luva branca utilizada por pessoas negras forçadamente quando tinham que tocar o mundo branco. Como descreve a autora, as luvas atuavam como uma “membrana, uma fronteira separando fisicamente a mão negra do mundo branco, protegendo pessoas brancas de serem, eventualmente, infectadas pela pele negra ” (p. 168). O efeito nefasto vai, contudo, além, pois as luvas que aliviavam o medo branco da contaminação “ao mesmo tempo, evitavam que negras e negros tocassem os privilégios brancos ” (p. 168). Outra metáfora acionada no capítulo é: “uma pessoa negra tudo bem, é até interessante, duas é uma multidão” (p. 170), expondo a faceta da solidão de pessoas negras em espaços segregados e o quanto suas ações são constantemente vigiadas e avaliadas. Esse tema liga-se diretamente ao capítulo seguinte, “Performando negritude”, em que o sujeito que representa a exceção é exposto e cobrado pois, ao mesmo tempo em que é alvo do medo e do ódio, deve “representar aquelas/es que não estão lá” (p. 173). Por isso, o questionamento e a comprovação da capacidade intelectual é uma marcante nas narrativas das entrevistadas. Ser “três vezes melhor do que qualquer pessoa branca para se tornar igual” (p. 174), faz dela uma pessoa “tríplice” e, assim, a compensação é acionada: “Você é negra, mas…” inteligente. A inteligência existe “desde que seja comparada à branquitude” (p. 177). Outros aspectos explorados no capítulo relacionam-se à recolocação geográfica do estrangeira/o ou da pessoa negra para fora, para a margem, e o racismo explícito, endossado por um processo discurso alienante, pois a pessoa é insultada sem ser alvo direto do insulto, retomando, novamente, as constelações triangulares. Tais contextos são ressaltados mais uma vez pela autora como mostras do racismo cotidiano.
O último capítulo da categoria “cicatrizes psicológicas…” é intitulado “Suicídio”. Sem dúvida é o máximo e último estágio do trauma e o mais eficaz do racismo. É quando o “ sujeito negro representa a perda de si mesmo, matando o lugar da Outridade” (p. 188). Tal capítulo é fruto da recorrência de narrativas das mulheres entrevistadas sobre experiências diretas com o suicídio (seja da mãe, da amiga…) e da necessidade de tratar o trauma. Assim, nos lembra Grada Kilomba que, no contexto da escravização, toda a comunidade negra era punida quando um de seus membros tentava ou cometia suicídio. Isso não explicita apenas o óbvio (o interesse das/os escravizadoras/es em não perder sua propriedade), mas, principalmente, “revela um interesse em impedir que as/os escravizadas/os africanas/os se tornem sujeitos ”. Por isso o suicídio “é, última instância, uma performance de autonomia” (p. 189). Mas não somente esse aspecto é explorado: a autora também analisa como a figura da mulher negra forte e, portanto, sem necessidade de apoio psicológico, é recorrente na trajetória de vítimas de suicídio. Essa imagem é uma resposta à outra figura estereotipada da mulher negra como preguiçosa e negligente em relação às suas filhas e filhos. Portanto, num duplo processo de estereotipia, as “mulheres negras só se encontram na terceira pessoa, quando falam de si mesmas através de descrições de mulheres brancas ” (p. 195).
Por fim, os últimos capítulos são dedicados ao tratamento: correspondem à categoria “estratégias de resistência” (p. 92). “Cura e transformação” intitula o 13º capítulo, e analisa situações vivenciadas por Kathleen (ao enfrentar um contexto de racismo) e Alicia (ao se reconectar consigo mesma). Dois marcadores desse capítulo são, portanto, a desalienação e o reencontro com seu coletivo. O contato com leituras, com suas histórias e com seus iguais emergiram nos discursos das duas mulheres entrevistadas atuando de modo a reparar uma conexão interrompida. É latente, nesse sentido, a narrativa de Alicia sobre o fato de inicialmente não entender e aceitar que pessoas negras desconhecidas a cumprimentassem e depois reconhecer o laço histórico que as une. Ao ser chamada de irmã (sistah) por um jovem negro, sua percepção foi de que “‘Sim, sistah, eu sei o que você passou. Eu também. Mas eu estou aqui… Você não está sozinha.’” (p. 210).
A “reparação traumática” é acionada por Alicia, assim como foi por Kathleen, quando enfrentou sua vizinha que insistia em manter um boneco negro como “enfeite” na varanda de sua casa. Esse processo liga-se diretamente à conclusão do livro, no capítulo “Descolonizando o eu”. Entre outros elementos explorados e retomados pela autora, está a proposição mais significativa para a cura do trauma: ao invés de perguntar à vítima o que ela fez diante do racismo cotidiano (e sempre inesperado), sua proposição é que a pergunta seja: “O que o racismo fez com você?”. “A pergunta é direcionada para o interior […] e não para o exterior”, produzindo um efeito de empoderamento “no qual alguém se torna o sujeito falante, falando de sua própria realidade” (p. 227). Mas, principalmente, a proposição de novas fronteiras é o elemento central da cura: é quando, para a autora, o triângulo é modificado e não mais são respondidas as perguntas produzidas pela branquitude que, verdadeiramente, não está interessada em respostas, mas sim na experiência de ocupar a posição de falantes sobre o sujeito negro. A cura também ocorre com a superação do perfeccionismo e a assunção da desalienação. A autora demonstra como todo esse processo opera por meio de cinco mecanismos diferentes de defesa do ego: negação (do racismo e reprodução da linguagem da/o opressora/opressor); frustração (percepção de sua condição de exclusão no mundo conceitual branco); ambivalência (coexistência de amor e ódio, nojo e esperança, confiança e desconfiança para com pessoas brancas); identificação (a busca por sua história e a produção da identificação positiva com sua própria negritude); descolonização: “não se existe m ais como a/o ‘Outra/o’, mas como o eu” (p. 238).
Ao pensar no contexto contemporâneo em que o racismo à brasileira vem assumindo novas configurações, a obra de Grada Kilomba não somente oferece respostas à cura do trauma, mas reafirma a necessidade de assumirmos a nossa história. Retomando a metáfora inicial do lago antes calmo e agora agitado pela reverberação das ondas, um convite inicial e retomado ao final do livro também é feito neste texto: “Somos eu, somos sujeito, somos quem descreve, somos quem narra, somos autoras/es e autoridade da nossa própria realidade […] tornamo-nos sujeito ” (p. 238).
Débora Oyayomi Araujo-Doutora Educação (UFPR) e Licenciada em Letras (Unespar). Professora de Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Espírito Santo. Coordenadora do LitERÊtura-Grupo de estudos e pesquisas em diversidade étnico-racial, literatura infantil e demais produtos culturais para as infâncias. E-mail: [email protected]
Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras | J. M. Mendonça, L. Teixeira e B. G. Mamigonian
Beatriz Gallotti Mamigonian. Foto: LEHMT |

Convencionou-se adotar o racismo como contexto imperante, engessando as ações dos indivíduos, na qual a experiência do pós-abolição de São Paulo é imposta para as mais diversas regiões do país. Mas o livro, magistralmente, inverte a lógica. Todos os artigos se concentram nas ações desses indivíduos, no sul do país, e a partir delas que o contexto é (re)construído. São eles os balizadores das experiências limites, que ultrapassam fronteiras estruturalmente e artificialmente construídas pela historiografia, das décadas de 70 e 80. Portanto, a mudança teórica para a microanálise é o grande trunfo do livro.
Dentre os mais diversos temas de pesquisas existentes nos pós-abolição – dentre os quais destaco: saúde, migrações, expressão cultural, identidades, gênero, quilombolas, atuação política, entre outros – o livro foi certeiro em escolher dois: associativismos e trajetórias. Em primeiro lugar, encontra-se a importância de se demonstrar como a população negra não adentrou o pós-abolição de forma desorganizada, muito pelo contrário, as associações demonstraram a reunião em torno de projetos coletivos e racialmente orientados, constituindo grupos de apoio mútuo no combate ao racismo. Essa experiência compartilhada orientou e viabilizou projetos que colocavam na praça e na opinião pública a discussão sobre o processo de racialização que a sociedade passava, durante a Primeira República. A segunda grande contribuição do livro versa sobre as trajetórias. Apesar de a maior parte dos autores não realizarem uma boa discussão diferenciando trajetórias de biografias, as experiências individuais, coletivas, e, principalmente, familiares trazem uma ótima reflexão sobre o papel dessa parcela da população na construção da sociedade, do pós-abolição. A mudança de ótica da macroestrutura imobilizadora de ações individuais para a microanálise mostrou como eles usaram as incoerências dos sistemas normativos para ultrapassar as barreiras do racismo imperante para construir um novo contexto e impor também os seus projetos e desejos.
O primeiro artigo da coleção apresenta o estado da arte da discussão bibliográfica sobre os associativismos negros no período pós-abolição. Petrônio Domingues, em seu artigo, tenta atingir todas as múltiplas experiências de associativismos negros, no pós-abolição.
Verdade seja dita, os limites de páginas impostos ao autor não tiram o brilho e o trabalho empenhado para tentar acompanhar uma produção bibliográfica em ampla expansão. Petrônio elenca as associações voluntárias, tais como: agremiações beneficentes, clubes sociais, centros cívicos, sociedades carnavalescas, ligas desportivas que no seu entender são catalisadoras de laços de solidariedade e união em prol de um fim coletivo. Somado a isto também levanta a bibliografia referente as trajetórias de suas lideranças, formas de resistência, lutas, acomodações, as estratégias, as ações coletivas e o papel das mulheres. Lembra o autor que a maior parte dessas associações investiu fortemente na formação educacional de seus membros e parentes, principalmente através de cursos alfabetizantes e montando bibliotecas. Por fim, para além das atividades objetivas, muitas dessas associações foram responsáveis em oferecer uma gama importante de atividades recreativas, tais como: bailes, festas, competições, concurso de fantasias, desfiles, entre outros.
Na esteira da discussão sobre a importância dos clubes negros, uma das mais importantes contribuições do livro vem do artigo de Fernanda Oliveira. Fruto de sua Tese de Doutorado, intitulada As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, cidadania e racialização na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960), o artigo condensa as principais conclusões. De longe, a mais importante foi a demonstração das trocas transnacionais de informações entre membros de clubes negros do Brasil e do Uruguai. Com isso demonstra belamente que os limites nacionais não foram impeditivos aos sujeitos de compartilharem experiências cotidianas de discriminação.
Nos capítulos seguintes conseguimos ter uma visão ampla sobre a quantidade e importância das associações negras. Racke e Luana Teixeira apresentam as agremiações em Florianópolis: o Centro Cívico e Recreativo José Arthur Boiteux (1915-1920), as Escolas de Samba “Os Protegidos da Princesa” e a “Embaixada Copa Lord”. Assim como no Paraná, Merylin Ricieli dos Santos pesquisa a existência do “Clube Treze de Maio” de Ponta Grossa, a partir de entrevistas. Em todos os trabalhos a tônica se mantêm quase a mesma, a de reforçar a existência de associações com uma identidade étnico-racial constituída e organizada politicamente com objetivos específicos.
Chegando a parte 2 do livro temos mais uma importante contribuição aos estudos do pós-abolição: as trajetórias. Nos capítulos que seguem fica claramente distinto tanto os aportes teóricos quanto a metodologia em diferenciar trajetórias individuais e coletivas.
Sobre a segunda, vale a pena reforçar nesses estudos o quanto o fortalecimento das famílias negras foi importantíssima estratégia para a manutenção da vida e consequente para a mobilidade social de seus integrantes. Logo, separaremos as pesquisas nos dois blocos: indivíduos e famílias.
São variadas e importantes trajetórias individuais externadas pelos pesquisadores. Zubaran, por exemplo, ressaltou as vidas de médicos negros, a saber: Alcides Feijó das Chagas Carvalho – graduado em 1916, defendia o “saneamento moral” obtido por meio da educação que levantaria a “moral” da comunidade negra; Arnaldo Dutra, diretor dos jornais O Imparcial, entre 1916-1918, e da Gazeta do Povo, entre 1920-1922, ambos de Porto Alegre. Assim, como o autor José Bento da Rosa que nos apresenta a belíssima trajetória de Firmino Alfredo Rosa e Manoel Ferreira de Miranda. São trabalhos aparentemente ainda em fase de execução e ao seu final com certeza serão uma ótima contribuição à historiografia.
Ao analisar as ações dos indivíduos é possível perceber as estratégias construídas ao longo de sua vida, sendo a busca pela educação uma importante engrenagem para a mobilidade social. Naomi Santos nos mostra a experiência de duas pessoas que passaram pela escravidão: Barnabé Ferreira Bello e João Baptista Gomes de Sá. O primeiro, escravizado, nasceu no ano de 1845, em Curitiba, e fora sapateiro. De acordo com a autora com o letramento e o fim do Império foi possível encontrá-lo no alistamento eleitoral de 1889. Já João matriculou-se aos 50 anos na escola noturna, sendo livre e empregado público. Essas histórias tinham por objetivo mostrar a busca por educação no processo de construção de liberdade e de lutas por cidadania, no pós-abolição. Apesar de belíssima contribuição desses trabalhos, de colocar à luz da história essas trajetórias de negros importantes, não há nesses artigos uma discussão que diferencie biografia de trajetórias, e muito menos fazem uma reflexão que diferencie “trajetórias negras” das demais.
Para além das trajetórias individuais, o livro se debruça sobre a importância das trajetórias coletivas, para ser mais preciso às famílias negras. Perussatto analisa a Família Calisto, grupo fundador do Jornal O Exemplo. Utilizando uma gama de fontes – tais como: alistamentos eleitorais, anúncios e notas diversas publicadas no jornal A Federação; habilitações e registros de casamento religioso e civil; registros de batismos e de óbitos; testamentos e inventários post-mortem; relatórios e almanaques – brilhantemente consegue traçar toda a genealogia e, principalmente, a atuação familiar na arena pública.
Calisto construiu uma ampla rede de sociabilidades entre homens de cor que lhe conferiu mobilidade e respeitabilidade, e sua atuação nos ajuda a compreender melhor o papel e a importância das famílias negras na mobilidade social, no período pós-abolição. É na trajetória familiar de Maria Teresa Joaquina que temos uma maravilhosa discussão sobre a importância das famílias negras no pós-abolição do Brasil Meridional.
Através de uma miríade de fontes, Rodrigo Weimer dá sentido e importância a trajetória da Rainha Jinga ao enfatizar o seu papel na congada e na atuação política para o reconhecimento da Comunidade Quilombola a que pertence. E sua maior contribuição é a do fortalecimento das pesquisas sobre famílias negras através de dois prismas: o primeiro se refere a percepção de que os sujeitos das famílias foram capazes de colocar suas marcas na história com autonomia superando a vitimização que normalmente lhes são imputados; e, por conseguinte; afirma ser as famílias negras a melhor unidade de observação, e não as trajetórias individuais, uma vez que as estratégias de vida não eram pensadas de forma individual, mas sim vividas e pensadas coletivamente.
Na continuidade de observar as ações coletivas e familiares de negros do pós-abolição, a História Oral se mostrou como um dos principais caminhos. Joseli Mendonça e Pamela Fabris reconstruíram as experiências das famílias Brito e Freitas, a partir da entrevista de Nei Luiz de Freitas. Descendente de escravizados, o seu depoimento abriu as portas para a realização de mais entrevistas com os seus familiares e permitiu a reconstrução de uma rede imbricada vivenciada por Vicente e Olympia. Vicente Moreira de Freitas acumulou recursos durante o período da escravidão, exercia a profissão de pedreiro, tinha instrução e obteve cargos que conferiam status e dignidade na Sociedade Protetora dos Operários –, fundada em 1883. Apesar da preocupação dos autores ser a análise das memórias e das identidades dos entrevistados, a pesquisa tem por principal contribuição a demonstração de que famílias negras, no pós-abolição, buscavam por diferentes redes de sociabilidades numa clara estratégia para diminuir as incertezas em relação ao futuro.
O último artigo dessa coletânea nos agracia com uma profunda pesquisa de microanálise em uma história de família. Henrique Espada Lima coloca em prática a redução de escala de análise de forma primorosa, buscando, ações, estratégias, incertezas e valores da família de Maria do Rosário. De acordo com a documentação, a família apostou, em primeiro lugar, na aproximação por alianças e construção de redes de solidariedade com pessoas brancas. As alianças com mulheres brancas frequentemente viúvas ou solteiras, de acordo com o autor, era conectada com “a própria vulnerabilidade a que se expunham essas mulheres – de outro modo, privilegiadas – que tentavam proteger-se de algum modo das incertezas da velhice solitária”. Mesmo que diante da possibilidade de se construir alianças, Henrique não percebe, pelo menos nesse texto, que essas relações eram construídas de modo a manter a população ex-escravizada em situação subalterna.
Em seguida, outra estratégia tomada pela família é a procura por ocupar diversos ofícios e isso permitiu o alistamento ao voto e o pertencimento à Guarda Nacional. Esses eram elementos que distinguiam homens pardos da maior parte dos seus pares, isto é, dando acesso ao exercício da cidadania. E, por último, uma das principais estratégias de mobilidade social foi a busca incessante pela educação. A trajetória da família, e principalmente de Olga Brasil, bisneta de Maria do Rosário, é marcada desde o início pelo investimento na educação formal, combinado com a participação em atividades ligadas à igreja católica. Contudo, a maior contribuição, e mais polêmica, do artigo é a de analisar uma família “parda” da escravidão ao pós-abolição. De início Henrique retoma uma discussão sobre o “silenciamento da cor” na documentação como estratégia para diminuir o horizonte de vulnerabilidade imposta aos ligados, mesmo que minimamente, à escravidão. Para o autor, à medida que a família se ascendia socialmente, a família de libertos “pardos” conseguiu se desfazer da associação com o passado escravista. E aponta, mesmo que sem aprofundamento, que o branqueamento pode ter sido um sucesso.
Verdade é que a documentação analisada não permite observar como a população ao entorno observava a família, assim como não é possível acompanhar os impedimentos de acesso a burocracias do estado ou mesmo a postos de poder. Apostar na estratégia (in)consciente de “branqueamento” da população negra, que perpassou pela escravidão e guardou em seu corpo as marcas desse passado, é muito arriscado na atual realidade da produção historiográfica a qual aposta na racialização como marco definidor dos lugares de poder e decisão, mesmo sem precisar falar de cor.
Essa é uma obra que ocupará um espaço importante na historiografia, não somente regional, do pós-abolição, mesmo que tenha altos e baixos, com artigos de historiadores ainda em formação. O livro contribui com importantes marcos, como as associações, as trajetórias individuais e familiares para a história nacional. E, desse modo, convido a todos a ler essa obra que incentivara novas pesquisas pelo Brasil todo.
Carlos Eduardo Coutinho da Costa – Professor Adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, docente do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História da mesma instituição.
MENDONÇA, J. M. N; TEIXEIRA, L.; MAMIGONIAN, B. G. (Org.). Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras. 1. ed. Salvador: Sagga, 2020. 293p. Resenha de: Carlos Eduardo Coutinho da. O pós-abolição no Brasil meridional. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.2, 2020. Acessar publicação original [IF].
Dossiê: Imprensa, partidos e eleições no Oitocentos / Ágora / 2020
Ágora da imprensa: a experiência do oitocentos em revista
A década de 2020 iniciou-se com o impensável, até inícios do século XXI, questionamento da imprensa. Pode-se dizer que tudo se começou com a revolução tecnológica que tirou da imprensa jornalística a primazia da informação, disputada agora por blogs, plataformas, transmissão on-line, entre outras inovações. Em princípio, a novidade foi festejada em todo o mundo, dando ensejo a movimentos populares conhecidos como a primavera árabe e as agitações no Brasil de 2013.
Após dez anos de canais informais de notícias, emergiu o grande fantasma intitulado Fake News. Nomeado por Donald Trump, justamente o líder mais retrógrado com potencial global, reconheceram-se os danos à política que a máquina do Fake News pode proporcionar. A discussão tornou-se acalorada e colocou em novo patamar as antigas empresas jornalísticas com seus protocolos de ética a serem cumpridos sob pena de sofrerem sanções judiciais. Não se esqueceu, porém, a crítica sobre os interesses corporativos que, muitas vezes, dominam as empresas oficiais de imprensa. Não se desconsidera o poder de divulgação de notícias omitidas pela grande imprensa pelos canais informais. No entanto, enfrenta-se atualmente o desafio de produzir com a nova tecnologia informações confiáveis, éticas e fidedignas.
A imprensa merece toda atenção dos estudiosos, dado o lugar que ocupa no mundo contemporâneo. E este periódico não podia se omitir diante do assunto. Como ensina Marc Bloch, a história não é ciência retroativa, mas é sempre o passado lido com preocupações do presente. Daí a decisão de organizar um dossiê que remetesse ao século XIX, quando a imprensa era declaradamente partidária e claramente abrigava grupos de interesse. A solução do século XX em tornar a imprensa um empreendimento capitalista, como bem definiu Habermas, alterou completamente os procedimentos jornalísticos. Não nos propomos a avaliar as mudanças, mas apenas apontar as diferenças.
Nesse sentido, o dossiê temático elaborado para esta edição, intitulado Imprensa, partidos e eleições no Oitocentos, teve como proposta apresentar a dinâmica política do século XIX a partir de diferentes abordagens, evidenciando, por exemplo, a atuação de grupos políticos, as transformações na cultura política, o uso da imprensa como veículo de ideias, assim como o funcionamento do sistema representativo. O dossiê reúne textos de pesquisadores que se dedicam a analisar a política do Oitocentos por meio de investigações que vão além do viés institucional, apontando para novas reflexões teóricas que buscam as múltiplas dimensões circunscritas no campo político e da imprensa deste período.
É importante afirmar que dentre os elementos que se destacam no conjunto de textos apresentados, percebe-se a pluralidade de fontes utilizadas e suas distintas análises metodológicas para a compreensão do contexto oitocentista. Além disso, os estudos inseridos neste dossiê dedicados ao contexto político do Brasil oitocentista evidenciam desde as discussões e agitações políticas da Corte, até aquelas ocorridas em províncias e municípios.
No artigo de abertura deste dossiê, Marcela Ternavasio nos apresenta o estudo denominado Pluralidad ciudadana y unidad del cuerpo político: desafíos y dilemas de la soberanía popular en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Utilizando a imprensa da época, a autora discute os elementos que permearam a composição da dinâmica política do Rio da Prata na primeira metade do Oitocentos. A reflexão proposta tem o objetivo de recriar os ambientes de discussão política no Oitocentos e os debates acerca da representação eleitoral, a divisão de poderes e a busca por cidadania.
Com a escala de análise agora centrada no Brasil oitocentista, o artigo de Arthur Ferreira Reis, intitulado A imprensa pernambucana no processo de independência (1821- 1824), busca identificar a circulação de ideias políticas ligadas ao processo de independência por meio de jornais produzidos em Pernambuco. Já com o intuito de compreender as reformulações em torno das esferas municipais e provinciais, além do novo arranjo monárquico-constitucional, o artigo Entre a autoridade do monarca e o lugar do poder local: rupturas e continuidades na Assembleia Constituinte de 1823, escrito por Glauber Miranda Florindo, destaca as rupturas e continuidades na Assembleia Constituinte de 1823.
Momento de conturbações políticas e discussões de diferentes projetos de nação, o período regencial também se tornou objeto de análise de alguns textos contidos neste dossiê. O artigo de Kátia Santana, Ajuntamentos e política na Corte regencial (1831– 1833), destaca a análise dos registros de ocorrência da Secretaria de Polícia da Corte e os Instrumentos de Justiça, enfatizando a atuação das autoridades contra as reuniões que eram enquadradas como ajuntamentos ilícitos naquele contexto.
Já no artigo Na “Cadeira da Verdade”: a ação política dos padres por meio dos púlpitos em Minas Gerais regência, Júlia Lopes Viana Lazzarini demonstra a dinâmica política mineira na década de 1830. A autora lança mão da imprensa local para analisar a participação de padres e párocos na política provincial, indicando a participação destes em grupos políticos, além da propagação de seus discursos e a atuação dos padres no cenário eleitoral.
O artigo escrito por Pedro Vilarinho Castelo Branco, denominado Imprensa e Política no Piauí na primeira metade do período monárquico, transita entre o período regencial e o início do Segundo Reinado. O autor elabora sua análise a partir das particularidades envolvidas na criação da imprensa no Piauí, destacando as dificuldades da difusão de discussões oposicionistas diante do domínio político do Barão de Parnaíba. A imprensa oitocentista permanece no diálogo proposto por este dossiê por meio do artigo A mão pesada da morte acaba de arrebatar mais uma vida preciosa”: sensibilidades nos anúncios de falecimento no jornal “O Piauhy” entre 1869 e 1873, escrito por Mariana Antão de Carvalho Rosa. Nesta análise, as relações políticas e sociais do Piauí da segunda metade do XIX são colocadas em discussão por meio dos anúncios de falecimento e das sensibilidades envolvidas neste processo, tendo os jornais como fonte de pesquisa.
Rodrigo Marzano Munari, no artigo Eleições em São Paulo do século XIX: uma pletora de leis, votantes e votos em disputa, aborda o contexto das eleições em São Paulo na segunda metade do Oitocentos. O autor assinala os principais aspectos políticos que envolviam a dinâmica eleitoral, além de elaborar sua análise acerca do voto e dos votantes, destacando-os como participantes ativos do processo político do período.
O fim do século XIX e a difusão das ideias republicanas são reflexões também levantadas em estudos do presente dossiê, sobretudo, por meio do cenário político das províncias e da atuação da imprensa. O artigo As vozes do progresso: os liberais positivistas na imprensa capixaba oitocentista, escrito por Karulliny Siqueira, analisa a relação entre a imprensa e o projeto político dos liberais positivistas visualizado na província do Espírito Santo no início da década de 1880. Por meio dos jornais políticos, um novo vocabulário foi inserido na dinâmica política provincial, destacando a ideia de progresso e, posteriormente, abrindo espaço para a a discussão acerca do republicanismo e da crítica ao Império.
A Moção Plebiscitária de São Borja e o jornal A Federação: uma análise a partir da hipótese de agendamento (1888), é o último artigo que completa esta coletânea. Escrito por Taciane Neres Moro, este estudo analisa a imprensa republicana Rio-Grandense, evidenciando o contexto de consolidação do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, bem como sua ramificação no município de São Borja. Por meio do estudo de jornais, a autora indica a circulação do plebiscito acerca da possibilidade do III reinado no Brasil, demonstrando a adesão e a influência desta publicação no sul do país durante os momentos finais do Império.
Junho de 2020
Ou a Era do Fake News
Adriana Pereira Campos – Doutora em História (UFRJ). Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo e dos Programas de Pós-Graduação em História e em Direito da mesma instituição. Coordenadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens (UFES). Bolsista produtividade do CNPq. Editora Chefe da Revista Ágora desde janeiro de 2020. E-mail: [email protected].
Karul l Iny Sil Verol Siqueira – Doutora em História (UFES). Professora do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens da mesma instituição. Organizadora do presente dossiê “Imprensa, partidos e eleições no Oitocentos”. E-mail: [email protected]
kátia Sausen da Motta – Doutora em História (UFES). Pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens (UFES). Atua no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo como bolsista do Programa de Fixação de Doutores da Capes/Fapes, desenvolvendo pesquisa de pós-doutorado. Vice-editora chefe da Revista Ágora desde janeiro de 2020. E-mail: [email protected]
[DR]Pós-abolição: sociabilidades, relações de trabalho e estratégias de mobilidade social / Ágora / 2020
O interesse dos historiadores (as) brasileiros (as) pelo pós-abolição tem crescido de forma significativa nas últimas décadas, o que trouxe à luz aspectos importantes da participação dos próprios escravizados e de seus descendentes no processo de emancipação, bem como sua atuação individual e coletiva após o 13 de maio nas mais diversas regiões do país. No Espírito Santo, berço da Revista Ágora, os estudos sobre o pós-abolição têm ganhado fôlego recentemente na esteira da renovação historiográfica sobre a escravidão observada nas duas últimas décadas. O acesso a documentos inéditos pelos pesquisadores como registros civis, eclesiásticos e outros, possibilitaram a escrita de teses e dissertações na área e o diálogo com a produção nacional. Tais trabalhos foram, em sua maioria, realizados por historiadores que compõem o Laboratório de História, Poder e Linguagens, da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pela Dra. Adriana Pereira Campos. Algumas dessas pesquisas estão reunidas no dossiê Pós-abolição: sociabilidades, relações de trabalho e estratégias de mobilidade social que temos a honra de apresentar.
O atual número da Revista Ágora conta com nove artigos e uma resenha, sendo cinco trabalhos baseados em pesquisas desenvolvidas em vários locais do Espírito Santo, abarcando desde a capital até áreas do interior. Os anos finais da escravidão na antiga província e os embates do período posterior à abolição são abordados nessas pesquisas que dialogam com a historiografia produzida nacionalmente.
Dentre os artigos que contemplam o Espírito Santo, está o de Michel Dal Col Costa, que busca uma conexão entre um dos eventos relacionados à resistência dos escravizados mais conhecidos localmente, a Insurreição do Queimado (1849), e um conjunto de festas e folguedos populares cuja origem remonta ao período da escravidão e segue vivo como importante componente da cultura da região central do estado.
Rafaela Lago, por sua vez, analisou as relações sociais dos libertos no imediato pós abolição (1889-1910) na cidade de Vitória, utilizando-se de registros de nascimento, de batismos e jornais locais. A pesquisadora identificou tanto a permanência quanto a chegada de egressos do cativeiro na região. Ao invés de indivíduos apáticos e desprovidos de aptidão para o trabalho livre, o leitor se depara no artigo com pessoas que no dia a dia e durante suas atividades enfrentavam dura realidade e que muitas vezes foram marginalizados e excluídos da cidadania civil.
Outro estudo sobre a região de Vitória foi realizado por Juliana Almeida. Trata-se de uma análise das relações socioculturais entre a capoeira e o candomblé. A pesquisadora observou movimentos distintos, ou seja, certo distanciamento da capoeira Contemporânea capixaba com os elementos do Candomblé e aproximações deste com o grupo de capoeira Angola, que reafirmou tradições inventadas e reforçou a identidade africana com esse estilo de capoeira.
O trabalho de Laryssa Machado desloca o nosso olhar para o sul do Espírito Santo, onde procura identificar e analisar as famílias construídas pelos escravizados em Itapemirim nas últimas décadas antes da abolição (1872-1888). Além de discutir a importância da família para os próprios escravizados e para o sistema escravista, a historiadora aborda a persistência do tráfico de almas após a Lei Eusébio de Queirós naquela região, ajudando-nos a compreender o valor da escravidão para aquela sociedade.
Ainda no sul da província, temos o artigo de Geisa Ribeiro sobre os dois principais jornais publicados em Cachoeiro de Itapemirim, o mais importante município cafeeiro do Espírito Santo nas últimas décadas do século XIX, sobre o “glorioso ato de 13 de maio de 1888”. Por meio da análise de conteúdo, a autora investiga como o jornal conservador e o jornal de tendência republicana se posicionaram diante da abolição e, principalmente, como suas narrativas foram construídas entre o efêmero momento de comemoração e a proclamação da República.
É importante reconhecer que o destaque às pesquisas locais, que consideramos fundamentais para ajudar a compreender o país em sua diversidade, não diminui a necessidade do diálogo com pesquisadores de outras regiões, o que contribui para dimensionar a presença dos pesquisadores e pesquisadoras da Bahia, São Paulo e Minas Gerais que colaboraram com este dossiê.
Com o objetivo de abordar a perspectiva dos descendentes de escravizados sobre as experiências de seus ancestrais na época da escravidão e após a abolição formal, Carolina Pereira aplicou a metodologia da História Oral em seu trabalho sobre as famílias quilombolas do Piemonte da Chapada Diamantina, Bahia. Por meio das entrevistas realizadas com netos e bisnetos de escravizados, a autora pode acessar uma memória sobre a escravidão silenciada e, assim, perceber interpretações valiosas sobre diversos aspectos da vida dos escravizados e seus descendentes durante e após o 13 de maio.
Lucas Ribeiro trouxe informações sobre a primeira associação civil negra do Brasil, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, na cidade de Salvador. O pesquisador identificou a associação enquanto um espaço importante de negociação entre lideranças de cor e políticos baianos durante a segunda metade do século XIX. Investigou como trabalhadores negociaram e disputaram um projeto político para os homens de cor, com a intenção de alcançar direitos básicos enquanto cidadãos, como educação, dignidade, assistência mútua, participação política e pertencimento racial.
Jucimar dos Santos, Fabiano de Silva e Silvado Santos discutiram em artigo a atuação de professoras e professores na “instrução popular” entre o final do século XIX e início do século XX, na Bahia. Os pesquisadores identificaram a atuação dos docentes em diferentes espaços para além da sala de aula, como na redação de jornais, em Conferências Pedagógicas, na Assembleia legislativa da Bahia, em associações sociais e na escola para formação de professores, a Escola Normal da Bahia.
Mateus Castilho utilizou Ações de Tutelas e manuscritos processados na esfera do Juízo de Órfãos para compreender a esfera do trabalho na sociedade de Pindamonhangaba (Vale do Paraíba Paulista), no período do pós-abolição. Os dados revelaram famílias negras sendo separadas e fugas empenhadas por menores tutelados na companhia de seus tutores.
Ao todo, portanto, apresentamos nove artigos e uma resenha da obra organizada por Joseli Mendonça, Luana Teixeira e Beatriz Mamigonian, “Pós-Abolição no Sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras”, contribuição especial do professor Carlos Eduardo Coutinho da Costa (UFRRJ).
À título de encerramento desta breve introdução que não pretende tomar muito tempo do leitor e da leitora, gostaríamos de dizer que nosso objetivo com este dossiê é oferecer uma oportunidade de reflexão sobre a temática do pós-abolição que, embora tenha recebido atenção crescente nos últimos anos, mantém-se um campo fértil para novas pesquisas.
Boa leitura!
Geisa Lourenço Ribeiro – Professora do Instituto Federal do Espírito Santo (campus Viana). Doutoranda do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo sob orientação da professora Dr.ª Adriana Pereira Campos. Pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: [email protected]
Rafaela Domingos Lago – Doutora em História (UFES). Professora da Faculdade Novo Milênio. Pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: [email protected]
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Revoluções no Atlântico: Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos / Ágora / 2020
Revoluções no Atlântico: Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos / Ágora / 2020
Apresentação não disponível no original.
[DR]Justiça em tempos sombrios: a justiça no pensamento de Hannah Arendt – RIBAS
RIBAS, Christina Miranda. Justiça em tempos sombrios: a justiça no pensamento de Hannah Arendt. [?: Toda Palavra, 2019]. Resenha de: AQUIAR, Odílio Alves. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n. 23 – jan.-jun. 2020.
Tendo por eixo o tema da ruptura totalitária, Justiça em tempos sombrios faz uma instigante reconstrução das principais preocupações de Arendt, com o intuito de investigar o que ela teria a dizer sobre a justiça, a partir de suas reflexões sobre as questões políticas fundamentais que aparecem em sua obra.
Nesse desiderato, a autora passeia com desenvoltura pelo pensamento de Hannah Arendt, costurando caminhos a partir de um ponto focal: o julgamento de Adolf Eichmamn, em Jerusalém, relatado por Arendt em obra polêmica, de grande repercussão. O tema da justiça está, ali, subjacente, uma vez que, para Arendt, a realização da justiça é o propósito de um julgamento. Abordando os principais problemas jurídicos que o caso Eichmann apresentou, a obra apresenta a contraposição entre a percepção da justiça como uma virtude, própria da antiguidade, e a percepção da justiça como um valor, nascida com os modernos e vai encontrar seu apogeu na obra de Hans Kelsen. Para Christina Ribas, a ideia de que a justiça é um valor veio pouco a pouco a impregnar, de forma sub-reptícia, as diversas teorias contemporâneas da justiça. Como um valor entre outros, na imensa relatividade que caracteriza o contemporâneo, a justiça sofre uma espécie de perversão, perdendo seu significado e sua capacidade de iluminar o presente.
Isso fica evidente no julgamento de Eichmann, exatamente porque não haviam nem leis nem precedentes judiciais para o genocídio, brotando ali de forma contundente as perplexidades dos julgamentos do pós-guerra, relativos a crimes que se revestiam do manto da legalidade.
Nesse sentido, como afirma Celso Lafer, assinando uma apresentação na forma de Orelha, um juízo determinante, baseado na subsunção, seria inadequado no contexto da ruptura totalitária: “Isto não só porque não havia norma positiva aplicável mas também porque não cabia nem a analogia juris de princípios gerais, pois estes eram inexistentes e fugidios, nem a analogia legis, pois esta pressupõe a semelhança relevante, e nada, no passado dos precedentes, era semelhante ao Holocausto”. Para Arendt, o julgamento de Eichmann causou enorme perplexidade porque evidenciou que o sistema jurídico era não apenas insuficiente, mas completamente inadequado para lidar com o paradoxo de um crime legal.
A partir dessa constatação, aparece em Justiça em tempos sombrios uma reflexão interessante sobre a faculdade de julgar, central a Arendt nos últimos anos de sua vida, quando, após dedicar-se a pensar sobre a condição humana, ela voltou-se para a vida contemplativa, procurando investigar as faculdades fundamentais do espírito. Essa preocupação consubstanciou-se em The Life of the Mind, obra publicada postumamente, que deveria tratar do pensamento, da vontade e do julgamento, mas que não incluiu, como era o plano original de Arendt, esse último tema, uma vez que a morte a surpreendeu quando ela começaria a redigir a terceira parte da trilogia. Essa circunstância faz com que a obra de Christina Ribas enfrente um grande desafio, buscando investigar o tema da justiça, de que Arendt não tratou, a partir da reflexão de Arendt sobre a faculdade de julgar, por ela considerava a mais política das faculdades da mente, mas que ela não chegou a escrever.
Talvez por isso Tercio Sampaio Ferraz Jr., prefaciando a obra, que nasceu de tese de doutorado por ele orientada, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tenha afirmado que a justiça na obra de Arendt é “um não-tema”. Buscando apoio em textos anteriores e navegando pelo conjunto da obra de Arendt, Justiça em tempos sombrios nos apresenta a faculdade de julgar de forma oposta à tradição, ancorada na intersubjetividade, a partir do juízo reflexionante estético kantiano, de cujo pensamento Arendt, tão a sua maneira, se apropriou. Nesse sentido, o julgamento é uma faculdade que o pensamento libera, podendo ser desenvolvida, aprendida a partir da experiência e cuja validade, proporcionada pela mentalidade alargada, exige do julgador que assuma a posição de um espectador entre outros, cujas posições tem que considerar; os espectadores só existem no plural, vivendo num mundo de interdependência universal; para Arendt, a pluralidade é a lei da Terra.
Assim percebida, a faculdade do julgamento, para Christina, se traduziria na ponte entre o pensamento e ação, ou, se quisermos, entre a teoria e a prática, constituindo-se numa chave de leitura importante para a obra de Arendt. Daí o livro ocupar-se, em sua terceira parte, do próprio acusado. Como é sabido, Arendt percebeu em Eichmann sua impressionante superficialidade, uma ausência de pensamento, uma irreflexão que a deixou perplexa. Ela, que ao escrever Origens do totalitarismo havia tratado o mal que ali aparecera como radical, apresenta em Eichmann em Jerusalém a tese oposta, a tão célebre e frequentemente mal compreendida tese da banalidade do mal. Deparando-se com Eichmann, Arendt concluiu que apenas o bem pode ser radical, pois o mal não possui qualquer profundidade. Eichmann aparece como um exemplo da incapacidade de pensar que se espalha, de forma avassaladora, no mundo contemporâneo.
Entre o pensar e o agir, diz Christina, há um abismo, cuja transposição é complicada justamente porque o mal não é radical, de tal modo que “no fenômeno totalitário, quando os seres humanos se tornaram supérfluos, a sombra projetada por alguns […] ameaçou atingir toda a terra”.
Se a justiça é, como quer Hannah Arendt, e Christina Ribas ressalta, “a matter of judgment”, a importância da faculdade de julgar, tanto para a vida a vida contemplativa quanto para a vida ativa, torna-se imensa nas situações-limite, como aquelas que fizeram sua aparição nos períodos totalitários do século XX, mas que, a bem da verdade, se constituem em ameaças sempre presentes. Quando a Constitutio libertatis talvez nos falte, com o que poderemos contar? A obra procura compreender esse drama de nossos tempos, nas dobras de cujas sombras nos espiam imensas incertezas.
Odílio Alves Aguiar – Doutor em Filosofia pela USP, professor titular de Filosofia da Universidade Federal do Ceará-UFC. E-mail: [email protected]
Objetos trágicos, objetos estéticos – SCHILLER (AF)
Objetos trágicos, objetos estéticos – SCHILLER (AF)
SCHILLER, F. Objetos trágicos, objetos estéticos. Organização e tradução de Vladimir Vieira. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018. Resenha de: BELLAS, João Pedro. Artefilosofia, Ouro Preto, n. 27, dez., 2019.
A incursão de Friedrich Schiller pela filosofia deu-se em um curto período de tempo, ficando restrita à década de 1790. Os textos de cunho filosófico do autor são relativos, majoritariamente, à estética e foram publicados em dois periódicos organizados pelo próprio Schiller: “Neue Thalia” e “Die Horen”, este editado ao lado de Goethe. O interesse por questões de natureza filosófica surgiu em um momento de crise poética vivenciado pelo dramaturgo após a composição do drama “ Don Carlos”, e o seu interesse pelo campo da estética, especificamente, é decorrente do desejo de alcançar maior clareza acerca dos princípios fundamentais de sua arte.
Embora constituam um corpo bastante denso e de mérito filosófico quase que indiscutível, tais escritos de Schiller foram praticamente ignorados pelos especialistas da área a partir do século XX. Esse desinteresse, de um ponto de vista mais geral, pode ser resultado da ausência de uma abordagem sistemática de temas clássicos da filosofia, como a questão do conhecimento, por exemplo. Surpreende, contudo, que mesmo no campo da estética ainda sejam escassos os estudos de mais fôlego acerca da obra filosófica do autor.
No Brasil, especificamente, até pouco tempo atrás muito da produção teórica do autor não se encontrava disponível em boas edições em língua portuguesa. Nesse sentido, o volume “Objetos trágicos, objetos estéticos”, organizado por Vladimir Vieira e publicado pela editora Autêntica, oferece uma contribuição importante para o debate estético brasileiro ao trazer quatro dos ensaios de Schiller em uma tradução bastante criteriosa e cuidadosa. O volume complementa o livro “Do sublime ao trágico”, organizado por Pedro Süssekind e editado pela mesma editora em 2011, na medida em que os te mas discutidos nos dois ensaios reunidos nessa obra, especialmente o conceito do sublime, são desenvolvidos também nos textos que compõem “Objetos trágicos, objetos estéticos”.
Os quatro ensaios que integram o volume foram publicados entre os anos de 1792 e 1793 nos quatro volumes da “Neue Thalia” e evidenciam, em maior ou menor grau, uma influência da filosofia crítica de Kant, sobretudo da obra “Crítica da faculdade do juízo”, sobre o pensamento de Schiller. Não se trata, contudo, de uma mera assimilação passiva do pensamento do filósofo de Königsberg. Como observa Vladimir Vieira (p. 141) no artigo que serve de posfácio a “Objetos trágicos”, Schiller procura refletir, a partir do sistema transcendental kantiano, sobre a sua vivência enquanto artista e sobre a própria experiência estética proporcionada pela arte. Nesse sentido, os ensaios schillerianos consistem em uma das primeiras e mais relevantes respostas às questões postuladas por Kant, em especial na terceira Crítica, 1 mesmo que a tradição filosófica subsequente não tenha-lhes concedido a devida atenção.
Os dois primeiros ensaios reunidos em “Objetos trágicos”, “Sobre o fundamento do deleite com objetos trágicos” e “Sobre a arte trágica”, como os títulos indicam, abordam questões mais diretamente relacionadas à tragédia. Ambos foram publicados no primeiro volume da “Neue Thalia”, em 1792, e as considerações presentes em cada um dos textos complementam umas às outras.
O primeiro ensaio explora as relações entre a estética e a ética, um tema recorrente em sua produção de cunho filosófico, e busca fundamentar a ideia de que a arte tem como fim menos a instrução moral e uma adequação às regras do decoro do que a produção de deleite. Schiller argumenta que, diferentemente do prazer mediato possibilitado pelo entendimento e pelo assenso da razão, que requerem, respectivamente, esforço e sacrifícios, somente o deleite proporcionado pela arte pode ser realizado de forma imediata. O postulado do autor vai, portanto, de encontro à proposta de determinada corrente moderna da estética, ligada especialmente ao Neoclassicismo, que busca subordinar a arte, e o deleite que ela é capaz de produzir, à instrução moral.
O deleite estético, como é compreendido pelo dramaturgo, mantém uma relação dupla com a moral, promovendo-a e sendo dela dependente. Porém, para que seja capaz de promovê-la, a arte não pode ser privada daquilo que a torna mais poderosa, sua liberdade: “Só cumprindo o seu mais alto efeito estético é que a arte terá uma influência benfazeja sobre a eticidade; mas só exercendo a sua total liberdade é que ela pode cumprir o seu mais alto efeito estético” (p. 20).
Entendendo que a fonte de todo o deleite é a conformidade a fins, Schiller reflete principalmente sobre o deleite livre, que seria decorrente de representações por parte das faculdades do ânimo. Estas poderiam ser divididas em seis classes, conforme as faculdades responsáveis pela representação: o entendimento ocupar-se-ia do verdadeiro e do perfeito, enquanto a razão teria como objeto o bom ; quando atuam em conjunto com a imaginação, essas faculdades ocupar-se-iam, no primeiro caso, do belo, e, no segundo caso, do sublime e do comovente. Essa classificação serviria, ainda, para organizar, mesmo que não perfeitamente, as artes: as que satisfaz em o entendimento e a imaginação seriam as belas artes (artes do gosto ou do entendimento); já aquelas que satisfazem a razão e a imaginação seriam as artes comoventes (artes do sentimento ou do coração).
Por se tratar de um texto voltado a uma investigação acerca dos fundamentos do prazer proporcionado pela arte trágica, Schiller aborda com mais detalhe as artes do sentimento, explorando principalmente os conceitos de sublime e comovente. Ambos não parecem possuir nenhuma diferença essencial, e têm em comum o fato de que são produzidos através de um desprazer, ou seja, eles “nos fazem sentir […] uma conformidade a fins que pressupõe uma contrariedade a fins” (p. 24). Na segunda metade do ensaio, o pensador passa a se ocupar exclusivamente da comoção, e investiga de que maneira seria possível determinar se uma representação comovente produz, no sujeito, mais prazer do que desprazer e quais seriam os meios que o poeta deveria utilizar para criar esse tipo de representação.
“Sobre a arte trágica” apresenta-se como um complemento de “Sobre o fundamento…” na medida em que tem como objetivo determinar a priori as regras e fundamentos da tragédia a partir do princípio da conformidade a fins. Nesse sentido, o ponto de partida do ensaio é uma tentativa de chegar a uma compreensão mais profunda do modo como podemos auferir prazer com o sofrimento. Para tanto, Schiller introduz a distinção entre afeto originário e afeto compartilhado, sendo o primeiro experimentado diretamente pelo sujeito e o segundo o que se observa vivenciado por outrem.
Essa distinção, na verdade, remete à ideia, recorrente no debate clássico sobre o sublime, de que, para que seja possível sentir prazer a partir de um objeto que se apresenta como um perigo, é necessário que a ameaça não seja direta, isto é, que estejamos em uma posição de segurança em relação ao objeto. Schiller, entretanto, apresenta uma visão bastante peculiar em relação à sua época ao conceder que, em determinados casos, também seria possível auferir prazer a partir de um afeto originário, ou seja, a partir de um desprazer que se dá de modo imediato. Não fosse assim, não poderíamos explicar, por exemplo, o apelo de jogos de azar e de outras situações semelhantes nas quais nos colocamos em um risco direto.
Schiller esclarece que as sensações de prazer ou desprazer resultam de uma relação, que pode ser positiva ou negativa, do objeto em questão com nossa sensibilidade ou nossa faculdade ética, a razão. Enquanto os afetos relacionados à razão seriam determinados de maneira necessária e incondicional, aqueles que se relacionam com nossa faculdade sensível poderiam ser controlados e sobrepujados por nossa razão. Assim, por meio de um aprimoramento moral, seríamos capazes de superar os afetos sensíveis, e experimentar prazer a partir do sofrimento, até mesmo quando se trata de um afeto originário.
Na sequência do ensaio, o autor desenvolve a ideia de que o maior deleite que se pode experimentar se dá a partir de uma representação em que a liberdade de nossa faculdade racional seja afirmada frente aos impulsos sensíveis. Essa ideia é fundamentada principalmente pela noção de atividade: o deleite seria decorrente de uma representação por meio da qual as capacidades da razão seriam postas em ação. É precisamente por despertar a atividade de nossa faculdade ética que a representação do conflito entre a razão e nossos impulsos sensíveis pode ser considerada conforme a fins.
Por fim, após as discussões de natureza mais filosófica sobre os fundamentos do prazer a partir do sofrimento, Schiller volta-se para os objetivos iniciais de estabelecer as regras da tragédia a partir do princípio da conformidade a fins. Elas são reunidas na definição proposta pelo dramaturgo: a tragédia seria uma “imitação poética de uma série concatenada de eventos (de uma ação completa) que nos mostra seres humanos em estado de sofrimento e que tem por propósito incitar a nossa compaixão” (p. 61).
O terceiro texto reunido no volume compreende a parte final de um ensaio mais amplo, intitulado “Do sublime (para uma exposição ulterior de algumas ideias kantianas)” e publicado em 1793 nos volumes 3 e 4 da “Neue Thalia”. Somente essa parte foi preservada por Schiller quando da organização de seus “Escritos menores em prosa” – a parte suprimida integra o livro “Do sublime ao trágico”, mencionado anteriormente.
Ao contrário dos dois textos que lhe antecedem, “Sobre o patético” manifesta uma influência mais profunda da filosofia de Kant. Em linhas gerais, Schiller retoma as suas considerações sobre a tragédia e busca repensá-las a partir do arcabouço teórico da terceira Crítica. Nesse sentido, o dramaturgo buscará reformular a sua definição de tragédia, entendo-a como a representação de um conflito entre nossa faculdade suprassensível da razão e a sensibilidade, na qual a primeira supera a segunda. A partir dessa ideia geral, Schiller reduz a dois os seus princípios constitutivos: ela deve (i) apresentar uma natureza que sofre, e (ii) também a resistência moral a esse sofrimento. Essas duas leis funcionariam para alcançar o fim da tragédia, a saber, a produção do pathos.
Esses princípios estabelecem que a mera representação do sofrimento não é suficiente para a produção do pathos. Isso só ocorre na medida em que ela for capaz de evidenciar para nós a nossa natureza suprassensível. Por isso, Schiller exclui do âmbito da tragédia os afetos que se relacionam apenas com a natureza sensível do sujeito. Assim, não dizem respeito à arte trágica os afetos lânguidos, que apenas agradam a sensibilidade, e aqueles que a perturbam por serem demasiadamente intensos. “O patético”, afirma Schiller, “só é estético na medida em que é sublime” (p. 77).
O pensador argumenta que nos tornamos conscientes de nossa natureza suprassensível apenas a partir da representação da resistência ao próprio sofrimento, e não de suas causas. Em outras palavras, a resistência apresentada deve ser moral e não física. Se, por um lado, as ideias da razão não podem, por definição, ser apresentadas de maneira direta na sensibilidade, isso pode se dar indiretamente. Essas são as situações que seriam capazes de produzir pathos.
Reconhecendo dois tipos de fenômenos, um determinado pela natureza e outro controlado pela vontade, Schiller argumenta que a representação do sofrimento coloca esses dois domínios em conflito. Nesse sentido, duas seriam as condições necessárias para a produção do pathos: (i) a dor deve apresentar-se em todas as regiões do corpo que são dependentes da natureza; (ii) a ausência de sofrimento naquelas que são determinadas por nossa própria vontade. O pathos, portanto, decorre da participação de nossas faculdades sensíveis e racionais; sem o sofrimento, não há representação estética, sem a resistência moral, ela não se torna patética, inviabilizando uma experiência do sublime.
As reflexões desenvolvidas ao final de “Sobre o patético” extrapolam o domínio do quadro conceitual estabelecido por Kant. Aqui, Schiller propõe uma classificação do sublime de acordo com a manifestação da autonomia moral perante o sofrimento: se a dor possui uma origem sensível, nossa eticidade é afirmada negativamente, tratando-se do “sublime do controle”; se a sua causa é moral, a moralidade é afirmada positivamente e temos o “sublime da ação” (p. 90). O segundo compreende, ainda, dois casos, a saber, um a situação em que o sofrimento é escolhido em função de um dever, configurando uma ação da vontade, ou uma situação em que o sofrimento purga uma ação imoral, sendo, aqui, um efeito da afirmação do dever moral como um poder.
Essa distinção serve de funda mento para a diferenciação entre duas formas de julgar: uma moral e outra estética. A primeira consiste em atestar que um sujeito agiu conforme deveria, a segunda em avaliar que ele possuía a capacidade para tal. Enquanto o juízo estético proporciona entusiasmo por explicitar uma capacidade superior aos impulsos da sensibilidade, o moral nos humilha, por mostrar que, por sermos seres sensíveis, não somos determinados exclusivamente pelos imperativos da razão. Essa diferenciação, por sua vez, permite justificar o fim último da arte, que seria a produção de deleite, e porque o recurso à moral deve estar subordinado a ele. Assim, a conclusão desse ensaio retoma a ideia, apresentada em “Sobre o fundamento do deleite com objetos trágicos”, de que o pathos trágico não deve ser sacrificado em função da instrução moral.
O último artigo do livro, “Observações dispersas sobre diversos objetos estéticos”, publicado em 1793 no quarto e último volume da “Neue Thalia”, complementa as reflexões contidas no ensaio “Do sublime”, mencionado anteriormente. Em “Do sublime”, Schiller admite a distinção estabelecida por Kant entre os casos matemático e dinâmico do sublime, porém direciona o seu foco apenas ao segundo. Suas considerações sobre o sublime matemático são desenvolvidas em “Observações dispersas…”.
O título do ensaio poderia levar a crer que se trata de uma compilação de ideias distintas que não possuem muita relação entre si. Trata-se, contudo, de um escrito bastante sistemático e pouco preocupado em ilustrar as ideias discutidas por meio de exemplos artísticos. Assim como Kant, Schiller entende que a experiência do sublime tem origem a partir da contemplação de um objeto que ultrapassa a nossa capacidade de apreensão (no caso matemático) ou de resistência (no caso dinâmico), desde que ele não proporcione “uma repressão de cada uma dessas duas faculdades” (p. 113).
Explorando o primeiro caso, o autor sustenta que, para ser qualificado como sublime, o objeto não pode ser uma grandeza mensurável, mas deve ser uma grandeza absoluta. Na primeira circunstância, teríamos uma avaliação matemática, na segunda, uma avaliação estética. Schiller tem como ponto de partida a ideia kantiana de que a apresentação de um objeto na imaginação envolve duas operações distintas: a apreensão dos dados sensíveis e a sua síntese em uma unidade. Enquanto a primeira operação pode avançar indefinidamente, a segunda possui um limite. O objeto absolutamente grande, por sua disposição no espaço-tempo, traz à consciência esse limite.
O fracasso da síntese gera desprazer, mas, logo em seguida, temos um sentimento de prazer que é decorrente do reconhecimento de que possuímos uma capacidade de pensar uma ideia que não pode ser apresentada na sensibilidade: o infinito. Assim, se, por um lado, experimentamos um sentimento de impotência por não conseguirmos sintetizar o objeto contemplado, por outro, experimentamos nossa força, na medida em que somos capazes de pensar o infinito. O sublime caracteriza justamente o movimento do ânimo que traz à tona a percepção de que somos, sobretudo, seres suprassensíveis, capazes de pensar uma ideia que não se apresenta na sensibilidade.
Ao final do ensaio, Schiller considera em que grau a altura e o comprimento colaboram para o sentimento do sublime. Ao sustentar que a altura afeta o sujeito em um grau mais elevado por acrescentar o terror à experiência, o pensador adota uma posição que atesta a possibilidade da confluência dos casos matemático e dinâmico do sublime.
Os quatro ensaios presentes em “Objetos trágicos, objetos estéticos”, reforçam o quão densos são os textos filosóficos de Schiller e dão testemunho de sua relevância para a estética, ainda que a tradição filosófica ocidental nos tenha levado a crer no contrário. O volume, portanto, traz consigo a oportunidade de potencializar pesquisas que possam vir a restaurar a relevância das ideias de Schiller frente à tradição filosófica, e acrescenta muito aos estudos desenvolvidos no Brasil ao introduzir ideias e conceitos que em muito contribuem para a compreensão do fenômeno estético.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001.
Nota
1 A expressão “terceira Crítica” é comumente empregada pelos comentadores para referir à “ Crítica da faculdade do juízo ”, uma vez que a obra é a terceira das críticas publicadas por Kant, precedida pela “ Crítica da razão pura ” e pela “ Crítica da razão prática ”. Ela será utilizada daqui em diante em todas as ocasiões em que nos referimos à “ Crítica da faculdade do juízo ”.
João Pedro Bellas-Doutorando em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Possui mestrado em Teoria da Literatura e Literatura Brasileira e graduação em Filosofia pela mesma universidade. E-mail: [email protected]
A arte de contar histórias – BENJAMIN (AF)
BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. Org. Patrícia Lavelle. Trad. George Otte, Marcelo Backes e Patrícia Lavelle. São Paulo: Hedra, 2018. Resenha de: CHIARA, Jessica Di. O filósofo e o contista Walter Benjamin. Artefilosofia, Ouro Preto, n.26, jul., 2019.
Há pelo menos 50 anos o público universitário brasileiro vem entrando em contato com os textos filosóficos, os escritos críticos e ensaísticos de Walter Benjamin e as disputas interpretativas que se geraram em torno do pensamento do autor. Lido e assimilado e m diversas áreas do conhecimento, sobretudo nos cursos de filosofia, comunicação, letras, educação, história e sociologia, transcorridas mais de cinco décadas desde as primeiras abordagens, podemos dizer que já é bem sedimentada e ampla a tradição de comentadores da obra de Benjamin no Brasil.1 Contudo, mesmo em um solo fértil e produtivo, diante de uma obra estamos sempre diante de um mistério: mesmo se a lemos tantas e tantas vezes. É por esse motivo que a nova edição de reunião de escritos de Benjamin organizada por Patrícia Lavelle, “A arte de contar histórias”, contribui para a fertilidade do solo dos estudos benjaminianos por aqui. O livro inaugura a Coleção Walter Benjamin da editora Hedra, cuja intenção é somar-se às iniciativas já existentes e que s e destacam pela efetiva contribuição para o desenvolvimento da recepção da obra de Benjamin em português. Além de propor uma nova tradução anotada do ensaio clássico sobre o contador de histórias “ Der Erzähler ” (que no Brasil é amplamente conhecido pela tradução de Sérgio Paulo Rouanet como “O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”), 2 o livro reúne e nos apresenta a pouco conhecida produção ficcional de Benjamin, trazendo para o público leitor brasileiro o conjunto de seus contos, alguns inéditos em português, e algumas peças radiofônicas, além de textos híbridos.
A nova tradução do ensaio, realizada por Patrícia Lavelle e Georg Otte, é atenta às alterações e diferenças entre as versões alemã e francesa. Como a nota dos editores contextualiza e informa, a versão alemã foi escrita entre março e julho de 1936 para a revista “Orient und Ok zident”, na qual foi publicada em outubro do mesmo ano, e é provável que entre 1936 e 1939 Benjamin tenha trabalhado numa versão francesa para o mesmo ensaio, que não chegou a ser publicada, pois a revista a que se destinava o texto em francês (Europe) par ou de circular antes disso. A versão francesa seria então publicada apenas postumamente, em 1952, no “Mercure de France”.3 A escolha em traduzir “ Der Erzähler ” por “O contador de histórias” acompanha aspectos sobretudo da recepção francófona (com conteur), mas também da anglófona (com storyteller).4 Contudo, parece decisivo para a escolha da presente tradução, além da pertinência etimológica,5 o amparo biográfico: a partir do trecho de um bilhete escrito pelo próprio Benjamin em francês, em dezembro de 1939, e destinado ao filósofo alemão exilado como ele em Paris, Paul Ludwig Landsberg, que tinha consigo já a versão alemã. No bilhete, Benjamin diz, ao enviar uma cópia da versão em francês, o seguinte: “Voilà ‘le narrateur’ (mais il faudrait bien plutôt traduire: Le conteur)”. 6 Ou seja: “Eis ‘o narrador’ (mais seria preciso de preferência traduzir: O contador de histórias)”. 7 Se o próprio ensaísta em seu trabalho de tradução do alemão para o francês atesta que a palavra “ conteur ” expressa melhor ou com mais precisão aquilo que o substantivo alemão “ Erzähler ” significa no contexto do ensaio, a tradução para o português, uma língua neolatina assim como a francesa, dá crédito à intuição benjaminiana. De todo modo, não deixa de ser inusitada a relação entre o título traduzido (“ le narrateur ”) e o bilhete com a sugestão de tradução (“le conteur”), ambos assinados por Walter Benjamin, que parece ter duvidado de si mesmo após o trabalho da tradução. Mas o livro “A arte de contar histórias” não se restringe a apresentar uma nova tradução do clássico ensaio sobre o papel da arte tradicional de contar histórias, e Marcelo Backes soma-se a Lavelle e Otte no trabalho de tradução dos textos ficcionais. Este é dividido em quatro partes, que são acompanhadas de uma nota de apresentação da coleção escrita pelos editores Amon Pinho e Francisco Pinheiro Machado e de um posfácio assinado por Lavelle. A primeira parte, intitulada “Ensaio”, abriga a nova tradução do ensaio sobre o contador de histórias. Já a segunda parte, “Contos”, traz ao todo dezesseis contos escritos por Benjamin ao longo das décadas de 1920 e 1930 (com prevalência da produção na última década), em sua maioria inéditos em língua portuguesa. Na terceira parte, intitulada “O contador de histórias no rádio”, temos acesso a quatro peças radiofônicas escritas pelo autor e filósofo alemão que foram transmitidas durante a década de 1930, com exceção da peça “No minuto exato”, que teria sido publicada no Frankfurter Zeitung, em 6 de dezembro de 1934, sob o pseudônimo de Detlef Holz. A quarta e última parte do livro, de nome “Conto e crítica”, abriga quatro textos híbridos publicados em jornais. Uma tal divisão do livro poderia indicar um viés de leitura que parte da teoria sobre a arte de contar histórias para a sua aplicação em contos e peças, sugerindo para quem leia os textos ficcionais encontrar neles traços dos conceitos e reflexões que são apresentadas no ensaio de abertura. Ler assim o livro ora organizado e os escritos de Benjamin seria, melhor dizendo, não lê-lo, pois desconsidera a novidade que a leitura dos textos ficcionais benjaminianos solicita. Ao contrário, é possível ler essa proposta de organização como um caminho que vai da filosofia à literatura, de maneira a, por fim, trazer textos onde essa divisão mesmo já não faz sentido.
De tom marcadamente nostálgico e bastante crítico a ainda jovem modernidade técnica, o ensaio sobre o contador de histórias apresenta a figura arcaica, o que vale dizer aqui pré-moderna, do contador de histórias como a imagem que caracteriza um tipo de arte que carrega em sua própria forma a memória de uma organização social comunitária, em que a transmissão de experiências se organizava mediada pelo trabalho artesanal, era apreendida e transmitida a partir de um mestre e compartilhada por uma comunidade. Ou seja, a arte de contar histórias carregaria consigo, em sua forma oral (e encarnada nas figuras do ancião, do mestre ou do viajante estrangeiro), a lembrança e a potência de uma organização social pouco mediada pela técnica moderna, índice para Benjamin nesse ensaio de uma modernidade bárbara, que fragmentou, sobretudo no século XX, não só o trabalho e o processo produtivo com máquinas e linhas de produção, mas os próprios indivíduos em sua subjetividade e vida social nas grandes cidades e na experiência da Primeira Grande Guerra Mundial. Vale dizer que Benjamin também associa o declínio ou desaparecimento do contador de histórias ao surgimento de uma nova forma de arte, a do romance como gênero narrativo, que tem em “Dom Quixote” se u marco, mas que irá se desenvolver sobretudo a partir do século XVIII. A invenção da imprensa produz ainda, depois do romance, a informação, que desassocia a narrativa e dispensa o contador porque explica tudo. O contador de histórias seria aquele capaz de encontrar na riqueza da experiência transmissível a matéria de sua arte e preservar da experiência sempre algum mistério que não é totalmente dito. Contudo, Lavelle ressalta, apesar do tom nostálgico pelo diagnóstico decaído do teor da experiência media da pela técnica Benjamin, “ao evocar [com a figura do contador de histórias] o arcaísmo da narrativa que se inscreve na tradição oral […] tem o projeto de construir uma nova forma, profundamente moderna”. 8 Para a filósofa e tradutora, Benjamin não tematiza a narração tradicional apenas teoricamente (como o público brasileiro até agora tinha acesso pelos ensaios e textos críticos sobre o tema), mas também através de uma produção ficcional de contos e peças radiofônicas nos quais “as estratégias tradicionais da arte de contar histórias são mobilizadas, discutidas e ironizadas”.9 Tais procedimentos são bastante explícitos, por exemplo, em contos como “A sebe de cactos” e “O segundo eu”, em que certo efeito de choque causado pela evocação nostálgica do contado r de histórias e sua arte acontece concomitantemente à denúncia dessa mesma nostalgia através do recurso à ironia do contista moderno no modo como este se utiliza das formas narrativas tradicionais, às quais claramente está interditada a ele uma adesão substancial.10 Em “A sebe dos cactos”, por exemplo, vemos o desenrolar de uma história contada vinte anos depois de ocorrida: a do primeiro estrangeiro que chegou à ilha de Ibiza, o irlandês O’Brien. O estrangeiro, um homem experiente e viajado, antes de chegara Ibiza vivera alguns anos de sua juventude na África, e é a partir dessa experiência em outro continente e de suas consequências que o conto se desenvolve. Circulava entre os habitantes de Ibiza a história de que O’Brien havia perdido para um amigo sua única e valiosa propriedade: uma coleção de máscaras negras que havia adquirido com nativos em seus anos pelo continente africano. O amigo usurpador teria morrido em um incêndio de navio, levando consigo para sempre a tal coleção. A história era famosa entre todos os moradores da ilha, porém ninguém sabia ao certo suas fontes. Certo dia, O’Brien convidou o narrador para uma refeição e, depois de concluída a refeição, o estrangeiro decidiu-se por mostrar algo ao narrador: sua coleção de máscaras negras, exatamente a mesma que havia naufragado, segundo era sabido por todos, com o amigo desleal. O narrador nos descreve assim a cena de encontro com as máscaras:
Mas eis que ali estavam penduradas, vinte ou trinta peças, no quarto vazio, sobre parede s brancas. Eram máscaras de expressões grotescas, que revelavam sobretudo uma severidade levada ao cômico, uma recusa completamente inexorável de tudo que era desmedido. Os lábios superiores abertos, as estrias abobadadas que haviam se tornado a fenda das pálpebras e sobrancelhas pareciam expressar algo como asco infinito contra aquele que se aproximava, até mesmo contra tudo o que se aproxima, enquanto os cimos empilhados dos adorno na testa e os reforços das mechas de cabelos entrançadas se destacavam como macas que anunciavam os direitos de um poder estranho sobre aquelas feições. Para qualquer dessas máscaras que se olhasse, em lugar nenhum sua boca parecia destinada, como quer que fosse, a emitir sons; os lábios grossos e entreabertos, ou então bem cerrados, eram cancelas instaladas antes ou depois da vida, como os lábios dos embriões ou dos mortos. 11
Após a descrição, O’Brien conta ao narrador como reencontrou cada uma daquelas peças. As janelas de sua casa davam para uma sebe de cactos enorme e bastante velha e, nu m dia de lua cheia, ao tentar dormir, sua cabeça foi tomada por lembranças e pela luz da lua, o que fez com que visse, como uma aparição, penduradas na sebe de cactos, as imagens das máscaras que havia perdido. Como que tomado pelo sono e pela visão, passo u dias inteiros esculpindo as máscaras que via, e assim produziu todas aquelas que estavam na sala e que o narrador podia ver também. Ou seja, o estrangeiro havia rememorado as máscaras e, a partir de seu trabalho, reproduzido artesanalmente cada uma delas em madeira. Depois disso nunca mais o narrador do conto e o estrangeiro se viram, pois logo em seguida O’Brien morreu. Anos mais tarde, diferente da visão que fizera O’Brien esculpir uma a uma as máscaras perdidas, o que faz o narrador do conto rememorar uma tal história é ter se deparado, certo dia, com três máscaras negras numa vitrine de um comerciante de arte em Paris. O conto termina assim: “Posso”, disse eu, voltando-me para o diretor da casa, “parabenizá-lo de coração por essa aquisição incrivelmente bela?” “Vejo com prazer”, foi a resposta, “que o senhor sabe honrar a qualidade! Vejo também que o senhor é um conhecedor! As máscaras que o senhor com razão admira não são mais do que uma pequena amostra da grande coleção cuja exposição estamos preparando no momento!” “E eu poderia pensar, meu senhor, que essas máscaras certamente inspirariam nossos jovens artistas a fazer suas próprias tentativas interessantes.” “É o que eu espero, inclusive!… Aliás, se o senhor se interessar mais de perto pelo assunto, posso fazer com que cheguem até o senhor, do meu escritório, os pareceres de nossos maiores conhecedores de Haia e de Londres. O senhor haverá de ver que se trata de objetos de centenas de anos. De dois deles eu diria até que de milhares de anos.” “Ler esses pareceres de fato me interessaria muito! Eu poderia perguntar a quem pertence essa coleção?” “Ela pertence ao espólio de um irlandês. O’Brien. O senhor com certeza jamais ouviu seu nome. Ele viveu e morreu nas Ilhas Baleares.” 12 Aquele que escreve agora o conto é alguém que anda pelas ruas e galerias de uma grande cidade, a Paris do começo do século XX, e que tem a capacidade de, mesmo em meio à atenção difusa e distraída que a percepção nas grandes cidades produz, consegue transformar o choque de um encontro furtivo na rememoração de uma experiência.
O filósofo italiano Giorgio Agamben pensa, no ensaio “O que é o contemporâneo?”, que uma tal questão pode ser caracterizada por aquilo ou aquele que “mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro”, 13 e que vê esse escuro do seu tempo “como algo que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo”.14Pensando o contemporâneo como intempestividade – retomando assim a proposta nietzschiana presente nas Considerações Intempestivas –, a exigência de “atualidade” em relação ao presente é pensada não nos termos de uma sincronicidade, mas sim de uma desencontro com este. “Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões”. 15 Essa não-coincidência entre tempo e pertencimento não significa que o homem contemporâneo, nos termos agambenianos, seja um nostálgico. Pelo contrário, um homem pode não concordar com os rumos de seu tempo e saber que lhe pertence irrevogavelmente, sendo o caráter contemporâneo pensado aqui como uma singular relação com o próprio tempo. Esse parece ser o caso dos escritos teóricos e ficcionais de Benjamin presentes no livro “A arte de contar histórias”. Seus contos, como podemos ler na cena que encerra “A sebe de cactos”, abordam ao mesmo tempo em que parecem promover uma relação entre o arcaico e o moderno que talvez seja da ordem de “um compromisso secreto”, como nos diz Agamben, “e não tanto porque as formas mais arcaicas parecem exercitar sobre o presente um fascínio particular quanto porque a chave do moderno está escondida no imemorial e no pré-histórico”. 16 A reelaboração dos objetos rituais africanos na pintura cubista de Pablo Picasso, marcada então pelo que veio a se chamar primitivismo, encontra afinidades com a fragmentação dos corpos mutilados pelas máquinas de guerra, frutos da civilização técnica. As vanguardas da primeira metade do século XX irão produzir, assim, uma nova forma de arte que circula em galerias mundialmente, e que pode ter sido exposta pela primeira vez em alguma galeria parisiense como aquela que o narrador de “A sebe de cactos” passeia. Aprendemos também com o contista Walter Benjamin a pensar não a partir de dicotomias, mas sim por imagens dialéticas: a modernidade técnica e sua relação tensa com a tradição como aquilo que pode condenar e salvar o destino dos homens e das civilizações.
Notas
1 Sobre a recepção de Benjamin no Brasil Cf., por exemplo, PRESSLER, Günter Karl. Benjamin, Brasil. A recepção de Walter Benjamin, de 1960 a 2005. Um estudo sobre a formação da intelectualidade brasileira. São Paulo: AnnaBlume, 2006.
2 BENJAMIN, W. “O narrador. Considerações sobre a obra de Nicolai Leskov”. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas, vol. 1).
3 Cf. a nota editorial presente em BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. São Paulo: Hedra, 2018, p. 19.
4 Cf. PINHO, A.; Pinho MACHADO, F. P. “Sobre a Coleção Walter Benjamin” In: BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. São Paulo: Hedra, 2018, p. 13.
5 O verbo zählen em alemão significa “contar”, no sentido de “fazer conta”, “enumerar”, e há uma gama de termos ligados ao verbo que engendram um campo semântico próprio ao universo contabilístico. Em relação ao mesmo campo semântico do verbo zählen deriva o verbo erzhälen, que também significa contar, contudo, por meio de palavras, no sentido de relatar um enredo ou uma história. De onde, por fim o sentido de “Erzähler” como contador de histórias.
6 Conforme indicação da nota dos editores “Sobre a Coleção Walter Benjamin”, Cf. BENJAMIN, Walter. Gesammelte Briefe, vol. VI. Edição de Christoph Gödde e Henri Lonitz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000, p. 367.
7 Cf. PINHO, A.; MACHADO, F. P. Op. cit., p. 13
8 LAVELLE, Patrícia. “O crítico e o conta dor de histórias” In: BENJAMIN, Walter. Op. cit., p. 267.
9 Id.
10 Ver LUNAY, M a r c. “ P r e f a c e ”. I n: B E NJA M I N, Walter. N’oublie pas le meilleur et autres histoires et récits. Apud LAVELLE, Patrícia. Op. cit., p. 267.
11 BENJAMIN, Walter. “A sebe dos cactos”. In: A arte de contar histórias. Op. cit., pp. 85-86.
12 Ibid, pp. 89-90.
13 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009, p. 62.
14 Ibid., p. 64.
15 Ibid., pp. 58-59.
16 Ibid., p. 70.
Referências
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009, p. 57.
BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. Org. Patrícia Lavelle. Trad. George Otte, Marcelo Backes e Patrícia Lavelle. São Paulo: Hedra, 2018.
__________. Gesammelte Briefe, vol. VI. Edição de Christoph Gö dde e Henri Lonitz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000.
__________. N’oublie pas le meilleur et autres histoires et récits. Trad. Marc de Launay. Paris: L’Herne, 2012.
PRESSLER, Günter Karl. Benjamin, Brasil. A recepção de Walter Benjamin, de 1960 a 2005. Um estudo sobre a formação da intelectualidade brasileira. São Paulo: AnnaBlume, 2006.
Jessica Di Chiara-Possui Graduação (2015) e Mestrado (2018) em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é doutoranda em Filosofia pela PUC-Rio. É autora de artigos publicados em livros e revistas acadêmicas, estudando a relação entre pensamento e forma sobretudo a partir da filosofia de Theodor W. Adorno. Também atua como curadora no coletivo A MESA, que promove exposições em galeria própria no Morro da Conceição, Rio de Janeiro. Integrante do grupo de pesquisa Arte, Autonomia e Política, da PUC-Rio. E-mail: [email protected]
Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia – FLUSSER (AF)
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia. São Paulo: É Realizações, 2018. Resenha de: PEREIRA, Juliana Santos. Artefilosofia, Ouro Preto, n.26, jul., 2019.
A primeira edição de “Filosofia da caixa preta – Ensaios para uma filosofia da fotografia” do filósofo e escritor tcheco-brasileiro Vilém Flusser foi inicialmente publicada em alemão – “Füreinephilosophie der fotografie” – e recriada e publicada em português pelo próprio autor no mesmo ano de publicação da edição alemã, 1983. O livro é resultado de aulas e conferências que aconteceram na Alemanha e na França, sendo pioneiro na discussão sobre a filosofia da fotografia, a qual se tornou o fio condutor de toda a produção de Flusser até o fim de sua vida. A reedição do livro pela editora É Realizações é fruto da pesquisa de doutorado de Rodrigo Maltez Novaes, durante o seu período de imersão no Arquivo de Berlim. Com o objetivo de enriquecer a edição, foram incluídos um texto de apresentação e posfácios de professores e intelectuais conhecidos por seus trabalhos com a obra do filósofo.
A obra “Filosofia da Caixa Preta” é apresentada para o leitor de capa como um livro de filosofia. Entretanto, localizá-lo em uma única disciplina é tarefa desafiadora, já que a hipótese de Flusser pode ser aplicada em diferentes áreas, como antropologia, sociologia, arqueologia e, por último e mais presente, em futurologia (ciência do futuro). Logo, é necessário começar pelo o que essa obra não é. Além de não ser apenas uma abordagem filosófica, ela também não é uma discussão sobre a arte da fotografia. O tema fotografia é utilizado como pretexto para uma discussão sobre como os aparelhos têm papel fundamental na modelação do pensamento humano. A palavra urgência é vista em vários momentos do livro como alerta à necessidade de uma filosofia dos aparelhos para que possamos manter a liberdade de pensamento. Para Flusser, a filosofia da fotografia é caminho para a liberdade e “liberdade é jogar contra o aparelho” (p. 100). Assim, tratar da intenção deste último é caminho para que possamos decifrá-lo.
Os aparelhos inauguraram o momento pós-industrial onde o homem, antes cercado por máquinas, passa a pensar, viver, conhecer, valorar e agir em função deles. O início desse momento é marcado pelo surgimento da fotografia. O filósofo defende que o aparelho fotográfico é o patriarca dos aparelhos, é o ponto de partida de uma nova existência humana que abandona a escrita linear em troca de um pensar imagético. “No momento em que a fotografia passa a ser modelo de pensamento, muda a própria estrutura da existência, do mundo e da sociedade.” (p. 98) Além do aparelho, os conceitos de imagem, imagem técnica, programa e informação são base para o desenvolvimento da hipótese flusseriana. Com o intuito de “criar atmosfera de abertura para campo virgem” (p. 10), Flusser nos apresenta um glossário com novos significados para as palavras, inserindo o leitor no universo pós-histórico das imagens técnicas, que inauguram “um modo de ser ainda dificilmente definível” (p. 9). O autor faz uso de elementos do universo fotográfico para conceituar a formação do pensamento por meio das imagens técnicas.
Ao abordar o conceito de imagem, o autor afirma que elas “são superfícies sobre as quais circula o olhar” (p. 96), são mediações entre o homem e o mundo. Para que esta mediação não seja percebida como a realidade, é necessário decifrar os elementos que são apresentados em sua superfície, que é dotada de múltiplos significados. O receptor, ao tentar decifrar a imagem, circula pela mesma voltando o olhar para elementos preferenciais de significado. O ato de circular pela imagem é definido por Flusser como “tempo de magia” (p. 16), tempo em que o olhar estabelece relações significantes.
Diferentemente da escrita linear, que possui plano contínuo e que “estabelece relações causais entre eventos” (p. 16). O autor afirma que as imagens não eternizam eventos; “elas substituem eventos por cenas” (p.
17). E é o que define o caráter mágico das mesmas. Se inicialmente as imagens tinham o propósito de “serem mapas do mundo” (p. 17), elas passaram a esconder o mundo para o seu receptor. A humanidade passa a viver em função delas e o mundo torna-se um conjunto de cenas. Sua superfície é a realidade. Assim, caracteriza-se a idolatria, o homem que vive magicamente. Diante desse homem, a humanidade, que não decifra mais imagens, passa a desfiá-las de modo que os elementos planos são postos em linhas. Surge a escrita linear e com ela a consciência histórica, “consciência dirigida contra as imagens” (p. 18). Antes da escrita linear, não havia história, e sim acontecimentos. Contudo, o homem novamente cria o instrumento para se servir dele e acaba servindo a ele. Como nova mediação, entre o homem e a imagem, o texto tapa a imagem para o homem, e o mesmo não é capaz de reconstituir as imagens explicadas pelos textos, ou seja, decifrá-los. A ciência é exemplo de como os textos explicam um universo inimaginável. Surge então a textolatria. Ambas as alienações tratadas pelo autor – idolatria e textolatria – acontecem pois há uma dialética interna inerente às mediações entre o homem e o mundo. Tanto a imagem quanto o texto representam o mundo, mas também o encobrem. Serve m para orientar a humanidade, mas também formam biombos, alienando-a e desalienando-a. O homem esquece da razão pela qual criou o instrumento e passa a agir em função dele.
E, diante de um universo inimaginável e dominado por textos, surgem as imagens técnicas. A fotografia é criada. Para seu deciframento, é importante entender seu posicionamento ontológico: “as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o mundo” (p. 21). E é preciso considerar que essa imagem do mundo passou por intenções que incluem a “cabeça” do agente humano e um aparelho com conceitos definidos. O aparelho é incógnita no processo de codificação dos símbolos, é caixa preta, “dada a dificuldade de tal tarefa, somos por enquanto analfabetos em relação às imagens técnicas. Não sabemos como decifrá-las” (p. 24). Devido a isso, as imagens técnicas tornam-se barreiras entre o homem e o mundo.
Historicamente, as imagens tradicionais (pinturas) definem a pré-história e o surgimento da escrita linear (texto) define o conceito de história. O surgimento das imagens técnicas define o fim de uma narrativa linear e, portanto, o início da pós-história. As imagens técnicas são, segundo o filósofo, a segunda tentativa da humanidade de resolver os desdobramentos gerados por revoluções fundamentais na estrutura cultural.
“As imagens técnicas são produzidas por aparelhos” (p. 29). Para apresentar o conceito de aparelho, Flusser, por meio de uma perspectiva histórica, aponta três momentos importantes da relação da humanidade com os objetos culturais. No período pré-industrial, o homem era cercado por instrumentos, que “são prolongações de órgãos do corpo” (p. 31). A enxada é o dente; o martelo é o punho. Com a revolução industrial, os instrumentos são aperfeiçoados por teorias científicas e temos então as máquinas. O autor afirma que os instrumentos funcionavam em função do homem até então e, no período industrial, o homem passa a funcionar em função das máquinas. Com a criação da fotografia, ou seja, do aparelho fotográfico, o filósofo aponta para uma dificuldade em definir este novo objeto cultural, uma vez que é pós-industrial. O período industrial é marcado pelo trabalho, e aparelhos não trabalham, são brinquedos. A intenção deles, segundo o autor, não é modificar o mundo, e sim modificar a vida do homem. O homem que os opera não trabalha, ele joga – é “ homo ludens” (p. 35).
O funcionário que o manipula está concentrado em explorar as suas potencialidades, é a “pessoa que brinca com o aparelho e age em função dele” (p. 9). O aparelho emancipa o homem do trabalho e o libera para o jogo.
Por meio do aparelho fotográfico, o conceito de programa é apresentado. As imagens geradas pelo aparelho contêm em sua superfície o resultado do que foi programado e pré-inscrito no mesmo. Inscrição feita com conceitos definidos por outro programa, a indústria fotográfica. Os conceitos definidos, de acordo com os interesses da indústria, permutam no aparelho de maneira automática e aleatória. As intenções do fotógrafo precisam passar por esses conceitos, para que se chegue à fotografia. Por estar amalgamado, imerso, o fotógrafo tem suas intenções limitadas pelas possibilidades dispostas no programa. Não se escolhe dentro de limitações, “o fotógrafo somente pode agir dentro das categorias programadas no a parelho” (p. 49).
Portanto, cabe questionar: há liberdade no ato de fotografar? Para o filósofo, ser livre é conseguir driblar o programa que foi criado por outro programa, a indústria fotográfica, que responde a outro acima dele e assim consecutivamente.
“Todo programa exige metaprograma para ser programado. A hierarquia dos programas está aberta para cima” (p. 38).
E é nesse ponto que o autor levanta o problema da crítica à fotografia e de como os críticos já estão inseridos no aparelho. Para Flusser, no embate entre o homem e o aparelho, a vitória humana só é possível se ele conseguir contornar os limites do programa. Logo, “as fotografias ‘melhores’ seriam aquelas que evidenciam a vitória da intenção do fotógrafo sobre o aparelho” (p. 58).
Flusser também aponta problemas ligados aos canais de distribuição da fotografia que imprimem o significado final da imagem por meio de linhas editoriais. Para uma crítica adequada da fotografia, é necessário considerar os canais de distribuição no momento do seu deciframento. Além das intenções primárias a serem analisadas, a do fotógrafo e a do aparelho, é preciso analisar as intenções do canal de distribuição. Flusser afirma que os canais de distribuição são silenciados pela maior parte da crítica e o resultado dessa crítica funcional é que “o receptor da fotografia vai recebê-la de modo não crítico” (p. 70).
O filósofo também trata dos conceitos de propriedade e informação, que têm seus valores redefinidos no universo da fotografia. O caráter multiplicável do objeto fotográfico tem como resultado a perda de valor da mesma. O valor da fotografia não está no papel no qual foi impressa, mas sim na informação contida em sua superfície. Portanto, a informação passa a ter mais valor que o objeto em si – a “folha” (p. 70). Ser proprietário de uma folha fotográfica não tem mais o peso de propriedade da era industrial. Ser proprietário do programa que distribui a informação é o que de fato tem valor. “Pós-indústria é precisamente isto: desejar informação e não mais objetos” (p. 64). O poder não está mais em quem possui os aparelhos, mas em quem é dono dos programas. E também em quem produz os programas.
Para além da sua desvalorização como objeto, as fotografias contribuem para uma ausência de consciência histórica. Fotografias de fatos históricos pedem análise de suas causas e efeitos para seu deciframento, o que implica ir além dos significados postos n a superfície da imagem. O receptor, programado magicamente, não vai além da imagem, uma vez que essa é a realidade e nada mais precisa ser explicado, lido, contextualizado. Os olhos programados já se encarregaram de entender os fatos. “Esse ‘saber melhor’ deve ser reprimido quando se trata de agir segundo o programa” (p. 78). A repressão da consciência histórica contribui para uma existência robotizada, pois somente ela é capaz de tornar transparente o jogo dos aparelhos.
No fim do livro, Flusser dirige a questão da liberdade aos fotógrafos experimentais, pois sua práxis é realizada contra o aparelho. Ele trata da estupidez do aparelho, enfatizando que os programas podem ser alterados, as informações produzidas podem ser desviadas e, portanto, são passíveis de serem driblados. E essas ações só serão possíveis quando a humanidade encarar o jogo dos aparelhos, quando a intenção dos donos do programa for revelada. Somente assim retomaremos a liberdade de pensamento.
“Filosofia da caixa preta” é uma obra atual e impactante. Tratar do universo fotográfico desta obra é tratar do universo dos aparelhos: administrativo, político, publicitário. A urgência de Flusser é sobre como exercer a liberdade em um contexto em que a humanidade já está integralmente programada – se é que ainda há tempo para se libertar na atualidade, uma vez que “a filosofia da fotografia trata de recolocar o problema da liberdade em parâmetros inteiramente novos” (p. 98). Em “ Filosofia da caixa preta ”, Flusser pede para refletirmos sobre um pensa r imagético, um pensar no “modo pelo qual ‘pensam’ computadores” (p. 97).
Juliana Santos Pereira-Bacharela em Comunicação Social (UAM). Pós-graduanda em Artes Plásticas e Contemporaneidade (UEMG). E-mail: [email protected]
“A Descoberta do Cotidiano – Heidegger, Wittgenstein e o problema da linguagem” – AQUINO (ARF)
AQUINO, Thiago. A Descoberta do Cotidiano – Heidegger, Wittgenstein e o problema da linguagem. São Paulo: Edições Loyola, 2018. 178p. Resenha de: SILVA, Marcos. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n. 22, jul./dez. 2019.
O quadro conceitual que organiza nossas atividades e percepção, que regula nossas práticas, possui ele mesmo um fundamento frágil, gratuito, precário, vulnerável a tantas pressões. É, pois, limitado e finito, porque baseado em nossa forma de vida limitada e finita. Não se trata, aqui, de se recusar fundamentos em nossas atividades teóricas e práticas. Contudo, deve-se enfatizar a compreensão de que estes fundamentos, eles mesmos, não têm fundamento necessário algum. Em outras palavras, o fundamento do fundamento poderia ser inteiramente diferente.
Aquilo que parece ser necessário e auto-evidente, aquilo de que estamos mais convictos, maximamente certos, aquilo do que não abriríamos mão mesmo com forte evidência contrária, o que forma a aparente base sólida para nossas ações práticas e teóricas no mundo, aquilo que dá fundamento à nossa linguagem e constitui o pano de fundo de nossas ações no mundo, aquilo que passa tácito, implícito, sem precisar ser dito e tampouco defendido, é, em verdade, baseado em contingências relacionadas a nosso cotidiano e especificidades biológicas e culturais.
É necessário, para se entender esta racionalidade humana fundante, mas sem fundamento, se partir de nossa maneira peculiar de estar no mundo como agentes engajados em inúmeras práticas, sempre mergulhados em uma cultura e na história, jogados num mundo de envolvimentos diversos, corporificados, finitos e mortais. Agir significa tentar, em última análise, ter bases mais seguras para sobrevivência em um mundo hostil ao invés de simplesmente tentar compreendê- lo intelectualmente.
Heidegger e Wittgenstein, me parecem, partem, em suas filosofias, do reconhecimento radical de nossa finitude e limites. Todo o resto, inclusive o aparentemente definitivo e intocável, marcas tradicionais da lógica e da matemática, deveria refletir a nossa condição humana radicalmente finita e precária. Só podemos entender o tipo de ser que nós somos e o fundamento de nossa racionalidade, se procurarmos entender o tipo de práticas com as quais nos engajamos em nosso cotidiano. A nossa capacidade de linguagem e de cognição teórica deve ser vista como baseada em nossa capacidade prática de fazer coisas correta ou incorretamente, ou melhor, de reconhecer e assumir atividades, nossas e de outros, como corretas ou incorretas a partir de parâmetros e critérios acordados e herdados.
Acredito que pensar os dois filósofos, Heidegger e Wittgenstein, em conjunto e não isoladamente, como que insularizados em tradições divergentes, a continental e a analítica, é urgente para a introdução de um novo pensar e para um novo conceito contemporâneo de racionalidade. Ambos, o pensar e a racionalidade, apontam as filosofias de Heidegger e Wittgenstein, devem ser sensíveis à nossa condição humana e aos desafios da contemporaneidade, sem idealizações filosóficas desencaminhadoras.
A aproximação de dois autores tão centrais, seminais e controversos na filosofia contemporânea requer maturidade e originalidade filosóficas. Algo que um bom livro de filosofia deveria ter e o livro de Thiago Aquino “Descoberta do cotidiano: Heidegger, Wittgenstein e o problema da linguagem” mostra sistematicamente.
Em certo sentido importante, filosofia é sempre contemporânea de si mesma e dos problemas de sua época. Thiago Aquino, como um bom contemporâneo de si mesmo, aponta para como devemos pensar, auscultar nossa época, uma vez que não há um fora possível de nossa própria contemporaneidade.
Neste sentido, o livro de Aquino cumpre o papel de estimular discussões tão fascinantes quanto urgentes.
Como Aquino defende, os autores escrevem obras “construídas literariamente de modo a pressupor uma transformação de quem lê como condição de seu entendimento.” p. 121. Acredito que o livro de Aquino possa, através da aproximação, contribuir para a abertura para esta transformação. Aliás, vale notar que a própria aproximação filosófica entre Wittgenstein e Heidegger por si é central, seminal e controversa, como as filosofias dos dois filósofos.
O livro de Tiago Aquino, é um bem-vindo livro: corajoso, instigante e necessário.
A aproximação marca a coragem pelo enfrentamento da cisão histórica de tradições abarcando movimentos filosóficos muitas vezes conflitantes. De fato, o livro cobre um material tanto vasto como difícil de tradições e períodos diferentes dos dois pensadores. É instigante, por aproximar tradições diferentes e indicar o muito que tem para ser feito em diferentes áreas da filosofia que podem ser iluminadas pela aproximação. É necessário, por oferecer, acredito, uma plataforma filosófica, ainda insipiente, mas suficiente para se pensar e avançar em desafios diversos contemporâneos, como em discussões a respeito de lógicas não-clássicas, natureza da computação, neuro-ciências, cognição corporificada, inteligência artificial, psicologia do desenvolvimento, antropologia, política em dinâmicas intricadas culturais e sociais. Tudo isto em um horizonte de racionalidade finita, intramundana e radicalmente contingente. Eu li o livro como um convite tácito para colaboração. A obra mostra o muito que ainda pode ser feito, apesar do diagnóstico negativo, em sua conclusão, sobre alguma convergência radical entre os dois filósofos.
No que se segue apresento três razões para a tempestividade do livro e em seguida apresento quatro problemas para motivar o debate. A primeira tempestividade examina diretamente a cisão entre filosofia analítica e continental; o segundo elemento oportuno trata justamente do próprio trabalho difícil, mas relevante, de aproximação entre Wittgenstein e Heidegger. E o terceiro ponto de tempestividade, gira em torno da relação própria entre linguagem e lógica no fluxo de nossas vidas cotidianas.
Sobre o primeiro marco da tempestividade, acredito que uma das principais ideias que permanecerão com o leitor após a leitura deste livro provocativo é como temas que ocupam muito esforço e tempo de discussões podem se desgatar e ficar ultrapassados, inclusive em filosofia. A intricada distinção entre filosofia analítica e continental que animou muitas das discussões no último século está gradualmente, acredito, perdendo sua centralidade e relevância. Me atreveria a dizer que, hoje, se remete a mais uma divisão ideológica e institucional que a um problema filosófico genuíno.
Além disso, acredito que este enfraquecimento pode ser um sinal para que possamos levantar suspeitas a respeito da própria origem da divisão entre analíticos e continentais. A pouca importância que Wittgenstein e Heidegger devotaram a esta distinção contrasta com o consenso entusiasmado que esta contenda provocou nas últimas décadas. Ela certamente não está relacionada, de modo algum, com questões de geografia. Rigor conceitual, método argumentativo, e discussões pautadas pela natureza da lógica, podem ser características das duas tradições, como o livro de Aquino testemunha. Além disso, a meu ver, a distinção entre analíticos e continentais não é nem suficiente e nem necessária para o filosofar e não representa critério nem exaustivo e nem exclusivo para o que deve importar na filosofia e para o que significa se engajar seriamente com discussões filosóficas.
James Conant (2016), por exemplo, apresenta o seguinte comentário provocativo em um coletânea promovida para unir as tradições: [It is] no more promising a principle for classifying forms of philosophy into two fundamentally different kinds than would be the suggestion that we should go about classifying human beings into those that are vegetarian and those that are Romanian (p. 17).
Há uma certa dose de arbitrariedade na distinção e esta seguiu uma crescente especialização do trabalho filosófico em muitas sub-áreas muito nuançadas de pesquisa. Estes programas de pesquisa motivaram, infelizmente, muito dissenso, desconfiança mútua e barreiras institucionais e acadêmicas para o desenvolvimento de preocupações e problemas comuns entre filósofos praticantes das duas tradições. Há inclusive ataques de grande virulência documentados na historia deste embate no século XX. Estes fatos limitaram, acredito, significativamente, em muitos casos, o alcance e seminalidade de alguns debates filosóficos.
Isto pode e deve ser mudado. Acredito que não é exagero que o livro de Aquino é um livro oportuno com uma espécie de mensagem política tácita. O livro encoraja uma maneira mais pluralista, cosmopolita e tolerante de se fazer filosofia. Também engaja seu leitor em um diálogo frutífero entre filósofos influentes do passado com interlocutores de diferentes tradições. Acredito que a comunidade filosófica brasileira tem muito a se beneficiar com esta abordagem promotora de uma nova relação transversal entre áreas distintas da filosofia, de uma nova relação produtiva entre analíticos e continentais e da profissionalização da filosofia sem sectarismos e mais inclusiva.
Espero que o livro de Aquino possa ajudar a informar e educar novas gerações de filósofos para ver como a distinção entre analíticos e continentais pode ser não-justificada, ultrapassada e, em alguns casos, sem sentido, quando, por exemplo, tentamos investigar diferentes problemas em debates filosóficos contemporâneos robustos, tanto sobre metodologia quanto sobre conteúdos, concernentes à cultura, mente, linguagem, lógica, politica, subjetividade, normatividade e racionalidade. A divisão entre analíticos e continentais não é intransponível. Especialmente sem os diversos manifestos de combate planetário das últimas décadas.
Eu mesmo comecei como um graduando em filosofia fascinado por Kant, Schopenhauer e Nietzsche e, então, me remeti ao (primeiro) Wittgenstein e Frege como referências do como filosofar. Contudo, agora, com o reconhecimento da deficiência debilitante em partes da metodologia e perspectivas da filosofia analítica profissional, sinto a necessidade de voltar para autores da tradição continental, justamente porque alguns estereótipos presentes são maléficos para se abordar demandas de pesquisa naturais sem excessiva institucionalização. De fato, variantes do naturalismo cientifico ingênuo e do realismo acrítico não são e não devem ser as únicas formas de posição intelectual abertas para um filósofo analítico.
O segundo ponto de tempestividade do livro de Aquino é a própria aproximação de Wittgenstein e Heidegger sob a discussão da natureza da linguagem, independente da leitura atenta ou cuidadosa ou não que um filósofo fez do outro.
Aquino discute, a partir da linguagem, os dois pensadores que parecem ter sido responsáveis, respectivamente, nas variantes analítica e continental da filosofia contemporânea, pela assim chamada virada linguistica. Esta virada historicamente reconhece o protagonismo da linguagem no fazer filosófico, tanto como metodologia quanto como objeto de estudo. De fato, há curtos e raros, exemplos de comentários dos dois filósofos um sobre o outro. Apesar disto, o grande reconhecimento de ambos a respeito dos problemas sobre a relação do sentido da linguagem com a estrutura e totalidade do mundo como tal são investigados por Aquino. Estes problemas não são concernentes apenas à linguagem como um fenômeno histórico ou como uma estrutura formal, mas como relacionada à nossa radical finitude, contingência e intramundanidade evidenciada pelo nosso estar linguístico no mundo tão especial quanto cotidiano.
O livro de Aquino mostra como os dois autores compartilham uma visão muito ampla e significativa a respeito das relações tradicionais entre linguagem e mundo que permanecem abertas e conosco ainda hoje. Um texto recente de Livingston (2016), por exemplo, expõe um problema de limite de compreensão, mas aborda a questão a partir do primeiro Wittgenstein e do último Heidegger.
Acredito que Aquino avança no caminho correto ao pensar o Wittgenstein das “Investigações Filosóficas” e o Heidegger de “Ser e o Tempo”.
Esta observação nos permite falar do terceiro ponto oportuno que Aquino traz. A saber, a ênfase na linguagem e lógica na investigação filosófica e como elas são constituídas no e são constituintes do fluxo de nossas vidas cotidianas.
O primeiro local privilegiado de sentido, significado e valor, ou seja, de normatividade, deveria ser o ambiente próprio de nossas vidas cotidianas, ou como, coloca Aquino, de nossa cotidianidade. Isto mostra a conexão explícita entre os conceitos de ser no mundo, de um lado, e de formas de vida e jogos de linguagem, do outro.
Neste contexto, um ponto alto do livro é defender o lugar próprio da lógica na cotidianidade ao recusar a exclusividade da abordagem lógico-formal dos fenômenos linguísticos, porque esta última não apanharia o fluxo da vida onde o sentido é encontrado e construído. Este movimento recupera o logos clássico na vida cotidiana e pavimenta o caminho para se criticar a centralidade do proposicional no filosofar. Outro acerto, a meu ver, está na avaliação dos pressupostos e implicações da relação íntima entre filosofia e cotidiano, articulando meta-filosoficamente o existencial com o pragmático. Afinal, como Goethe no “Fausto” aponta: “No começo era o ato”, ou seja, habilidades práticas situadas e dinâmicas, e não, o conteúdo intelectual estático fora de qualquer relação com o mundo e o corpo.
Aquino defende que esta associação entre filosofia e cotidianidade incorpora uma mudança de atitude por uma decisão metodológica, de caráter existencial (p. 103).
Assim, a tensão filosófica em descoberta do cotidiano como descoberta do que sempre esteve lá é desenvolvida por Aquino a partir da aproximação difícil entre método hermenêutico e método gramatical na terceira parte de seu livro.
Pode-se afirmar que o pressuposto de que as relações básicas entre cotidiano e linguagem estão encobertas para o próprio cotidiano é o impulso primeiro para a justificação da análise e descrição filosófica da vida, servindo também como base para a avaliação da relação do filosofar com a autocompreensão vigente na vida comum. Enquanto pano de fundo não tematizado, a vida cotidiana padece de uma falta de transparência que o discurso filosófico pretende superar. (p. 104) A discussão sobre o papel constitutivo das práticas na linguagem e na lógica promove a recondução do pensamento para o seu lugar de origem, a vida cotidiana, revalorizada agora como locus primário da significatividade. (p. 75) Em consequência disto, qualquer interpretação filosófica que afaste o filosofar do exercício efetivo da linguagem cotidiana, o lugar da lógica, apontado por Aquino, deve ser suspeito, como a abordagem própria de autores que destacam o caráter metafísico da lógica. Aquino aponta que ambos, Heidegger e Wittgenstein, concordam que o fenômeno da linguagem não é suficientemente compreendido quando tematizado unicamente por intermédio da análise de estruturas formais.
Deste modo, os limites e a origem das teorias deveriam ser nossas vidas elas mesmas. Isto evidencia o primado da prática anterior a teorias e a ênfase de indivíduos inseridos num contexto de significado, de linguagem e de instituições antes do filosofar.
É um acerto tempestivo de Aquino a ênfase na semelhança, apesar das diferenças óbvias e do parco conhecimento de que um filósofo tem do outro.
* * * *
O livro possui, no entanto, ao menos, quatro pontos que poderiam ser, acredito, mais bem desenvolvidos. O primeiro a respeito da discussão sobre lógica. O segundo, a respeito das relações entre formas de vida e estar no mundo. O terceiro, a respeito da discussão contemporânea entre assimilacionismo e diferencialismo. E o quarto, a respeito da terapia linguística.
Quanto ao primeiro ponto a respeito da análise da natureza da lógica, vale notar que apesar da originalidade de se dedicar centralmente a ela, Aquino não define o que está chamando de lógica, apenas menciona lógica formal. Contudo, contemporaneamente temos diversos tipos de lógicas formais e formalismos para diversas finalidades diferentes, como a teoria da prova, dos modelos, e da recursão. Isto mostra que a discussão de Aquino ainda pode e deve ser atualizada para trazer atenção de filósofos e lógicos da tradição analitica.
Além disso, há, a meu ver, uma espécie de descompasso técnico entre Wittgenstein e Heidegger para servir como esteio filosófico de críticas à concepção contemporânea de lógica. Aquino trata do lugar da lógica e da recusa de seu caráter metafísico (embora não mencione problemas contemporâneos como revisão de princípios lógicos, normatividade da lógica, e pluralismo lógico). Contudo, o comprometimento de Heidegger com a lógica aristotélica parece inadequado e antiquado para discutir lógica matemática em função da primeira não expressar a complexidade da segunda. Deste modo, Wittgenstein parece estar em melhores condições para uma crítica mais acertada e bem informada da lógica formal.
Ademais, acredito que o expressivismo lógico de Brandom (1994, 2000) poderia ser usado para pensar o fundamento cotidiano da normatividade de nossa lógica, uma vez que Aquino afirma que :De modo recorrente, a lógica é concebida com base na pressuposição de seu valor essencial e de suas promessas de profundidade.
Isso pode ser exibido por intermédio do problema do vínculo entre lógica e ontologia, que não é apenas característico do contexto antipsicologista da época, mas acompanha grande parte da história dessa disciplina. (p. 150). Ora, Brandom mostra, acompanhando em parte o segundo Wittgenstein, que ainda é possível ter profundidade filosófica na lógica formal, apesar de recusarmos seu pretenso fundo metafísico. (Aliás, muito pouco de autores heideggerianos pragmatistas como Dreyfus, Brandom, e Haugeland aparecem no livro de Aquino. Rorty poderia ser mais mencionado).
O segundo ponto que poderia ser, a meu ver, mais bem desenvolvido no livro de Aquino é a relação entre os conceitos de forma de vida e Weltbild. Acredito que em muitos pontos o livro de Aquino pressupõe, mas não explica a associação entre ser no mundo (no sentido existencial e singular) e forma de vida (com ênfase no caráter social, público e biológico). Com efeito, podemos ter discussões existencialistas sem mencionar aspectos sociais e biológicos e discussões naturalistas sem a menção de aspectos existenciais. Além disso, vale notar que vida cotidiana não é o mesmo que estar no mundo e não pode ser identificado tampouco sem explicações com forma de vida. Esta dificuldade aponta outros dois problemas, a saber, a distinção entre forma de vida e cultura (p. 28) e à relação de forma de vida e discussões modais (p. 55) na própria periodização de Wittgenstein. Há no livro de Aquino várias idas e vindas no exame da trajetória filosófica de Wittgenstein, mas Aquino não discute, por exemplo, os tipos de problemas que levaram o primeiro Wittgenstein ao segundo, passando por seu rico período intermediário. Ademais, em várias ocasiões, para tratar do pano de fundo público e cultural do ser no mundo, Aquino usa o “Sobre a Certeza” (como por exemplo, p. 53-54 ou p. 152-55) e não “Investigações Filosóficas”. O conceito de Weltbild do “Sobre a Certeza” me parece mais radical que o conceito de jogos de linguagem na base de nossas formas de vida. Não podemos, em um certo sentido filosoficamente relevante, saltar para fora de nossa imagem de mundo, como poderíamos transitar entre diferentes jogos de linguagem em formas de vida diferentes, mas semelhantes.
Vale notar que no “Sobre a Certeza”, o uso de forma de vida é muito escasso. O conceito principal parece ser o de Weltbild para tratar de conflitos profundos entre imagens de mundo ao enfatizar como somos introduzidos nelas. A pergunta que emerge aqui é: A remissão de Aquino aos textos finais da trajetória filosófica de Wittgenstein é acidental? Não seria o “Sobre a Certeza”, o texto existencialmente importante do Wittgenstein em função do exame do nosso Festhalten em uma imagem de mundo herdada e da investigação da vulnerabilidade de nossas convicções fulcrais e da nossa segurança precária baseadas em crenças sem fundamento último? O terceiro ponto que poderia ser mais bem desenvolvido no livro de Aquino se remete, a meu ver, à distinção contemporânea entre assimilacionistas e diferencialistas.
O primeiro grupo de filósofos defendem a continuidade entre o ser humano e outros animais. Ao passo que a segunda tradição enfatiza a descontinuidade nas características entre seres humanos e animais não-humanos. Neste contexto, as motivações dos dois filósofos, Wittgenstein e Heidegger, parecem ser bem diferentes, ate mesmo antagônicas, como Aquino, ele mesmo, admite. (p. 61). O assimilacionismo de Wittgenstein se baseia na visão de que a linguagem deveria ser pensada como pertencendo a nossa história natural, assim como andar, comer e dormir. A linguagem humana seria uma característica animal nossa e assim como outras características deve ter sido selecionada através de um período muito longo de trocas dinâmicas com o meio e outros indivíduos por trazerem vantagens evolutivas para nossa espécie. Segundo esta visão, estamos em continuidade com outros animais. Não há nada de especial entre nós e outros animais. Afinal, “somos animais primitivos”. Este é um lema do “Sobre a Certeza” (SC 475). Isto parece contrastar frontalmente com uma espécie de anti-assimilacionismo de Heidegger que visa enfatizar justamente a descontinuidade entre homem e natureza. Nesta visão, haveria uma profunda e radical descontinuidade entre seres humanos e outros animais. Afinal, a existência do humano seria uma abertura especial, uma irrupção, uma vez que o mundo dos animais seria carente de significado. Com seres humanos, algo radicalmente novo e irredutível, aparece na natureza.
O quarto ponto que, a meu ver, mereceria mais desenvolvimento trata da própria imagem de terapia e despertar existencial. Aquino descreve, por exemplo, a terapia Wittgensteiniana:
O tema da terapia é, portanto, a fixação em certas expressões, que são frequentemente empregadas e dificilmente dispensadas. A filosofia tradicional demonstra claramente o nível do apego alcançado não apenas rejeitando o abandono ou a substituição dessas expressões por outras menos fascinantes, mas também pela busca contínua de um refinamento do seu sentido, como se a definição ou o esclarecimento fosse um meio de aprofundamento da compreensão. Essa tendência necessita de tratamento, antes de tudo, porque a aparência de profundidade gerada pela expressão linguística é uma ilusão gramatical sustentada por um pathos. (p. 124)
Esta aparência de profundidade parece ser justamente um ponto de crítica Wittgensteiniano que poderia ser direcionado ao Heidegger. O Procedimento terapêutico da filosofia de Wittgenstein, descrito, por exemplo, na p. 138, parece encontrar exatamente na filosofia de Heidegger uma paciente, apesar de Aquino parecer mais simpatico às abissalidades de Heidegger. Dualmente, a análise do discurso filosófico de Wittgenstein, o limitando e regulando, se remetendo ao nosso domínio de línguas naturais e cotidianas poderia ser um bom exemplo de “falatório” não-filosófico para Heidegger. Em certo sentido relevante de filosofia como terapia pela linguagem, poderíamos dizer que: Heidegger e Wittgenstein poderiam ser ambos paciente e terapeuta um do outro.
Referências
BELL, Jeffrey et al. (Eds.). Beyond the analytic- continental divide: pluralist philosophy in the twenty-first century. New York: Routledge, 2016.
BRANDOM, Robert. Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment . Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
______. Articulating Reasons. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
CONANT, James. The Emergence of the Concept of the Analytic Tradition as a Form of Philosophical Self-Consciousness. In. JEFFREY A. BELL, Andrew Cutrofello, PAUL M. Livingston (Eds.): Beyond the analytic- continental divide: pluralist philosophy in the twenty-first century. New York: Routledge, 2016. p. 17-58.
HEIDEGGER, Martin. Being and Time. Translated by Joan Stambaugh, revised by Dennis Schmidt. Albany, New York: SUNY Press, 2010.
LIVINGSTON, Paul M. Wittgenstein Reads Heidegger, Heidegger Reads Wittgenstein: Thinking Language Bounding World. In: JEFFREY A. Bell, ANDREW Cutrofello, PAUL M. Livingston (Eds.): Beyond the analytic- continental divide: pluralist philosophy in the twenty-first century. New York: Routledge, 2016. p. 222-248.
WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus“ (logisch- philosophische abhandlung). Tradução de Luiz Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Edusp, 1993.
______. “PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS” (Philosophische Untersuschungen). Tradução de G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1958.
______. “ON CERTAINTY” (ÜBER GEWISSHEIT). Tradução de G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1969.
Sobre o autor Marcos Silva – Doutor em Filosofia (2012) pela PUC-Rio, com período sanduíche na Universitaet Leipzig, de 2009 a 2011, (bolsista DAAD/CAPES). Pós-doutorado na UFRJ (2012). Pós-doutorado (2014-2015) pela UFC, Professor da UFAL. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. E-mail: [email protected]
Guide to Byzantine Historical Writing | L. Neville
Leonora Neville2 (2004; 2012; 2016) é uma bizantinista norte-americana já conhecida por trabalhos anteriores dedicados à sociedade provincial bizantina e a dois historiadores do período intermediário: a princesa Ana Comnena (1083-1153) e seu esposo, o kaisar Nicéforo Briênio (1062-1137). Sendo um nome cada vez mais presente no campo, Neville vem realizando empreendimentos notáveis. O recente Guide to Byzantine Historical Writing é um deles e oferece uma importante contribuição por servir como um guia prático de referência à historiografia bizantina e a tudo de essencial relacionado a ela. O ponto forte da obra, preparada por Neville com o auxílio dos estudantes de pós-graduação David Harrisville, Irina Tamarkina e Charlotte Whatley, é seu grande apanhado bibliográfico multilíngue.
Segundo Neville, seu guia “[…] visa tornar as riquezas das histórias medievais escritas em grego facilmente acessíveis a todos que possam estar interessados” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa). Embora a autora seja modesta ao dizer que seu livro “[…] não contém nenhuma informação que um bizantinista diligente não pudesse rastrear com o tempo […]” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa), o mérito desse seu trabalho reside justamente em seu potencial de servir como um guia prático e acessível a essas fontes, especialmente quando consideramos que o Império Bizantino não costuma ser a primeira escolha daqueles que adentram as pesquisas sobre o período medieval, seja pelas especificidades necessárias para seu estudo, que são distintas daquelas para o Ocidente latino, seja por questões de outra natureza. A obra de Neville pode assim fomentar o interesse de públicos acadêmicos não tradicionais, como o brasileiro, onde esses estudos ainda são bastante escassos e periféricos, facilitando a busca por fontes primárias e proporcionando uma base bibliográfica como ponto de partida.
Embora não há de se negar que seu público seja os bizantinistas, aqueles que se faz questão de dizer, um gesto de boas-vindas aos classicistas, aos medievalistas e aos estudantes de modo geral. Com certeza, além de facilitar a pesquisa daqueles que já atuam no campo e dos que estão começando, esse livro tem o potencial de sanar a curiosidade de classicistas interessados pela produção historiográfica em língua grega após a Antiguidade e de ajudar os demais medievalistas, especialmente aqueles com pesquisas voltadas para os contatos interculturais no mediterrâneo medieval, onde é impossível ignorar a presença bizantina. debruçam sobre as fontes primárias dessa civilização, o livro também é, como Neville
O guia de fontes de Neville abarca exclusivamente textos historiográficos escritos entre 600 e 1490 d.C. Esse recorte singular pula o período inicial da periodização tradicional, uma vez que a autora prefere não disputar o chamado de Early Byzantium com o consagrado Late Antiquity, e estende a produção historiográfica bizantina para além da queda formal do império em 1453. Neville justifica que outras obras de natureza similar já abarcaram o período inicial ao lidarem com fontes tardo-antigas e que a queda de Constantinopla é somente um dos eventos que gradualmente alteraram o horizonte intelectual e cultural daquele mundo. O ponto realmente positivo desse recorte foi ter considerado autores que escreveram naquele mundo pós-bizantino, uma vez que eles testemunharam o crepúsculo final do Império Romano e a ascensão do poder otomano, um processo que a longo prazo causou profundas transformações na região. Por ironia do destino, considera-se que a historiografia medieval em língua grega acaba com o ateniense Laônico Calcondilas (c. 1430-1470), que escreveu dentro dos moldes daquele considerado o primeiro historiador grego, Heródoto de Halicarnasso (c. 484-c. 425 a.C.).
O capítulo introdutório apresenta algumas questões essenciais, como o debate em torno das terminologias história e crônica, a natureza do ofício do historiador em Bizâncio, a questão da imitação dos clássicos e da inovação, o sistema de datação presente nas fontes, a terminologia classicizante empregada pelos autores, a língua grega medieval e seus registros e as problemáticas transliterações empregadas pelos bizantinistas. Além disso, a autora trata sobre as principais publicações e séries de fontes e explica o que ela quer dizer por manuscrito, texto e edição ao longo do livro. Por fim, é oferecida uma pequena, mas importante bibliografia para aprofundamento, seguida por uma geral e mais abrangente.
Além da parte dedicada aos agradecimentos, da introdução e dos apêndices finais, o guia conta ao todo com cinquenta e dois capítulos que levam os nomes dos historiadores ou das obras cujos autores desconhecemos, de Teofilato Simocata (séc. VII) ao já mencionado Laônico Calcondilas (séc. XV). Os capítulos recebem geralmente as seguintes entradas: uma breve biografia do autor com alguma descrição de seus trabalhos historiográficos, uma menção aos manuscritos que chegaram até nós (ou a indicação de uma publicação que adentre isso), uma lista de edições modernas disponíveis, uma breve história de sua publicação, uma lista de estudos fundamentais para se ter como ponto de partida, uma lista das traduções realizadas até o momento e, por fim, uma lista bibliográfica mais vasta com temas relacionados ao autor e sua obra. Após esses capítulos, seguem-se dois apêndices: um gráfico indicando o período de tempo coberto pelas produções e outro indicando o período de vida dos autores.
Neville afirma tomar uma abordagem mais cética (embora isso não pareça diferente de dizer neutra) em relação às reconstruções das fontes e da vida dos autores. Ela demarca, assim, a primeira diferença de seu trabalho em relação ao de Warren Treadgold (2007; 2013), autor de duas obras sobre os historiadores bizantinos do período inicial e intermediário (a terceira, sobre o período tardio, está por vir) e mais recheada de suposições e hipóteses. Em nossa opinião, embora seja compreensível os motivos que podem ter levado a autora a seguir por esse caminho, uma vez que tomar parte em debates é adentrar em possíveis flutuações acadêmicas que podem prejudicar a obra como um guia de referência, datando-a a médio prazo, esse acaba sendo um ponto um tanto obscuro do livro, primeiro pela autora não mencionar essas diferentes interpretações (ela poderia tê-lo feito sem que as endossasse), privando seu leitor de algo fundamental; segundo por não ser um critério muito compreensível (ao menos da forma como colocada) para as posições que ela toma ao longo dos capítulos do livro.
Neville também demarca a diferença essencial de seu livro para os de Treadgold a partir do que está sendo enfocado: enquanto seu trabalho está preocupado com o texto, o de seu colega norte-americano está preocupado com os autores. Para a autora, como na maioria dos casos as informações que sabemos sobre os autores vem de seus próprios textos, deveríamos focar nossa análise no texto, dando pouca ênfase à biografia como determinante para entender a obra. Para Neville, abordar o texto ao invés dos indivíduos está na ordem do dia, como propuseram nas últimas décadas os teóricos pós-modernos da linguistic turn. Embora ela possa ter razão, os exemplos dados para justificar isso são no mínimo problemáticos.
A discussão se devemos confiar em Jorge, o monge e pecador (séc. IX) é pouco relevante; Neville acha que por ter se chamado pecador, uma notória prática monástica de humildade, coisa não enfatizada pela autora, esse autor estava provavelmente mentindo com o propósito de justificar o conteúdo moralizante de sua obra, pois, nesse contexto, chamar-se humilde seria um ato de orgulho. Assim, para Neville, esse não poderia ser um dado biográfico para se ter como ponto de partida, fazendo mais sentido adentrar diretamente no estudo do texto pelo texto. Ela continua com outro exemplo: ao dizer que escreveu em reclusão, João Zonaras (séc. XII) poderia estar se utilizando de um truque retórico para aparentar que escreveu sua obra longe de forças que poderiam influenciá-lo em sua escrita. Neville considera que os historiadores perderam tempo tentando encaixar esse dado em sua biografia e questiona se Zonaras estava recluso da mesma forma que Jorge era pecador. Nesse exemplo, ela aparenta estar sendo puramente especulativa e nada justifica o porquê não considerar realmente a hipótese da reclusão. Além disso, o exemplo de Jorge não é exatamente comparável ao de Zonaras se considerarmos o costume monástico. O problema aqui talvez não seja sua perspectiva teórica, mas uma má seleção de exemplos para sustentá-la.
Embora esse não seja o foco de seu guia, podemos contextualizar a produção intelectual de Neville entre autores que estão resgatando a ideia de uma romanidade bizantina, acabando assim com a separação imposta por historiadores no passado entre Roma e Bizâncio.3 Isso fica evidente quando a autora afirma que “A história bizantina é a história do Império Romano na Idade Média” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa). Como tem sido apontado, a imposição dessa separação tem raízes muito antigas no universo intelectual e cultural ocidental, regressando a finais do século VIII e às disputas políticas e identitárias entre bizantinos e ocidentais, posteriormente reforçada pela especialização acadêmica e a invenção de termos técnicos e delimitações artificiais como Império Bizantino e Bizâncio.4 Neville se coloca nessa discussão ao apontar a necessidade de levarmos a sério a autoidentificação dos bizantinos enquanto romanos, coisa que os estudiosos a todo momento ignoraram, preferindo desenvolver explicações sobre quem eles de fato eram por trás do que diziam. “Em nenhum outro campo os historiadores rotineiramente tratam os sujeitos de sua investigação como tendo uma compreensão incorreta de quem eles eram” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa).
Os comentários oferecidos por Neville sobre essa questão não são um aspecto superficial de seu trabalho, mas funcionam estrategicamente, pela natureza de seu livro, como um manifesto aos pesquisadores e àqueles adentrando o campo dos Estudos Bizantinos para que não ignorem esse duradouro problema. Neville alavanca algumas questões que ela acredita que precisam ser superadas para que enxerguemos definitivamente isso, como a importância exagerada dada à ascensão do cristianismo como o divisor de águas central na história da humanidade, o que teria feito com que os estudiosos entendessem que o Império Romano havia deixado de ser o verdadeiro existia na mente de seus habitantes, e os resíduos das narrativas da Renascença e do Iluminismo, que propunham uma total ruptura entre a Antiguidade e uma Idade das Trevas. Como afirma a autora, “Resistir aos efeitos posteriores desses paradigmas permite que os estudiosos levem a sério a compreensão e a autoapresentação dos cidadãos do Império Romano medieval (NEVILLE, 2018, p. 6, tradução nossa). Império Romano quando se tornou cristão, criando uma ruptura ilusória que não
Acreditamos que o bizantinista e o estudante diligentes pecarão gravemente se não tiverem esse guia ao lado de outras obras de referência já consagradas. Ademais, tendo em mente a escassez de pesquisas sobre essa civilização romana oriental, helefóna e cristã ortodoxa no Brasil, algo que se reflete também na inexistência de traduções, desde as mais básicas a trabalhos importantes publicadas nos últimos anos, consideramos que esse trabalho pode oferecer uma aproximação às fontes historiográficas bizantinas e a um grande apanhado de referências que trarão aos pesquisadores mais confiança para darem o primeiro passo na preparação de seus projetos, ajudando, portanto, a superar parte do que poderia ser uma dificuldade inicial.
Notas
2. Leonora Neville é atualmente John W. and Jeanne M. Rowe Professor of Byzantine History e Vilas Distin-guished Achievement Professor na University of Wincosin-Madison, nos Estados Unidos.
3. Cf., por exemplo, KALDELLIS, 2007, 2019 (o principal revisionista quanto a essa questão); PAGE, 2008; STOURAITIS, 2014; 2017. Diversos autores tem partido dessa perspectiva, incluindo NEVILLE, 2012. As implicâncias de se assumir uma identidade romana para os “bizantinos” e as dimensões da mesma ainda é uma questão em debate, envolven-do não somente perspectivas teóricas, mas interpretações distintas.
4. Para uma boa exposição quanto a esse problema, cf. KALDELLIS, 2019, p. 3-37.
Referências
Obra completa
KALDELLIS, A. Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
______. Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.
TREADGOLD, W. The Early Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
______. The Middle Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
NEVILLE, L. Authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
______. Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian. Oxford: Oxford University Press, 2016.
______. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
______. Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzantium: The Material for History of Nikephoros Bryennios. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
PAGE, G. Being Byzantine: Greek Identity Before the Ottomans. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Artigos
STOURAITIS, I. Roman identity in Byzantium: a critical approach. Byzantinische Zeitschrift, [s.l.], v. 107, n. 1, p. 175-220, 2014.
______. Reinventing Roman Ethnicity in High and Late Medieval Byzantium. Medieval Worlds, Vienna, v. 5, p. 70-94, 2017.
Guilherme Welte Bernardo –
Mestrando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo (PPGH/Unifesp), onde realiza pesquisa intitulada “Entre a integração e a barbarização: romanos e ocidentais na historiogra-fia bizantina dos séculos XI e XII” sob orientação do Prof. Dr. Fabiano Fernandes. Pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos Bizantinos e Conexões Mediterrânicas (NEB) e ao Laboratório de Estudos Medievais (Leme/Unifesp). E-mail para contato: [email protected].
NEVILLE, L. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: BERNARDO, Guilherme Welte. A escrita da História numa outra Idade Média: Descobrindo a Historiografia Bizantina (600-1490). Revista Ágora. Vitória, n.30, p.210-215, 2019. Acessar publicação original [IF].
Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos | Adriana P. Campos, Kátia S. da Motta, Geisa L. Ribeiro e Karulliny S. Siqueira
Organizado por Adriana Pereira Campos, Geisa Lourenço Ribeiro, Karulliny Silverol Siqueira e Kátia Sausen da Motta, a obra “Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos”1 traz consigo um relevante debate acerca da multiplicidade de relações existentes no Brasil oitocentista. A contribuição de dez autores para a realização do livro, objetivou diversificar a história política do Império, por meio da inclusão de províncias e atores políticos variados. Assim, trazendo novo sentido ao contexto imperial. O livro é resultado de debates entre pesquisadores que participaram do III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2018.
Ao nos debruçarmos sobre a obra, percebemos a multiplicidade de relações políticas contidas no Brasil Império que formavam um todo na trajetória contextual.
Retirar a lupa somente dos denominados “grandes acontecimentos” e dos principais atores políticos comumente ressaltados na historiografia é também traçar uma história política diversa em estrutura e significados. Neste sentido, a obra analisada percorre entre províncias distintas e personagens políticos ressignificados, promovendo assim, diversas participações para os acontecimentos do período, para além da Corte ou dos “grandes homens”.
Em primeiro momento, a obra contempla a temática “Biografias e trajetórias políticas” expressando a história de personagens políticos do Império que transcendem a historiografia tradicional. Vale ressaltar, a necessidade de colocar em evidência novos personagens políticos, enriquecendo o debate historiográfico com a criação de novos esquemas a serem analisados. Assim, Cecília Siqueira Cordeiro traz a análise do personagem político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, propondo um novo olhar sob as decisões políticas do liberal que é comumente recordado pela historiografia como o defensor do Brasil na causa da Independência. Rememorando, através da análise de um opúsculo, que num primeiro momento Antônio Carlos defendeu a união de Brasil e Portugal no contexto da emancipação, evidenciando uma mudança de comportamento da figura em momento posterior. Deste modo, a autora não encontra um desarranjo na trajetória política do personagem, todavia, um indivíduo alinhado a cultura política da sua época. Ademais, Cecília Cordeiro traça a trajetória historiográfica da figura deste Andrada, e a timidez de sua relevância diante de seus irmãos José Bonifácio e Martim Francisco.
A autora Adriana Pereira Campos, conduz em sua pesquisa a trajetória política de Marcelino Duarte, um padre, redator e natural da Província do Espírito Santo que foi uma das vozes exaltadas que entoaram na Corte. A análise da historiadora revela a carreira de um padre exaltado cujo pensamento político se distinguia da cultura política de sua província natal. Assim, o estudo de Campos contribui para o debate acerca do pluralismo de opiniões que circulavam nas províncias do Império e a relação que esses indivíduos possuíam com o Rio de Janeiro.
Na segunda parte da obra, intitulada “Disputas políticas e partidárias”, contemplam-se as efervescências política na Corte e nas províncias. Logo, Rafael Cupello Peixoto, debruçado sob o tema da construção da identidade nacional brasileira, investiga a Carta de Barbacena, representada no passado como símbolo da nacionalidade brasileira, ou seu valor profético acerca do resultado da conjuntura política do Primeiro Reinado.
Indicando aspectos do jogo político no entorno da Corte Palaciana de Pedro I, a análise da fonte indicou ao autor duas tendências da direita conservadora dentro dos áulicos: os tradicionalistas e os conservadores. Ademais, Peixoto expõe cada vertente e o jogo político da época.
Ampliando a escala para o Maranhão, Roni César de Araújo dedica-se ao estudo da construção da identidade brasileira naquela província, compreende, através da análise de periódicos, que o “novo espírito”2 do Brasil chegou naquela localidade em momento posterior à Corte. Neste sentido, Araújo expõe que o antilusitanismo alcançou a imprensa da província em 1825, sendo precedido pela fidelidade ao governo português. Além disso, explica as relações de conveniências expressas na região.
A terceira parte da obra abarca o “Sistema representativo e práticas políticas”, destacando a dinâmica das eleições no Império, pondo em relevância a pluralidade existente no período, no momento em que destaca a realidade do processo eleitoral em algumas províncias. Assim, Rodrigo Marzano Munari salienta a participação popular no sistema representativo em São Paulo. O autor questiona a visão de passividade da população menos abastada da sociedade imperial. Estes indivíduos, em sua perspectiva, se configuravam como atores políticos envolvidos por vontades próprias, interferindo e agindo no processo eleitoral. Ademais, Munari chama atenção para um outro olhar que a sociedade possuía acerca do sistema representativo, pois, além do voto, participavam do processo por meio de petições, queixas ou até mesmo se armando contra a vontade dos poderosos.
Ana Paula Freitas traz em sua investigação o papel da província de Minas Gerais na estruturação do Estado Nacional, considerando a importância da participação dos deputados mineiros na Reforma Eleitoral de 1855. Deste modo, a autora destaca a importância do parlamento brasileiro no sistema representativo, ressaltando a trajetória do tema até sua aprovação. Assim, analisando os resultados da reforma no ano posterior a sua aprovação, Freitas conclui que a Lei de Círculos resultou na pluralidade do parlamento e ampliou a sua representatividade.
Trazendo o debate acerca da representação no Império brasileiro, Kátia Sausen da Motta expõe de que maneira se configurava o período pré-eleitoral e as relações entre votantes e aspirantes aos cargos políticos na Província do Espírito Santo. Revelando aspectos eleitorais da época e a particularização da localidade, a autora demonstra o empenho dos candidatos e suas estratégias para garantir a vitória no pleito. Neste sentido, salienta a utilização de chapinhas nos jornais da província com o intuito de divulgar as candidaturas.
Aproximando a escala para o Nordeste, Williams Andrade de Souza constrói a sua análise através da eleição de vereadores na Câmara Municipal de Recife na primeira metade do século XIX. O autor expõe o perfil dos candidatos e votantes, suas filiações e a representatividade emanada no município. Assim, Souza apresenta o processo eleitoral para além da manutenção das elites, manifestando as peculiaridades e os desvios do processo, propondo uma complexidade de compreensão ao tema, revelando a participação de cidadãos comuns de forma ativa no movimento. Além disso, evidencia o processo da ampliação de votantes no período e a heterogeneidade presente nos pretendentes aos cargos.
A quarta parte da coletânea se intitula “Linguagens e ideias políticas”, abordando especificamente os momentos finais do Império, debatendo a linguagem da propaganda republicana na Província do Espírito Santo e as discussões acerca da escravidão na localidade, por meio da imprensa local. Deste modo, Karulliny Silverol Siqueira traça a trajetória do republicanismo no século XIX, explicando seus diversos significados, sua heterogeneidade em práticas e de recursos linguísticos. Dessa maneira, a autora traz a especificidade da província do Espírito Santo, onde o radicalismo dificilmente aflorava, trazendo o significado do republicanismo primeiramente ao municipalismo, onde os redatores de Cachoeiro de Itapemirim reclamavam a centralidade dos monarquistas na capital da localidade.
Por fim, Geisa Lourenço Ribeiro esboça a linguagem da abolição no periódico O Constitucional, pertencente ao Partido Conservador na província. A autora propõe a revisão da retórica do jornal, pois, embora o discurso de benevolência ao fim da escravidão, a trajetória linguística do O Constitucional revelaria o contrário, expondo um abolicionismo de última hora, por conveniência. Assim, o estudo da fonte indicou uma trajetória escravista no idioma da folha, e que no fim buscou trazer para o Partido Conservador o advento da emancipação. Ademais, expõe a especificidade do abolicionismo na província do Espírito Santo, permeada por uma linguagem imbuída de moderação.
Ao analisarmos a peculiaridade da pesquisa de cada autor, não encontramos uma unidade de relações no Império, entretanto, a multiplicidade de significados políticos no território brasileiro. Esse tipo de historiografia concorda com o aspecto de Max Weber na qual a análise consiste em uma História no sentido variável, onde o indivíduo possui a direção das relações sociais no momento em que configura sua relação com o outro (DIAS; MAESTRO FILHO; MORAES; 2003). Assim, consideramos o estudo das particularidades como o estudo da criticidade sobre as macroestruturas, onde as individualidades, ao se afastarem da realidade como um todo, promoverão, uma compreensão das redes existentes para a formação dessa totalidade.
Neste sentido, consideramos obra de extrema relevância para o debate da cultura política do Império brasileiro. A análise das distintas províncias e os diversos personagens políticos promovem um entendimento dos conflitos existentes para a formação da realidade do território. Essa diversidade de conexões não confunde ou empobrece a História do Brasil Império, todavia promove uma amplitude no debate enriquecendo-o e instigando a possibilidade cada vez mais abrangente de estudo.
referências CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019.
DIAS, Devanir Vieira; MAESTRO FILHO, Antônio Del; MORAES, Lúcio Flávio R. O paradigma weberiano da ação social: um ensaio sobre a compreensão do sentido, a criação de tipos ideais e suas aplicações na Teoria Organizacional. Revista de Administração Contemporânea. v.7 n.2, p. 57-71, Abr/Jun. 2003.
LUSTOSA, Isabel. O debate sobre os direitos do cidadão na imprensa da Independência.
In.: RIBEIRO, Gladys Sabina; FERREIRA, Tânia Maria Tavares Bessone (Org.).
Linguagens e práticas da cidadania no século XIX. São Paulo: Alameda, 2010.
Notas 1 O livro é resultado de debates entre pesquisadores que analisam o século XIX, cujo objetivo é transitar entre as esferas locais e o nacional. É também o desfecho das discussões ocorridas em outubro de 2018 durante o III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2 O autor elucida que o termo destacado foi estudado por Isabel Lustosa, quando esta tratava do tema na imprensa fluminense, cujo significado expressava às “expectativas sobre a nova Ordem”. Cf. LUSTOSA, 2010.
Drlely Neves Coutinho – Graduada em História pela Faculdade Saberes. Aluna Especial de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail:[email protected].
CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019. Resenha de: COUTINHO, Drlely Neves. As províncias formam um Império: a pluralidade das relações políticas no Brasil oitocentistas. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.1, 2019. Acessar publicação original [IF].
Velha direita e nova direita: Brasil e mundo / Ágora / 2019
O dossiê da presente edição da Revista Ágora intitula-se “Velha direita e nova direita: Brasil e mundo”, e tem por objetivo tratar das múltiplas temáticas em torno dos movimentos sociais, dos intelectuais, dos partidos políticos e demais organizações congêneres, que, no curso da história, estiveram apoiados no estoque de ideias, percepções da realidade, justificativas, bem como em diferentes visões de mundo localizadas à direita do espectro político. O Dossiê procurou contemplar o acolhimento de artigos que tenham como foco as diferentes crises da democracia representativa e as instabilidades sociais que acabam levando ao recrudescimento da crítica e ao aprofundamento das desconfianças sobre o sistema democrático, ceticismo este que é significativamente incrementado quando a política, produzindo impactos sobre a economia, abre espaços para propostas de cunho conservador e/ou autoritário, que redundam na ascensão de personalidades e/ou governos de corte populistas, que, através de propaganda financiada por suspeitos interesses econômicos, acaba por angariar importantes apoios nas classes médias e populares insatisfeitas e receosas com os rumos da sociedade em que vivem.
Considerando esse amplo espectro de possibilidades, o dossiê reuniu nove artigos, organizados em ordem cronológica, que procura problematizar tais possibilidades. No primeiro, Ruth Cavalcante analisa pensamento e obra de José de la Riva-Agüero, grande intelectual peruano, que viveu na passagem do século XIX para o século XX. Analisa como esse intelectual pensou a questão da inclusão dos indígenas à nacionalidade, ao mesmo tempo em que primou pela manutenção da ordem social hieráquica naquele país. O artigo conclui que Riva-Agüero teve como intento resgatar os valores da tradicionalidade hispânica, vista como uma cultura “superior”, ao passo que alimentou uma série de preconceitos e estereótipos em relação aos povos indígenas.
No segundo artigo, Diego Stanger analisa a formação e trajetória da Ação Integralista Brasileira (AIB) no estado do Espírito Santo. Nele, o autor desvela a estrutura organizacional que possibilitou o desenvolvimento do partido em solo capixaba, discorre sobre seus principais líderes, bem como expõe as principais características do movimento Integralista com a intenção de compreender motivações que levaram indivíduos dos mais diversos segmentos sociais a se vincularem à organização no Brasil e no estado.
Em seguida, no terceiro artigo, Camila Pinheiro Rizo aborda quatro visões acerca da modernização institucional brasileira. Procura problematizar acerca de pensadores de diferentes linhagens ideológicas e de que maneira procuraram tratar, em seus pensamentos, da natureza das instituições políticas nacionais, e que ao mesmo tempo procuraram apontar caminhos para a superação do atraso brasileiro. No artigo são apresentadas duas perspectivas, uma autoritária, representada por Oliveira Viana e Azevedo Amaral; e outra democrática, defendida por Sérgio Buarque de Holanda e Nestor Duarte. Ao final, a autora conclui que, mesmo com duas concepções distintas, os autores relacionam a persistência do privado acima do interesse público como o grande empecilho à modernização institucional.
O quarto texto do dossiê é de autoria de Ueber José de Oliveira e Maria Alayde Alcântara Salim, que se debruçam sobre uma marca do ensino de história encontrado no presente, mais precisamente um material paradidático escolar produzido e distribuído pelo Ministério da Educação e Cultura no ano de 1972. A partir dessa fonte, analisam o ensino de história e de educação Moral e Cívica, que esteve vigente até o ano de 1993, mas que na atual onda conservadora vivenciada no Brasil, tem sido novamente proposta por diferentes atores, incluindo o atual presidente da República, que, como é de conhecimento, lidera um governo de extrema-direita. A conclusão é a de que, apesar da renovação em relação às concepções e as práticas que marcam o ensino de história, observamos algumas permanências e mesmo retrocessos na realidade vivenciada na prática desse ensino na educação básica.
No quinto artigo, o autor Geraldo Homero do Couto Neto trata da chamada “Nova Direita” e o amplo uso dos meios de comunicação de massa para propagandear e alavancar sua visão de mundo, focando, no presente trabalho, na utilização da ferramenta You Tube. Se concentra na utilização dessa mídia e a importância que ela assume para a negação da Ditadura militar brasileira, entre os anos de 2013 e 2018, na esfera pública. Segundo o autor, o estudo possibilita refletir acerca do papel que o historiador deve tomar frente a essas novas mídias, tendo em vista o seu grande poder de alcance de público.
O sexto artigo, escrito pelo Prof. Jair Miranda Paiva, também traz um tema atual e da maior importância: o programa Escola Viva. Nele, procura tratar do referido programa como um movimento de reafirmação do conservadorismo em educação. Procura analisar, também, referido movimento como uma nova roupagem da reação às lutas progressistas e conquistas políticas das últimas décadas, e conclui que urge uma crítica necessária a suas teses, bem como a suas articulações a outros âmbitos do conservadorismo.
No sétimo artigo do dossiê, Amarildo Lemos procura refletir acerca de alguns conceitos recorrentes no atual debate político brasileiro, especialmente a partir das chamas Jornadas de Junho de 2013, momento de grande efervescência política no país, marcado também pela ascensão de setores da direita e extrema-direita. Ademais, o trabalho procura refletir acerca de determinados pressupostos filosóficos subjacentes à corrente liberal-conservadora, que, desde as “jornadas de junho de 2013”, se apresenta como a corrente doutrinária mais adequada a eliminar a corrupção e dar mais eficiência aos serviços públicos no Brasil, em detrimento da classe política e do Estado, vistos como corrupta por excelência.
Por fim, devemos destacar que o conjunto de textos reunidos neste dossiê não tem a intenção de propor conclusões definitivas acerca dos problemas contemporâneos quanto ao soerguimento das direitas em suas novas e diferentes configurações. Ao contrário disso, a finalidade é, modestamente, abrir novos flancos de pesquisas, e provocar novas abordagens.
Ueber José de Oliveira
Leandro do Carmo Quintão
Os Organizadores
[DR]Auctoritas e potestas no Ocidente Tardo Antigo e Medieval / Ágora / 2019
O presente dossiê pretende homenagear a prof. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Taconni, da USP que tem sido uma referência nos estudos medievais no Brasil (v. texto homenagem redigido pelo Dr. Ruy de Oliveira Andrade (UNESP) e uma espécie de mentora e esteio de nosso modesto grupo de pesquisa, o LETAMIS).
Deixemos ao querido Ruy, a missão agradável de homenagear a ‘Aninha’, como a chamamos, e passemos ao conteúdo do dossiê. Encontram-se nele artigos que começam no período final do Império Romano e se estendem pelo medievo todo. Os primeiros artigos se localizam na Antiguidade Tardia e, de certa forma, no final do Império Romano e no período das invasões germânicas.
José Mário Gonçalves, egresso do Letamis/PPGHIS, inicia esta série com um trabalho sobre o bispo Agostinho de Hipona e seu epistolário, que mostra como eram ‘cordiais’ as relações entre católicos e donatistas, apesar da retórica dos sermões, mostrando uma faceta diferente de um conflito diante de uma convivência. Usa o cotidiano como referência e apresenta uma face mais amena da disputa religiosa.
Geraldo Rosolen Junior nos traz uma interessante polêmica que analisa visões de dois clérigos sobre os invasores vândalos, que acabaram por tornar-se um adjetivo pejorativo, quando sabemos que godo se tornou símbolo de nobreza na península Ibérica. Ambos os povos saquearam Roma (godos em 410; vândalos em 455), mas o segundo é um termo pejorativo e o primeiro é de nobreza. A percepção dos dois conflita muito quando os autores percebem os invasores vândalos de forma muito estigmatizada.
Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes nos oferece uma análise das urdiduras da corte de Justiniano, um imperador oriental (reinou entre 527-565) que articulou uma reconquista do império ocidental, conseguindo certo sucesso. A questão destacada são as relações de corte, as políticas dentro do palácio imperial e não as guerras travadas. Os mecanismos de resistência do monarca diante dos riscos de golpe.
Diego Carvalho estabelece uma conexão entre as concepções de Agostinho de Hipona e sua influência nos conceitos de atividade política na Cidade de Deus sob um foco filosófico e político, através do olhar de teóricos como Hannah Arendt, Koselleck, Weber e outros. Numa ampla e bem articulada reflexão, lança questões e análises que enriquecem o tema. A influência do bispo de Hipona no medievo é de longa duração.
Passemos ao recorte cronológico que a historiografia já define como período medieval.
Abre o grupo nosso recém doutorando Jordano Viçose, que nos traz a questão da auctoritas episcopal do arcebispo de Compostela Diego Gelmirez, que deve articular sua presença de governante efetivo e exercer a justiça num contexto de conflitos urbanos e contestação de sua potestas por elementos urbanos diversos. Gelmirez é um dos responsáveis pelo brilho que Compostela adquire no medievo.
Segue o nosso egresso, hoje prof. Doutor Luciano Vianna (Universidade Federal de Pernambuco) que nos oferece um trabalho sobre história escandinava. Recortamos um trecho de seu resumo. Eis: “A Saga dos Ynglingos (c. 1225), de Snorri Sturluson (c. 1179-1241), apresenta a linhagem dos Ynglingos abordando aspectos originários, mitológicos, literários e históricos sobre os antigos povos escandinavos. O objetivo deste artigo é analisar a relação entre a recuperação da memória da linhagem ynglinga e a proposta educacional política”.
O terceiro deste grupo é um trabalho de Sara Bittencourt, que analisa o medo do feminino em construção no século XV. Aparentemente se trata de um momento, perto da era moderna, mas é o contexto que virá a gestar o ‘manual de caça às bruxas’ ou Malleus maleficarum que é um marco da misoginia e o prenúncio das queimas de ‘bruxas’ na Alemanha, Inglaterra e nas colônias norte americanas. Um tema que está no nosso cotidiano e sempre gera interesse.
O quarto artigo focado no medievo, é de Edilson Alves de Menezes Junior, que enfoca através de uma análise socioeconômica o processo dialético dos conflitos sociais do sistema feudal na França, no âmbito do período de 1180-1226. Trata-se de uma análise das relações, ora tensas, ora harmônicas, entre nobreza, clero e camponeses, numa sociedade estratificada e estruturada em três estamentos. O crescimento urbano e comercial ainda não afetou as relações sociais entre os estamentos e o feudalismo está entre o auge e o início lento de uma crise, mais visível no período da guerra dos cem anos.
A questão das relações entre a auctoritas e a potestas nas universidades medievais é o tema do artigo de Cícera Leyllyany F. L. F. Müller. Enfocando a escolástica e seus pensadores principais, a autora discorre sobre como os conflitos entre imperador e papa se introduzem nos espaços universitários, que acabam sendo palcos de polêmicas de cunho teológico-político.
O penúltimo artigo do período medieval é de autoria de uma dupla. Regilene Amaral compõe com Sergio Feldman uma análise da polêmica cristã judaica em dois focos: Feldman faz um ‘longo’ trajeto de quase mil anos, olhando as origens remotas dos debates e dos conflitos teológicos entre as duas religiões. Já Regilene Amaral foca em sua pesquisa de mestrado, olhando só e apenas para o século XIII, os Debates de Paris e, especialmente, Barcelona.
Fechando o dossiê temos um artigo da homenageada, que não sabia antes da publicação do dossiê que ela nos daria sua preciosa colaboração e receberia a homenagem. Um texto ensaístico ousado, denso e bem embasado que faz múltiplas comparações entre o império medieval e as noções de identidade política e cultural que antecedem e consolidam o império germânico gestado por Bismarck (1871). A historiografia e o nacionalismo alemães do século XIX, buscando suas ‘raízes’ no Sacro Império Romano Germânico. Um tema que tem muita transcendência e supera os limites do medievo, trazendo reflexões para nossa realidade.
Desfrutem do dossiê.
Sergio Alberto Feldman
Ludmila Noeme Santos Portela
Roni Tomazelli
Editores do dossiê e da edição da Revista Ágora
[DR]Filosofia e Ensino | CEFET-RJ | 2019
Estudos de Filosofia e Ensino (Rio de Janeiro, 2020) tem como escopo principal a divulgação de produções científico-filosóficas realizadas por estudantes de cursos de bacharelados e licenciaturas em Filosofia, professores e pesquisadores de Filosofia dos vários âmbitos de Ensino, que se lançam ao desafio de pensar o Filosofar, seu ensino e seu aprendizado.
A Revista propõe-se à divugação de produções intelectuais filosóficas que abordem questões filosóficas acerca de seu ensino e de sua aprendizagem em diversas perspectivas teórico-práticas.
Periodicidade semestral.
Público alvo: professores, estudantes e pesquisadores da área de filosofia, prioritariamente comprometidos com a pesquisa, o ensino e o aprendizado de Filosofia.
Filiação/vinculação: A Revista Estudos de Filosofia e Ensino possui vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino, pertencente à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ.
ISSN: ?
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Sêneca e o estoicismo | Paul Veyne
Buscar a sabedoria, exercer as virtudes e eliminar as paixões humanas. O estoicismo foi uma filosofia helenística que ao chegar a Roma, ainda no período republicano, pregava uma vida baseada nos princípios filosóficos que ordenavam todo o cosmos e o destino dos homens segundo as leis da natureza. Paul Veyne, historiador e arqueólogo francês especializado em Roma Antiga, lecionou na Escola Francesa de Roma, na Sorbonne e na Universidade de Provença. Em 1975 entrou para o Collège de France, onde foi titular da cadeira de história romana até 1998. A obra em análise, Séneque: Entretiens Lettres a Lucilius (1993), leva a assinatura deste brilhante historiador e chega ao Brasil com o título Sêneca e o estoicismo (reimpressão em 2016). Veyne debruçou-se sobre diversas obras do filósofo romano Lúcio Aneu Sêneca (1 a 65 d.C.) e captou em sua pesquisa aspectos históricos e do pensamento Antigo que retratam a sociedade romana nos governos dos Imperadores Cláudio e Nero.
O livro foi organizado em três grandes momentos: Prólogo; Sêneca e o estoicismo; e por fim um epílogo que descreve a última fase da vida de Sêneca que se afastou da vida política para dedicar-se mais ao otium da filosofia até sua condenação ao suicídio após Nero descobrir que o mesmo estava envolvido na famosa conspiração de Caio Calpúrnio Pisão, um senador romano, em 65 d.C.
A riqueza da obra de Veyne convida o leitor a realizar uma reflexão sobre diversos conceitos que ainda são amplamente discutidos no mundo contemporâneo: a moralidade, a felicidade, as virtudes, as paixões, a honestidade, o suicídio, o exílio, o tempo, entre outros temas, que permeiam a escrita senequiana e levam o historiador francês a debater sobre tais assuntos com vários pensadores que se destacaram na História do pensamento ocidental como Aristóteles, Kant e Freud. Para Veyne, o estoicismo de Sêneca procurava libertar seus discípulos das mazelas humanas geradas pelas paixões irracionais exemplificadas pelas ambições desenfreadas das riquezas, as lutas de gladiadores, o gosto pelas artes cênicas e musicais, e tudo o que afastava o indivíduo de uma vida virtuosa guiada pela razão estoica. Tal visão, onde o estoicismo se constituiria como uma filosofia libertadora das angústias da alma direcionando o homem da Antiguidade Clássica para uma vida equilibrada e longe das dores irracionais ocasionadas pelas paixões, também foi analisada por Cícero Cunha Bezerra em seu artigo A filosofia como Medicina da alma em Sêneca (2005). A filosofia estoica é compreendida por este autor como um remédio contra as práticas irracionais que afastavam o homem de uma vida tranqüila e equilibrada.
Nesse sentido, Veyne inicia seu livro com a parte introdutória do prólogo descrevendo a trajetória da vida do estoico e sua formação filosófica destacando seus primeiros passos na arte da filosofia transmitidos por seu mestre Átalo até sua ascensão como preceptor do jovem Nero (54 a 65 d.C.). Nascido em Córdoba, cidade hispânica da província da Bética (atual Espanha), Sêneca pertencia a uma família rica onde seu pai (Sêneca, o velho) desejava que os filhos estudassem em Roma e se enveredassem na arte da retórica e da esfera política. O talento de Sêneca como pensador rapidamente o conduziu para os círculos políticos do Senado Romano e a convivência na corte imperial de Cláudio.
Foi durante o governo de Cláudio que Sêneca sofreria uma condenação ao exílio na ilha de Córsega por se envolver em um suposto adultério e possíveis intrigas palacianas. O retorno de Sêneca a Roma seria um projeto da esposa deste imperador, Agripina, que confiaria a educação do filho Nero para o filósofo cordobês. O futuro princeps deveria governar Roma de acordo com os princípios virtuosos da razão estoica, tornando-se o modelo do bom governante, ou seja, um rei sábio.
Neste sentido, Veyne destaca a obra Sobre a clemência de Sêneca, escrita e direcionada para que Nero viesse a exercer a sabedoria e se afastasse de um governo tirânico, sendo clemente com todos os povos do Império. O bom governante deveria servir seus súditos e agir de acordo com o equilíbrio cósmico estruturado pelas leis da natureza, pois todo tirano acaba sendo derrubado do poder ou assassinado por aqueles que fazem parte de sua corte. A obra Imagens de Poder em Sêneca – Estudo sobre o De Clementia, de Marilena Vizentin (2005) apresenta como o princeps deveria ser clemente com seus opositores buscando desta forma perdoá-los transformado assim os inimigos em aliados. Mas o livro de Veyne vai além das expectativas do leitor que apenas tem por objetivo se prender aos aspectos filosóficos do estoicismo. O historiador analisa a sociedade romana no período dos Imperadores da dinastia Julio-Claudiana sem cair na mera descrição dos fatos.
É possível perceber na escrita de Veyne a preocupação em comparar as fases do estoicismo com filosofias da Modernidade (Kant e Rousseau) ou com as ideias de progresso e do devir da História presentes em estudos como os que Marx realizou para que a classe proletária compreendesse seu processo de libertação inserido na luta de classes contra a burguesia europeia. Veyne consegue relacionar as teorias desses pensadores sem perder de vista seu foco investigativo, aproximando-se constantemente de Sêneca e mergulhando nas obras do filósofo romano. Explora com maestria os diversos escritos senequianos como as Questões Naturais, as Consolações a Márcia e a um liberto de Cláudio conhecido como Políbio, o tratado intitulado Sobre os benefícios e finalmente as cartas direcionadas ao discípulo que Sêneca mais estimava e pertencia à ordem dos cavaleiros romanos, Gaio Lucílio Junior. As Cartas a Lucílio não apenas fazem parte do grande conjunto de obras de Sêneca, mas acabam por se constituir na fonte histórica mais citada nos estudos de Veyne. Foram escritas durante o período de afastamento de Sêneca da vida política (63 a 65 d.C.), onde Nero já demonstrava aversão aos conselhos do estoico e inclinava-se para uma vida regada pelos prazeres.
Os princípios filosóficos estoicos são analisados por Veyne em seu segundo capítulo Sêneca e o estoicismo. São diversos os conceitos que compõem o arcabouço teórico nas obras senequianas. Veyne demonstra como o estoicismo estava fundamentado nas leis da natureza. O homem era um ser cosmopolita, pois se ligava ao cosmos através da razão, representando em seu espírito (hegemonicon) as leis da natureza. Tal representação seria traduzida em ações retas (kathekontas) ou virtuosas livrando o indivíduo de uma vida pautada pelos vícios, ou seja, as más condutas. Sobre a representação estoica, Luizir de Oliveira (1998) afirma que a presença da virtude no homem constituía o próprio bem sendo o momento onde o indivíduo se harmonizava com o cosmos e se tornava parte dele. Era nesse momento que o hegemônico (hegemonicon), a parte diretiva da alma, realizava a representação compreensiva ao buscar na realidade descobrir a verdade em consonância com o cosmos.
A razão, ou a Natureza, nada mais seria do que o princípio formador e ordenador de toda a realidade cósmica e dos homens. No livro de Jean Brun, O Estoicismo (1986), a razão estoica é comparada a um fogo artífice. Esta teoria, segundo Brun, se aproxima da teoria de Heráclito de Éfeso, antigo pré-socrático do século VI a.C., que acreditava ser o universo formado por um lógos que era o fogo demiurgo de toda a realidade.
Viver conforme a natureza era se submeter a um deus providencial que possibilitaria ao homem alcançar uma vida sábia. Ser sábio significava vencer as dores e os sofrimentos gerados durante a existência independente das riquezas ou da pobreza, da saúde ou das doenças, da liberdade física ou da escravidão. De acordo com o estoicismo, para se obter uma vida feliz, serena e sábia, era necessário seguir os ditames deste princípio ordenador. Exercer a razão era praticar ações virtuosas como a temperança, a justiça, a coragem e a prudência, definidas por Veyne como as quatro virtudes estoicas. Em História da Filosofia Antiga (2002), Giovanni Reale destaca que as demais virtudes existentes eram subordinadas a estas.
Sêneca enfatiza em suas Cartas a Lucílio a importância de se vencer todos os infortúnios do destino alicerçado nos ensinamentos de sua filosofia. Neste sentido, outro aspecto necessário para se tornar um sábio estava na ideia de se buscar constantemente uma espécie de segurança interna, criando uma fortaleza interior capaz de resistir a qualquer tipo de sofrimento. Para um estoico a vida somente teria valor quando as virtudes estavam sendo praticadas e direcionavam o sábio para uma vida feliz. A felicidade não era definida pela riqueza ou pelos cargos conquistados na carreira política (cursus honorum). A felicidade deveria estar de acordo com as leis da physis, colaborar com o fluxo do universo, levando o indivíduo a viver no presente sem se abalar com os reveses do destino. Veyne ainda destaca que para Sêneca a felicidade deveria colaborar com a coletividade e não apenas ser algo efêmero e particular.
Talvez seja por isso que a morte nunca assustou Sêneca. Um dos pontos culminantes na teoria senequiana, e que comprova a tese de que um estoico deve ser impassível perante a dor, a perda das riquezas ou até mesmo perante a morte, será o tema que envolve o suicídio. Diante de um quadro político marcado por assassinatos (Veyne descreve o assassinato de Agripina e do jovem Britânico), perseguições aos opositores republicanos e um Principado caracterizado pela tirania de Nero, Sêneca retira-se da vida política. A morte de nosso filósofo é descrita na última parte do livro de Veyne intitulada de Epílogo. Os escritos de Tácito são as lentes de Veyne para narrar o episódio que levou Sêneca ao suicídio.
Acusado por participar de uma conspiração palaciana contra Nero, Sêneca será condenado ao suicídio por seu antigo discípulo. A narrativa de Tácito emociona o leitor que revive a cena final eternizando assim a firmeza moral senequiana perante a morte. Enfim, o livro de Veyne proporciona ao leitor e aos estudiosos do estoicismo, um rico material que apresenta não apenas a filosofia de Sêneca, mas diálogos com importantes pensadores do mundo da Modernidade e da contemporaneidade. Constitui-se como obra indispensável para aqueles que buscam aprofundar seus estudos sobre o estoicismo de Sêneca e do mundo romano na Antiguidade Clássica.
Referências
BEZERRA, Cícero Cunha. A filosofia como medicina da alma em Sêneca. Ágora Filosófica, Recife, v.5, n.2, p. 7-32, 2005.
BRUN, Jean. O estoicismo. Lisboa: Edições 70, 1986.
OLIVEIRA, Luizir de. Sêneca: a vida na obra, uma introdução à noção de vontade nas epístolas a Lucílio. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – PUC, São Paulo, 1998.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 2002. v.3.
VEYNE, Paul. Sêneca e o estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2016, 279p.
VIZENTIN, Marilena. Imagens de poder em Sêneca: estudo sobre o De Clementia. São Paulo: Ateliê, 2005.
Fabrício Dias Gusmão Di Mesquita – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista pela Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás (Fapeg). E-mail: [email protected]
VEYNE, Paul. Sêneca e o estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2016. Resenha de: MESQUITA, Fabrício Dias Gusmão Di. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.1-6, 2018.
Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX | Rocío da Riva e Jordi Vidal
A fines del siglo XIX y principios del XX, en el contexto de una intensa competencia imperialista –entre un pequeño número de Estados europeos (primero Gran Bretaña y Francia, posteriormente Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, España y los Países Bajos) y extraeuroepos (Estados Unidos y Japón)– por la apropiación de gran parte de África y de Asia, la subordinación de sus poblaciones y la constitución de un nuevo orden político y económico, tuvo lugar la progresiva institucionalización formal de los estudios antiguo-orientales dentro de los ámbitos académicos occidentales. En efecto, dicho proceso de constitución tuvo por acontecimientos inaugurales tanto la invasión napoleónica en Egipto en 1798 y de Siria-Palestina en 1799 como las primeras empresas de búsquedas y apropiación de materiales arqueológicos a cargo del cónsul francés Émile Botta y del funcionario inglés Austen Henry Layard en Mosul y Nimrud respectivamente (antiguas capitales asirias). Esas actividades llevaron a intensificar las expediciones y excavaciones de sitios antiguos en Egipto y Medio Oriente. Fue así que individuos procedentes de campos y actividades distintas (soldados, funcionarios, viajeros, mercaderes y eruditos) recorrieron diversos paisajes, mostraron un interés estratégico por las así denominadas “maneras” y “costumbres” de los países islámicos, aprendieron los idiomas de las sociedades que los habitaban, descifraron las lenguas y textos de los pueblos desaparecidos y acumularon innumerables objetos de su cultura material (cerámicas, vasijas, cilindro-sellos, tablillas, relieves, papiros, estelas, frontones, estatuillas y estatuas).
Durante el desenvolvimiento de estas distintas, el saqueo de tumbas y sitios para lucrar con su contenido existió por supuesto, al menos en Egipto, y convivió cómodamente con los intentos más “serios”, organizados y sistemáticos de el imperialismo y la dominación colonial posibilitaron el acceso no sólo a múltiples espacios antes desconocidos o apenas imaginados, sino además a nueva información (proporcionada tanto por los restos arqueológicos como por los informantes locales) a partir de la cual fue posible construir una imagen mucho más aproximada –y sustentada empíricamente– de las antiguas sociedades que poblaron la región. Coetáneo a los nuevos hallazgos y actividades, se produjo la progresiva fragmentación y especialización temática dentro del propio orientalismo antiguo, diferenciándose así ciertas subdisciplinas (Egiptología, Asiriología, Siriología, Anatolística y Estudios Bíblicos), como también dos tareas específicas en la labor investigativa: la del arqueólogo (encargado de organizar las excavaciones y recolectar los nuevos materiales) y la del filólogo (preocupado por desentrañar las lenguas antiguas y sus sistemas de escritura a partir de la traducción del material epigráfico). investigaciones arqueológicas. Aun así, es indudable que las prácticas inauguradas por
Considerando lo anteriormente expuesto, es innegable que esta descripción sintetiza una dinámica mucho más compleja y sinuosa de un campo de estudio que, luego de su afianzamiento, creció y expandió, ampliando horizontes y permitiendo avances investigativos significativos para la posteridad sobre las antiguas culturas y sociedades de Egipto, Mesopotamia, Anatolia y la franja sirio-palestina. El libro que el lector tienen entre sus manos, Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX, compilado por Rocío Da Riva y Jordi Vidal, reconocidos profesores españoles y especialistas en arqueología e historia antigua oriental, se ocupa justamente de las historias de algunos de los primeros estudiosos occidentales que trabajaron en la región y que con su multifacética labor contribuyeron al nacimiento de las historiografía y arqueología del Cercano Oriente Antiguo. El volumen compila las intervenciones de la mayoría de los expositores que participaron del workshop llevado a cabo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona a finales de noviembre de 2013. Dicho evento académico reunió a destacados especialistas en la historia antigua de Egipto y Próximo Oriente y a otros investigadores más preocupados por temas de historiografía con la intención de debatir sobre la formación y evolución de los estudios antiguo-orientales, la definición de subdisciplinas, analizar el accionar de los primeros exploradores y las prácticas científicas de las etapas iniciales con la intención de encontrar afinidades temáticas y establecer futuros proyectos de investigación. El resultado final es una bien lograda compilación de once artículos que más allá de la forma que cada autor escogió para escribirlo y de los enfoques empleados en cada uno de ellos, coinciden en la intención de presentar datos nuevos, informaciones novedosas o revisiones críticas de teorías o ideas ya conocidas.
El libro abre con una acertada introducción sobre el concepto de historiografía y los actuales debates alrededor de esta especialidad a cargo de Jordi Cortadella. Para este autor, el historiador es un profesional que recopila hechos del pasado humano conforme a criterios que suponen una elección de valores y categorías, pero para hacerlo precisa de la intermediación de los testimonios que aquel debe interpretar. En consecuencia, la labor del historiador consiste en la escritura de una Historia no sólo desde su propia perspectiva, sino también a partir de la mirada de otros intérpretes que lo precedieron. Para Cortadella, entonces, la historia de la historiografía se ocupa de definir qué tipos de hechos son los que preocupan a un historiador determinado y cuál es la motivación específica de aquel historiador por estudiar tales hechos en un momento determinado. En otras palabras, se trata de un campo cuya principal premisa pasa por mostrar que cualquier problema histórico posee per se su propia historia. Seguidamente, en una segunda introducción general sobre la historiografía del Próximo Oriente, Jordi Vidal identifica los motivos del escaso interés que han suscitado los estudios de corte historiográfico en el campo del Orientalismo Antiguo así como también algunas tendencias generales que resultan evidentes en los materiales publicados hasta el momento sobre la temática, como por ejemplo la preponderancia de los estudios biográficos, los análisis de casos nacionales y el predominio anglosajón en este tipo de investigaciones. No obstante, el historiador catalán indica que esta última tendencia si bien no puede discutirse, debe ser matizada en la medida que prestigiosos investigadores de otros países –como Alemania, Francia e, incluso, España– han comenzado a incursionar en diversas cuestiones y dimensiones relativas al cultivo y desarrollo de los estudios antiguo-orientales en sus historiografías nacionales.
La sección del libro dedicada a Egipto y Norte de África se inicia con el artículo de Roser Marsal (Universitat Autónoma de Barcelona), el cual expone la historia de los primeros exploradores que recorrieron el Desierto Occidental egipcio a finales del siglo XIX. La historiadora plantea que, en los inicios de las investigaciones egiptológicas, el desierto del Sáhara no constituyó un objeto de interés debido a que las duras condiciones climáticas lo volvían un supuesto terreno inhóspito para el desarrollo de la vida humana. Sin embargo, conforme se iban acumulando nuevas evidencias arqueológicas con cada nueva exploración (como los sedimentos lacustres, algunos restos de cultura material y las pinturas rupestres halladas en Jebel Uweinat, Gilf Kebir, Wadi Sura o la Cueva de los Nadadores), el noreste africano comenzó a suscitar mayor interés entre los estudiosos, ampliando el espectro temporal de sus investigaciones y, consecuentemente, llevándolos a incursionar en las etapas neolíticas. La autora concluye mostrando que tales estudios no sólo gozan de buena salud en la actualidad, sino que también contribuyen a poner de relieve los aportes culturales africanos en la formación de la civilización egipcia. Por su parte, Josep Cervelló (Universitat Autónoma de Barcelona) reconstruye con su estudio las bases de una “historiografía de los orígenes de Egipto” a partir del aporte de Jacques De Morgan, William E. Petrie, James E. Quibell, Frederick W. Green y Émile Amélineau, deteniéndose en las excavaciones que emprendieron en el Alto Egipto a lo largo de la década 1893-1903. A partir de la minuciosa revisión de la labor de estos pioneros de la arqueología egiptológica, Cervelló expone que los materiales exhumados de los sitios de Hieracómpolis, Nagada y Abidos permitieron reconstruir las primeras dinastías faraónicas y sus cementerios, bosquejar un primer panorama histórico y producir una primera cronología de los orígenes prehistóricos de la cultura egipcia.
En su artículo, Juan Carlos Moreno García (CNRS, Université Paris-Sorbonne París IV) analiza la formación y consolidación, en la producción de los egiptólogos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de la imagen de un Egipto antiguo como una civilización “excepcional”, diferente de las otras sociedades del mundo antiguo y transmisora de un importante legado de valores culturales. Se trata de un mito historiográfico que se revelaría sumamente tenaz dentro de los estudios orientales, con prolongaciones hasta nuestros días, cuyas raíces pueden escudriñarse –según el autor– en la crisis de la cultura occidental a finales del siglo XIX. Moreno García señala que el Egipto de los faraones se transformó en una suerte de “paraíso perdido” sobre el cual las distintas burguesías europeas proyectaron sus miedos sociales y ansiedades culturales, agravadas por el auge de los viajes a Oriente, por el desenvolvimiento de una arqueología que oscilaba entre la práctica científica, la aventura romántica y la caza de tesoros y, finalmente, por la creación de una particular versión de la Egiptología por parte de unos profesionales con formación bíblica y unos valores políticos precisos. El estudio de Francisco Gracia Alonso (Universitat de Barcelona) sigue el accionar de algunos de los más destacados representantes de la arqueología británica de la Segunda Guerra Mundial –como Mortimer Wheeler, Leonard Woolley, John Bryan Ward-Parkins y Geoffrey S. Kirk– que, en el marco de los combates entre las tropas del Eje y el Octavo Ejército Británico entre 1940 y 1943, participaron de las tareas de protección del patrimonio arqueológico de Egipto, Libia y Túnez puesto en peligro por las operaciones militares. El autor indica que el servicio que prestó este elenco de arqueólogos, helenistas e historiadores de la Antigüedad en las filas del Ejército Británico durante las campañas del Egeo y el norte de África implicó dos dimensiones: por un lado, la protección y salvamento de los yacimientos arqueológicos y, en segundo lugar, su utilización como arma propagandística de las destrucciones ocasionadas por la guerra.
La sección dedicada a Oriente Próximo se abre con el trabajo de Juan José Ibánez (CSIC) y Jesús Emilio González Urquijo (Universidad de Cantabria) alrededor de la figura del sacerdote cántabro González Echegaray, precursor en los estudios de la etapa neolítica del Cercano Oriente dentro del ámbito ibérico. Los autores examinan las excavaciones del yacimiento de El Khiam (Desierto de Judea, Palestina) que este pionero dirigió en 1962 y resaltan su contribución teórica a la comprensión de la transición hacia el Neolítico en el Levante Mediterráneo a través de la definición del denominado “periodo Khiamiense”. En el segundo trabajo de esta sección, Juan Muñiz y Valentín Álvarez (Misión Arqueológica Española de Jebel Mutawwaq) se ocupan de identificar las primeras referencias a los monumentos megalíticos en Transjordania que aparecían desperdigadas en las páginas de diversas obras, diarios de exploración o trabajo de campo etnográfico de viajeros y eruditos del siglo XIX que se desplazaban a Tierra Santa seducidos por los relatos románticos de peregrinaciones, innumerables ruinas de grandes civilizaciones abandonadas, tesoros ocultos, etc. Seguidamente, Jordi Vidal (Universitat Autónoma de Barcelona) considera la manera tradicional de relatar el hallazgo de la antigua ciudad de Ugarit (actual Ras Shamra). El investigador plantea que dicho relato “canónico” se encuentra atravesado por una perspectiva marcadamente eurocéntrica, manifiesta en la subvaloración u omisión tanto de las contribuciones locales al hallazgo del yacimiento como de la participación otomana en dicho acontecimiento, ocurrida mucho antes del arribo de los arqueólogos franceses al sitio.
En su artículo, María Eugenia Aubet (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) examina el proceso de “redescubrimiento” arqueológico de la cultura fenicia y el papel que la monumental obra de Ernest Renan, Mission de Phénicie (1864-1874), tuvo respecto al respecto. La arqueóloga señala que este particular escrito motivó las primeras exploraciones en las regiones de Libia y Siria luego de la Primera Guerra Mundial con la intención de recuperar un importante cúmulo de artefactos hoy desaparecidos (como esculturas, monumentos funerarios y epígrafes procedentes de Biblos, Saïda y Oum el-Awamid, cerca de Tiro), pero de los que tenemos conocimiento en la actualidad debido a los excelentes grabados y planimetrías que pueblan las páginas del informe que compuso este polémico intelectual francés durante su célebre expedición a Fenicia en 1960 y 1961. A su turno, Rocío Da Riva (Universitat de Barcelona) incursiona en la vida y obra del arqueólogo alemán Robert Koldewey. Enmarcando su trabajo en un estudio del rol de la arqueología en el Imperio Alemán durante el siglo XIX, la investigadora madrileña reseña los diferentes trabajos que el renombrado Koldewey realizó en Babilonia y detalla con minuciosidad sus aportes empíricos e innovaciones metodológicas al campo de la asiriología –aún en formación– y a la arqueología de la arquitectura, así como la incidencia de su labor en la prensa española contemporánea.
Como cierre del libro, Carles Buenacasa (Universitat de Barcelona) nos lega un artículo en el que ensaya un conjunto de argumentos y reflexiones a propósito de los 200 años del “redescubrimiento” de la ciudad de Petra –capital del antiguo pueblo ismaelita (localizada a 80 km al sudeste del mar Muerto)– por el suizo Jean Louis Burckhardt, un profundo conocedor de la lengua árabe y de la religión islámica que, haciéndose pasar por un mercader árabe, viajó por el Oriente Próximo y Nubia. El pormenorizado examen del autor le permite identificar en el relato oficial de este episodio de la arqueología de principios del siglo XX –y su celebración bicentenaria– una suerte de memoria historiográfica del “hallazgo” pensada desde y para Occidente, orientada a remarcar la figura del explorador europeo como único responsable y, en paralelo, a invisibilizar la colaboración que algunos pobladores locales brindaron al explorador europeo, oficiando las veces de guías debido al detallado conocimiento que poseían del terreno. Como pone de manifiesto Buenacasa a lo largo del texto, se trata de una percepción historiográfica eurocéntrica que además desconoce, tanto en el pasado como en el presente, el hecho de que la antigua capital de los nabateos, esa ciudad de época clásica tan original y poco convencional nunca estuvo “extraviada” para los jordanos.
Al finalizar la lectura de los distintos artículos que integran la compilación, el lector habrá comprobado que ha accedido a diversos y singulares modos de configurar enfoques, metodologías e interpretaciones acerca del primer momento historiográfico de los estudios antiguo orientales que con gran éxito han logrado conjugar los compiladores en un solo volumen. No dudamos al aseverar que dicha característica es, quizás, una de las virtudes más significativas del libro. Sin embargo, no queremos dejar de destacar otras dos características sobresalientes. En primer lugar, la compilación muestra que las prácticas “científicas” que marcaron la génesis de los estudios históricos sobre las culturas antiguas del Próximo Oriente no pueden separarse de la situación geopolítica, los intereses económicos y los imaginarios culturales en un mundo integrado (y fragmentado) por el mercado capitalista y la expansión imperialista, en el cual diferentes agentes, motivaciones e intereses recuperan un lugar que la historiografía nacida en el mismo del siglo XIX invisibilizó con las biografías de los grandes precursores y la épica del progreso de la ciencia. Y en segundo lugar, se trata de una obra intrépida, en tanto deja al desnudo que mientras las sociedades antiguas del Cercano Oriente fueron “redescubiertas” y retratadas, desde un tamiz ontológico eurocéntrico, colonialista y racista impuesto por la dominación imperialista, como parte de un pasado exótico, maravilloso y monumental, a los pueblos que habitaban dichas regiones se les reservó el indulgente lugar de la degradación o inexistencia contemporánea.
En efecto, en una época en que las teorías racistas estaban al orden del día, los exploradores y colonizadores europeos no reconocieron a los diversos grupos étnicos con los que entraron en contacto como herederos de las prósperas civilizaciones de Oriente, considerando que se trataba de poblaciones “salvajes” y “bárbaras” sin historia, ajenas a dichas tradiciones culturales, incapaces de imitar en inteligencia y refinamiento a los creadores de antaño y, por tanto, de reconocer la riqueza de los grandes descubrimientos arqueológicos. Ello nos recuerda un dato bastante infeliz: que no sólo infinidad de objetos hicieron un viaje sin retorno a Europa a partir de la idea de que Occidente tenía la misión insoslayable de salvar esos tesoros de la supuesta ignorancia y vandalismo de los beduinos, sino que además esta misión de rescate pasó a justificar las innumerables usurpaciones, saqueos y robos cometidos, el despojo de tierras de los grupos locales, su sumisión, explotación y, en casos extremos, pero demasiado frecuentes, su exterminio; todos actos cometidos en nombre de la conservación de un patrimonio del cual las sociedades occidentales se sentían únicas y legítimas herederas. Se trata de un aspecto que, como latinoamericanos, haríamos mal en subestimar, pues ese mismo tipo de representación específica del pasado –de carácter más mítico y preconcebido antes que histórico y documentado–, que provee los parámetros ontológicos y epistemológicos para la comprensión del mundo desde una matriz occidentocéntrica, es la misma forma de percepción de la cultura histórica que, desde fines del siglo XIX, incidió precisamente en la invención de nuestras tradiciones historiográficas nacionales. Y, en tal dirección, la compilación se presenta como una necesaria y saludable invitación para que, desde nuestras periferias científicas, reflexionemos sobre los agentes, paradigmas y contextos locales que animaron el surgimiento y expansión de los equipos y/o centros de investigación dedicados al estudio de las culturas preclásicas del Cercano Oriente en Brasil, Argentina y otros países de América Latina.
Horacio Miguel Hernán Zapata – Docente-Investigador. Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)/Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)/Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSOH)-Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), Argentina. Correo electrónico: [email protected].
DA RIVA, Rocío y VIDAL, Jordi (Eds.). Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2015. 318 p. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Egregios, práticas “científicas” y cultura material en la institucionalización de los estúdios de Antiguo Oriente a fines del siglo XIX y princípios del XX. Revista Ágora. Vitória, n.28, p.260-266, 2018. Acessar publicação original [IF].
História e Educação: narrativas, práticas e sensibilidades / Ágora / 2018
Ao finalizar a organização do Dossiê “História e Educação: narrativas, práticas e sensibilidades”, vem-nos a certeza de que alcançamos os objetivos propostos, uma vez que congregamos textos que foram resultados de investigações realizadas no sentido de contribuir para os debates acerca das interfaces possíveis entre História e Educação, considerando tanto sua contribuição para a pesquisa quanto para a formação do historiador e do educador.
Dessa forma, oferecemos ao leitor um painel sobre as questões que podem, atualmente, sintetizar e orientar os estudos que se esforçam em relacionar História e Educação, considerando, especificamente, formas de narrativas, diversidade de práticas e as sensibilidades aí presentes.
Ora, a questão das sensibilidades na História, destacada por Lucien Febvre, não está limitada às fontes, mas diz respeito à própria compreensão da História e das durações. As formas de narrativas, nesse sentido, contribuem para as diferentes possibilidades de leitura das inscrições com as quais práticas do sensível marcam o tempo.
Assim, Leonardo Querino B. F. dos Santos, reflete, em seu texto A educação como problema médico: a pena de Belisário no debate sobre os males do Brasil (1912 – 1933), sobre as representações construídas por Belisário Pena sobre educação e saúde, priorizando fontes epistolares e a imprensa comum. Dessa forma, analisa como educação e saúde foram amalgamadas em uma representação de solução nacional, assim como discute sobre os debates que, naquele contexto específico, erigiram uma representação de “males brasileiros” a partir do paradigma médico. Conclui que, para Belisário, uma educação curativa e redentora só poderia ocorrer em três eixos unidos pelo referencial higienista: instrução, educação sanitária e cuidados com a saúde.
Por sua vez, Hadassa A. Costa estudou a arquitetura escolar em Campina Grande (PB) no início do século XX. No artigo intitulado A modernidade no corpo e no espaço: Práticas de Subjetivação, Higiene Moderna e Arquitetura Escolar, a autora analisa as influências das ideias de modernização no cotidiano escolar, especificamente a simbologia que a arquitetura moderna imprimia à escola. Nesse sentido, ao considerar a digestão do ambiente escolar como partícipe do aprendizado, analisa também os elementos que compuseram a construção da subjetividade daqueles alunos.
Entre o coletivo e o individual: memórias de um professor de História de escola pública é um, texto que reflete sobre o papel do educador considerando as urgências dos dias atuais. Assim, a autora Simone dos Santos Pereira analisa a narrativa de um professor de História sobre sua trajetória de vida e vivências na profissão docente entre o último quarto do século XX e a primeira década do século XXI. O olhar sensível sobre a fala desse professor permitiu à autora analisar diacronicamente as condições de sua permanência na docência considerando: sua paixão pela disciplina lecionada, seu engajamento político e seu reconhecimento como ser histórico, refletindo sobre seu papel social.
As práticas educativas efetivadas por docentes e discentes em uma determinada comunidade escolar é o tema do artigo de Janielly Souza dos Santos intitulado Não NEGO minha história: sou paraíba, sim senhor! Trata-se de um relato de experiência a partir da concepção de um ensino de História baseado no cotidiano dos alunos. História e Educação imbricam-se, assim, a partir da narrativa de práticas educativas fruto das sensibilidades produzidas pelos sujeitos que encenaram reflexões sobre história local e sobre suas próprias histórias.
Giuslane Francisca da Silva apresenta um trabalho sobre a atuação das chamadas Irmãs Azuis na educação escolar em Mato Grosso. Evangelizar, rezar e educar: a atuação da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres no campo educacional em Mato Grosso (1904-1971). Para tanto, analisa o percurso da instalação da Congregação no Brasil para além de seu intuito de fundar colégios. Focaliza, dessa forma, priorizando os arquivos da Congregação e textos produzidos também pelas freiras, as sociabilidades estabelecidas entre as Irmãse os que estavam sob seus encargos, construindo uma narrativa que dá visibilidade aos sujeitos envolvidos.
Agilidade, destreza e resistência adquiridas na infância: jogos e brincadeiras nas aulas de educação física da Paraíba (1920-1945)é um artigo de autoria de Alexandro dos Santos e Azemar dos Santos Soares Jr. Utilizando como fontes impressos que circularam na Paraíba durante a primeira metade do século XX, analisam, nesses veículos midiáticos, o valor educativo atribuído aos brinquedos, jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física como meio para a medicalização e disciplinarização do corpo dos alunos.
Este conjunto se oferece à leitura em momento oportuno, quando vemos educação e ensino de História ameaçados em suas práticas e sentidos, em nome de uma política puramente mercadológica que esvazia os sujeitos do processo educacional. Faz-se, hoje, urgente, uma reflexão histórica sobre práticas e sentidos da educação, visando a compreendermos o como e o porquê representações hegemônicas em um determinado contexto constituíram práticas educativas que ainda perduram e alimentam outras representações.
Juçara Luzia Leite
Iranilson Buriti de Oliveira
Organizadores.
[DR]40 anos da Lei da Anistia: movimentos – narrativas – história / Ágora / 2018
O conceituado historiador francês Marc Bloch definiu, em um de seus principais livros, que o objeto da histórica “o homem no tempo”. Assim, para o historiador francês, o que deve mobilizar o historiador são as questões do presente, e, nesse sentido, a história passa a ser compreendida como um poderoso instrumento por meio do qual nós, homens da contemporaneidade, procuramos dirimir problemas que encontram-se contemporaneidade, incluindo aqueles que estão subscritos em um passado que não passa, parafraseando Reinhart Koselleck.
Considerando tal assertiva, o objeto sobre o qual os colaboradores do presente dossiê se debruçam é a Lei de Anistia, editada em 28 de agosto de 1979, e que tem sido tema de diversas pesquisas e reflexões de variados historiadores, sociólogos, juristas e cientistas políticos – que produziram uma literatura relativamente variada a respeito da temática em nível nacional. E próximo de completar 40 anos desde sua instauração, a referida Lei tem sido revisitada nas últimas décadas, e revista sob múltiplas temáticas que o assunto acaba por ensejar. Nos últimos anos, os debates sobre os legados da Lei da Anistia ganharam numerosas abordagens, interpretações e críticas, especialmente após a criação da Comissão Nacional da Verdade, com vistas a se apurar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro no contexto do regime autoritário decorrente do Golpe de 1964.
E o presente dossiê encontra-se inserido exatamente nesse conjunto de preocupações e, dessa forma, procura cotejar diversas sub-temáticas, o que é feito com a generosa colaboração de vários estudiosos. Assim, diante da pluralidade de temáticas, o dossiê apresenta um conjunto de artigos que dialogam com inúmeras questões em torno dos legados da Lei da Anistia. Essa diversidade, em certa medida, reflete as diversas possibilidades de abordagens das questões ligadas a redemocratização e ao modelo de Justiça de Transição no Brasil.
Assim, o conjunto de textos que compõe esta edição aponta para diversas dimensões Da Lai da Anistia, o que nos remete a pensar, num espectro mais abrangente, acerca da própria democracia brasileira fundada e decorrente dela, e os dilemas em torno da própria da sua consolidação, em um momento em que seus marcos vêm sofrendo importante ameaças, diante da onda conservadora pela qual passa o país na atual conjuntura. Deste modo, buscamos, com o dossiê, além de fomentar o debate em um momento em que, mais uma vez, a temática que retorna para o centro atenções, aliar o exercício reflexivo para a compreensão dos mecanismos por meio dos quais se forjam a natureza e as características da Democracia Brasileira.
Pedro Ernesto Fagundes
Ueber José de Oliveira
Organizadores
[DR]Teoria da religião – BATAILLE (AF)
BATAILLE, G. Teoria da religião. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015. Resenha de: CAMILO, Anderson Barbosa. Artefilosofia, Ouro Preto, n.23, dez., 2017.
A recente publicação no Brasil de Teoria da religião de Georges Bataille pela editora Autêntica, com a competente tradução de Fernando Scheibe, traz uma edição ímpar deste escrito. Além de disponibilizar de modo integral o texto Teoria da religião, a presente edição dispõe da famosa conferência Esquema de uma história das religiões, proferida em 1948 no Collège Philosophique em Paris, na qual Bataille expôs noções chaves que posteriormente desenvolveu no manuscrito de Teoria da religião, redigido no mesmo ano, logo após esta conferência que “serviu de embrião ao livro” (p. 7), como diz Fernando Scheibe. É interessante ressaltar que a presente edição de Teoria da religião contém a presença das notas extraídas do volume VII das Obras Completas de Bataille, e também a inclusão das “Notas do editor francês”. Percebe-se nitidamente um empenho da editora Autêntica de apresentar ao público uma edição que proporcione uma leitura mais rica e frutífera de Teoria da religião, oferecendo ao leitor, num único volume, não somente o texto integral, mas, também, as notas adicionais e a mencionada conferência que originou o escrito.
Originalmente publicado pela editora francesa Gallimard em 1974, Teoria da religião veio a público após 12 anos da morte de Georges Bataille. Trata-se, portanto, de um escrito póstumo e que podemos considerá-lo abandonado, pois, como consta na “Nota do editor francês”, “[…] este texto estava destinado à coleção ‘Miroir’ [Espelho] das Edições ‘Au masque d’Or’ (Angers) ” (p. 11, grifo original), que não chegou a ser enviado em sua versão final. Bataille enviou para o editor um manuscrito incompleto, prometendo posteriormente enviar um quadro e mais algumas páginas. Assim, a publicação de Teoria da religião pela coleção “Miro ir” não foi concluída, desconhecendo-se o real motivo, mas vale salientar que o mencionado escrito de Bataille é citado diversas vezes nos planos para compor a Suma Ateológica (p. 11).
Por ser composto no diálogo da filosofia com a antropologia e da história da religião com a economia e com a sociologia, trata-se de uma obra plural que afirma o caráter incompleto e insuficiente dos pretensos discursos unilaterais sobre o ser humano. Mesmo assim, multifacetado, o pensamento de Bataille se esforça para permanecer numa constante: ser um pensamento aberto, “ móvel ”, pois um pensamento que se quer atrelado às vicissitudes da existência não pode se querer acabado, fechado. “[…] procurei exprimir um pensamento móvel, sem buscar seu estado definitivo” (p. 19), diz Bataille sobre seu escrito.
Como aponta o título do livro, vemos o desenvolvimento de uma teoria da religião que pode ser entendida como uma teoria sobre o sentimento religioso a partir da experiência da imanência ou da intimidade. Para Bataille, a religião responde a uma “busca da intimidade perdida” (p. 47). No percurso de sua argumentação, o autor se esforça por mostrar como a relação do homem com o domínio da imanência ou da intimidade, que é o fundamento da experiência do sagrado, se origina nas sociedades primitivas e quais lugares essa relação ocupa ao longo da história, do surgimento e do desenvolvimento das religiões, indo até a era industrial.
Para dar conta desta abordagem, Teoria da religião é constituída por duas partes. A primeira, intitulada “Dados fundamentais”, trata da construção de um quadro em que os conceitos de animalidade, intimidade, imanência, sacrifício, profano e sagrado são explicados. No início da primeira parte, Bataille afirma que o domínio da imanência é o da situação animal. “[…] a animalidade é a imediatez ou a imanência” (p. 23). A situação animal se passa num plano de indistinção na medida em que não há relação entre sujeito e objeto, isto é, não há a relação em que o objeto é posto por um sujeito que se sabe diferente do objeto. Assim, fundamentalmente, a noção de distinção é pensada.
Acrescenta-se a isso que a duração temporal do objeto é condição necessária para que ele seja posto enquanto tal: “É na medida em que somos humanos que o objeto existe no tempo em que sua duração é apreensível” (p. 24). Para a animalidade não existe a consideração do tempo por vir, portanto, não existe relação entre sujeito e objeto, não existe “[…] nada que possa estabelecer de um lado a autonomia e do outro a dependência” (p. 24).
A continuidade indistinta é o princípio fundamental da animalidade, de modo que Bataille afirma: “todo animal está no mundo como a água no interior da água ” (p. 24, grifo original). É impossível falar da situação animal com precisão, senão de modo poético, “[..
.] visto que a poesia não descreve nada que não deslize para o incognoscível” (p. 25). A animalidade apresenta-se a nós como “um enigma bem embaraçoso” (p. 25).
A partir dessas noções Bataille distingue o mundo humano em contraposição à situação animal. Se a animalidade está imersa numa continuidade, isto é, indistinção, o mundo humano está dado numa descontinuidade, e enquanto tal se configura a partir da posição do objeto enquanto diferenciado da consciência, como não-eu. Assim também o sujeito se faz conhecedor, pois conhece a si mesmo como um outro: “Isso quer dizer […] que só passamos a nos conhecer distinta e claramente no dia em que nos percebemos de fora como um outro” (p. 31).
Nessa perspectiva, a relação do sujeito com o objeto se dá no domínio da utilidade, pois foi na finalidade de manter-se viva que a humanidade estabeleceu sua relação com o mundo. É no plano da fabricação de ferramentas e da utilidade que a humanidade se tornou possível, e é nesse plano que se originou o sujeito conhecedor. Na medida em que transforma a natureza em algo que serve, o homem se coloca como peça fundamental nessa lógica dos meios para os fins, pois ele também está servindo a uma finalidade. Desta maneira, na relação útil com o objeto, o homem também torna-se uma coisa útil.
A questão principal nesta abordagem batailleana é que, no percurso histórico, mesmo a humanidade se realizando no mundo das obras úteis, no mundo profano, ela em alguma medida responde à imanência indistinta, ela responde à sua intimidade mais profunda, e passa a dar origem a um mundo “espiritualizado”, com a representação de um “Ser supremo”, depois animais e plantas dotadas de espíritos e, finalmente, a representação mítica do mundo através de deidades. É nessa perspectiva que o problema do sa grado é introduzido. O sagrado está relacionado à imanência e à continuidade, de modo que, para Bataille, o sentimento do sagrado, que responde à intimidade do homem, está imbuído de angústia, pois o sagrado é contraposto ao mundo profano que obedece ao imperativo da utilidade dando continuidade às possibilidades da vida gregária.
As práticas relacionadas ao sagrado, ao sacrifício e à festa não acontecem senão ao preço do mal estar e do medo, adquirido pelo homem que é arrancado do plano ordenado das obras úteis e levado ao domínio da intimidade e da imanência que põe em risco a duração da vida pela presença da morte. Nessa perspectiva, o sacrifício é pensado como uma prática que se determina como destruição do caráter de coisa da vítima. “É a coisa – somente a coisa – que o sacrifício quer destruir” (p. 39). Porém, o sacrifício se dá ao custo de retirar a vítima realmente do mundo das coisas, matando-a, fazendo-a voltar à intimidade, ao mundo sagrado dos deuses, e isso só é possível na medida em que o sacrificador pertence a esse mundo, “[…] ao mundo da generosidade violenta e sem cálculo” (p. 39).
O que há de mais importante na análise sobre o sacrifício em Teoria da religião é a destruição do laço entre o homem e o mundo da utilidade, o mundo da possibilidade da vida: “[…] o sacrifício vira as costas para as relações reais” (p. 40). Isto, no entanto, não acontece sem angústia, pois o medo da morte permeia o mundo das coisas de tal forma que uma prática que instaure a presença da morte só pode ser concebida com medo. “O homem tem medo da ordem íntima que não é conciliável com aquela das coisas” (p. 44). A ordem íntima para os primitivos está ligada à ordem mítica, e esta se contrapõe ao mundo real, a ordem mítica (íntima) é a negação da ordem real.
Segundo Bataille, na vida cotidiana a presença da ordem íntima é como uma sombra, traz consigo apenas a potência da morte que destrói o primado da duração, que é o fundamento da posição objetiva do mundo das coisas. O caráter devastador da morte é a todo o momento amortecido na ordem das coisas, a neutralização da vida íntima faz da morte algo irreal, mas quando ela se faz realmente presente, “[…] a morte mostra de repente que a sociedade mentia” (p. 41).
Georges Bataille compreende que a neutralização da intimidade pelo primado da duração na ordem real das coisas, por medo da morte, na realidade é a neutralização da vida, de modo que afirma: “[…] é claro que a necessidade da duração nos furta a vida e que, em princípio, só a impossibilidade da duração nos libera” (p. 42). É difícil para Bataille falar da intimidade, pois é impossível exprimi-la discursivamente. Ela é a ordem do desencadeamento violento das paixões, no sentido mais extremo de violência; é a ordem da intensidade de vida nas fronteiras da morte. A intimidade é paradoxal, “porque não é compatível com a posição do indivíduo separado” (p. 43), ou seja, o estatuto da experiência da intimidade é impossível. O que está jogo para Bataille é que o homem primitivo se via perante um impasse existencial: de um lado, o ímpeto para a imersão na intimidade e continuidade comandado por uma violência interior, e por outro, a satisfação das necessidades materiais guiada por uma vontade sempre crescente da racionalidade calculadora que neutraliza os instantes de intensidade da vida.
A festa é uma prática que tentou solucionar esse impasse, na medida em que nela explode uma aspiração à destruição, “[…] mas é uma sabedoria conservador a que a ordena e a limita” (p. 45). Nela as possibilidades de consumo são proporcionadas pelo desencadeamento das diferentes artes, por exemplo, dança e poesia, mas o limite desse desencadeamento da festa se determina na medida em que o mundo das coisas ainda deva ser assegurado. Só assim a festa é suportada.
Este quadro esboçado sobre a relação entre sagrado e profano traduz a incompatibilidade e atração da consciência clara e distinta frente ao domínio da intimidade. Essa incompatibilidade é a perspectiva a partir da qual Bataille afirma sua teoria da religião nos seguintes termos: A religião, cuja essência é a busca da intimidade perdida, se resumiu ao esforço da consciência clara que quer ser inteiramente consciência de si: mas esse esforço é vão, já que a consciência da intimidade só é possível no nível em que a consciência não é mais uma operação cujo resultado implica a duração, ou seja, no nível em que a clareza, que é o efeito da duração, não é mais nada (p. 47).
O problema ao qual o livro se concentra é o da humanidade querer, através da religião, a intimidade pela consciência clara e distinta, mas tal operação é impossível, pois a humanidade extraviou a intimidade, a negou para permanecer na consciência clara das coisas. No final do livro, Bataille afirma que a fraqueza das religiões, na medida em que não tentaram modificar a ordem das coisas, consiste em reduzir a ordem íntima à ordem real (p. 72), ligando cada vez mais o sagrado a operações produtivas ao longo da história. E o princípio fundamenta l desse problema é o da relação entre sujeito e objeto que está imerso no domínio da utilidade.
Cada vez mais a humanidade aumentou o abismo entre o homem e a sua intimidade indistinta, separou cada vez mais o homem daquilo que ele é (p. 47). As sociedades de combate, mesmo tentando corresponder à exigência de consumo da ordem mítica, não suportaram as práticas cruéis de tal consumo violento, que, nascidas da angústia, geravam uma angústia ainda maior em meio ao desenvolvimento material do mundo das obras úteis graças à empresa da guerra. “O primado do consumo não pôde resistir ao primado da força militar” (p. 50).
Na segunda parte do livro, intitulada “A religião nos limites da razão (Da ordem militar ao crescimento industrial)”, o autor faz uma análise do distanciamento cada vez mais crescente entre o homem e a sua intimidade no curso do desenvolvimento econômico das sociedades. As sociedades de combate que fizeram da conquista e da expansão territorial uma operação metódica, tornam-se impérios. O império era a ordem militar que “pôs fim aos mal-estares que respondiam a uma orgia do consumo” (p. 53). A representação do império é de uma “coisa universal”, a essência do império não está em dar a vez ao desencadeamento do consumo violento, mas está em desviar a violência para fora dele mesmo.
No império, o divino realiza atividades operatórias, isto é, está reduzido ao real. Origina-se, segundo Bataille, uma visão dualista do mundo: o divino é transcendente e o real é imanente (p. 57). O homem do império é dualista, é o homem do direito e da moral, diferente do arcaico, pois o homem do império é o homem da consciência reflexiva, desviado dos ritos de retorno à intimidade indistinta. Para o homem dualista, o sagrado (inteligível) está fora, é inacessível, está além, e nisso o divino é “moralizado”, o transcendente é fasto e o imanente é nefasto. Esta atribuição de valores ao sagrado e ao profano é resultado da redução do sagrado à ordem universal da razão pela moral. No império, os homens “[…] racionaliza m e moralizam a divindade, no próprio movimento em que a moral e a razão são divinizadas” (p. 56). A moral tem em vista regras para salvaguardar a vida dos indivíduos no futuro por vir, e por isso condena o consumo violento da intimidade. “Ela [a moral] condena as formas agudas da destruição ostentatória das riquezas. Condena de modo geral todos os consumos inúteis” (p. 56).
Como Bataille tem em vista falar, em Teoria da religião, da experiência da consciência com a intimidade, e com isso pretende fornecer um quadro geral, ele não se detém em nomear quais são as religiões dos homens dualistas, mas, na conferência Esquema de uma história das religiões, Bataille se refere explicitamente ao islã e ao cristianismo (p. 132-133).
No mundo das mediações, que caracteriza essas religiões, as obras da “salvação”, que é para elas a intimidade (p. 64), pertencem à lógica dos meios para os fins graças à moral, que cada vez mais reduziu o divino a operações eficazes. No mundo da mediação, mundo das obras, “[…] a salvação é buscada como se fia a lã” (p. 65).
Segundo Bataille, o universo material passa a ser rechaçado em sua participação com o sagrado, a lógica da eficácia se atenua a tal ponto que o “valor divino” das obras é negado, tudo o que diz respeito ao sagrado é abandonado no além e tudo o que diz respeito ao mundo das obras é isolado no aquém. Esse mundo das obras, diz o autor, “[…] não tem outro fim senão seu próprio desenvolvimento. A partir de então, só a produção é, aqui embaixo, acessível e digna de interesse” (p. 66).
O que passa a existir então é um “reinado das coisas autônomas”. Por esse caráter se define, segundo Bataille, o mundo do crescimento industrial, o da total cisão da ordem íntima com a ordem real. Claramente é o resultado do movimento do princípio da operação produtiva desde o império que “[…] dominou de maneira feral a consciência” (p. 67).
Bataille vê no crescimento industrial, que caracteriza a era capitalista, uma radical mudança de posição com relação ao consumo improdutivo das riqueza s excedentes, normalmente destinado ao sagrado, pois “[o] excedente da produção pôde ser consagrado ao crescimento do equipamento produtivo, à acumulação capitalista (ou pós-capitalista)” (p. 68).
Dessa forma, neste momento do livro, o autor afirma, de modo lapidar, a total subserviência do homem à lógica da eficácia. Há um abandono da vida “[…] a um movimento que ele [o homem] não comanda mais” (p. 68). Eis o grande “negócio” incontrolável que tem a força de direcionar todas as instâncias da vida à contínua produção, em que se torna latente a “soberania da servidão”, e não há nada que arruíne este negócio. Numa lucidez desoladora, Bataille afirma que não há outro modo de ser, seria muito difícil um outro encaminhamento das coisas, pois, “comparado ao crescimento industrial o resto é insignificante” (p. 69).
Á guisa de conclusão da segunda parte de Teoria da religião, o problema da religião é retomado, apontando para o fato de que a verdade da religião não faz mais sentido. “A busca milenar pela intimidade perdida é abandonada pela humanidade produtiva” (p. 68). O problema da religião alcança seu ápice de problematização no livro quando são tratados aspectos do crescimento industrial, uma vez que nesse momento histórico “[…] o homem se afasta de si mesmo m ais do que nunca” (p. 68). No entanto, o caráter de irrealidade que agora se confere a todo o resto contrário à produção não aniquila a existência desse outro. E então a perspectiva sobre o problema da religião muda, pois, por mais que haja a redução do homem para a operação produtiva, não se pode “evitar que haja nele alguma ligação entre a operação e a intimidade” (p. 72). É fraca a ordem íntima no mundo da consciência clara, não passa de balbucios. Mas a força desses balbucios encontra-se no fato de serem incomuns ao mundo da produção, são estranhos, pois representam a oposição da intimidade à ordem real.
Georges Bataille coloca em evidência o erro que proporcionou o “reinado da soberania produtiva”, a saber: a humanidade, a partir do sentimento do sagrado, representou cada vez mais a intimidade à luz da consciência clara. Mas isso traz um paradoxo, pois a possibilidade contrária é de antemão excluída pela contraposição entre intimidade e ordem real. As religiões fracassaram ao tentarem solucionar seu problema fundamental, de buscar a intimidade perdida, e acabaram por afirmar a ordem das coisas e a ela reduzir a ordem íntima. “No final, o princípio de realidade triunfou sobre a intimidade” (p. 72). O conhecimento distinto, ligado à ordem real, se difere da ordem íntima pelos modos de existência no tempo. “A vida divina é imediata, o conhecimento é uma operação que exige a suspensão e a espera” (p. 71).
Assim, Bataille coloca como possibilidade a restituição da ordem íntima no plano da consciência clara se a consciência deixar de iluminar a intimidade com a luz que pretende fundamentar um saber, e então dê lugar ao “não saber”. A intimidade pode ser restituída se a consciência clara mergulhar na obscuridade da intimidade. Tal possibilidade de restituição da intimidade só se dá pela consciência de si. “A consciência de si escapa assim do dilema da exigência simultânea da imediatez e da operação” (p. 71).
Georges Bataille não define claramente o que entende por consciência de si em Teoria da religião, mas, para o autor, diferentemente da satisfação da consciência no saber absoluto, a consciência é consciência de si quando encontra a sua verdade no não-saber. A consciência de si não soluciona o paradoxo fundamental da teoria da religião, mas desvia dele numa operação impossível. E nesse desvio a ordem das coisas não é destruída, mas reduzida à ordem íntima. O que a consciência submissa à ordem das operações produtivas pode fazer, segundo Bataille, é “[…] proceder à operação contrária, a uma redução da redução ” (p. 72), em suma, é levar a operação ao seu limite, e então a consciência se encontrará “[…] reduzida àquilo que ela é profundamente” (p. 72). É no reencontro com a intimidade em sua noite que ela, a consciência, “[…] completará tão bem a possibilidade do homem ou do ser que reencontrará distintamente a noite do animal íntimo no mundo – onde ela entrará ” (p. 72).
A destruição geral das coisas é condição para a consciência de si, é a operação contrária. Bataille alude à imagem do copo com vinho sobre a mesa para afirmar como essa destruição pode ocorrer. Os objetos que rodeia os homens são frutos do trabalho. Uma cama, uma mesa, uma cadeira. Alguém os fez para um outro comprar e usufruir, e o dinheiro de compra foi fruto de um trabalho. O que está em jogo é um conjunto de atividades que tem seu sentido num tempo por vir, trabalhar para receber dinheiro, fazer mesas para vender, etc. A mesa e a cadeira podem proporcionar dinheiro a um pensador, pois escreverá usando a mesa e a cadeira. E o pensador pagará o açougueiro pela carne, e assim o encadeamento do trabalho se perpetua. Mas, quando se coloca um copo com vinho sobre a mesa, esta já não serve mais para o trabalho, e sim para o consumo do vinho. Segundo Bataille, quando isso acontece, a mesa é destruída, isto é, nela todo o encadeamento do trabalho a que pertencia é destruído. E tudo isso em prol de uma fruição, de um desencadeamento que respondeu à ordem do instante e não mais do tempo por vir: beber um copo de vinho. “[…] todas as tarefas que me permitiram chegar a isso são destruídas de chofre, esvaziam-se infinitamente como um rio no oceano desse instante ínfimo” (p. 73). Pode ser uma destruição em ínfima escala, mas é nessa ínfima escala que, por um instante, a relação entre sujeito e objeto mudou. U m objeto não foi posto como tal, escapou do encadeamento da duração, uma vez que o resultado esperado no futuro pertenceu, por um momento, à fruição do instante. Por um momento o por vir foi aniquilado e somente o instante foi afirmado. Todo o tempo do esforço laboral não foi nada diante desse instante.
Portanto, segundo Bataille, a dissolução dos objetos no instante íntimo é o fundamento da consciência de si, “[…] é a negação da diferença entre o objeto e eu mesmo ou a destruição dos objetos como tais n o campo da consciência” (p. 74). E a destruição dos excedentes da produção pode manter o movimento da economia, segundo uma inversão fundamental, a do consumo improdutivo, na medida em que “[…] a produção excedente fluirá como um rio para fora ” (p. 74, g rifo original). Assim, a permanente destruição dos objetos produzidos dissolverá a diferenciação entre sujeito e objeto, de modo que a destruição do objeto no plano da consciência clara implica na destruição do sujeito. Mas, nessa operação contrária, “[…
] os objetos efetivamente destruídos não destruirão os homens” (p. 74). A realização do homem, consciência que se torna consciência de si, se dá na destruição do objeto, no contrário do que constitui a operação útil.
Teoria da religião parece tratar de uma aposta, e o que Bataille quer afirmar, com essas asserções acerca da destruição dos objetos no plano da consciência clara, é uma vida humana não submissa ao primado da utilidade, em que o homem deixe de ser uma coisa subjugada. É um pensamento “[…
] para quem a vida humana é uma experiência a ser levada o mais longe possível ” (p. 77, grifo original). Somente na consciência de si o homem pode ser soberano, restituindo a totalidade à sua vida. Assim o autor define o que é a soberania: “Soberania designa o movimento de violência livre e interiormente dilacerante que anima a totalidade, dissolve-se em lágrimas, em êxtase e em gargalhadas e revela o impossível no riso, no êxtase e nas lágrimas” (p. 78).
Georges Bataille conclui seu escrito com algumas considerações críticas sobre o método de abordagem feito por ele mesmo, e traz uma lista de referenciais teóricos que o ajudaram a fomentar o seu pensamento acerca do impasse existencial entre ordem íntima e ordem real. Neste referencial teórico destacam-se: Introduction à la lecture de Hegel, de Alexandre Kojéve; Les formes élémentaires de l avie religieuse, de Émile Durkheim; La doctrine du sacrifice dans le brahmanas, de Sylvain Lévi; Essai sur le don, de Marcel Mauss; Di e protestantiche Ethik und der Geist des Kapitalismus, de Max Weber.
Portanto, Teoria da religião é um livro que aborda muitas questões referentes a um objeto de reflexão que não se deixa precisar pela linguagem discursiva. Nessa pretensão, Georges Bataille esforça-se em mostrar um quadro geral coerente, no que se refere ao problema da religião – da situação humana no impasse dos incompatíveis domínios da ordem íntima e da ordem real –, mas que resultou em alguns momentos em imprecisões históricas e imprecisões de referências (p. 84-85). No entanto, o esquema desenvolvido por Bataille em Teoria da religião, “[…] que devia evitar sistematicamente referências precisas” (p. 85), não poderia vir à luz sem uma liberdade de reflexão que o tornou possível.
Torna-se válido retomar que o autor tentou promover uma abertura da reflexão. É um livro que trata de uma experiência de abertura, intenta ser libertador, como diz Bataille acerca de si mesmo e de seu escrito: “Gostaria de ajudar meus semelhantes a se acostumarem à ideia de um movimento aberto da reflexão. Esse movimento nada tem a dissimular, nada a temer” (p. 84).
Anderson Barbosa Camilo-Bacharel em Filosofia (UFRN). Mestre em Estética e Filosofia da Arte (UFOP). Doutorando em Metafísica (UFRN). E-mail: [email protected]
Linhas de animismo futuro – BENSUSAN (AF)
BENSUSAN, Hilan. Linhas de animismo futuro. Brasília: Editora IEB Mil Folhas, 2017. Resenha de: KANGUSSU, Imaculada. Artefilosofia, Ouro Preto, n.23, dez., 2017.
Animismo refere-se à anima, à alma, à animação. Linhas de animismo futuro, de Hilan Bensusan, apresenta a distinção, presente na história da filosofia, entre os seres considerados animados, aqueles portadores de alma, e os demais, o s inanimados, para discorrer sobre a necessidade de anular tal distinção. De um lado da linha, estamos nós, seres humanos, do outro lado todo o resto. Nós, as animadas, criamos esta distinção e toda engrenagem que precisa ser mantida para que ela funcione.
Diante desta situação, o autor coloca a pergunta sobre a possibilidade de uma política animista capaz de perceber um protagonismo anímico expandido, isto é, capaz de perceber uma animação generalizada e universal: uma cosmopolítica, cuja proposta é a continuação da política por outros meios, na linhagem de Isabelle Stengers e Bruno Latour. Parece-nos importante e necessário observar, como bem o faz Bensusan, que a atual crise com o meio-ambiente e os problemas com o esgotamento da natureza, quase sempre tratados como pano de fundo inanimado, têm encontrado o que há de mais insubmisso e mesmo catastrófico. Em Linhas de animismo futuro, a partir da observação de que o termo “natureza” agrupa nele tanto tudo o que nela não é humano, como a própria fisicalidade do ser humano, vemos como o “naturalismo”, desenvolvido na Europa entre os séculos XVI e XVII, foi o meio de o discurso moderno lidar com a physis, à qual atribuiu uma legalidade constante, exercida pelas “leis da natureza” e deixou de lado a possibilidade de haver nela, na physis, uma genuína animação. Apenas a natureza humana possuiria em sua interioridade, que pode ser diversa, a soberania em relação à natureza exterior. Vale lembrar, ainda que não seja assunto desta obra, a permanência desta mesma posição no pensamento de Kant, no final do século seguinte, onde as leis da natureza são consideradas necessárias ao passo que o sujeito, a partir de sua interioridade, pode adotar as chamadas “leis da liberdade” – sendo capaz inclusive de produzir modificações na natureza, mas não de transformar suas leis. Temos então, na Primeira e na Segunda Crítica, uma separação radical entre Natureza e Liberdade, regidas pela Legalidade e Vontade, respectivamente. Distintamente, no animismo, mesmo possuindo uma fisicalidade diferente do humano, o não-humano também é percebido como portador de uma interioridade e não apenas como fisicalidade “desanimada”, sem interior. Conforme passagem do livro: “Os animismos oferecem outra atitude diante da mesma crise: não é que o ambiente circundante precise ser preservado, ou que nós devamos parar de entrar em conflito com ele, mas que nele há uma demanda de protagonismo” (p.22).
Ao invocarem a possibilidade de a animação ser não apenas humana, os animismos provocam bastante desconforto. Um, dentre os múltiplo s motivos deste fenômeno ressaltado pelo autor, liga-se ao fato de o próprio termo “animismo” talvez evocar as fábulas nas quais elementos naturais – rios, árvores, estrelas, mares, montanhas, ventos – são falantes; ou talvez trazer à tona um tempo mítico quando, segundo Claude Lévi-Strauss, não se fazia distinção entre animais e humanos. Nas palavras de Bensusan, “ele se associa, portanto, à ideia vaga, mas pródiga, de um mundo reencantado” (idem, ibidem). Animismos foram exorcizados e são fantasmagóricos em um mundo desencantado. E o autor considera que eles, de alguma forma, permanecem vivos e se insinuam nos futurismos, nas ficções científicas, nos robôs que se ativam sozinhos, nas possibilidades de dar ânimo às máquinas… O livro vai além desta perspectiva de fábulas e também da certeza vigente – segundo a qual animais podem ser treinados, plantas podem ser cuidadas, pedras são carregadas, mas a conversa só é possível entre seres humano – ao considerar a imagem do conhecimento animista como aquela em que o conhecido, quem conhece e o conhecer é resultado de um encontro, de um trato, de uma conversa. No contexto animista, saber algo parece estar mais próximo de uma negociação do que do contemplar ou estabelecer um ponto de vista sobre algum fenômeno. Neste sentido, o texto remete-nos às conferências de Alfred North Whitehead (publicadas em Modes of Thought. New York: Macmillan, 1938), onde aparece a ideia de a natureza ser portadora de animação. Ao perguntar, na oitava conferência, sobre as evidências de um mundo animado, o filósofo julga encontrá-la na experiência corporal do mundo: a experiência corporal pode revelar o funcionamento animado das associações capazes de dar forma aos processos experimentados. A proposta de Whitehead consiste então em “construir o mundo em termos das sociedades corporais e as sociedades corporais em termos dos funcionamentos gerais do mundo” (em Modes of Thought, op. cit., p.164, citado em Linhas de animismo futuro, p.26). Algo muito distante do procedimento em curso de adapta r os corpos ao mercado. A dinâmica do animismo é a da politização do natural. Assim, ele desafia as determinações constitutivas do olhar sobre o mundo que não trazem à baila o que as determinou como constitutivas. Distinta de outras obras que passam ao largo da (ir)responsabilidade do capitalismo nas determinações do mundo hoje existente, como a de Donna Haraway, por exemplo, nesta a posição política é explícitada. Conforme descreve o autor, “é um livro que se situa à esquerda e pretende explorar uma maneira de integrar bandeiras vermelhas com bandeiras verdes de um modo teoricamente articulado e politicamente fértil” (p.28). Articulação necessária, pois, enquanto as esquerdas parecem estar sempre presas no âmbito do humano, os movimentos ecológicos tendem a considerar o não-humano como instância meramente passiva a ser defendida. “O livro aposta em um avesso do capitalismo que não o entende como uma etapa revolucionária e menos ainda como uma etapa necessária para um futuro almejado”, continuando com as palavras do autor, “quanto às bandeiras verdes, ele [o livro] aposta em uma expansão da agência política contra a persistente tendência da ecologia política de apresentar o não-humano como objeto de tutela” (p.29). Na mesma página, Bensusan declara acreditar que, “até a medula”, o animismo é “anátema do capitalismo”. E na página seguinte, apresenta sua proximidade com a autonomia das sociedades indígenas, presente nas tribos de todo o mundo, ao repetir as insígnias “é melhor pobre virar índio do que índio vir ar pobre”, e “ou a gente vira índio ou vira indigente”.
Quanto à composição, Linhas de animismo futuro traz um breve prefácio, uma introdução, onde fica claro a que veio, e oito capítulos compostos por textos autônomos que dialogam entre si. “Quibungos: a vingança do pó”, texto que compõe o capítulo 4, está publicado na revista ARTEFILOSOFIA 20, cujo tema é “A arte da vingança”. E como este número atual da revista trata das relações entre filosofia e psicanálise, esta resenha termina remetendo-se às considerações feitas por Freud a respeito do pensamento de Empédocles de Agrigento, filósofo da physis, a quem caberia bastante bem o epíteto de “animista”. Empédocles julgava que dois princípios básicos, amor (j i l i a) e discórdia, ódio (n e i k o z), que estão em guerra perpétua um com o outro, dirigem os eventos da vida humana e de todo o universo. Enquanto um deles, amor, se esforça por aglomerar as partículas dos quatro elementos primevos em uma só unidade; o outro, ódio, em contrapartida, procura destruir estas fusões e levar os elementos de volta a seus estados primitivos. Segundo o filósofo grego, há em todas as coisas um elemento que as impele à união, mas há também uma força hostil que as separa, e estes dois impulsos estão envolvidos no embate que produz todo devir e toda destruição. Freud observou que sua própria teoria das pulsões se encontrava tão próxima da teoria de Empédocles que ele sentir-se-ia tentado a sustentar que as duas eram idênticas, “não fosse a diferença de a teoria do filósofo grego ser uma fantasia cósmica, ao passo que a nossa se contenta em reivindicar validade biológica” (“Die endliche und die unendliche Analyse”, GW 16, p.91; na tradução brasileira, “Análise terminável e interminável” (1937), OC XXIII, p.279). Tendo em vista os animismos, é instigante perceber que Freud considerou o movimento das pulsões humanas semelhante àquele do cosmos, proposto por Empedócles.
Imaculada Kangussu-Doutora em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a tese Leis da Liberdade. As relações entre Estética e Política na Filosofia de Herbert Marcuse (defendida em 2000 e publicada pela Ed. Loyola em 2009) e Mestre em Filosofia pela mesma instituição, com a dissertação Imagens e História: as Passagens de Walter Benjamin (defendida em 1996). Pos-doutorado na School of Arts and Science da New York University sobre o tema Phantasy and Reason. Atualmente é Professora Titular no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto. Desenvolve pequisas na área de Estética e Filosofia da Arte, com ênfase na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e no pensamento contemporâneo dedicado a estas áreas. Coordena o grupo de pesquisa Arte e Conhecimento, é membro do GT Estética e da International Herbert Marcuse Society. E-mail: [email protected]
Experiencing time – PROSSER (ARF)
PROSSER, Simon. Experiencing time. Oxford: Oxford University Press, 2016. Resenha de: MEURER, César Fernando. Realidade e experiência temporal. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.4, n.3, p. 213-216, set./dez., 2017.
Permita-me iniciar com uma citação direta, a fim de indicar logo o foco da obra:
Our engagement with time is a ubiquitous feature of our lives. We are aware oftime on many scales, from the briefest flicker of change to the way our livesunfold over many years. But to what extent does this engagement reveal the truenature of temporal reality? To the extent that temporal reality is as it seems, whatis the mechanism by which we come to be aware of it? And to the extent thattemporal reality is not as it seems, why does it seem that way? These are thecentral questions addressed by this book (Prosser, 2016, p. ix).
Essas questões são centrais não apenas para o livro de Prosser, mas também para duas áreas da filosofia: metafísica (natureza da realidade temporal) e filosofia da mente (experiência temporal). Por conta de suas preferências metafísicas, Prosser se vê no compromisso de desenvolver certa filosofia da mente. Explico: no que tange a natureza da realidade temporal, ele adere à teoria B do tempo. Segundo essa visão, lemos no prefácio do livro, “the apparently dynamic quality of change, the special status of thepresent, and even the passage of time are illusions. Instead, the world is a fourdimensional spacetime block, lacking any of the apparent dynamic features of time”(p. ix).
Ora, a filosofia da mente que combina com essa visão precisa tentar dar conta dessas ilusões. Esse é um empreendimento pesado, penso eu. Não obstante, o autor de Experiencing times e mostra convicto da viabilidade desse projeto. No entendimento dele, a experiência temporal é a principal justificativa para aceitar a teoria A do tempo e, consequentemente, mostrar que tal experiência é ilusória significa ganhar pontos para a teoria B. Prosser é enfático: se não houvesse o fator ‘experiência temporal’, dificilmente alguém seria a favor da teoria A do tempo (Cf. Prosser, 2016, p. 59). Se removermos as raízes experienciais, por assim dizer, o que resta da teoria A já não constitui alternativa genuína à teoria B (Prosser, 2016, p. 23).
No que segue, vou apresentar o assunto de cada um dos sete capítulos do livro. Devo me alongar um pouco ao falar do capítulo 2, que contém o argumento principal o livro. Também o capítulo 6 vai receber uma apresentação mais detalhada. Nele,oautor propõe uma estratégia argumentativa específica para dar conta das ilusõesmencionadas acima.
O capitulo “1. Introduction: the metaphysics of time” apresenta elementoschave do debate metafísico sobre o tempo. Em linguagem clara, conceitualmente precisa e enriquecida com algumas excelentes ilustrações, Prosser (2016, p. 0121) situa asprincipais ideias em torno das teorias A e B. O leitor familiarizado com essa literatura não encontra novidades nesse capítulo.
O capítulo “2. Experience and the passage of time” (p. 2260) apresenta o argumento principal do livro. Prosser problematiza uma ideia que muitos consideram indubitável:A experiência nos diz que o tempo passa. De acordo com diversosestudiosos (ele cita Eddington, 1928; Williams, 1951; Schuster, 1986; Schlesinger,1991; Davies, 1995 e Craig, 2000) essa é a principal razão, senão a única, para aceitarquehá passagem objetiva do tempo.
Prosser considera que essa inferência – da experiência temporal para a realidade temporal (Se percebo que o tempo passa, então o tempo realmente passa) – é problemática. Veja-se estas queixas: “The distinction between the Atheory and the Btheory is supposed to be a distinction inmetaphysics; yet we are being told that one sideof the debate is motivated by the nature of experience, and thus argues its case onempiricalgrounds” (p. 23). “There is something very odd about being told that ametaphysical debate can be settled byjust looking(or justexperiencing, at any rate)”(p. 23).
Para falsear essa inferência, que é do tipo P→Q, o autor procura mostrar que o antecedente é falso. Efetivamente, para ele, “[…] passage of time is not an empirical phenomenon. No matter what our experience seems to be telling us, we do not, andcannot, veridically experience the passage of time” (p. 23).
Eis, pois, a tese principal da obra: nenhuma experiência pode nos proporcionar uma razão genuína para acreditar que objetivamente o tempo passa. Mais que isso, se houvesse passagem do tempo, seria impossível experienciá- la. Logo, não há qualquer elemento empírico a favor da teoria A. Todos os capítulos subsequentes procuram oferecer razões a favor dessa visão. Leio os como um esforço minucioso no sentido de cortar as raízes empíricas da teoria A.
No capítulo “3. Attitudes to the past, present, and future” (p. 6183), Prosser desloca o foco para um tópico correlato: a semântica de sentenças com predicados temporais tais como ‘é passado’, ‘é futuro’. Para o autor, é um equívoco pensar que esses predicados atribuem propriedades teóricas A.
Os capítulos “4. Experiencing rates and durations” (p. 84116), “5. Is experiencetemporally extended?” (p. 117-159) e “6. Why does change seem dynamic?” (p. 160-186) giram em torno da hipótese segundo a qual a nossa experiência temporal está conectada com a maneira como nós experienciamos mudanças [change]. A ideia básica é esta: nós cremos que experienciamos mudanças de maneira dinâmica poisrepresentamos os objetos equivocadamente. “The experienced dynamic quality comesabout because experience represents objects as enduring (in the sense of ‘endurance’that contrastswith perdurance or stage theory)” (Prosser, 2016, p. 160).
O percurso argumentativo de Prosser pode ser esquematizado em alguns passos (essa esquematização é interpretação minha):
Passo 1: Sustentar que todas as experiências perceptuais têm conteúdo representacional.
Passo 2: Defender que a explicação do aspecto dinâmico da mudança [change] deve ser feita em termos de conteúdo representacional.
Passo 3: Considerar que é suficiente, para essa explicação, (3a) apresentar o conteúdo representacional e (3b) explicar por que a experiência em exame tem tal conteúdo representacional. Para tanto, o autor introduz o que chamaPrincípio daexplanação representacional: “To explain why change is experienced as dynamic it issufficient to state the representational content of the relevant element of experienceandexplain why it has that representational content” (Prosser, 2016, p. 163).
Por que é suficiente focar no conteúdo representacional? Resposta direta:Prosser entende que a ilusão está na disparidade entre realidade e conteúdorepresentacional. Assim, o foco deve ser posto ali, no conteúdo representacional. Querisso significar que uma explicação do caráter fenomênico per se não se faz necessária nesse caso.
Passo 4: Operacionalizar o princípio da explanação representacional. Nas palavras do autor,
My methodological proposal, then, is that we replace the question ‘why doeschange seem dynamic?’ with two questions: firstly, ‘what is the representationalcontent of the element of experience that we associate with change seemingdynamic?’ and secondly, ‘why is that contend represented?’ (Prosser, 2016, p.164).
Passo 5: Defender que o aspecto dinâmico da mudança é ilusório por conta da maneira que nós representamos objetos. Inadvertidamente, nós representamos as coisas(os objetos do mundo) pelo viés endurantista, e não perdurantista (p. 172 e p. 180181).Eis, segundo o autor, o núcleo da ilusão que nos faz acreditar que experienciamos apassagem do tempo: “the representation of something enduringthrougha change is akey element in the phenomenology of temporal passage” (Prosser, 2016, p. 186).
A pergunta óbvia, diante dessa afirmação, é: Por que nós representamos objetos pelo viés endurantista? “This saves computational power, […] and also has theadvantage that an object briefly obscured from view continues to be perceived as thesame object” (Prosser, 2016, p. 183). Representar um objeto inteiramente presente em vários momentos sucessivos é mais econômico; o cérebro guarda uma representação (um arquivo mental ou ‘mental file’ – cf. Recanatti) que vai sendo atualizada com o passar do tempo, na medida em que mudanças acontecem. Segundo o autor, é esse erro endurantista, por assim dizer, que nos faz crer (falsamente) que experienciamos um aspecto dinâmico na mudança. Na realidade, não há qualquer aspecto dinâmico.
No capítulo “7. Moving through time, and the open future” (p. 187205), Prosserexamina a ideia de que nós nos movemos no tempo e, também, a ideia de que o futuro não está determinado. Na visão dele, nós representamos a nós mesmos também pelo viés endurantista (cf. os parágrafos anteriores, acima). A partir dessa referência – uma ilusão que, no caso da autorrepresentação nem sempre é consciente –, chegamos a conclusão de que nos movemos no tempo, por assim dizer, na direção de um futuro aberto.
O livro Experiencing timeé interessante por diversos motivos, dentre os quais: a) o texto é claro, rigoroso e envolvente; b) é uma excelente porta de acesso ao debate filosófico contemporâneo em torno do tempo, tanto no campo da metafísica quanto da filosofia da mente; c) há esforço argumentativo em diferentes níveis; d) a discussão vai muito além da disputa em torno da teoria A ou B do tempo. Em síntese, uma excelente publicação que merece ser conferida.
César Fernando Meurer – SocialBrains Reseach Group/Unisinos & Unilasalle Canoas. Doutor em filosofia. Postdoctoral Visiting Scholar no Departamento de Filosofia da Università Degli Studi di Milano, Itália. m@ilto: [email protected]
[DR]L’arte Espansa – PERNIOLA (AF)
PERNIOLA, Mario. L’arte Espansa. Turín: Giulio Einaudi Editore, 2015. Resenha de: VEGA, José Fernández. Artefilosofia, Ouro Preto, n.22, jul., 2017.
La completa mercantilización del mundo del arte y la consolidación de un nuevo panorama donde la especificidad de la categoría “obra de arte” parece haber perdido su antiguo prestigio y nitidez, constituyen los temas centrales de L’arte espansa. La expansi ón a la que hace referencia el título volvió difusa la noción de arte y la proyectó sobre cualquier espacio social. Ya no son claras sus diferencias respecto de la publicidad, la decoración o el diseño industrial. Por otra parte, los artistas se han conver tido en “marcas” y se posicionan en el mercado como figuras del espectáculo. Esta situación es el resultado de un largo proceso que, para Perniola, se inicia a partir de la emergencia del Pop Art. Los artistas se volvieron celebridades, la figura del críti co o del teórico se hundió en la insignificancia y un conjunto de mediadores culturales – galeristas, curadores, coleccionistas, subastadores-se convirtieron en los verdaderos jueces de la legitimidad dentro del mundo del arte.
Desde un plano estético, p areciera que la tesis hegeliana de la “muerte del arte” consigue captar bien las condiciones del presente. Al mismo tiempo, la inflación que sufre el perfil del artista individual impresiona como un hiperbólico triunfo de las concepciones del romanticismo de los siglos XVIII y XIX que privilegiaban la subjetividad creadora. Pero, de manera paradójica, en el nuevo panorama se borró también la diferencia entre artista y no artista, puesto que una de las consecuencias del Pop fue que cualquiera puede autodenom inarse artista sin que la legitimidad de esa pretensión pueda ser cuestionada. Para aspirar a esa categoría ya no es preciso exhibir una trayectoria, sostener una poética, poseer una habilidad artesanal, tener una formación y ni siquiera realizar una obra (el arte conceptual llegó al punto de impulsar un arte sin obra). El mundo del arte está siendo devorado por sus propias contradicciones internas, sostiene Perniola. En el primer capítulo de su libro dedica considerable espacio para contrastar dos episod ios que juzga cruciales para ejemplificar la crisis del arte contemporáneo. El primero fue un proyecto de la galería Saatchi de Londres, una de las más relevantes del mundo en su género, que incorporaba a su página web a cualquiera que dijera ser artista. La propuesta se restringió luego, puesto que para aparecer publicado se debía pasar por un proceso previo de selección. El segundo episodio tuvo lugar en la edición 2013 de la Bienal de Venecia convocada bajo el título: “El palacio enciclopédico”. Su cur ador, Massimiliano Gioni, seleccionó 158 “artículos” (ya no los denominaba “obras”), algunos de los cuales Perniola describe a lo largo de varias páginas. Se trataba de proyectos de todo tipo difícilmente asimilables a lo que convencionalmente se denominab a arte y pretendían ampliar el campo y ofrecer una selección a la vez arbitraria y comprensiva. La idea se inspiraba en el ambicioso plan de un poco conocido estadounidense quien diseñó un museo, nunca construido, donde pretendía exhibir todo el conocimien to humano. El catálogo de la muestra no incluía intervenciones críticas, sino textos de cualquier otro género (narraciones, testimonios, etc). Esta Bienal señaló un cambio de paradigma que, según Perniola, puede compararse con la irrupción del Pop habitual mente asociada a una exhibición de 1964 que tuvo lugar en la galería de Leo Castelli en Nueva York. Esta edición de la Bienal cierra entonces un período que abarcó medio siglo y abre un otro que el autor denomina fringe. En él predominan los contornos borr osos, lo periférico puede ubicarse en el centro en cualquier momento y donde no es preciso ser un artista, mostrar obra o cumplir con los requisitos de legitimación tradicionales.
Ese nuevo período, signado por el populismo cultural y en el que la obra no es una credencial suficiente, despliega a la vez estrategias teóricas de justificación y comerciales de promoción. El anti-arte de las vanguardias históricas se volvió completamente institucional e incapaz de preservar su potencial crítico. Ahora todo pued e ser arte, afirma Perniola en su segundo capítulo, basta con que alguien lo afirme así. Viejas nociones como la de originalidad o belleza han caído en desuso. Contra visiones como la de la socióloga francesa Nathalie Heinrich quien lanzó el concepto de “a rtificación” para indicar la sobrevaloración del arte y su expansión ilimitada (arte de los enfermos mentales, de los niños, de los animales, etc.), Perniola propone la categoría de “artistización” (artistizzazione). Nada es arte en sí mismo. Los esfuerzos filosóficos de la estética para definir el arte y captar su esencia ya no conducen a ningún resultado. Se vuelve preciso dirigir la mirada hacia un proceso cultural en rápido cambio, donde los artistas se designan a sí mismos, el mercado se volvió un acto r central y las obras exigen un acompañamiento hermenéutico sin el cual no pueden sostenerse. Este proceso generó una multiplicación inaudita de ferias, bienales, museos de arte contemporáneo, artistas y tendencias mientras abre la posibilidad para que cualquier creador marginal ocupe posiciones en el campo. El t ercer capítulo del libro gira en torno de las teorías del psiquiatra Hans Prinzhorn (1886-1933) sobre el arte de los autistas y los esquizofrénicos. Perniola conecta estas producciones con el Art Brut defendido por Jean Dubuffet (1901-1985) para quien sólo los marginados sociales y psíquicos podían hacer verdadero arte. En los años 1990 estas concepciones derivaron en distintas corrientes afines, como por ejemplo el Outsider Art. Para Perniola, sin embargo, resulta preciso establecer la diferencia entre el arte de un enfermo mental, encerrado en su propio padecimiento, y el que produce un artista. En el capítulo siguiente – casi una conclusión — se argumenta que con la irrupción de un escenario fringe la distinción entre incluidos y excluidos se desmoronó y carece de sentido. Otra de las curiosas secuelas de la nueva condición del arte alude a la conservación de las obras contemporáneas. Muchas de ellas no sobreviven porque están realizadas expresamente para perimir o fueron elaboradas con materiales barat os. La conservación se volvió documentación, más adecuada para mantener registro de las acciones, performances e intervenciones de todo tipo que caracterizan a un arte en el cual también se revitalizó la idea romántica del fragmento vis-à-vis la obra acaba da predominante en la tradición occidental. El siglo XX que llevó a un clímax las ideas de novedad y actualidad del arte puede dejar como herencia solo ruinas, en claro contraste con el arte de los siglos previos. El arte contemporáneo, señala el autor, se burla de sí mismo y a la vez se burla de los valores estéticos del pasado. Pero esta actitud no puede sostenerse en el tiempo. Su impacto se diluye; se trata de una operación quizá ya agotada por Marcel Duchamp hace ya cien años.
Como balance ambivalente, Perniola considera que el arte contemporáneo es para-político (no auténticamente político, y en esto también encuentra una herencia romántica) y está animado por una ampliación populista de sus fronteras a partir de la cual todo puede ser obra y cualquier a puede llamarse artista. La inversa también resulta válida: nada es arte y nadie un artista. El giro fringe se insinuó ya en las vanguardias históricas del siglo XX, pero tomó verdadero impulso en los años sesenta. La culminación de este proceso, para el autor, se hizo manifiesta en la Bienal de Venecia de 2013.
En un epílogo, el autor comenta la siguiente edición de esa Bienal, que tuvo lugar en 2015 bajo la dirección de Okwui Enwezor, estadounidense oriundo de Nigeria, donde se realizaron lecturas de El Capital de Karl Marx. Allí también proliferaron artistas profesionales, pero en un nuevo sentido: egresados de universidades (de carreras de arte o de otras, como la premiada Adrian Piper, filósofa y autora de diversas obras en la disciplina). Emerge, ento nces, un artista-profesor-intelectual, vale decir, un académico diferente del artista académico que conoció la tradición. Otra nota distintiva es que los artistas provienen de todo el mundo, pero terminan su perfeccionamiento y lanzan sus carreras internac ionales desde los centros representados por EE. UU. y el norte de Europa (Perniola lamenta que Italia ya no figure en la geografía del arte).
L’arte espansa es un ensayo que discute la deriva del arte contemporáneo y se muestra implacable a la hora de denu nciar sus imposturas y su caída en la sociedad del espectáculo y de la cultura comercial. Escrito por un especialista en estética, critica la banalización del mundo del arte y el declive en su seno de todo pensamiento crítico. Sus tesis, animadas por una i ndignación poco novedosa, se pueden discutir, pero indudablemente se encuentran bien argumentadas y fundamentadas en un aparato erudito actualizado. Una evidente virtud de esta obra consiste en la combinación de reflexiones teóricas con asociaciones ligad as a la actualidad del arte y a su historia; pero en ocasiones dicha virtud amenaza con volverse un defecto pues Perniola dedica largas páginas a exponer distintas poéticas o puntos de vista, no siempre indispensables para su argumento. Otro problema del l ibro es que pretende abarcar demasiados fenómenos y esto debilita sus objetivos centrales. En ocasiones deja la impresión de que, siempre manteniendo un discurso a la vez coherente, crítico e informado, el autor salta de un tema a otro sin agotar ninguno.
Perniola no se deja influir por el esnobismo ni hace concesiones intelectuales, aunque su enfoque general no es enteramente original puesto que desde hace años se publican trabajos que embisten contra lo que consideran una nueva superficialidad de la cultu ra visual, ya completamente integrada al giro financiero y a la publicidad centrada en sus agentes antes que en sus realizaciones. L’arte espansa se ubicaría en un terreno intermedio dentro del panorama de la reflexión estética: es crítico pero no está esc rito desde una perspectiva cultural radicalmente conservadora. No comparte el optimismo de muchos agentes del mundo del arte. Ofrece una mirada derivada de un íntimo conocimiento del panorama artístico de la actualidad nada hostil a la teoría sino arraigad a en ella.
José Fernández Vega-Professor na CONICET – UBA. E-mail: [email protected]
10 Lições sobre Gadamer – KAHLMEYER-MERTENS (ARF)
KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. 10 Lições sobre Gadamer. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2017. Resenha de: SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.4, n.1, p.187-192, jan./jun. 2017.
Não é tarefa simples rastrear um percurso filosófico, sobretudo, quando suas sendas, uma vez abertas, conduzem o leitor floresta adentro no intuito contingente de enredar-se em seus mistérios. Tal é a experiência de pensamento que uma obra do porte da de Hans- Georg Gadamer (1900-2002) lega a seu intérprete. É, pois, assumindo, um peculiar exercício hermenêutico que10 Lições sobre Gadamerbrinda o público de língua portuguesa na já consagrada Coleção 10 Lições da Vozes. O autor, Roberto S. Kahlmeyer-Mertens, que assinara pela mesma série,10 Lições sobre Heidegger (2015), novamente leva a bom termo tal projeto. Afinal, quais seriam, em seu quadro geral, as Lições perseguidas por esse pioneiro e notável estudo introdutório sobre Gadamer?
Na Primeira Lição, “Quem é Gadamer?”, Mertens sumariza a gênese do pensamento gadameriano, destacando suas influências de formação, bem como sua fecundidade intelectual. Gadamer é revivido desde a juventude quando, acercado por Paul Natorp, travaria contato, já no início dos anos 1920, com Heidegger. Malgrado os encontros e desencontros com o autor de Ser e Tempo 1927), fato é que Gadamer jamais deixará de reconhecer a força inspiradora desse projeto acalentado na segunda década. Quer dizer: o magnetismo da fenomenologia e, particularmente, a estreita verve hermenêutica do programa heideggeriano exercerá, de maneira intrépida, uma atração distintiva no itinerário gadameriano. Como avalia Mertens (p. 28), “a vocação hermenêutica de Gadamer, inicialmente, cultivada por Heidegger é algo que se reaviva”. Outro aspecto, porém, não se perde de vista no curso dessa primeira lição: a posição política do jovem filósofo. É o que se pode avaliar por conta da ascensão do partido social nacionalista, nos anos 1930, na Alemanha. É certo que Gadamer buscou resguardar-se em relação a isso, adotando uma postura mais prudencial, tanto no sentido de não colaborar com o regime quanto em não resistir como um “intelectual engajado”. Ele, antes, preferiu recolherse, dedicando-se, exclusivamente, ao magistério, em que pese, à época, os ossos do ofício. Vale, contudo, observar, mostra Mertens (p. 32), que, “em Leipzig, Gadamer desenvolveu até seminários sobre Husserl (desobedecendo à proibição oficial de estudar autores de origem semita), sem que fosse incomodado pelo patrulhamento ideológico do partido”. De todo modo, o que chama atenção é o fato de que, malgrado tais tempos bicudos, Gadamer se envolve em inúmeros projetos acadêmicos: em 1953, funda, com Helmuth Kuhn, a Revista Philosophische Rundschau. Ele também presidirá a Sociedade Alemã de Filosofia além de tornarse, membro da Academia de Ciências de Heidelberg. Nos anos cinquenta e sessenta, o filósofo edita sua magnum opus:Verdade e Método (I e II)na qual advoga a tese de que “a hermenêutica nasce da práxisdialógica” (Gadamer apud Mertens, p. 39).
A fim de melhor situar esse princípio nuclear faz-se necessário que passemos às lições seguintes. Na Segunda Lição,“Hermenêutica como a ‘coisa de Gadamer’”, Mertens restitui o estatuto proeminentemente hermenêutico da obra gadameriana. Para tanto, lembra que existem vários modelos hermenêuticos como o da escola de Schleiermacher, passando por Dilthey até chegar Heidegger. É notável que o movimento hermenêutico iniciado no século XIX é regido sob o signo da filologia como um instrumento de exegese que atraíra, inclusive, historiadores, juristas e teólogos. Dilthey, p.ex., encontrara nesse expediente metódico, uma ocasião oportuna para pensar o projeto de fundamentação das ciências do homem então emergentes. Mais que um simples filólogo, ele se via como um “teórico do método” como bem repara Gadamer; método esse fundado na distinção entre “explicar” (específico das ciências naturais) e “compreender” (próprio das ciências do espírito”). Não obstante, essa “arte da compreensão” permanece restrita, ainda, a um tradicional ofício filológico. Por isso, o salto vigorosamente filosófico tem se início com a fenomenologia. A figura de Heidegger, sob esse prisma, se torna, de fato, programática, à medida que, como diz Mertens (p. 48): “O autor de Ser e Tempo está circunspectamente comprometido com a questão do sentido do ser; não seria, portanto, em outro âmbito que a hermenêutica compareceria […]Com a hermenêutica da facticidade, nosso fenomenólogo se apropria da ideia de compreensão, enraizando-a na vida fática enquanto contraposição a uma atividade abstrata e teórica”. Apesar de a compreensão exprimir, em termos heideggerianos, um existencial revestindo-se de um caráter ontológico radicado na pergunta pelo sentido, o que temos é uma “filosofia hermenêutica, uma hermenêutica fenomenológica, mas que ainda não preenche a qualificação de uma hermenêutica filosófica propriamente dita” (p. 50). Esse alcance só sedará, efetivamente, com Gadamer que “tem em vista o acontecimento da compreensão e o horizonte de possibilidade da interpretação que apenas é possível a partir de tal acontecer” (p. 53). Ora, é precisamente tal aspecto agora visado que diferencia a hermenêutica de Gadamer como uma “coisa” peculiarmente sua, conforme a expressão de Heidegger. Com isso, é possível, enfim, compreender o elemento dialógico da hermenêutica. Com a palavra, Mertens (p. 5354): “Uma hermenêutica filosófica, assim é distinta das outras, pois, tendo descoberto a linguagem como o terreno da experiência ontológica fundamental, se lastreia nessa experiência linguística viva desde a qual o ser no mundo compreende a si mesmo”. Como observaria Heidegger, a propósito: “esse traço filosófico se tornou um bom contrapeso à filosofia analítica e à linguística” (Heidegger, apud Mertens, p. 43). A visada de Gadamer se projeta, precisamente, aí: ele reconhece no fenômeno da linguagem (e, portanto, do diálogo) uma dinâmica onde reside a dimensão ontológica mais profunda de todo compreender.
É assim que a Terceira Lição reorienta o debate. Intitulando-se,“Método, compreensão e acontecimento”, Mertens ressalta que essa nova “hermenêutica” é bem mais que uma simples metodologia aplicável; ela,rigorosamente,seinstituicomouma“doutrinadocompreender”,transfigurando, por meio da linguagem, sua fundação ontológica originária. É preciso ver que Gadamer não desconsidera jamais a importância do método. Tanto é que ele próprio situa sua hermenêutica como uma teoria, uma doutrina, fazendo notar que “a verdade (que sustenta o fenômeno da compreensão e aideia das ciências humanas) não é apenas questão de método” (p. 61). A ideia de método difere, substancialmente, da acepção naturalista, clássica, por definição desvelando que o “acontecer é operante em toda compreensão”. Um dos melhores exemplos disso vem à luz na Quarta Lição.
Nessa, intitulada “Jogo da arte, jogo da compreensão”, Mertens discute um ponto de pauta na nova agenda hermenêutica: o fenômeno da arte e do jogo (Spiel). Com qual intenção Gadamer recorre à arte? “Para evidenciar o caráter de acontecimento da verdade do compreender” (p. 67). É que a arte não se dobra à racionalidade científicatout courttal como Merleau-Ponty precisara em O Olho e o Espírito. Diferentemente do cientista que “manipula”, nota o fenomenólogo francês, o artista “habita” o mundo, se lançando num “lençol desentido bruto”, num “há prévio”, sem nenhum dever de apreciação. Ele vive, habita o acontecimento! Gadamer parece não só estar cônscio disso, mas, sem qualquer pretensão de elaborar uma teoria estética, quer pensar, em sua estrutura íntima, a experiência da obra de arte como uma dimensão sui generis. É nesse sentido que o jogo passa a exercer um papel especial. O hermeneuta alemão compreende que entre arte e jogo há uma relação recíproca. Há todo um movimento de vaivém, ou se, quiser, dialético no fenômeno lúdico, desconstruindo, pois, toda relação de conhecimento do tipo clássico: sujeito/objeto. A compreensão da verdade nesse acontecimento único “só se cumpre quando o jogador se abandona completamente ao jogar” já que “todo jogar é um jogado” (p. 72). É essa dinâmica, aquém e além de todo subjetivismo ou objetivismo que torna o jogo uma forma especial de arte, imprimindo o ritmo de uma significação sempre aberta, dado o seu caráter imprevisível. Sob esse espectro, impossível não ver, em tais formulações, presenças impactantes não só de Huizinga em seu Homo Ludens, mas tambémde F. J. J. Buytendijk, em Essência e sentido do Jogo, Wittgenstein em Investigações Filosófica se Eugen Fink, em O Jogo como Símbolo do Mundo. Este último considera, portanto, que o “homem que joga não pensa e o homem que pensa não joga” (p. 73).
A Quinta Lição, “Preconceitos, autoridade, tradição”, situa outra temática cara ao pensador alemão. Ele pretende melhor delinear o movimento hermenêutico resguardando a autoridade da tradição e o recurso prévio dos pressupostos ou preconceitos que a funda. Eliminando qualquer depreciação de cunho moral, tais preconceitos são inerentes a um contexto específico no qual toda compreensão se anuncia. O que significa que dependemos sempre de uma “précompreensão” quando se trata de se situar “num terreno aberto pelo projeto do ser que somos ao ‘aí’ do mundo” (p. 78). É nesse “espaço de jogo” que se transfigura o horizonte hermenêutico propriamente dito. Observa Gadamer (ApudMertens, p. 85): “sempre intervém, em nossa compreensão, pressupostos que não podem ser eliminados […]. A compreensão é algo mais que a aplicação artificial de uma capacidade. É sempre também o atingimento de uma autocompreensão mais ampla e profunda. Isso, porém, significa que a hermenêutica é filosófica e, enquanto filosofia, filosofia prática”. Ademais, Gadamer se reporta à noção de autoridade removendo nela toda conotação, à primeira vista, moralmente impositiva ou conservadora. Trata-se de reconhecera autoridade de saberes e de tradições (como a retórica, filosofia prática, hermenêuticas jurídica e teológica) que se engendram a partir desses preconceitos na contramão, p. ex., do racionalismo esclarecido do séc. XVIII.
Uma vez postos esses elementos estruturantes, Mertens revisita outra categoria- chave para pensar, em termos gadamerianos, o projeto hermenêutico. É o que aborda aSexta Lição,“A história das repercussões e sua consciência”. Trata-se da assim denominada Wirkungsgeschichte, isto é, a história das repercussões. Do uso desse conceito, Gadamer entende que, em regra, “as compreensões, ao serem transmitidas, contam com preconceitos fáticos que (por serem também históricos) exercem seus influxos sobre novas compreensões e interpretações” (p. 94). Afinal, que “história” seria essa? “Uma história das posições e dos caminhos que as compreensões assumem no horizonte da tradição e da maneira como elas, uma vez interpretadas, logram sua posteridade” (p. 94). Não há, fundamentalmente, como ignorar a história e seu trabalho tácito no seio da tradição: a história é, a um só tempo, um horizonte aberto. Por isso, a verdadeira consciência histórica como exigência hermenêutica, inscreve Gadamer (Apud Mertens, p. 98), “é algo distinto da investigação da história”. O que mostra que inexiste imparcialidade nesse processo uma vez que “toda e qualquer compreensão sempre acontece embebida na história” (p. 100). O fato último é o de que nossa consciência histórica é, desde sempre, circunstanciada, lançada na finitude como acontecimento.
A Sétima Lição, “Circularidade, fusionalidade e dialogicidade” reúne três outros aspectos fundantes desse projeto filosófico. O primeiro é a noção de “círculo hermenêutico” que, como esboça Gadamer, consiste num “movimento de compreensão que se dá no conjunto para a parte e, novamente, para o conjunto” (Gadamer Apud Mertens, p. 106). O que se revela aí é um processo global de sentido; processo esse que leva em conta a experiência existencial do tempo. Tal como em Heidegger, o tempo é o que funda todo acontecimento descortinando uma “fusão de horizontes”. Este é o segundo aspecto. Como explicita Mertens (p. 111): “horizonte é a estrutura de base que, consolidada na chave de posições, visadas e conceptualidades prévias, se alarga e se refina significativamente em cada novo projeto compreensivo”. Em razão disso, “todo compreender se dá como fusão de horizontes” (p. 112). O terceiro aspecto é o diálogo. Gadamer reconhece na dialética do perguntar e do responder o caráter essencial da linguagem compreendida via a dinâmica peculiar do jogo como arte. É essa espécie de um “logos compartilhado” que se anuncia como componente ontológico e, portanto, originário do experimento hermenêutico.
A Oitava Lição, “Hermenêutica e ontologia da linguagem” se destina a aprofundar o sentido e alcance desse logos. Para tanto, Mertens reconstitui, a partir de Verdade e Método, duas teses capilares: a primeira, de que “não há compreensão fora da linguagem” (p. 126). Para além, pois, de todo nominalismo, essencialismo ou positivismo lógico, a obra de Gadamer acentua o caráter originário da linguagem como inseparável de uma experiência hermenêutica. A alusão à metáfora de que vivemos na linguagem assim como o peixe na água em muito lembra a experiência sentida pelo escritor, seja ele romancista ou poeta. É por meio desse gesto que Clarice Lispector pressentira o caráter contingencial ou indigente da linguagem visto por certa tradição canônica como algo desprovido de qualquer brio ontológico. A segunda tese, complementar à anterior, é a de que “o próprio objeto da compreensão é linguístico” (p. 129). Compreensão e linguagem se mesclam numa só experiência. Ao postular esse princípio parece claro que Gadamer se afasta, consideravelmente, de uma crítica que se tornou lugar comum, qual seja, a de advogar um idealismo linguístico, já que “não é o ser da totalidade que interessa a Gadamer, mas o ser do que pode ser compreendido na linguagem”(p. 132).
Em “Filosofia prática e hermenêutica”, o leitor é conduzido à Nona Lição. Neste instrutivo estudo, percebemos o interesse gadameriano com a filosofia prática tendo, em Aristóteles, uma fonte digna de interpretação. A prioridade da práxis, tão bem acentuada por Gadamer, sugere um passo a mais que o estágio de uma consciência ético política, situando-se, na verdade, num nível decididamente hermenêutico. Como corrobora o pensador alemão, trata-se “de uma atitude teórica frente a práxis da interpretação, da interpretação de textos; porém, também das experiências interpretadas neles e nas orientações domundo” (Gadamer, Apud Mertens, p. 147).
Na Décima Lição, “Em campo contra Gadamer”, Mertens contextualiza algumas críticas de que fora alvo nosso pensador alemão. Uma das mais conhecidas é a provinda de Habermas que teria diagnosticado em Verdade e Método certo “conservadorismo” ou, ainda, uma boa dose de “relativismo”. O ponto nevrálgico da hermenêutica gadameriana residiria no reconhecimento da tradição e no argumento da autoridade como sinais incontestes de uma forma de filosofia que permanece arraigada ao racionalismo oitocentista. Trata-se de um dogmatismo canônico em que Gadamer não teria inteiramente se libertado. Ao mesmo tempo, em sua réplica, Gadamer jamai sabre mão da atividade crítica, tão fortemente cobrada por Habermas. A hermenêutica não faz apologia à tradição em favor de preconceitos ilegítimos. Ela apenas parte do pressuposto de que não há subjetivismo e que toda compreensão não existe sem preconceitos, desde que estes sejam, é claro, legitimáveis.
Enfim, o livro encerra com um oportuno balanço não só sobre as lições precedentes, mas acerca de um espectro mais amplo em torno desse insigne mestre que é Gadamer, cuja obra impacta, indelevelmente, o cenário contemporâneo das ideias. Aqui, o leitor menos familiarizado terá, especialmente, em primeira mão, um retrato vivo e pujante de um dos projetos filosóficos mais densos e fecundos que tem justo na figura de Hermes uma fonte da mais alta inspiração helênica.
Claudinei Aparecido de Freitas da Silva – Professor dos Cursos de Graduação e de PósGraduação (Stricto Sensu) em Filosofia da UNIOESTE – Campus Toledo com Estágio PósDoutoral pela Université Paris 1 – PanthéonSorbonne (2011/2012). Escreveu “A carnalidade da reflexão: ipseidade e alteridade em MerleauPonty” (São Leopoldo, RS, Nova Harmonia, 2009) e “A natureza primordial: MerleauPonty e o ‘logos do mundo estético’” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2010). Organizou “Encarnação e transcendência: Gabriel Marcel, 40 anos depois” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2013), “MerleauPonty em Florianópolis” (Porto Alegre, FI, 2015), “Kurt Goldstein: psiquiatria e fenomenologia” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2015) e Festschrift aos 20 anos do Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UNIOESTE (Cascavel, PR, Edunioeste, 2016). E-mail: [email protected]
[DR]A invenção dos direitos humanos: uma história | Lynn Hunt
A autora de A invenção dos direitos humanos, Lynn Avery Hunt, nasceu em 1945 no Panamá e cresceu no estado de Minnesota nos Estados Unidos da América. Atualmente, leciona História europeia na Universidade da Califórnia e utiliza os pressupostos da História Cultural em suas produções acadêmicas.
Vinculada à História Cultural, em A invenção dos direitos humanos Lynn Hunt salienta a importância de abordar as transformações das mentes individuais ao trabalhar os processos históricos. Sendo assim, nos capítulos iniciais do livro a autora busca elucidar as novas formas de compreensão de mundo surgidas no século XVIII que possibilitaram a construção de pressupostos como os presentes na Declaração de Independência Americana (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ao se desfazer da subordinação política para com a Coroa Britânica, fez uso das idéias iluministas ao declarar verdades auto-evidentes como igualdade de todos os homens e seus direitos inalienáveis: “Vida, liberdade e busca da felicidade”. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adiante e traçou que todos os homens são iguais perante a lei e que todos possuem o mesmo direito independente de sua origem ou nascimento. Pressupôs-se, então, a tolerância religiosa e a liberdade, além da autonomia e da independência dos homens.
Para as declarações, os direitos eram universais e iam além de classe, cor ou religião. No ato da escrita, já se partia da idéia de auto-evidência dos direitos, o que aponta para uma mudança radical nos pensamentos ao longo do século XVIII e insere uma problemática: se os direitos são auto-evidentes por que precisam ser declarados? Ao responder a essa questão Hunt salienta que a construção dos direitos é contínua.
As declarações são a materialização das discussões que haviam interpelado o século XVIII e rompiam com a estrutura tradicional de sociedade. Um novo contrato social foi forjado, centrado nas relações entre os próprios homens sem contar com o intermédio religioso: era o fim do absolutismo e a desconstrução do Direito Divino dos Reis de Jacques Bossuet. O fundamento de toda a autoridade se deslocou de uma estrutura religiosa para uma estrutura humana interior: o novo acordo social se dava entre um homem autônomo e outros indivíduos igualmente autônomos.
A montagem dessa nova estrutura só é possível devido a uma nova visão do homem: agora visto como alguém livre que tem domínio de si, que pode tomar decisões por si e viver em sociedade. A autonomia individual nada mais é do que a aposta na maturidade dos indivíduos. A partir dessa nova visão, nasce-se uma nova vertente educacional: modelada pelas influências de Locke e Rousseau, a teoria educacional deixa de focar na obediência reforçada pelo castigo para o cultivo cuidadoso da razão para formar esse novo homem crítico e independente.
Paralelo a isso, nasce-se uma nova visão de corpo. O corpo passa a ser algo de domínio privado, individual e não mais como algo pertencente ao corpus social ou religioso. Os corpos também se tornaram autônomos, invioláveis, senhores de si e individualizados.
Como um importante mecanismo de transformação, Hunt aponta a popularização dos chamados romances epistolares. As cartas enviadas pelas protagonistas abordam as emoções humanas para todos os leitores. As lutas de Clarissa e Pâmela, criadas por Richardson, além das questões de Júlia, escrita por Rousseau, fizeram com que os leitores reconhecessem que todos tem seus sonhos, almejam tomar suas próprias decisões e dirigir a própria vida. O desenvolvimento de um sentimento de empatia tornou possível a construção de pressupostos básicos como a autonomia, a liberdade e a independência, além da igualdade.
Outro exemplo de transformação social ocorrida no século XVIII foi a campanha contra a tortura. Hunt cita o caso Callas como disparador de um processo que espelhou a nova visão de corpo na sociedade francesa do século XVIII. Para Hunt, ler relatos de tortura ou romances epistolares causou “mudanças cerebrais” que voltaram para o social como uma nova forma de organização.
Houve uma queda na visão do pecado original, na qual todos são pecadores e duvidosos, para a ascensão do modelo de homem rousseauniano que aposta na bondade de cada indivíduo. Essa concepção, aliada ao novo conceito de corpo, agora dentro do limite privado, formulou um posterior novo código penal que gradualmente aboliu a tortura e deu ênfase à ressocialização do indivíduo. O corpo já não era punível com a dor para vingar o social e estabelecer um exemplo ao restante da população. O corpo agora era privado e o foco se tornou a honra social do indivíduo.
Após abordar as transformações que tornaram possíveis as declarações, Lynn Hunt se ateve às aplicações e ao processo de formação das sociedades ao tentarem aplicar esses direitos. Uma assertiva importante que a autora faz nesse capítulo é que declarar é um ato político de alteração da soberania: esta passou a ser nacional, pautada no contrato entre homens iguais perante a lei, sem intermédio da religião. Declarar significava consolidar o processo de mudanças que vinham ocorrendo ao longo do século.
Mesmo dizendo que naquele momento os direitos já eram auto-evidentes, os deputados criaram algo inteiramente novo que era a justificatição de um governo a partir de sua capacidade de garantir os direitos universais. Entretanto, nessa fase encontram-se os problemas inerentes a aplicação desses conceitos generalistas: declarar os direitos universais significava conceder direitos políticos às mais variadas minorias, e proclamar a liberdade colocava em cheque a escravidão colonial.
A partir daí muitos direitos específicos começaram a vir à tona na esteira: liberdade de culto aos protestantes significava direito religioso também aos judeus, bem como participação política; o mesmo acontecia com algumas profissões, além da situação das mulheres, defendida de maneira inovadora por Condorcet e Olympe de Gouges. Os direitos foram sendo concedidos gradualmente, a liberdade religiosa e os direitos políticos iguais às minorias religiosas foram concedidos no prazo de dois anos, bem como a libertação dos escravos.
A discussão da universalidade dos direitos foi caindo ao longo do século XIX. Alguns grupos assumiram as lutas políticas do século seguinte às declarações como os trabalhadores e as mulheres. O nacionalismo foi um protagonista importante da luta por direitos ao longo do século XIX, os pressupostos franceses internacionalizados pela expansão napoleônica surtiram o efeito inverso.
Após a dominação que caracterizou o período napoleônico, nos territórios ocupados se criou uma aversão a tudo que viesse dos franceses em detrimento do que simbolizasse uma identidade nacional. Com o tempo o nacionalismo foi tomando características defensivas e passou a ser xenófobo e racista, baseando-se cada vez mais em inferências de caráter étnico.
Teorias da etnicidade representaram um enorme retrocesso ao ideal de igualdade pois partiam para determinação biológicas da diferença, montando hierarquias e justificando a subordinação, e, por conseguinte, o colonialismo. Houve uma falência do novo modelo educacional, visto que dentro da nova ideologia social só algumas raças poderiam chegar à civilização rompendo também com o ideal de universalidade.
O ápice dessa visão nacionalista e racista foi a Segunda Guerra mundial, que com os milhões de civis mortos representou a falência dos direitos humanos, principalmente com os seis milhões de mortos por intolerância religiosa e discurso de raça. As estatísticas assombrosas e o julgamento de Nuremberg trouxeram à tona a necessidade de um compromisso internacional com os direitos humanos.
Apesar de reconhecimento da urgência desse compromisso, foi preciso estimular as potências aliadas a assinar a Declaração dos Direitos Humanos, visto que havia um receio de perder colônias e áreas de influência. Sendo assim, a Declaração de 1948 só foi assinada porque deixava claro que a Organização das Nações Unidas (ONU), ali criada, não influenciaria nos assuntos internos de cada país. Ao longo do tempo, as Organizações Não-Governamentais foram mais importantes para a manutenção dos direitos humanos ao redor do mundo do que a própria ONU.
A discussão acerca dos direitos humanos feita por Hunt termina por ressaltar o quão paradoxal é esse tópico, além da dificuldade de conter “atos bárbaros” até os dias atuais. Hunt (2009, p. 214) fala de “gêmeos malignos” trazidos pela noção de direitos universais: “A reivindicação de direitos universais iguais e naturais estimulava o crescimento de novas e às vezes até fanáticas ideologias da diferença”. Há uma cascata contínua de direitos repleta de paradoxos como o direito da mãe ao aborto ou o direito do feto ao nascimento.
Para Hunt, a noção de “direitos do homem”, bem como a própria Revolução Francesa, abriu espaço para essa discussão, conflito e mudanças. A promessa de direitos pode ser negada, suprimida ou simplesmente não cumprida, entretanto jamais morre.
Anny Barcelos Mazioli – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo; bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. E-mail: [email protected].
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. Tradução de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 288p. Resenha de: MAZIOLI, Anny Barcelos. Um panorama da história dos direitos humanos: uma construção necessária. Revista Ágora. Vitória, n.25, p.142-145, 2017. Acessar publicação original [IF].
Debates, polêmicas e conflitos: relações entre estabelecidos e ‘outsiders’ no ocidente tardo antigo e medieval / Ágora / 2017
O dossiê temático desta edição, intitulado “Debates, polêmicas e conflitos: relações entre estabelecidos e outsiders no Ocidente tardo antigo e medieval”, teve como proposta, e objetivo principal, reunir trabalhos que discutam a História do Ocidente tardo antigo e medieval, incluindo estudos sobre o pensamento. Foram aceitos trabalhos sobre todos os tipos de debates, polêmicas e tensões entre poderes em conflito, maioria e minorias, Igreja e dissidentes, que enfoquem os temas tratados.
O primeiro artigo é de autoria de Álvaro Alfredo Bragança Júnior e versa sobre um gênero literário, a Narrenliteratur (literatura dos insensatos), cujo principal objetivo era advertir o homem de então dos perigos de uma nova instância reguladora do orbe, não sendo a Igreja. Sebastian Brant com seu Das Narrenschiff (A nau dos insensatos) critica os desvios de então, personificando os agentes sociais como insensatos, que se deixam levar por novos modelos de comportamento. O espaço é o Sacro Império e o o recorte temporal é o século XV.
O segundo artigo é de autoria de Ana Paula Tavares Magalhães (USP), que também coordena este dossiê e trata do franciscanismo, um tema que tem reaparecido e gerado interesse na academia e na sociedade. Como ela explica, trata-se de uma “[…] controvérsia fundamental no interior da Ordem Franciscana ao longo do século XIII e parte do século XIV que opôs duas formas de interpretação da regra: ao passo que os “Conventuais” eram defensores de uma observância ampla, os “Espirituais” preconizavam a observância estrita, conforme o que imaginavam ser o projeto original de Francisco”.
O terceiro artigo nos vem do Paraná e também trata do franciscanismo. É de autoria de Angelita Marques Visalli e seu tema enfoca um dos espirituais franciscanos, nos apresentando uma abordagem sobre o personagem Jacopone de Todi (1236- 1306) a partir das relações de poder tanto institucionais (relação com o papado) como pessoais. Alocado na Itália medieval, no século XIII e início do XIV e no auge do conflito entre conventuais e espirituais. Faz, portanto um conjunto, com o artigo anterior, pois elabora um estudo de caso meticuloso, com análises de textos em italiano medieval e reflexões inéditas sobre este personagem.
O quarto texto é de um colega que colabora como nosso grupo de pesquisa há mais de uma década, sendo especialista em Inquisição e autor de alguns livros. Trata-se de Geraldo Magela Pieroni (UTP/PR) em conjunto com Alexandre Martins, doutorando em Filosofia (PUC/PR). O artigo denominado “Heréticas à margem: os estabelecidos inquisidores e as bruxas outsiders” faz um interessante contraponto entre a teoria de Elias e Scotson e as inter relações entre inquisidores e as mulheres acusadas de bruxaria. Como nos dizem os autores: “Muitas mulheres foram acusadas de práticas desviantes que maculavam a ortodoxia religiosa. Quem determinava estas condutas consideradas fora da lei? O que legitima a criminalização de um grupo acusado de heterodoxo? As leis são filhas do tempo no qual foram produzidas e, portanto, é inequívoco o embate entre duas visões de mundo, de um lado, a concepção erudita dos juristas e teólogos os quais definem situações e comportamentos como “certos” ou “errados”; e do outro, a da cultura popular do povo supersticioso”.
O quinto artigo nos vem de um dos discípulos do homenageado neste dossiê, que atingindo a titulação de doutor, pode homenagear seu mestre e amigo com esta publicação. Trata-se de Germano Miguel Favaro Esteves (UNESP/Assis) com seu artigo: “Entre a fé e o pecado: o olhar feminino na Incipit Obitvs cvivsdam Abbatis Nancti” que através da análise de um clássico da hagiografia do período visigótico, a obra “Vida dos Santos Padres de Mérida” faz uma análise da aguda misoginia clerical do personagem Nanctus. O tema é muito contemporâneo, mesmo sendo da Antiguidade Tardia e espacialmente alocado no reino visigótico, pois mostra a visão eclesiástica da malignidade da mulher e dos riscos que elas apresentam a um homem santo.
O sexto artigo, alocado na História das Mulheres enfoca a contribuição de uma mulher à cultura medieval, mostrando a participação destas na sociedade. O artigo vem do nordeste e é de autoria de Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne (UFPB) e se denomina: “As memórias de Leonor López de Córdoba (1362/23-1430): inaugurando linhagens”. Nas palavras da autora trata-se de: “[…] obra escrita nos primeiros anos do século XV e considerada a primeira autobiografia em castelhano. Dada a importância desta obra, tanto do ponto de vista histórico, quanto literário, o estudo busca evidenciar a contribuição das mulheres nos estudos sobre gêneros autobiográficos […]”.
O sétimo artigo é de Mario Jorge Mota Bastos (UFF/Niterói/RJ) e se denomina: “Estabelecidos e outsiders na medievalística contemporânea”, nos traz reflexões sobre o tema no âmbito da historiografia. O autor visita a escrita da história recente, nos colocando a percepção dos europeus, em relação aos medievalistas de outros continentes e suas contribuições. Indaga e reflete sobre a visão de quem vive nos espaços outrora medievais, em relação a nós e outros como nós, e a nossa obra desenraizada, já que não tivemos medievo. Mário questiona, provocando a polêmica: “[…] Mas, será que de fato lhes pertence, de alguma forma superior ou específica, o “passado” em questão? Seremos, todos nós ‘outros’, outsiders ao promovermos a medievalística desde as “periferias” do mundo contemporâneo?”.
O oitavo artigo também vem da UFF (RJ) e é de autoria de Renata Vereza e se denomina: “Revendo a ideia de tolerância: os contornos da marginalização das comunidades mudéjares castelhanas no século XIII”. Um artigo que busca refletir sobre as relações dos castelhanos cristãos com os muçulmanos dos territórios ‘reconquistados’ pelos reis Fernando III e Afonso X, além de outros anteriores e posteriores. A autora revisita o conceito da ‘convivência’ tão caro aos historiadores no período da celebração dos 500 anos da reconquista/descoberta da América (1491/1992). Tenta demonstrar que já havia conflitos e tensões no século XIII e que se tornarão mais fortes no século XVI.
O nono artigo nos traz o segundo discípulo de nosso homenageado, que foi seu primeiro doutorando a defender na UNESP/Assis. Trata-se de Ronaldo Amaral (UFMS – Campo Grande) e que nos apresenta um artigo denominado: “Entre a longa-duração e a ruptura: a consciência mítica medieval apreendida pela dialética do eu e do outro no mesmo”. Traz no artigo uma ampla reflexão da compreensão de mundo no período tardo antigo ( e diria também medieval). Como nós, hoje, podemos entender o homem do passado? Seus códigos, sua concepção do mundo são vistos, por nós através das lentes do presente. O autor sugere: “Contudo, não havendo a possibilidade de encontrar o pensamento e o modus desse pensar do homem do pretérito por ele e nele mesmo, só poderemos apreendê-lo a partir de nós, no interior de nosso próprio espírito, e por meio de uma dialética entre a alteridade e a identidade, quando, sobretudo esta última poderá sobreviver ainda que obnubilada e ressignificada pela primeira”.
O décimo e último artigo é de minha autoria, como coordenador deste dossiê, não poderia deixar de homenagear Ruy de Oliveira Andrade Filho com um texto, mesmo se humilde demais, para tal missão. Como nos conhecemos estudando Isidoro de Sevilha e o reino visigótico de Toledo, não poderia ser outro o texto que agregaria a esta coletânea de autores para homenagear Ruy. Meu texto se denomina: “A ética e a concepção religiosa de Isidoro de Sevilha: o livro das Sentenças”. O artigo analisa a concepção de mundo isidoriana, na qual o mundo é um palco do confronto entre o bem e o mal, Deus e o diabo, chegando a se aproximar de um dualismo inaceitável para a Igreja. Nas palavras do autor, o artigo: “[…] pretende descrever e analisar a visão de mundo isidoriana, vista através do prisma da luta do Bem e do Mal, do confronto entre as boas ações e os pecados, que emana desta obra. A vida humana é o palco da luta das virtudes contra os vícios/pecados (De pugna virtutum adversus vitia). Tudo o que for prazer carnal, é definido como uma armadilha, uma tentação que leva o homem a cair nos braços do Diabo. Para vencer as tentações do Diabo e da carnalidade deve se elevar aos céus, a Deus”.
Ana Paula Tavares Magalhães
Sergio Alberto Feldman
Organizadores.
[DR]Der rückstoss der methode: Kierkegaard und die indirekte mitteilung SCHWAB (ARF)
SCHWAB, Phillip. Der rückstoss der methode: Kierkegaard und die indirekte mitteilung. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2012. Resenha de: BARROS, Wagner. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n. 17, jan./jun. 2017.
O livro de Phillip Schwab, intitulado Der Rückstoss der Methode, se apresenta como uma importante contribuição e indispensável para as pesquisas que versam sobre a comunicação indireta no pensamento de Kierkegaard. Ainda que inúmeros trabalhos tenham desenvolvido reflexões sobre o assunto, frequentemente o problema da comunicação é tratado de forma tangencial ou coadjuvante, dificilmente desempenhando um papel central. É neste contexto que a interpretação de Schwab se torna particular, pois o autor não concebe o discurso indireto como estilo literário ou um recurso utilizado por Kierkegaard para trazer a discussão sobre a existência, mas como elemento constitutivo do próprio processo de análise filosófica. Para Schwab, a comunicação indireta não é só principio estrutural, mas também o modo de realização essencial e a forma necessária do pensamento kierkegaardiano: A comunicação indireta não é uma peculiaridade estilística da forma, também não é uma roupagem literária do pensamento filosófico. A comunicação indireta não é […] uma tática maiêutico-pedagógica que serve ao objetivo de alcançar um resultado para o receptor da comunicação. A comunicação indireta é o método de Kierkegaard […] (p.12 – nossa tradução) Percebe-se, portanto, que a interpretação proposta não visa reduzir a comunicação indireta ao uso de pseudônimos, como sugere a explicação de Ponto de vista1. A leitura se afasta também da tese segundo a qual a comunicação indireta ou o discurso religioso adquirem sua significatividade mediante o reconhecimento da práxis religiosa, como apresenta Schönbaumsfeld2. Schwab entende o discurso indireto como um elemento central da filosofia de Kierkegaard que está articulado com todo o seu pensamento e se faz presente mesmo em obras que não exploram o tema de forma explícita, principalmente porque a comunicação indireta apontaria para um método que se auto revoga diante da tentativa de analisar a existência.
O objetivo da primeira seção do livro é realizar uma leitura “sistemática”, ou seja, explorar a estrutura da comunicação indireta e compreendê-la enquanto método. Embora não se encontre uma análise textual, o autor elabora um esquema conceitual que permite compreender a função do indireto. Assim, é destacado que a comunicação indireta representaria um contra-movimento [Rückstoss] do método, um movimento contrário a qualquer tentativa de definição. O contra-movimento do método descreveria o movimento fundamental de um método que trabalha contra si mesmo: é a tensão do pensamento. Este contra-movimento seria a primeira característica da comunicação indireta, uma vez que a busca de sua definição resulta em fracasso, ou melhor, é o próprio fracasso da representação que a comunicação indireta porta em si. Este fracasso da abordagem direta indicaria a inconclusividade [Unabschlossenheit] ou um contra-projeto que se opõe a qualquer pensamento sistemático.
Ainda na primeira parte do trabalho, o autor faz uma distinção entre o conceito [Begriff] e a realização [Durchführung] da comunicação indireta. No primeiro caso, trata-se das reflexões explícitas de Kierkegaard sobre a comunicação, enquanto o segundo diz respeito à comunicação indireta executada, ou seja, quando Kierkegaard a emprega. Por exemplo, Pós Escrito (1846) seria um texto que não só teoriza, mas também executa o método indireto.
É preciso ressaltar que, assim como o termo contra-movimento do método, a diferenciação entre realização e conceito não se encontra nos textos de Kierkegaard. A elaboração destes conceitos extrapola a análise textual e assinala o trabalho interpretativo de Schwab. Estes “conceitos” assumem a função de expor o discurso indireto enquanto método no interior das próprias obras de Kierkegaard. Desta forma, o livro de Schwab revela a unidade entre a leitura estrutural, histórica e exegética das obras, e a elaboração conceitual do próprio intérprete.
A segunda parte do livro se dedica a uma análise do discurso indireto em diversos períodos do pensamento kierkegaardiano e tem como objeto o conceito de comunicação. Schwab parte de Pós Escrito, onde o contra-movimento do método é descoberto na impossibilidade de uma representação da existência, sobretudo devido à incomensurabilidade entre interior e exterior. Para o autor, nesta obra a comunicação indireta não estaria restrita ao domínio religioso, mas abrangeria toda esfera existencial, uma vez que o existir não se deixaria representar pela linguagem. Segundo Schwab, Pós Escrito coloca a impossibilidade de uma comunicação objetiva sobre a existência devido à própria incapacidade de acesso direto à efetividade existencial. Assim, qualquer comunicação existencial direta é negada, visto que o existir não se deixa representar.
O próximo objeto de análise é a comunicação em Ponto de Vista explicativo da minha obra como escritor (1848). Neste texto, haveria um conceito maiêutico- -teológico da comunicação indireta, uma vez que comunicar indiretamente seria descrito por Kierkegaard como “enganar para a verdade”, retirar o indivíduo de uma falsa concepção de religiosidade para colocá-lo diante do verdadeiro cristianismo.
Schwab conclui então que o discurso indireto é considerado por Kierkegaard como algo transitório, pois o que é dito indiretamente poderia ser comunicado de forma direta. Assim, observa-se que Pós Escrito e Ponto de vista assumiriam concepções de comunicação divergentes, dado que, na primeira obra, o indireto diz respeito à impossibilidade da representação da existência, enquanto no segundo texto, o indireto é transição para o direto ou um simples recurso.
Enquanto a comunicação indireta, em Pós Escrito, tem como referência a existência que não pode ser pensada, em Ponto de vista Kierkegaard estaria preocupado com a explicação da totalidade de sua obra, ou seja, expor qual foi seu objetivo desde as primeiras publicações. Deste modo, Schwab considera um erro comparar ou estabelecer uma unidade entre as definições de discurso indireto, pois as estruturas e contextos de ambas as obras são totalmente diferentes. Em Pós Escrito, por exemplo, o uso do pseudônimo criaria um distanciamento e impediria qualquer relação direta com o escritor. Neste livro, não seria possível concordar ou discordar do autor porque não há a expressão da opinião daquele que redige o texto. Já em Ponto de vista, Kierkegaard se apresentaria como autoridade e explicaria como ele deve ser lido. Consequentemente, o espaço da apropriação do leitor é reduzido. Destarte, Schwab não tem a intenção de apresentar um conceito definido e determinado sobre a comunicação diante da totalidade das obras de Kierkegaad. Seu trabalho visa antes apresentar o contexto em que cada concepção é elaborada, trazendo assim os elementos que ocupam as reflexões de Kierkegaard. Para o autor, as obras são como constelações, autônomas entre si e possuem uma pergunta determinada que deve ser considerada quando se pretende interpretar as obras. Por estas razões, não seria possível estabelecer uma definição geral, uma vez que isso já implicaria em retirar o conceito de um texto e generalizar, esquecendo que cada livro se volta para um problema determinado: “ele [o indireto] se manifesta nos contextos respectivos de sua forma concreta e não se deixa determinar abstratamente e esquematicamente com antecedência.” (p. 301 – nossa tradução).
Entre os trabalhos que exploram o tema da comunicação indireta, é comum constatar a tentativa de defender uma concepção geral. Nos trabalhos de Clair (1997), Fahrenbach (1997) e Diep (2003), por exemplo, a comunicação indireta é apresentada como uma comunicação voltada para a existência e interioridade.
Trata-se de uma comunicação que não se pauta na objetividade, porém de uma comunicação aberta capaz de expressar o movimento do devir que caracteriza a efetividade existencial. É possível assumir ainda que comunicação indireta se caracteriza principalmente pelo uso dos pseudônimos, um recurso estilístico que está a serviço de um objetivo mais amplo, como o aprofundamento existencial ou retirar o leitor de um falso cristianismo3. Seguindo o quadro exposto por Schwab, observa-se que, caso a comunicação indireta seja compreendida como uma comunicação existencial que tem o sentido da existência como problema, então toma- -se Pós Escrito como ponto de partida. Por outro lado, Ponto de vista ofereceria a base para se interpretar a comunicação indireta como emprego de pseudônimos ou instrumento maiêutico-teológico. Neste contexto, o discurso indireto não estaria relacionado com a inexpressividade do existir, mas a um artifício que auxilia o leitor a sair de um erro.
Quando Schwab enfatiza a importância da avaliação das estruturas interna das obras e a necessidade em considerar sua autonomia, portanto não confundir o conceito comunicação proposto por Pós Escrito com aquele de Ponto de vista, o autor visa desfazer o embate entre as tentativas conflitante que procuram estabelecer um conceito universal do indireto. De acordo sua leitura, as diferentes abordagens de Kierkegaard sobre o tema da comunicação revelariam uma reflexão em movimento, uma reflexão e que é retomada em diversas fases. Cada texto do filósofo dinamarquês apresentaria elementos distintos no que diz respeito à comunicação. Por estes motivos, as reflexões de Kierkegaard não possuiriam uma unidade conceitual fixa.
Após expor e discutir as concepções divergentes de Pós Escrito e Ponto de vista, a próxima tarefa é elucidar como esta transformação ocorreu. O trabalho se concentra nos textos escritos por Kierkegaard durante os anos de 1846 até 1848.
Neste momento, o livro apresenta uma rica análise histórico-interpretativa sem perder do horizonte a tese defendida. Manuscritos e esboços de Kierkegaard pertencente a esta época, como os NB3, NB 4, NB 5, NB 6, NB 7, além de obras publicadas, como Obras do amor, a terceira versão de Livro sobre Adler e a segunda parte de Exercício no cristianismo, que foi concebida em 1848, são comentados e explorados detalhadamente. Estes textos apresentariam diferentes abordagens sobre a comunicação indireta, indispensáveis para a formulação final de Ponto de vista. Schwab evidencia que, se em Pós Escrito o tema da impossibilidade da representação da existência perpassa a comunicação, nos anos posteriores o filósofo dinamarquês começa a questionar o seu lugar pessoal em relação à totalidade das obras, sobre a produção pseudonímica e se ele próprio, enquanto pessoa, poderia ou deveria comunicar diretamente.
As explicações de Ponto de vista se tornam questionáveis principalmente devido à publicação, anos mais tarde, de Doença para morte e Exercício do cristianismo, cujo autor é o pseudônimo Anti-Climacus. Ora, Ponto de vista defende que toda comunicação indireta pode ser transformada em comunicação direta. Quais foram os motivos que levaram Kierkegaard a retornar os pseudônimos ou o indireto? Por que o filósofo, após explicar como deveria ser lido, volta a se expressar indiretamente? Esta dificuldade é explorada no final da segunda seção do texto de Schwab, que tem o objetivo de se aprofundar no conceito de comunicação após os anos de 1848. Para realizar esta tarefa, o autor se concentra nos escritos dos anos de1848-9, incluindo as anotações não publicadas. Estes textos enfatizariam a dúvida de Kierkegaard no que diz respeito à publicação de Ponto de vista e se tanto Doença para morte quanto Exercício do cristianismo deveriam ser assinados por algum pseudônimo. Schwab defende que, durante este período, a comunicação indireta não pode ser desvinculada do auto-questionamento de Kierkegaard. O conceito de comunicação estaria atrelado à decisão de como e se realmente as obras deveriam ser publicadas.
A segunda seção da obra de Schwab termina analisando as observações finais de Kierkegaard sobre comunicação. O autor ressalta que, nos últimos anos, o discurso indireto é submetido a diversas reformulações e reinterpretações.
Schwab conclui assim que, diante da ausência de uma definição fixa, a indeterminação seria um dos traços essenciais da comunicação indireta, pois significa que não é possível pensá-la in abstracto, mas apenas em situações específicas e contextualizadas, reforçando a independência dos textos e a necessidade de situar cada definição.
Esta pesquisa “histórica” de Schwab, que recorre principlamente aos NB e busca apontar os problemas singulares que cada obra enfrenta, merece destaque.
Algumas passagens apresentada pelo autor são traduções inéditas e revelam elementos fundamentais para um entendimento do tema da comunicação em Kierkegaard. Sem dúvida, havia a necessidade de um estudo que percorresse os desdobramentos da comunicação indireta no corpus kierkegaardiano e o trabalho de Schwab assume não só esta responsabilidade, mas realiza a tarefa de forma bem sucedida. Além disso, seu livro é um dos poucos estudos que procuram adentrar nas estruturas internas dos textos e realizar uma comparação sistemática durante os diversos períodos da produção de Kierkegaard, verificando em que medida há ou não modificações conceituais e como estas são concretizadas.
Após explorar os diferentes escritos kierkegaardianos que problematizam diretamente a comunicação indireta, a quarta parte do livro se volta para a relação entre ironia e comunicação. O foco passa a ser O conceito de ironia constantemente referido a Sócrates. Apesar de Kierkegaard não mencionar o termo comunicação indireta no estudo dedicado a Sócrates, Schwab defende que a forma indireta realizada já se encontra presente naquele texto. Os traços do indireto poderiam ser localizados na figura de Sócrates, que expressaria a incomensurabilidade entre o interior e o exterior. Esta incomensurabilidade é o que aproximaria a ironia com o discurso indireto, pois o aspecto da representação do método indireto apontaria para a ambivalência de uma forma de representação que se volta contra si e é inconclusa, indicando a representação essencial do irrepresentável.
Um detalhe interessante é que, para Schwab, este elemento seria constatável também na ironia romântica. A comunicação indireta se negaria a um acesso direto, sistemático, tal como a ironia romântica escaparia de toda tentativa de uma determinação abrangente, direta, não irônica. Mas se é possível afirmar que o contra-movimento do método já se encontra pré-figurado nos românticos, a diferença fundamental consistiria em que, enquanto a ironia romântica a representação do absoluto é impossível, a comunicação indireta kierkegaardiana traz o particular como o irrepresentável.
O último tópico do livro traz a realização da comunicação indireta para o debate. Este capítulo se delimita a análise de três textos de Kierkegaard: A repetição, O conceito de Angústia e Doença para morte. Em A repetição, Schwab diagnostica processo indireto a partir do momento em que a própria obra não busca o conceito, mas como e se a repetição é atingida ou pode ser executada. Esta efetivação, porém, não se deixaria representar ou descrever, mas assumida. Neste aspecto, o autor entende que A repetição coloca o problema do querer dirigir-se a algo (repetição) que não pode ser representado diretamente, pois a repetição consiste exatamente na execução. A obra de Kierkegaard apresentaria um duplo movimento, o querer-dizer e não-poder-dizer, o falar e a frustração constante da fala que deve garantir paradoxalmente a efetividade da realização existencial que emerge no espelho da possibilidade.
Já no caso de O Conceito de Angústia, Schwab descobre o contra-movimento do método ou a realização da comunicação indireta quando Virgilius estabelece um limite para a ciência. Este limite seria o particular que permanece inacessível para método abstrato cientifico. O que poderia ser constatado, nas explanações de Virgilius, é o processo cientifico apontando sempre para algo que reside fora da especulação, como o “não lugar do pecado” ou a incomensurabilidade entre a esfera das ciências e a efetividade [Wirklichkeit]. Apesar de o texto ter a aparência de uma comunicação de saber ou teórico, Schwab defende que o indireto está presente na forma do tratamento conceitual do problema da angústia, posto que Virgilius levaria o leitor para a fronteira da abordagem científica.
Por fim, Doença para a morte apresentaria o indireto a partir do momento em que desespero não é descrito por Anti-Climacus como transição, mas diferentes formas auto-realização que é estática e contínua. A análise do desespero é horizontal e isto revelaria o processo indireto, dado que as múltiplas formas de desespero se revela incomensurável com a oposição conceitual abstrata.
No que diz respeito à estrutura do livro de Schwab, percebe-se a ausência de uma conclusão ou considerações finais. Porém, é necessário ressaltar que o texto não analisa as singularidades para chegar a uma tese geral conclusiva, mas apresenta o movimento inverso, ou seja, parte primeiro de uma concepção sistemática e, em seguida, expõe como o contra-movimento do método se realiza em cada obra. O leitor perceberá também a falta de uma discussão sobre os Discursos edificantes. O autor não investiga em que medida o indireto poderia estar (ou não) presente nestas obras e muito menos adentra na polemica travada por Pattinson (2002, p.12-34). segundo a qual os discursos edificantes também podem ser concebidos enquanto indireto, contrariando assim as afirmações de Ponto de vista. Todavia, apesar do silêncio, Schwab pode indicar caminhos para solucionar esta questão quando enfatiza a necessidade de se considerar o contexto específico de cada obra e evitar generalizações. Enfim, se o livro não encerra as controvérsias sobre o tema da comunicação indireta ou um conceito definitivo, a análise sistemática e histórica realizada por Schwab deve servir de modelo para os próximos estudos.
Referências
CLAIR, A. Kierkegaard, existence et éthique. Paris: PUF, 1997.
CONANT, J. Kierkegaard’s Postscript and Wittgenstein’s Tractatus: Teaching how to pass from disguised to patent nonsense. Wittgenstein Studies, 1997, v. 2, 1997. Disponível em: http://sammelpunkt.philo.at:8080/520/ Acesso em: 12 abr. 2016.
DIEP, P. Ética y sinsentido. Kierkegaard y Wittgenstein. Topicos, 2003, n. 24, p. 9 – 29.
SCHÖNBAUMSFELD, G. A Confusion of the Spheres: Kierkegaard and Wittgenstein on Philosophy and Religion. Nova York: Oxford Press, 2007.
FARENBACH, H. Grenzen der Sprache und indirekte Mitteilung: Wittgenstein und Kierkegaard über den philosophischen Umgang mit existentiellen Argumentos, ano 9, n. 17 – Fortaleza, jan./jun. 2017 165 Der rückstoss der methode: Kierkegaard und die indirekte mitteilung – Wagner Barros (ethischen und religiösen) Fragen. Wittgenstein Studies, v. 2, 1997. Disponível em: http://sammelpunkt.philo.at:8080/520/ Acesso em: 12 abr. 2016.
PATTISON, G. Kierkegaard’s Upbuilding Discurses: Philosophy, Theologie and Literature. Londres/Nova Iorque: Routledge, 2002.
HONG, H. V., & HONG, E. H. (1998). Historical introduction. In: KIERKEGAARD; S. The point of view. Nova Jersey: Princenton University Press, p. 9-27.
Notas
1 Maiores detalhes, C.f. HONG, H. V., & HONG, E. H. (1998)
2 Maiores detalhes, C.f. SCHÖNBAUMSFELD (2007).
3 Algo semelhante pode ser encontrado na leitura de Conant. O autor compreende a comunicação indireta enquanto tática que visa atingir determinado fim, embora critique a possibilidade do indireto apresentar algum tipo de verdade “inefável”. C.f. Conant, J. (1997). Kierkegaard’s Postscript and Wittgenstein’s Tractatus: Teaching how to pass from disguised to patent nonsense. Wittgenstein Studies, v. 2, 1997. Recuperado de: http://sammelpunkt.philo.at:8080/520/ Acesso em: 12 abril 2016.
Wagner Barros – Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Algumas reflexões Wittgensteintianas a partir do “Heidegger Urgente: introdução a um novo pensar”
GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. Algumas reflexões Wittgensteintianas a partir do “Heidegger Urgente: introdução a um novo pensar”. Editora Três Estrelas, 2013. Resenha de: SILVA, Marcos. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.16, jul./dez. 2016.
O livro do Prof. Giacoia representa uma competente introdução à filosofia de Heidegger com a elucidação de conceitos-chave de sua filosofia como Dasein, Auseinadersetzung, Zuhandensein, Vorhandensein, Weltlichkeit, Erschlossenheit, Mitsei, dentre outros. A obra também explora, como se deveria esperar, as fases do pensamento Heiddegeriano, nomeadamente o assim chamado primeiro Heidegger e o Heidegger depois de sua Kehre.
Há também uma boa introdução a sua trajetória biográfica, inserindo momentos- chave em seu contexto filosófico e apontando a influência de outros autores centrais (como, Dilthey e Husserl) no desenvolvimento de alguns conceitos.
As confrontações com Nietzsche são particularmente pertinentes no horizonte da urgência de um novo pensar, ao se trabalhar conceitos com a vontade de poder, perspectivismo, eterno retorno e a associação da técnica com o niilismo.
A parte que se pretende original do livro me parece ser o confronto com temas contemporâneos, sobretudo com o desenvolvimento tecnológico enredado em “uma escalada compulsiva, em uma espiral infinita” (p. 10). Estas características de nossos dias atuais motiva grandemente, por um lado, um “delírio contemporâneo de onipotência (essencialmente moderno)” (p. 11) e, por outro lado, parece justificar a introdução de uma nova forma de pensar (p. 44 e p. 10 e 13).
Como ser filósofo e não refletir o seu tempo? Neste sentido, filosofia é sempre contemporânea de si mesma e dos problemas de sua época. Devemos, como bons contemporâneos de nós mesmos, pensar, auscultar nossa época, uma vez que não há fora de nossa contemporaneidade. Neste sentido, o livro do prof. Giacoia cumpre o papel de estimular discussões fascinantes e urgentes.
Não há nada de particularmente novo na seção “como ler Heidegger”. Se trata basicamente de instruções genéricas, que a meu ver, poderiam ser aplicadas também na leitura de outros grandes filósofos originais, a saber, método, zelo, paciência e empenho.
Em sua conclusão, o prof. Giacoia, em busca de um pensamento por vir, se remete mais uma vez ao porquê é urgente pensar com e a partir de Heidegger.
No que se segue, gostaria de apresentar algumas reflexões sobre normatividade que poderiam motivar um diálogo também urgente entre Heidegger e Wittgenstein em nossa contemporaneidade. Em relação a Wittgenstein e Heidegger pouco se escreve e pouco se pensa. Isto deveria ser revertido, inclusive no Brasil, com a promoção de um diálogo mais rico entre estes dois autores e entre a divisão entre Continentais e Analíticos. A aproximação de Davidson dos hermeneutas, de Sellars a Kant, de Brandom a Hegel, mostra que o diálogo pode ser muito seminal.
Um ponto de comunidade filosoficamente relevante nas obras de Heidegger e Wittgenstein é o movimento de apontar erros da tradição. Algo que era auto- -evidente em determinadas escolas é abalado por suas críticas. Heidegger e Wittgenstein não estão só desenvolvendo novas críticas; eles estão solapando pressupostos de escolas que fundam nossa maneira de pensar e agir. Neste horizonte, a discussão de um fetichismo de nossa época em relação ao sucesso de ciências naturais motiva a crítica a teses positivistas de que a filosofia deveria ser uma ciência ou alguma atividade teórica contígua ao fazer científico. Giacoia trata desta questão, embora restrita a Heidegger, apontando o seu quietismo teórico e a postura de silêncio existencial como características centrais da resposta ao sentido da filosofia e à inserção do homem no mundo (p. 19, 68). Giacoia também associa de maneira muito forte, porque aparentemente exclusivista, a filosofia oriental com Heidegger (p.45). Ora, tanto o quietismo quanto a referência a escolas do oriente são pontos que marcam o pensamento de Wittgenstein também.
Wittgenstein, em seus debates com alguns membros do Círculo de Viena, no começo da década de 30, trouxe textos de poetas místicos indianos para a discussão para rejeitar alguns mau-entendimentos de sua obra de juventude.
Alguns membros do círculo de Viena a associam com um forte positivismo motivado pelo espírito cientificista. Com efeito, no Tractatus, o que não pode ser dito não é absurdo e descartado. É, pois, justamente o que tem mais valor e está para fora da linguagem e de um mundo radicalmente contingente, sem sentido e sem finalidade. Por outro lado, o ataque que Carnap faz a Heidegger me parece injusto e irresponsável, porque educou gerações de filósofos preocupados neste tipo de contenda ideológica entre analíticos e continentais e na mútua desqualificação de escolas aparentemente rivais. Heidegger e Wittgenstein, eles mesmos, parecem nunca ter demandado muito esforço para se inserirem neste tipo de discussão de bastidores da filosofia. Acredito que os dois são filósofos que se inserem na tradição da morte de Deus, anunciada por Nietsche: defendendo a recusa de qualquer elemento transcendente ou metafísico na base do mundo e de nossas atividades.
Interessantemente os dois filósofos nasceram na mesma época, tiveram grandes orientadores (Husserl e Russell), e devotaram suas primeiras obras na década de 20 a desenvolver alguns problemas a partir da metodologia de seus Doktorvaeter (consolidando a escola da fenomenologia, de um lado, e a da análise lógica, de outro lado). Além disso, ambos passam por uma Kehre no final da mesma década. Ambos desafiam a tradição metafísica explicitando o que nós já sabemos e sempre soubemos no uso de nossa linguagem ordinária e no tipo de acesso não problemático e corriqueiro que temos aos objetos que nos circundam. O mote filosófico do programa fenomenológico husserliano auf die Sachen selbst zuruckzuA gehen (p. 35) pode claramente ser visto no desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein também. A centralidade da linguagem e seus limites e a similitude entre os conceitos entre Lebenswelt e Lebensform também podem ser explorados.
Há uma característica filosoficamente relevante que perpassa boa parte da obra destes dois filósofos radicais, ao recusarmos maiores detalhamentos de estilo e método que fariam a aproximação impossível. Ambos os filósofos parecem defender, de maneiras diferentes, que o fundamento das coisas não tem fundamento.
Todo fundamento é situado, contextual e radicalmente humano. A partir da compreensão profunda de nossa finitude, tudo em nossa volta, nossas práticas, nosso conhecimento, nosso mundo, deveria refletir isto.
Aqui poderíamos defender que há um ataque direto ao fundamentalismo filosófico que marca tantas escolas filosóficas ao longo da história e da nossa cultura.
Nós não podemos argumentar do que é e do como pensar, em suas essências últimas e racionais, porque o raciocínio já pressupõe certas respostas a estas perguntas e conceitos que organizam nosso discurso e experiência. De toda forma, acredito que ambos os filósofos não acreditam que esta falta de razão última ou justificação definitiva para a linguagem e o mundo não tira do pensar a sua validade ou legitimidade, mas ao contrário: a falta de fundamento último mostra como alguns fatores centrais em nossas atividades devem ser tomados como fundamentos sem fundamentos.
A discussão sobre a possibilidade do não ser, a temporalidade, a facticidade, a contingência, a finitude, e a falta de fundamento podem ser aproximadas entre os dois autores. Além disso, até mesmo a idéia de abertura e o ser como abertura e vazio poderia ser seminalmente usada em pesquisas filosóficas acerca da obra de Wittgenstein, porque linguagem para ele parece necessariamente residir sobre não-racionalidade e, no limite, em fatores que são injustificados e injustificáveis como a nossa socialização e nossa particular suscetibilidade a socialização. Nos lembremos que as Investigações Filosóficas, por exemplo, são abertas por uma crítica contundente de Wittgenstein a imagem de aprendizado de nomes como descrita por Agostinho que aponta acordos tácitos complicados na base de nossas referências triviais a coisas no mundo. Além disso, tomemos a importância do contexto pedagógico no Sobre a certeza (SC) que apresenta a assim chamada epistemologia de Wittgenstein. Com frequência, a discussão se remete à pergunta de como uma criança aprende coisas que permanecem (e devem permanecer) intocáveis ou indubitáveis. (SC §144, 233, 374) Wittgenstein sugere que uma criança deve primeiro poder confiar, antes de duvidar (SC §160, 480). Aprende-se com a linguagem o que permanece imune à investigação e ao que pode ser investigado (SC §472). Se crianças em seu processo de inserção em práticas duvidarem imediatamente do que está sendo ensinado, elas não serão capazes de aprender alguns jogos de linguagem (SC §283).
Talvez pudéssemos usar jargão Heideggeriano aqui. A criança deve estar aberta para ser inserida ou introduzida em uma prática. Depois da inserção, a relação entre uma imagem de mundo e aprendizado infantil parece ficar evidente (SC §167). Neste sentido, tentar fundar a certeza do conhecimento, como faz Moore em alguns de seus trabalhos (1974, 1974a), com o emprego do operador epistêmico “eu sei” prefixando várias proposições, segundo ele indubitáveis, seria ilegítimo. O contexto de educação parece ser paradigmático e decisivo para Wittgenstein, funcionando até mesmo como metodologia filosófica ao sugerir para nos perguntarmos em casos de certeza indubitável como uma criança as aprende. (SC §581). Curiosamente a ausência de dúvida em algum ponto é fundamental para o entendimento de nossa lógica e aritmética. Nestas práticas não precisamos de acordo com o mundo, mas com outros indivíduos de nossa comunidade, ou com a humanidade (SC §156, 281).
Analogamente, Heidegger acusa a metafísica tradicional de focar exclusivamente nos objetos a mão, ou seja, em algumas entidades que não se mudam e não são afetadas em seus contornos. Fundar características invariantes em nossas praticas e acordos e não em elementos transcendentes, é dar um fundo objetivo e estável, mas sem fundamento definitivo, a práticas cognitivas do homem, como ciências, lógica e matemática.
É claro que a crise dos fundamentos das ciências, incluindo fundamentos da matemática e da lógica que motivam a emergência de lógicas não-clássicas e abordagens variadas de anti-realismo no século XX, representa uma crise da racionalidade.
Isto motiva grandemente a defesa de uma nova noção de razão mais apropriada para nossa finitude. Para tanto, deveríamos enfatizar o fator humano, social e histórico no próprio desenvolvimentos de nossas atividades científicas.
A partir daqui eu gostaria de me concentrar no papel que a noção de Maßstab, em especial, poderia desempenhar na aproximação da filosofia dos dois filósofos em um novo pensar urgente.
Vale destacar que a polissemia da palavra em alemão é grande. Ela é discutida em diferentes contextos e tem diferentes usos, tais quais, instrumento (régua), metragem, sistema de coordenadas, escalas, critério (“Hast du einen Maßstab dafür?”), um cânon, um paradigma, um padrão ou Vorbild (“Bach ist der Maßstab der Musik!”), objeto de comparação ou protótipo (“Wir setzen Maßstäbe!”), regras e normas (“Welche sind die Maßstäbe für die Behandlung von Tiere hier?”), dentre outras acepções.
Inspirado por reflexões de Heidegger e Wittgenstein, gostaria de destacar o papel humano e normativo de Maßstaebe em nossas práticas na fundação desta nova racionalidade da finitude. Elas são objetos pelos quais nós avaliamos a qualidade de alguns procedimentos e descrições. O objeto de comparação não pode, ele mesmo, ser verdadeiro ou falso, mas ele determina como avaliamos coisas como verdadeiras ou falsas. Desvios e/ou contraexemplos não são falsos, são confusos e/ou absurdos (Unsinn).
Algumas teses podem ser elencadas no desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein a partir de 1930 que se conformam grandemente à filosofia Heideggeriana. Acredito que originalmente Wittgenstein percebe que não existe uma Maßstab natural. Um sistema de coordenadas, uma escala, ou um sistema de medida não é algo psicológico e nem físico e tampouco fundado em um espaço lógico eterno compartilhado entre linguagem e mundo. A alternativa para este dilema é justamente a natureza social, impessoal e histórica da introdução destes sistemas para que possamos avaliar a qualidade das nossas descrições do mundo e de nossas atividades. Não há critério subjetivo, mas também não há critério absoluto.
Este elemento normativo, qual seja, da possibilidade de correção de práticas e atos a partir de Maßstaebe pode ser o fio condutor para se restaurar a correlação entre racionalidade, lógica e ética nesta racionalidade da finitude, uma vez que todas são fundamentalmente constituídas em relação com elementos deontológicos como obrigação, comprometimento e dever, ou seja, são compostas a partir do reconhecimento de normas. Normas e regras são objetivas e gerais, embora não absolutas ou universais. São estáveis, mas não definitivas. Escalas devem ser estipuladas, introduzidas, estabelecidas. Não há medidas no mundo independente de nossas práticas.
Uma forma radical de convencionalismo não é consequência desta abordagem: não se trata aqui que poderia haver quaisquer regras postuladas, porque regras devem apresentar um sucesso pragmático para uma determinada finalidade inserida em uma Lebensform. Elas não são convencionais, porque são frutos de uma assembléia, mas porque poderiam ser outras e dependem da estabilidade de certos acordos tácitos em nossas práticas. Não é que tudo valha, se tudo for humano demasiado humano. Devemos entender que a importância e liberdade do indivíduo decresce na medida em que aumenta o número de praticantes. A aceitabilidade de Maßstaebe pressupõe regularidades sociais em uma comunidade.
Isto claramente também está relacionada com a emergência de figuras de autoridade pública, política e de seus efeitos perlocutórios em uma comunidade, seja na figura de pais em núcleos familiares, do educador de jovens em ambientes pedagógicos, de um líder em práticas políticas mais sofisticadas ou de um cientista (ou mago) com grande prestígio em sua comunidade.
Em todos estes casos de aprendizado, introdução e aplicação de escalas é essencial destacarmos o papel normativo envolvido. A aplicação tem que poder ser controlada, regulada e corrigida. O problema aqui não é a possibilidade do falso como na tradição plantonista e realista, mas a possibilidade da correção. A possibilidade de eliminar erros é central. Deve haver, então, um deslocamento da linguagem pensada como composta de entidades objetivas que identificam condições de verdade para os atos e compreensões práticas da aplicação de regras constitutivas de significados linguísticos.
Em um sentido filosoficamente relevante, estas escalas que constituem nossos sistemas linguísticos, lógicos e matemáticos não descrevem nada, mas são usadas para avaliarmos nossas descrições, ou seja, elas não podem ser nem verdadeiras e nem falsas. Elas são o critério pelo qual nos avaliamos a verdade ou falsidade de determinadas descrições. Um critério é usado para avaliar uma descrição; mas ele mesmo não é uma descrição. Para avaliarmos este critério não podemos usá-lo, mas temos que evocar um outro critério. E para avaliar este outro critério, um outro e assim por diante. Nenhum deles precisa representar nada, nem uma gramática profunda e nem um domínio independente de entidades supranaturais.
Divergências radicais de nossos critérios e paradigmas de avaliação não são falsas; são incompreensíveis ou plenos erros. No limite, serão consideradas devaneios.
Podemos avançar mais um pouco nossas especulações normativas, com as seguintes questões: Se adotarmos, para fim de argumento, a teoria da verdade por correspondência, teremos uma descrição correspondente à realidade, se for ver dadeira. Contudo, como a descrição ou proposição corresponde à realidade? Como se testa uma descrição? Com quais critérios nós verificamos a verdade de um juízo ou este concordar com a realidade? O que vai ditar a prioridade de um critério em relação a outro? Em caso de conflito de evidência, como determinamos qual evidencia é mais relevante? O que vai determinar qual é o critério ou escala mais relevante? Adequação com os dados, a simplicidade, a consistência, o poder unificador da explicação, a recusa de elementos ad hoc, computabilidade, eficiência, efetividade, necessidade social de uma época? Aqui um aspecto existencial e pragmaticamente importante toma lugar, a saber, a decisão tomada por indivíduos engajados em determinadas práticas públicas.
É importante notar que em um ambiente de conflito temos que fornecer instruções para se testar nossas afirmações (SC § 641). Nestes casos, como em muitos ambientes teóricos, precisamos mais de acordo com outras pessoas, nossos Mitmenschen, que com fatos.
Nós não estabelecemos fatos, nós estabelecemos os critérios pelos quais descrições dos fatos são avaliadas. Nesta visão revisitada da racionalidade, marcada pela finitude e pela normatividade, nós somos ligados pelas nossas normas e pelos compromissos de nosso discurso e nossos atos. Nós somos racionalmente integrados pelos nossos compromissos disciplinados por normas e pelos atos pelos quais somos responsáveis. Aqui o papel que o uso, o costume e as instituições desempenham nesta concepção normativa da racionalidade é evidente.
Relevantemente, precisamos de um ambiente de instrução, de estar com o outro. Onde uns confiam em outros e onde haja autoridades reconhecidas. Em práticas sociais, um indivíduo tem que ser reconhecido pelos que ele reconhece.
Em outras palavras, deve haver um reconhecimento recíproco na base desta racionalidade normativa. Neste horizonte, é fascinante também nos perguntarmos como autoridades são constituídas? São autoridades porque elas sempre acertam? Ou porque elas definem o que é um acerto? Elas parecem ser tornar objetos de referência, porque influenciam as práticas onde critérios são estabelecidos. Elas são autoridades, porque instituem critérios novos ou instituem critérios novos porque são autoridades? Com esta curta resenha ao intrigante livro do Prof. Giacoia espero ter mostrado como se pode promover a aproximação entre Heidegger e Wittgenstein nesta rearticulação da razão pela finitude do ser humano, na precariedade de nossas práticas, fundando a objetividade nas normas publicas estáveis, mas não definitivas, de comunidades.
Pensar os dois filósofos, Heidegger e Wittgenstein, em conjunto e não isoladamente é urgente para a introdução de um novo pensar.
Referências
MOORE, G. E. Uma Defesa do Senso Comum. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Coleção os Pensadores).
______. Prova de um mundo Exterior. São Paulo: Abril Cultural, 1974a. (Coleção os Pensadores).
WITTGENSTEIN, Ludwig. TractatusLogico-philosophicus. Tagebücher 1914-16. Philosophische Untersuchungen.Werkausgabe Band 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
______. Some Remarks on Logical Form. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, v. 9, Knowledge, Experience and Realism, p. 162-171 Published by: Blackwell Publishing on behalf of The Aristotelian Society, 1929.
______. Philosophical Investigations. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1953.
______. On Certainty. Edição bilíngue. G. H. von Wright & G. E. Anscombe (Orgs.). Londres: Basil Blackwell, 1969.
______. Wittgenstein und der Wiener Kreis (1929-1932). Werkausgabe Band 3. Frankfurt amMain: Suhrkamp, 1984.
Marcos Silva – Pós-doutorando em Filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC)/CAPES-PNPD. E-mail: [email protected]
Palavras cruzadas – GRAMMONT (AF)
GRAMMONT, Guiomar. Palavras cruzadas. [Sn.]. Resenha de: JARDIM, Eduardo. Artefilosofia, Ouro Preto, n.20, 2016.
Palavras cruzadas, de Guiomar de Grammont, é um livro corajoso. Aborda o destino trágico dos guerrilheiros do Araguaia, que se tornaram perseguidos políticos no período da ditadura militar. Muitos foram mortos, outros continuam desaparecidos, como Leonardo, o personagem do romance. O tema já foi tratado anteriormente pelos historiadores, mas não da forma tão livre como faz Guiomar.
Essa liberdade certamente tem a ver com o fato de que a exploração do assunto se faz, no caso, por meio de uma obra literária. O livro escapa da visão simplificadora que opõe heróis e vilões e encara de frente a complexa e dolorosa trajetória do personagem do desaparecido. A narrativa de Sofia, irmã de Leonardo, é o fio condutor do romance. Ela quer a todo custo resgatar do esquecimento a história do irmão. São vários os sentidos da sua busca. Explicitamente trata-se de uma retomada da figura de Antígona, que enfrenta as leis da cidade para poder en terrar o corpo do irmão. Porém, de forma indireta, o romance toca em aspectos centrais do significado da narrativa literária, incluindo a tragédia grega. Dois deles são particularmente pertinentes: a dimensão catártica da literatura e, relacionado com ela, a possiblidade de a literatura promover a reconciliação com a realidade e, como decorrência, tornar possível um recomeço da vida.
Guiomar tem todo motivo para usar como epígrafe uma passagem da Antígona, de Sófocles, que se refere à decisão da heroína d e não deixar insepulto o cadáver do irmão, exposto aos ataques dos cães famintos e das aves carniceiras. O livro também traz à lembrança uma passagem de outra escritora, a dinamarquesa Isak Dinesen, lembrada por Hannah Arendt: “Todas as mágoas são suportáveis quando se pode contar uma história a seu respeito.” Como explicar este poder da narrativa de dar alento àquele que ouve ou lê a história de seus próprios sofrimentos, como aconteceu com Ulisses, na corte dos feácios? Há, primeiramente, o fato de que o contar a história estabelece uma distância do que efetivamente ocorreu. Há uma cessação do sofrimento efetivo. Ao mesmo tempo, a narrativa torna possível a reapresentação dos acontecimentos, o que constitui uma forma de se reaproximar deles. Isto quer dizer que a narrativa promove a reconciliação com a realidade. Ao mesmo tempo que guarda um elemento curativo, o contar a história tem o dom de dar significado àquilo que escapa à compreensão. Em Palavras cruzadas, dois personagens contrastam em sua maneira de lidar com a trajetória de Leonardo – a irmã, Sofia, e a mãe, Luisa. Esta última prefere esquecer. Já envelhecida, ela revela à filha que não se importa de perder a memória, pois lembrar é doloroso demais. Narrar a história do que aconteceu está vedado para ela. Assim, não há chance s de superar a dor, de reconciliar-se com o que aconteceu, de compreender seu significado. Sofia, pelo contrário, encarna a figura da narradora, adota o ponto de vista que é possivelmente da própria autora do livro. Não seria exagerado dizer que, no seu caso, existe salvação. Por este motivo, pode-se dizer que Palavras cruzadas, apesar de todo o percurso trágico descrito, tem um desfecho positivo. A comprovação disto é o encontro de Sofia com a sob rinha, até então desconhecida, que representa no livro a vida que se reinicia. Narrar, reconciliar-se, compreender efetivam o acabamento de um processo, não a sua anulação. O acabamento libera a possibilidade de um novo começo. Assim, novas vidas se iniciam, como a da sobrinha Cíntia, em Paris, com seu gesto de libertar o passarinho para voar. E estas vidas serão possivelmente o assunto de novas histórias para contar. Com sua linguagem ágil e nunca pretensiosa, Guiomar de Grammont reconstitui em seu livro um capítulo difícil da história recente do país. Ao mesmo tempo, com muita inteligência, provoca a reflexão sobre importantes aspectos da natureza da narrativa literária, de um ponto de vista filosófico.
Recortes do livro, trechos escolhidos pela autora:
Seu irmão jazia insepulto; ela não quis que ele fosse espedaçado pelos cães famintos ou pelas aves carniceiras.
Antígona, Sófocles
Sofia voltou para casa perturbada. Despiu as roupas molhadas e tomou um banho quente. Era inverno, mas ela não sabia se os arrepios que sentia eram febre ou efeito da descoberta. Entrou no quarto e, depois de hesitar um momento, decidiu procurar a caixa. Precisou subir em uma cadeira para alcançá-la na parte mais alta do armário, em seu quarto. Deixara ali para evitar a tentação da lembrança. Sempre que estava triste, sempre que se sentia só, nos aniversários, nas datas que marcavam a passagem do tempo e faziam com que ela pensasse mais ainda no irmão, voltava a procurar aquelas fotos e objetos, para buscar algum conforto. Eram os poucos indícios que conservava da presença dele no mundo, e aquelas incursões ao passado acabavam por aumentar sua angústia. As bordas das fotos tinham sido danificadas, aqui e ali, por suas lágrimas. Sofia pegou a caixa e procurou a foto tirada na casa de seus pais, quando ela tinha uns dez anos, em que Leonardo e seu amigo sorriam. Leonardo a pegava no colo, com visível orgulho, como se ela fosse um troféu. Sofia olhou com atenção o rosto do amigo ao lado do irmão. Sim, era ele, sem dúvida. Então, guardou a foto e colocou a caixa no mesmo lugar.
[…] Sofia estava concluindo suas pesquisas e começou a ficar intrigada com um ponto que não tinha conseguido esclarecer: como Leonardo teria ido parar no Araguaia? A resposta a essa pergunta era fundamental, pois, dependendo do resultado, ele podia estar vivo ou morto. E ela acalentava a esperança de que ele estivesse vivo em algum lugar, que pudesse retornar de repente e contar que tudo não passara de um pesadelo. Talvez estivesse há anos conduzindo trens em um metrô sombrio da Suécia, ou entregando jornais, ou limpando latrinas em algum país europeu ou nos Estados Unidos. Papéis falsos, um ou dois casamentos com mulheres que não amava, apenas para obter cidadania e viver do seguro desemprego, esquecido de tudo que tinha vivido antes. A vida é assim, nos leva por caminhos inusitados. E, muitas vezes, é difícil voltar. A volta dá uma preguiça enorme. É melhor lembrar as pessoas que fomos e os entes que um dia amamos a enfrentar o estranhamento. Olhar para eles e perceber que não se sente mais nada, que o elo se partiu, definitivamente, que não há retorno. Quantos exilados não viviam dessa forma? Sem passado e sem futuro, expatriados para sempre? Seria essa a história de Leonardo? Sofia tanto temia quanto desejava essa possibilidade. E, se fosse assim, como ter certeza? Como poderia saber se ele estava vivo? Provavelmente a vida iria transcorre r até o fim e eles jamais se encontrariam. Leonardo iria morrer, em algum lugar desconhecido, sem jazigo de família, sem memória, sem história.Afinal, a morte é a única certeza da vida. Se Leonardo já não estivesse morto, morreria um dia, e ela também, e tudo que haviam partilhado. Todas as lembranças, as trocas de afeto quando ela era criança, os abraços, as brincadeiras, tudo se desfaria no tempo.
Era esse o destino de todos os seres humanos. Então, porque ela sofria tanto? Por que aquela permanente angústia pela falta de uma conclusão, um desfecho, um ponto final? Por que não deixava o tempo passar e a lembrança se desvanecer até se tornar poeira no infinito, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse aqui e agora e para sempre? “Tudo é sempre a gora”, o poema ecoava como um mantra em seu pensamento. Esqueça, tudo é sempre agora. Nada foi, nem será. Nada se perde, tudo se transforma, tudo é sempre agora.
Porém, ela não conseguia esquecer. Não havia sono que não fosse visitado pela presença de seu irmão, nem momento de felicidade que não viesse empanado por aquela ausência. Uma culpa fina e constante a trespassava, por ter sobrevivido, por estar no mundo e poder aproveitar os momentos felizes. Cada instante de alegria era um momento a mais sem Leonardo, um momento a menos que ele estaria vivendo ou compartilhando com ela e com a família. Leonardo era um rosto sorrindo no escuro, quando ela assistia a um filme ou espetáculo, era um braço que roçava o seu, cálido, humano. Ela olhava para o lado, de rep ente, esperando dar com o olhar dele, doce e próximo, e se desapontava. Quando Sofia ouvia uma música ou via um filme que a emocionava, imaginava-se contando a ele e as lágrimas vinham a seus olhos. Sempre que ela abraçava um homem mais alto, a reminiscência de um gesto semelhante atravessava por um segundo seu inconsciente, mesmo que ela não estivesse pensando em seu irmão, mesmo que ela não pensasse em nada. Aquela falta pulsava, buraco negro no espaço.
O tempo passava e um dia todas as lembranças seriam esquecidas, as vivências, sentimentos e histórias se dissolveriam no insondável.
[…] O vento insistia em dobrar a folha de papel presa na máquina de escrever, como se quisesse atrair a atenção de Sofia. Ela se aproximou, moveu o carrinho e soltou a folha. O papel parecia ter sido deixado preso ali para que alguém o encontrasse. Como uma explicação ou…uma carta de despedida?!, pensou. E, de repente, a dúvida.
Sentou-se na poltrona, trêmula, o papel na mão. As letras embaralhavam.
Rememorou os eventos d aquela manhã, quando chegou, depois do telefonema da vizinha. Viu a ambulância na porta da casa e entrou correndo, a porta do carro ficou aberta. No quarto, a mãe nas mãos dos enfermeiros. Lábios arroxeados, a pele pálida. O coração de Sofia saltava a cada choque que eles imprimiam no peito dela. A brutalidade dos procedimentos de reanimação sacudia também as entranhas da filha. Os enfermeiros a instaram a chamar a mãe pelo nome. Luisa! Luisa! Sofia disse e, de repente, entendeu que ela nunca mais a ouviria. Nunca mais. Mãe! Mãe! gritou, sem reconhecer a própria voz.
Luisa foi carregada em uma maca e Sofia entrou na ambulância com ela, sem saber se ela reagira ou não. Mais tarde, a dor de cabeça, sob as luzes fortes do hospital. Só então se permitiu chorar, um choro convulso e forte, de criança. Sedativos, sono, quando talvez tivesse que estar acordada. Depois, a impressão de assistir a si mesma, num pesadelo, no velório e na cerimônia de cremação.
Somente semanas depois conseguiu retornar para arrumar as coisas, ver o que iria guardar e o que iria doar, desmontar tudo, enfim, para que a casa pudesse ser vendida. Os móveis cobertos com lençóis. Nada restaria que pudesse contar o que havia acontecido entre aquelas paredes. A mãe se foi, logo seria a vez dela, Sofia.
Estou sozinha, pensou. E reagiu: Não, tenho meus amigos. Tenho Marcos. De repente, compreendeu a importância que Marcos tinha para ela. A constatação deu-lhe um suave sentimento de liberdade.
E foi esse pensamento reconfortante que a fez voltar a si e ser capaz de ler, enfim, o texto que a tinha surpreendido e intrigado, ao encontrá-lo preso à máquina de escrever de Luisa. A página amarelada indicava que ele tinha sido escrito há muito tempo.
Então, a mãe o tinha colocado na máquina de propósito, para que Sofia o lesse: “A porta bate e me viro, a respiração suspensa. A cortina ondula na janela. Mais uma vez tenho a impressão de que você entrou, certamente no banheiro. Escondeu-se para me dar um susto, como fazia quando criança? Eu fingia que não estava te vendo debaixo da mesa, ou atrás do tapete. Procurava, chamando seu nome. Como faço agora, num murmúrio que cresce e se transforma em pergunta. Pressinto sua presença. Sei que você está aqui. A certeza me perturba, o coração bate, o rubor me sobe às faces. Meu corpo se prepara para esse abraço que irá me tirar do chão.
Ficarei tonta quando você me girar no ar, os braços mais fortes agora, homem feito. A barba irá roçar meu rosto? Não, você iria querer chegar com o rosto escanhoado, medo de que, depois de tantos anos, eu não mais te reconhecesse. Fosse possível não te reconhecer! Você, que saiu do meu ventre. Por que tantos anos sem notícias? A quem deseja punir com sua falta? A seu pai? Você teria medo do retorno? Não imagina quantas vezes ouvi seu pai chorar sozinho, a porta do banheiro fechada, para que eu não percebesse. Não posso chorar, filho. Não choro nunca, só vou chorar quando tiver certeza de que você não voltará mais.
“Ouço um ruído na direção da cozinha. O cachorro sentiu seu cheiro, levanta o focinho, late. Uma, duas, três vezes. Somos dois, agora, em expectativa. Quase vejo seu vulto, oculto no umbral da cozinha. Entro, de repente, quero te surpreender. Você me olha, ao mesmo tempo assustado e excitado. Leva à boca o dedo com o creme roubado da cobertura do bolo. Repreendo, um tapinha na mão, sem força. Seu rosto se ilumina. Sinto uma vontade momentânea de te bater de verdade, mas, no fundo, estou feliz. Daria o bolo inteiro a você, se não soubesse que prefere assim. A travessura te encanta, aumenta seu prazer. Você sempre fez o que quis. Nada te detinha. Ninguém podia te impedir de ser você mesmo. Arrumo a mesa para o café, coloco sua xícara preferida, aquela da asa quebrada. A avó te de u e você nunca me deixou jogar fora. Nunca deixei que ninguém sentasse em seu lugar, meu filho, nem as visitas, ninguém.
“Tenho tantas perguntas a te fazer! Não, primeiro, vou explodir em choro, junto a seu peito. Da mais pura alegria. As lágrimas que jamais derramei. Vejo seus olhos sorrindo. Também marejados. E o abraço? O abraço que me tira o fôlego. Desfaleço em seus braços. Consumi todas as forças nessa espera. Quantas tentativas de encontrar seu paradeiro! Por que você precisou se esconder, meu filho? A quantas fugas te obrigaram! Mas não te farei recriminações. Não precisa explicar nada. Tudo é passado. Podemos começar outra vida. Há tanto a contar um ao outro! Você sabe o que aconteceu nesse tempo? Quem morreu, os presidentes que sucederam, as mudanças de moeda? Esteve tão longe de casa… Leio relatos de exilados. Procuro seu rosto nas fotos de homens de sobretudo, em paisagens cobertas de neve. Imagino te encontrar vagando no escuro dos metrôs, esfomeado e sem emprego. Sem documentos, em algum país onde será sempre estrangeiro. Errante, com medo de voltar e não encontrar o que deixou. Medo de não encontrar mais a si mesmo. Mas agora… Agora tudo acabou, meu filho! “Repito esse ritual todas as manhãs, e sigo seus passos invisíveis pela sala. Entro na cozinha, abro armários, num gesto sem sentido. Como a te convencer de que entrei nesse jogo de esconde-esconde.
“Fecho-os, rápido, quero que acabe logo, já não tenho forças para continuar. Vivo apenas a sua volta, seu retorno se repete em meus sonhos. Acordo com a sensação de que, finalmente, aconteceu: você está dormindo no quarto ao lado. Levanto no meio da noite, pé ante pé, abro a porta, na expectativa de escutar sua respiração. Chego junto à cama vazia e ajeito os lençóis sobre o corpo que não está ali. Como fazia quando você era menino, e dormia sem se lavar, me fazendo despi-lo e vestir seu pijama com dificuldade, você já mergulhado no sono. Tenho vontade de te meter dormindo sob o chuveiro, mas não quero perturbar o sono pesado, depois de tantas brincadeiras. Seu abandono, ressonando, me comove.
Eduardo Jardim-PUC – Rio.
O circuito dos afetos – SAFATLE (AF)
SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016). Resenha de: FILHO, Sílvio Rosa. Do corpo latente do texto. Um pressentimento de manifesto 1. Artefilosofia, Ouro Preto, n.20, 2016.
Eu gostaria de propor minha leitura d’ O circuito dos afetos, assinalando que se trata de uma proposta elaborada em circunstâncias adversas, porque contemporâneas, e supondo que o modo de ler tenha-se dado a partir de um ângulo de abordagem específico, peculiar o bastante para trazer consigo implicações, ao menos, na releitura do livro. Hoje estou menos interessado em situar Vladimir Safatle na divisão social do trabalho intelectual no Brasil, visto ora como polemista ora como colunista, ou publicista ou ensaísta ou compositor ou professor ou historiador d a filosofia. O autor que me interessa está em contraste com aquele que vai aparecendo logo na quarta capa do livro, o proponente da filosofia necessária para uma teoria política da transformação, ambas solidárias de transformações sociais efetivas. Encampa das a ambição filosófica e a ousadia política, tampouco me interessa hoje o jogo técnico de contrapartidas, muito engenhoso ao seu modo, por exemplo, entre Hobbes e Espinosa, Hegel e Adorno, Freud e Lacan, Foucault e Canguilhem, entre tantos outros.
Eu me voltaria então, principalmente, para os lados que flertam com alguns pontos de fuga do livro, aqueles que talvez permitam enxergar O circuito dos afetos não como publicação que constitui algum bloco de teor normativo, mas antes – esta é a minha proposta – como livro que estaria a instituir o próprio corpo latente de um texto. Se esta leitura faz sentido, é porque ali se funda algo assim como um circuito “híbrido”. Digamos que, junto ao circuito impresso do livro, o próprio corpo latente do texto se abre para as contingências de um corpo outro. Mas então, simplesmente, um corpo a corpo? Ou ainda: passagem iminente do corpo latente do texto ao corpo outro enquanto corpo manifesto? Esta é a minha primeira, em certo sentido, a minha única questão, mas ficando b em entendido que “outro”, aqui entre aspas, antes de tudo não é uma propriedade, não é um atributo nem um predicado desses corpos.
Quero crer que a rigor há uma certa compatibilidade entre a questão e o problema central do livro. Este último, expresso à queima roupa, é o seguinte: que afetos criam novos sujeitos? Não haveria incompatibilidade, mas exigência de certos descentramentos, pois, se a natureza da experiência política propriamente dita significa “desbloqueio do novo” (como em Paulo Arantes, por exemplo, desde A ordem do tempo), e, no caso, vale como abertura para alteridades impensadas (como em Michel Foucault) e para alteridades incomensuráveis (como em Jacques Lacan), então não será com os mesmos corpos que haveremos de construir realidades políticas tão transformadoras quanto mais impensadas e incomensuráveis. A certa altura do texto impresso, trecho passível de acender a imaginação do leitor nos começos do século XXI, diz Vladimir: “mais do que novas ideias, precisamos de outro corpo, pois não haverá nova política com os mesmos sentimentos de sempre”.
Deixo de lado quem nessas frases só tiver ouvidos para ouvir algum tipo de anti-intelectualismo, caso de regressão que não vou comentar. Mas há quem tenha ouvidos para captar nessas frases, menos os ecos de Beckett, e mais, as ressonâncias de Artaud. Não digo que não; afinal, neste último caso, o teatro e o seu duplo não precisam ficar reservados ao campo do silêncio; o debate sobre o livro, com efeito, não é de hoje. De todo modo eu diria que a reverberação das formas argumentativas dá a ver uma geopolítica dos afetos e dá a ouvir um diálogo do corpo latente do texto com os corpos – individuais e coletivos – pois são os corpos que leem. E, depois de tudo, os corpos é que haverão de se entende r, mudando o patamar dos consensos ou reconfigurando a plataforma do dissenso com-sentido. Daí um desdobramento neoespinosano que, coetâneo à questão inicial, põe em jogo o problema da intercorporeidade e poderia ser reformulado como segue: o que pode o corpo que lê no limite tenso de um tempo presente que se desnaturaliza, tempo presente do corpo que cria ou inventa ou institui as suas próprias possibilidades de ampliação?
De modo um pouco mais específico, não havendo política sem afetos, o circuito já instituído é literalmente um circuito fechado, apenas constituinte, não ainda instituinte. No entanto é possível imaginar que nem todo ambiente institucional é ambiente institucionalmente consolidado, ainda mais nos tempos que correm, com gestões aceleradas de desinstitucionalização, catástases, catástrofes e assim por diante. Ademais, a mobilização conceitual da contingência, no texto impresso, vem contrariar impossibilidades presumidas na contemporaneidade. Remanescendo um ímpeto para 203 contrariar inclinações estruturais ao famigerado fatalismo brasileiro, mais a recusa do luto pontilhado ao infinito por corpos tantos e melancolizados, depois da leitura d’ O circuito dos afetos, o impossível está posto em suspeita. Nesse passo pode servir de contraexemplo um trio de figuras do “absoluto”, nem tanto em Hegel quanto em Derrida, ou seja, figuras do absolutamente impossível nos dias que correm: a figura da hospitalidade em ato (incomensurável com o cosmopolitismo); a figura do dom em ato (incomensurável com a reciprocidade); a figura do perdão em ato (incomensurável com a justiça).
Mas a ser assim, em ambiências institucionais incipientes, pergunta-se: a intercorporeidade política não haveria de irromper como circuito instituinte ? Quando se explicita a finitude de uma instituição específica, longe de nos lamentarmos pela perda ou pela falta que ela parece fazer ou alardear, vale a constatação: não é toda e qualquer institucionalidade que efetivamente desmorona, problema de formação do discernimento, portanto, no campo aparentemente adverso dos indiscerníveis. Resumindo a minha segunda questão: por aproximação do corpo manifesto, sem perder de vista o propósito da política transformadora, o circuito dos afetos latente estaria proibi do de se apresentar afinal como circuito instituinte dos afetos ?
Ainda por aproximações, acompanhando esses halos expansivos a partir do circuito latente, há toda uma série de negatividades revisitadas no circuito impresso: nem o medo nem sua irmã gêmea, a esperança; nem uma confirmação dos predicados do sujeito, nem as heteronomias que sujeitam; nem assinatura de contrato ficto nem pactuação com a recta ratio. À primeira vista, mas à segunda vista também, o leitor parece estar às voltas com um corpo destituído, esfoliado no estranhamento, totalmente desamparado. Nonada. Nonada, entretanto, com um olho posto n’ O futuro de uma ilusão e com o outro num não sei quê de Félix Guatary. Pois que, nesse novo regime de visibilidades proposto, não dá no mesmo manter Freud de pernas pro ar, confinar-se na dispersão das diferenças apenas abstratas ou perseverar na luta por universalidades não abstratas. E visto que, ao horizonte de expectativas decrescentes, vem contrapor-se um horizonte antipredicativo de reconhecimento, o que parece insinuar-se é a promessa de um corpo coletivo “restituído”. À terceira vista, contudo, um campo outro de visibilidades se deixa entrever. A questão agora passou a ser: o que pode o corpo desamparado na relação com o corpo latente do texto político? O que pode o corpo em desamparo na relação com o corpo manifesto do texto político? À margem do texto, cheguei a notar que muitas vezes Vladimir procede como se estivesse glosando em prosa – e com um grão de sal – alguns versos de Manuel Bandeira e sua “Arte de Amar”, quando o poeta diz mais ou menos assim:
As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.
À terceira vista, portanto, porque o corpo turbulento requer um tempo próprio a ponto de radicar sua existência fora do tempo do Capital, não o livro, mas a coisa mesma; porque a vida apresenta uma mobilidade tão soberana quanto insubmissa a ponto de encontrar a sua própria maneira de resolver problemas ontológicos; porque, em suma, novas formas de ser e de vivermos juntos estão na força de acontecimentos que começam novamente a se fazer sentir – é a contingência que unifica o que se mostra como possível e o que se manifesta como realmente efetivo. Assim – nessa política que fará jus ao conceito de política da suspensão se efetivamente ela tomar corpo; nessa política da síntese não normativa que já não temera dizer o seu nome como política de esquerda e sempre se quis transformadora – a cena se produz pelo reconhecimento da contingência.
Na medida em que a exposição do desamparado irrompe à contraluz de uma desindividuação irredutivelmente singular, na medida em que supõe um aumento na potência de agir no fundo do mais fundo desamparo, a visada ético-política desse circuito de afetos parece ao menos tão exigente quanto as perversões acadêmicas que outrora insistiam no avesso da dialética. Está claro, porém: colocando perversões acadêmicas à parte. À parte, igualmente, a realização do fantasma sádico que Vladimir já estudou na figura de Justine, tomada então como vítima por excelência, analisada sob o prisma dessa angústia de gozar com aquilo mesmo que lhe causa horror (ver Um limite tenso, ensaio intitulado “O ato para além da lei”).
*
Para terminar, vou me permitir o acréscimo de uma pequena nota sentimental no rodapé de uma conversa que se vai fazendo de vida inteira, tentativa de resumir a leitura proposta e apontar para o que vem por aí, implicado, suponho, na sua própria síntese. A nota sentimental talvez explique, embora não justifique, as camadas e camadas de 205 latência necessariamente cifrada numa fala de vinte minutos. Camadas, por exemplo, como as contidas em aulas anotadas de Merleau-Ponty (Institution, passivité), antes das camadas póstumas de Claude Lefort, sem com isso querer complicar mais do que o necessário a já considerável complexidade safatleana; mas querendo, de algum modo, intervir no andamento de um projeto que nunca se poderá reduzir a um corpo só.
É que as minhas conversas com Vladimir remontam a um tempo em que muitos dos que se acham aqui, hoje, estavam nascendo ou por nascer. É igualmente esse o c aso da moça a quem o livro é dedicado; dedicatória, aliás, onde se diz: “Para Valentina, que saberá viver sem medo”. Em 1997, quando Vladimir apresentou sua dissertação de mestrado, eu era uma das duas pessoas que assistiram à defesa de “O amor pela superfície: Jacques Lacan e o aparecimento do sujeito descentrado”. Nos anos seguintes, entre 1998 e 2000, lemos juntos com Ruy Fausto algumas obras de Freud e de Lacan, num grupo de estudos composto por nós três e às vezes na companhia de Jean-Pierre Marcos, em Paris; apresentamos alternadamente alguns seminários no curso de pós-graduação de Paris-VIII, sobre Adorno e a Dialética negativa ; principalmente, passamos noites em claro discutindo as charneiras entre a Fenomenologia do espírito e a Ciência da lógica, o papel do “prefácio” na primeira, o alcance da “realidade efetiva” e a instabilidade das essências, nesta última. Hoje o que os franceses chamavam de nuit blanche, tornou-se Nuit Debout. A noite em claro, nestes dias intermináveis, tornou-se noite em pé.
Por isso mesmo, a minha fala não poderia ser mais do que a miniatura de uma conversa – sempre recomeçada, às vezes silenciada pela força das coisas – há vinte anos.
O que pode o corpo latente do texto? A inverter-se a passagem dos conteúdos (de manifesto s a latentes), do pesadelo acordado a uma rêverie em que se passeia nas cadências de Sigmund Freud, resume-se: corpo manifesto ? Numa palavra: corpo instituinte ? Resumindo à mínima, por fim, a pequena variação sobre o tema: a intercorporeidade – esses corpo s aquém do medo da morte violenta, abandonados de toda esperança, desamparados, desindividualizados, e, contudo, vivos, essa intersubjetividade com indivíduos findos parece implicar um circuito outro do sujeito político que, ingressando num campo em disputa, eu tenderia a designar com um ou dois neologismos: como interobjetividade instituinte, como transobjetividade manifesta. E para além dos nomes (parce que je ne voudrais ici disputer ni sur les mots ni sur les choses: intersubjetividade com indivíduos findos, interobjetividade instituinte, transobjetividade manifesta), o que importa perguntar-se é o seguinte: esses corpos políticos não implicam uma entidade literária inteiramente outra, nova, um corpo de um texto político manifesto?
Se assim for, eu m e atrevo a dizer que o próximo livro de Vladimir Safatle não será algo voltado para ilusões históricas e socialmente necessárias da intercorporeidade dos afetos. Será, afinal, um manifesto.
Nota
1 Este texto foi apresentado originalmente no dia 20/06/2016, em Debate com o autor, evento organizado pelo Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, sobre o livro de Vladimir Safatle, O Circuito dos afetos (Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016).
Sílvio Rosa Filho-Professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo, autor de Eclipse da moral: Kant, Hegel e o nascimento do cinismo contemporâneo (Barcarolla/Discurso Editorial-USP, 2009) e de Hegel na sala de aula (Fundação Joaquim Nabuco/Unesco, 2009).
Global philosophy: What philosophy ought to be? – MAXWELL (ARF)
MAXWELL, N. Global philosophy: What philosophy ought to be? Exeter. UK: Imprint Academic, Societas – Essays in Political & Cultural Criticism, 2014. Resenha de: CHOKR, Nader N. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.2, n.1, p. 175-186, jan./jun., 2016.
In his recent book, Nicholas Maxwell revisits for the most part ideas, arguments, and positions he has been defending quite forcefully for the past 40 years or so. These include his conceptions of what philosophy ought to be, about the nature of science and its progressmaking features, how to best construe empiricism and rationality, his take on the history and philosophy of science, on philosophy and the history of philosophy, the nature of (academic) inquiry, and finally, his position about the role of education and the university more generally in view of his rather pessimistic yet compellingly realistic diagnosis of the problems and challenges confronting our world at this point in our history.
And the question that comes immediately to mind is this: Why is Maxwell repeating himself over and over, in a desperate attempt to convey what he deems to be an urgent message, given the alarming and worrisome state of affairs currently prevailing in the world as we know it today? The obvious answer is, as he himself laments occasionally in his work, that he has so far failed to get the attention of the academic and philosophical community that he believes his work deserves. It behooves us therefore to inquire in a more focused manner into the possible reasons for such a failure in getting the recognition and support of the academic community. Are his ideas and proposals wrong or untenable and must therefore be rejected? Are they unoriginal and uncontroversial, and therefore not deserving of further attention? Or is the philosophical and academic community at fault in some ways for failing to recognize the validity and relevance of his ideas and proposals?
More generally, why do the ideas and proposals of some philosophers fail to gather the expected focus and attention in a timely manner, even though they are right and valid in so many respects? Does philosophy (in its institutional incarnation in the modern era) always come late to the party, so to speak? If the Owl of Minerva (philosophy) only takes its flight at dusk, as many philosophers have come to believe after Hegel, what are we to make of a new philosophy that claims instead that the Owl of Minerva must take its flight at dawn?
From the start, I must confess that when I first looked into Maxwell’s work, I was inclined (possibly like some of his readers) to think that his ideas may be more accepted and widespread than he seems to be realizing. Perhaps even part of conventional wisdom and commonsense. Progressively however, I began to see the qualitatively distinctive features of his proposal. He sets out, it now seems to me, an earlyrising and forwardlooking proposal about how humans can best save themselves from themselves, encapsulated in his call for a paradigmshift in (academic) inquiry from knowledge to wisdom (1984, 2007). I hope merely to convey this reading to some extent in the brief compass of this review. Establishing its correctness in a definitive and conclusive manner is obviously beyond the present scope.
The five essays collected in the present volume are intended (once more) as an invitation to abandon our established and entrenched conceptions and transform our institutions of learning from primary school to university so that they devote themselves to helping us all create and bring about a better and wiser world. Because they have all been published previously in different contexts, they inevitably and unfortunately contain far too many repetitions which can be distracting and even appear annoyingly preachy. For this reason, and by virtue of my application of the principle of charity to interpretation (Davidson), my review proceeds in a slightly different way than usual conventions require. I single out a crucial thread in Maxwell’s work which enables me to give a fair and accurate account of the main point in each essay (even if at times short), while hopefully laying the ground through and through for an overall critical evaluation of his work, especially with regards to the question raised earlier.
In due course, I consider a number of objections that could be made against Maxwell having to do with (1) his idealism, (2) his scientism, (3) the ‘disciplinary matrix’ of his work, and (4) the form and style of his writings, the idiosyncrasies of his philosophical temperament, as opposed to the content and substance of the work. I also examine (5) the apparently unfashionable characteristics of his project, and (6) the clash or dissonance between its politically radical dimension prima facie and its more sober or analytical formulation, as further possible hypotheses. Finally, I consider briefly (7) the often posthumous character of philosophical vindication, and (8) the possibly paradoxical nature of Maxwell’s project.
Though Maxwell discusses a broad and diverse range of issues and topics, there is, he claims in the preface, one common underlying theme, and that is education (vii). For Maxwell, ‘education ought to be devoted, much more than it is, to the exploration of reallife, open problems; it ought not to be restricted to learning up solutions to already solved problems – especially if nothing is said about the problems that provoked the solutions in the first place’ (vii). [This is consistent, as we shall see, withhis main argument about inquiry].
Given the widely acknowledged and growing yawninggap between education,as it is currently dispensed (for the most part), and the realworld, it is hard to see howone could object to such a view. Maxwell is urging a reduction or an elimination of thisgap. Furthermore, he is recommending that greater emphasis be placed as early aspossible on learning how to engage in cooperatively rational and imaginativeexplorations of such reallife, open problems.
In Chapter 1, he points out that ‘even fiveyear olds could begin to learn how todo this’ (vii) through appropriately designed and tailored philosophy seminars in whichthe use of ‘play’ as an effective pedagogical device is demonstrated. Maxwell iscertainly not the first or only philosopher to make a case for the pedagogical use of‘play’ in education or even in ‘philosophy for children’ (see Lipman’s project, Institutefor the Advancement of Philosophy for Children, 1974). But perhaps taken in thecontext of his wider claim about academic inquiry, it becomes qualitatively distinctive.He writes:
[A]cademic inquiry ought to be the outcome of all our efforts to discover what isof value in existence and toshare our discoveries with others. At its mostimportant and fundamental, inquiry is the thinking we engage inas we live,as we strive to realize what is of value to us in our life. All of us ought both tocontribute to andlearn from interpersonal public inquiry. This twowaytraffic of teaching and learning ought to start at theoutset, when we firstattend school (2).What is often not appreciated enough, in his view, is ‘the central and unifyingrole of philosophy in all of education’ (3). Pursued as the cooperative, imaginative andrational exploration of fundamental problems of living, it could much more readilyserve to ‘bridge the gulf between science and art, science and the humanities’ (3).
One may be tempted to object at this point that hardly anyone in academia or inthe humanities would reject such a call to build bridges between disciplines, or even hisview about the central and unifying role of philosophy. This objection would bepremature however, and possibly unsustainable given that he puts forward as we shallsee a different conception of science, philosophy, and inquiry more generally.
In Chapter 2, Maxwell turns to what is perhaps one of his most important andlongstanding contentions: the fundamental failure of academic philosophy to properlyconceive its main task. According to him:
The proper task of philosophy is to keep alive awareness of what our mostfundamental, important, urgentproblems are, what our best attempts are at solvingthem and, if possible, what needs to be done to improvethese attempts (11).
In his view, academic philosophy has failed disastrously to even conceive of itstask in these terms. And the consequence is that it has not made any serious attempt toensure that universities are devoted to tackling ‘global’ problems –in the double senseof the term i.e., ‘global’ intellectually, and ‘global’ in the sense of concerning the futureof Earth and humanity.
Maxwell also claims that academic philosophy has failed to focus as it should onour most fundamental problem of all, encompassing all others:
How can our human world – and the world of sentient life more generally –imbued with the experiential, consciousness, free will, meaning, and value,exist and best flourish embedded as it is in the physical universe? (13, 41, 48, 157-8).
This is, according to Maxwell, both our fundamental intellectual problem andour fundamental problem of living.
In Chapter 3, he goes to show how one could begin to address this problem, in asimulationletter to an applicant for a new Liberal Studies Course. The fundamentalcharacter of the open, unsolved problem provides the opportunity to examine andexplore a broad range of issues and related problems:
What does physics tell us about the universe and ourselves? How do we accountfor everything physics leaves out? How can living brains be conscious? Ifeverything occurs in accordance with physical law, what becomes of free will?How does Darwin’s theory of evolution contribute to the solution of thefundamental problem? What is the history of thought about this problem? What isof most value associated with human life? What kind of civilized world shouldwe seek to help create? Why is the fundamental problem not a part of standardeducation in schools and universities? What are the most serious global problemsconfronting humanity? Can humanity learn to make progress towards as good aworld as possible? (47-48).
The course as conceived would be run as a seminar, driven for the most part bystudents’ questions and proposals, with the teacher in the role of a facilitator or mentor.It would invite a sustained questioning of our current conceptions of education and itsgoals, science and its aim, as well as empiricism and rationality.
If, by philosophy, one means either (a) exploration and investigation offundamental problems or (b) explorations or investigations of the aims, methods, tools,and techniques of diverse worthwhile but problematic or unconventional endeavors – aswell as the philosophy of these endeavors, then in some real sense, students would bedoing philosophy, and not just talking about philosophy and past philosophers, andinterpreting the commentaries of commentaries, or commenting the interpretations ofinterpretations (64). But, according to Maxwell, academic philosophy today, on thewhole, neglects scandalously to do either of these things, (a) or (b), in a clear andstraightforward manner.
Suppose, to paint a picture in broad strokes, one could categorize some of themain proposals about the main task of philosophy as defending either one of thefollowing positions: (1) Philosophy consists essentially in ‘creating new concepts andconceptual persona’ [French continental philosophy, e.g., Deleuze & Guattari (1994)].(2) Philosophy consists essentially in the ‘analysis of concepts’ [AngloAmericananalytic philosophy]. Then one could argue that Maxwell’s conception does not fall ineither category: neither (1) nor (2) is strictly speaking and effectively doing either (a) or(b), even though Maxwell can’t obviously avoid creating and analyzing concepts, as hepursues (a) and (b), and his primary focus on solving reallife, open problems.Obviously, proponents of both (1) and (2) could object that they too are interested in theend in bringing to bear their respective approach on the solutions of problems. Butunlike Maxwell, they arguably seem to subordinate the latter to something else, deemedmore important. In contrast Maxwell considers the latter as the primary task of philosophy.
Besides, while analytic philosophy is increasingly specialized and dominated byesoteric and arcane discussions of technical puzzles and language games (not just inWittgenstein’s sense) accessible to the initiated few, continental philosophyis, for itspart, far too prone to speculative flights, jargonfilled obscurantism and mystification,antirationalism, antiscientific or antiscientistic proclivities. In some sense, one could argue that they are both ‘forms of antiphilosophy’ (64). What the theoretical andspeculative approaches to philosophy often neglect are the vital, existential, andpractical dimensions of living.
In fact, if Maxwell’s conception has any affinities, it seems to be with the branchof contemporary philosophy that in recent decades has come to be known as ‘appliedphilosophy’ (in some of its incarnations). Such an approach is primarily concerned withbringing to bear on a wide range of contemporary problems and issues all the tools andinsights of philosophy broadly conceived in a nondoctrinaire fashion. After an initialbad reputation, such a field of inquiry has now come to be recognized and accepted forits contributions. It may have even contributed to the rehabilitation of the practicalrelevance of philosophy in the world today.
Concerning Maxwell’s formulation of what he deems to be the single mostfundamental problem confronting us, as selfconscious, evolved creatures in a physicaluniverse, what could one possibly object? Unless one is more receptive to theological,metaphysical or pataphysical speculations about ‘who and what we are’, and whatconstitutes our predicament as humansintheworld, one must concur. In fact he is notthe only philosopher to have discussed it (Whitehead), or who thinks so (far too manyto list here). As for its being fundamental, from which a slew of other problems can bederived, it should be obvious, especially if we situate ourselves, as I presume Maxwelldoes, within the current scientific, biologicalevolutionary framework that is ours today.Such a framework is admittedly defeasible and subject to possible corrections, and evenoutright subversions, but it is arguably the best we have so far. His originality, if any,lies perhaps in the claim that it ought to be placed at the center of (academic)philosophy’s preoccupations.
In Chapter 4, he considers what he believes went wrong with the History andPhilosophy of Science (HPS) as well as Science and Technology Studies (STS), underthe misguided influences of various postmodernist trends, represented among others bythe ‘Strong Programme’ and ‘Social Constructivism’. Countering the often excessiveand untenable relativistic, subjectivist and antirational interpretations and conclusionsof proponents laboring under these trends, Maxwell seeks to correct the widespreadmisrepresentations of science and its basic aim (i.e., truthper se, factual truth andappeal to evidence, according to the standard conception of empiricism) and to promotea broader and richer conception of science and its basic aim (i.e., truth presupposed tobe unified or explanatory), one that puts in practice an aimsoriented empiricism andrationality, that is at once more objective and capable of making progress in itsapprehension of the real world (or parts thereof). He even seeks to find a way togeneralize over the progressmaking features of science (its aims, methods, tools, andtechniques) to the entire social field and human world.
Under his conception, as I understand it, science (no differently than philosophy)would more readily be prepared to acknowledge, disclose, and critically evaluate theassumptions that it may be making implicitly or explicitly (e.g., metaphysical,epistemological, social, cultural, and even political assumptions) about its aims andmethods. In addition, it would be committed to applying consistently what he calls the‘four elementary rules of reason’:
(1) Articulate, and try to improve the articulation of, the basic problem to besolved.
(2) Propose and critically assess possible solutions.
(3) If the basic problem we are trying to solve proves to be especially difficult tosolve, specialize. Break the problem up into subordinate problems. Tackle analogous,easier to solve problems in an attempt to work gradually towards the solution to the basic problem.
(4) But if do specialize in this way, make sure specialized and basic problemsolving stay in touch with one another, so each influences the other (99101).Furthermore, such a conception of science would arguably make adistinction between ‘constitutive and progressmaking features’ and‘contextual and possibly obstaclegenerating factors.’First, one must getclear on the progressmaking features of science (aims and methods). Second, one mustcorrectly generalize these features so that they are potentially applicable to anyworthwhile, problematic human endeavor. Third, the correctly generalized progressmaking features must be extended to the entire social and human world.
In Maxwell’s view, in order to get to step one, one needs to adopt an aimoriented empiricism (AOE), and in order to get to step two, we need to generalize AOEso that it can be applicable in a potentially fruitful way to any problematic, yetworthwhile human endeavor, and not just science. In this way, we would also endorse arationality that helps to improve aims especially when they are problematic. Thisiswhat he calls aimsoriented rationality (AOR). Finally, in order to get to stepthree, weneed to apply AOR, arrived at by generalizing AOE, i.e., the progressmaking featuresof science, to all other worthwhile, problematic human endeavors, besides science (1045, 120124, 164175).
All of these features would enable inquiry (into the natural or social & humanworld) to acquire a selfcorrective mechanism, a kind of positive feedback loop,through which obstacles and contextual factors can be identified and neutralized,failures can be turned into successes and successes into even greater achievements, andthereby achieve in the long run relative yet substantial progress.
It is in this context that one could perhaps best understand Maxwell’s call for aparadigm shift in inquiry –namely, from the established and dominant knowledgeinquiry pervasive in Universities around the world since the 18thcentury to a new andmore enlightened wisdominquiry. Obviously, such a shift has yet to take root andspread widely in the academic world, even though there are here and there hopefulclusters with such a focus (see for example Sternberg, 2001; Ferrari and Potworowski,2008 ̧ Mengel, 2010; Wisdom Initiative at University College London, Maxwell’s owninstitutional affiliation). Maxwell’s proposal could have benefitted over the years fromacknowledgement of and interaction with the works of likeminded scholars around theacademic world, and beyond.
While we may all readily grasp what is meant by knowledgeinquiry, this maynot be so with regards to wisdominquiry. Here is how Maxwell characterizes the contrast:
Knowledgeinquiry has two quite distinct fundamental aims: the intellectual aimof knowledge, and the social or humanitarian aim of helping to promote humanwelfare. There is a sense in which wisdominquiry fuses these together in the onebasic aim of seeking and promoting wisdom – wisdom being the capacity, andperhaps the active desire, to realize what is of value in life, for oneself and forothers; wisdom thus including knowledge and technological knowhow but muchelse besides (103).
It might also help to know how Maxwell defined ‘wisdom’ when he firstintroduced his ‘great idea’ (118) in 1984:
[Wisdom is] is the desire, the active endeavor, and the capacity to discover andachieve what is desirable and of value in life, both for oneself and for others.Wisdom includes knowledge and understanding but goes beyond them in also including: the desire, and active striving for what is of value, the ability to seewhat is of value, actually and potentially, in the circumstances of life, the abilityto experience value, the capacity to use and develop knowledge, technology andunderstanding as needed for the realization of value. Wisdom, like knowledge,can be conceived of, not only in personal terms, but also in institutional or socialterms. We can thus interpret [wisdominquiry] as asserting: the basic task ofrational inquiry is to help us develop wiser ways of living, wiser institutions,customs and social relations, a wiser world (118, 1984: 66; 2007: 79).
One may think, as I have initially, that the use of the term ‘wisdom’ tocharacterize what should be of primary concern in inquiry in his view diminishessomehow the novelty, or radical nature of his proposal as it evokes readily varioustraditional conceptions and connotations associated with the term itself. It is perhapsbest to take his construal as a redefinition of the term for our times.
In order to motivate and justify his call, Maxwell revisits a crucial turningpointin the history of Modern Philosophy, and that is, the socalled Enlightenment in the 18thcentury, especially the French variety. According to Maxwell,les philosopheshad amagnificent and correct idea: it should be possible to learn from the progressmakingfeatures of science and acquire actionable knowledge about how to make socialprogress and bring about a better and more enlightened world. However, they made aserious and consequential mistake in the implication they drew from their brilliant idea.Rather than ascertaining and confirming the progressmaking features (aims, methods& methodologies, protocols, tools, and techniques) of science and seeking to generalizethem over the entire social field and human world, they mistakenly assumed that thetask incumbent upon them was ‘to develop the social sciences alongside the naturalsciences’. And of course, it is this assumption which has been institutionalizedandentrenched within a knowledgeinquiry paradigm throughout the 19thand 20th centuries, up until the present.
A properly construed genealogical history of this period could probably providethe greyongrey, finegrained details and multifactorial reconstruction of how arguablythis process unfolded. And admittedly, there may be room here for competing and evenclashing perspectives. But it seems plausible to assume, as Maxwell does, that anopportunity was crucially missed by the Enlightenment philosophers, that we must seekto recapture now more than ever, and that is, the opportunity to embrace wisdominquiry – instead of knowledgeinquiry as we have done for the past couple ofcenturies. One in which ‘our capacity and active desire to seek and promote what is ofvalue in (or to) life, for oneself and others’ (103) becomes the main drivingforce ofinquiry, now conceived very broadly as social inquiry, in that ‘it is intellectually morefundamental than natural science itself’ (102).
In Chapter 5, titled ‘Arguing for Wisdom in the University’, Maxwell undertakes‘an intellectual autobiography’ (108) in which he seeks to tell the story of how he cameto argue for ‘such a vast, wildly ambitious intellectual revolution’ (108), namely, thatwe urgently need to bring about a revolution in academia so that the basic task ofinquiry becomes to seek and promote wisdom, rather than knowledge.
I have always found such an exercise to be very tricky and treacherous, indeed:how could or should one talk about oneself, in what language, and to what degree ofintimate disclosure? How selfconscious could or should one be? How selfcritical ornot? How selfaggrandizing could or should one be? How much selfdeprecating humorto engage in or not? How could or should one strike a balance between all suchconsiderations? Etc.
Regardless of his success or failure in these regards, I have found his reconstruction of his intellectual odyssey (from ‘genius child’ to ‘emeritus professor’)as he sees it from his current vantage point to be illuminating in many respects, if onlyas a window into the mind of a philosopher (peering into himself) assiduously andstubbornly pursuing his quest and inquiry into the human predicament. I cannevertheless understand those who might feel irked or bothered for some reason by hisnarcissistic and selfaggrandizing tendencies tempered by selfdeprecating humor.Maxwell concludes his account by stating what he finally realized:
Every branch and aspect of academic inquiry needs to change () if it is to be whatit is supposed to be: rationally organized and devoted to helping humanity achievewhat is of value in life. I was then confronted by five revolutions (that needed tohappen before my program could become a reality). First, a revolution in thephilosophy of science, from standard to aimoriented empiricism. Second, arevolution in science itself, so that it comes to put aimoriented empiricismexplicitly into scientific practice. Third, a revolution in social inquiry and thehumanities, so that they come to give intellectual priority to problems of living,themselves put aimoriented rationality into practice and take, as a basic, longterm task, to help humanity feed aimoriented rationality into the social world.Fourth, a revolution in academia as a whole, so that it takes up its proper task ofhelping humanity realize what is of value in life. And fifth, the revolution thatreally matters: transforming the human world so that it puts cooperative problemsolving rationality and aimoriented rationality into practice in life, so that wemay all realize what is of value as we live insofar as this is possible (1712, additions in parentheses).
Needless to say, Maxwell’s proposal is wildly ambitious and idealistic, ashe ishimself ready to admit. It is hard enough bringing about one revolution, let alone five(comprising disciplinary, institutional, social and political revolutions). Besides, apartfrom specifying some of the necessary conditions for such revolutions, he does not fullyarticulate the practical guidelines we could follow to make them happen. As a result,one may fail to see how Maxwell believes that they can be achieved in practice andwhat we should actually do in order to facilitate their realization. In short, Maxwelldoes not seem to give us much advice about how these revolutions can actually beachieved in real life and how we should go about restructuring the university andresearch in order to accomplish his objectives. Perhaps the best place to look for suchdetails would be the Wisdom Initiative implemented under his leadership at UniversityCollege London, his alma mater.
But that a program is idealistic and ambitious (and even still highly unspecified)does not entail that it is not desirable and to be desired, does it? In fact, it may wellbebased on very cogent and compelling analyses and solid arguments, which make it notonly tenable and desirable but correct and relevant.
What philosophical program, worthits salt, is not more or less idealistic, seeking to bring about what should be, ratherthanperpetuating what is? It is more often than not a multigenerational, collective andcollaborative effort that is required to bridge or close the gap between the latter and theformer.What other possible objection could one readily make to Maxwell’s proposal?Obviously, one could argue that Maxwell is somehow committed to some kind of‘scientism’ (i.e., the assumption or belief that science and only science (and itsprogressmaking features, properly identified, assessed and generalized) can provide uswith the best possible explanations and problemsolving tools required to bring about abetter world. Maxwell would, I believe, bite the bullet in this regard, and admit to someform of scientism, as long as it is understood that his proposal countenances a much broader and corrected conception of science than the one commonly held. It is, let’srecall, underwritten by aimsoriented empiricism and rationality, properly inscribedwithin wisdominquiry, in which there would not be much of a distinction left betweenscience and philosophy (as in the ‘natural philosophy’ of yesteryears), and naturalscience is itself subsumed under a broader and much more encompassing social inquiry.
Maxwell is not however committed to a naïve form of scientism. He recognizesthat most if not all of our global problems have come about in large part because wehave been able through the extensive application of science and technology over thepast couple of centuries to pursue goals with great success that seem highly desirable inthe short term, but quite disastrous in the long term. It is for this reason that he thinks‘we urgently need to learn how to improve our aims and methods in life, at personal,social, institutional, and global levels’ (612). And for that, he argues, we need a newconception of rationality – aimsoriented rationality – specifically designed tofacilitatethe improvement of problematic aims and the progressive resolution of problemsassociated with partly good, partly bad aims at all levels, in all human endeavors(62).
Suppose that one believes, as Simon Critchley recently put it in an essay with acatchy title “There is no Theory of Everything” (2015) that there is a fundamental andirreducible gap between nature and society, that while the former lends itself toexplanations, the latter may not, and may only require descriptions, clarifications, orelucidations, and furthermore that the mistake, for which “scientism” is the name, is thebelief that the gap can or should be filled. He also characterizes it as a risk, i.e., thebelief that natural science can explain everything, right down to the detail of oursubjective and social lives. All we would need then is a better form of science, amorecomplete theory, a theory of everything. He concludes however that there is no theoryof everything, nor should there be. Critchley adds that one huge problem with scientismis that it invites, as an almost allergic reaction, the total rejection of science, and oftenleads to obscurantism (e.g., among climate change deniers, flatearthers, and religiousfundamentalists). We need not however run into the arms of scientism in order toconfront the challenge of obscurantism, he argues. Yet surprisingly, he seems to viewthe task of philosophy as merely consisting in “scratching our itches,” over and overagain, to paraphrase Wittgenstein. “Philosophy, he writes, scratches at the various itcheswe have, not in order that we might find some cure for what ails us, but in order toscratch in the right place and begin to understand why we engage in such apparentlyirritating activity.” Further, he adds: “What we need are multifarious descriptions ofmany things, further descriptions of phenomena that change the aspect under whichthey are seen, that light them up and let us see them anew.”
It should be clear by now that Maxwell would take issue vehemently with such aconception of philosophy and its primary task, not to mention the dubious and certainlyquestionable assumptions made by Critchley in his tirade against a particular (strawman) construal of scientism, beginning obviously with the underlying conception of‘science’ at work in his remarks which is radically different from Maxwell’s. It is alsoworth pointing out that the irreducible gap discussed by Critchley is one big assumptionfor which more argumentation is required, and that Maxwell, as a matter of fact,discusses at length (in reference to “our single most fundamental problem”). In Maxwell’s conception, ‘science’ could yield explanations (causal or probabilistic, andotherwise, say, functional, teleological explanations) as well as descriptions,clarifications, and elucidations, and thereby lead to different forms and degrees ofvalidation or rather falsification. Furthermore it would be subsumed along withphilosophy, as mentioned earlier, under a broader and richer conception of inquiry, i.e., wisdom-inquiry. It need not however be a complete theory, a theory of everything, asCritchley presumes. Those who reject science totally, rather than constructively andcritically on specific problems and issues, do so at their own risks and perils,obscurantism being the least of them of all. Those who embrace science in any formblindly, irrationally, and uncritically also do so at their own risks and perils, scientismbeing the least of them.
What other reasons could one possibly give or consider for why Maxwell’sviews and proposals has so far failed to get the attention and recognition they deserve?Suppose for the sake of argument that one can draw meaningfully a distinction betweenform and content, i.e., between (1) the manner in which Maxwell presents his ideas anddefends his views, his writing style and rhetorical flourishes, and all thoseidiosyncrasies having to do with the ‘philosophical temperament’ of the author and (2)the actual substance of his statements and arguments, i.e., the proposals he is actuallyputting forth and defending. Can we make the case that one or the other is to be blamedfor the relative of lack of attention and recognition of his work?
So, for example, can we plausibly argue, as some of his critics have done onoccasions, that his narcissistic and selfcentered tendencies, albeit tempered by hints ofselfdeprecating humor (Chapter 5), or his disposition to make absolutist andcategorical judgments, especially when criticizing and dismissing other philosophers’views (Chapters 3, 4 & 5) help to explain why his work did not have the “explosiveimpact” he had hoped and expected in the philosophical and academic community atlarge? I doubt it. First of all, it is our job to be able to sort out the wheat from the chaff,and to disregard or put aside those elements that may distract and prevent us fromgrasping and appreciating the coresubstance of the work. Besides, these tendencies anddispositions seem to have characterized more or less acutely the socalled philosophicaltemperament over the ages. What philosopher of any weight and importance does notseem to think that his or her work constitutes a crucial hinge in the history of thought,delineating thereby a before and after?
I am more inclined to consider a number of other hypotheses, focusing on thecontent, his ideas and proposals, as to why his work has so far not met with the kind ofreception and recognition it deserves. Given the radical and unfashionablecharacteristics of Maxwell’s propositions and views, it is not surprising that they haverun against various trends and fashions in philosophy (dominant schools of thought andmovements, as well as institutional elevations of some approaches over others inphilosophy). In this case, they have run counter to the established AngloAmericananalytic approach, whose focus on the arcane, esoteric and technical analysis ofconcepts has all but rendered it useless in the eyes of Maxwell. They have also runcounter to the establisheddoxain history and philosophy of Science, to thepostmodernist trends which had come to dominate the field of Science & TechnologyStudies, as well as the various approaches in Continental (French) philosophy whichhad taken certain quarters of academia by storm (e.g., Phenomenology, Hermeneutics,Structuralism, Poststructuralism, Deconstructionism, Archeology of Knowledge,Genealogy of Power/Knowledge, Critical Theory, NeoMarxism, Speculative Realism,Dialectical Materialism, Hedonism, etc.).
In this context, could a more likely explanation for the relative neglect ofMaxwell’s work be due to the institutional inertia and entrenched (disciplinary)conservatism of the academic world and the philosophical community in particular? Is it possible that too many bad habits of thought and entrenched prejudices prevent mostacademics and philosophers from escaping the very coordinates of the frameworks andsets of assumptions under which they labor, making it difficult for them to appreciate the bold and innovative character of his proposals? Is it possible that, before we canlearn how to do what Maxwell proposes, we may have to engage first and as aprecondition in some fair amount of unlearning, so as to throw off our conceptual and theoretical shackles, so to speak? If this were to be case, then his proposal wouldcertainly qualify as original and controversial. The readers would have to decide forthemselves on these questions.
Could the ‘disciplinary matrix’ within which Maxwell’s articulated anddeveloped his views and proposals also serve to explain at least in part why his workhas so far failed to get across? As we know, his views and proposals are squarelysituated within the History and Philosophy of Science at the intersection with Science &Technologies Studies. Both of these fields are characterized by a specialized technicaljargon in addition to the already challenging philosophical one. This may arguablymake Maxwell’s views difficult to access and perhaps impenetrable, or in any case helpto explain his failure to reach a larger audience or readership –even within the fieldofphilosophy. But such considerations are hardly convincing given that his writings arefor the most part straightforward and clear, rigorous and pedagogical when need be.They should therefore be accessible to anyone (moderately educated and literate) whowishes to read through them and ponder their merits for themselves.
Perhaps a more compelling explanation can be found in the clash or dissonancebetween the politically radical dimension of his proposals and their more sober andanalytical formulations due to his original ‘disciplinary matrix.’ Can this factorcondemn his work to a posthumous recognition, as is unfortunately often the case in philosophy? Ideas may be recognized as true and valid, relevant and worthwhile, butacting on them (to turn them into reality) is beyond what can be countenanced by thecurrent system in place. Perhaps we are here confronted with a paradox in that hisfailure may be due to his success: his ideas and proposals are in fact more widelyaccepted (at least in principle, theoretically) than he seems to realize. Are we more Maxwellian than we think we are?
Whatever the case may be in the final analysis, Maxwell’s latest book as wellasin his work for the past 40 years (see detailed bibliography, 1804) are certainly relevantto our efforts in successfully confronting and solving some of the major(global/glocal/local) problems afflicting our world. And philosophy, properly reconstrued and reconstructed, has a crucial role to play in bringing about the necessarychanges in the university, in education more generally, in society, and in the world atlarge.
Referências
CIOFFI, F. (1998) Wittgenstein on Freud and Frazer.Cambridge: Cambridge University Press.
CRITCHLEY, S. (2015) ‘There is no theory of everything’. The Stone (New York Times), September12, 2015.
DELEUZE, G. And F. Guattari (1994) What is philosophy?London: Verso Books.
FERRARI, M. And G. Potworowski (2008) Teaching for wisdom: Crosscultural perspectives onfostering wisdom. Springer: Science & Business Media, Philosophy.
LIPMAN, M. (1974). Harry Stottlemeier’s discovery. New Jersey: Institute for the Advancement ofPhilosophy for Children.
LONGINO, H. (1990) Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry.NJ: Princeton University Press.
MAXWELL, N. (1984) From knowledge to wisdom: A revolution in the aims and methods of science. Oxford: Blackwell.
MAXWELL, N. (2007) From knowledge to wisdom: A revolution for science and the humanities(Expanded 2ndEd). London: Pentire Press.
MENGEL, T. (2010) ‘Learning that matters – Discovery of meaning and development of wisdom inundergraduate education’.Collected Essays on Learning and Teaching(CELT), Vol. III,pp.119123.
STERNBERG, R.J. (2001). ‘Why schools should teach for wisdom: The balance theory of wisdom ineducational settings’.Educational Psychologist 36(4): 227245.
Nader N. Chokr
[DR]Ontologia e dramma: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre a confronto – ALOI (ARF)
ALOI, Luca. Ontologia e dramma: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre a confronto. Prefácio de Franco Riva. Milano: Albo Versorio, 2014. Resenha de: SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. Ontologia e drama: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre em tête-à tête. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.3, n.1, p.171-174, Jan./jun. 2016.
Se há dois autores em que, filosofia e teatro harmoniosamente se mesclam, é Gabriel Marcel (18891973) e Jean Paul Sartre (19051980). Ambos transfiguram, no cenário da cultura contemporânea, um estilo realmente único para não dizer paradigmático de interrogação da condição humana. E isso, seja ao advogar as próprias teses, seja ao dar vida aos seus personagens. Partilham, em grande medida, das questões candentes que, peremptoriamente, assolariam, de maneira crucial, um momento decisivo na história do século passado: o período entreguerras. Aliás, para eles, a guerra jamais fora um evento geopolítico circunscrito, apenas, numa escala de interesses macroeconômica. Ao contrário, a guerra assume, do ponto de vista, sobretudo, fenomenológico, um agenciamento próprio como questão, o que se torna ,pois, evidente, tanto em virtude da atividade filosófica quanto da multifaceta da produção estética (dramatúrgica, literária, musical) que um e outro dão vazão em suas reflexões. Nesse contexto, o legado deixado por suas obras é, indiscutivelmente, de um valor teórico-literário emblemático. Fato é que, muito embora Sartre tenha sido uma figura que “roubara a cena” intelectual de então (sem falar de sua carismática personalidade política que, midiaticamente, passa cobrir parte expressiva da segunda metade de século), nem por isso, a presença de Marcel deixa de ocupar um espaço pujante e decisivo. Este último é um autor que também terá o seu público e os seus leitores. Cabe atentar, antes de tudo, que ele é um mestre de cuja inspiração afeta toda uma geração de intelectuais do porte de Merleau- Ponty, Ricœur, Lévinas, e, é claro, o próprio Sartre. É Marcel, por exemplo, quem põe na ordem do dia, pela primeira vez, a noção de engajamento como signo de um debate que marcaria, para sempre, o espírito da época; espírito este encarnado numa nova forma de se fazer filosofia: uma filosofia “militante” embebida no “concreto”. Trata-se de um modus operandi que toma corpo como estilo único de reflexão instituindo, pois, em solo francês, uma nova tradição de pensamento: a tradição fenomenológicoexistencial.
É esse panorama mais geral que Luca Aloi abre emOntologia e dramma:Gabriel Marcel e JeanPaul Sartre a confronto. Com Prefácio de Franco Riva, editado em 2014 pela Albo Versorio de Milão, o livro transcende qualquer quadro meramente comparativo ou descritivo. Ele se propõe, antes, como incisivamente provocativo. O autor traz à cena as figuras de Marcel e Sartre como expressões de um alquímico experimento na seara da tradição em questão. Partindo de tal registro, Aloi põe na balança, dois pesos e duas medidas dessa viva e fértil cultura intelectual do século XX: uma herança, ainda, por ser mais bem inventariada. Nessa retrospectiva, o trabalho de Aloi reaviva o caloroso colóquio entre os dois pensadores travado num momento efervescente das mais variantes posições.
Em regra, malgrado a complexa análise de conjuntura balanceada nesse trabalho de fôlego, Aloi incita, no calor da discussão, um verdadeiro “fogo cruzado” que se propaga em múltiplas “labaredas”. Cada capítulo do livro é como uma “lenha na fogueira” a mais … A primeira chama já é acesa com a insidiosa polêmica de O Existencialismo é um Humanismo?, de 1946; conferência em que Sartre, deliberadamente, alcunha o termo existencialismo não só à própria obra, mas a um circuito mais amplo de autores. A repercussão do texto que simbolicamente ressoa mais como um manifesto tem, de imediato, uma recepção nada simpática por parte daqueles que são associados à signatária terminologia como Jaspers, Heidegger e o próprio Marcel. Este, veementemente, protesta, julgando que “o pensamento existencial degenera em existencialismo” (Marcel, La dignité humaine. Paris: Aubier, 1964, p. 10), tomando ainda partido, ao lado de Heidegger, contra o professo “humanismo” sartriano. Isso tudo, sem falar de sua indiscreta ojeriza a certas aderências lexicais como é o caso dos “ismos” comumente sufixados em muitas posições teóricas ou ideológicas. No fundo, essa querela deflagraria apenas a ponta de um iceberg cuja camada contém, por certo, dimensões maiores. Aloi “quebra o gelo” ao situar Marcel e Sartre como autores, em radical dissenso, o que desde já, também sela o que será a tônica do pensamento concreto em curso: seu caráter dissidente, multiforme e, por isso mesmo, heterodoxo.
Não há, portanto, como permanecer indiferente, retrata Eloi, a essa “constante frequentação polêmica com Sartre” (2014, p. 17). A próxima lenha na fogueira agora é o solipsismo. Será que Sartre realmente o supera? Ora, a sua posição tem sido, por vezes, manifesta: “meu pecado original é a existência do outro”, escreve em L’ Être et le Néant.Paris: Gallimard, 1943, p. 321. O outro, enquanto olhar, se torna “minha transcendência transcendida” (Ibidem) sendo, pois, a própria “morte oculta de minhas possibilidades” (Idem, 1943, p. 323). Ele é, ao mesmo tempo, “como todos os utensílios, um obstáculo e um meio. Obstáculo, porque o obrigará, certamente, a nova sações (avançar sobre mim, acender sua lanterna). Meio, porque, uma vez descoberto em um beco sem saída, ‘sou capturado’” (Ibidem). Em tais condições, “já não sou dono dasituação” (Ibidem): a aparição do outro desvela um aspecto não desejado por mim. É esta contingência que constitui, horrorosamente, “a parte do diabo” (Idem, 1943, p.324): ela me expõe à angústia inalienável, diante da qual, “o inferno são os outros” (Idem,Huis Clos. Paris: Gallimard, 1945, p. 122). Desse modo, “pelo olhar do outro, eu vivo como que fixado no meio do mundo, como em perigo, numa situação irremediável” (Idem, 1943, p. 327). Trata-se de um “perigo” que me ronda perpetuamente: “o outro está presente agora por toda parte, debaixo e acima de mim” (Idem, 1943, p. 336). Em face dessa incômoda presença, será preciso, diversamente de Husserl, que “o outro não deve ser procurado primeiro no mundo, mas, sim, do lado da consciência” (Idem, 1943, p. 332). Ora, uma vez posto nessa relação lateral, cartesianamente imputada, “é curioso observar o quanto o pensamento de Sartre tende a fechar-se num perfeito solipsismo”, avalia Marcel (Le déclin de la sagesse. Paris, 1954, p. 67). Nessa doutrina, outrem se reduz ao nível de um problema: a alteridade é captada sob o olhar medusado de um ego nadificante, objetivante. É preciso avançar para além dessa premissa monolítica e petrificante, realocando, pois, a intersubjetividade para outro plano, abdicado por Sartre: o da situação humana, in concreto. Marcel, então, inflama o debate: a possibilidade da percepção de outrem se transfigura como mistério. Outrem é mistério porque nele e com ele estou inexoravelmente engajado, numa só participação ontológica. Disso resulta a premente necessidade de despaginar o luciférico capítulo sartriano, parodiando-a inversamente: “o inferno é o eu” (Aloi, 2014, p. 110). Afinal, “ser é ‘ser com’, existir é ‘co-existir’” (Apud Aloi, 2014, p. 139); coexistência que atesta “o mundo como dimensão intersubjetiva originária” (Aloi,2014, p. 142).
É partindo desse argumento que o tema da liberdade toma forte impulso. Tal como uma brasa viva, a lenha da liberdade inflama outro confronto à queima-roupa entre os filósofos. No frigir dos ovos, qual o problema? O ideal sartriano da liberdade como negatividade. Esse ideal, solipsista por princípio, é o que assenta a radical impermeabilidade entre o ser e o nada, deflagrada pelo caráter inerentemente negativo da existência. Disso emana uma noção niilista de liberdade, sintomaticamente cara a Sartre: o homem está, em absoluto, condenado a ser livre. Eis, em prima facie, o “mito central do sartrismo: uma liberdade edificada no nada” (Aloi, 2014, p. 46). É que, para Sartre, “estamos condenados a ser livres; a liberdade é o nosso destino, é a nossa servidão, mais que a nossa conquista […]. Ela é aqui concebida a partir de uma falta, não de uma plenitude” (Marcel,Homo viator. Paris: Association Présence de GabrielMarcel, 1998, p. 231). Trata-se de uma “falta” que, “do ponto de vista do cogito, é consciência (de) falta” (Ibidem). Assim, mais uma vez, chega-se a outro beco sem saída, como nota Aloi (2014, p. 40): “A minha liberdade se encontra com outra liberdade no signo da negação e da limitação recíproca: a natureza das relações entre eu e outrem se revela como intrinsecamente conflituosa”. O que esperar, para além dessa teoria do conflito? Outro modo de existência livre, ou seja, uma liberdade situada, imersa, originariamente, na própria abertura ao mundo e a outrem. Por isso, a referida “liberdade que defendemos in extremis, não é uma liberdade prometeica, não é a liberdade de um ser que seria ou que pretendia ser para si” (Marcel, Les hommes contrel’humain. Paris: Editions Universitaires, 1991, p. 151), mas “uma liberdade que seinsere na trama mesma de nossa existência” (Idem, 1964, p. 183).
Posto isso, o ponto de fricção com Sartre mal parece ainda ter fim. Ademais, é a candente questão do engajamento que passa a arder em chamas. Em sua produção literário-dramatúrgica, Sartre acentua o caráter infundado e absurdo da existência. Como em A Náusea, a contingência radical permanece um ideal irrealizável, um objetivo completamente fora de alcance. Na contramão dessa tese, Marcel, uma vez mais, toma partido, optando por outra via: a de uma “fenomenologia da esperança”. Oque é a esperança? Ela é interrogada a partir de seu enraizamento e transcendência. “A esperança não tem, portanto, nada a ver com um otimismo de matriz ‘iluminista’”(Aloi, 2014, p. 101), ou, o que é pior, uma atitude passivamente estática. Ela é “tensão contínua”, “exposição, risco, impulso” (Aloi, 2014, p. 109), inflamando-se, pois, na militância do concreto, isto é, em meio à itinerância humana; aquela do homo viator conforme metaforiza Marcel pondo a nu, visceralmente, o que o discurso filosófico é incapaz, de per se, expor. Aqui, sem maiores cerimônias, a criação dramática e a práxisfilosófica se solicitam. O ontológico se fenomenaliza. Entre o “ser” e o “aparecer” desconstrói-se qualquer distinção ou sobreposição. Como na ágora grega, o discurso se inflama tragicamente, maieuticamente. O teatro se torna o solo, o húmus desde onde a reflexão se prepara e se cultiva. O drama é esse experimento, por excelência, que perfaza comunhão viva na qual se radica toda participação, todo engajamento, toda ação. Sartre avançara em seu projeto, mas, em virtude do recalcitrante cartesianismo, permanecera ainda prisioneiro de uma forma de humanismo, egologicamente, centrada. Ora, é tal humanismo que põe em risco a própria noção de engajamento, deixando ao sabor dos acontecimentos o sentido último da ação, imputada por certa cartilha ou plataforma político-ideológica. Marcel vira o jogo: é preciso fazer a passagem do “espírito de abstração” (excludente, por princípio) para outro nível: o da participação ontológica (em rigor, inclusiva).
Afora essas discrepâncias teóricas, um dos aspectos retratados pelo livro de Aloi é o fator de impacto da produção dramatúrgica tanto de Marcel quanto de Sartre. A projeção sartriana, nesse quesito, é, sem dúvida, patente, o que, por outro lado, cabe observar que “Marcel realiza uma intensa atividade de leitor e crítico teatral […] sem jamais deixar de reconhecer os méritos de Sartre como dramaturgo de quem, inclusive, elogia um talento extraordinário” (Aloi, 2014, p. 71). Se Marcel poupa a arte dramática de ser dogmática, apologética ou um “teatro de tese”, é para salvaguardar o que de mais reside nesta de real e de concreto. Um teatro de tamanho peso jamais se furta ao trágico. É essa lição que a criação estética de ambos revela, extraordinariamente, de catártico. O drama desvela o seu ardil: via o personagem, toca-nos intimamente, ontologicamente. Atrama dramática inflama profundamente, pondo o dedo na ferida de nossos personalismos, narcisismos, misticismos. Essa é a razão pela qual o trabalho de Aloi também não ignora o lugar do dramaturgo como tema constante da reflexão de Marcel. O intérprete italiano mostra o quanto, para o pensador francês, o autor deve-se cuidar para não intervir de maneira invasiva em seus personagens. Ao diretor, digno desse nome, convém manter, tão somente, certa “presença de ausência”, sem deixar de ser perspectivista ou de promover pontos de vista múltiplos.
Afinal, se o livro de Aloi é “incendiário” é porque, no fundo, ele também seja, propositivamente, heraclitiano. Como a filosofia, o teatro também enuncia um logos, um fogo vivo que não se apaga. O que o leitor presencia aí é um fogo ateado, a quatro mãos sem, no entanto, prescindir de suas origens gregas. Sob esse prisma, longe de ser uma simples aventura piromaníaca, Ontologia e drama exerce, com primor, uma práxis paradoxal: ao mesmo tempo em que tudo consome, como no fogo de Heráclito, tudo renova. A noção de “confronto” cotejada no subtítulo da proposta exprime bem não só uma dissonância, mas uma consonância digna de audiência. Como bem adverte seu autor, “esse confronto não fornece da relação Marcel Sartre uma interpretação excessivamente rígida e esquemática […] haja vista a sua complexidade interna” (Aloi,2014, p. 100); complexidade que, para além de uma “guerra dos opostos”, põe em cena uma harmonia essencial que faz do filosofar e da dramaturgia dois gestos concêntricos.
Claudinei Aparecido de Freitas da Silva – PósDoutor em Filosofia. Professor dos Cursos de Graduação e de PósGraduação (Stricto Sensu) em Filosofia da UNIOESTE – Campus Toledo, com Estágio PósDoutoral pela Université Paris 1 – PanthéonSorbonne (2011/2012). Escreveu “A carnalidade da reflexão: ipseidade e alteridade em Merleau-Ponty” (São Leopoldo, RS, Nova Harmonia, 2009) e “A natureza primordial: Merleau-Ponty e o ‘logos do mundo estético’” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2010). Organizou “Encarnação e transcendência: Gabriel Marcel, 40 anos depois” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2013), “MerleauPonty em Florianópolis” (Porto Alegre, FI, 2015) e “Kurt Goldstein: psiquiatria e fenomenologia” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2015). E-mail: m@itlo: [email protected]
[DR]Estabelecidos e outsiders no Ocidente tardo antigo e medieval / Ágora / 2016
Com muita satisfação apresento o dossiê “Estabelecidos e outsiders no mundo tardo antigo e medieval”, no qual nos propomos a homenagear o Dr. Celso Taveira que está se aposentando da Ufop, universidade com a qual temos relações especiais. A homenagem a este emérito professor, pesquisador e ser humano raro, deixei ao Dr. Ruy de Oliveira Andrade Filho (Unesp – Campus de Assis).
Proponho-me apresentar os textos recebidos e aprovados para o dossiê. Eles foram distribuídos de maneira cronológica: um texto de história antiga, que optamos por aceitar, mesmo que amplie o escopo da proposta inicial, por acharmos que enriqueceria nossos estudos com o mesmo; no recorte cronológico da Antiguidade Tardia temos oito (8) artigos; já no recorte cronológico do medievo temos seis (6) artigos, totalizando quinze (15) artigos.
O artigo localizado no período da Antiguidade é de autoria do Dr. Osvaldo Luiz Ribeiro (Faculdades Unidas – Vitória/ES) denominado “Yahweh como um deus outsider: duas hipóteses explicativas para a introdução do culto de Yahweh em Israel”, que analisa as fontes escritas e a cultura material e direciona a reflexão para a hipótese de que o deus de Israel e Judá seja um outsider, importado de povos vizinhos.
Antiguidade Tardia
O artigo que abre este período é de autoria do Dr. Ronaldo Amaral (UFSL – Sete Lagoas/MS) denominado “As raízes platônicas do Mal como princípio moral e antropológico no cristianismo da Antiguidade Tardia”, que analisa as concepções do mal no mundo tardo-antigo e a construção da presença do Diabo no mesmo período.
O segundo artigo é de dupla autoria, sendo escrito por Dra. Renata Rozental Sancovsky e sua doutoranda, Cristiane Vargas Guimarães (ambas da UFRRJ – Seropédia/ RJ), denominado “O estranho: a construção da marginalização judaica na narrativa de De fide catholica de Isidoro de Sevilha”. As autoras analisam a construção de um preconceito relativo ao judeu na obra isidoriana e direcionam a reflexão para o estabelecimento de um fenômeno de longa duração, que seria o antijudaísmo medieval e especificamente ibérico.
O terceiro artigo, de autoria de Dra. Raquel de Fátima Parmegiani (UFAL – Maceió/ AL), denominado “Jeronimo de Estridão: vida à margem?”, analisa a vida e a obra do exegeta e tradutor da Bíblia, enfocando os problemas desta tradução e as críticas desta no seu contexto e na posteridade.
O quarto artigo é de autoria de um recém-doutor, José Mário Gonçalves (Faculdades Unidas/Ufes – Vitória/ES), e intitula-se “O conflito entre católicos e donatistas no Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem de Agostinho de Hipona”. No texto, o autor analisa as relações entre o bispo Agostinho e os hereges donatistas no âmbito do Norte da África, no Baixo Império, sob o signo de intensa repressão imperial aos outsiders.
O quinto artigo, de autoria de um doutorando, Fabiano Souza Coelho (UFRJRJ), denominado “Testemunho de Agostinho e Jerônimo sobre as mulheres na Antiguidade Tardia a partir de missivas cristãs” analisa as representações do feminino na obra destes dois Padres da Igreja no período tardo-antigo e a influência destas percepções no medievo.
O sexto artigo, denominado “A celebração de um novo tempo: o ideal unitário na Crônica de João de Bíclaro”, é de autoria de um doutorando, Luís Eduardo Formentini (Ufes/PPGHis – Vitória/ES), o qual analisa a obra do Biclarense e enfoca os ideais de unidade entre a monarquia e a igreja no reino visigótico de Toledo, no período próximo ao III concílio de Toledo (589), sob o prisma deste clérigo e cronista.
O sétimo artigo é de autoria de uma mestra, Cynthia Valente (NEMED/UFPR – Curitiba/PR) e intiula-se “O judeu, outsider no reino visigodo de Toledo”. O texto aborda a construção da representação negativa do judeu no reino visigótico de Toledo, com um recorte no período que sucede o III concílio de Toledo (589), a partir de obras do episcopado e da legislação canônica ou monárquica.
O oitavo artigo, de autoria de um mestrando, Raphael Leite Reis (Ufes/PPGHis – Vitória/ES), denominado “O epistolário agostiniano e os concílios de Cartago e de Mileve (416 d.C.): uma polêmica sobre identidade e diferença, heresia e ortodoxia” analisa as relações de poder entre o cristianismo católico e uma das vertentes, definidas pelos “estabelecidos”, como heréticas: o pelagianismo em suas diversas manifestações no século VI.
Este conjunto traz uma diversidade de temas com ênfase nas relações entre estabelecidos, em especial a Igreja e outsiders, a saber, judeus, hereges, e outros.
Período medieval
Este conjunto traz seis artigos, também variados e multifacetados sobre as relações entre estabelecidos e outsiders no período medieval.
O primeiro artigo, de autoria da Dra. Ana Paula Tavares Magalhães (USP – São Paulo/SP), denominado “A ordem franciscana e a sociedade cristã: centro, periferia e controvérsia” analisa a transição da ordem franciscana, da condição de outsider e motivadora de crítica ao poder papal e pontifício, para ser inserida no sistema e se tornar estabelecida e defensora da hierarquia, da ortodoxia e do sistema.
O segundo artigo, de autoria da Dra. Adriana Zierer (UEMA – São Luís/MA) denominado “Religiosidade, perdição da alma e salvação na sociedade portuguesa medieval (séc. XIV-XVI)” analisa a lenta evolução dos conceitos de pecado, desvio e danação na sociedade medieval portuguesa e que herdamos através de nossas raízes portuguesas.
O terceiro artigo é de autoria da doutoranda Kellen Jacobsen Follador (Ufes/PPGHis – Vitória/ES) e intitula-se “Os judeus como a personificação do mal: a relação entre os judeus e os pecados capitais no medievo cristão”. Este artigo dialoga de maneira interessante com o segundo artigo, ao refletir sobre a forma que os estabelecidos, estigmatizam uma minoria, neste caso os judeus, espelhando nestes um amplo rol de pecados e catalisando uma imagem ou representação negativa destes na sociedade castelhana.
O quarto artigo, de autoria da doutoranda Ludmila Noeme Santos Portela (Ufes/ PPGHis – Vitória/ES), denominado “Estigma e tolerância: Afonso X e os judeus em Castela (séc. XIII)” analisa as relações de poder entre o monarca letrado e culto com a minoria judaica no reino de Leão e Castela, no período que seguiu as amplas conquistas de Fernando III e de seu filho e herdeiro Afonso X. Reflete, também, sobre as contradições da lei e da justiça, da necessidade dos judeus na administração do reino ampliado pelo avanço na Andaluzia, e a mescla de estigma e tolerância.
O quinto artigo, de autoria da mestranda Anny Barcelos Mazioli (Ufes/PPGHis – Vitória/ES), denominado “Corpo, sexo, pecado e condenação no baixo-medievo: o papel das confissões na efetivação do domínio clerical sobre a vida dos casados” reflete sobre o controle do corpo, do desejo e da sexualidade dos casados leigos pelo estamento clerical. Analisa as políticas de controle e repressão efetivadas sob o signo de que o sexo é permitido apenas entre os cônjuges, se tiver a intenção da reprodução.
O sexto e último artigo é de autoria do Dr. Sergio Alberto Feldman (Ufes/ PPGHis – Vitória/ES), coordenador e editor deste dossiê, denominado “Contaminação: a lenta construção do estigma judaico numa análise de longa duração”, que analisa a percepção dos judeus como uma minoria estigmatizada e que gera contaminação na sociedade majoritária cristã, através de uma reflexão de longa duração.
Sergio Alberto Feldman– Organizador.
[DR]História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840) | Matías M. Molina
Em 1863, Manuel Duarte Moreira de Azevedo, bacharel em letras, doutor em medicina, membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e mais conhecido por Dr. Moreira de Azevedo, publicou, na revista do IHGB, o texto Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio de Janeiro, um dos primeiros, senão, o primeiro, que explorou detalhadamente as publicações da imprensa carioca daquele tempo. O escrito, que, muito provavelmente, foi o único do Oitocentos que se dedicou a tal empreitada, teve como principal objetivo elencar e comentar os periódicos publicados na capital imperial pela tipografia da Impressão Régia ou pelas tipografias particulares instaladas na corte, entre os anos de 1808 e 1863. Depois dele, apenas o historiador Alfredo de Carvalho, aproveitando-se da comemoração do centenário da imprensa no país, publicou, em 1908, Gênese e Progressos da Imprensa Periódica do Brasil, também na revista do IHGB. Diferentemente do Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio de Janeiro que se ocupou apenas dos periódicos da cidade do Rio de Janeiro, o estudo de Carvalho foi, e continua sendo considerado pela historiografia brasileira como o primeiro estudo que se comprometeu com a audaciosa tarefa de listar todos os periódicos produzidos no Brasil naqueles primeiros cem anos de impressos, independentemente da região em que foram publicados.
Trabalhos abrangentes como o pretendido por Alfredo de Carvalho no começo do século XX ocuparam pouco espaço na historiografia brasileira. No decorrer do século XX e no início do século XXI, a maior parte das obras teve como objeto apenas um determinado periódico, como os estudos de Nelson Dimas Filhos, Jornal do Comércio: a notícia dia a dia (1827-1887), de 1972, e de Maria Beatriz Nizza da Silva, A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), de 2007, ou se dedicaram aos periódicos publicados de uma certa região, como o de Gondim da Fonseca, Biografia do jornalismo carioca, de 1947, e o de José de Freitas Nobre, História da imprensa de São Paulo, de 1950.
Ressalva-se nesse habitual da historiografia, todavia, o estudo de Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil, publicado em 1966. A obra, além de listar um grande número de periódicos publicados no país desde a época colonial até meados do século XX, realiza uma análise do desenvolvimento e da produção dos impressos sob a “óptica da luta de classes”, isto é, por um viés marxista. A imprensa, na visão de Sodré, sempre teria sido utilizada como um meio de comunicação de massas e, assim, sempre funcionou como um aparelho de sujeição dos trabalhadores. Na época de seu lançamento a obra ocupou uma lacuna da historiografia brasileira, que desde o início do século não tinha trabalhos dedicados a tentar realizar uma história mais completa dos impressos produzidos no Brasil. A História da Imprensa no Brasil de Sodré, nesse sentido, foi muito bem recebida por aqueles estudiosos da segunda metade do século XX e foi considerada por muitos pesquisadores, durante um bom tempo – e por alguns até hoje –, o principal trabalho sobre a história da imprensa do Brasil, principalmente em razão do grande levantamento de Sodré acerca dos títulos produzidos. Contudo, o estudo de Sodré encontra-se, de certo modo, datado dentro da atual historiografia brasileira e a necessidade de uma história da imprensa do Brasil, que contemple os aspectos culturais e sociais mais abrangentes, permanece sob demanda.
A historiografia brasileira, em vista disso, desde a década de sessenta do século passado carecia de uma obra que se propusesse a realizar um estudo sobre os impressos publicados no Brasil, da colônia à contemporaneidade, a partir de um viés mais cultural e social. É nesse espaço desabitado, pois, que se insere o estudo do jornalista Matías M. Molina,[1] História dos Jornais no Brasil. Dada à ambição do trabalho, Molina propôs dividir o estudo em três volumes, pois, segundo ele mesmo justificou, dar conta dos impressos publicados nesse longo espaço de tempo é uma tarefa que requer muitas páginas escritas. Este alto número de impressos, aliás, interferiu diretamente na estrutura de seu projeto, que precisou ser repensado e dividido diversas vezes. Por esse motivo, o estudo de Molina se concentrou “apenas nos jornais de informação geral. Ficaram de fora os diários especializados, como os esportivos e econômicos, e os jornais em língua estrangeira […]”.
Outro fator que, segundo o jornalista, também contribuiu para a estrutura de seu projeto, foi o livro do professor da universidade norte-americana de Princeton, Paul Starr, The Creation of the Media. O livro do americano pretende mostrar “de que maneira algumas instituições como o Correios, a expansão do ensino, a introdução do telégrafo e outras tecnologias” foram importantes para a criação e a evolução dos meios de comunicação nos Estados Unidos. Inspirado por este trabalho, Molina adaptou “a maneira de Starr ver a criação da mídia em seu país para tentar compreender melhor as condições em que nasceram e desenvolveram os jornais brasileiros”. Por meio de uma pesquisa minuciosa, Molina tem como objetivo realizar uma história dos jornais brasileiros, ou seja, seu estudo “não tenta adivinhar” o futuro de um jornal, “não antecipa seu fim nem assegura que terão vida eterna. Limita-se a contar a história dos jornais no contexto de uma época. Dezenas deles”. Não se encaminha, portanto, no sentido de discutir o destino dos jornais, ou melhor, no sentido de discorrer sobre uma história dos jornais para desnudar o futuro dos impressos.
O primeiro livro, do que promete ser um vasto estudo, História dos Jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840), foi publicado no início de 2015 e analisa, de maneira geral, a chegada das primeiras tipografias, os primeiros impressos publicados e alguns homens das letras que se envolveram com as artes gráficas. A obra se encontra dividida em quatro partes. Intitulada A era colonial, a primeira parte do estudo destaca a tipografia e a imprensa da colônia com intuito de, segundo o autor, compreender melhor os porquês de o Brasil só ter conseguido firmar uma imprensa nacional apenas no século XIX. Na segunda, A corte no Brasil, Molina explora o recorte que ele chamou como o “período de transição”, ou seja, o momento marcado pela vinda da Corte portuguesa, pela instalação da Impressão Régia e pela produção dos primeiros impressos. Jornais na independência e na regência é o título da terceira parte deste volume e, como sugere, tem como proposta investigar o envolvimento e o posicionamento de algumas folhas diante do governo, em tempos, vale lembrar, de conturbados debates que tomavam as ruas, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, e tinha os jornais como principal veículo de informação. A quarta e última parte, Infraestrutura, discute a respeito dos “fatores que condicionaram o desenvolvimento da imprensa e ajuda a explicar a baixa penetração dos jornais no Brasil”, nos séculos XVI, XVII, XVIII até meados do XIX, mais especificamente até 1840.
Molina abre espaço, neste primeiro volume, para uma reflexão a respeito da história dos impressos do Brasil na época colonial. Não por achar que a colônia teve uma importante produção de impressos, mas para tentar refletir sobre os porquês de o país não ter uma imprensa, ou mesmo, uma tipografia, nos seus primeiros séculos de vida – uma vez que o Brasil, “três séculos e meio depois das primeiras obras estampadas por Gutemberg”, só desempenhou tal atividade a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa. Destaca Molina que não foi proibida oficialmente no Brasil a instalação de tipografias nem a produção de impressos durante a colônia, mas o fato – simples até – foi que as terras brasileiras não eram propícias para o desenvolvimento das artes gráficas. Com uma minguada população, praticamente toda analfabeta, e um grande território, a colônia de Portugal não recebia incentivos nem para a produção de pequenos folhetos. No período inicial, destarte, a instalação de uma tipografia poderia, de acordo com Molina, “ser considerada supérflua”, mas com o aumento da população e o aumento da dependência dos portugueses em relação ao Brasil, a ideia passou a ser aceita e, aos poucos, ganhou corpo.
Logo na primeira década do século XVII, quando as capitanias do Norte ficaram nas mãos dos holandeses, isto é, da Companhia das Índias Ocidentais, e diferentes povos imigraram para essa região, o plano para a existência aqui no Brasil de uma tipografia passou a ser concreto. O principal governante deste domínio, o conde João Maurício de Nassau pediu, várias vezes durante seu governo, que fosse instalada uma tipografia naquela região com o argumento de que a impressão de documentos naquelas terras seria benéfica para a sua administração e, consequentemente, para a manutenção do domínio. Todavia, com a expulsão dos holandeses e a retomada do território pelos portugueses, em 1654, o projeto de Maurício de Nassau não foi executado. Os portugueses, como era de se esperar, e dado seu posicionamento frente a esse assunto, engavetaram rapidamente a iniciativa do conde. Outra tentativa de se instalar uma tipografia no Brasil foi a do português Antônio Isidoro da Fonseca que, em meados do século XVIII, se acomodou no Rio de Janeiro com seus equipamentos e até chegou a imprimir algumas obras. A Corte de Lisboa, infelizmente, não aprovou a ação e, além de determinar o retorno de Isidoro da Fonseca para Portugal em razão desse episódio, passou a proibir a instalação de tipografias bem como a produção dos impressos na colônia. Nota-se, nesse sentido, segundo Molina, que na colônia a não existência de uma lei que proibisse a impressão não significava que ela era permitida, pois sempre que existia alguma iniciativa de impressão ela era rapidamente coibida pelos portugueses.
A vinda da corte portuguesa para as terras do Brasil ocasionou variadas mudanças na administração dos portugueses e a instauração de determinados órgãos até então inexistentes na colônia, como a imprensa. Com a instalação, em 1808, da Impressão Régia no Brasil, a proibição de fabricação de impressos na colônia foi deixada de lado e substituída por investimentos do governo português: nessa época, o Brasil recebeu um variado maquinário para que fossem desenvolvidas as artes gráficas em suas terras. Molina, levando em consideração tais mudanças ocasionadas com a presença da corte no Brasil, mapeou os principais jornais que começaram a ser publicados pela Impressão Régia ou por tipografias particulares, que tinham a autorização do governo.
Destacou, assim, impressos variados, tais como a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), a publicar artigos que se posicionavam de forma favorável ou contrária ao governo de Portugal no Brasil.
Todavia, os jornais voltados para as discussões nos momentos da Independência ou da Regência tiveram um destaque especial na terceira parte deste volume. Foram apresentados primeiramente os jornais do Rio de Janeiro contrários à Independência, como o Conciliador do Reino Unido (1821) de José da Silva Lisboa, que, segundo Molina, não se omitia em defender a união entre os reinos de Portugal e Brasil. E, em seguida, um dos jornais que mais debateram sobre a possibilidade de o Brasil ser ou não um Império: O Republico, que começou a ser publicado durante um ano antes do início das regências, em 1830, mas que saiu por diversas vezes até 1855. Outros jornais publicados na cidade do Rio de Janeiro, que tiveram importante participação na história da imprensa do Brasil receberam igual atenção nesta parte do livro, tais como: o Correio do Rio de Janeiro (1822-1823), o Diário do Rio de Janeiro (1821-1959/1860- 1878), o Jornal do Commercio (1827-atual) e A Aurora Fluminense (1827-1835). Destacase, ainda, a presença de alguns jornais baianos, pernambucanos e, também, de outras províncias do país como, por exemplo, os do Rio de Grande do Sul.
O problema de maior relevo na história da imprensa nesse período apontado por Molina, na última parte de seu livro, foi a contradição entre os jornais terem sido importantes instrumentos na redefinição da vida social e política do país, mas, ao mesmo tempo, pouco lidos pelos brasileiros. Molina pontua, desse modo, as dificuldades da produção dos impressos: o maquinário ultrapassado, o grande número de analfabetos da população brasileira, as dificuldades de transportes, o valor elevado dos impressos, entre outros. Molina evidencia que as adversidades encontradas na fabricação das folhas periódicas fizeram que a mesma elite letrada que produzia os impressos era também quem os comprava.
Molina oferece nesse volume que, como mencionado, integrará futuramente um estudo de maior fôlego, uma análise minuciosa sobre o que a presença ou ausência de impressos pode revelar sobre história da imprensa brasileira. Destaca, sobretudo, as dificuldades de se manter a publicação dos jornais e a importante participação que eles tiveram na vida política e social do Brasil, independentemente de sua duração ou de sua posição ideológica. Em suma, com uma escrita agradável, uma leitura rigorosa das fontes e uma análise que inclui diferentes aspectos, a obra de Molina contribui para diminuir a falta desse tipo de estudo na historiografia brasileira e deixa estudiosos e interessados à espera dos próximos volumes.
Notas
1. Matías M. Molina também é autor de Os melhores jornais do mundo: uma visão da imprensa nacional (2007), de vários artigos publicados no Valor Econômico, entre outros.
Referências
AZEVEDO, Dr. Moreira de. Origem e desenvolvimento da imprensa no Rio de Janeiro.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: B. L.
Garnier, t. XXVIII, v. 2, 1865, p. 169-224.
CARVALHO, Alfredo de. Gênese e progressos da imprensa periódica no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, parte I, 1908.
DIMAS FILHO, Nélson. Jornal do Commercio: A notícia dia a dia (1827-1987). Rio de Janeiro: Fundação Assis Chateaubriand; Jornal do Commercio, 1987.
FONSECA, Manuel José Gondin da. Biografia do jornalismo carioca: 1808-1908. Rio de Janeiro: Quaresma, 1941.
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500- 1840). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. v. 1.
NOBRE, José de Freitas. História da imprensa de São Paulo. São Paulo: Leia, 1950.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822): cultura e sociedade. Rio de Janeiro: Eduerj, 2007.
SODRÉ, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.
Amanda Peruchi
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. v. 1. 560p. Resenha de: PERUCHI, Amanda. No rastro das folhas periódicas: os impresos na historiografia brasileira. Revista Ágora. Vitória, n.23, p.292-297, 2016. Acessar publicação original [IF].
Pensamento político e ensaísmo no Brasil / Ágora / 2016
O dossiê temático desta edição, intitulado “Pensamento político e ensaísmo no Brasil”, teve como proposta, e objetivo principal, reunir um conjunto de trabalhos sobre as diversas formas como questões sobre história, política e identidade foram abordadas na história intelectual brasileira.
No artigo de abertura, Maria Alayde Alcântara Salim e Ueber José de Oliveira analisam algumas das formas de circulação de ideias no Brasil na Primeira República, apontando as posições de alguns autores destacados do período sobre a importância da educação e cultura literária para enfrentar os males detectados no período republicano.
Henrique Pinheiro Costa Gaio oferece uma análise comparativa das leituras sobre o Macunaíma de Mário de Andrade feitas por Haroldo de Campos e Gilda de Mello e Sousa, destacando suas diferentes metodologias de leitura e formas diferentes com as quais o tema da identidade nacional foi tratado por ambos.
Em seu artigo, Valdeci da Silva Cunha analisa a publicação literária A Revista, buscando determinar as diferentes percepções de temporalidade com que os intelectuais brasileiros dos anos 1920 operavam.
Já Ana Priscila de Sousa Sá examina o Memorial Orgânico de Varnhagen, buscando apontar as propostas político-administrativas do autor para a organização imperial. Por fim, encerrando o dossiê, Ruth Cavalcante Neiva discute as principais obras de Manoel Bomfim, procurando identificar as particularidades de seu pensamento sobre a questão racial.
Além dos artigos presentes no dossiê temático, também incluímos, na seção de tema livre, o artigo de João Carlos Furlani, que analisa a atuação política dos bispos na Antiguidade Tardia, e o trabalho de Maira Citlalli Sánchez Ayal, que discorre sobre a questão do direito à nacionalidade no Brasil e no México, com foco na naturalização.
Fabio Muruci Ueber
José de Oliveira
Organizadores
[DR]Manifesto Del nuovo realismo – FERRARIS (ARF)
FERRARIS, Maurizio. Manifesto Del nuovo realismo. Romabari: Editori Laterza, 2012. Resenha de: RIBEIRO, Renato Railo. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.2, N.1, p. 209-218, Abril de 2015.
O presente texto é uma resenha expositiva da obra Manual del Nuovo Realismo, escrita pelo filósofo italiano Maurizio Ferraris e publicada originalmente em italiano pela editora Laterza, em 2012(ISBN: 9788842098928). O Manual já foi traduzido para o espanhol, francês, alemão e inglês, sem possuir ainda tradução paraportuguês1.
Ferraris formou-se, sob orientação de Gianni Vattimo, pela Università degli Studi di Torinoe atualmente leciona nesta mesma universidade, além de ser também professor visitante de universidades europeias e estadunidenses. É editorialista do jornal diário La Repubblica e reconhecido internacionalmente por seus trabalhos desenvolvidos no campo da hermenêutica. Eis algumas de suas obras: Aspetti dell’ermeneutica del Novecento (1986); Storia dell’ermeneutica (1988); Il gusto del segreto (1997, escrita com Jacques Derrida); L’ermeneutica (1998); Introduzione a Derrida (2003). Desde os anos de 1990, porém, o filósofo vem gradualmente se afastando dessa linha de pensamento e adotando o realismo como fio condutor de sua filosofia.
No Manual del Nuovo Realismo o filósofo italiano pretende alcançar dois objetivos: (1) expor, segundo sua visão, as razões pelas quais a filosofia contemporânea teria se inclinado ao realismo; (2) expor sua concepção de realismo. A obra em questão é dividida em quatro capítulos2, sem contar o Prólogo. Neste último, o autor expõe seus pressupostos e a justificativa para a elaboração da obra, enquanto que no primeiro capítulo (“Realytismo”: o ataque pós-moderno à realidade) desenvolve sua argumentação visando alcançar o objetivo (1). Por fim, com os demais capítulos (capítulo 2:Realismo: coisas que existem desde o início do mundo; capítulo 3:Reconstrução: porque acrítica parte da realidade; capítulo 4:Emancipação: a vida não examinada não tem valor), o filósofo visa atingir o objetivo (2).
Começando pelo Prólogo, deste pode-se depreender que Ferraris parte do pressuposto de que, se por um lado, ao longo do século XX, o pêndulo do pensamento teria se orientado ao antirrealismo (diz o autor, em suas várias versões: “hermenêutica, pós-modernismo, ‘reviravoltalinguística’”3), por outro lado, com a virada do século, teria passado apender para o realismo (segundo o autor, em seus muitos aspectos: “ontologia, ciências cognitivas, estética como teoria da percepção”4).
De modo a incluir sua filosofia nesse movimento em direção ao realismo, Ferraris aponta as causas que o conduziram a essa mudança, identificando-as com os efeitos decorrentes daquilo que denomina “dois dogmas dopósmodernismo”5: (a) o de que toda a realidade é socialmente construída e infinitamente manipulável; (b) o de que a verdade é uma noção inútil, sendo a solidariedade mais importante do que a objetividade. Os efeitos ocasionados por esses “dois dogmas”, de acordo com Ferraris, teriam sido: (i) o fortalecimento do populismo em política; (ii) a alienação da filosofia em relação à realidade cotidiana;(iii) a noção de que toda desconstrução (filosófica, política, social) tem valor por si própria.
Assim, a justificativa dada por Ferraris para a escrita do Manifesto– bem como para sua mudança de pensamento, que o motivara elaborar a presente obra – é pautada por seu julgamento acerca da necessidade de se negar os “dois dogmas”, de modo a se evitar tais efeitos. O realismo, assim, é visto por ele como alternativa às diferentes ramificações pós-modernas da filosofia contemporânea e seus “dogmas”.
Porém, de acordo com suas palavras, adotar essa alternativa não significa querer ostentar um monopólio filosófico do real – como se poderia crer, em função da longa história que o termo “realismo” temem filosofia – mas sim
“sustentar que a água não é socialmente construída, que a sacrossanta vocação desconstrutiva que está no coração de toda filosofia digna deste nome deve medir-se pela realidade, caso contrário configura-se como jogo fútil, quetodadesconstruçãosemreconstruçãoéirresponsabilidade”6.
Assim, segundo o autor, caberia à filosofia examinar quais são os aspectos da realidade socialmente construídos e quais não são, de modo a salientar o que pode e o que não pode ser tomado como verdadeiro e extrair daí implicações de natureza cognitiva, ética e política. Neste ponto, o filósofo italiano sentira necessidade de sublinhar o contexto ao qual sua posição se insere, aqui expresso por suas próprias palavras:
Aquilo que chamo de “novo realismo” é de fato antes de tudo o reconhecimento de uma reviravolta. A experiência histórica dos populismos midiáticos, das guerras pós11de setembro e da recente crise econômica conduziu a uma forte descrença naqueles que, para mim, são os dois dogmas do pós-modernismo: o de que toda a realidade é socialmente construída e infinitamente manipulável, e ode que a verdade é uma noção inútil porque a solidariedade é mais importante do que a objetividade. As necessidades reais, as vidas e mortes reais, que não aceitam ser reduzidas a interpretações, têm feito valer seus direitos, confirmando a ideia de que o realismo (assim como o seu contrário) possui implicações não simplesmente cognitivas, mas éticas e políticas7.
No primeiro capítulo, Ferraris sugere que o pós-modernismo teria entrado em filosofia a partir da publicação da obra do filósofo francês Jean François Lyotard, A condição pós-moderna, publicada em1979 e pela qual teriam se difundido a ideia de “fim das ideologias” e a noção de que as “grandes narrativas” (Iluminismo, Idealismo, Marxismo) teriam deixado de “mover as consciências e de justificar o saber e a pesquisa científica”8. Sem desconsiderar as várias manifestações pós-modernistas e seus vários aspectos, desenvolvido sem diversas áreas do conhecimento e das artes, Ferraris aponta o que para ele seria o mínimo denominador comum a todas essas, a saber, o fim da ideia de progresso. No caso específico da filosofia, para a qual noção de verdade é central, insiste Ferraris que “(…) a descrença pós-moderna no progresso comportava a adoção da ideia – que encontra a sua expressão paradigmática em Nietzsche – segundo a qual a verdade pode ser um mal e a ilusão um bem”9, ideia esta que segundo o autor poderia ser resumida na proposição nietzscheana “não existem fatos, só interpretações”.
Maurizio Ferraris frisa não querer atacar diretamente o pós-modernista, pois este é “(…) muitas vezes animado por admiráveis aspirações emancipativas (…)”10. O problema, diz, é o populista, que“(…) tem se beneficiado com a potente, ainda que em boa parte involuntária, ajuda ideológica do pósmodernista”11. Isto porque, em sua visão, com o pós-modernismo (e, como decorrência deste, primado das interpretações sobre os fatos e a superação da noção de objetividade), “(…) não se viu a libertação dos vínculos de uma realidade monolítica, compacta, peremptória (…)”12, tal como seus mentores profetizaram, mas sim o êxito do populismo, “(…) um sistema com o qual (desde que se tenha o seu controle) se pode pretender fazer crer em qualquer coisa”13– o que teria transformado o mundo em um reality.
O filósofo italiano, então, sugere a necessidade de se examinar de perto a concretização (e adulteração) das teses pós-modernistas (os“dois dogmas”) e aquelas que aponta como suas três principais características: aironização, segundo a qual “(…) aferrar-se a teorias é indício de dogmatismo, e que, portanto, deve-se manter um distanciamento irônico em relação às próprias afirmações”14–distanciamento em geral expresso pelo uso de aspas; a dessublimação,“(…) a ideia de que o desejo constitui em quanto tal uma forma de emancipação, já que a razão e o intelecto são formas de domínio”15; a desobjetivação, a ideia de que “(…) não existem fatos, só interpretações, e o seu corolário de que a solidariedade amigável deve prevalecer sobre a objetividade indiferente e violenta”16– o que legitimaria, para Ferraris, a máxima “a razão do mais forte é sempre a melhor”.
Sobre aironização, diz Ferraris que o uso das aspas teria permitido aos teóricos a adoção de uma postura irônica diante de suas próprias proposições e o decreto de que qualquer um que as tentasse suprimir estaria exercendo um ato de inaceitável violência ou ingenuidade, pois trataria como real aquilo que, na melhor das hipóteses, era “real”. De acordo com o autor, essa postura teria impedido o progresso em filosofia, “(…) transformando-a em uma doutrina programaticamente parasitária que remetera à ciência qualquer pretensão de verdade e de realidade (…)”17. Para Ferraris, a origem disso estaria no radicalismo de Nietzsche em sua posição contra a filosofia sistemática, ou mesmo, ainda, naquilo que o filósofo italiano chama de “revolução ptolomaica”18de Kant, por entender que com este último o homem teria passado a ser o centro do universo como mero fabricante de mundos por intermédio de conceitos. Assim, “o pós-modernismo não foi um devaneio filosófico, mas sim o êxito de uma reviravolta cultural que coincide em boa parte com a modernidade, ou seja, a prevalência dos esquemas conceituais sobre o mundo externo”19, o que explicaria o uso de aspas, já que não se estaria ocupado com o mundo mas tão somente com fenômenos mediatos. Neste cenário, à filosofia caberia, na melhor das hipóteses, diz Ferraris, aceitar-se como tipo de conversação ou gênero de escritura – atividade anti-iluminista que, com a cumplicidade da ironia e das aspas, ocasionara, entre outros problemas, “o equívoco de pensadores de direita se tornarem ideólogos da esquerda”20 (quando então cita e comenta Heidegger como caso paradigmático).
De acordo com Ferraris, a dialética que se manifesta na ironização seria a do desejo como elemento que por si próprio constituiria a emancipação humana. Em sua visão, a noção de revolução dos desejos teria se iniciado com Nietzsche e sua revolução dionisíaca, quando o homem trágico, antítese do homem racional representado por Sócrates, fora antes de tudo um homem de desejos. Só que, com o populismo, diz, tal noção teria encontrado verdadeira expressão a partir do desenvolvimento “(…) de uma política ao mesmo tempo dos desejos e reacionária”21– comentando para tal as investigações de Adorno e Horkheimer sobre o mecanismo da dessublimação repressiva, segundo o qual “o soberano concede ao povo liberdade sexual e em contrapartida mantém consigo não só a liberdade sexual mas também as outras”22. Neste cenário, o desejo, no início elemento emancipativo, passaria então a ser elemento de controle social. Afora isso, o anti-intelectualismo se faria presente, já que o enlaçamento entre corpo e desejo favoreceria o antissocratismo (i. e., a atividade racional). E assim, diz Ferraris, a legitimidade de uma categoria fundamental do Iluminismo seria atacada, a da opinião pública, que passaria, citando Habermas, “(…) de espaço de discussão a espaço de manipulação das opiniões por parte dos detentores dasmassmedia”23, momento em que se manifestaria repressão à discordância, cuja perfeição seria alcançada com a incorporação, por parte da coletividade, do hábito de desenhar qualquer atividade crítica.
Sobre adesobjetivação, Ferraris diz ser esta a noção de que a objetividade, a realidade e a verdade seriam maléficas, e a ignorância, benéfica. Essa ideia, segundo sua visão, teria se difundido no pós-modernismo por três reflexões de grande peso cultural: a noção nietzschiana de verdade como metáfora; o recurso ao mito levado acabo por Nietzsche e Heidegger; e a noção presente em parte da filosofia analítica segundo a qual não existiria acesso ao mundo sem a mediação de esquemas conceituais e representações – sobre a qual Ferraris investiga tomando como case studya afirmação de Paul K.Feyerabend segundo a qual não existiria método privilegiado para a ciência, pois as teorias científicas seriam visões de mundo em larga parte incomensuráveis (o que, por consequência, faria com que não fosse tão óbvio assim que Galileu tivesse tido razão em relação àqueles que o condenaram). Neste sentido, a desobjetivação formulada com intenções emancipativas se transformaria em deslegitimação do saber humano e no reenvio da humanidade a um fundamento transcendente (no sentido místico religioso).
A consequência da ação conjunta de ironização, dessublimação e desobjetivação é, para Ferraris, o realytismo, estado em que “vem revogada qualquer autoridade ao real, e em seu lugar se prepara magnificamente uma quase realidade com fortes elementos fabulares(…)”24. Por outras palavras, orealytismo para Ferraris seria o pós-modernismo concretizado pelo populista, cenário em que o real, ao invés de ser investigado com vistas à construção de novos mundos possíveis, seria posto ao nível da fábula (ou equiparado a um realityshow), sendo esta ação considerada como única libertação possível. Diz o autor, então, que dessa forma não haveria mais nada a se construir – e a realidade nada mais seria do que mero sonho.
Para Ferraris, fora contra esse estado de coisas que desde a virada do século viria se desenvolvendo o realismo, tentativa de restituir legitimidade, em filosofia, em política e na vida cotidiana, a uma noção que no pós-modernismo fora considerada ingenuidade filosófica e manifestação de conservadorismo político, a saber: a de realidade. O filósofo italiano oferece, então, a partir deste ponto, sua concepção de realismo, desenvolvendo-a entre os capítulos 2 e 4, baseada em três conceitos: Ontologia, Crítica e Iluminismo.
Por Ontologia Ferraris pretende significar simplesmente que “o mundo tem as suas leis, leis estas que se fazem respeitar (…)”25. Por outras palavras, segundo sua visão existiriam coisas que resistem e permanecem independentemente de esquemas conceituais capazes de avaliálas. Ferraris denomina sua posição de “teoria da incorrigibilidade”26, de modo a reforçar, como faz ao longo do capítulo2, o caráter saliente do real, i. e., a existência de um mundo externo aos esquemas conceituais, e a ideia de que certas coisas diante de nós não poderiam ser corrigidas ou transformadas27. Desta forma, com ontologia e incorrigibilidade Ferraris pretende confrontar o que chama de falácia do ser- saber28, i. e., noção segundo a qual só se poderia dizer como existente aquilo que se pudesse conhecer – o que, para o filósofo italiano, nada mais seria do que expressão da confusão entre epistemologia e ontologia.
Por Crítica Ferraris diz significar a possibilidade inerente ao realismo de criticar e transformar a realidade – como oposição àquilo que, no capítulo 3, chama de falácia do averiguar-aceitar29, segundo a qual a averiguação da realidade necessariamente implicaria na aceitação de existência de um estado de coisas imutáveis. Neste sentido, diz Ferraris que sua Crítica deveria ser entendida tanto no sentido kantiano de julgar o que é e o que não é real, como no sentido marxista de transformar o que não é justo, contrapondo-se assim ao pós-modernismo que, segundo ele, se contentaria em sustentar que tudo é socialmente construído (como forma de se proteger do atrito com o real ausentando-se deste conflito). Logo, se por um lado seria possível afirmar que existem elementos com características alheias a todo e qualquer esquema conceitual capaz de descrevê-las, por outro se poderia afirmar que somente com a reflexão crítica a falsificação pode ser evitada. Com noção de Crítica Ferraris sustenta que “(…) a incorrigibilidade como caráter ontológico resulta central na medida em que não indica uma ordem normativa (…) mas simplesmente uma linha de resistência contra a falsificação e a negação”30. Portanto, o ponto não seria apenas desvalorizar a cética noção de descontinuidade entre fatos e interpretações, mas sim procurar entender o que é e o que não é humanamente construído – algo implícito na seguinte questão: quais os limites dos esquemas conceituais?
Por fim, com a noção de Iluminismo– a qual permite Ferraris citar as expressões consagradas por Kant (“ousar saber” e “sair doestado de minoridade”) como opostas àquilo que chama de falácia dosaberpoder31(noção segundo a qual, tal como explicitada no capítulo4, em toda forma de saber se esconderia um poder negativo, ou seja, o saber serviria não como emancipação, mas como instrumento de dominação) – o filósofo italiano diz não duvidar que a ciência é, muitas vezes, animada “pela vontade de potência”, mas defende que não se deveria, em função disso, duvidar de todos os seus resultados32. Ou seja, o autor concorda que motivações de poder influenciam em muitos casos as conclusões de práticas filosóficas e científicas, mas poder e saber seriam, segundo sua concepção, noções distintas, não equivalentes. Identicamente, não seriam noções equivalentes as de verdade e de dogmatismo, pois salienta que “(…) realidade e verdade sempre foram a tutela dos fracos contra a prepotência dos fortes”33.Segundo o filósofo não faria sentido, assim, abandonar a noção de verdade em nome da noção de solidariedade (tal como desenvolvida por Rorty), uma vez que “(…) o regime nazista é o exemplo macroscópico de uma sociedade fortemente solidária”34. Logo, para Ferraris seria irresponsável desconstruir sem construir algo em seu lugar, e, portanto, ao invés de se duvidar da capacidade humana de conhecer, seria melhor aceitar que só o conhecimento, e não sua deslegitimação, pode emancipar os homens.
Por fim, Maurizio Ferraris oferece uma interpretação particular de que três filósofos tradicionalmente associados ao pós-modernismo (Foucault, Derrida e Lyotard) teriam manifestado a exigência de retorno aos ideais iluministas. Além disso, declara o filósofo italiano:
Julgo fundamental acreditar naquilo que era importante e vivo no pósmodernismo, i. e., a reivindicação de emancipação, que tem início no ideal de Sócrates sobre os valores morais do saber e se assenta no discurso de Kant sobre o Iluminismo – talvez a mais caluniada entre as categorias do pensamento e que merece uma nova leitura na cena intelectual contemporânea diante das consequências da falácia do saberpoder35.
Com isso, o autor pretende reforçar sua crença no conhecimento humano como único meio a se evitar, contra o populismo, a alternativa de “(…) seguir o caminho do milagre, do mistério e da autoridade”36, associando tal crença ao realismo a que vem se propondo desenvolver.
Notas
1 Em espanhol: Manifiesto del nuevo realismo. Trad. José Blanco Jiménez.Santiago de Chile: Ariadna, 2012;Manifiesto del nuevo realismo. Trad.e intr. F. José Martín. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013; em francês: Manifeste du nouveau réalisme. Trad. Marie Flusin e AlessandraRobert. Paris: Hermann, 2014; em alemão: Manifest der neuen Realismus. Trad. Malte Osterloh. Frankfurt am Main: Klosternann,2014; em inglês:Manifesto of New Realism. Trad. Sarah De Sanctis.New York: SUNY Press, 2014.
2 Cap. 1:Realitysmo. L’ attacco postmoder no alla realtà; Cap. 2:Realismo.Cose che esistono dall’ inizio del mondo; Cap. 3:Riconstr uzione.Perché la critica incomincia dalla realtà; Cap. 4:Emancipazione. Lavita non esaminata non ha valore.
3 “(…) ermeneutica, postmodernismo,‘ svolta linguistica’ (…)” (2012: ix).
4 “(…) ontologia, scienze cognitive, estetica come teor ia della percezione (…)”(Idem).
5 “(…) i due dogmi del postmoder no (…)” (Ibidem, xi).
6 “(…) sostenere che l’ acqua non è socialmente costr uita; che la sacrosantavocazione decostr uttiva che sta al cuore di ogni filosofia degna diquesto nome deve misur ar si con la realtà, altr imenti è un gioco futile; eche ogni decostr uzione senza r icostr uzione è ir responsabilità”(Ibidem).
7 “Quello che chiamo“ nuovo realismo” è infatti anzitutto la presa d’ atto diuna svolta. L’ esper ienza stor ica dei populismi mediatici, delle guer repost 11 settembre e della recente crisi economica ha por tatounapesantissima smentita di quelli che a mio avviso sono i due dogmi delpostmoder no: che tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la ver ità sia una nozioneinutileperché la solidar ietà è più impor tante della oggettività. Le necessitàreali, le vite e le mor ti reali, che non soppor tano di essere ridotte ainter pretazione, hanno fatto valere i loro dir itti, confermando l’ ideache il realismo (così come il suo contrario) possieda delle implicazionenon semplicemente conoscitive, ma etiche e politiche” (Ibidem).
8 “(…) che par lava [ a obra de Lyotard] della fine delle ideologie, cioè diquelli che Lyotard chiamava i‘ grandi racconti’ : Iluminismo,Idealismo, Marxismo. Questi r acconti er ano logor i, non ci si credevapiù, avevano cessato di smuovere le coscienze e di giustificare il saperee la r icerca scientifica” (Ibidem, 3).
9 “(…) la sfiducia postmoder na nel progresso compor tava l’ adozionedell’ idea, che trova la sua espressione par adigmática in Nietzsche,secondo cui la ver ità può essere un male e l’ illusione un bene” (Ibidem,4).
10 “(…) il più delle volte animato da ammirevoli aspir azioni emancipative(…)” (Ibidem, 6).
11 “(…) ha beneficiato di un potente anche se in buona par te involontar iofiancheggiamento ideologico da par te del postmoder no” (Ibidem).
12 “(…) non si è vista la liber azione daí vincoli di una realtà troppomonolitica, compatta, perentor ia (…)” (Ibidem, 5).
13 “(…) un sistema nel quale (purché se ne abbia il potere) si può pretenderedi far credere qualsiasi cosa” (Ibidem, 6).
14 “(…) prendere sul ser io le teor ie sia indice di una for ma di dogmatismo, esi debba mantenere nei confronti delle propr ie affer mazioni un distaccoironico” (Ibidem, 7).
15 “(…) l’ idea che il desider io costituisca in quanto tale una for ma diemancipazione, poiché la r agione e l’ intelletto sono for me di dominio”(Ibidem).
16 “(…) non ci sono fatti, solo inter pretazioni, e il suo corollar io per cui lasolidar ietà amichevole deve prevalere sull’ oggettività indifferente eviolenta” (Ibidem).
17 “(…) transfor mandola in uma dottrina programaticamente par assitar ia,che rimeteva alla scienza ogni pretesa di ver ità e di realtà (…)”(Ibidem, 9).
18 “Rivoluzione tolemaica” (Ibidem, 10).
19 “(…) il postmoder no non è stato uma spazzatur a filosofica.È stata l’ esitodi una svolta cultur ale che coincide in buona par te con la moder nità,ossia il prevalere degli schemi concettuali sul mondo esterno” (Ibidem,11).
20 “(…) È in questo clima anti illuministico che (…) si attua l’ equivoco dipensator i di destr a che diventano ideologi della sinistr a (…). Il caso diHeidegger (…) è da questo punto di vista par adigmatico” (Ibidem, 1314).
21 “(…) la cronaca dei populismi ha insegnato come sia possibile sviluppareuna politica contempor aneamente desider ante e reazionar ia” (Ibidem,16).
22 “Il sovr ano concede al popolo liber tà sessuale, e in cambio tiene per sénon solo la liber tà sessuale che ha concesso a tutti gli altr i, ma anchetutte le altre liber tà assunte come pr ivilegio esclusivo” (Ibidem, 17).
23 “(…) da spazio di discussione a spazio di manipolazione delle opinioni dapar te dei detentor i dei massa media” (Ibidem, 19).
24 “Viene revocata qualsiasi autor ità al reale, e al suo posto siimbandisceuna quasi realtà con for ti elementi favolistici (…)” (Ibidem, 24).
25 “(…) il mondo ha le sue leggi, e le fa r ispettare (…)” (Ibidem, 29).
26 “Inemendabilità” (Ibidem, 48).
27 “(…) il fatto che ciò che cista di fronte non può essere cor retto otr asfor mato attraver so il mero ricor so a schemi concettuali,diver samente da quanto avviene nell’ ipotesi del costr uzionismo”(Ibidem).
28 Fallacia dell’ essere sapere.
29 Fallacia dell’ accer tare accettare.
30 “(…) l’ inemendabilità come car attere ontologico fondamentale r isultacentr ale, propr io nella misur a in cui non indica un ordine nor mativo(…) ma semplicemente una linea di resistenza nei confronti dellefalsificazioni e delle negazione” (Ibidem, 66).
31Fallacia del sapere potere.
32 “Indubbiamente il sapere può essere animato da volontà di potenza (…). Da questo, per ò, non segue che si debba dubitare dei r isultati delsapere (…)” (Ibidem, 88).
33 “(…) realtà e ver ità siano sempre state la tutela dei debolicontro leprepotenze dei for ti” (Ibidem, 96).
34 “(…) in gener ale il regime nazista è l’ esempio macroscopico di una societàfor temente solidale al propr io inter no (…)” (Ibidem, 94).
35 “Credo che sia meglio tener fede a ciò che er a impor tante e vivonelpostmoder no, e cioè appunto la richiesta di emancipazione,che prendel’ avvio dall’ ideale di Socrate sul valore mor ale del sapere e si precisanel discor so di Kant sull’ Illuminismo–for se la più calunniata tr a lecategor ie del pensiero, e che mer ita una nuova voce nella scenaintellettuale contempor anea di fronte alle conseguenze della fallaciadel sapere potere” (Ibidem, 112).
36 “(…) prendere la via del mir acolo, del mistero e dell’ autor ità” (Ibidem,112).
Renato Railo Ribeiro – Bolsista de Mestrado (CAPES) do Programa de PósGraduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas, Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (DLM/ FFLCH/USP). Bacharel em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu (USJT) e em Biblioteconomia pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/ USP). E-mail: m@ilto: [email protected]
[DR]A alma e as formas – LUKÁCS (AF)
LUKÁCS, Georg. A alma e as formas. Introdução de Judith Butler; tradução, notas e posfácio de Rainer Patriota. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Resenha de: PIMENTA, Olímpio. Artefilosofia, Ouro Preto, n.19, 2015.
Há quase três décadas, então estudante de graduação em Filosofia, recebi as lições que viriam a constituir o escasso acervo de meus conhecimentos sobre a obra do pensador húngaro G. Lukács. Na ocasião, na esteira da avaliação do próprio autor, sublinhava-se que seu desenvolvimento filosófico tinha um caráter inequivocamente evolutivo, com o que a formulação sistemática da “ontologia do ser social”, núcleo de sua produção tardia, seria também o resultado mais importante de todo o percurso. Era uma abordagem que favorecia pouco os trabalhos de crítica literária dos primeiros tempos, e os ensaios reunidos no livro de 1911 ficaram, assim, envoltos em sombra.
Se, em algum a medida, este caso representa uma situação mais ampla, pode-se perceber a relevância do aparecimento entre nós do livro de estréia de Lukács, em edição amparada por estudos críticos muito elucidativos de Judith Butler e do próprio responsável pela tradução e pelas notas ao texto, Rainer Patriota. Pois, em que pese a apreciação desfavorável aludida acima, parece-nos que os escritos em foco, embora desiguais quanto a alcance e mérito intrínseco, formam um conjunto bastante coeso, versando sobre um extenso repertório de temas literários e filosóficos, organicamente articulados à meditação sobre nossa condição existencial.
O princípio organizador da reflexão é idealista, estabelecido logo no âmbito dos dois exercícios iniciais “Sobre a forma e a essência do ensaio” e “Platonismo, poesia e as formas”. Concebida como busca por elevação acima d o tumulto sem sentido da vida comum, a jornada da alma só se realiza ria de modo pleno mediante a configuração integrada do que ali aparece disperso e fragmentário. As estruturas complexas que emergem em sua atividade, propostas como articulação necessária entre fins e meios, intenção e execução, conteúdo e aparência, interioridade e exterioridade, são as formas a que se almeja. Seria um programa de trabalho razoavelmente convencional, capaz até de produzir resultados triviais, não fosse a disposição experimental de quem o conduz. Pois uma das razões do interesse destas primícias lukácsianas é a ausência de dogmas entre seus elementos constitutivos, sinal de uma atitude investigativa honesta, dominada pela curiosidade.
Segundo tal inspiração, um grande atrativo dos ensaios em foco é o estabelecimento, em seu desenrolar, de conexões múltiplas entre os móveis de sua atenção, capazes de evidenciar o copertencimento entre estratos distintos da realidade, mas também entre fenômenos que à primeira vista nada teriam a ver uns com os outros. As formas, ou se se quiser, as ideias, quase sempre entretêm boas relações com a vida — a exceção mais ostensiva estando na angustiada visão das coisas presente nos dois últimos textos, “Metafísica da tragédia” e “Da pobreza de espírito” –, porque são pensadas não apenas como essência incondicional da totalidade, mas também como algo cuja realização no mundo só ocorre a partir do vivente que experimenta. Empresta-se, assim, um caráter muito dinâmico à já referida demanda por sentido. Em função disso, os nexos entre o material de que se parte e a composição a que se chega não são rígidos nem unívocos, como se fossem resultado da sujeição do múltiplo da vivência a regras universais, mas mostram-se compatíveis com a variedade efetiva, tanto dos problemas humanos e das questões artísticas ventilados, quanto das possibilidades de um equacionamento formal que os unifique. Uma tal abertura de espírito é o que torna viável a aproximação entre, por exemplo, Platão e Montaigne, reivindicados como expoentes máximos do ensaísmo a que se pretende filiar o próprio livro.
Todavia, como se sabe, boas intenções costumam não ser o suficiente. Aos olhos deste leitor noviço, o que assegura força aos ensaios é o sucesso n a aplicação de sua estratégia global. Firmada a tarefa de acompanhar o trânsito da alma entre e vida e as formas, optou o autor pelo exame de uma série de obras em que os diversos aspectos da relação entre esses dois pólos puderam ser acompanhados segundo um extenso leque de especificidades. Portanto, por mais heterogêneos que sejam os casos estudados, cabe tomar o que temos em mãos como um conjunto de variações sobre um mesmo tema de fundo. Porque multifacetado, tal tema admite associações muito diversas, conforme os propósitos e o colorido próprios de cada objeto visado. Porém, não obstante a peculiaridade das partes, a feição final do todo é bem proporcionada, justamente porque o plano que a ordena cumpre à risca o que promete. Correndo algum risco de impertinência, imaginamos acertar ao entender o notável resultado dos esforços aqui empreendidos por Lukács como efeito da compreensão da s forma s como perspectiva s, de preferência a estruturas essencialmente invariáveis. Os momentos em que isto fica mais nítido estão nos ensaios sobre Kierkegaard, Sterne, Storm e Novalis, respectivamente “Quando a forma se estilhaça ao colidir com a vida”, “Riqueza, caos e forma”, “Burguesia e l’art pour l’art ” e “Sobre a filosofia romântica da vida”.
O tratamento d ado ao filósofo escandinavo prima pela percepção nuançada do alcance de um gesto de separação que decidiu em definitivo o rumo posterior de sua vida e de sua produção intelectual. Apesar de realçar a tensão entre est as duas esferas, o ensaio termina provando a consistência paradoxal vigente na relação entre elas: somente a renúncia a uma vida afetivamente significativa tornou Kierkegaard apto a cumprir seu destino, assegurando-lhe de uma vez por todas aquilo que teria sido perdido pouco a pouco a cada dia. Junto a o escritor irlandês, em contrapartida, admite-se, ao termo de um diálogo muito movimentado, o triunfo da riqueza vital da forma aberta sobre a exigência do sacrifício da vida à forma acabada. Aliás, em nenhum outro ponto do livro a combinação entre vida e forma mostra resultados tão animadores, frutos de uma reciprocidade que marca um dos extremos no espectro de possíveis encaminhamentos para seu tema central.
Também em relação a Novalis, encontramo-nos em presença de uma coerência insuspeitada, mas cujo balanço em termos da forma presta-se à demonstração de uma ruína. Um distanciamento cordial d o romantismo garante a Lukács um ponto de vista independente a respeito d a questão alemã. Até onde pude ver, ele trata aqui de ambos os assuntos livre de qualquer partidarismo, com o que suas análises ganham em pertinência e agudeza, ensinando sobre o que expõem sem querer doutrinar. Assim, embora a palma seja atribuída ao classicismo goetheano, entende-se em que medida a alma romântica viveu sua peripécia com dignidade, tendo na figura em foco sua mais alta expressão.
Por que o que em uns é contínuo, enquanto em outros resta contraditório, apenas os caminhos sutis do ensaio sobre a lírica de Theodor Storm nos permitem constatar a integridade que reúne nele poesia e existência burguesa. A solução do aparente dilema deriva de observações a propósito do sentimento de comunidade que marca a autêntica atitude ética diante da vida. É pela prevalência de injunções desta natureza que o poeta teria alcança do seu melhor. Não importando se este se restringe à modéstia da maestria artesanal, interessa sublinhar mais uma vez a ocorrência de uma coexistência bem lograda entre os dois pólos da equação lukácsiana, que figura, neste passo, exatamente no meio do espectro de possibilidades mencionado há pouco.
Sob esse mesmo horizonte geral, ao deslocarmos nosso olhar para su as regiões mais conflagradas, localizamos os ensaios sobre Stefan George, Richard Beer-Hoffmann, Charles-Louis Philippe e Paul Ernst, cujos títulos respectivos são “A nova solidão e sua lírica”, “Nostalgia e forma”, “O instante a as formas” e o já citado “Metafísica da tragédia”. Para o leitor que, como eu, se fia em traduções, talvez esteja aí a parte menos acessível do livro, dada a carência de documentos que permitiriam uma confrontação dos achados lukácsianos com suas fontes originais. Tomadas em bloco, são leituras que enfatizam a miséria da modernidade no que concerne à chance de realização de for mas artísticas substanciais, considerando-se a degradação dos laços que dariam à existência coletiva um sentido comum. Em especial, o último escrito traz uma conclusão bastante pessimista quanto às chances de reunião entre a vida vivida e as formas. Segundo tal conclusão, apenas o mundo fechado e perfeito das formas definitivas pode ria fornecer aos homens um referencial perene para a justificação de sua efêmera passagem pelo mundo da vida.
Assinalando o limite em que os dois pólos da problemática em estudo estão mais dissociados um do outro, essa metafísica da tragédia é seguida por sua consequência mais rigorosa, a defesa de uma atitude existencial próxima à singularidade dos santos dostoievskianos, chamada pelo russo de idiotia. Sem discutir se esta atitude revela uma adesão amorosa incondicional ao mundo ou sua exata antípoda, uma recusa odiosa incondicional ao mundo, notamos que somente um a perspectiva mística autoriza esta versão extrema do assunto, em que as formas são radicalmente separadas da realidade imanente. Quem sabe se esconde, nesta vasta oscilação entre as páginas calorosas sobre Sterne e as declarações niilistas do protagonista masculino do diálogo sobre a pobreza de espírito, uma cifra para o entendimento do percurso ulterior do pensador, em que a generosa inclinação a favor da realização histórica do socialismo contrasta com a aceitação irrestrita de formas absolutas de opressão?
Mas não vale concluir a exposição dessas impressões sem antes mencionar duas razões pelas quais est a edição de “A alma e as formas” parece-nos exemplar. Por um lado, o senso de oportunidade que preside a distribuição das notas ao texto lhes assegura o devido caráter informativo. Porém, a par do uso consciencioso deste expediente, o que mais se destaca na tarefa levada a excelente termo pelo tradutor é a qualidade literária da prosa, provando com folga que o prazer do texto não é, entre nós, uma graça perdida.
Rainer Patriota – Professor Titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto (DEFIL/IFAC/UFOP.
Olímpio Pimenta – Professor Titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto (DEFIL/IFAC/UFOP).
Feminismos e Patriarcado / Ágora / 2015
Intitulado “Feminismos e patriarcado” o objetivo deste dossiê é reunir estudos de história dos feminismos, na perspectiva de movimento social emancipatório que afirmou a igualdade e a liberdade para as mulheres, e do patriarcado, enquanto discurso normativo de papéis sociais de gênero.
Neste sentido, os artigos de Luciana Silveira, ‘Gênero e patriarcado em denúncias: a violência contra as mulheres idosas em Vitória/ES (2010-2012)’; de Vitor Bourguignon Vogas, ‘“Ven esta noche a mi puerta”: a desconstrução da “mulher frágil” em El Burlador De Sevilla y Convidado De Piedra’; de Kella Rivetria Lucena Xavier ‘“O Feminismo Triumpha!”: mulher e a imprensa patriarcal em Fortaleza na década de 1920’; de Elaine Borges Tardin e Lana Lage da Gama Lima, ‘A mulher militar brasileira no século XXI: antigos paradigmas, novos desafios’; de Mirela Marin Morgante, ‘Feminismos, patriarcado e violência de gênero: as denúncias registradas na DEAM/ Vitória/ES (2002-2010)’; e de Renata Oliveira Bomfim, ‘A Outra Florbela Espanca’, abordam ações de cunho feministas com as quais as mulheres superam as múltiplas opressões e explorações patriarcal-capitalistas que demarcam a sua experiência como ser social. E, os artigos de Fernanda Tais Brignol Guimarães e Vinícius Oliveira de Oliveira, ‘Os comerciais e a representação da mulher: a exploração do corpo e da imagem feminina na mídia’; de Aline Ariana Alcântara Anacleto e Fernando Silva Teixeira-Filho, ‘Problematizando gêneros: um olhar sobre o cinema brasileiro em busca de resistência ao patriarcado’, analisam a articulação do patriarcado ao capitalismo e ao sistema social de opressão das mulheres.
Por sua vez, os estudos apresentados por Cristiane Araújo de Mattos, “‘Patriarcado Público’: estereótipos de gênero e acesso à justiça no Brasil’; de Ana Carolina Eiras Soares e Neide Célia Ferreira Barros, ‘Palavras e silêncios: a ausência de centros de reabilitação de autores de violência doméstica no Brasil e as questões de gênero”; de Suellen André de Souza, “Vagaba Penha”: representações sociais e práticas de administração de conflitos de gênero nas delegacias de polícia de Campos dos Goytacazes’; de Luana Rodrigues da Silva, ‘O acesso à justiça no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher no município de Campos dos Goytacazes’; de Ana Carla Oliveira Pinheiro e Lana Lage da Gama Lima, ‘Gênero e políticas públicas: uma análise do projeto ‘Mulheres da Paz’’, priorizam discussões no âmbito da responsabilização do Estado e das políticas públicas na conquista de melhores condições de vida da população feminina e masculina que sofre violência de gênero. E, os trabalhos de Francesco Suanno Neto, ‘Família, demografia e mulheres: diálogo entre campos históricos’; de Ana Lucia Santos Coelho, ‘Infâmia, escândalo e pecado: relações de concubinato no Brasil Colônia’; de Renata Santos Maia e Cláudia J. Maia, ‘Os contos de fadas no cinema: uma perspectiva das construções de gênero, sua história e transformações’; de Kalline Flávia S. Lira e Ana Maria de Barros, ‘Violência contra as mulheres e o patriarcado: um estudo sobre o sertão de Pernambuco’, e, por fim, de Cristiane Galvão Ribeiro et al., ‘Representações sociais do casamento: um estudo intergeracional’, apresentam resultados de pesquisas que fazem reflexões sobre as relações entre as práticas do patriarcado e o comportamento feminino e masculino no âmbito da história social das relações de gênero.
O objetivo fundamental desse número da Revista Ágora é o de estimular, a despeito das conquistas sociais e dos dispositivos legais que postulam a igualdade de direitos entre homens e mulheres, novos estudos que levantem questões da prescrição normativa patriarcal, como uma forma de violência de gênero e de violação dos direitos humanos das mulheres, assim como a criativa e subversiva capacidade de resistência humana a prescrições impostas, em especial a resistência histórica das mulheres e dos homens nos diversos feminismos.
Desta forma, este dossiê contempla artigos que tratam da temática ‘Feminismos’ em seus múltiplos aspectos, assim como do tema ‘Patriarcado’ em suas várias vertentes, configurando diversas formas de dominação em diferentes períodos históricos.
Maria Beatriz Nader – Organizadora.
[DR]Ciência: pesquisa, métodos e normas – DAU; DAU (ARF)
DAU, Shirley e DAU, Sandro. Ciência: pesquisa, métodos e normas. Mutum: Expresso, 2013, 173 p. Resenha de: CARVALHO, José Maurício. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.13, jan./jun. 2015.
Os autores são professores de Filosofia e trabalham com Metodologia Científica há anos, havendo publicado diversas obras sobre o assunto. Sandro é Doutor em Filosofia com estágio de pós-doutorado em Ética e Shirley é mestre em Filosofia e estuda Filosofia analítica, Lógica e Linguagem. Dedicam-se também a Epistemologia e História das ciências.
Este livro foi organizado em 16 capítulos e trata da pesquisa científica e sua divulgação. Parte da fundamentação teórica dos estudos científicos para a especificidade das práticas de investigação que contribuem para o desenvolvimento da ciência. Os autores abordam, como atividades práticas, o processo de construção: do projeto e da pesquisa em geral, dos resumos, referências, monografias, relatórios técnico-científicos e artigos científicos.
No capítulo inicial os autores examinam a especificidade dos textos científicos e oferecem técnicas de divisão e interpretação das partes que permitam a boa compreensão desses textos. Esclarecem a diferença entre comentário e explicação, mostrando que a segunda prevalece sobre o primeiro, porque é anterior e restringe-se ao texto, enquanto o comentário pressupõe a explicação, interroga e não se restringe ao texto.
Segue-se o capítulo dedicado aos métodos utilizados na ciência. Eles são apresentados como “caminho estabelecido por determinada ciência, a fim de conseguir conhecimentos válidos por intermédio de instrumentos confiáveis” (p. 17) ou, mais rigorosamente, citando os autores L. Liard, como “conjunto de processos de conhecimento que constituem a forma de uma determinada ciência” (id, p. 17). Neste caso o método possui uma base lógica e dois pontos básicos: reprodutibilidade e falsificabilidade. O primeiro ponto significa que a pesquisa ou experimento pode ser repetido por qualquer pesquisador e o outro que suas hipóteses podem ser recusadas ou falsificadas. As ciências usam variados métodos e, portanto, a escolha do método deve se adequar ao problema e tratamento escolhidos pelo pesquisador. Os autores explicam que a ciência moderna desenvolveu-se partindo da observação, da formulação de hipóteses falsificáveis, da indução ou colocação das hipóteses à prova, da interpretação dos resultados e formulação da teoria, estabelecimento da conclusão.
O capítulo terceiro trata do resultado dos experimentos consolidados em teorias que são fundamentais em qualquer ciência. Os autores aproximam a origem da Ciência com o da Filosofia, remetendo-a ao século VI a. C. na antiga Grécia. Esclarecem que a Ciência moderna, cujo método foi desenvolvido por Galileu Galilei, ganhou perfil diferente e afastou-se da Filosofia e Ciência antes praticadas, adotando “experiências rigorosas, organizadas em leis gerais, por outras palavras, é qualquer corpo de conhecimentos fundado em observações dignas de fé e organizado no sistema de proposições ou leis gerais” (p. 26). Ao tratar da especificidade da Ciência moderna estruturada na razão aplicada (experimental), os autores a diferenciam da Filosofia que se baseia na razão pura; da Religião que usa a fé, possui caráter mais subjetivo e depende da crença de cada um, e da Arte baseada na intuição e não na razão. Eles diferenciam o método indutivo, que vai do particular para o geral, do método dedutivo, que segue o caminho inverso. O conhecimento científico, de modo geral, possui os seguintes traços: “classificar os conhecimentos, descrever os fatos, explicar os fenômenos; interpretar os diferentes casos; ser autocorretivo, experimental, descritivo, particular, cumulativo, operativo” (p. 31). Os autores esclarecem que o conhecimento científico é parcimonioso, isto é, prefere explicações simples. Salientam o propósito da ciência de construir teorias que expliquem os fenômenos e se referem à estas teorias como “uma visão sobre um tema” (p. 40). Eles as caracterizam como possuidoras de “definição rigorosa; coerência interna, generalização por meio de deduções, ampliação do conhecimento” (p. 40). Destacam ainda a utilidade das teorias como critério para sua continuidade.
O capítulo IV é dedicado ao estudo dos conceitos, que são a base da ciência. Contudo, comentam os autores, que não basta reunir conceitos para chegar a uma ciência, é preciso que os conceitos estejam organizados em teorias, cujas características foram examinadas no capítulo anterior. O conhecimento adequado dos conceitos é um bom critério para saber se se conhece uma teoria e para organizar o debate, pois “aquele que afirma e aquele que pergunta, devem ter claro qual o significado do conceito empregado” (p. 44).
Um conceito científico caracteriza-se “por ter um significado claro, preciso e abstrato, que não resulta de preferências, de gostos e de anseios individuais” (p. 44). Contudo, a característica principal de um conceito científico é “identificação dos elementos centrais daquilo que é estudado” (p. 45) e não se referir “a um caso único, a um fenômeno, mas a classes, a grupos, a relações, etc.” (p. 45). A compreensão de um grupo de conceitos que estão numa ciência dirige o olhar do cientista, assim ele perceberá o fenômeno com os olhos da ciência que lhe é familiar, ou “cada um perceberá o mundo com os conceitos que for condicionado” (p. 46).
Segue-se um capítulo dedicado a verdade. Os autores tratam dos critérios de verdade estabelecidos por três grandes escolas filosóficas: realismo (relação entre a consciência e a coisa), idealismo (coerência interna) e pragmatismo (utilidade das afirmações). No que se refere propriamente às verdades científicas, elas se dividem em três tipos: as que se limitam a formular o que pode ser exato, as que aceitam a probabilidade e aquelas que se abrem à possibilidade do mundo de cada pessoa influir no conhecimento. Estas últimas são as ciências humanas que, com base na fenomenologia, reconhecem, por baixo dos fatos objetivamente descritos, elementos do chamado mundo da vida. No que se refere à relação dos fatos, os autores distinguem as verdades lógico-formais, das objetivas, ontológicas e morais. Poderíamos entender as primeiras como as da Lógica e Matemática, as segundas como as das Ciências da natureza e as duas últimas da Filosofia. Quanto a relação com a verdade ela pode produzir quatro tipos de dúvidas: “espontânea, refletida, metódica e universal.” (p. 53). A primeira é aquela em que a pessoa não emite juízo sobre algo, mesmo que tenha elementos para fazê-lo, a segunda nasce da ausência de elementos necessários à conclusão, a terceira é um tipo de método empregado para chegar a uma verdade indubitável e a última refere-se à posição dos céticos, que negam a possibilidade de chegar a verdades fundamentais.
Quanto aos critérios de verdade os autores apontam seis: a autoridade (abandonada pelas ciências modernas), a evidência (o que aparece para o indivíduo), o senso comum (uma espécie de instinto comum), a necessidade lógica (ausência de contradição) e a experiência.
O capítulo VI estuda a pesquisa científica e os autores a definem como a que utiliza “métodos racionais, científicos, na comprovação ou não, das teorias apresentadas” (p. 57). Eles apresentam como objetivo da pesquisa científica “encontrar respostas coerentes, para os problemas (questões) propostos pelo pesquisador” (p. 58) e diferenciam as pesquisas quantitativas, que trabalham com a quantificação das variáveis, das qualitativas, mais empregadas nas ciências humanas. Esclarecem que essas últimas se desenvolveram no século passado e resumem o debate então realizado entre os intérpretes das chamadas ciências duras e as outras. Tratam, ainda que superficialmente, dos limites da razão experimental que foi desenvolvida na modernidade para tratar dos problemas do homem, assunto da fenomenologia.
A partir do capítulo VII o livro ganha um caráter prático, orientando o leitor em como utilizar as técnicas empregadas na pesquisa científica. Distinguem esquema, resumo e fichamento. Esclarecem que esquema “permite ao estudante compreender uma obra em seu todo” (p.63). Eles propõem no capítulo VIII o resumo como “apresentação concisa de um texto qualquer” (p. 65) e tratam no capítulo IX de um tipo especial de Resumo denominado Resenha.
Explicam que Resenhas são um tipo específico de resumo seguido de comentário crítico, por isto dizem que eles devem ser “elaborados por especialistas” (p. 67). Normalmente as revistas científicas recebem bem este tipo de resumo dedicando-lhe uma parte própria, porque é importante aos especialistas da área terem um resumo comentado das obras daquela ciência pois não é possível, hoje em dia, ler tudo que se publica nas diversas áreas da ciência.
O capítulo X é dedicado ao fichamento, definido como técnica para “guardar um grande número de informações sobre um documento em pequeno espaço.” (p. 69). O fichamento pode ser da obra toda ou de uma parte, além de conter citações que serão úteis na elaboração do trabalho que pretende fazer. O capítulo XI é um resumo da NBR 10520 e explica como fazer citações curtas e longas. Segue-se um capítulo sobre como fazer referências, resumo da NBR 6023, de livros, monografias, periódicos, eventos, trabalhos em eventos, legislação, jurisprudência, doutrinas, filmes, documentos cartográficos e sonoros.
O capítulo XIII explica como se faz um projeto de pesquisa, apresentado como “caminho que será percorrido, no estudo do problema proposto” (p. 97).
Os autores detalham os elementos imprescindíveis do projeto (capa, folha de rosto, sumário, apresentação, justificativa, área de concentração, natureza, delimitação do assunto, revisão da literatura, problema, hipóteses, procedimento, análise dos dados, objetivos, conteúdo, metodologia, cronograma, referências, anuência do orientador).
O capítulo seguinte é dedicado à monografia, definida como “texto sobre um único assunto” (p. 129), e que pode ser desde um TCC até uma tese de doutoramento. Consiste num resumo da NBR 14724. Suas características básicas são: sistematicidade, metodologicidade e relevância. Uma monografia se divide, geralmente, em cinco partes: “introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia, notas.” (p. 131). Os autores finalmente afirmam que a estrutura formal da monografia são três grandes partes: os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais.
Os capítulos finais explicam como fazer um relatório e um artigo científico, respectivamente comentando as NBRs 10719 e a 6022. Os artigos científicos, matéria do último capítulo, são definidos como: “publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento.” (p. 163). O artigo serve para divulgar um tema estudado e deve vir em linguagem “clara, coerente, objetiva, impessoal” (p. 163) e conter os elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais.
Este livro é importante porque coloca o leitor diante do fato de que fazer ciência é mais do que aprender conceitos e teorias, exige produzi-la. Esta atitude é própria de um tipo de ciência desenvolvido na modernidade, com os estudos de Francis Bacon, Isaac Newton e os iluministas, que contrapunham a nova formulação da ciência à antiga construída na velha Grécia por Platão e Aristóteles. A ciência moderna nunca está pronta, mas em continuado processo de construção. Por isso, o estudo das técnicas de pesquisa é essencial numa atividade que está sempre se fazendo. O movimento iluminista reforçou a confiança na razão aplicada e no modelo de ciência moderna pautada na observação dos fatos, experiência e cálculos. Os autores incorporam aspectos importantes dos estudos de filosofia da ciência. Entre eles o entendimento de que a enumeração dos fatos ou descrição dos conceitos não é suficiente para fazer ciência, antes é preciso comparar os fatos observados e julgá-los para construir teorias. Isto é o que ensinava, por exemplo, o médico e fisiologista francês Claude Bernard no século XIX. Os autores incorporaram ainda uma concepção mais atual de ciência que trata da sua validade em virtude da autocorreção, princípio baseado na falibilidade das teorias, conforme postulado por Charles Sanders Peirce e pela falsificabilidade, conceito desenvolvido por Karl Popper. Para este último uma teoria é válida não devido a sua demonstração, mas por sua permanência provisória, enquanto não vingam os esforços por refutá-la.
No capítulo IX os autores tocaram numa questão importante da ciência moderna, a sua necessária especialização. Como lembra Ortega y Gasset no capítulo XII de La rebelión de las masas (O.C., Madrid, Alianza, v. IV, 1994): “nem sequer a ciência empírica, tomada em sua integridade, é verdadeira se separada da Matemática, da Lógica, da Filosofia. Porém o trabalho em que nela se tem, irremediavelmente, tem que ser especializado.” (p. 217). Esta especialização exigida pela ciência moderna contém, contudo, um grave risco que o Ortega repetiu em mais de um lugar e isto não foi mencionado no livro.
É que a especialização não legitima o conhecedor de uma ciência opinar sobre outros assuntos. Quando ele assim faz torna-se uma espécie de novo bárbaro, detalhadamente estudado por Ortega. Este especialista deverá passar por uma reciclagem, se estiver correto o que diz Ortega na continuidade do livro, pois se:
o especialismo tornou possível o progresso da ciência experimental durante um século, aproxima-se uma etapa nova em que ele não poderá avançar por si mesmo se não encarregar uma geração melhor de construir um novo aparelho mais poderoso. (p. 219-220). Este novo especialista é uma exigência dos nossos dias, mas ainda assim será ele um especialista.
O assunto nuclear, da perspectiva epistemológica, consiste na discussão entorno à verdade levada a cabo no capítulo V. E aí também há virtudes. Parece importante a distinção dos conceitos de verdade construídos por diferentes escolas filosóficas: realismo, idealismo e pragmatismo. Também parece fundamental a diferença entre os critérios de verdade adotados por diferentes ciências: a verdade exata da linguagem matemática, as afirmações aproximativas da estatística e as verdades cuja objetividade relativa está em disputa com as referências subjetivas do mundo da vida. Faltou indicar que essas diferentes visões de verdade científicas nascem em diferentes tipos de ciência, as primeiras da natureza e as últimas do homem. A distinção entre os diferentes tipos de dúvida também foi muito criativo. O que ficou a merecer maior aprofundamento é o fato de que as verdades são diferentes nas Ciências, na Filosofia, na Religião e até as Pessoais. Todas as formas de verdade são importantes, mas se organizam em níveis distintos. Neste aprofundamento sobre as diferentes verdades faltou também um esclarecimento sobre os limites das chamadas ciências duras, ou a ciência experimental, pois suas teorias começaram a ser refutadas pelo desenvolvimento da própria filosofia da natureza no século que passou.
José Maurício Carvalho – Doutor e professor de Filosofia na UFSJ. Email: [email protected]
Wittgenstein on Phenomenology and Experience: An Investigation of Wittgenstein’s ‘Middle’ Period – THOMPSON (ARF)
THOMPSON, James. Wittgenstein on Phenomenology and Experience: An Investigation of Wittgenstein’s ‘Middle’ Period. [?]: University of Bergen Press, 2008. Resenha de: SILVA, Marcos. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n. 13, jan./jun. 2015.
I read Thompson’s well-written and relevant book ‘Wittgenstein on Phenomenology and Experience’, published by the University of Bergen Press in 2008, with great interest. My PhD Dissertation, defended in 2012, has direct connections with his main object of investigation, especially because one of my interests there was to evaluate logical problems with the expressiveness of color exclusion within the tractarian background.
Thompson’s treatment of the so-called Middle Wittgenstein period, documented by the transitional material that appeared in the Nachlass, is for this reader the most seminal feature of his work on Wittgenstein’s phenomenology. His commentary provides a useful addition to the leading and influential researchers already focusing on this challenging and oftneglected material. Thompson manages to handle significant problems with Wittgenstein’s exposition about experience and phenomenology without lapsing into the sort of misleading labels and programmatic vagueness that has dominated commentaries of the last two decades in the “Wittgensteinian scholarship”, for instance discussions of the tractarian passage 6.53, which orientates the contention of resolute reading. The secondary literature has too often rendered Wittgenstein an isolated and aptly neglected author in contemporary analytic philosophy.
One potentially misleading feature of Thompson’s exposition, however, is the symmetric approach that he takes towards presenting Wittgenstein’s thoughts about experience and phenomenology; on the contrary, a careful reading seems to reveal that phenomenology was a centrally important topic in Wittgenstein’s philosophical development, while experience was not.
Consider the frequency and centrality with which phenomenology was directly discussed by Wittgenstein, while any discussion of experience was very often fragmentary and marginal. Moreover, note the kind of association which Thompson draws between the mystical experience in Tractatus Logico- Philosophicus [hereafter TLP] as a trigger for the rise of phenomenology in the transitional period. If Thompson is correct, then the relation is by no means obvious and straightforward, and it deserves a fuller explication. I do agree that some germs of the phenomenology found in Wittgenstein’s Middle Period can be already seen in the Tractatus, but not in its contention on mystical experience, as Thompson defends, but already in the very beginning of his first book.
Arguably, Thompson’s work overlooks the importance of colors and their logical organization in this transitional material. In some passages of Philosophische Bemerkungen [hereafter] PB, for instance §81-83, and in some entries of the discussions presented in Wittgenstein und der Wiener Kreis [hereafter WWK], such as ‘Farbsystem’ and ‘Die Welt ist rot’, Wittgenstein does draw attention to his uses of colors in TLP directly connected to his new phenomenology. I am not talking about the obvious problem in 6.3751, first pointed out by Ramsey (who was not mentioned in any part of Thompson’s book). Criticizing this Tractarian passage, Ramsey (1923) discovered the Sackgasse for the tractarian logic: Some necessary consequences are not due to tautologies. However, I prefer to read this contention through its dual: Some (logical) exclusions are not due to contradictions (but due to contrarieties). My point is that if we read carefully the first two mentions of colors in Wittgenstein’s Tractatus, namely 2.0131 and 2.0252, which both occur in the work’s so-called ontological section, we will see that already some phenomenology was to be expected even there. The italics in 2.0131 strongly suggest a kind of exclusion, surprisingly underdeveloped by Wittgenstein at that time. As this passage 2.0131 already suggests, these italics are not just to be found in color system.
The ‘etcetera’ in this very same passage suggests the multiplicity of ‘logical spaces’ or ‘Satzsysteme’, whose treatment are ubiquitous in his “phenomenological” period and given a full treatment.
Another concern might be raised about Thompson’s neglect of Ramsey’s relevance to Wittgenstein’s abandonment of the thesis of the independence of elementary propositions/Sachverhalt. Many authors have been said to have influenced Wittgenstein directly or indirectly throughout his carrier. But none of them made a complicated trip from England to Austria, more specifically, to a small village in Niederösterreich in the middle of nowhere, to meet personally with Wittgenstein to discuss some (obscure) problems in his (obscure) book.
Ramsey was the first one to recognize the significant problem of logical organization that colors posed and the challenge they represented for the tractarian logic and image of language. Moreover, as an illustration of a very interesting case of historical completeness, Ramsey already pointed out the color problem within the tractarian philosophy in 1923; he therefore probably anticipated, in 1927, Wittgenstein’s later solution for the problem introducing additional rules, pragmatism and games, by using a metaphor of chess. And Ramsey had proposed all of that three years before Wittgenstein had begun talking significantly about games! The importance of recognizing Ramsey’s criticism and his impact on Wittgenstein’s solutions in the Tractatus is not just a matter of scholarly integrity; it is also a matter of illuminating accurately the conceptual development of key contributions made to logic and mathematics which have become associated with early analytic philosophy.
The total neglect of WWK in Thompson’s book, which purportedly intends to unveil Wittgenstein key shifts, is also hard to comprehend. WWK was neither written nor edited by Wittgenstein; yet it is a great historical and philosophical document for understanding the kinds of problem Wittgenstein was dealing with and reacting to in his philosophical development. If the problem is that WWK is not well edited, that can always be established by a careful comparison with Wittgenstein’s Nachlass. Such an exercise would like reveal that many arguments, metaphors and concepts are indeed very similar. Thompson ought to justify why he very often used PB and not WWK at all. Moreover, in WWK we can see diachronically how things evolved, while, with PB, Rush Ree’s interventions make this kind of genetic investigation impossible.
Perhaps also as consequence of not using WWK, Thompson seems to have overlooked the importance of the year 1930 for Wittgenstein’s treatment of phenomenological problems. For instance, in the beginning of 1930, the notion of normativity, which is not explored in Thompson’s book, arose in Wittgenstein’s discussions with Waismann about the number π and the role of axioms in geometry. Another example is the role of June of 1930. At this time, Wittgenstein was preparing Waismann to represent him in a brilliant round table on the nature of mathematics in Könisberg, in which Von Neumann, Carnap and Heyting would participate. In the entry ‘Was wäre es zu sagen in Könsisberg’ in WWK, we can see both Wittgenstein and Waisman discussing Grundgesetze’s criticism of formalism. This entry shows that Wittgenstein defended clearly, against Frege, that formalists are right in holding mathematics as a game. This discussions on formalism also marks Wittgenstein`s decreasing interest in his short-lived phenomenology. In this way, this entry should have played a relevant role in Thompson’s evaluation of Wittgenstein’s phenomenology.
Another conspicuously absent omission in Thompson’s book was some detailed discussions of verificationism. Maybe this is also due to his neglect of WWK in his critique; for it is there that this topic is raised at several points in conjunction with phenomenology. These discussions are important to understand Wittgenstein’s influence on Carnap and the Vienna Circle; moreover, the prominence of Wittgenstein’s treatment of these two conjoined topics is critical to appreciating the influence on Wittgenstein of Brouwer’s intuitionism and revisionism about the role and nature of logic. Thompson does mention, but does not explore in much detail, the clear connection between verificationism and problems with the restrictiveness of truth-functionality. In some way this discussion may link with the reasons why the kind of realist truth theory Notes on Thompson’s “Wittgenstein on phenomenology and experience” – Marcos Silva Argumentos, ano 7, n. 13 – Fortaleza, jan./jun. 2015 321 defended in the Tractatus (based on the notion of sense as truth conditions) must be abandoned. It might be argued that this consequence is directly linked to the full ascendancy of Wittgenstein’s phenomenology: ‘sense’ resolves finally into the concern for finding a method for verification, and not a matter of concern for determining logical truth conditions. Thus a very important key to the role that his phenomenology played in Wittgenstein’s official return to philosophy has been neglected, in an otherwise compelling overview of his phenomenology and the notion of experience.
Thompson made, in spite of these problems pointed above, some brilliant remarks on the failure of using calculus to understand human language discussing its lack of determinedness, rigidity (i.e. the well structuredness of rules) and completeness. I recommend Thompson’s book to people interested in an introduction to Wittgenstein’s (short-lived) phenomenology and for anyone who will profit from sharp, effective criticism of the limitations of the so-called resolute reading.
References
FREGE, Gottlob. Grundgesetze der Arithmetik. Band: II. Jena: Verlag Hermann Pohle, 1903.
RAMSEY, Frank. Critical Notes to Tractatus Logico-Philosophicus. Mind, p. 465- 478 ,1923 _____. Facts and propositions. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, v. 7, Mind, Objectivity and Fact, p. 153-206, 1927.
SILVA, Marcos. Muss Logik für sich selber sorgen? On the Color Exclusion Problem, the truth table as a notation, the Bildkonzeption and the Neutrality of Logic in the Collapse and Abandomnent of the Tractatus. PHD Thesis – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophische Bemerkungen. Werkausgabe Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
_____. Some Remarks on Logical Form. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, v. 9, Knowledge, Experience and Realism p. 162-171 Published by: Blackwell Publishing on behalf of The Aristotelian Society, 1929.
_____. Tractatus Logico-philosophicus. Tagebücher 1914-16. Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe Band 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
_____. Wittgenstein und der Wiener Kreis. Werkausgabe Band 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
Marcos Silva – Pós-doutorando em Filosofia na Universidade Federal do Ceará (UFC)/CAPES-PNPD. E-mail: [email protected]
De segunda a um ano – CAGE (AF)
CAGE, John. De segunda a um ano. Tradução Rogério Duprat; revista por Augusto de Campos. Rio de Janeiro: Cobogó, 2013. Resenha de: VEIGA, Milton Castelli. Artefilosofia, Ouro Preto, n.16, jul., 2014.
O livro De segunda a um ano é uma coleção de ensaios do compositor norte-americano John Cage (1912-1992). O primeiro e único livro do compositor traduzido para o português, graças ao pioneirismo de Rogério Duprat, ganhou em 2013 sua segunda edição; sendo que a primeira fora publicada pela Hucitec em 1985 por ocasião da visita do compositor à 18ª Bienal de São Paulo.
John Cage (John Milton Cage Jr.) foi um dos compositores mais controversos do século XX e o que mais exerceu influência na música do pós-guerra. Foi um dos criadores da música concreta e o primeiro artista a fazer um happening. O principal ícone da chamada música experimental traz ainda o título de ter sido o inventor do piano preparado 1. Viveu de maneira muito própria as antinomias estéticas do século; sua educação musical se deu num momento delicado da história da música ocidental, quando a linguagem da tradição, ou seja a linguagem tonal, estava sendo sistematicamente abandonada. Alguns sistemas referenciais foram projetados para sua substituição, e apesar de proféticos e promissores muitos deles estavam longe de se estabelecer como consensuais ou caminho seguro a ser trilhado; ademais, nenhum desses sistemas de composição sequer ultrapassou duas gerações de compositores. Cage iniciou sua carreira de compositor utilizando o sistema dodecafônico, seguindo, assim, os passos de seu professor Arnold Schoenberg, mas foi a partir de 1938 na Cornish School of Arts, quando veio a desenvolver trabalho com o coreografo Merce Cunningham, que seu ímpeto pelo novo alçou voos pelo experimentalismo. Sua teoria acerca do silêncio no processo de criação deu-lhe projeção internacional – chegando, inclusive, a dar nome a seu primeiro livro, publicado em 1961. O uso do acaso no processo da criação também foi fundamental na sua carreira. Cage não se limitou ao ofício de compositor; era também crítico, filósofo, poeta, artista gráfico, pintor e designer. Em 1946, através do músico indiano Gita Sarabhai, John Cage entrou em contato com a filosofia oriental e a partir daí sua concepção de mundo se transformou, transformando também seu entendimento sobre a estrutura e a compreensão musical. São emblemáticas desse momento suas Sonatas e Interlúdios de (1946-8) onde se fazem presente as oito emoções permanentes da estética indiana. Em fins da década de 40, o compositor se aproxima das teorias hindus e do Zen Budismo donde passa a cultivar a estética do silêncio. De Segunda a um ano faz parte desse momento, onde o compositor se põe a refletir sobre outras possibilidades de compreender o mundo. O próprio título do livro é fruto de suas concepções acerca do acaso, como o autor demonstra já na introdução. Diferente de seu primeiro livro, Silence, este se dedica menos a assuntos propriamente musicais do que temas sociais ligados ao pensamento de N. O. Brow n, Marshall McLuhan, Buckminster Fuller, Marcel Duchamp e Jasper Johns. Durante a redação dos textos que enfeixam o livro, o compositor depositou tanto interesse nas teorias sociais que chegou a refutar o próprio fazer musical, o qual, aliás, interessava-lhe cada vez menos, pois via no compositor uma figura autoritária. De fato, essa postura não harmonizava com os princípios anárquicos de Cage. Felizmente logo após a conclusão do livro, Cage volta a dedicar-se à composição. A editora Cobogó, Rio de Janeiro, nos presenteou com um trabalho primoroso, tanto pela beleza da edição, como pela dedicada prudência na preservação da concepção gráfica, nada convencional, utilizada pelo autor. A presente edição se coloca à altura do projeto de Cage, provocando e estimulando os nossos sentidos de percepção. Traz dois prefácios assinados pelo poeta Augusto de Campos. O primeiro com o título CAGE: CHANCE: CHANGE fez parte da primeira publicação brasileira de 1985. Esse texto é de uma beleza tão rara quanto o próprio restante do livro. O poeta dispôs-se da licença poética para apresentar, através de sua incrustada técnica concretista, o percurso criativo de John Cage até a década de 80. Para essa nova edição, Campos assinou uma segunda introdução, onde complementa o percurso do compositor até seu falecimento em 1992.
De segunda a um ano é um livro-mosaico formado por artigos, manifestos, conferências, proposições, pensamentos e aforismos. Uma miscelânea de textos construídos de modo maravilhosamente não linear. Um livro audiovisual, diria Campos. Os textos foram concebidos entre 1961 e 1967 – com exceção de Conferência na Juilliard, Conferência sobre o compromisso, e algumas histórias englobadas sob o título Como passar, chutar, cair e correr, que remontam à década de 1950. No Antepapo e Fim de Papo o autor descortina o enigma do título do livro e mostra-nos a partir daí sua capacidade de lidar com o acaso e o indeterminado como uma estética anárquica da vida. Alguns textos obedeceram às operações do acaso, obtendo dessas elaboradas operações a ordenação das ideias, a quantidade de palavras, a formatação e o tipo gráfico. Nessa linhagem está o texto Diário: como melhorar o mundo (você só tornará as coisas piores) em que o autor estreita os laços com os projetos de Fuller, principalmente com a teoria do “comprehensive design”; ainda nessa linha temos a Conferência sobre o compromisso e o Diário: audiência. O texto Duas proposições sobre Ives também chama a atenção pelo projeto gráfico, pois o autor incorpora à linguagem escrita alguns códigos de expressão musical. O Papo nº 1 também se destaca pela sua estrutura gráfica. Esse modo de conceber o texto, onde os meios de comunicação exercem influência na percepção dos sentidos, é resultado do contato que Cage teve com a obra de McLuhan. Os leitores que têm interesse no pensamento musical do compositor poderão se deleitar com os textos Diário: seminário de música de Emma Lake, Seriamente Vírgula!, Happy New Ears, Daqui, para onde vamos?, Conferência na Juilliard, Ritmo etc., e no Como passar, chutar, cair e correr. Já o texto Mosaico é um interessante comentário crítico sobre as cartas de Arnold Schoenberg selecionadas por Erwin Stein.
De cativante interesse são os textos 26 proposições sobre Duchamp, Jasper Johns: histórias e ideias, Miró na terceira pessoa: 8 proposições, Nam June Paik: um diário onde o autor expõem sua relação com o projeto artístico desses seus coetâneos. Todos os textos são precedidos por uma pequena introdução, onde o autor explica a finalidade do texto e quando necessário, explica a técnica para a sua leitura. Enfim, o livro surge como um projeto de “renuncia à competição” e um apelo à “iluminação do mundo” bem aos moldes de Buckminster Fuller; e apresenta-nos um artista curioso e observador, que buscou interpreta r o mundo pelo viés social e anárquico. Cabe-nos, ainda, ressaltar o notório empreendimento do maestro Rogério Duprat em traduzir esse livro poucos anos depois de sua publicação original. Certo é que esse feito é uma das inegáveis contribuições que Duprat concedeu à música brasileira e à reflexão musical da vanguarda brasileira. Sem adentrarmos em detalhes sobre a formação musical e intelectual de Rogério Duprat, quero sublinhar o seu pioneirismo em empreender tal tradução que, diga-se de passagem, acusam não só o seu domínio das poéticas e estéticas musicais do século XX, mas sua intimidade com a linguagem prosaica e poética ao “recriar” as aventuras de Cage. Enfim, De segunda a um ano é um livro provocativo, divertido e de rara beleza onde podemos encontrar as principais inquietações do compositor, o que já se manifesta a partir de sua dedicatória: “Para nós e todos aqueles que nos odeiam, para que os EUA possam se tornar simplesmente uma outra parte do mundo, nem mais nem menos.” -John Cage.
Nota
1 O papel do compositor no trato do piano preparado foi fundamental para a compreensão desse instrumento como forma de expressão, porém não podemos desconsiderar a iniciativa do compositor austro-boêmio Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), que utilizou de técnica semelhante na obra Battalia à 10 D-dur, C.61 (1673).
Milton Castelli Veiga-Graduado em música pela Universidade Cruzeiro do Sul/SP e mestrando em música pela UFRJ.
William Shakespeare: as canções originais de cena – ZWILLING (AF)
ZWILLING, Carin. Colaboração de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser. William Shakespeare: as canções originais de cena. São Paulo: Annablume, 2010. Resenha de: PATRIOTA, Rainer; BESSA, Robson. Artefilosofia, Ouro Preto, n.16, jul., 2014.
O livro William Shakespeare: as canções originais de cena, de Carin Zwilling (com a colaboração de Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser), é resultado da pesquisa de doutorado concluída pela autora no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo sob orientação do prof. Dr. John Milton. Desde já, registre-se a importância crucial do livro, que resgata para o público brasileiro uma faceta raríssima conhecida e comentada do teatro shakespeariano, mas que nem por isso deixa de ser imprescindível a todos aqueles que buscam uma compreensão mais ampla d a arte deste que é o mais admirado artista inglês de todos os tempos. Imprescindível, uma vez que n o teatro de Shakespeare, como deixa bem claro o livro de Carin Z willing, a música não se restringia a uma função meramente decorativa, mas antes operava por dentro da trama e com um impacto estético-catártico decisivo. William Shakespeare: as canções originais de cena, desdobra-se ao longo de s eis capítulos. No primeiro, intitulado “ Sobre William Shakespeare: uma visão panorâmica ”, a autora traça um breve painel da vida e da obra do dramaturgo, oferecendo um quadro cronológico de suas peças em que informa o gênero, as possíveis fontes literárias de que Shakespeare teria se servido, e os principais personagens de cada uma ; o capítulo, cuja brevidade condiz com seu caráter preambular, termina com um interessante comentário de John Dryden – extraído de seu Essay of Dramatic Poesy (1668) – e uma linha do tempo situando os principais eventos da vida de Shakespeare no contexto político e literário da época. O segundo capítulo, “ O teatro inglês ”, da autoria de Leonel Maciel Filho, versa sobre a construção dos teatros londrinos durante os períodos elisabetano e jacobino. Nele, ficamos sabendo que o primeiro teatro moderno fora construído em 1576 por James Burbage, um “ simples ” marceneiro e ator, que custe ara sozinho todo o empreendimento e, com um a ousadia que é tão própria ao homem do Renascimento, veio a fundar aquele que provavelmente foi o primeiro teatro popular da Europa. Por problemas contratuais, o teatro de Burbage teve de se r demolido, mas a madeira empregada em sua construção servi ria para a edificação do famoso Globe – o teatro para o qual Skakespeare veio a escreve r grande parte de suas peças. Leonel Maciel Filho finaliza seu capítulo com uma discussão s obre a retomada do teatro clássico durante o Renascimento. Seguindo as orientações de Vitrúvio em seu De Architectura sobre acústica e teoria da música, os arquitetos do Renascimento tiveram grande preocupação com a questão sonora. Segundo Leonel, essa mesma preocupação norteou a construção d o teatro shakespeariano, pensado mais em função do ator (e do músico) que do cenógrafo. Em “ A música na época de William Shakespeare ”, Carin Zwilling volta à cena e, nesse terceiro ato de sua obra, atua com excelente desenvoltura. De início, descreve a situação social dos músicos e seus divers os papéis, sobretudo o de músico de corte, abordando em seguida – com o auxílio de interessantes ilustrações de época – os
instrumentos mais utilizados, como o alaúde, o virginal, a s viola s da gamba, as flautas, sacabuxas etc. Sua exposição culmina n uma importante exposição conceitual sobre a canção moderna. Nascida da busca pelo resgate da música grega e em oposição ao “artificialismo” da polifonia renascentista, a canção se pauta na expressão de afetos embutidos no texto e elaborados pela melodia. Depois de incursionar pelas terras italianas e esclarecer o conceito de seconda prattica, formulado por Claudio Monteverdi, Zwilling destaca a figura de Thomas Morley – importante madrig alista do período elisabetano, autor de duas canções para o teatro de Shakespeare e de um manual de composição (que é brevemente comentado pela autora). Com o quarto capítulo, “ A música na obra de William Shakespeare ”, chegamos a um momento crucial do livro de Carin Zwilling.
Nele, a autora fornece uma série de dados sobre as canções n as peças de Shakespeare e nos instrui sobre as inúmeras referências musicais feitas pelo dramaturgo, não apenas as poéticas, mas também as técnica s – as indicações para a execução de música de fundo ou para a entrada em cena dos músicos. Discute – a partir das categorias apresentadas pelo renomado pesquisador em Shakespeare Frederick W. Sternfeld – as diversas funções que cabia à música desempenhar dentro da trama e no palco, a exemplo da “música mágica”, que ambientava situações idílicas ou oníricas como aquela em que as fadas ninam Titânia em Sonho de uma Noite de Verão. Às quatro categorias de Sternfeld, Zwilling acrescenta a categoria de “música das esferas”, observando que não só em Shakespeare, mas no teatro da época em geral, o conceito pitagórico de “harmonia das esferas” circulava como um signo cósmico a traduzir a vida e a arte. Segue-se uma descrição das formas de música vocal presentes na dramaturgia shakespeariana, como o carol e o catch, o madrigal, a balada – o gênero predileto de Shakespeare – e a lute air, esta última intimamente associada à obra do ilustre compositor e alaudista John Dowland. O capítulo termina com um quadro das canções utilizadas por Shakespeare, indicando não só a peça da canção, mas também o nome do compositor, o gênero musical a que pertence e sua localização específica na peça (ato e cena). O quinto capítulo, “As canções originais de cena de William Shakespeare”, é o coração do livro de Carin Zwilling. Fruto de cinco anos de pesquisa, ele traz comentários esclarecedores sobre 3 2 canções d e Shakespeare (apenas 33 foram encontradas de um total de 72), contendo ainda a transcrição das partituras e a tradução dessas canções – feita pela autora em colaboração com Leonel Maciel Filho e Andrea Kaiser. Trata-se de um material precioso e do maior interesse para músicos – especialmente aqueles que se dedicam ao repertório antigo –, gente d e teatro e apreciadores de Shakespeare e da literatura em geral. O livro termina com um capítulo que é, na verdade, um apêndice – “Biografia dos compositores das canções de Shakespeare”. Tem-se aqui dez verbetes extraídos do The New Grove Dictionary of Music and Musicians traduzidos por Leonel Maciel Filho. A despeito de seu caráter genérico, o material cumpre sua função como uma fonte de informação para estudantes de música, pesquisadores e curiosos em geral. Não há dúvida de que o livro de Carin Zwilling é digno da maior consideração, sobretudo pelo esforço musicológico de transcrição e análise das canções. Na verdade, ao chamar a atenção para o fato de que o teatro de Shakespeare possuía canções e muita música de fundo, a autora nos convida a reformular nosso ponto de vista acerca d e uma obra que tem sido apreciada sobretudo como literatura, mas que, em sua origem, é mais que isso – é teatro, ou seja, palco, com atores, cantores e instrumentistas. Pela importância da temática e do livro em si mesmo, faz falta, no entanto, uma boa apresentação ou mesmo um prefácio que, em chave estética e musicológica, fizesse as devidas honras ao livro.
Observe-se, por fim, que a autora, que também é alaudista, nos dá um excelente exemplo de que o trabalho do músico não precisa se confinar à lida da performance, podendo – ou mesmo devendo – se prolongar e potencializar pela atividade intelectual e investigativa.
Rainer Patriota-Graduado em música pela UFPB e doutor em filosofia pela UFMG; professor e pesquisador pelo PRODOC junto ao IFAC/UFOP.
Robson Bessa-Graduado em música pela UFMG e doutorando em literatura pela UFMG.
Hannah Arendt e a modernidade. Política, economia e a disputa por uma fronteira – CORREIA (ARF)
CORREIA, Adriano. Hannah Arendt e a modernidade. Política, economia e a disputa por uma fronteira. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. Resenha de: JOSINALDO, Cícero. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.12, jul./dez. 2014.
No livro Hannah Arendt e a modernidade. Política, economia e a disputa por uma fronteira, Adriano Correia se propõe a percorrer com Hannah Arendt as distinções conceituais que operam como um dos principais expedientes metodológicos em sua reflexão política. Particularmente no que concerne à sua relação crítica, mas também ambígua com a modernidade. Para explicitar a acuidade e a relevância do procedimento de distinção conceitual assumido por Arendt, sem descurar, no entanto, do exame crítico de sua reflexão política (exemplificada na abordagem da “questão social”), importa para Correia considerar tanto as distinções mais sutis quanto os desdobramentos de certas equações negligentes. E isso sob a aposta no “vigor heurístico” da análise arendtiana acerca “mundo moderno”, em parte instituída por este procedimento.
No prólogo, sob o título “A necessidade de conhecer”, Correia começa por registrar o decisivo distanciamento que Hannah Arendt procurou manter da filosofia política tradicional no bojo da qual, exceto por algumas exceções, desde Platão, sob o impacto da morte de Sócrates, resta “o desconforto dos filósofos com a pluralidade, a fala persuasiva e o modo de vida ativo” (p. XII). O autor lembra que apenas muito recentemente, no ambiente de hostilidades políticas sem precedentes que marcam o século XX, Arendt teria detectado um tipo de interesse filosófico pela política, particularmente distinto das inquietações que desde Platão configuraram uma tradição filosófica. O aspecto marcante do novo interesse filosófico pela política foi o fato de que, mobilizado por certos acontecimentos avaliados como crises da civilização no século XX, incitou a reabilitação do vínculo entre pensar e agir. No registro de Adriano Correia, a interpretação de Arendt de que isso equivale à renúncia do filósofo ao papel de sábio no trato com a política, tem em conta a oportunidade criada pelo fenômeno para reavaliar as concepções tradicionais à luz de certas experiências e condições humanas básicas que a filosofia hostilizou.
Por sua parte, com a crise da tradição metafísica que procurava extrair as razões últimas dos fenômenos, conferir-lhes sentido ou “salvá-los”, a filosofia moderna se concentrou em revelar suas forças ocultas na conexão que mantêm com os processos do conhecer. Expediente moderno que lança os fenômenos numa profunda carência de sentido, e esta, por consequência, na falta de dignidade própria. Tal maneira moderna de “salvar” os fenômenos, “esta falta de jeito para lidar com o particular teria consequências políticas desastrosas para a capacidade de compreender, notavelmente em tempos sombrios” (p. XVII).
Daí que, como nota Correia, contra a falta de jeito da modernidade para lidar com a singularidade e a contingência, Arendt proponha “exercícios de pensamento político”: o exame dos acontecimentos ou o compromisso de “pensar o que estamos fazendo” (conforme Correia, a insígnia articuladora do pensamento de Arendt) que mediante tentativas, isto é, de forma ensaística, começa por suspender a questão da verdade, particularmente assumida como os pressupostos fundamentais e incontestados da tradição, em especial os que sucumbem à novidade dos eventos em categorias ou processos gerais e abrangentes, como se a história fosse um processo fadado a repetições.
Se o pensamento é provocado pela experiência, o empenho em compreender que a ela segue articulado, não se vê amparado por certas categorias tradicionais. Antes admite a “precariedade” e a condição da compreensão ensaística que opera por tentativas, consoantes aos fenômenos de onde parte para articular significativamente as experiências que se vivencia. Entre outros meios, foi por uma espécie de “fenomenologia genealógica” (p. XXII) complementada pela distinção conceitual, segundo Correia, que Arendt se lançou ao desafio de “pensar sem corrimão” (para usar uma expressão que lhe é bastante cara); de pelo testemunho da linguagem reencontrar nos fenômenos o sentido das experiências humanas, e assim resistir à inclinação a submergi- -las em “mais do mesmo.” No capítulo um, sob o título “Vícios privados, prejuízos públicos”, Correia, na companhia de Arendt, problematiza o “privatismo burguês” prenunciado na obra A fábula das abelhas de Bernard Mandeville, efetivamente consolidado pelo Imperialismo e mobilizado pela organização nazista do terror.
Antes de explorar diretamente a hipótese anunciada no título do capítulo (e de acordo com a proposta geral de seu livro), o autor reconstitui a distinção conceitual no horizonte da qual, na interlocução com Carlton Heynes, Hannah Arendt considera fundamental refletir acerca das condições subjacente ao agenciamento totalitário das massas: Hannah Arendt julga indispensável à compreensão desses fenômenos evidenciar as distinções entre a ralé, as massas e o povo, principalmente para indicar a novidade representada pelo surgimento das massas. A ralé “é fundamentalmente um grupo no qual são representados os resíduos de todas as classes” e “é isto que torna tão fácil confundir a ralé com o povo, o qual também compreende todas as camadas sociais”. Não obstante, julga que as distinções são suficientemente agudas para serem desconsideradas, e a principal é que enquanto nas grandes revoluções o povo luta por um sistema que de fato os represente, a ralé sempre clama pelo “homem forte”, pelo “grande líder”. Enquanto o provo, por meio das revoluções e das pressões por reformas nos regimes políticos, busca fazer-se representado no sistema político, a ralé tende a desprezar o parlamento e a sociedade dos quais está excluída, aspirando, em sua atração por movimentos que atuam nos bastidores, por decisões plebiscitárias e ações extraparlamentares. (p. 6).
Na trilha das distinções arendtianas, Correia enfatiza que o engajamento das massas mediante a organização dos líderes emergidos da ralé teve como pano de fundo o colapso do sistema partidário numa Alemanha assolada pela derrota militar, o desemprego e a inflação. E por isso tendo de lidar com o desespero das massas, “uma turba de indivíduos unidos unicamente pela convicção de que os partidos e seus líderes eram perniciosos e desonestos” (p.10). Daí que a mobilização totalitária das massas por líderes da ralé, não signifique, como destaca o autor, a saída da indiferença ou o despertar dos interesses por questões públicas, mas antes a canalização da ira contra aqueles que no sistema partidário se passavam por seus representantes políticos.
Ao reiterar com Arendt que os líderes das massas provinham da ralé, como ilustram os casos Hitler e Stalin, e que o partido nazista era quase que exclusivamente constituído por desajustados, Correia examina o interesse peculiar de Arendt no caso de Eichmann. Himmler, que em suas palavras “‘era mais normal’, mais filisteu do que qualquer outro chefe do partido. Distintamente de toda sorte de pervertidos que se toraram líderes no regime totalitário” (p.13). Himmler tipifica o “privatismo burguês” que ele mesmo teve em conta ao organizar o sistema nazista de terror. Zeloso para com os deveres de pai de família, na fidelidade à esposa e na proteção e garantia de um futuro decente aos seus filhos, Himmler concebeu uma organização burocrática cuidadosamente estruturada para absorver a solicitude do pai de família na organização de tarefas quaisquer que lhe fossem atribuídas, e para dissolver a responsabilidade pessoal em procedimentos de extermínio em que o perpetrador de um assassinato era apenas a extremidade de um grupo de trabalho. (p. 13).
Adriano Correia explora, enfim, a consagração que na falta de uma palavra melhor, Arendt nomeia do tipo “burguesa” aos interesses privados. O homem de massa que Himmler mobilizou para a perpetração dos maiores crimes da história, se aproximava menos da ralé do que do filisteu, disposto a tudo sacrificar em nome de seu “privatismo burguês”.
Ainda no contexto da temática esboçada no capítulo anterior, o segundo capítulo, intitulado “O liberalismo e a prevalência do econômico”, examina o movimento que vai da emergência à consagração filosófica das teorias éticas, políticas e econômicas do “egoísmo”, a saber, as teorias utilitaristas, que tanto para Arendt quanto para Foucault encontram no liberalismo sua mais vigorosa expressão. Antes de retraçar a avaliação que (para dizer de um modo bastante geral e esquemático) Arendt e Foucault têm em comum acerca do liberalismo como prevalência do econômico sobre o político, Correia faz notar que não parece ser coincidência o fato de a este respeito tais autores estabelecerem uma interlocução crítica com David Hume, particularmente acerca da obra Uma investigação sobre os princípios da moral.
Quando no âmbito de suas distinções conceituais entre trabalho e fabricação Arendt identificou a vitória moderna do animal laborans, isto é, do trabalhador- consumidor sobre o construtor-utilizador (que ela chama de homo faber), detectou na “revolução” da teoria ética utilitarista de David Hume, com que Jeremy Bentham concebeu “o cálculo dos prazeres”, um momento decisivo de ascensão do princípio da vida sobre o princípio de utilidade e o mundo. Pois o critério supremo das ações ou a “felicidade” de que fala Bentham, no fim das contas definida como a busca do prazer, é a mais autêntica expressão filosófica da instrumentalidade do animal laborans. Seu critério de utilidade, a subordinação de tudo ao processo vital, é totalmente desconexo e alheio ao mundo em que está situado.
Igualmente fundado sobre o princípio do interesse próprio, embora deslocado para o âmbito coletivo do domínio social, o liberalismo constitui a forma coletivizada do egoísmo, que nem por isso assume o caráter de interesse público.
O decisivo para Arendt, como enfatiza Correia, é que essa forma coletivizada do interesse individual representada pelo liberalismo, e cuja insígnia é a própria prevalência do econômico sobre o político, confira à vida mesma, à vida coletivizada como processo a ser mantido, incentivado e gerido, a distinção de critério supremo do empenho político.
Quanto a Foucault, o autor pontua que a menção àquilo a que Hume é citado por Arendt tem em vista seu esboço para a história do homo oeconomicus, compreendido como a história econômica do sujeito de interesses cuja mecânica, dada a sua heterogeneidade constitutiva, é intransfigurável ao plano jurídico-político pela figura fundadora do contrato:
O homo oeconomicus caracteriza-se justamente, na análise do empirismo e da economia nascente, como um sujeito de interesse cuja ação egoísta, multiplicadora e benéfica, é valorosa na medida mesma em que intensifica o interesse próprio. Com isso em vista, Foucault indica o quanto o homo oeconomicus não apenas não se deixa transfigurar na imagem do homo juridicus como também lhe é inteiramente heterógeno. O liberalismo constitui-se assumindo como pressuposto essa heterogeneidade, ou a “incompatibilidade essencial entre, por um lado, a multiplicidade não totalizável dos sujeito de interesse, dos sujeitos econômicos, e por outro lado, a unidade totalizante do soberano jurídico. (p. 30).
No curso da argumentação desenvolvida por Foucault com base na obra de Adam Smith, Correia destaca que os dois princípios fundamentais do liberalismo implicam a interdição de qualquer concepção de interesse comum, mas também a desqualificação de qualquer soberania arrogada sob o pretexto de conhecer a dinâmica da identidade natural de interesse individuais: O princípio de invisibilidade, notável na obra de Adam Smith, assenta- -se na hipótese de que uma vez que não se pode calcular o que seria um bem coletivo, sua busca é tanto infundada quanto danosa. Ocorre que não apenas o agente econômico não é capaz de mobilizar sua racionalidade para além da sua conduta atomística, também ao soberano é vedado o conhecimento da mecânica da identidade natural de interesses, de modo que “o poder político não deve intervir nessa dinâmica que a natureza inscreveu no coração dos homens”. (p. 30).
Nas palavras de Correia, “na interdição à interdição”, na limitação inflexível do econômico ao político, “é a própria noção de soberania que é posta em questão, portanto, na medida em que [a ignorância econômica] produz no soberano uma incapacidade essencial” (p. 31). Como o homo oeconomicus é aquele que para além de estabelecer limites ao poder soberano (como no caso do homo juridicus), é também de certo modo aquele que o destitui, ao impor o princípio de que lhe é vedado a intervenção no mercado, o poder soberano se vê diante da paradoxal impossibilidade de governar o homo oeconomicus. Foi pela concepção de “sociedade civil”, explica o autor, que na análise foucaultiana a governamentalidade liberal pôde “dissolver” a aporia que a prevalência do econômico lançou sobre a soberania política. A “sociedade civil” é o expediente da arte liberal de governar que emerge do princípio de que o homo oeconomicus é ingovernável. Ela “não é, portanto, uma realidade primeira e imediata, mas nota Foucault, o correlativo da tecnologia liberal de governo.” (p. 32).
Em sua análise final, o autor afirma que para Arendt e Foucault, a despeito de diferenças notáveis na progressiva imbricação de âmbitos tão distintos como o econômico e o político, está igualmente em jogo a questão da liberdade: “trata-se ainda da recusa da concepção de que a liberdade se traduz na conduta do sujeito de interesses que busca realizar os propósitos emanantes da sua vontade mediante o emprego de uma razão calculadora.” (p. 43-44).
Com o propósito de explicitar alguns dos aspectos mais fundamentais da crítica de Hannah Arendt à sociedade moderna, no terceiro capítulo com o título “Do uso ao consumo: alienação e perda do mundo”, o autor reconstitui e explora com argúcia aquela que é talvez a distinção conceitual mais original e mais preciosa de todo o pensamento arendtiano, a saber, a distinção entre trabalho e fabricação.
A recuperação das inversões que a modernidade operou no quadro geral da vita activa é empreendia, num primeiro momento, a partir do referencial constituído pela ciência moderna, no que tem de decisivo para o fenômeno da “alienação”. Conceito carregado de tradição, mas cujo sentido político preciso em Hannah Arendt traduz, como insiste o autor, uma perda do mundo humano de consequência ímpar.
O exame de Adriano Correia mostra que o potencial alienador da ciência moderna, sob a concepção de Hannah Arendt, envolve um complexo conjunto de aspectos cuja consequência é a configuração de um pano de fundo sobre o qual a cena que se desdobra é a inversão da relação hierárquica entre vita contemplativa e vita activa. Inversão operada com base no que é, por assim dizer, o elemento fundante da ciência moderna:
a “fé no engenho das próprias mãos” humanas: A transferência, levada por Descartes, do ponto de vista arquimediano do conhecimento de um ponto fora da Terra para a própria mente humana canalizou a confiança humana exclusivamente para os processos que desencadeava e controlava. Esta fé no engenho das próprias mãos configura o pano de fundo entre o qual se desenrolará a inversão da posição hierárquica entre a vita contemplativa e a vita cativa. A inversão não é, a rigor, uma alternação de posições entre contemplação e ação em que esta ocuparia o espaço de destaque antes conferido àquela no pensamento clássico. A contemplação, no sentido de contemplar a verdade, perdeu todo e qualquer sentido. (p. 49).
O decisivo, como sublinhado por Correia, é que a partir daí registre-se uma subordinação das demais atividades humanas básicas às atividades de fazer e fabricar, as atividades características do homo faber. O que é especialmente válido para a ciência, já que agora aposta antes de tudo no “gênio experimental do cientista aliado ao uso da tecnologia, e a partir daí conhecer e fazer uso de instrumentos passam a ser momentos complementares”. Tanto mais que “o experimento, por outro lado, reforça a compreensão moderna que o homem só pode conhecer realmente o que ele mesmo pode desencadear.” (p. 47). O autor explica que a perda do mundo mediante a dignificação suprema do homo faber decorre justamente do fato de que o conceito de “processo” seja o substituto moderno para o antigo conceito de “Ser”: “é como se, do ponto de vista do homo faber, o processo de fabricação fosse mais importante que o produto acabado, como se o método fosse mais importante que qualquer fim singular.” (p. 48).
Mas à vitória moderna do homo faber se seguirá ainda a quase imediata vitória do animal laborans e a sua correspondente forma ainda mais radical de alienação do mundo. É naturalmente no âmbito da distinção entre trabalho e fabricação que o autor explora a segunda inversão no interior da vita activa. “A compreensão da atual fusão conceitual de tais atividades [trabalho e fabricação] permite”, nas palavras do autor, “um maior aprofundamento no que seria a ‘essência’ da era moderna.” (p. 51). Pois a absorção da fabricação, da atividade com que o homo faber constitui o mundo durável de coisas, pelo trabalho, o empenho infindável com que o animal laborans resta sempre adstrito aos imperativos vitais, deflagra outro tipo de processo pelo qual o homem se vê mais agudamente alienado do mundo: a concentração em torno ao processo vital.
No cerne da fusão moderna entre trabalho e fabricação em favor do trabalho, figura a diluição progressiva das fronteiras entre público e privado, o advento do social ou o surgimento de “uma sociedade completamente ‘socializada’, como a sociedade de massas de trabalhadores, a conceber todas as coisas como funções do processo vital”. Em tal sociedade em que “a distinção entre fabricação e trabalho passa a não existir.” (p. 60), a substituição do uso pelo consumo é a expressão radical de alienação e perda do mundo dinamizada na forma de imperativo econômico.
“Quem é o animal laborans?” é o quarto capítulo consagrado ao problema de precisar a ampla significação de tal conceito na obra de Hannah Arendt.
Refinando ainda mais o crivo de suas análises acerca das distinções e aplicações conceituais na obra arendtiana, interessa ao autor examinar o conceito de animal laborans como correlato da condição humana da vida, mas também como elemento conceitual unificador de suas transfigurações modernas. Daí que seu trajeto envolva as considerações sobre o animal laborans como personagem correlata à “dimensão fundamental da existência condicionada pela vida”, como “produto da sociedade atomizada” e como “mentalidade ou ‘modo de vida’ extraído das condições do mero viver.” (p. 71). Trata-se de considerações que o autor julga necessárias à compreensão da relação entre política e economia na modernidade. É nesse contexto que no espírito do capítulo precedente amplia a discussão em torno ao animal laborans como tipo vencedor na modernidade. Correia ainda tangencia e pondera com clareza a intrincada e ainda não resolvida questão da crítica de Arendt ao pensamento de Marx.
Como dimensão fundamental da existência condicionada pela vida, o conceito de animal laborans indica que
Enquanto viventes, […] somos sempre […] condicionados pelo processo vital biológico a realizar as atividades do trabalho e do consumo, abandonados no âmbito da estrita privatividade das funções corporais e do lar no qual a vida é o bem supremo. Presidida por uma temporalidade cíclica tipificada no incessante metabolismo com a natureza, no ciclo de esgotamento e regeneração, a atividade do trabalho não humaniza, não singulariza nem transcende a necessidade sem o auxílio de capacidade reificadora do homo faber, hábil na produção de objetos, dentre os quais cabe destacara as ferramentas e instrumentos que vêm em auxílio do animal laborans com vistas a sua liberação do aprisionamento ao imperativo da necessidade. (p. 88).
Como produto da sociedade atomizada animal laborans é o conceito que traduz a transformação moderna dos agentes políticos mediante o advento do social ou a organização pública do processo vital, pela qual também a vida em comum, politicamente organizada, passa a ser orientada segundo determinações do necessário à vida considerada como fenômeno coletivo. Somente do âmbito social como espaço para os empreendimentos coletivos no interesse da vida (portanto nunca da esfera pública na qual a ação imprevisível se norteia pela ideal de liberdade) é que se pode esperar a uniformidade comportamental que se presta à predição estatística.
Nessa esfera social, os interesses privados adquirem relevância púbica, ou, mais propriamente, o privado e o público dissolvem-se no coletivo, no qual não se espera por ação, mas por comportamento, na medida em que se impõe ‘inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a ‘normalizar’ os seus membros, a fazê-los comportarem-se, a excluir a ação espontânea ou a façanha extraordinária. Assim, para Arendt, esse gênero moderno de igualdade redunda necessariamente em uniformidade, na medida em que se baseia no conformismo constitutivo da sociedade’. (p. 89).
Daí que a terceira significação do animal laborans referida ao “modo de vida” vitorioso na modernidade extraído das condições da vida em sua elementaridade fundamental, só possa resultar para o autor como paradoxal no contexto das reflexões arendtianas. “Paradoxal porque o caráter compulsório da necessidade que está na base do mero viver, comparável à violência da tortura, não permite que se conceba um modo de vida, isto é, uma forma de vida livremente escolhida no âmbito das possibilidades humanas de autoconfiguração deliberada”. A transfiguração moderna da condição de animal laborans em “modo de vida” além de paradoxal é também apequenadora, já que da sujeição à necessidade resulta, nas palavras do autor, “implicações altamente danosas à dignidade humana, indissociável da singularidade e da capacidade de distinção de cada indivíduo.” (p. 102).
“‘A política ocidental é cooriginalmente biopolítica?’ – um percurso com Agamben” é o quinto capítulo em que (um pouco na continuidade do capítulo quarto quanto à discussão acerca da paradoxal tradução da vida em modo de vida) trilhando o caminho de Giorgio Agamben, mas ladeado por Hannah Arendt e também Michel Foucault, o autor pretende examinar a tese daquele reformulando-a de saída no tom contestatório da interrogação.
[…] A política ocidental é, portanto, cooriginalmente biopolítica”. A implicação fundamental dessa afirmação, em Agamben, é a suposição de que desde a pólis há uma imbricação entre vida biológica e política, em vista isso, não podemos conceber uma réplica política à modernidade biopolítica na história política ocidental. (p. 125).
À hipótese de Agamben de que o mais decisivo na modernidade não é tanto o ingresso da zoé na pólis, […] tão antiga na política ocidental, mas a diluição da fronteira entre exceção e regra e a consequente indistinção entre espaço da vida nua e espaço político, e entre zoé e bíos. (p. 108).
Correia opõe principalmente as insistentes posições em que Hannah Arendt registra o abismo entre os domínios público e privado como ancorado no modo como os gregos conceberam a distinção entre bíos e zoé. É neste espírito que o autor evoca, por exemplo, a representatividade que Arendt a este respeito reconhecia no testemunho de Aristóteles. Está em questão o fato de que em tal distinção os antigos “tinham por fundamental à política a demarcação entre as demandas naturais da sobrevivência e as demandas políticas da liberdade, que falavam ambas no cidadão”. Correia sublinha que é por ter em conta registros como os de Aristóteles que Arendt apreende o fenômeno político originário como o espaço para o desenvolvimento de uma segunda natureza, “não uma zoé transfigurada, mas uma segunda natureza, em acréscimo à vida privada natural que jamais suprimimos.” (p. 119).
Em Arendt e Foucault (e neste, desde o primeiro volume da História da sexualidade) o autor encontra os elementos em comum para pensar a imbricação entre vida e política no início da tradição ocidental da política, mas como um dos fenômenos inaugurais da modernidade:
Seguramente Arendt e Foucault, que não conheciam as obras um do outro, tinham juízos distintos sobre o significado da política e do poder, para mencionar o mais flagrante. Todavia, ambos julgavam que não podemos apreender os fundamentos da modernidade política sem percorrer a trilha privilegiada que traz à vista a progressiva implicação biológica no poder político. (p. 126).
Fiel à proposta de seu livro, no sexto capítulo, “A esfera social: política, economia e justiça”, Correia analisa o conceito arendtiano de “social” à luz das análises críticas mais importantes e em contraste com o que ele julga ser “uma rígida distinção entre as esferas pública e privada, inspirada principalmente por sua interpretação do significado da pólis e do pensamento aristotélico.” (p. 130).
A despeito da ligação entre a vida privada e a vida pública ser indicada para Arendt, de acordo com Correia, pela vitória sobre as necessidades da vida relegadas ao âmbito da privatividade do lar constituir a condição para o exercício da liberdade no âmbito da pólis, a demarcação fundamental entre os dois âmbitos resta dada pelo fato de a necessidade ser o princípio ordenador da esfera privada e a liberdade o princípio ordenador da esfera pública. Para ao autor importa notar que na interpretação arendtiana o espaço da pólis é não apenas distinto do espaço do lar, consagrado à vida privada, como também foi desde o início concebido em completa oposição a ele. “A pólis, com efeito, não equivalia à localização física da cidade-estado, mas à organização das pessoas que resulta do agir em conjunto; correspondia ainda ao espaço da aparência no qual os cidadãos aparecem uns aos outros”, ao espaço “onde os homens existem não meramente como as outras coisas vivas ou animadas, mas fazem explicitamente seu aparecimento” (p. 132), por meio da ação e do discurso como modos exclusivos de condução dos assuntos públicos. Portanto, nunca como meios para perseguir interesses privados.
Ora, é justamente a moderna instrumentalização do domínio público pelos interesses privados que implica, na compreensão de Arendt, a recomposição das esferas correlatas à necessidade e à liberdade na esfera híbrida que ela chama de “social”, que Correia avalia ser “um dos elementos mais significativos, e por vezes mais incômodos, para a compreensão de A condição humana.” (p. 132).
Esse caráter devorador que Arendt confere à esfera social, conforme assinala Correia, decorre do fato de que “as questões privadas em sua dimensão coletiva (ainda que com implicações políticas), não constitui um espaço próprio, terceiro em relação ao público e o privado. O social seria como um câncer, que expande seu espaço na medida em que se espraia sobre o privado e o público” (p. 133). A “sociedade” é, enfim, o fato da dependência mútua em prol da sobrevivência e da acumulação, de objetivos em nome dos quais as atividades privadas adquirem relevância pública.
Mas há que se notar que na ponderação de Correia, à luz das mais expressivas críticas à rigidez e/ou incongruência da posição arendtiana acerca da questão social (às quais o autor não deixa de ter também suas reservas críticas), manifesta-se as dificuldades internas da relação entre as esferas pública e privada para assegurar o exercício da cidadania, assim como as dificuldades para se pensar a justiça a partir da referencial arendtiano:
As dificuldades surgem quando passamos a examinar questões pungentes de nossos tempos, com ampla repercussão na vida de todos e implicações no exercício da cidadania, mas que parecem não encontrar abrigo confortável na esfera pública tal como Arendt a compreende. A pobreza, tal como aparece na obra Sobre a revolução, por exemplo, é compreendida como danosa quando acolhida no domínio público, na medida em que poderia ser mais bem resolvida por expedientes técnicos e disposições administrativas, por um lado, e em que opera como um canal para o translado dos interesses privados para a esfera política, assim como da violência necessária para suplantar as necessidades vitais.
Compreendendo que nenhuma revolução resolveu a questão social e levando a crer que a tentativa de fazê-lo por meios políticos conduz ao terror, a lançar as revoluções à ruína, Arendt insere algumas dificuldades na já complexa relação entre as indispensáveis condições pré-políticas da cidadania e o engajamento dos cidadãos nos assuntos públicos. (p. 137).
No sétimo capítulo que tem por título “O caso do conceito de poder – Arendt e Habermas”, Correia se concentra em precisar o sentido e a singularidade do conceito de poder em Hannah Arendt num diálogo crítico com sua apropriação moduladora e associada às “incorreções” das interpretações empreendidas por Jürgen Habermas.
Para Habermas, a objeção fundamental que se pode fazer ao conceito de poder definido por Hannah Arendt é a de que “a política não pode ser idêntica […] à práxis daqueles que conversam entre si, a fim de agirem em comum”. Com efeito, seria necessário separar a gestação do poder, na qual pode ser aferida a legitimidade, do exercício legítimo do poder, que frequentemente supõe interações entre o governo e os cidadãos orientadas pela coerção e pela relação estratégica mando/obediência, que claramente têm de ser rejeitadas na práxis que presidiu a fundação da comunidade. (p. 162).
Correia destaca que a compreensão da crítica de Habermas ao conceito de poder em Hannah Arendt (que envolve um deslocamento interno ao próprio diálogo habermasiano com o pensamento político de Arendt), só pode ser compreendido à luz do que ele mesmo, num movimento apropriador, identifica como uma espécie de transposição do conceito arendtiano de poder do âmbito normativo ao nível descritivo/realista. Mas o que o autor não tarda a destacar é que Habermas emprega uma terminologia que Arendt seguramente denegaria:
Arendt, em seu exame do fenômeno do poder político, jamais pretendeu fazer teoria social ou ciência política, stricto sensu, mas também não almejava erigir um ideal normativo regulador. Em vista disso, seguramente para ela não seria uma objeção legítima a indicação da inaplicabilidade dos seus conceitos de ação, poder e política para a descrição da sociedade moderna. Para os leitores de A condição humana fica claro que, para Arendt, essa inaplicabilidade apenas reforça suas hipóteses com relação ao declínio da política na era moderna. (p. 163).
Operando sempre no âmbito da distinção conceitual, o pensamento de Arendt, conforme sublinhado por Correia e para lembrar o prólogo do seu livro, ao demarcar tais diferenças almeja a compreensão de fenômenos e não a descrição da realidade. Em todo caso, é parte do seu procedimento metodológico de distinção o fato de que ela busca indicar antes de tudo que nenhum poder advém da coerção violenta e nenhuma comunidade política pode se assentar estrita ou fundamentalmente na coerção – e é por isso que afirma que ‘a violência é a arma mais da reforma que da revolução. (p. 164).
Na contramão da compreensão de Habermas para quem o conceito arendtiano de poder é operativo apenas no sentido de precisar heuristicamente a maneira legítima de sua gestação, restando inválido para apreender a conservação das instituições e o exercício do poder, Correia assinala a insistência com que Arendt na obra Sobre a revolução registra que “não pode haver em uma comunidade política legítima uma ruptura entre a práxis que gesta o poder e a práxis que é o próprio exercício do poder” (p. 166), como pretendido por Habermas. E isso sob pena da nova ordem política, de espaço para a liberdade na forma de participação pública, se converter logo após a fundação em administração dos interesses sociais.
Com a tarefa adicional de mitigar o tentador diagnóstico de um traço “antimoderno” no pensamento de Hannah Arendt (conforme promessa firmada no capítulo sexto em que se examinou o conceito de esfera social como elemento decisivo para a relação de Arendt com a era moderna), o oitavo e último capítulo intitulado “Revolução, participação e direitos”, tem em mira o exame dos vínculos entre liberdade, engajamento e participação como expediente para reconstituir o pano de fundo sobre o qual Arendt afirma em Sobre a revolução, que “a liberdade política só pode significar a participação no governo”.
Um empreendimento que Correia procura levar com atenção focada “na oposição arendtiana à compreensão liberal de liberdade.” (p. 176) Daí que o referencial arendtiano para a reflexão sobre a liberdade seja justamente a experiência revolucionária, no marco da qual registra-se uma relação à parte entre a pensadora e a modernidade. Para Arendt, conforme Correia,
Apesar das imagens diferentes entre os acontecimentos e convicções dos dois lados do Atlântico, os revolucionários partilhavam o fundamental, isto é, “um interesse apaixonado pela liberdade pública”. O que os franceses chamavam de liberdade pública, como tradução da libertação do domínio despótico, os revolucionários estadunidenses já denominariam “felicidade pública”, em grande medida por já experimentarem essa liberdade aspirada pelos franceses. Sabiam, portanto, que “não poderiam ser totalmente ‘felizes’ se sua felicidade se situasse e fosse usufruída apenas na vida privada”. Concordavam que a liberdade pública consistira na participação nas atividades ligadas às questões públicas, que tal participação proporcionava “aos que se encarregavam delas um sentimento de felicidade que não encontrariam em nenhum outro lugar” e que “as pessoas iam às assembleias de suas cidades […] acima de tudo porque gostavam de discutir, de deliberar e de tomar decisões”. (p. 178).
A despeito das respectivas dificuldades que os revolucionários franceses e americanos tiveram para bem orientar a luta pela liberdade e para assegurá-la após a experiência política da fundação, em ambos os casos, conforme os registros de Correia das posições assumidas por Arendt, “a ideia central da revolução é a fundação da liberdade, isto é, a fundação de um corpo político que garante o espaço onde a liberdade pode aparecer.” (p. 125). Portanto, restava em qualquer caso a compreensão comum de que a liberdade política não é, por exemplo, equivalente à experiência interior da vontade, mas antes algo que, à luz da antiga compreensão de liberdade, somente se efetiva mediante o engajamento ou a participação ativa de cada um no espaço público, nos assuntos comuns que ocupam o governo.
Não obstante o malogro dos empreendimentos revolucionários devido em parte também ao fato de que “a busca da felicidade não teve seu caráter público claramente definido”, tendo enfim operado ambiguamente “desde o início como canal para a confusão entre felicidade pública e bem-estar privado” (p. 179), a liberdade pública, para Arendt, é algo a que os seus agentes realmente aspiraram. Mas o ideal revolucionário, como assinalado por Correia, não pôde resistir em nenhum dos dois lados do Atlântico aos clamores da “questão social”, quer em sua feição francesa, quer em sua feição americana.
Mais uma vez, em ambos os casos, a consequência derradeira foi a dissolução da liberdade política em direitos civis.
[…] a questão social interferiu no curso da Revolução americana com o mesmo grau de intensidade, embora não tão dramática, que teve no curso da Revolução francesa”. A questão social nos EUA aglutina-se na obsessão com a abundância: “nesse sentido, a riqueza e a pobreza são apenas as duas faces da mesma moeda; as cadeiras da necessidade não precisam ser de ferro: podem ser feitas de seda”. Com efeito, “o crescimento econômico algum dia pode se revelar uma maldição, e não uma benção, e em nenhuma hipótese ele pode levar à liberdade ou constituir prova de sua existência. (p. 181; grifos do autor).
Há que se notar, contudo, o empenho de Correia em registrar que a “convicção arendtiana de que a paixão pela liberdade e pela felicidade públicas pode ainda inspirar o engajamento político para além de demandas estritamente econômicas e sociais, ainda que frequentemente provenha delas.” (p. 195).
No epílogo à obra, partindo de considerações que exorcizam os derradeiros resquícios da recepção caricatural de Sobre a revolução, quando de sua publicação em 1964, Correia mostra que no âmago da tese de Arendt acerca da perda do espírito revolucionário (que se traduz no fracasso para consolidar uma forma de governo capaz de preservar a liberdade), figura a constatação do ressurgimento recorrente do sistema de conselhos como os espaços políticos revolucionários para a participação direta. Elemento reiteradamente derrotado das revoluções, o espírito revolucionário, explica Correia, tem se “cristalizado no sistema de conselhos ou [n]a oportunidade de salvar a república ao ‘salvar o espírito revolucionário por meio da república.’” (p. 200-201).
Dentre as ressurgências que manifestaram o espírito revolucionário para além da das revoluções francesa e americana na forma de sistemas de conselhos que elas mesmas conceberam, constam no âmbito das indicações de Arendt apontadas pelo autor: a Comuna de Paris de 1871, as Revoluções Russas de 1905 e 1917, o movimento Alemão de 1918 e 1919 e a Revolução Húngara de 1956.
“Para Arendt”, conforme afirma Correia, “são várias as razões para que os sistemas de conselho, que desempenharam um papel decisivo nas revoluções, não tenham ainda se convertido em uma forma de governo consolidada”.
Dentre as razões identificadas por Arendt o autor considera particularmente esclarecedora para a questão que intitula o epílogo, a oposição entre o sistema de conselhos e o sistema partidário. Há de se notar que, que desde os fenômenos revolucionários até os últimos ressurgimentos do sistema de conselhos, é flagrante a ideia reacionária do sistema partidário que reconhece nos conselhos apenas “organizações transitórias a serem suplantadas junto com o próprio processo revolucionário.” (p. 203). Contra as insistentes reações à espontaneidade do sistema de conselhos, mas também contra toda expectativa de interdição da capacidade humana de iniciar algo novo de que este movimento espontâneo é apenas um testemunho, é o caso de se registrar com Adriano Correia que
Arendt, que jamais acreditou no progresso e inclusive o julgava uma ofensa à dignidade humana, nunca tomou parte no catastrofismo ou em qualquer outra convicção de que o futuro pudesse estar predeterminado e de que a liberdade só poderia se dar paradoxalmente em alguma pretensa dinâmica predeterminada da história. Pensava que na modernidade como em épocas anteriores poderíamos estar à altura de nossa dignidade como agentes livres, a testemunhar a singularidade de cada um e a pluralidade que articula a todos. O espírito revolucionário, um tesouro a ser encontrado, conformou para ela a mais flagrante imagem moderna da liberdade, a unir liberdade e começo, ruptura e fundação, o iniciar e o levar a cabo em conjunto. Reaviva-se assim a promessa de que a liberdade possa ser restituída como um experiência política e se afirme em oposição à prevalência de uma vida que não aspira redimir-se do aprisionamento ao âmbito da necessidade, ampliado pelo crescimento não-natural do natural que é também marca distintiva da era e do mundo modernos. (p. 209).
Adriano Correa – Professor de filosofia em estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia (FAFIL) da UFG. Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES).
Foucault: verdade e loucura no nascimento da arqueologia – RIBAS (ARF)
RIBAS, Thiago Fortes. Foucault: verdade e loucura no nascimento da arqueologia. Curitiba: Editora da UFPR, 2014. Resenha de: BALTAZAR, Tiago Hercílio. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.12, jul./dez. 2014.
Foucault: verdade e loucura no nascimento da arqueologia se desenrola na antecâmara daquilo que conhecemos como o projeto arqueológico de Foucault. Thiago Fortes Ribas investiga o início do percurso teórico do filósofo francês, no momento em que suas estratégias se realinham em torno de um alvo (não mais uma forma determinada do conhecimento científico, mas a própria positividade de uma ciência) e também o momento da formulação de uma crítica extra-científica. Enquanto este objeto e o tipo de crítica histórico-arqueológica que Foucault elabora através dele, já são velhos conhecidos na literatura sobre o assunto, a empresa de Ribas recua um passo para tratar da própria constituição deste objeto e deste tipo de crítica na démarche do futuro arqueólogo. Se os textos pré-arqueológicos nos pareciam dispersos sob uma frágil unidade temática, saberemos agora que eles guardam uma decisiva transformação na relação do próprio Foucault com a verdade. “Numa palavra, pretendemos mostrar que a constituição do projeto de uma arqueologia do saber dependeu de uma mutação decisiva no modo como Foucault pensou a questão da verdade em sua relação com a psicologia, a psiquiatria e a loucura” (RIBAS, 2014, p. 16).
O primeiro capítulo, buscando contextualizar a primeira obra arqueológica de Foucault e discutir a supressão de seu prefácio original, parece apenas situar a questão da relação de Foucault com os saberes da radical “psi” em História da loucura. Mas na realidade ele já desloca o lugar da “reviravolta” no pensamento de Foucault. De fato, a literatura estabeleceu, entre o prefácio original suprimido de História da loucura (1961) e sua segunda versão (1972), uma importante modificação no pensamento de Foucault, muito discutida quanto a um possível prejuízo ontológico que se poderia apontar na crítica arqueológica da loucura. Mas é verdade que tal injunção é feita à luz dos próprios desenvolvimentos arqueológicos posteriores, que “evitariam” tal prejuízo e, por outro lado, trata somente daquilo que já é a arqueologia desde a primeira edição de História da loucura. É desse emaranhado que Ribas consegue escapar, trabalhando uma diferença mais decisiva para o projeto arqueológico de Foucault, situada entre o polêmico prefácio de 1961 e textos que datam dos anos 1950.
A referida mutação será então diretamente analisada no segundo capítulo, e com um nível de detalhamento que certamente satisfaz aos leitores em seus anseios por minúcias. Nesse momento, o foco do estudo recai sobre as diferenças teóricas entre dois textos que o autor seleciona para comparação: Doença mental e personalidade e Doença mental e psicologia. Escrito em 1954, e reescrito em 1962 com o segundo título, os dois textos permitem a engenhosa estratégia de Ribas para flagrar as modificações na relação de Foucault com a psicologia. Na realidade, poderíamos tomar a liberdade de dizer que se trata de apenas um texto em duas cenas, e entre elas uma transmutação de significados que iluminaria assim o nascimento de um grande problema filosófico.
Em sua primeira versão, lê-se na introdução que a raiz da patologia mental deve estar numa reflexão sobre o próprio homem. Eis a pista que nosso autor persegue, como uma “adulteração” em sua versão de1962, onde se diz que a raiz da patologia mental pode ser procurada numa certa relação, historicamente situada, entre o homem e o homem louco e o homem verdadeiro. Estes são vestígios que entregariam os motivos do filósofo francês:
aqui, somente essa mudança já nos mostra que a preocupação do autor é radicalmente outra. Não mais fundacionista, no sentido de fundar a investigação numa antropologia, agora a investigação quer procurar a raiz histórica da patologia mental. Ao invés de propor uma verdadeira psicologia, quer compreender como se construiu historicamente um discurso verdadeiro chamado psicologia. (RIBAS, 2014, p. 57).
Ao cabo de uma análise comparativa que se estende por todo o segundo capítulo, torna-se claro que o “projeto de fundação da psicologia” que Foucault lançava em 1954, equivaleria a um pensamento que acreditava na objetividade da ciência psicológica uma vezliberta de certos postulados equivocados (Cf. RIBAS, 2014, p. 57). Na sua reescritura, este rigor será substituído por um novo sentido: não mais a conquista de sua cientificidade, mas a posição de que sua própria positividade enquanto ‘ciência’ depende de condições históricas de existência. Trata-se aí de um rigor que, quando levado ao limite, compromete o estatuto de cientificidade e objetividade da própria verdade da medicina mental. (RIBAS, 2014, p. 58).
Tratar esta modificação como mera reformulação teórica seria perder de vista o essencial, isto é, o início de uma crítica de inspiração nietzschiana que faz aparecer o funcionamento de uma ciência no interior de um sistema de condições históricas. Contra a leitura de Pierre Macherey, para quem, até 1962, Foucault não colocaria em questão o pressuposto de uma natureza humana – incluindo História da loucura – Ribas nos faz vislumbrar o que seria uma aquisição básica no percurso teórico de Foucault, e com a qual este “se servirá até o fim dos seus escritos, e que alimentará a constante revisão de seus métodos” (RIBAS, 2014, p. 86).
Acercando-se mais das grandes teses de História da loucura, A pesquisa científica e a psicologia (1957) permite precisar um pouco mais a relação entre verdade e psicologia fora do seu aspecto científico-epistemológico. Despontam neste texto formas de interrogação – que reconhecemos prontamente como um traço foucaultiano – na direção das práticas que revelem o modo de funcionamento da ciência psicológica, através de suas instituições e de tudo aquilo que colabora para a produção do seu reconhecimento em nossa sociedade.
Vê-se que no artigo A pesquisa científica e a psicologia a verdade sobre a psicologia é de outra espécie. Ela já não diz mais respeito aos verdadeiros pilares de uma ciência, mas ao seu estatuto, ao seu funcionamento. A verdade que se busca sobre a psicologia também não virá mais de uma construção metodológica melhor apurada, mas há de vir, entretanto, da análise dos métodos utilizados para engendrar sua ‘cientificidade’. Nesse momento da reflexão foucaultiana, o estatuto da psicologia nada tem a ver com sua natureza estritamente epistemológica, mas, diversamente, aquilo que poderá revelar seu modo de funcionamento são as suas práticas. Desse modo, aquilo de que se tratará na interrogação da pesquisa psicológica são as suas instituições, suas formas cotidianas e as dispersões de seus trabalhos. Em poucas palavras, a verdade que se quer definir agora só será revelada através de uma análise histórica desses três pontos levantados, uma análise que se concentre no problema de como a psicologia chega à condição de ‘ciência’ ao lado de outras ciências, de como ela chega a tal reconhecimento atual em nossa sociedade. (RIBAS, 2014, p. 95-6).
Além deste passo decisivo na formulação de uma crítica extra científica, A pesquisa científica e a psicologia e outro texto do mesmo ano, A psicologia de 1850 a 1950, registram o aparecimento de mais uma hipótese fecunda na construção do projeto arqueológico: a hipótese segundo a qual a positividade da psicologia tem como condição de possibilidade uma experiência do negativo. Enquanto outras ciências mantêm uma relação provisória com o negativo, digamos, como limites ou dificuldades a serem superadas, “aquilo que distingue a psicologia é a relação vital que ela tem com o negativo, a ponto de não poder ser compreendida senão através dele.” (RIBAS, 2014, p. 108). Vemos que nestes dois artigos dos anos 1957, segundo a interpretação de Ribas, a psicanálise não gozaria de nenhum poder transgressor, pois, indiferentemente de qualquer outra pesquisa em psicologia, a psicanálise daria continuidade à escolha de toda psicologia.
“Se na análise da pesquisa freudiana fica evidente o papel do negativo na construção da verdade do homem, fica manifesta também a sua opção por continuar tal construção, ou seja, sua escolha em perpetuar o ‘mito da positividade’ em que a psicologia hoje ‘vive’ e ‘morre’. Desse modo, Freud afastou ainda mais a psicologia da compreensão de seu próprio sentido enquanto saber, pesquisa e prática” (RIBAS, 2014, p. 110).
Esta perspectiva foucaultiana sobre a psicanálise, como sabemos, se modificará na arqueologia da loucura, sob a consideração de uma nova abordagem interpretativa (e uma nova concepção de signo) que ela inaugura, e que desloca a linguagem da loucura para um tipo de interdição em que a linguagem não refere mais a um significado oculto, mas fica condenada a dizer apenas a si mesma e o código que permite decifrá-la1. Ainda que a tarefa da psicanálise seja malograda pelo fato de que a articulação transferencial repouse numa estrutura em torno da qual se constituem relações de dependência médico-paciente – em que um médico não busca fundamentalmente conhecer, mas dominar a loucura e alienar o paciente, apoiado em seus poderes e prestígios – a psicanálise ainda assim representará, em 1961, uma determinada ruptura em relação à psiquiatria e à psicologia, na medida em que sua abordagem abriria uma possibilidade de diálogo com a desrazão clássica.
Esse realinhamento na órbita em torno da qual gravitam os saberes da radical psi, ligado ao nascimento da arqueologia e implicando uma modificação importante na perspectiva de Foucault em relação à psicanálise, não é abordada no livro de Ribas.2 Sua argumentação, todavia, neste ponto consiste em apresentar a tese foucaultiana da profunda relação da psicologia com a negatividade, tese esta que, perpassando esses escritos de 1957 até a História da loucura, consistirá num elemento determinante para nos dar a ver uma perspectiva propriamente arqueológica sobre esses saberes.
Vê-se, portanto, que não se trata simplesmente de uma modificação na relação de Foucault com a psicologia, mas na sua relação com a verdade, o que implica um deslocamento no lugar que a psicologia ocupa no interior da investigação de Foucault. De objeto de uma “ambição teórica reformuladora”, a psicologia torna-se objeto de uma problematização que a ultrapassa em direção a um problema filosófico muito mais amplo. (Cf. RIBAS, 2014, p. 113). Qual é este problema filosófico, que não cabe mais ser colocado em termos epistemológicos, intimamente ligado a uma transformação na relação de Foucault com a verdade e que “constitui a condição de possibilidade do próprio projeto arqueológico.” (RIBAS, 2014, p. 18)?
Ele pode ser dito de muitos modos. Porém, creio que um dos pontos fortes do livro de Ribas – ainda que sejam apenas apontamentos para um “estudo futuro” – consiste em aborda-lo a partir das implicações políticas do pensamento arqueológico de Foucault. Estamos já na conclusão do livro, na qual se problematiza a interpretação tradicional da arqueologia como uma descrição despolitizada dos “frios blocos de saber”. O argumento consiste em mostrar como insustentáveis as afirmações de que a passagem para a política, na obra de Foucault, se daria apenas com a genealogia, isto é, a partir de uma volta para as instituições e práticas sociais no intuito de transformá-las.
É possível encontrar em Foucault elementos para formular outra concepção a respeito da ação política ou da dimensão política do pensamento.
Tal ação ou dimensão não precisa estar voltada para a transformação de algo fora do pensamento, como as instituições sociais, porque é o próprio pensamento que é o campo de batalha. Como ele mesmo afirma, ‘a teoria não expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática; ela é uma prática’. Na medida em que para Foucault a política é entendida como luta de forças que não tem na verdade seu regimento, então tampouco se compreende porque seria necessário restringir a tarefa política do intelectual ao âmbito de transformação das instituições sociais. (RIBAS, 2014, p. 132).
As arqueologias de Foucault forneceriam um “operador intelectual”, ligado a concepção de verdade que, de matriz nietzschiana, combate pretensões universalistas a partir de sua inserção numa trama de relações históricas.
As verdades das arqueologias jamais se colocam no lugar daquelas que são criticadas, e sim reconduzem a uma apropriação do jogo de produção dessas verdades, produzindo por esta via um efeito transformador:
a via interpretativa que se propõe para um trabalho futuro nesta conclusão aposta na concepção desses livros arqueológicos como portadores de um pensamento político enquanto produtor de efeitos que podem ser avaliados pela transformação filosófico-discursiva que provoca. Seguindo essa hipótese os diagnósticos do presente oferecidos por tais estudos são vistos como armas imprescindíveis de uma luta política capaz de se apropriar das regras discursivas para impô-las outra direção. (RIBAS, 2014, p. 137).
Todas essas indicações de pesquisa foram desenvolvidas a partir dos estudos do autor na antessala da arqueologia foucaultiana. Isso foi elogiosamente caracterizado pelo professor Cesar Candiotto, na primeira linha do prefácio, onde atribui ao estudo levado a cabo neste livro o caráter de uma “arqueologia” da própria arqueologia de Foucault. Para os estudiosos de Foucault, não há forma mais direta para descrever o que aqui se vai encontrar.
Quanto aos leitores que, trilhando outros caminhos, cruzam com o pensamento de Foucault, estes encontrarão a oportunidade de acompanhar um dos maiores pensadores da atualidade no extraordinário momento de formulação de seu principal problema filosófico.
Notas
1 Cf. CHAVES, E. Foucault e a psicanálise. Apresentação de Benedito Nunes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988.
2 É certo que sua menção à Freud consiste apenas num “exemplo privilegiado” para demonstrar a tese foucaultiana sobre a regra geral da pesquisa em psicologia como perpétuo arranchamento do solo consolidado (Cf. RIBAS, 2014, pp. 97 e segs.). Por outro lado, julgamos que esta modificação é um aspecto inalienável da crítica arqueológica nascente, ou seja, de seu poder para captar e diferenciar o espaço epistemológico que se instaura com a ruptura freudiana no discurso psicológico.
Tiago Hercílio Baltazar – Pós-graduando em Filosofia na UFPR. Email: [email protected]
História militar do Mundo Antigo: guerras e representações | Pedro Paulo A. Funari et. al
A obra História Militar do Mundo Antigo, lançada em 2012 pela editora Annablume, é dividida em três volumes: I – Guerras e Identidades, II – Guerras e Representações e III – Guerras e Culturas. A série é organizada pelos estudiosos Pedro Paulo Abreu Funari, professor da Universidade Estadual de Campinas, Margarida Maria de Carvalho, da Universidade Estadual Paulista (campus de Franca), Claudio Umpierre Carlan, docente de Unifal, e Érica Cristhyane Morais da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesta resenha, será analisado o segundo volume, que objetiva mostrar como distintas culturas do Mundo Antigo se representavam nos conflitos bélicos.
O livro se inicia com uma apresentação dos organizadores que recapitula o estudo da História Militar e defende como ele tem sido renovado graças à incorporação de temas relacionados à vida sexual, às identidades sociais, ao colonialismo, às relações de gênero, às subjetividades e ao abastecimento militar. O primeiro artigo do tomo é de Katia Maria Paim Pozzer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de título “Guerra e Arte no Mundo Antigo: Representação Imagética Assíria”. Nele, Pozzer investiga os baixo-relevos de palácios assírios, advogando-os como fundamentais na organização social daquela sociedade, em particular na guerra. Isto porque os relevos apresentam, muitas vezes, as vitórias assírias obtidas no campo de batalha, em especial a crueldade empregada contra seus atacantes. Além disso, mostravam o monarca como campeão militar, aspecto de primeira grandeza em sua legitimidade.
O segundo artigo do volume é “Marchando ao som de auloí e trompetes: a música e o lógos hoplítico na Grécia Antiga”, do docente da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Vergara Cerqueira. O autor defende que a música encontrava-se no âmago na sociedade grega Antiga, se fazendo presente até nas mais ígneas batalhas, conforme encontrado em autores clássicos e na iconografia de vasos de cerâmica. Também é destacado o pioneirismo espartano no uso de instrumentos em campos de guerra, facilitando a comunicação entre os combatentes. Maria Regina Candido, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Alair Figueiredo Duarte, doutorando da mesma instituição, assinam o texto “Atenas entre a Guerra e a Paz na Região de Anfípolis”. Analisando como região de Anfípolis era de grande importância estratégia devido a seus recursos naturais e questões relativas ao abastecimento militar, os estudiosos relatam toda a série de escaramuças que ocorrem por seu controle. Já Ana Teresa Marques Gonçalves, professora da Universidade Federal de Goiás, e Henrique Modanez de Sant’Anna, docente da Universidade de Brasília, põem sua rubrica no texto “As Mandíbulas de Aníbal: os Barca e as Táticas Helenísticas na Batalha de Canas (216 a.C.)”. O artigo desvenda as estratégias do célebre general cartaginês durante as Guerras Púnicas, alegando que a vitória avassaladora das forças de Cartago na batalha de Canas teria promovido uma profunda reorganização das tropas romanas, que voltaram a pautar seu contingente pelo apelo aos “soldados-cidadãos”.
O escrito “Aquisição de inteligência militar entre Alexandre e César: dois estudos de caso” é de lavra de Vicente Dobroruka, também da Universidade de Brasília. Nele, define-se aquisição de inteligência militar como a obtenção de informações acerca do inimigo, aspecto explorado na análise das trajetórias dos conquistadores supracitados. Valendo-se de trechos de autores como Plutarco, Arriano e do próprio César, Dobroruka objetiva demonstrar como a obtenção de dados sobre os adversários é um prática que data de há muito, embora com notáveis diferenças em relação ao mundo hodierno. Claudia Beltrão da Rosa, professora da Unirio, contribui com “Guerra, Direito e religião na Roma tardo-republicana: o ius fetiale”. Os ius fetiale, mencionados no título, eram sacerdotes romanos responsáveis por uma declaração formal de guerra, por meio de uma série de rituais, o que os colocaria como personagens de relevo numa sociedade marcada pela interseção entre o direito, a guerra e a religião. Fundamental mencionar que estes rituais sofreram mudanças ao longo do tempo, em particular durante o período imperial, no qual as batalhas eram travadas a distâncias cada vez maiores da Península Itálica.
O professor Fábio Joly, da Universidade Federal de Ouro Preto, é responsável pelo capítulo “Guerra e escravidão no Mundo Romano”. Nele, o que mais chama a atenção é o relato das ressignificações que a figura do escravo rebelde Espártaco teve no correr dos séculos, de ícone da luta proletária marxista a baluarte da disputa por liberdade política na Europa do Antigo Regime. A docente da UFPR, Renata Garraffoni, assina “Exército romano na Bretanha: o caso de Vindolanda”. Garraffoni revisita as formas por meios das quais a História e a Arqueologia abordaram as relações culturais no Mundo Antigo, primeiro com modelos normativos rígidos e depois com abordagens mais multifacetas e fluidas. No caso de Vindola, região da Bretanha Romana, mostra-se como inscrições encontradas em cultura material podem advogar em favor de uma sociedade na qual as mulheres também possuíam certa voz ativa. Lourdes Feitosa, da Universidade Sagrado Coração, e Maximiliano Martin Vicente, da Unesp/Bauru, também analisam as questões de gênero em “Masculinidade do soldado romano: uma representação midiática”. O estudo de caso dos autores é o seriado “Roma”, exibido nos canais HBO e BBC. De acordo com os estudiosos, a série reforça os estereótipos de Roma com uma sociedade violenta e libidinosa. Neste particular, as personagens masculinas, como legionários e centuriões, são, amiúde, representadas como beberrões, mulherengos e impetuosos.
“O Poder romano por Flávio Josefo: uma compreensão política e religiosa da submissão” é o título do texto de Ivan Esperança Rocha, da Unesp/Assis. Ao aquilatar os escritos de Josefo, o autor pondera sobre os seus aspectos dúbios, uma vez que eles, ao mesmo tempo, são elogiosos tanto a romanos quanto a judeus. Regina Maria da Cunha Bustamante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, emprega sua pena em “Bellum Iustum e a Revolta de Tacfarinas”. O conceito romano de Bellum Iustum liga-se à noção “guerra defensiva”, ou seja, um conflito militar que tem sua origem numa infâmia provocada pelo inimigo. Já a Revolta de Tacfarinas foi um levante que insurgiu contra o jugo romano no norte da África no princípio do século I. Andrea Rossi, da Unesp/Assis, é a autora de “As guerras dádicas: uma leitura da fontes textuais e da Coluna de Trajano (101 d.C – 113 d.C.)”. Visando a uma diálogo entre as fontes materiais e textuais, o artigo analisa a expansão territorial promovida pelo Imperador supracitado tanto à luz dos autores clássicos como das imagens de seu triunfo estampadas na famosa coluna. “Exército, Igreja e migrações bárbaras no Império Romano: João Crisóstomo e a Revolta de Gainas”, de Gilvan Ventura da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo) é o último artigo do volume. O autor versa a respeito de toda a série de conflitos ocorridos no período final do Império romano em virtude das migrações bárbaras e suas relações com os imperadores e as práticas religiosas.
Diante do que foi exposto, fica patente que História Militar do Mundo Antigo: guerras e representações é uma obra de grande valor. Trata-se de um volume com artigos de alto grau de sofisticação e com reflexões que, decerto, irão interessar não somente aos aficionados pelos combates travados na Antiguidade, mas a todos que têm em mente a máxima de Heráclito: “a guerra é o pai de todas as coisas”.
Thiago do Amaral Biazotto – Graduado em História pela Unicamp. Mestrando em História pela mesma instituição.
FUNARI, P. P. A.; CARVALHO, M. M.; CARLAN, C.; SILVA, E. C. M. (Orgs.). “História militar do Mundo Antigo: guerras e representações”. São Paulo: Annablume, 2012. Resenha de: BIAZOTTO, Thiago do Amaral. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.160-163, 2014.
Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel | Bernard M. Levinson
É com entusiasmo que recebemos em língua portuguesa uma obra de Bernard M. Levinson.2 Temos em mãos uma pesquisa multidisciplinar seminal, cujo objetivo do autor é “abrir o diálogo entre os Estudos Bíblicos e as ciências humanas” (p. 33). As abordagens científicas são dos documentos legais da Bíblia hebraica, mas não se restringem a eles, tendo como cenário o Sitz im Leben siro-palestino no contexto das transições sociais envolvendo a população judaíta entre os séculos VIII-V a.C. Diante das quase restritivas especializações acadêmicas o objetivo é digno de nota, por isso o livro traz já em seu primeiro capítulo, “Os estudos bíblicos como o ponto de encontro das ciências humanas”, a argumentação conceitual sobre o “cânon” como uma possível ponte entre disciplinas que trabalham a reavaliação das forças intelectuais e históricas, as ideologias e códigos definidores do cânon bíblico e de outros cânones.[3]Para o autor, a “ausência de diálogo com os Estudos Bíblicos empobrece a teoria contemporânea em disciplinas nas ciências humanas e a priva de modelos intelectuais que de fato favoreceriam o seu intento” (p. 28), mormente em seu emprego crítico das teorias das suposições ideológicas que objeta a noção de um cânon por ser a mesma uma entidade autossuficiente, um fóssil literário imutável.
É por este pressuposto que os estudos em história, arqueologia, filosofia, filologia e antropologia – acrescentaríamos a psicologia –, mesmo como disciplinas, podem contribuir conjuntamente com os Estudos Bíblicos quanto ao exame das construções teóricas e processos metodológicos com base histórica, pois o próprio cânon sanciona a centralidade da teoria crítica. Nesse sentido, “a interpretação é constitutiva do cânon” (p. 39). As camadas literárias, particularmente, e os livros da Bíblia hebraica não devem ser vistos somente como “teologia”, mas mormente como obra intelectual. Desse modo, a teoria cultural, por exemplo, atingiria maior fundamentação em diálogo com a pesquisa cujo foco é o rigor filológico. Aqui está realmente um dos temas em que o livro se encaixa nos debates contemporâneos, problematizado por várias abordagens.
Em princípio, a eliminação dos códigos legais do corpus bíblico da noção de lex ex nihilo. A cultura material do antigo Oriente-Próximo tem comprovado que as leis cuneiformes, originadas na Suméria no final do terceiro milênio a.C. e descobertas em escrita suméria, acadiana e hitita, ao espalhar-se pelo Mediterrâneo influenciaram inclusive os escribas israelitas, que passaram a copiá-las (como o modelo de tratado neoassírio pressuposto como modelo no livro do Deuteronômio, capítulo 28). “Usando as categorias da crítica literária, pode-se dizer que uma voz textual era dada a essas coleções legais por meio de tal moldura, que as coloca na boca de um monarca reinante. Não é que o divino esteja desconectado da lei no material cuneiforme” (p. 46). De fato, as chamadas leis humanitárias israelitas são expressão revelada do divino, de forma que inexiste atribuição autoral, mas um mediador venerável.
Nessa reorganização de textos, surge a necessidade por parte dos revisores de evitar o questionamento à infalibilidade de Deus e o conceito de revelação divina, resolver o acaso de injustiça de Deus e manter a perpetuidade das leis. Estas questões estão arguidas e pesquisadas exemplarmente do capítulo dois ao quatro no livro e com suas implicações melhor elaboradas no capítulo cinco – intitulado “O cânon como patrocinador de inovação”. Entretanto, resta a constatação, não vista por Levinson, de que o Deus do antigo Israel nunca refere a sua palavra (dabar) como “lei” (dat), mas como “instrução” (torah). Estes problemas são elucidados pelo autor à medida que identifica as técnicas literárias israelitas, mormente nas composições sacerdotais do período pós-exílico (após 538 a.C.) com evidências na Antiguidade Clássica, nomeadamente a subversão textual estruturada como “lema”, “retórica de encobrimento”, “exegese harmonística”, modelos e terminologias dos tratados de Estado hititas, neoassírios e aramitas, o straw man (técnica retórica de superar a proposição original), o tertium quid (presente no Targum), a paráfrase homilética, retroprojeção, adição editorial, pseudepigrafia, glosa. Todo o trabalho hermenêutico intracanônico, literariamente revisionista, ocorre tendo como tempo narrado o ambiente político das ameaças neoassíria e, em seguida, neobabilônica aos grupos populacionais israelitas na faixa leste-oeste da região do Jordão, cujo tempo presente dos escribas são os períodos arqueológicos persa e grego.
Decerto, a apresentação de uma obra ou biblioteca autorizada como obra aberta não é novidade, mas não a tarefa de repensá-la a partir da sua “fórmula de cânon” em relação à exegese e à hermenêutica intracanônicas,[4] histórica e filologicamente apropriadas como instrumentos de renovação cultural. Bernard M. Levinson empreende tal pesquisa com as camadas literárias legais tendo como fontes as coleções legais reais do Oriente-Próximo e a sua noção de um vínculo jurídico obrigatório, compreendidas como sendo feitas em perpetuidade. A fórmula nos textos do antigo Oriente tem a intenção de impedir inovações literárias, preservar o texto fixado originalmente. Com isso, as gerações posteriores têm o desafio de ampliar um corpus delimitado, suficiente e autorizado através da incorporação das suas vidas, adaptando-o às realidades em suas amplas esferas não contempladas na época de sua composição. Destarte, esses procedimentos etnográficos, não raros no antigo Oriente-Próximo, estão presentes na literatura do antigo Israel.
A originalidade da historiografia bíblica [5] é explorada na pesquisa sobre a revisão legal para demonstrar a própria ideia de história legal em que o tempo narrativo serve como um tropo literário em apoio à probabilidade jurídica. Quanto a isso, Bernard M. Levinson apresenta uma interpretação metodologicamente complexa e inovadora do livro de Rute da Bíblia hebraica, apresentando-o como oposição revisionista e talvez subversiva das “leis mosaicas” operadas pelo escriba judeu Esdras no final do século V a.C. Assim, ele introduz o debate sobre as identidades étnica e social no âmbito das questões jurídicas e sua transferência para o domínio teológico.
Fundamentando-se em sólido trabalho documental (chamamos a atenção para as notas de rodapé!), a pesquisa da revisão legal no antigo Israel apresenta como seu ponto alto da multidisciplinaridade os textos do livro do profeta Ezequiel da Bíblia hebraica (profeta ativo de c. 593-573 a.C.).[6] Aqui o debate profético dá-se com o Decálogo e a sua doutrina do “pecado geracional”. O profeta revisa a doutrina, minuciosamente historicizada por Levinson apreendendo a técnica do straw man: o profeta lança mão de uma estratégia para absolvição por rejeição popular da torah divina através de institucionalização de sabedoria popular, o que extrapola como história social os limites da teologia. De forma adequada para prosseguir na abordagem da interpretação e revisão da “lei” no livro do Deuteronômio e nos Targumim, [7] Levinson demonstra que o livro do profeta Ezequiel ao rejeitar por completo a doutrina do pecado geracional está argumentando “que o futuro não está hermeticamente fechado” (p. 78), o que para a sua época soaria como uma pedagogia da esperança. O argumento é de que “a despeito da sua terminologia religiosa, ela [a formulação da liberdade elaborada pelo profeta] é essencialmente moderna em sua estrutura conceitual” (p. 79), comparável na história da filosofia ao conceito de liberdade moral de Immanuel Kant (1724-1804).
Tanto quanto Ezequiel fez, Kant prepara uma crítica pungente da ideia de que o passado determina as ações de uma pessoa no presente. Ele desafia qualquer colocação que reduza uma pessoa ao seu passado e impeça o exercício do livre arbítrio ou a possibilidade de mudança. Ele sustenta que as pessoas são livres a cada momento para fazerem novas escolhas morais. Sua concepção de liberdade é dialética: embora não exista na natureza nenhuma liberdade proveniente da causalidade (de uma causa imediatamente precedente), a liberdade de escolha existe para os seres humanos com base na perspectiva da ética e da religião (p. 79).
Assim como o filósofo Immanuel Kant rejeita filosofias coetâneas (Thomas Hobbes, o determinismo associado ao “espinosismo”, Gottfried Leibniz), o profeta Ezequiel rejeita o determinismo pactual templar do período da monarquia israelita, tendo a seu favor o caráter dialético do conceito de autoridade textual presente no antigo Israel. Portanto, não é difícil desfazer o ponto cego filosófico entre razão e revelação. E, ao contrário do que comumente se pensa, a revisão do cânon é intrínseca ao próprio cânon, pois “a revelação não é anterior nem externa ao texto; a revelação é no texto e do texto” (p. 95); daí a pseudepigrafia mosaica, que contribui teórica e metodologicamente para uma história da recepção e interpretação dos textos.
Em adição, um terço do livro, isto é, o sexto capítulo, dedica-se ao pesquisador, a nosso ver, sem prejuízo dos demais leitores; o autor o chama de “genealogia intelectual” ou história da pesquisa por meio de pequenos ensaios bibliográficos de várias das mais importantes obras científicas sobre a literatura e a sociedade do antigo Israel, desde a produção do final do século dezenove até a mais recente. Por fim, saliente-se que o autor do livro não esboçou alguma tentativa de conceituar “etnicidade e identidade” – assim mesmo enunciado, como fundações construcionistas isoladas [8] – e a sua aplicação aos grupos populacionais da Antiguidade, omissão que não compromete a importância e a qualidade científica do livro, que certamente interessará aos estudiosos da grande área de Ciências Humanas.
Notas
3. Com relação à literatura clássica ocidental, basta consultar as últimas obras de Harold Bloom (Yale University) para perceber que ele dedicou-se a esta tarefa; com relação à literatura hebraica, mencionamos a importante produção de Robert Alter (University of California). Sem embargo, é sempre pertinente voltarmos à obra-prima fundante de Eric Auerbach, Mimesis (publicada no Brasil pela editora Perspectiva).
4. Para Levinson, exegese ou hermenêutica é o conjunto de estratégias interpretativas destinado a estender a aplicação de um cânon à vida e suas circunstâncias não contempladas. Para conceito e abordagem diferentes sugerimos a opus magnum em três volumes de Jorn Rüsen, publicada pela editora da Universidade de Brasília, Teoria da história I (2001), Teoria da história II (2007) e Teoria da história III (2010).
5. Este domínio da História há muito tem sido tema de importantes pesquisas de historiadores, arqueólogos, antropólogos e filólogos, das quais arrolamos algumas não citadas por Levinson: CHÂTELET, François. La naissance de l’histoire. Tomes 1 et 2. Paris: Éditions de Minuit, 1996; MOMIGLIANO, Arnaldo. Problèmes d’historiographie ancienne et moderne. Paris: Gallimard, 1983; SETERS, John van. Em busca da história: historiografia no mundo antigo e as origens da história bíblica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008; ASSMANN, Jan. La mémoire culturelle: écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques. Paris: Éditions Flammarion, 2010; PRATO, Gian Luigi. Identità e memoria nell’Israele antico: storiografia e confronto culturale negli scritti biblici e giudaici. Brescia: Paideia Editrici, 2010; LIVERANI, Mario. Oltre la Bibbia: storia antica di Israele. 9. ed. Roma, Editori Laterza, 2012 [1. ed., 2003].
6. John Baines em importante investigação sobre a realeza egípcia (BAINES, John. “A realeza egípcia antiga: formas oficiais, retórica, contexto”. In: DAY, John (org.). Rei e messias em Israel e no antigo Oriente Próximo. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 48-49), ao referir-se à religião e crenças egípcias oferece uma informação relevante sobre a Bíblia hebraica: “Assmann [Jan] considera a evocação pelo rei da ordem geral parte do caráter de ‘religião primordial’ das crenças egípcias: a ‘religião’ egípcia é de uma sociedade ou civilização única e não pode ser separada da ordem social dessa sociedade. O mundo da Bíblia Hebraica era um mundo de fé declarada e de compromisso com uma divindade e um sistema religioso determinados por grupos principalmente de elite em uma sociedade organizada relativamente pequena que se insurgiu contra outras sociedades circundantes, mas também tinha aspirações universalizantes; suas crenças normativas também eram objeto de intensa discussão interna”. Em adição, a nosso ver, por uma forte corrente religiosa posicionar-se em favor do “povo da terra” e contra a monarquia, que mantinha o templo como uma espécie de anexo legitimador do palácio, a religião do antigo Israel pré-exílico manteve características suprassociais e maior atenção aos movimentos vitais.
7. Apenas como informação geral, a grafia para expressar uma determinada quantidade de Targum ou o seu plural não é “targuns”, como traduzido no livro (p. 92), mas Targumim.
8. Em contrário, “identidade” é um termo autoexplicativo usado de diferentes maneiras, não é algo estático, mas um processo contínuo e interativo; portanto, construímos identidades étnica, religosa, de gênero etc. Sobre isto, à época da sua pesquisa Bernard M. Levinson teria provavelmente acesso à importante obra: DÍAZ-ANDREU, Margarita et al. The archaeology of identity: approaches to gender, age, status, ethnicity and religion. London: Routledge, 2005. Em adição, recomendamos ao leitor: CARDOSO, Ciro Flamarion S. “Etnia, nação e a Antiguidade: um debate”. In: NOBRE, Chimene Kuhn; CERQUEIRA, Fabio Vergara; POZZER, Katia Maria Paim (eds.). Fronteiras e etnicidade no mundo antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Pelotas, 15-19 de setembro de 2003. Pelotas: Editora e Gráfica da Universidade Federal de Pelotas; Canoas: Editora da Universidade Luterana do Brasil, 2005, p. 87-104. Recentemente publicamos uma pesquisa com esta temática: SANTOS, João Batista Ribeiro. “Os povos da terra. Abordagem historiográfica de grandezas sociais do antigo Oriente-Próximo no segundo milênio a.C.: uma apresentação comparativa”, Revista Caminhando, v. 18, n. 1, p. 125-136, 2013.
João Batista Ribeiro Santos – Mestre em Ciências da Religião, com pesquisa na Bíblia hebraica, pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e mestre em História, com pesquisa em história antiga, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
LEVINSON, Bernard M. Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel. Tradução de Elizangela A. Soares. São Paulo: Paulus, 2011. Resenha de: SANTOS, João Batista Ribeiro. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.164-169, 2014.
Acessar publicação original [DR]
Aufklärung | UFPB | 2014
Aufklärung, revista de filosofia (2014-) tem foco na publicação de artigos na área de filosofia, ou que sejam relevantes para a pesquisa em filosofia. Tem como objetivos: a) contribuir para a formação acadêmica de profissionais de filosofia [ensino e pesquisa] e áreas afins; b) contribuir para a efetivação de políticas da área de filosofia, ao propiciar a divulgação de resultados originados a partir de pesquisas filosóficas voltadas para a pós-graduação com base em princípios éticos tranparentes; e c) constituir-se como um espaço público para o debate entre pesquisadores do Brasil e do exterior.
A Revista Aufklärung adota o processo de revisão cega pelos pares (double blind peer review) e tem como base revisores especializados a partir da base de Currículos da Plataforma Lattes, preferencialmente membros ligados à pós-graduação na área. Ela é editada pelo Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Hermenêutica (GPTeCH/CNPq/UFPB).
Periodicidade quadrimestral.
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. A Aufklärung oferece acesso livre e irrestrito aos usuáros, não necessitando de cadastro prévio para leituras dos conteúdos publicados. Ela é regida por uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
ISSN 2358-8470 (Impresso)
ISSN 2318-9428 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Imigração, memória e identidade / Ágora / 2014
Neste dossiê, intitulado Imigração, memória e identidade, pretende-se discutir a imigração, a memória e a identidade a partir de perspectivas múltiplas. Neste sentido, Beatriz Vitar traz para o debate a importância das recordações e das vivências familiares e coletivas como elementos forjadores da identidade de um grupo. Para tal, utiliza o testemunho de um descendente de granadino assentado na Argentina. Leslie Nancy Hernández Nova analisa os sentimentos de pertencimento de diferentes gerações peruanas na Europa, com recorte nos mais jovens. Menara Lube Guizardi e Alejandro Garces propõem um estudo que vise compreender a migração nas nações andinas – Peru, Bolívia e Chile – numa dimensão macrossocial, económica e política. Maria Catarina C. Zanini reflete sobre alguns aspectos de cidadãos brasileiros, descendentes de imigrantes italianos, cuja cidadania italiana é legitimada pelo Estado italiano e a complexidade e os distanciamentos existentes entre o reconhecimento de direito e a cidadania de fato na Itália. Luis Fernando Beneduzi, partindo da trajetória de um brasileiro descendente de trentinos, residente na cidade de Trento (Itália), analisa este percurso ponderando sobre a interligação entre a realidade presente e a memória do passado vivido. Filipo Carpi Girão e Maria Cristina Dadalto partem de testemunhos de jovens integrantes de um grupo de dança folclórica italiana no estado do Espírito Santo, para buscar entender como se dá o aprendizado e a reconstrução das tradições a partir da dança. Edenize Ponzo Peres apresenta os resultados de um estudo de sociolinguística com descendentes de imigrantes vênetos residentes na comunidade de Araguaia, zona rural do município de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo. Assim, avalia que, se a identidade do falante para com os seus antepassados é importante para a manutenção de uma língua minoritária, o fator identidade não conseguiu superar a pressão da cultura majoritária, culminando no desaparecimento do vêneto.
Maria Cristina Dadalto – Organizadora.
[DR]Perspectivas da História Regional / Ágora / 2014
Apresentamos, neste número da Revista Ágora, o dossiê “Perspectivas da História Regional”. Trata-se de um esforço editorial pela reunião de estudiosos dessa abordagem historiográfica que, utilizando de instrumental teórico-metodológico e de escolhas de fontes muito particulares, privilegiam temas ligados a questões e problemas circunscritos, em geral, a locais e territórios específicos que, via de regra, são insuficientemente abordados na “grande” história.
A resposta que tivemos foi amplamente satisfatória, tanto porque o número de trabalhos versando sobre temas do Espírito Santo coloca a Ágora à proa de publicações que, fazendo jus pertencer ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, consegue atrair o interesse de autores que efetivamente se debruçaram sobre a história dessa parte do Brasil. E porque alinha no mesmo dossiê temas pouco ou nada dominados e nisso cumpre sua função divulgadora da história regional que aqui se produz. Trata-se, portanto, essa edição, de um dossiê capixaba.
A ordem dos trabalhos já demonstra nosso interesse também em pesquisas que extrapolam os liames temporais para os povos primitivos do território brasileiro e suas formas de vida pré-colonial. Em “Vasilhas duplas Aratu (macro-jê) em Sítio Tupiguarani: evidência de contato?” os arqueólogos e historiadores Neide Barrocá Faccio, Henrique Antônio Valadares Costa, Juliana Aparecida Rocha Luz, Diego Barrocá e Eduardo Pereira Matheus ali reunidos atualizam as pesquisas em sítios arqueológicos do norte do estado de São Paulo e apontam para a existência de contato entre os povos indígenas da tradição Aratu-Sapucaí e os da tradição Tupiguarani. A evidenciação de vasilhas duplas, características da Tradição Aratu-Sapucaí, em sítios Guarani, no vale do Rio Paranapanema paulista, reforça a hipótese dos autores de ter havido contato entre indígenas dessas distintas tradições, o que traz luz a pesquisas em arqueologia histórica, também realizadas em outras regiões brasileiras, inclusive no Espírito Santo, onde ocorrem ambas as tradições.
Adentrando diretamente o terreno da história colonial capixaba, a portuguesa Maria José dos Santos Cunha brinda-nos com o artigo “Maracaiaguaçu, O Gato Grande, aliás, Vasco Fernandes, ou o elogio do discurso evangelizador”, originado de seus estudos inéditos sobre patrimônio e riqueza dos jesuítas na capitania do Espírito Santo. A autora destaca, através da versão dos jesuítas que o conheceram, a figura pouco conhecida de Maracaiaguaçu, o chefe temiminó refugiado com a sua tribo, em 1555, na ilha de Santo Antonio. Da leitura dos textos jesuíticos despontam, paralelamente, a figura desse chefe, as alianças políticas, a visão edificante da conquista espiritual que justificava a evangelização. Seu trabalho permite-nos aceder ao espaço negocial entre conquistadores e indígenas, entremeado de mal entendidos e compromissos, cujo final era a integração dos indígenas no mundo colonial.
Na mesma linha elucidativa do mundo colonial, Anna Karoline da S. Fernandes e Luiz Cláudio M. Ribeiro, em “Poderes inferiores e política fiscal na capitania do Espírito Santo no período da monarquia dual (1580-1640)” circulam a contrapé do senso histórico comum que pensa a Monarquia Dual (1580-1640) como um período sem alterações administrativas em Portugal e buscam compreender a influência das formas de poder expressas nos novos órgãos de controle fiscal e da justiça daquele período Filipino na capitania do Espírito Santo. Tais órgãos, inseridos pelas reformas Habsburgo nos domínios portugueses durante a União Ibérica (1581-1640), visavam coibir o descaminho de mercadorias, controlar a arrecadação e aumentar os rendimentos régios. No Espírito Santo, a ação dos agentes desses órgãos de controle acabou por devassar as ilicitudes do provedor e do almoxarife da Alfândega e mercadores da capitania. Todavia, o artigo demonstra que, malgrado o endurecimento do controle, ocorreram alianças que resultaram no fortalecimento dos poderes locais na capitania. Tais alianças de poder econômico e político dividiam, na prática, o poder real que não dispunha de mecanismos para confrontar as ilicitudes cotidianas.
Fechando o período colonial, Helmo Balarini e Luiz Cláudio M. Ribeiro apresentam em “Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e a economia de mercês nas práticas administrativas da Capitania do Espírito Santo” uma análise da concessão de hábitos de Cristo, relacionando a prática do pedido e concessão de mercês régias à transição da administração de donatários “presentes” para donatários “ausentes”, fator determinante para a consolidação de uma “economia de mercês” na capitania, regendo a contratação de “servidores” para os postos da burocracia nas franjas do Império Português.
Em seguida, Leandro do Carmo Quintão, em “Estrada de ferro e territorialidade no Espírito Santo da Primeira República” enfoca no papel ferrovias construídas no estado do Espírito Santo durante a Primeira República para a configuração de uma territorialidade estruturada no fortalecimento da capital, Vitória, e de seu porto, em relação aos demais terminais portuários do estado. Utilizando-se de conceitos da geografia política, associados à análise histórica, o autor problematiza o papel das vias férreas em sua relação com a economia do café e sua inserção política dentro de um projeto de desenvolvimento regional vitorioso.
Já o artigo “Lutando com “Ordem e Disciplina”: o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (1934-1953)”, produzido por André Ricardo V. V. Pereira, foca as entidades classistas de trabalhadores e a fase inicial da organização sindical no Espírito Santo. Trata do Sindicato dos Bancários entre 1934 e 1953, quando se deu uma transição no comando político para um grupo hegemônico da entidade. Nesse momento, a principal liderança do Sindicato se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e se elegeu vereador na capital capixaba. O estudo de caso serviu como ilustração para que o autor discutisse as tensões e contradições reveladas naquela fase chamada de “modo de regulação populista sob condições do pós-fordismo periférico” ocorrido em entidades sindicais capixabas.
E para fechar o dossiê proposto, Diones Augusto Ribeiro apresentou seu estudo “Uma perspectiva conservadora do desenvolvimento econômico capixaba no pós-1964: o governo Arthur Gehardt e os Grandes Projetos de Impacto (1971-1975)”. Nele, o autor mergulha na sempre polêmica questão do desenvolvimento regional capixaba através da inserção da economia local no contexto do capitalista monopolista do século XX, em que diversas políticas públicas foram criadas com o objetivo de superar a dependência da cafeicultura através da industrialização e da diversificação da infraestrutura. Os Grandes Projetos de Impacto gestados no governo de Arthur Carlos Gehardt Santos (1971-1974) visavam adequar a economia regional à dinâmica oligopolista internacional, através da associação do capital público com o privado. O autor conclui que o desenvolvimento proposto pelas elites do estado naquele contexto não foram acompanhadas de reformas sociais e estruturais significativas, cujos efeitos atuais são principalmente a miséria e a violência endêmica, o que valida sua tese sobre a perspectiva conservadora do crescimento econômico ocorrido.
Na sessão de artigos livres, publicamos a contribuição de João Carlos Furlani, autor de “Usos do gênero biográfico na Antiguidade Tardia: educação e moral cristã em Vita Olympiadis” em que discute as possibilidades investigativas do gênero biográfico, com enfoque nos estudos da Antiguidade Tardia. O autor aborda a apropriação dos gêneros literários por autores cristãos e a sua produção textual, majoritariamente voltada para a disseminação das crenças cristãs mediante exaltação dos feitos de homens e mulheres. Para tanto, analisa as formas literárias de Vita Olympiadis, e aponta nesse documento o intuito educativo dos gêneros textuais apropriados ou transformados pelos cristãos.
Logo após, o artigo “O espiritismo em julgamento na Primeira República: análise de processo criminal enquadrado no artigo 157”, de Adriana Gomes, remete a uma importante discussão jurídica sobre a liberdade religiosa na Primeira República. Debruçando-se sobre um caso real de tipificação do espiritismo como crime contra a saúde pública, baseada no artigo 157 do Código Penal brasileiro de 1890, a historiadora analisa o julgamento do suposto crime, praticado no Rio de Janeiro, por Francisco José Viveiros de Castro, um dos mais notáveis magistrados brasileiros, que se apropriou de princípios da Nova Escola Penal para absolver os réus. A análise do discurso feito pela autora das argumentações sobre premissas jurídicas com características retóricas do juiz nesse processo criminal nos leva a compreender as motivações da criminalização do espiritismo e o posicionamento do magistrado na defesa da liberdade religiosa e de consciência no Brasil.
O último artigo apresentado é “O Programa Bolsa Família e suas condicionalidades: o que mudou na legislação?”, enviado por Roberta Rezende Oliveira e André Augusto Pereira Brandão, que fazem um interessante mapeamento das mudanças dos programas de transferência de renda que culminaram no Programa Bolsa Família, e focam na formulação de suas condicionalidades. Os autores apreciam a legislação federal que dá concretude ao PBF, entre 2004 e 2013, e verificam, com amplo domínio de dados empíricos, as mudanças na concepção das condicionalidades de acesso ao PBF. Verificam ainda se as condicionalidades impostas pela legislação para as famílias mais necessitadas acessarem os benefícios oferecidos tem caminhado de acordo com a provisão de serviços públicos básicos pelo Estado.
Também incluímos nesta edição uma resenha preparada por Fábio Luiz de Arruda Herrig para o livro Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970), de Jocimar Lomba Albanez, editado em 2013 pela Universidade Federal da Grande Dourados/MS. Em “A erva mate e a historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul” Herrig demonstra como o autor da obra em tela analisa o processo de ocupação das terras e o contexto do mundo do trabalho na agropecuária no antigo sul de Mato Grosso e, mais especificamente, o movimento das frentes pioneiras, caracterizadas pelo alto investimento de capital e pela industrialização do campo, o que, em última instância, ocasionou o declínio da produção da erva-mate naquela região.
À conclusão, Júlio Bernardo Machinski traduziu com maestria o segundo capítulo do livro “Modernolatria” et “Simultaneità”: recherches sur deux tendences dans l’avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la première guerre mondial (Uppsala: Svenska Bökforlaget/Bonniers, 1962), do historiador e tradutor sueco Pär Bergman que, em português, recebeu do tradutor o título “Breve panorama do movimento futurista (desde sua fundação até a Grande Guerra)”. Nessa passagem da obra, Bergman detalha as circunstâncias do surgimento do movimento futurista, investigando a gênese do manifesto publicado no Le Figaro em fevereiro de 1909, além do sentido político e social do termo “futurismo” e o papel das revistas Poesia e Lacerba na divulgação das ações futuristas. O autor aborda também a sujeição dos futuristas à ironia dos jornalistas da época em virtude da aposta desmedida no futuro, as polêmicas que envolveram a fundação do movimento de vanguarda e o caráter militar das iniciativas de recrutamento de novos adeptos. Por fim, Bergman destaca o papel de figuras-chave do movimento e a aproximação do futurismo ao fascismo.
Agradecemos a participação dos autores, a colaboração dos alunos, e também aos colegas professores do Núcleo de Pesquisa e Informação Histórica do PPGHis-Ufes a oportunidade para a organização deste “dossiê capixaba” de história regional. Esperamos que os artigos apresentados nesta edição da Revista Ágora cheguem ao público acadêmico e aos professores de ensino fundamental e médio, e que as amplas possibilidades da história regional se façam cada vez mais atrativas aos jovens pesquisadores brasileiros.
Luiz Cláudio M. Ribeiro – Organizador.
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]Dossiê: História Intelectual, Ética e Política /Ágora/2015
[DR]Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970) | Jocimar L. Albanez
A historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul tem a história da erva mate como um tema caro às suas pesquisas. Alguns a veem como tema esgotado, outros nem tanto. Albanez sinaliza valorizar a temática quando, malgrado atentar para o processo de ocupação do antigo sul de Mato Grosso, entre 1940-1970,[1] intitula sua obra como Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970). O objetivo do autor é “explicar o processo de ocupação e o contexto do mundo do trabalho na agropecuária” (p.22) no antigo sul de Mato Grosso, mais especificamente, o movimento das frente pioneiras, caracterizadas pelo alto investimento da capital e pela industrialização do campo. Nestes termos, o que justificaria o título?
Albanez não restringe sua pesquisa ao período de 1940-1970. Somente consegue coerência em sua explicação por retroceder ao fim do século XIX e início do XX, quando a conhecida Companhia Matte Larangeira era responsável pelo arrendamento de vasto território no antigo sul de Mato Grosso, região que o autor definiu como Amambai histórico. Segundo ele, a ocupação, nesse período, estava restrita a indígenas e paraguaios, a mão de obra da Companhia. O interesse da Companhia, assim como o seu poderio político, conseguia fazer a manutenção das áreas em poder desta empresa a tal ponto que protelavam pedidos de emancipação de municípios, como no caso de Ponta Porã e outros. Nesse sentido, o título da obra, que é fruto da dissertação de mestrado do autor, defendida em 2004 na Universidade Federal da Grande Dourados, é coerente, pois salienta a importância do momento histórico precedente à ocupação das frentes pioneiras.
Deixando de lado o título e adentrando à obra em si, é possível notar que Albanez, apesar da originalidade do tema, que desloca o interesse nos processos de ocupação deflagrados pela política estadonovista, responsável pela formação da CAND,[2] para o território do Amambai histórico [3] e a análise do impacto das frentes pioneiras na formação dos municípios, o trabalho de Albanez se enquadra em uma linha historiográfica que ainda valoriza sobremaneira, no campo teórico, as características de uma teoria moderna [4] onde há uma valorização de uma história total, haja vista que o autor consegue fazer um diálogo entre o local e o global, assim como de uma relação interdisciplinar, chamando, constantemente, a geografia. [5]
Facilmente, poder-se-ia inserir o trabalho do autor no âmbito de uma análise marxista, não apenas pela epígrafe retirada da Ideologia Alemã, de Marx, mas também pelo interesse em pontuar a desproporção entre o poder do capital, nas chamadas frentes pioneiras, que tal como a Revolução industrial destruiu o espaço do artesão, essa grande propriedade, cercada de maquinário tecnológico desenvolvido, deslocou o pequeno proprietário das chamadas frentes de expansão, que tinham como característica a subsistência para uma condição de dependência do grande latifundiário.
Contudo, também poder-se-ia observar uma influência dos Annales na medida em que valoriza o econômico e o social, assim como o método de pesquisa que atenta para os dados estatísticos e censitários como importante fonte de análise no processo de mutação da região do antigo sul de Mato Grosso. Mas, nem por isso o autor abandona outros tipos de fontes, como as orais e bibliográficas. Albanez parece se aproximar um pouco de Braudel quando utiliza a geografia para justificar determinadas relações do homem com o território, como por exemplo, o interesse nos Campos de Vacaria, que são mais propícios à criação de gado e a caracterização fisiográfica da região.
Historiograficamente, o trabalho de Albanez se insere em uma linha tradicional que ainda é forte: a história econômica, política e social que tem como fontes principais os arquivos públicos, dados censitários e documentos oficiais. As referências bibliográficas também são condizentes a esta linha, baseando-se em autores referenciais para este tipo de análise, como Paulo Roberto Cimó Queiroz, Alcir Lenharo, Isabel Guillen, Lucia Salsa Corrêa, entre outros.
Em relação ao conteúdo, note-se que o livro divide-se em três capítulos, fora a apresentação, feita por Paulo Roberto Cimó Queiroz, a introdução, a bibliografia e a lista de outras fontes. No primeiro capítulo, o autor apresenta, de forma genérica, como se deu o processo de ocupação não índia na região, observando algumas características gerais, como a Lei de Terras de 1850, e outras específicas, como a independência do Paraguai, os problemas da fronteira, a domínio da questão fundiária pelas oligarquias regionais e, no fim, um quadro do panorama urbano do estado. O objetivo do capítulo é preparar o terreno para a discussão principal do autor, que já foi apresentada acima.
Já o segundo capítulo se dedica ao efetivo objetivo do texto: a ocupação do antigo sul de Mato Grosso entre 1940 a 1970, intitulado “Quando predomina o econômico…: a ocupação recente do ESMT (1940-1970)”, demonstra que dos fins do século XIX a meados do século XX, é possível notar uma variação da relação do homem/mulher para com o espaço, visto que no primeiro momento há uma característica de subsistência onde o ecológico sobrepuja; ao passo que no segundo observa-se uma sobreposição do econômico ao ecológico. Na primeira fase, observa-se a característica extrativista, principalmente a erva mate e a borracha, ao passo que na segunda, observa-se a produção agropecuária “destruidora das riquezas naturais” (p. 67).
Além desse fator, que justifica o título, mais quatro pontos podem ser observados como resultados importantes encontrados pelo autor: i) a constatação de um crescimento populacional no ESMT de 1950 para 1970, sendo que deste contingente o rural predominou sobre o urbano; ii) a política de colonização valorizou a concentração fundiária ao invés da equitativa distribuição de terras; iii) havia grandes propriedades na mão de poucos proprietários (acima de 1000 ha.), voltados para uma pecuária extensiva e muitas pequenas propriedades nas mãos de pequenos proprietários, voltados para a produção de subsistência e de manutenção do mercado local, lavouras que produziam arroz, feijão, milho, algodão, café, mandioca, entre outros; iv) a partir de 1970 a produção se tornou preponderantemente agropecuária e passou a visar a exportação e, não mais, o mercado nacional.
O terceiro capítulo, ainda relacionado ao objetivo central do livro, pretende fazer uma análise dos trabalhadores e das relações de trabalho no ESMT. O objetivo foi analisar como o processo ocupacional, explicado no capitulo dois alterou, ou não, o trabalho e as relações de trabalho na região. Em relação à metodologia, pode-se dizer que segue a mesma linha do segundo capítulo, a análise dos dados censitários no curso dos anos de 1950 a 1970.
No que diz respeito aos resultados, pode-se depreender seis pontos principais: i) com o fim da Matte Larangeira, o destino dos trabalhadores foi trabalhar em desmatamentos, formação de fazendas e na abertura de picadas e estradas. Essa mão de obra era de origem paraguaia, indígena e nordestina; ii) a desconstrução da ideia de que as relações de trabalho, na região, eram feudais ou semifeudais, defendendo, com base nas teorias de Caio Prado Júnior, que essas relações eram fruto das reminiscências escravocratas do século XIX (p. 154-155); iii) há uma variação no regime de trabalho entre 1950 a 1970, onde de uma maioria de trabalhadores temporários passa-se a uma maioria de trabalhadores permanentes (p. 171); iv) entre os anos citados acima, cresce o número “de participação de emprego do trabalho feminino nas propriedades rurais” (p. 176). Contudo, esse trabalho restringia-se a categoria de não remunerado; v) no ESMT prevaleceu o trabalho familiar, devido ao aumento de propriedades com menos de 10 ha e as parcerias em propriedades entre 10 e 35 ha, daí a baixa contratação de mão de obra assalariada, evidenciada pelos dados censitários. Outro fator que justifica essa baixa parcela de mão de obra assalariada são os membros não remunerados da família, o fator especulativo da terra, assim como o fato de muitas propriedades estarem sob o regime de arrendamento; vi) com o grande número de propriedades multiplica-se o número da mão de obra a disposição da grande propriedade, pois há um aumento demográfico.
Para finalizar, o autor apresenta algumas constatações gerais: como o fato do sistema de ocupação ter valorizado a concentração fundiária, pois era visivelmente um grande negócio para o Estado; houve um processo de realocação do “contingente humano disperso após a estagnação da atividade ervateira, principalmente no que diz respeito à limpeza das propriedades” (p. 187-188); a exploração da mão de obra, estendida ao ambiente familiar, onde o responsável era contratado, de forma assalariada, mas toda a família trabalhava pela remuneração de apenas um; o predomínio das atividades rurais no ESMT até o final da década de 1960; e a restrição das atividades ervateiras à região fronteiriça com o Paraguai: “caem os erva, para em seu lugar surgirem algumas culturas agrícolas, mas, principalmente, para forrar o chão com pastagens” (p. 186).
Portanto, a obra de Albanez se apresenta muito relevante para a historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul, na medida em que apresenta um panorama da formação ocupacional da região baseada em referências estatísticas. Nota-se que o campo teórico metodológico estabelecido no início é seguido no decorrer da obra e que os resultados obtidos são coerentes com os dados analisados, assim como é perceptível que as análises locais estão constantemente sendo relacionadas aos âmbitos nacionais, o que dá significativa credibilidade à obra, visto que pontua as linearidades e as cisões estabelecidas com um campo de análise nacional.
Notas
1. Nesse período, a exploração da erva mate já está em declínio devido dois fatores: o processo de nacionalização da fronteira (a mão de obra nos ervais era preponderantemente paraguaia) e autossuficiência argentina, principal mercado consumidor do produto.
2. Colônia Agrícola Nacional de Dourados.
3. É importante salientar que, malgrado o autor focar no território do Amambai histórico, ele estabelece relação entre este, a porção Meridional do Município de Dourados e o restante da Microrregião Campos de Vacaria e Mata de Dourados.
4. Tomando aqui por referência o sentido que Ciro Flamarion Cardoso atribui ao termo na introdução da obra Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia, originalmente publicada em 1997.
5. Utilizou boletins de geografia, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros da área, destacados na bibliografia, assim como é notável, no decorrer do texto, a importância dada à Geografia como importante referência para as análises.
Fábio Luiz de Arruda Herrig – Mestre em Letras pela Universidade Federal da Grande Dourados (2012). Graduado em História pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (2009). É professor da Escola Agrotécnica Lino do Amaral Cardinal e do Centro Educacional Luis Quareli – CELQ.
ALBANEZ, Jocimar Lomba. Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970). Dourados: UFGD, 2013. 190p. Resenha de: HERRIG, Fábio Luiz de Arruda. A erva mate e a historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul. Revista Ágora. Vitória, v.20, p.210-214, 2014. Acessar publicação original [IF].
Teoria (literária) americana: uma introdução crítica – DURÃO (AF)
DURÃO, Fabio Akcelrud. Teoria (literária) americana: uma introdução crítica. Campinas/SP: Autores Associados, 2011.Resenha de: PASINI, Leandro. Para onde vai a teoria? Artefilosofia, Ouro Preto, n.15, dez., 2013.
O livro Teoria (literária) americana: uma introdução crítica, de Fabio Durão, se apresenta como obra didática não apenas pela palavra “introdução” do subtítulo como por sua dedicatória aos “alunos da Unicamp”. Contudo, não há no livro sequer vestígio da organização didática tradicional que se esperaria de uma introdução. As corrente s teóricas em voga nos Estados Unidos nos últimos trinta anos, agrupadas sob o nome de Teoria (Theory), não são explicadas uma a uma, segundo critério e hierarquia que revelasse as preferências e a posição do Autor. Seguindo a mais autorizada das antologia s de língua inglesa, a Norton Anthology of Criticism and Theory, em sua edição de 2001, Fabio Durão lista as correntes surgidas depois da Segunda Guerra e que ainda são referência no debate teórico estadunidense: Estudos Culturais, Desconstrução e Pós-estruturalismo, Teoria e Crítica Feminista, Formalismo, Crítica Gay e Lésbica e Teoria Queer, Marxismo, Novo Historicismo, Fenomenologia e Hermenêutica, Teoria e Crítica Pós-Colonial, Psicanálise, Estudos de Raça e Etnicidade, Teoria de Reação do Leitor, Estruturalismo e Semiótica. Mesmo sob uma denominação genérica, é mais de uma dezena de perspectivas teóricas, em que cada um dos nomes pode se desdobrar em outros tantos, a exemplo das vertentes que o item “Desconstrução e Pós-estruturalismo” abriu no ambiente brasileiro. Nesse sentido, Fabio Durão rejeita conscientemente a compartimentação teórica, por um lado, e a postura de divulgador de ideias internacionais, por outro. Com isso, e causando grande espanto no contexto brasileiro, ele recusa a posição de mediador, de alfandegário cultural entre o que se faz nos centros e nas periferias do mundo universitário. Como consequência, não se pode esperar do livro uma simplificação de saberes complexos, como se, depois de sua leitura, fosse mais fácil compreender, por exemplo, Derrida, Spivak, Barthes ou Jameson, ou que uma receita fosse dada para que esses teóricos pudessem caber em um conhecimento panorâmico e pacificado. O livro se propõe, antes, a pensar a teoria teoricamente, ou seja, “tornar a Teoria ela mesma um objeto de reflexão teórica e crítica” (p. 4), encarando-a como uma nova formação discursiva, que será abordada por meio de sua ascensão e do debate que formou em torno de si. Para tanto, não se deve concluir que o Autor se desvincula da Teoria para abordá-la imparcialmente a distância. Seu ponto de partida é a “primazia do objeto”, pensado em consonância com a Teoria Crítica, de Adorno e Benjamin, que nesse caso não trata de questões artísticas e/ou filosóficas, mas da própria Teoria, que passa então por uma autorreflexividade radical. Esse procedimento, de pensar o fenômeno teórico pela perspectiva da Teoria Crítica, se realiza por meio de uma escrita ágil e desabusada, na qual a erudição, que existe, cede passo à argumentação civil e democrática, unindo curiosidade e vontade de conhecer à ausência de jargão e apelos a figuras de autoridade. Fabio Durão não é a priori contra nem a favor da teoria americana, ele não está entre os seus “defensores” nem entre os seus “detratores”. A Teoria é vista como u m fato consumado, pois, como diz o Autor: “seria inútil reivindicar um retorno aos velhos tempos anteriores à febre teórica” (p. 112), mas essa constatação não é um sinônimo de legitimação positiva da Teoria, ao contrário, ela é vista como “um campo marcado por contradições, constituindo-se, por fim, como uma aporia, pois se mostra ao mesmo tempo como imprescindível e insustentável” (p. 3). Entre as várias críticas que o livro dirige a ela, que não são poucas, duas são mais drásticas quando se pensa na relação entre Teoria e literatura: 1. a Teoria, em seus piores momentos, parece ansiar por uma autossuficiência que acaba por destruir os objetos, tornando-se assim intransitiva e autorreferente; 2. a consequência natural dessa autorreferrência é um solipsismo a um tempo ultracomplexo e sem finalidade, dando margem a constantes corridas em busca de uma autoridade abstrata. Contudo, a mistura de disciplinas e saberes, que podem ser vários, além dos imprescindíveis (Linguística, Psicanálise, Sociologia e Antropologia), faz com que o método criado pela Teoria adquira uma flexibilidade capaz de apreender qualquer objeto e se redimensionar em função dele, além de ter produzido a expansão e a multiplicação dos objetos de leitura. Assim, tamanha liberdade faz com que os eles possam ser tanto anulados quanto recriados, como Fabio Durão defende: “O papel da Teoria é contraditório, pois se por um lado ele relativiza a importância do literário, que agora passa a existir lado a lado com os cartoons ou o YouTube, por outro fornece um novo fôlego para a leitura de textos que de outra forma poderiam perder em interesse” (p. 49-50). A matriz prática dessa contradição é descrita no livro como uma crise interna dos estudos literários, devida, entre outros motivos, à redução do es paço socialmente ocupado pela literatura, que foi gradualmente substituído pelos meios de comunicação de massa, bem como às críticas internas da própria arte, presentes nas vanguardas do começo do século XX, e cuja corrente mais radical em sentido antiartístico, foi o Dadaísmo.
Como consequência dessa armadura argumentativa, é preciso notar a estranheza ou a novidade, ao menos no Brasil, de a Teoria ser objeto da Teoria Crítica, tendo em mente que esta se constituiu enquanto tal justamente pela plataforma de dar primazia a uma alteridade, colocando os conceitos em movimento ao contato com as obras artísticas. O perigo de uma Teoria Crítica cujo objeto é a Teoria reside principalmente na possibilidade de perda dessa alteridade, daquela “consciência da não id entidade entre o modo de exposição e a coisa” (ADORNO, Theodor W. Notas de literatura. São Paulo: Ed. 34/Duas Cidades, 2011, p. 37). Resumindo, entre Teoria Crítica e Teoria insinua-se, como que por contágio, uma perda de diferenciação cujo custo seria o evolar-se do adjetivo “Crítica” e a subsunção de Teoria como apoteose, mesmo que a intenção seja (auto)crítica. Parte central desse problema está presente no modo como Fabio Durão se comporta em relação aos objetos artísticos em comparação com o ethos anteriormente consolidado pela Teoria Crítica. Em dado momento, ele alerta para o perigo de se ler “Bakhtin sem Dostoievski ou Rabelais, Walter Benjamin sem Goethe, Deleuze sem Proust ou Kafka, Lacan sem Freud, Freud sem Sófocles ou Shakespeare” (p. 111). Dentro ou fora da Teoria Crítica – mas posta como pressuposto sobretudo por esta –, o contato com os objetos como configuradores do teórico é fundamental. Daí a pergunta: quais são os objetos literários ou artísticos que, presentes a cada entrelinha de Teoria (literária) americana, constituiriam a força dessa alteridade como resistência ao universal da Teoria? Salvo engano, as leituras constitutivas do Autor, subjacentes à sua perspectiva, não são literárias, mas teóricas, mais especificamente Adorno e Fredric Jameson. Essa questão se repõe na própria escrita do livro, que percorre com vivacidade e rapidez muitos campos teóricos diversos. A presença configuradora de uma obra ou de um conjunto orgânico de obras afetaria, em primeiro lugar, o estilo. Cada obra literária possui um travejamento próprio e oferece resistência ao campo da Teoria (tomada como um todo abstrato), pois aceita, virtualmente, algumas ideias teóricas mas não outras. Implicitamente, Teoria (literária) americana, mesmo defendendo os objetos, pare ce recusar, por sua própria natureza, o contato com uma ou conjunto orgânico de obras, que, por especificar o horizonte especulativo, colocaria diante do crítico um sem número de determinações e atritos a serem configurados pela escrita que seria, de certa forma, contaminada por alguns elementos desse(s) objeto(s). Contudo, essa imersão completa no campo da Teoria permite ao Autor captar a sua especificidade, a contradição viva e o nervo crítico que ela contém. Ao ser capaz de fundir diversos saberes e de refletir sobre os próprios pressupostos dessa fusão, a Teoria erige, como diz o Autor, “a transdisciplinaridade como seu princípio mais interno de funcionamento” (p. 13-14). A “visão de mundo” subjacente a essa prática é a radical separação entre o pens amento e a coisa. Como todo saber é construído, a própria construção do conhecimento passa ser o objeto da Teoria. É esse tipo de “relativismo construtivista” que permite o “trânsito entre todos os saberes da humanidade”, e, posso acrescentar, os conhecimentos passam a ser concebidos sobretudo como linguagem, fazendo migrar para o centro da reflexão da Teoria a atenção à linguagem anteriormente restrita aos estudos literários. A Teoria monta um campo de forças próprio em cujo centro ela mesma habita. Fabio Durão fala de uma exacerbação dos metadicursos da teoria literária” que passa a “constitui um campo (semi)autônomo. Ocorre a emancipação da Teoria em relação aos objetos, aos quais os estudos literários anteriores se modelavam; e essa emancipação possui um a liberdade virtualmente ilimitada de construir objetos de leitura e conhecimento, pois não apenas tudo pode ser objeto da Teoria como as mais imprevisíveis relações entre as coisas do mundo podem ser erigidas em objeto. Entretanto, se as potencialidades são enormes, as realizações são geralmente solipsistas, hipersofisticadas e herméticas, desabrochando o obscurantismo e a intransitividade do seio da liberdade, da práxis e da pluralização almejadas.
A explicação desse paradoxo pode ser encontrada em um argumento constante ao longo do livro: a semelhança entre a natureza da Teoria e a lógica do capitalismo tardio estadunidense. O Autor julga possível “identificar na liberdade enunciativa do teórico algo da flexibidade que se exige do trabalhador no novo mercado e da produção pós-fordista” (p. 31). Essa relação não se dá de modo genérico, mas tem em seu “espaço enunciativo”, a universidade, o seu instrumento específico de realização, em que ocorre a transposição para a teoria americana do um modo de produção social, adequando seu funcionamento à universidade produtivista atual. A abundância, o múltiplo, a pluralidade e todo o discurso do “excesso” vinculado pela aliança entre a Teoria e a noção de “pós-modernidade” não se colocam no mundo sob a égide exclusiva da liberdade mas também da produção capitalista, da lógica da moda e da frenética produção e consumo de mercadorias. Eis a face de conformidade plena da Teoria com o mundo em relação ao qual ela se pretende radicalmente crítica. Desenvolvendo um pouco essa questão, pode-se explorar mais a relação entre a fusão de disciplinas e a lógica produtiva pós-fordista. Não me parece que essa relação aconteça somente no plano da produção. Há no próprio movimento abstrato de nivelamento de todos os conhecimentos, todas as linguagens e todos os objetos algo daquela lógica de mediação universal e abstrata que Marx viu na forma-mercadoria. Para dizer brevemente, a possibilidade de equalizar todos os produtos do homem foi conseguida pela abstração do valor de uso no valo r de troca. O teórico e seu texto, em seu grau máximo de flexibilidade, não se assemelham a essa forma de mediação universal e abstrata entre conteúdos e formas por vezes muito diferentes? Em outras palavras, não assume o seu trabalho e o resultado dele como uma mimese da forma-mercadoria ? Se essa dedução estiver certa, ela se coloca em outro nível em Teoria (literária) americana, pois se transforma em uma pergunta que deve ser feita em relação ao próprio Autor: ao analisar essa “formação discursiva”, ele mesmo se desidentificaria do processo de mediação universal e abstrata da natureza da mercadoria presente na prática contemporânea da Teoria? Porventura não faria Fabio Durão a mimese de seu próprio objeto, incorporando em sua capacidade de transitar entre tantas correntes críticas com tanta desenvoltura algo da abstração sem finalidade da forma-mercadoria? O livro corre esse risco, e ele nunca é de todo dissipado. Porém, mais importante do que constatar o perigo é ver como nele a exigência de recuperação dos objetos ganha novo sentido. Seguindo a linha mestra de raciocínio do livro, o aspecto positivo da contradição da Teoria, a sua demanda de liberdade, ao mesmo tempo que se adapta ao mercado neoliberal, possui uma dimensão utópica: “uma utopia do conhecimento, livre das amarras da tradição e da nacionalidade” (p. 29). Porém, como separar essa extrema liberdade autoproclamada da arbitrariedade advinda muitas vezes de instâncias de poder contrárias à mesma liberdade proposta pela Teoria? A resposta compõe o eixo mais importante da discussão proposta pelo livro: “a teoria americana é legítima quando permite o surgimento de um objeto que sem ela seria inconcebível” (p. 116). Nesse sentido, os objetos que precisam ser recuperados não são os antigos objetos da teoria literária, pois aqui não se trata de uma nostalgia ou de simples vinculação à Teoria Crítica. Não é o caso de voltar a ler os textos como Benjamin lia Kafka, Goethe ou Baudelaire, ou Adorno lia Eichendorff ou Beckett, embora esses ensaios de maneira alguma saiam do horizonte. Os objetos a serem recuperados, se entendo bem o sentido profundo do livro, ainda não existem ; eles não são “coisas” que foram abandonadas e podem ser simplesmente reencontradas. A demanda de Fabio Durão é por novos objetos que surgiriam somente quando a Teoria refletisse radicalmente sobre ela mesma, exasperando as suas insuficiências e fazendo surgir de uma severa autocrítica a possibilidade de emancipação real, uma emancipação que gerasse um “outro”. Assim, os objetos são uma espécie de alteridade utópica nascida da autorreflexão da Teoria sobre seus paradoxos, uma tentativa de sair de si mesma por uma dialética implacável, da qual decorreria no campo dos estudos literários, uma exigência de transformação social, uma práxis libertária. Alcançar a alteridade é também alcançar aquela limitação e particularização que definem uma personalidade – um nome –, e buscam retomar algo de humano, de realmente diferenciado, na lógica produtiva e mercantil atual. Recuperar os objetos, então, não é somente um conselho ou uma exigência, é igualmente uma promessa de felicidade e de superação da mercadoria no âmbito dos estudos literários.
Leandro Pasini.
Breve Tratado – ESPINOZA (AF)
ESPINOSA, B. Breve Tratado. Resenha de: ROCHA, André Menezes. Sobre a primeira tradução do Breve Tratado de Espinosa. Artefilosofia, Ouro Preto, n.14, julho, 2013.
As translucidas mãos do judeu
Lavoram na penumbra os cristais
E a tarde que morre é medo e frio.
(…)
Trabalha em um árduo cristal: o infinito.
Mapa de todas as estrelas.
Espinosa.
Poema de Jorge Luís Borges.
Borges gostava de nos lançar no universo dos livros mágicos. Como um bom bibliotecário, nos conduzia por estantes infindas como quem tem em mãos os fios que atravessam entradas e saídas de um imenso labirinto. Lembro-me deum destes livros, o infinito.
O livro infinito é aquele cuja leitura jamais se esgota, que sempre exprime um novo sentido desde que o leitor abra suas páginas. Este Breve Tratado de Espinosa, inédito em língua portuguesa, consiste no mais novo exemplar destes livros com que os leitores de Borges tanto se encantam. Um livro infinito sobre o amor infinito, em síntese, eis do que se trata. Este Breve Tratado de Espinosa é uma obra juvenil, escrita bem antes da Ética e, para alguns intérpretes, antes mesmo do Tratado da Emenda do Intelecto. Talvez por isso seja a melhor maneira de introduzir-se no pensar com os conceitos de Espinosa. Inicia-se com a intuição da essência absolutamente infinita de Deus e, após passar pelo conhecimento da essência das paixões e ações do s homens, trata dos bons desejos que nascem do uso da razão, do amor intelectual que é imanente à intuição e culmina com a demonstração do que é eterno na essência humana. Mas todas estas demonstrações só fazem sentido, no texto de Espinosa, se não se distingue a inteligência do afeto. Uma leitura tecnocrata dos textos filosóficos e, em especial, do texto de Espinosa, não passaria de um mísero avatar daquela velha vã filosofia de que falava Shakespeare. Como o olho da medusa, o entendimento do tecnocrata petrifica o sentido dos textos. Borges é quem nos diz o que perdeu o aprendiz impaciente do conto A Rosa de Paracelso.
A curiosidade, o prazer da leitura e o amor da inteligência são os guias mais seguros para os leitores e leitor a s que desejam iniciar-se na leitura dos clássicos e na reflexão filosófica. E no caminho da leitura surgirão muitas questões que em vez de barreiras constituir-se-ão como trampolins a elevação da reflexão.
Gostaria aqui de apresentar algumas questões que me ajudaram a prosseguir na leitura do Breve Tratado. Literatura e arte na composição do Breve Tratado. Os dois diálogos da primeira parte do Breve Tratado tratam de temas candentes da ontologia de Espinosa, mas também caros à tradição neoplatônica do Renascimento, seja na vertente de Marsilio Ficino que procurava desvendar o amor intelectual e obter a eternidade pela criação de mágicas obras de arte, seja na vertente de Leão Hebreu que procurava desvendar o amor intelectual e obter a eternidade pela sabedoria ética na conduta cotidiana e nas ações da vida. A questão da diferença entre amor concupiscente e amor intelectual, que é o mote da erotiké no primeiro diálogo, tinha sido intensamente tratada pelos artistas e pensadores do Renascimento. A partir de Panofsky, podemos acompanhar como a questão da diferença entre amor divinus e amor profanus foi tratada sob a forma artística, por exemplo, nas telas de Botticelli e nos diálogos do próprio Marsilio Ficino. Como sabemos, o jovem Espinosa viveu em Amsterdã na casa-escola do tutor Francisco van den Ende, um franciscano que, como Petrarca, abraçou o humanismo. Ele ensinava literatura latina e filosofia através de leituras coletivas encenadas que muitas vezes se transformavam em peças teatrais. Espinosa, que obteve uma bolsa de estudos como ajudante do mestre-escola, interpretou no Teatro Municipal de Amsterdã peças de Terêncio, o dramaturgo comediante que participou do círculo estoico de Cipião com o historiador Políbio no século II a.C em Roma. Na Escola de Van den Ende, Espinosa conheceu seus melhores amigos, entre os quais o próprio Jarig Jelles, a quem dedicou a versão holandesa do Breve Tratado. Seria demais imaginar que Espinosa tenha elaborado os diálogos a partir da experiência artística com o círculo de amigos na trupe de teatro de Amsterdã? No segundo diálogo, por exemplo, Erasmo e Teófilo encetam animada conversa sobre a diferença entre a causalidade eficiente imanente através das relações internas entre todo-partes e causa-efeitos. Conversações agradáveis podem se tornar profundas tanto na vida cotidiana como nas ações dramáticas. Os dois diálogos da primeira parte são redigidos com engenho retórico e arte dialética para significar que os conceitos filosóficos do Breve Tratado não precisam ser pensados no solipsismo, à maneira cartesiana, mas podem ser pensados em agradáveis conversas em que todos nutrem amizade pela inteligência e gosto pelas arte s ? Razão e Intuição. Espinosa escreve, na segunda parte do Breve Tratado [II, 4], que a razão é a crença verdadeira, pois é o modo de conhecimento que nos leva a ver claramente o que convém que a s coisa s seja m fora de nós, porém não o que são verdadeiramente. E, no entanto, o conhecimento racional desperta os bons desejos que nos conduzem à intuição e ao verdadeiro amor. Podemos dizer que o Breve Tratado foi escrito antes da descoberta das noções comuns como conhecimento racional das propriedades comuns necessárias dos modos in finitos e finitos? Ora, após distinguir a Natureza Naturante da Natureza Naturada [I,8], Espinosa deduz os modos infinitos, quais sejam, o movimento-repouso na matéria e o intelecto infinito na coisa pensante [II,9]. Se os modos infinitos são os fundamentos das propriedades comuns na Ética, isto é, se são o todo de que os modos finitos são as partes, não é preciso convir que são demonstrados por sua gênese no Breve Tratado ? Em que sentido se pode dizer que não há teoria das noções comuns do Breve Tratado ? Sabemos, pela nota complementar 5 redigida por Marilena Chauí em A Nervura do Real, que há diferenças entre a concepção de intuição no Breve Tratado e a concepção de ciência intuitiva na Ética. Afinal, que significa a afirmação, no Breve Tratado, de que o conhecimento intuitivo e o amor intelectual de Deus são paixões do intelecto humano? Nesta obra juvenil, Espinosa pensava o amor intelectual como uma revelação religiosa, ou seja, como a palavra silenciosa que a inteligência de Deus pronuncia sob a forma de intuições no intelecto humano? Quais as diferenças entre a concepção do amor intelectual no Breve Tratado e a concepção do amor intelectual na Ética ? A demonstração de que o diabo não existe. Em várias cartas, Espinosa conversa com amigos sobre o tema da superstição, da crença em fantasmas, espectros e, pior que tudo, da crença no capiroto, coisa ruim ou tranqueira que, como diz Guimarães Rosa, para o prascóvio encontra-se no olho esgueirado de bezerro doente, gato preto, sombração ou redemoinho n o meio da rua.
Nas cartas trocadas com o amigo Boxel, podemos perceber como Espinosa achava graça nestes assuntos. E talvez o espírito de graça destas cartas encontre-se neste Breve Tratado com a demonstração matemática da impossibilidade da existência do diabo. A demonstração segue como consequência da prova ontológica da existência de Deus, desde que esta existência seja pensada a partir da essência como realização da onipotência. Vale lembrar que esta demonstração para nós é engraçada, mas para o contexto das guerras de religião era grave.
Espinosa demonstra, por A + B, como quem demonstra que 2+2=4, que o diabo é uma impossibilidade ontológica: dado que a essência de Deus é absolutamente infinita e que é idêntica à sua potência, um diabo, um gênio maligno ou outro ser malfadado qualquer que tivesse poder para contrariar a essência de Deus só pode ser uma ficção literária ou lógica. O que contraria a onipotência de Deus pode até existir, como existem peixes que nadam contra a corrente do rio, mas não pode influenciar em nada a potência absolutamente infinita de Deus, assim como um peixe não pode mudar o curso do rio ainda que nade contra a corrente. O diabo não pode existir na realidade, não pode ser um ente real, só pode existir como ficção, só pode ser um ente de razão ou ente de imaginação. E como Ferreira Gullar que diz saber como 2 e 2 são 4 que a vida vale a pena, Espinosa demonstra, como 2 e 2 são 4, que o amor intelectual de Deus é o sumo da vida humana e que por ele se encontra tanto a virtude para agir nesta vida como a eternidade de que podemos participar desde que experimentemos um verdadeiro amor.
Ode à leitura. Esta novíssima edição do Breve Tratado de Espinosa tem muitos méritos e o menor deles talvez seja o fato de ser a primeira tradução em português. Os méritos encontram-se mais no uso da língua portuguesa que os tradutores e a revisora fizeram para apresentar este inédito de Espinosa.
A tradução de Luís César Oliva e Emanuel Rocha Fragoso é clara e elegante, o que torna o texto muito agradável para os leitores da língua portuguesa. A revisão técnica de Ericka Itokazu, como sabemos todos os que acompanhamos o processo, lapidou o texto com muito carinho, cuidado e generosidade, para assegurar a precisão dos conceitos e dos argumentos que constituem a arquitetônica do Breve Tratado ; deu polimento, como no ofício de fazer lentes, para que permitissem ver a luz com a máxima nitidez. Certa vez uma amiga me disse, diante do Memorial da América Latina, que as curvas do desenho concreto de Niemeyer impressionavam sua imaginação de tal maneira que ela se punha a pensar, com Einstein e Espinosa, se aquela arte arquitetônica não exprimiria à sua maneira as curvas concretas de um universo infinito e densamente invisível que se reflete na luz das estrelas.
Este Breve Tratado, brilhante qual um crista l e denso como um diamante, ergue-se no tempo como o memorial de Niemeyer ergue-se no espaço. Um livro mágico como aqueles que encantavam Borges, mágico como um mapa não de espaços, mas de tempos que se escandem de uma fonte eterna. Que as frases deste exemplar de livro infinito, semelhantes a curvas geométricas, façam o seu glorioso mister e conduzam leitores e leitoras às veredas concretas do infinito.
André Menezes Rocha-Doutor em filosofia pela FFLCH/USP. Leciona da Facamp/Campinas. Atualmente, realiza seu pós-doutorado sobre Espinosa na FFLCH/USP.
O inconsciente estético – RANCIÈRE (AF)
RANCIÈRE, Jacques. O inconsciente estético. São Paulo: Ed.34, 2009. Resenha de: SOARES, Ednei. Artefilosofia, Ouro Preto, n.14, julho, 2013.
É sabido que Freud recorreu à arte para encontrar nela algo que lhe fornecesse material analítico a fim de expor e discutir suas descobertas.
Ora, a obra de Freud é repleta de referências às obras de arte advindas ora da literatura, ora da pintura e da escultura. Os textos das primeiras décadas do século XX o com provam: “ Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen ” (1907), “ Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância ” (19 10), “ O Moisés de Michelangelo ” (1913), “O Estranho” (1919) e “ Dostoievski e o parricídio ” (1928).
Sabe-se também que existem outras maneiras de reconhecer o recurso psicanalítico às artes.
Desde Lacan, vimos a produção de uma inversão em relação àquela primeira perspectiva freudiana. Ao invés de aplicar a psicanálise à leitura das obras de arte, veremos psicanalistas e estudiosos d o campo aplicar a arte à psicanálise, isto é, a arte enquanto aquela que permite avançar a teoria psicanalítica.
É por meio deste debate que o filósofo Jacques Rancière, em “ O Inconsciente Estético” (2009), trata das relações entre a teoria freudiana e o domínio da estética.
Filósofo, Jacques Rancière é Professor Emérito de Estética e Política na Universidade de Paris VIII, onde lecionou de 1969 a 2000. Apesar de seu lançamento em 2009, o texto de “O Inconsciente Estético” foi extraído das conferências que Jacques Rancière realizou nove anos antes na École de Psychanalyse em Bruxelas durante janeiro de 2000. Entre os campos da E sté tica e da Política, Jacques Rancière ainda não tem toda sua obra publicada em língua portuguesa. Desde a década de 1970 temos “Sobre a Teoria da Ideologia” (1971) e mais adiante, por editoras brasileiras, “A Noite dos Proletários” (1988), “Os Nomes da História” (1994), “Políticas da escrita” (1995), “O desentendimento” (1996), “O Mestre Ignorante” (2004) e “A Partilha do Sensível” (2005), “O espectador emancipado”, “O destino das imagens”, “As distâncias do cinema” (2012).
Debatendo o tema do Inconsciente Estético para além da visada psicanálise da arte e fora do continente analítico, o filósofo vivifica ainda mais a discussão em jogo, pois fala a partir do domínio da estética, sua especialidade: “Não tenho nenhuma competência para falar do ponto de vista da teoria psicanalítica”. (RANCIÈRE, 2009, p.9).
Vemos que o autor parece colocar em tensão esses dois regimes de uso da arte pela psicanálise. Se por um lado, a interpretação das obras “ocupam um lugar estratégico na demonstração da pertinência dos conceito s e das formas de interpretação analíticas” (RANCIÈRE, 2009, p.9), por outro lado, Rancière resguarda a tradição, a autonomia e a potencialidade do pensamento estético nas obras de arte:
“Elas são os testemunhos da existência de certa relação do pensamento com o não-pensamento, de certa presença do pensamento na materialidade sensível, do involuntário no pensamento consciente e do sentido no insignificante”. (RANCIÈRE, 2009, p.10-11).
Isto é, este domínio do pensamento que não pensa não é um território e m que Freud busca apenas companheiros e aliados. Para o esteta, “É um território já ocupado” (RANCIÈRE, 2009, p. 45).
É então, a partir da “ revolução silenciosa denominada estética” (RANCIÈRE, 2009, p.33-34) que o questionamento principal do filósofo se constrói.
Segundo ele mesmo foi no terreno da estética que a teoria freudiana se ancorou, quer dizer, “ nessa configuração já existente do ‘pensamento inconsciente’, nessa idéia da relação do pensamento e do não-pensamento ”. (RANCIÈRE, 2009, p.11) “O Inconsciente Estético” (2009) propõe, portanto, pensar o campo estético como um dos fundamentos de inscrição do pensamento analítico (RANCIÈRE, 2009). Assim, a hipótese de Rancière é de que “o pensamento freudiano do inconsciente só é possível com base nesse regime do pensamento da arte e da idéia do pensamento que lhe é imanente”. (RANCIÈRE, 2009, p.13-14.) Para sustentar tal empreitada, são diversas as referências artísticas utilizadas por Rancière. De “Os Miseráveis” de Victor Hugo, a Balzac com suas “La Maison d u chat qui pelote” e “A pele de onagro”, passando pelo belga Maurice Maeterlinck, até chegar às referências propriamente freudianas: Leonardo, Michelangelo, Jensen, Hoffmann, Ibsen, entre outros.
Para Rancière, a revolução estética não se dá, por exemplo, via a rebeldia britânica de Lord Byron contra a moral civilizada ou denunciando a s desordens da alma.
Trata-se antes de uma nova idéia de artista. Daquele que sabe freqüentar os subsolos, como o geólogo e naturalista francês, Georges Cuvier. De um artista que saiba encontrar a palavra muda através dos diversos usos do detalhe.
Diante disso, Rancière irá aliar a revolução estética ao advento da psicanálise: “O novo poeta, o poeta geólogo ou arqueólogo, num certo sentido, faz o que fará o cientista de A interpretação dos sonhos ”.
(RANCIÈRE, 2009, p. 37). Isto é, “A grande regra freudiana de que não existem ‘ detalhes ’ desprezíveis, de que, ao contrário, são esses detalhes que nos colocam no caminho da verdade, se inscreve na continuidade direta da revolução estética”. (RANCIÈRE, 2009, p.36).
Se nosso autor põe em relação pensamento estético e psicanálise, ele o faz preservando um cuidado histórico e epistemológico. A o estabelecer tal relação, Rancière não se esquece d o contexto médico-cientifico no qual a psicanálise foi criada e nem corre o risco de dissolve r o conceito de inconsciente freudiano. O filósofo não está inclinado em afirmar que o inconsciente freudiano depende da literatura e da arte, cujos segredos ele pretende desvendar (RANCIÈRE, 2009).
Segundo el e, “ Trata-se, antes de mais nada, de assinalar as relações de cumplicidade e de conflito que se estabelecem entre o inconsciente estético e o inconsciente freudiano ” (RANCIÈRE, 2009, p. 43-44).
Mais do que contrapor à autoridade da ciência a dos grandes no mes da cultura – os quais lhe servem de guias na viagem pelo Aqueronte explorada por seu método de tratamento-, Freud o faz porque essa lacuna entre ciência positiva e acervo cultural não está vazia (RANCIÈRE, 2009).
É justamente nesta brecha que o filósofo situa o Inconsciente Estético: Tal espaço é o domínio desse inconsciente estético que redefiniu as coisas da arte como modos específicos de união entre o pensamento que pensa e o pensamento que não pensa. Ele é ocupado pela literatura da viagem pelas profundezas, da explicitação dos signos mudos e da transcrição das palavras surdas (RANCIÈRE, 2009, p. 44).
Conforme nos lembra o autor, em Freud não há o insignificante, e os detalhes prosaicos que o positivismo desprezou e lançou à racionalidade fisiológica são signos que cifram uma história (RANCIÈRE, 2009).
Dito de outro modo: “Não existe episódio, descrição ou frase que não carregue em si a potência da obra”. (RANCIÈRE, 2009, p.37). A literatura de geólogos e arqueólogos como Balzac e Freud mostram que entre pensamento e não pensamento, cifragem e decifragem, tal escrita se conecta à pura dor de existir e à pura reprodução do sem-sentido da vida, “(…) aquela que não fala a ninguém e não diz nada, a não ser as condições impessoais, inconscientes, da própria palavra”. (RANCIÈRE, 2009, p.39).
Freud, o psicanalista, é um hermeneuta, mas é também um médico, um sintomatologista, diz Rancière:
A sintomatologia literária mudará então de estatuto nessa literatura das patologias do pensamento, centrada na histeria, no “nervosismo” ou no peso do passado, nessas novas dramaturgias do segredo velado, em que se revela, através de histórias individuais, o segredo mais profundo da hereditariedade e da raça e, em última instância, do fato bruto e insensato da vida”. (RANCIÈRE, 2009, p.39).
Não somente através da doutrina freudiana, mas também através de Kant, S c helling e Hegel, o filósofo nos apresenta um pensamento daquilo que não pensa. Em “O Inconsciente Estético ”, a arte circunscreve um território de reunião dos contraditórios, de um pensamento presente e fora de si mesmo, idêntico ao não pensamento. Ou seja, há pensamento operando no elemento estranho do não-pensamento, e este não-pensamento que o habita lhe dá uma potência específica (RANCIÈRE, 2009).
As sim, as duas faces da palavra muda manifestam o inconsciente estético: a palavra muda escrita nos corpos que é decifrada e reescrita, e uma “ palavra surda de uma potência sem nome que permanece por trás de toda consciência e de todo significado, e à qual é preciso dar uma voz e um corpo,” (RANCIÈRE, 2009, p.41). Enfim, e m “O Inconsciente Estético”, vemos que a descoberta de Freud abriu uma lacuna entre ciência e arte produzindo uma racionalidade capaz de formalizar este campo de fronteira entre estética e teoria psicanalíticas:
“(…) a abordagem freudiana da arte em nada é motivada pela vontade de desmistificar as sublimidades da poesia e da arte, direcionando-as à economia sexual das pulsões. Não responde ao desejo de exibir o segredinho — bobo ou sujo — por trás do grande mito da criação. Antes, Freud solicita à arte e à poesia que testemunhem positivamente em favor da racionalidade profunda da “fantasia”, que apoiem uma ciência que pretende, de certa forma, repor a poesia e a mitologia no âmago da racionalidade científica” (RANCIÈRE, 2009, p.45).
Ednei Soares-Psicanalista, mestre em Psicologia. Professor do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Ipatinga-MG
Leibniz e o problema de uma língua universal – POMBO (ARF)
POMBO, Olga. Leibniz e o problema de uma língua universal. Lisboa. Editora: Junta Portuguesa de Investigação Científica e Tecnológica, 1997. Resenha de: SILVA, Marcos. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.10, jul./dez, 2013.
“Porque se compreenderes de forma justa simplesmente a tua língua materna, terás nela um fundamento tão firme como se fosse o hebreu ou o latim”
Jacob Böhme
O livro “Leibniz e o problema de uma Língua Universal” escrito pela professora portuguesa Olga Pombo, publicado em 1997, pela Junta Portuguesa de Investigação Científica e Tecnológica, é surpreendentemente desconhecido no Brasil, esta resenha tenta emendar, em parte, esta injustiça editorial. No excelente livro de Olga Pombo, Leibniz é apresentado como autor-chave da discussão sobre o hoje em dia marginalizado tema da Língua Universal. Os signos por si só abreviam, fixam, pintam, ordenam, expressam, transmitem pensamentos.
Ao cumprirem função heurística, operacional e mnemônica, são, sem dúvida, de grande apoio material para o conhecimento. Entretanto signos ordenados numa eventual Língua Universal ganhariam um papel ainda mais importante na constituição do conhecimento. Uma vez que permitiriam a expressão clara e exata de todos os pensamentos, um meio de comunicação universal e transparente, um juiz de controvérsias, um cálculo rigoroso e infalível, uma estratégia de descoberta de verdades, a transmissão ideal do conhecimento e, por extensão, representariam o progresso das ciências em uma unidade tão cara ao século XVII e abandonada em nossos tempos. Com efeito, uma Língua Universal potencializaria a já grande operacionalidade cognitiva dos signos.
A tese subjacente ao livro de Olga Pombo afirma a existência de uma unidade nas estratégias leibnizianas para investigação da Língua Universal, apesar do caráter difuso e fragmentário de sua obra. A autora defende a existência de uma unidade velada, um núcleo central na obra de Leibniz que revelaria uma complementaridade de finalidades e estratégias acerca deste tema- -obsessão dos séculos XVI e XVII. Segundo a autora, “o objetivo principal de Leibniz, a unidade possível dos seus trabalhos nesta matéria, seria então: investigar a origem motivada das línguas naturais; examinar os mecanismos responsáveis pela naturalidade do seu vocabulário (especialmente no caso do Alemão), a estrutura profunda que subjaz às particularidades gramaticais das várias línguas (investigações sobre a Gramática Racional) e aplicar essas descobertas à construção de uma nova língua filosófica dotada de uma similar, ou ainda maior, capacidade de revelação. Por essa razão, Leibniz exigirá da língua filosófica a construir que seja, também ela, natural, isto é representativa do Mundo que nela se des-cobre e que ela visa dizer.”(p. 24)1 A Língua Universal, una, regular, invariável, uniforme, que permitiria a comunicação e o conhecimento irrestrito, nos remeteria a um período ideal e mítico pré-Babel. Olga Pombo conduz seu leitor ao terreno de discussões multidisciplinares que compõem o mosaico cultural e histórico deste tema “maldito, marginal, escandaloso”, alguns dos adjetivos usados pela autora. Ela sugere, então, que este projeto seria uma espécie de sonho de Leibniz de anulamento progressivo de opacidades e sombras, pela abertura plena e radical das coisas pela pura literalidade dos signos, pela busca de um lugar mítico de todos os regressos: o momento em que as coisas são criadas racionalmente pelo verbo divino. Leibniz circunscreve o problema em diferentes perspectivas e estratégias para extrair todas as implicações lógicas e epistemológicas de um programa tão ambicioso. Olga Pombo aponta o horizonte da discussão: “Nos precisos contornos que a delimitam, essa ideia reguladora – na qual coexistem e intimamente se articulam o mais mítico de todos os mitos (o mito da origem) e o mais racional de todos os projetos (o de cobrir toda a extensão do ser e do saber pelo manto de uma racionalidade discursiva e universalmente partilhável) – encerra intuições fundamentais, hoje em grande parte esquecidas ou postas fora de debate, mas que, no século de Leibniz, polarizaram a atenção dos maiores espíritos.” (p. 60).
O espectro de atuação de Leibniz neste contexto, como em outros assuntos de seu interesse, é gigantesco: é filólogo e historiador de línguas naturais, investigador da origem e natureza de signos linguísticos, gramático especulativo das invariâncias das sintaxes indo-europeias, lógico de sistemas formais e propostas de coordenação de paradigmas linguísticos aos matemáticos, semiólogo, interrogador do alcance e natureza dos símbolos e, finalmente, filósofo que coordena e investiga sistematicamente toda esta interdisciplinariedade.
Desta forma, segundo Olga Pombo, Leibniz poderia “estreitar a distância que separa um Deus que criou o Universo pela palavra e o homem que constrói um universo de palavras” (p.261). Segundo a autora, o fio unificador dos projetos é a certeza de que o símbolo antes de ser um empecilho ou perturbar o conhecimento humano, conduz à revelação racional do real, promovendo e potencializando o conhecimento. (p.23) Destaca-se e radicaliza-se, assim, o valor heurístico, cognitivo e constitutivo da linguagem para o pensamento e razão humana.
Olga afirma que “há em Leibniz, o reconhecimento de uma verdade fundamental da linguagem, hoje grandemente esquecida perante a diversidade das línguas humanas, ele sempre sentiu a nostalgia cratiliana de uma transparência original, sempre se deixou (in)justificadamente maravilhar pela hipótese de uma unidade latente das palavras e das coisas.” (p. 8) Leibniz se encontra numa tradição histórica que tenta resguardar os fins científicos da linguagem protegendo-a de imperfeições das línguas vulgares como a equivocidade, irregularidade, instabilidade e ambiguidades. Desta forma, participa da consolidação de um projeto de Língua Universal que, para lá de finalidades meramente comunicacionais, exprima adequadamente o pensamento e as suas articulações. Para tanto, deveria se construir uma simbologia rigorosa e estável para traduzir todos os conhecimentos e cumprir uma função eminentemente cognitiva: guiar a formação de novos conhecimentos ao trazer à tona as comunidades sintáticas escondidas no fundo das línguas naturais. A matemática, então, aparece como paradigma natural deste sistema simbólico pelo seu rigor e simplicidade notacional e pela tese de uma afinidade categorial intrínseca entre mundo e linguagem, estabelecendo um mundo pitagórico matemático, ordenado e estruturado, como parâmetro e horizonte de investigação.
Dentre as dificuldades reconhecidas por Olga Pombo em sua Introdução estão: (1) a histórico-conceitual, i.e., a vastidão e heterogeneidade do problema de linhas de investigação marginais e interdisciplinares, e a sempre perigosa elucidação de mitos, seus pressupostos e pressentimentos; (2) a dificuldade na própria geografia conceitual de Leibniz, com a elucidação da relação deste problema com os fundamentos internos à sua filosofia; e (3) a dificuldade hermenêutica, a relação do projeto leibniziano com as suas muitas abordagens. A estas três dificuldades principais somam-se três objetivos: (i) determinar a amplitude da ideia da Língua Universal no contexto histórico no qual Leibniz se insere; (ii) compreender o significado e alcance da questão no sistema de Leibniz; e (iii) apresentando as várias estratégias e perspectivas adotados por ele.
Fazendo par aos problemas e objetivos, o livro é divido, também, em três grandes partes. Na primeira parte, a autora apresenta o movimento do século XVI e XVII acerca de uma língua natural ou sistema linguístico que traduzisse rigorosamente o pensamento e a sua articulação, comportando, assim, uma semântica de expressividade natural e permitindo avanços cognitivos. Na segunda parte, apresenta o empenho de Leibniz para a formação de uma teoria geral do simbolismo que delimitaria o fundamento, a adequação e o limite de uma Língua Universal. Há neste ponto do livro um pertinente contraste entre a Filosofia de Descartes e de Leibniz, o qual possivelmente Chomsky não conhecia quando propôs uma gramática cartesiana, enquanto seu programa gerativo teria mesmo fortes contornos leibnizianos como demonstra Pombo (cf.
215-16). Grosso modo, para Leibniz símbolos são auxiliares porque constitutivos do pensamento, para Descartes algo dispensável para o conhecimento de essências. Na terceira parte de seu trabalho apresenta a tentativa de uma unidade de abordagem do tema na Filosofia de Leibniz, sobretudo em seus escritos tardios.
Seguindo estes movimentos de três passos, Olga Pombo apresenta uma interpretação conjunta das perspectivas e especulações de Leibniz. Olga nos apresenta três projetos leibnizianos para criticar e suplantar a intransigente defesa do postulado da arbitrariedade do signo linguístico: A) o aperfeiçoamento do alemão, língua defendida por Leibniz como provável candidata de mais próxima de uma língua adâmica; B) a construção a posteriori de uma gramática comparativa, a partir da assunção de uma sintaxe profunda comum a todas as línguas que espelharia o espírito humano; e c) construção a priori de uma Língua Universal que garantiria a operacionalidade, representatividade e potencial heurístico idealizado por Leibniz. Estaríamos falando de um método pragmático pela manipulação de algo provisório, mas adequado e funcional, que deveria, portanto, conduzir o progresso científico humano através do cálculo de notações gráficas autônomas. Assim, ciências e esta Chararacteristica Universalis poderiam se desenvolver por um mútuo condicionamento. Há ainda, em anexo ao seu livro, um notável estudo comparativo entre Hobbes e Leibniz e possíveis influências e claras rupturas entre ambos, além de um rico inventário cronológico dos textos de Leibniz sobre as várias facetas do tema da Língua Universal. Destaco, ainda, a riquíssima bibliografia do livro com autores e obras do século XVI e XVII, textos de Leibniz, autores sobre Leibniz e trabalhos mais contemporâneos sobre esta problemática.
Há dois momentos em sua excelente obra em que Olga Pombo ao descrever os trabalhos de Leibniz parece antecipar o que estava pensando ao ler seu trabalho. Primeiro, quando afirma que a grandiosidade da obra de Leibniz estaria na revisão e organização de textos e tradições anteriores além é claro na contribuição positiva ao problema clássico de uma Língua Universal. Em analogia a este elogio a Leibniz, destaco a exuberante erudição de Olga Pombo com substanciosa revisão da literatura acerca do tema e a sua contribuição com a sugestão da necessidade exegética de ver as diferentes e fragmentárias perspectivas leibnizianas como complementares e convergindo para o endosso e necessidade do projeto de uma língua transparente e natural. Em um segundo momento, ao falar de Leibniz afirma que sua obra “enquanto particular forma de questionamento da origem e natureza íntima da linguagem, da sua relação ao mundo, abre um horizonte múltiplo de interrogação desenhando em termos conceituais complexos, vasto e fecundo campo de reflexão.” (p.261). A meu ver, esta seria a própria descrição do livro de grande fôlego de Olga Pombo. Sua obra é necessária pelo tema e revisão e pela pertinente defesa de uma leitura que confere sistema aos fragmentos, fio condutor às anotações dispersas, unidade às aparentes perspectivas inconclusas e indicações heterogêneas do espólio leibniziano. Isto leva a um reconhecimento seminal de um processo de evolução na historicidade interna dos textos assistemáticos de Leibniz. Segundo a autora, “em Leibniz, o ponto de partida é sempre múltiplo e a unidade uma tarefa”. (p.174) Entretanto, o que é ponto alto também pode representar seu fraco, muitas vezes uma quantidade excessiva de referências e notas de pé de página trunca a fluência do texto. Elas poderiam facilmente ser incorporadas ao corpo do texto principal. Além disso, há frases excessivamente longas, lembrando a fraseologia alemã, e inúmeros erros tipográficos que poderiam ser resolvidos em uma eventual futura edição. Contudo, isto certamente não ofusca o brilho da obra em seu esplendor de catalogamento de referências, nível de erudição filosófica e o potencial interdisciplinar. Estes aspectos certamente contribuíram para a indicação de sua dissertação defendida em 1986 para a publicação em inglês no ano seguinte e, mais tarde, no original português em 1997.
Leibniz está em definitivo na “corrente maldita da Filosofia” que acredita haver algo de naturalmente comum entre a linguagem e o mundo, fora de convencionalidades humanas ou da história natural das coisas. Acredito ser esta tradição ainda defendida em pleno século XX pelo tractariano Wittgenstein que postula uma espécie de naturalidade formal entre coisa e símbolo para que uma representação seja possível. Aliás, o livro de Olga Pombo ganharia, e muito, caso tivesse investigado, não só em sugestão de notas de pé-de-página (cf. p. 252), as intuições leibnizianas presentes em Frege, Russell e no Tractatus representativos de uma tradição que traz Leibniz de novo ao centro de discussão filosófica sobre matemática, lógica e simbolismo, como que ressuscitado (e reabilitado?) depois da hegemonia do criticismo kantiano. Aliás, a interdisciplinaridade do livro parece muito mais conduzida pela interação da Filosofia com a Linguística do que com a Matemática ou a Lógica Simbólica. Tal aproximação seria pertinente por Leibniz tentar estender explicitamente métodos matemáticos, sobretudo de análise algébrica, para a análise de línguas naturais, como faz, por exemplo, em seu inaugural Ars Combinatória de 1666.
Ao terminar o livro fiquei com a dúvida: Por que a partir da complementaridade entre grandes avanços em linguística comparada com claros vestígios de concordância sintática entre as línguas naturais e o desenvolvimento de técnicas de análise e manipulação de sistemas simbólicos artificiais não poderíamos reintroduzir no campo de investigações filosóficas uma via consequente sobre a naturalidade simbólica? Poderíamos revisitar esta escola marginalizada da Filosofia como ilusória e esotérica por um tratamento mais sintático da relação signo/coisa, justamente porque não parece existir signo fora de uma estrutura de relações a qual ele pertenceria e que poderia espelhar através de uma rede de signos outra estrutura independente. Afinal, padrões (Resenha) Leibniz e o problema de uma língua universal – Marcos Silva Argumentos, ano 5, n. 10 – Fortaleza, jul./dez. 2013 239 conceituais parecem sempre emergir caprichosamente em terrenos anteriormente incomunicáveis. Daí vem a seminalidade dos olhos corajosos de um filósofo.
Esta abordagem, por assim dizer, mais lógico-sintática restringiria o desconfortável apelo místico de uma necessária comunidade icônica entre o símbolo e simbolizado. Logo, a sintaxe, a meu ver, poderia substituir esta excessiva demanda semântica que caracterizou a investigação de uma Língua Universal nos séculos XVI e XVII, como o próprio Leibniz tentou no caso de sua Gramática Racional.
Além disso, fica a pergunta: uma Língua Universal precisaria realmente ser construída? Quando precisamos prospectar algo a grandes profundidades, precisamos criar instrumentos hábeis e eficientes e não criar, por exemplo, o petróleo ou o ouro. Eles, de certa maneira, já estão lá. Acredito que ao procurarmos a língua adâmica cometemos o mesmo erro de Russell ao interpretar o Tractatus de Wittgenstein: não se trata de postular e construir uma língua perfeita, mas de construir instrumentos perfeitos para mostrar o quanto perfeito já é o funcionamento profundo da linguagem.
Tudo se passa como se tivéssemos disponíveis potentes instrumentos de prospecção, mas fôssemos incrédulos quanto à existência do ouro. Aliás, afastamos peremptoriamente a simples possibilidade de existência deste tesouro profundo pelo apelo hegemônico naturalista das investigações acadêmicas de hoje em dia, com grande aversão ao que possa simplesmente parecer mais abstrato ou metafísico. Acredito que haja vestígios em Linguística Comparada que indicam uma comunidade gramatical profunda entre as línguas naturais, uma espécie de universal linguístico, como a presença de quantificação ou oposições lógicas entre proposições em línguas diversas. Os vestígios desta comunidade sintática poderiam justificar a tentativa de prospecção do “ouro” auxiliada, por exemplo, pela nossa avançada mecânica de projeções algébricas, homomorfismos, mapeamentos e modelos. O que fica após a leitura do livro de Olga Pombo é a sensação de que um projeto de Língua Universal, caso coordenado pelas inspirações seminais de Leibniz, além de ainda ser desejável, poderia também ser viável pelo atual grau de avanços técnicos em Linguística e Lógica.
Contudo deveríamos primeiro acreditar no ouro, antes de buscá-lo. Ouro de Leibniz, não de tolo.
Szabó nos diz que a questão “há objetos abstratos?” é aquela que separa nominalistas de não-nominalistas. Os primeiros pensam que não há, enquanto os últimos pensam que há ao menos um tipo de abstracta (objetos abstratos).
Os nominalistas são eliminativistas com relação a abstracta e os reduzem a concreta (objetos concretos). Sua motivação é geralmente indicada como advinda de uma certa consciência ontológica (intuição básica) e de um certo horror abstractae.
Uma objeção ao nominalismo é que ele se autodestrói, pois não há como negar a existência de abstracta sem pressupô-la, pois, para que haja comunicação, é preciso que haja uma proposição, um tipo de sentença ou uma mesmidade de estados mentais, e tudo isso pressupõe abstracta. O nominalista pode tentar dizer que podemos descrever a comunicação como uma tentativa de produzirmos no outro um estado mental semelhante ao seu próprio por meio de certos barulhos particulares. O problema dessa resposta é que se esses barulhos dizem algo, dizem uma proposição, um tipo de sentença ou algum outro objeto abstrato.
Mesmo que o nominalista tenha uma solução para esse problema, ainda precisaríamos ter claro o que queremos dizer com “há entidades abstratas?”, o que o autor tenta fazer com uma exposição sistemática de cada termo dessa sentença.
Com relação ao “há”, o autor nos mostra várias implicações de pensarmos o “há” como o quantificador existencial da nossa lógica clássica de primeira ordem. Uma delas é que não haveria níveis de existência, já que o quantificador quantifica igualmente, embora pudesse haver diferentes categorias ontológicas. Geralmente a objeção a essa ideia é que podemos criar uma lógica não padrão com tipos de quantificadores e, daí, poderíamos falar em diferentes níveis ou tipos de existência. A réplica quineana a essa objeção é dizer que temos que interpretar “há” ou “existe” da maneira como a nossa melhor lógica nos diz que devemos e a nossa melhor lógica (em profundidade, simplicidade, utilidade e beleza) é a lógica clássica de predicados de primeira ordem com quantificação e identidade.
Notas
1 Todas as referências deste trabalho vêm da primeira edição do livro de Olga Pombo.
Marcos Silva – Doutor em Filosofia pela PUC-RJ. Bolsista da Funcap/Capes de Pos-doutoramento na Universidade Federal do Ceará (UFC). Email: [email protected]
“Nominalism”. The Oxford Handbook of Metaphysics – SZABÓ (ARF)
SZABÓ, Zoltán Gendler. “Nominalism”. The Oxford Handbook of Metaphysics. Editado por Michael Loux e Dean Zimmerman. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 11-45. Resenha de: CID, Rodrigo. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.10, jul./dez. 2013.
Com relação ao “entidades”, o autor nos fala sobre pensarmos as entidades como objetos. O objeto seria o referente de um termo singular, diferentemente da função, que é referente de um termo geral. Uma entidade assim pensada teria de ter condições de identidade determinadas, pois os objetos em lógica têm eles próprios condições de identidade determinadas.
E, finalmente, com relação ao “abstrato”, Szabó nos fala de algumas concepções de abstracta, aceitando apenas a última no resto do texto. A primeira concepção é de que aquilo que é abstrato nos é dado por abstração daquilo que é concreto (embora o que tenhamos em mente seja apenas uma representação concreta daquilo que é abstrato). O problema dessa visão é que ela parece implicar dependência ontológica do abstrato com relação ao concreto. E isso é estranho para vários objetos abstratos, como proposições, tipos de enunciados, geometria, entre outros. A intuição que está envolvida aqui é que falta algo nas entidades abstratas que têm nas entidades concretas.
O problema então seria encontrar o que é que lhes falta, pois não é nada claro o que falta a eles – já que, por exemplo, os fótons não têm massa em descanso, os buracos negros não emitem luz e os pontos no espaço não têm extensão.
Uma outra ideia é que os objetos abstratos são (p. 17-18): “(i) imperceptíveis em princípio, (ii) incapazes de interação causal e (iii) não localizados no espaço-tempo”. O problema aqui é que pode-se logicamente defender que entramos em contato causal com objetos abstratos, como proposições, por exemplo. E é também defensável que percebemos os objetos abstratos nas coisas, tal como defende o realismo extremo dos universais, no qual há apenas feixes de universais. Szabó abandona os dois primeiros critérios e utiliza o termo abstrato levando apenas (iii) em consideração e tendo em vista que pode haver entidades concretas apenas temporalmente, mas não espacialmente, localizadas – como almas cartesianas.
O nominalista crê que esses objetos, os abstratos, tal como os monstros fantasiosos, não existem. Como, ainda assim, os abstratos são muito úteis nas ciências, o nominalista quer preservar o vocabulário dos abstratos, sem se comprometer ontologicamente com eles, reduzindo-os a concreta. Ele realiza tal coisa por meio da construção de uma paráfrase sistemática das frases sobre objetos abstratos a frases que não dizem respeito a abstracta. Um exemplo seria parafrasear “Há uma boa chance de chover mais tarde” para “Está parecendo que vai chover mais tarde”. Neste caso parafraseamos uma frase sobre chances em uma frase sobre a aparência das coisas. O problema da paráfrase é que não está claro por que haver uma paráfrase que não fala sobre abstracta indica que tanto a paráfrase quanto a frase parafraseada não têm compromisso com abstracta em vez de indicar que ambas têm. A paráfrase não vence a disputa ontológica, mas ao menos mostra que seu usuário consegue fazer sentido de sua própria posição.
Uma objeção séria ao nominalista é que ele não consegue parafrasear frases como “há entidades abstratas”, pois se houver uma paráfrase para tal frase, o nominalista não conseguirá formular a sua própria posição e nem a posição rival. É possível falar de uma outra interpretação, bem complexa, para essa sentença e para algumas outras de dentro das matemáticas. Mas é difícil teoricamente ter de aceitar que a interpretação de sentenças seja algo não transparente ou velado ao falante.
Algumas razões pelo nominalismo, diria o autor, são (a) a aceitação do fisicalismo, (b) a economia ontológica e (c) o argumento do isolamento causal.
E algumas razões contra seriam (d) o argumento da indispensabilidade e (e) o argumento fregeano.
A primeira razão pelo nominalismo vem da ideia de que se tudo é físico, então não pode haver coisas que não estejam no espaço-tempo. Essa ideia é problemática justamente pelas localizações do espaço não serem elas mesmas coisas com localizações, de modo que não precisamos aceitar que o fisicalismo implica a inexistência de coisas sem localização espaço-temporal. Tudo vai depender da abrangência de “físico”, que é um assunto profundamente problemático. Poderíamos dizer que só é físico o que é implicado por nossas melhores teorias. Porém, nesse caso, números e conjuntos seriam entidades físicas. Poderíamos tentar dizer que físico é o que está sujeito a leis. No entanto, há leis que tratam de abstracta, como a lei dos gases ideais. Podemos também tentar dizer que físico é o que entra em interação causal. Mas é debatível o que do objeto ou do evento entra na interação causal.
Outra razão seria a economia ontológica: poder-se-ia dizer que abstracta são supérfluos para os propósitos explicativos. O problema disso é que várias teorias científicas parecem quantificar sobre abstracta e, mesmo que forneçamos paráfrases, ainda teremos de decidir se a explicação da teoria reconstruída é preferível à não reconstruída (p. 29). Além disso, simplicidade, na qual se funda a economia ontológica, é variável: simplicidade em algumas partes traz complexidade a outras.
A terceira razão pelo nominalismo seria o argumento do isolamento causal. Ele nos diz que, como abstracta não têm posição espaço-temporal, não podem ter efeito causal em nós. Sem efeito causal, não há como ter nem conhecimento (parte epistêmica) e nem referência (parte semântica) dos mesmos.
A resposta a isso é muito parecida com uma que já vimos, que é dizer que não precisamos assumir que abstracta não têm efeito causal, pois pode-se assumir que as abstracta dependente de concreta têm efeito causal. O ponto então seria explicar como obtemos conhecimento e fazemos referência a objetos abstratos independentes dos concretos. Ou defender que não é necessário que haja interação causal para que obtenhamos conhecimento ou para que façamos referência a abstracta. Que não precisamos de interação para fazer referência a objetos, isso a referência por meio de descrição já nos mostra. Mas não é tão claro como poderíamos obter conhecimento de coisas necessárias as quais não entramos em contato causal.
Uma dificuldade para o nominalismo é o argumento da indispensabilidade (p. 34). Ele nos diz o seguinte: (1) a matemática é indispensável à física; (2) a matemática tem compromisso ontológico com abstracta; (3) logo, a física tem compromisso ontológico com abstracta; (4) não temos razões para rejeitar a física; (5) logo, não temos razões para rejeitar a existência de abstracta. As duas soluções nominalistas para este argumento são negar (1) ou (2). Se negarmos (1), teremos o programa em física de mostrar como pode haver uma física sem matemática, coisa que Hartry Field tentou mostrar, ao reformular sem quantificação sobre números a teoria gravitacional de Newton. Sua teoria nos diz que as sentenças matemáticas existenciais são falsas e que na verdade elas são apenas úteis para expressar as paráfrases nominalistas verdadeiras. Negar (2), por sua vez, exige do filósofo um programa semântico de paráfrase sistemática de toda a linguagem matemática que quantifique sobre abstracta.
Outra dificuldade para o nominalista é o argumento fregeano (p. 37). Ele é o seguinte: (A) “2+2=4” é verdadeiro; (B) “2” em “2+2=4” é um termo singular; (C) se uma expressão funciona como um termo singular numa sentença verdadeira, então deve haver um objeto denotado por tal expressão; (D) logo, deve haver um objeto denotado por “2”; (E) logo, há um objeto denotado por “2”. É possível que o nominalista argumente que “2” não é um termo singular genuíno. Entretanto, dados critérios sintáticos e inferenciais e dada a primazia da sintaxe sobre à ontologia, “2” é de fato um termo singular. É possível também que se objete a (C), tal como fez Field ao nos dizer que os juízos das matemáticas são falsos, embora sejam úteis para expressar as paráfrases nominalistas verdadeiras.
Uma posição possível intermediária ao nominalista é aceitar o ficcionalismo e dizer que as sentenças matemáticas são verdadeiras nas matemáticas, embora nada seja dito com relação a fora das matemáticas. Quando perguntamos se há abstracta, nos diria o ficcionalista Carnap, podemos estar querendo fazer uma pergunta interna ou externa ao sistema linguístico em causa.
Se for interna, sua resposta é trivial. Se for externa, seria uma questão sobre se devemos adotar uma teoria comprometida com abstracta. Carnap não pensava que havia razões para preferir um sistema linguístico em vez de outro. Quine discordaria disso, já que pensa podermos fornecer razões para a escolha entre tais sistemas.
Finalmente, Szabó termina seu texto indicando algumas outras posições intermediárias, entre nominalismo e anti-nominalismo.
Rodrigo Cid – Doutorando em Filosofia pelo PPGLM-UFRJ. E-mail: [email protected]
História e Educação / Ágora / 2013
Percebe-se nos últimos anos um importante crescimento do campo da História da Educação, Entretanto, isto tem ocorrido quase sempre capitaneado pelos pesquisadores de Programa de Pós-Graduação em Educação. No Espírito Santo, embora ainda de forma tímida, se visualiza ações voltadas para o estudo da História da Educação executadas a partir do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. Algumas delas é verdade, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade.
Assim, em 2004, numa parceria entre os professores Sebastião Pimentel Franco, do Programa de Pós-Graduação em História e a professora Regina Helena Silva Simões, do Programa de Pós-Graduação em Educação, ambos da Universidade Federal do Espírito Santo, foi publicado a obra História da educação no Espírito Santo: catálogo de fontes, cujo objetivo era contribuir para a ampliação e o fortalecimento necessários à consolidação de pesquisas historiográficas sobre a educação no Espírito Santo.
Em 2006, novamente o Programa de Pós-Graduação em História da UFES, se associa ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, para realizarem um evento interdisciplinar, intitulado I Seminário Interdisciplinar em História e Educação.
Nesse mesmo ano, esses dois Programas de Pós-Graduação reúnem textos de pesquisadores em História da Educação, na publicação Ensino de História, seus sujeitos e suas práticas, na “tentativa de dialogar a educação e a história, quer seja pela vertente da formação e da prática docentes, quer seja no campo das pesquisas históricas e da educação”, publicação essa que em 2009 foi reeditada.
Ainda em 2006, o Programa de Pós-Graduação em História da UFES, publicou a obra História e educação: em busca da interdisciplinaridade, volume 7 da Coleção Rumos da História. Nessa publicação, objetivou-se estabelecer “um núcleo interdisciplinar composto por historiadores, estudiosos da educação, esperando esse diálogo! Pudesse produzir frutos significativos, fomentando o debate e a crítica, contribuindo ainda mais para o avanço de tais estudos.
Em 2007, como fruto do I Seminário Interdisciplinar em História e Educação, surgiu a publicação História e Educação: territórios em convergência, reunindo textos de professores e pesquisadores da História e da Educação de instituições de ensino do Espírito Santo e de outros estados brasileiros.
Mais uma vez, os Programas de Pós-Graduação da UFES, em História e em Educação se associaram e produziram a publicação História da Educação no Espírito Santo: vestígios de uma construção. Na apresentação da obra, a professora Regina Helena Silva Simões diz que essa publicação foi “concebida em dupla perspectiva, ambas relevantes no tratamento do conhecimento produzido: o trabalho de mapeamento da trajetória da pesquisa sobre a História da Educação no Espírito Santo, cm preocupações de historicizar um processo que não foi homogêneo […] repletos de silêncios e com muitos vestígios ainda negligenciados e que passaram despercebidos em uma construção histórica mais linear e formalizada”.
Novamente os Programas de Pós-Graduação da UFES, em História e em Educação, se unem, para apresentar uma nova publicação intitulada A Educação no Espírito Santo: entre o século XIX e XX, a partir de textos reunidos de professores e alunos dos dois Programas de Pós-Graduação.
Os artigos estão organizados a partir de três perspectivas: a instrução no período imperial, a educação na fase republicana e por fim, optou-se pelo o uso de possibilidades metodológicas para o ensino da história.
Edvaldo Jorge Mendes, em seu texto, A educação como chave do progresso e os desafios para a consolidação na Província do Espírito Santo (1834-1873), objetiva refletir o ensino público no Espírito Santo do século XIX, no contexto histórico da cosmovisão dos Estados Nacionais da Europa e da formação do Brasil independente em uma época caracterizada, principalmente, pela confiança na educação como chave do progresso das nações, e sob o auspício desse referencial, as iniciativas dos presidentes da província do Espírito Santo para levar o país ao nível de civilização imaginado via escolarização do povo, esbarravam em obstáculos de difícil remoção em face de implicação de outros fatores condicionantes de natureza econômica, política, social e cultural da província e do país.
Em A religião católica na história da educação capixaba do século XIX: uma análise do regimento das escolas de primeiras letras de 1871, Cleonara Maria Schwartz e Dirce Nazaré Andrade Ferreira, evidenciam a presença da religiosidade católica na educação elementar pública do século XIX. Como fonte de análise foram utilizados a Constituição de 1824, a Lei Januário da Cunha Barbosa e o Regimento Interno de 1871, da Província do Espírito Santo.
Karen Calegari Santos Campos, no texto Só os que nenhuma habilitação tenham que as vezes para nada servem, se quererão a isto prestar: representações oficiais sobre professores capixabas no século XIX, discute as representações sobre a docência na Província do Espírito Santo, entre as décadas de 1850 e 1860, produzidas e postas a circular por meio do discurso dos presidentes de Província.
Em seu texto O Colégio Pedro II não era aqui: o olhar imperial e outras falas sobre a escolarização e a docência no Espírito Santo nas décadas de 1850 e 1860, as autoras Regina Helena Silva Simões, Rosianny Campos Berto e Tatiana Borel, investigam o exercício da docência na Província do Espírito Santo, nas décadas de 1850 e 1860, buscando compreender o processo de escolarização e da docência durante a vigência dos regulamentos da instrução pública, datados de 1848 e 1862.
A educação na Primeira República e o texto apresentado por Elezeare Lima de Assis e Sebastião Pimentel Franco, intitulado Considerações sobre o Grupo Escolar Gomes Cardim no contexto da educação primária no Espírito Santo na Primeira República, onde tecem considerações sobre o Grupo Escolar Gomes Cardim inaugurado na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo em 1908 e sua inserção no projeto reformista educacional exercitado no Espírito Santo da Primeira República.
Cleonara Maria Schwartz e Eliete Aparecida Locatelli Vago, em seu artigo O ensino primário na década de 1960: considerações acerca do Brasil, do Espírito Santo e de Santa Teresa, tece considerações acerca de mudanças sócio-políticas e econômicas ocorridas na década de 1960, a fim de compreender tensões que perpassaram o ensino primário em âmbito nacional, estadual e municipal. Para isso, dialogam com autores que discorreram sobre essa temática e fazendo uso de legislações, relatórios e mensagens do governo do estado do Espírito Santo da década de 1960, atas de reuniões pedagógicas das escolas primárias teresenses e atas de reuniões da Câmara Municipal de Santa Teresa (ES).
Gustavo Henrique Araújo Forde e Luiz Antonio Gomes Pinto, no texto Uso da microhistória na historiografia dos movimentos sociais na/da educação brasileira, afirmam que “As pesquisas sobre história da educação são, em muitos casos, caracterizadas pela existência de narrativas que ocultam – macro-narrativas – ou desvelam – micro-narrativas – os movimentos sociais. Ao longo das últimas décadas, observamos o crescimento de estudos que procuram ampliar os espaços de participação desses movimentos. As teorias, que vão do marxismo ao pós-estruturalismo tentam, cada um a seu modo, elaborar narrativas enfocando aspectos afeitos a esses esquemas explicativos. Assim, os movimentos negro e indígena, também veem a possibilidade de elaborar narrativas históricas através da construção de signos que produzem identidades”.
Miriã Lúcia Luiz, em História ensinada para crianças: análises a partir de proposições de Marc Bloch, busca realizar a partir do proposto por Bloch, uma análise das práticas de professores no ensino de história nas séries iniciais.
Cleonara Maria Schwartz
Regina Helena Silva Simões
Sebastião Pimentel Franco
Os organizadores
Acessar publicação original desta apresentação
Nietzsche, as artes do intelecto – BRUM (ARF)
BRUM, José Thomaz. Nietzsche, as artes do intelecto. Porto Alegre: L&PM, 1986. Resenha de: Resenha de: PIVA, Paulo Jonas de Lima. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n. 9, jan./jun. 2013.
Uma resenha sobre um livro pioneiro há tempos esgotado, feita para que ele seja mais do que lembrado, mas reeditado, cabe numa seção de resenhas de uma revista acadêmica de nível respeitável, a princípio destinada apenas para lançamentos? Inovemos se essa quebra de protocolo pode render bons frutos bibliográficos para as pesquisas em filosofia no Brasil.
Os estudiosos brasileiros do Marquês de Sade, bem como os do sensualismo e do materialismo modernos, foram contemplados recentemente pela Editora Champagnat com o relançamento, em segunda edição, de Desejo e prazer na Idade Moderna, livro de Luiz Roberto Monzani desaparecido das livrarias há vários anos. Outro caso relativamente recente de um relançamento capital ocorreu com a minuciosa e densa biografia de Jean-Paul Sartre escrita por Annie Cohen Solal, Sartre, uma biografia, publicada no Brasil, nos anos oitenta, pela L&PM, e que também estava fazendo falta na biblioteca dos especialistas e aficionados do pensamento existencialista. O livro voltou à tona em 2008, com um novo prefácio da biógrafa a propósito do centenário de nascimento do autor de A Náusea em 2005. O mesmo aconteceu com o esgotado e disputado Silogismos da amargura, do romeno Emil Cioran, reposto em circulação este ano pela Rocco, também em ocasião do centenário do nascimento do seu autor. Nessa mesma direção, a editora Autêntica já anunciou o relançamento do clássico O Erotismo, de George Bataille, também muito procurado, mas sumido até dos sebos.
Contudo, há uma longa lista de outras obras fundamentais de filosofia em português que precisam ser relançadas, algumas com urgência.
A dificuldade para encontrá-las e, quando encontradas, o preço exorbitante no mercado de sebo para adquiri-las, são motivos bastante persuasivos para que as editoras atendam a essa necessidade dos seus leitores. A Filosofia do Iluminismo, de Ernst Cassirer, livro lançado no Brasil pela Editora Unicamp e que em 1997 chegou à sua terceira edição, é uma delas. Até mesmo no mercado virtual de sebo é difícil comprá-lo. Quem conhece o livro sabe que muito se perde ao estudar o iluminismo sem ele. E por falar em publicações da Editora da Unicamp, o que dizer do clássico Carta a D’Alembert sobre os espetáculos, de Jean- -Jacques Rousseau, também há muito tempo uma raridade entre nós? Nesta direção, Nietzsche, as artes do intelecto, de José Thomaz Brum, é outro título desaparecido que merece ser ressuscitado. E a ousada L&PM, mais uma vez, que deu vida ao pequeno livro em 1986, na sua extinta “Coleção Universidade Livre”, deveria fazê-lo, ainda mais depois de ter posto no mercado seis traduções diretamente do alemão do autor de O Anticristo. Sua variada e riquíssima coleção de bolso seria a via ideal para tal empreendimento.
E por que esse ensaio, uma dissertação de mestrado defendida na PUC do Rio de Janeiro em 1984? Em Nietzsche, as artes do intelecto, Thomaz Brum se faz pioneiro.
Trata-se de um dos primeiros textos de um estudioso brasileiro a expor a concepção nietzschiana de conhecimento, num sentido lato, a epistemologia de Nietzsche. E Thomaz Brum o faz por meio de um exame cuidadoso de Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral, texto inacabado de 1873 e publicado postumamente, e de alguns fragmentos póstumos de Nietzsche dedicados ao assunto.
Construção antropomórfica da natureza; redução da realidade a uma interpretação humana demasiado humana; adequação e conversão do universo à perspectiva de uma espécie biológica específica, a humanidade; ficção, ilusão e erro de um animal determinado voltados para a sua preservação vital; em última instância, obra de arte que possibilita a sobrevivência dos seres humanos. Em linhas gerais, é assim que Thomaz Brum entende e define o conhecimento em Nietzsche. E a concepção de homem da qual parte tal interpretação é a de um ser que não é criatura de uma divindade, que não é imagem e semelhança de um ser supremo, uma vez que este não existe. Porém, mesmo assim, por pura vaidade e engano, homem se sente o centro do universo, embora sua existência seja absolutamente insignificante, contingente e gratuita do ponto de vista onto e cosmológico. Esse ser vaidoso − as moscas, como bem observa Nietzsche, também se sentem o centro esvoaçante do universo, assim como as formigas se sentem a finalidade da floresta −, sem criador nem lugar privilegiado na natureza, à deriva num processo sem teleologia, não passaria de um animal em meio aos demais lutando pela sobrevivência. Não dispondo de garras ou chifres para se defender, ele usa o intelecto para suprir sua vulnerabilidade e manter-se vivo no interior de um planeta perdido em meio a bilhões de tantos outros. Por meio desse intelecto o homem lança-se em abstrações, constructos, elaborando teses e doutrinas, elucubrando sistemas e explicações, e o faz com a sua especificidade animal, portanto, como uma atividade biológica, tal como a abelha produz o mel e a mariposa tece o seu casulo.
Donde se segue que não há essências para serem descobertas, nenhuma coisa-em-si para ser revelada, tampouco uma objetividade a ser alcançada na investigação das causas e da natureza das experiências. A verdade mostra-se então artifício, ferramenta eficaz, expediente útil, uma convenção lingüística, mais precisamente, figura de linguagem. No dizer do próprio Nietzsche, a verdade consiste num “batalhão de metáforas, metonímias, antropomorfismos”, isto é, numa “soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas”. O homem do conhecimento seria então um artista, de certo modo um poeta, embora não se veja e relute a se ver como tal. A ciência, por conseguinte, faz-se arte, talvez a mais necessária delas, pois, além de garantir a preservação da espécie humana, atribui um sentido humano a um mundo essencialmente inumano.
A linguagem, obviamente, também é humanizada e naturalizada por Nietzsche. Ao contrário da convicção da tradição, ela não é portadora de nenhum ser. Thomaz Brum mostra que Nietzsche a entende também como um artifício humano, porém, enfatiza, um artifício arbitrário e parcial, de procedência orgânica, física, baseado em estímulos e sons, repleto de imprecisões, falhas e limitações na apreensão da totalidade.
Sua origem é a falsificação. O conceito? Um exercício de simplificação, uma abstração mutiladora das particularidades das coisas e dos fenômenos, em última instância, uma deturpação do que é aludido e teorizado.
Contudo, explica Thomaz Brum, é por meio da ficção da verdade e da crença no poder da linguagem de nos viabilizar o acesso ao real tal como ele é que a vida gregária se constitui e, sobretudo, estabiliza-se; é por meio dessa arrogância que o homem estabelece regras, que ele atribui um valor e um sentido à sua vida e à do rebanho que compõe; enfim, que ele tenta administrar seus conflitos com o outro, dominar a natureza e se impor diante das adversidades. Para isso, ele institui “verdades” e “mentiras”, por conseguinte, com base nesses critérios, seleciona os indivíduos aptos ou não para o convívio. Quem mente contra o rebanho não tem lugar dentro dele.
A ciência, por outro lado, efetiva-se como um instrumento de potência, como uma vontade humana de subjugar. Ao contrário da concepção de ciência da tradição, contaminada até os ossos pela metafísica, a concepção nietzschiana de ciência torna a verdade demasiadamente humana e o conhecedor um sujeito ativo e criador. Em suma, mesmo o conhecimento sendo uma construção antropomórfica do mundo – uma humanização da natureza e dos fatos – e a verdade uma mentira, uma crença numa ilusão, um erro útil, uma invenção interessada, ambos são crucialmente necessários à nossa espécie.
Thomaz Brum encerra seu percurso pelo pensamento nietzschiano sobre o conhecimento e a verdade sugerindo um pragmatismo avant la lettre em Nietzsche. Já que a realidade da natureza é inacessível ao nosso intelecto, que o universo é um caos a nós estranho, já que o animal homem está confinado inelutavelmente ao seu ponto de vista e ele é a medida das coisas, valorizemos a eficácia, a utilidade, o resultado favorável à sobrevivência. Não mais transcendências, não mais indagações sobre o que são as coisas em si mesmas. Que o animal homem se faça sujeito criador de sentido e legislador; que a ciência se desvencilhe de uma vez por todas da metafísica e se norteie doravante pela vontade e por valores afirmativos da efetividade, como o da conservar e da intensificação da vida. A razão agora deve ser razão prática, conclui Thomas Brum, e o animal homem deve se impor diante da natureza como um demiurgo, ou seja, num universo sem deuses nem teleologia, ele deve perceber que está entregue a si mesmo e às suas invenções. É por tudo isso que o pequeno e pioneiro livro de Thomaz Brum precisa voltar ao mercado.
Paulo Jonas de Lima Piva – Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
Participação e representação sociopolítica / Ágora / 2012
Participação e representação sociopolítica / Ágora / 2012
Apresentação indisponível na publicação original
[DR]Dinâmica socioeconômica do sertão / Ágora / 2012
Dinâmica socioeconômica do sertão / Ágora / 2012
Apresentação indisponível na publicação original
[DR]Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life | Marcus Wohlsen
O movimento punk emergiu na década de 1970, na América do Norte e na Inglaterra, em resposta às mudanças causadas pelas guerras e pelos rearranjos geopolíticos ocorridos na época. Teve como principais adeptos jovens londrinos, de famílias tradicionalmente operárias, ou que viram-se frustrados com as políticas conduzidas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Provocou rupturas estéticas e conceituais, buscando autonomia política e social. Cunharam o termo do it yourself (DIY) para propagar a ideia do faça-vocêmesmo.
Em contraponto da estética hippie que, uma década atrás, cultuava valores espitituais, ligação com a natureza e o viver em comunidade. O punk trouxe a estética do improviso, do escuro, do sujo, como representação da sociedade que, para o movimento, desprezava as práticas e os contextos que não se adequavam ao sistema capiltalista.
Quase meio século depois, na década de 2010, o conceito de punk é revisitado. Surge o biopunk: um movimento diverso que busca possibilidades de pesquisa, produção e engajamento em processos muitas vezes restritos aos moldes da comunidade científica contemporânea, fomentados em instituições de ensino e pesquisa tradicionais ou em grandes laboratórios.
Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life (em tradução livre, BioPunk: Cientistas do faça-você-mesmo raqueando o software da vida) do jornalista científico Marcus Wohlsen, publicado em 2011, traz uma abordagem lúdica da ciência, enquanto relata experiências possíveis, aplicadas em laboratórios estabelecidos em cozinhas ou garagens. O livro reforça que biopunks não precisam de estruturas perfeitas ou honrarias acadêmicas pois estão focados a equacionarem suas pesquisas.
Wohlsen revisita a ciência como atividade secular, e afirma que o DIYbio (a ciência do faça-você-mesmo) não é uma nova ciência, mas sim uma nova forma forma de fazer ciência: na maioria das vezes autodidata, baseada em processos de tentativa-erro, encontra-se sob os pilares da ciência clássica que abrange experimentação, observação e análise de resultados.
A obra faz alusão ao movimento hacker que, em meados de 1980, concebeu descobertas e criações revolucionárias, conectou pessoas e ideias a partir de um modelo descentralizado e compartilhado, proporcionado pela internet. Assim como o movimento biohacking que compartilha informações sobre biotecnologia e desenvolve pesquisas descentralizadas em plataformas que proporcionam a inteligência distribuída, como: redes sociais, redes peer-to-peer e grid computing [1].
O livro traz exemplos de biohackers que estão usando o crowdsourcing [2] no desenvolvimento de medicamentos para a cura do câncer, e reconfigurando bactérias presentes no iogurte para gerar análises de contaminação do leite. Wohlsen enfatiza que a tecnologia de manipulação do DNA está disponível, e já é utilizada por cientistas DIY em suas garagens ou cozinhas, com baixo custo, de forma descentralizada e inovadora.
Notas
1. Modelo que permite alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas.
2. Utiliza a inteligência e os conhecimentos espalhados na internet para desenvolver novas tecnologias.
WOHLSEN, Marcus. Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life. Inglaterra: Penguin Group, 2011.Resenha de: BEGALLI, Maira. A História da Ciência revisitada: os cientistas do faça você mesmo. Revista Ágora. Vitória, n.15, p.210-212, 2012. Acessar publicação original [IF].
Filosofia e História | GVAA | 2012
A RBFH – Revista Brasileira de Filosofia e História (Pombal, 2012-) se propõe a divulgação de trabalhos nacionais e internacionais. publicando artigos, relatórios, relatos, notas, resenhas e outras informações sobre estudos desenvolvidos no campo da Filosofia e da História, que poderão servir de fontes de consulta para alunos, professores, pesquisadores, etc. A Revista pertence ao GVAA – Grupo Verde de Agroecologia e Abelha (Pombal-PB).
Periodicidade anual
Acesso livre
ISSN 2447-5076
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Lle persuader aux autres” le choc avec Hobbes et Gassendi sur le doute/Notes sur la dialogique cartésienne – SALLES (ARF)
SALLES, Jordi. “...le persuader aux autres” le choc avec Hobbes et Gassendi sur le doute/Notes sur la dialogique cartésienne. (Org) Jean-Marie Beyssade e Jean-Luc Marion. Paris: Presses Universitaires de France, 1994. P.91-109. Resenha de: ZANETTE, Edgard Vinícius Cacho. Argumentos – Revista de Filosofia, n.8, p.261-268, 2012.
A estrutura das revoluções científicas – KUHN (ARF)
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2009. Resenha deFAGHERAZZI, Onorato Jonas. Argumentos – Revista de Filosofia, n.7, p.141-146, 2012.
Inovação na Filosofia – STEIN (ARF)
STEIN, Ernildo. Inovação na Filosofia. Ijuí: Editora da Unijuí. Coleção Filosofia 38, 2011. Resenha de AQUIAR, Odílio Alves. Argumentos – Revista de Filosofia, n.7, p.131-134, 2012.
Vidas em risco: crítica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault – DUARTE (ARF)
DUARTE, André. Vidas em risco: crítica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. Resenha de: FERNANDES, Antônio Batista. Argumentos – Revista de Filosofia, n.7, p.135-140, 2012.
História Oral e poder / Ágora / 2012
História Oral e poder / Ágora / 2012
Apresentação indisponível na publicação original
[DR]
Writing and Empire in Tacitus | Dylan Sailor
Públio Cornélio Tácito é reconhecido hoje como um dos maiores historiadores do Principado. Considerando Ronald Haithwaite Martin [157] e Fábio Joly podemos afirmar que, ao pensarmos sobre vida e obra de Tácito, percebemos que sua obra histórica abarca o relato sobre as duas primeiras dinastias – dos Júlio-Claudianos e dos Flavianos – e a guerra civil de 69. Além de obras do gênero histórico, Tácito escreveu outras obras – Germânia, Agrícola e, possivelmente, Diálogo dos Oradores – e exerceu uma gama de cargos políticos dentro do Principado, entre eles estãoo de questor em Roma, no ano 81, e de procurador na Germânia, ainda no mesmo ano. Suas obras teriam sido compostas nos principados de Domiciano, Nerva e Trajano. Martin destaca ainda que os escritos de Tácito foram de grande importância e influência para os autores de século III e para os epitomadores dos séculos IV e V.
É na busca pela delimitação do estilo tacitista de escrita que Dylan Sailor compõe a obra Writing and Empire in Tacitus. Nesse livro o autor tenta mostrar como as obras e o estilo de Tácito são frutos de seu tempo e de sua carreira. Para isso , ao analisar as obras de Tácito, Sailor mostra como se desenvolvia a produção literária no Principado, não somente no tempo de Tácito, mas comparando com outros momentos da história do Principado, como quando remete a Sêneca e a outros autores citados nas próprias obras deTácito. É perceptível que, seguramente, a obra de Sailor segue a mesma linha de Sir Ronald Syme (Tacitus, 1958), em que credita o estilo de escrita de Tácito à carreira política e ao tempo em que escreveu. E que se contrapõe a O’ Gorman (Irony and Misreading in the Annals of Tacitus. Cambridge University Press, 2000) e Haynes (The history of make-believe: Tacitus on Imperial Rome. University of California Press, 2003) que creditariam o estilo taciteano a uma tradição em Roma, abalando o vínculo entre Tácito, sua obra e a realidade mais imediata. Evidentemente, para esses dois autores, Tácito estaria mais próximo de Tito Lívio, enquanto, para Syme e Sailor, um bom marco comparativo seria Salústio. Notoriamente, podemos ver que a opção tomada por Sailor parece mais adequada ao analisar a obra taciteana. Porém, ao contrário de Salústio, Tácito é envolto pelo regime imperial. Um regime que oprime por vezes a liberdade de se escrever o que pensa. A obra de Sailor aborda, de maneira muito enfática e convincente, que não é possível analisar as obras de Tácito sem conseguir enxergar o contexto de sua carreira, de sua obra literária e de sua vida social nas entre linhas de suas obras historiográficas.
O livro é dividido em seis capítulos: “Introdução”, “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado”, “Agrícola e a crise de representação”, “Os encargos de Histórias”, “Em outros lugares de Roma”, “Tácito e Cremutio” e “Conclusão: conhecendo Tácito”. O autor constrói a sua obra mostrando como podemos distinguir o autor, do político e do homem aristocrata nas obras de Tácito.
A opção de Sailor por iniciar o livro com um capítulo focando os conceitos sobre os quais ele debate ao longo de sua obra parece ser a estratégia mais adequada. Isso porque nesse capítulo o autor discute justamente o caminho pelo qual seguirão seus argumentosao longo de sua obra. O autor começa o capítulo introdutório “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado” se indagando sobre a possibilidade de Tácito ter criticado tão claramente a hipocrisia do Principado – do qual fez parte como deixa claro sua extensa carreira política. Nesse capítulo percebe-se que é indispensável, para Sailor, termos em mente que, para os romanos, era essencial a separação entre o autor e a voz narrativa da obra.
Esse primeiro capítulo nos permite entender que, para Sailor (assim como para Ronald Syme) somente foi possível a Tácito exercitar esse distanciamento entre a pessoa e a obra porque ele eraa membro de uma elite de origem provincial. Segundo Sailor, as obras no mundo romano tinham várias funções, mas a principal seria se tornar um monumentum tanto para o presente quanto para a posteridade, sendo algo perdurável, simbólico com intenção de se tornar permanente. É a obra que dava peso ao nome do autor e lhe propiciava a noção de “grande dever” cumprido. Sailor apresenta nesse capítulo a ideia, que defende em toda em sua obra, de que Tácito, por estar presente no principado, não age apenas como um simples escritor, mas também como um agente social nesse meio. Essa ideia apresentada por Sailor, de que o historiador também é um agente social é bem interessante, e também se adéqua a outras personalidades do mundo romano que também registraram seus posicionamentos sobre o poder enquanto estavam dentro das estruturas de poder.
Os demais capítulos seguem a mesma linha de raciocínio, porém, é notório que o autor não aborda as questões conceituais como abordara no primeiro, tornando assim o capítulo inicial de mais relevância à obra. No segundo capítulo, intitulado “Agrícola e a crise de representação”, o autor comenta sobre o monopólio por parte da casa imperial dos triunfos militares e sobre como era perigoso se destacar à frente do Imperador. Essa crise das representações gera um processos de exageração das vitórias ou até mesmo a fabricação dessas. A partir das narrativas de Tácito, Sailor interpreta que Agrícola teria achado uma alternativa para esse processo, reconciliando realidade e representação. De acordo com Sailor, em certa medida a obra Agrícola, de Tácito, [158] se preocupa tanto com a representação quanto com o restabelecimento da verdade, ligada à negação do triunfo à Agrícola. Desse ponto, surgem duas questões. Se é negado à elite e à não-elite as honras pelo triunfo, o que as diferenciam? Se não existe mais o mérito pela honra, o que poderia motivar os membros da sociedade romana a se esforçarem pelo Império? Um dos pontos tocados pelo autor é a questão da virtude. Nesse momento do Império, qual seria o caminho para os homens ilustres mostrarem suas virtudes? Em uma seção do capítulo, Sailor apresenta como era fácil em outros tempos apresentar as virtudes para sociedade, e como era possível produzir esta noção de representação de modo claro.
No terceiro capítulo “Os encargos de Histórias”, Sailor diferencia os objetivos e o estilo de Agrícola e das Histórias. Sailor demonstra como ambas obras trazem a tona problemas políticos, mas em Agrícola, Tácito visa a enaltecer a memória de seu sogro em contraposição ao antagonista, Domiciano. Segundo a análise de Sailor, em Histórias pode se notar um amadurecimento de Tácito ao comentar sobre a tirania que foi se formando, até culminar no desfecho de Domiciano/Agrícola. Sailor aponta como a história da escrita de Tácito se confunde com a história política de Roma por mostrar as mudanças institucionais do Império e as reviravoltas que mudaram os poderes dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, Tácito descreve a relação entre o historiador e o príncipe. Para Sailor, Tácito realizaria uma história da historiografia para explicar os motivos da escrita de seu livro.
Primeiramente, Tácito aponta a mudança de poder quanto à escrita da história que, a partir da batalha de Actium, esteve condicionada a uma pessoa: o príncipe. E que, após isso, as histórias estiveram condicionadas a analisarem as res gestae deste homem. A partir da instauração do principado há uma troca da eloquentia e libertas, comuns na escrita da história antes da batalha de Actium, pelo servilismo que passa existir em relação ao imperador. Outro ponto que o autor levanta é que as biografias realizadas até então foram presas à adulatio. Parece sensato destacar um ponto bem abordado por Sailor: nas Histórias, Tácito se livra da relação de poder entre súditos e imperador (caracterizada por uma relação de servilismo) removendo a figura de Trajano do prefácio. Assim, pode a Tácito ser configurada uma liberdade, que a meu ver é o grande diferencial de Tácito para os demais autores da era imperial.
No quarto capítulo “Em outros lugares de Roma”, o autor discute a relação que existe entre a história escrita por Tácito, o regime do Principado, a cidade de Roma, e os demais componentes do Império. Para isso, Sailor analisa o uso da semiótica presente na obra de Tácito contrapondo, princeps a súditos, escravos a senhores, romanos a estrangeiros. O texto mostra como era a relação do princeps com a monumentalidade da cidade de Roma através de passagem que mostra obras erguidas por imperadores. Sailor mostra como Tácito trabalha com a crise da semiótica durante o período de Guerra Civil e que possibilita que os romanos matem uns aos outros. Esse, a meu ver, é o capítulo que Sailor tenta tirar Tácito de seu contexto político e o leva para o contexto social do Império. Sailor mostra nesse capítulo como o historiador latino se relacionava com os costumes dos antepassados e como os comparava com os do seu presente. É certo, pela obra de Sailor, identificar a inquietação de Tácito ao exercer uma reflexão sobre seu tempo.
No quinto capítulo “Tácito e Cremutio”, Sailor aponta para a dificuldade de recepção das obras de Tácito em seu tempo. Valendo-se de uma análise da obra Anais, de Tácito, demonstra os perigos existentes em se escrever tal tipo de obra, e os recursos utilizados para demonstrar tal fato. Para Sailor, diante de tal contexto, a obra Anais serve para nos convencer de todas as dificuldades que rondavam a escrita do historiador, e o risco destas obras despertarem desconfiança ou indiferença no contexto imperial. O que Sailor aponta é que Tácito, através do exemplo de Cremutio, expõe que escrever sobre o Principado era perigoso para o historiador, e que mesmo falando de imperadores mortos (mesmo de uma linhagem já morta!) continuava sendo perigoso tanto para a obra quanto para o autor. Esse capítulo faz um contraponto com o primeiro, quando discute a questão do mártir. Sailor chega à conclusão de que a obra Anais é perigosa porque ajuda os leitores da época a entenderem a natureza dos príncipes e os meios de tirar vantagem deles.
Em “Conclusão: conhecendo Tácito”, o autor fecha com duas ideias em torno do programático e da representação, que se cruzam constantemente na historiografia taciteana. A primeira, sobre a representação do papel do historiador e da história dentro da História, e, a segunda, das relações históricas de atores para obras do passado ou o futuro da história. Tácito, de acordo com Sailor, buscaria mostrar a finalidade de sua obra apresentando a representação do Império, da cidade ou até mesmo do julgamento de Cremutio. Por outro lado, não se abstém de uma discussão programática de seu ofício inserindo o leitor no contexto político que cerca a escrita de sua obra. O que Sailor aponta com esses dois elementos é que a obra de Tácito apresenta como escrever história poderia ser um modo de vida. A obra de Tácito teria permitido a ele se mostrar em um meio público e ao mesmo tempo indicar como o historiador latino se postava contra a ordem de poder existente.
Faço ainda duas ponderações sobre a obra de Sailor. A primeira é que, mesmo abordando grandes obras como Agrícola, Histórias e Anais o autor se abstém de uma análise de outras duas obras taciteanas: Germânia e Diálogo dos Oradores. Essas duas obras poderiam fundamentar ainda mais a tese dele, já que a primeira trata justamente do período em que Tácito esteve inserido como parte operante da política romana e que a segunda trata de uma reflexão sobre a oratória em seu tempo (ainda que sua autoria siga em debate). Nesse mesmo ponto, é visível que o autor se concentra por demais na análise de Vida de Agrícola e História, o que empobreceu a análise sobre Anais, obra com a mesma importância que as duas anteriores. A segunda ponderação, é que, em muitos momentos de sua obra, Sailor não torna possível reconhecer que um conceito usado na análise de uma obra se estende às demais. Por exemplo, se a mesma noção de virtude em Agrícola está presente em Anais. Ele consegue deixari bem clara a ideia de que todas as obras de Tácito são marcadas pela ambiguidade (porque o Principado é ambíguo), masdeixa obscuro se as demais ideias seriam percepctíveis em todas obras. Apesar disso, não vejodúvidas sobre o grande valor que a obra de Sailor traz aos pesquisadores de história antiga e de historiografia porcontribuir gerando uma bem fundada interpretação da escrita de Tácito
Notas
157. CF. MARTIN, R.H. Tacitus. In: Hornblower, Simon and Spawforth, Antony (Ed.). The Oxford classical dictionary. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1469-1471.
158. Agrícola – obra de cunho biográfico que Tácito teria composto em louvor ao sogro ao qual o Imperador Domiciano teria o negado o triunfo pelas campanhas na Bretanha.
Willian Mancini – Mestrando pela Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
SAILOR, Dylan. Writing and Empire in Tacitus. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Resenha de: MANCINI, Willian. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.129-132, jul./dez., 2011.
Indústria Cultural: uma introdução – DUARTE (AF)
DUARTE, Rodrigo. Indústria Cultural: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. (Coleção FGV de Bolso, Série Filosofia). Resenha de: MARINHO, Lucas Alves. Artefilosofia, Ouro Preto, n.10, abr., 2011.
Conformado, em seis curtos capítulos, aos propósitos da coleção que integra, destinada a “interessados em filosofia de uma forma geral [que] a partir de textos claros poderão ter acesso às grandes questões do pensamento filosófico”, o livro Indústria Cultural: uma introdução é exemplo de didatismo que segue bem de perto, sobretudo em seus quatro capítulos centrais, a exitosa sequência expositiva de Teoria Crítica da Indústria Cultural 1. O surgimento da Teoria Crítica da indústria cultural, segundo capítulo do livro, relata as mais importantes ocorrências relacionadas ao Instituto para a Pesquisa Social: desde seu surgimento em 1924 na Alemanha, às expensas de Felix Weil, como alternativa entre as diretrizes ideológicas da social democracia e do comunismo ortodoxo: a invasão do instituto em 1933, então sob a direção de Horkheimer, o exílio de seus integrantes e o prosseguimento das atividades junto à Columbia University, até a chegada de Adorno aos Estados Unidos em 1938. Naquele país, Adorno, juntamente com Horkheimer, reuniu as condições teóricas e vivenciais – o conhecimento dos mecanismos de produção e difusão cultural já industrialmente instalados, as reflexões sobre a ciência e personalidade burguesas, o acirramento do antissemitismo e o início da Segunda Guerra, bem como os aforismos Sobre o conceito da história, legados por Walter Benjamin – para elaboração da Dialética do Esclarecimento. Após essa aproximação histórica, segue-se uma breve explanação temática dos seguintes capítulos da obra sobre a dialética: “Conceito de Esclarecimento”, “Ulisses ou Mito e Esclarecimento”, “Juliette ou Esclarecimento e Moral”. Explanação que conduzirá o leitor ao, digamos, vestíbulo do cerne do livro: a terceira seção do segundo capítulo, A crítica à indústria cultural no contexto da Dialética do Esclareci- mento, onde estão inseridos destacadamente os excursos constituintes da Dialética do Esclarecimento mais afeitos ao propósito de Indústria Cultural: uma introdução, aqueles sobre a “Indústria Cultural”, modelo liberal, e sobre o “Antissemitismo”, modelo autoritário das sociedades tardocapitalistas ; ambos vinculados, por uma articulação magistral, à semicultura, condição subjetiva da perpetuação de tais modelos. Vamos ao cerne do livro: Trata-se do capítulo terceiro, Os operadores da indústria cultural segundo a crítica de Horkheimer e Adorno, onde são desvelados os “procedimentos típicos da indústria cultural […] os quais se constituem também como critérios de identificação não apenas de suas práticas, mas, eventualmente, até mesmo dos seus produtos mais típicos” –; eis exatamente o que se quer dizer com operadores. Estes perfazem cinco referências básicas que explicitam, com bastante clareza e objetividade, as estratégias repressoras da indústria cultural: a manipulação retroativa – corresponder minimamente às expectativas dos consumidores (expectativas previamente enxovalhadas pela própria indústria cultural) enquanto impõe padrões de consumo, de comportamento moral e político comprometidos com a perpetuação do status quo ; a usurpação do esquematismo – antecipação estandardizada e reles, até a quase absoluta previsibilidade, das possibilidades interpretativas (individuadoras) de seus produtos; a domesticação do estilo – correlato produtivo daquela usurpação do esquematismo receptivo, que reproduz a desproporção real existente entre todo (mundo administrado) e parte (indivíduo) no interior dos produtos da indústria cultural pela sobreposição artificial, estereotipada, por isso violentamente coercitiva, de clichês in- vestidos de universalidade; a despotencialização do trágico – correlato antropológico da relação coercitiva entre todo e parte nos produtos da indústria cultural que interdita ao sujeito (parte) qualquer possibilidade de individuação, de resistência afirmativa, experiência e expressão do sofrimento (encarnação da negatividade) para além do mundo ad- ministrado (todo); tudo isso posto sob um disfarce – o fetichismo das mercadorias culturais – que sobrevaloriza seus produtos, oferecendo-os como “nobres” mercadorias pretensamente distanciadas do mercado dos gêneros utilizáveis, para escamotear exatamente suas danosas implicações sociais.
Depois da sucinta e segura apresentação do caráter regressivo dos produtos da indústria cultural a partir desses cinco tópicos básicos, o autor tematiza, no capítulo quarto, as Retomadas do tema da indústria cultural na obra de Adorno. Ele destaca duas obras do último período do pensamento do filósofo, Teoria Estética e Sem modelo: pequena estética, em busca de adições críticas relevantes ao tema da indústria cultural posteriores à publicação de Dialética do Esclarecimento, quais sejam: a reflexão adorniana sobre a histórica apropriação mercantilizada e desvigorada de conceitos da arte autônoma pela indústria cultural, que o autor ilustrará referindo-se aos conceitos de estilo e catarse ; e aquelas reflexões que atualizam, no livro Sem modelo: pequena estética, “as tendências predominantes na indústria cultural” pós- Dialética do Esclarecimento. Ele aponta, por um lado, no surgimento e consolidação da televisão como medium maximamente invasivo, a hipertrofia da estratégia cinematográfica de reduplicação e naturalização do mundo para reprodução simples do espírito; por outro lado, no desenvolvi- mento histórico de formas alternativas de cinema, a possibilidade de um cinema libertário que tematizasse diretamente, ou seja, que recuperasse objetivamente o modo imagético (assim como a pintura para o modo visível e a música para o modo auditivo) da experiência.
O quinto capítulo propõe aprofundar a atualização da interpretação crítica dos fenômenos da indústria cultural a partir das “ferramentas conceituais legadas por Horkheimer e Adorno”. Ocasião para uma frutuosa apresentação das posições de Ulrich Beck e Scott Lash, às quais o autor recorre para bem delimitar (histórica e geopoliticamente) seu objeto, a globalização – período de virulento triunfo de empreendedores transnacionais (sobremaneira intensificado nas duas últimas décadas do século XX, quando os rendimentos de capital cresceram 59%, contra apenas 2% dos rendimentos oriundos do trabalho, e a produção mundial saltara de 4 para 23 trilhões de dólares) em detrimento do operariado organizado nos moldes da modernidade clássica, os “perdedores” (nesse mesmo período o número de pobres aumentara em 20%) inexoravelmente suplantados por uma classe média qualificada, informatizada, “vencedora da reflexividade” ao lado das quatro centenas de bilionários detentores de mais da metade de toda a riqueza produzida pela humanidade. O autor não se furta a lhes impingir (às posições de Beck e Lash) sólidas emendas críticas quanto às supostas implicações culturais da globalização – no fundo mais uma versão daquele ingênuo, gracioso (porque apressado) borboletear pós-moderno onde tudo são dinâmicos fragmentos dispostos a vigorosas alternativas simbióticas que confirmariam a “liberdade das pessoas no tocante à ‘escolha’ de opções que a indústria cultural apresenta”. Ridículo como dizer: “Nem mesmo sob tortura me farão preferir Bob Dylan a Noel Rosa. Portanto, sou livre.” Rodrigo Duarte insiste, contra esse otimismo fácil, a-dialético, na vocação marcadamente totalitária da indústria cultural globalizada, cuja matriz tecnológica, a digitalização, mais que democratizar fluxos imagéticos, teria permitido intensificar, “capilarizando” na mesma medida da internacionalização e concentração histórica do capital, a coercitividade e analgesia das mercadorias culturais.
No que apresentamos até aqui, ou seja, do segundo ao quinto capítulo, tem-se o esforço fundamental do autor: a apresentação do “modo mais simples e direto […] do quadro conceitual apropriado para se compreender os fenômenos audiovisuais reunidos sob a rubrica de ‘cultura de massas’”.
Mencionemos, por fim, os dois capítulos de cunho prevalentemente histórico do livro. As origens históricas da cultura de massas, capítulo primeiro, relato utilíssimo da constituição e consolidação histórica da “cultura de massas” segundo dois movimentos complementares: a disponibilização (e massificação) do público acompanhando a progressiva distinção entre tempo de trabalho e tempo de lazer; e a progressiva concentração do capital privado no ramo do entretenimento, assenhorando-se desse tempo livre – dos Music Hall a Hollywood. E o capítulo sexto que narra o desenrolar – usual- mente servil a projetos políticos autoritários – da Indústria Cultural no Brasil, desde as primeiras transmissões radiofônicas e confecções cinematográficas “artesanais” da segunda década do século XX; passando pelo estabelecimento industrial desses media durante o Estado Novo; até sua conformação definitiva, com o advento da televisão e sagração sistemática da TV Globo, não por acaso, a partir de 1964. O autor ensaia, em seguida, nas mais bem-sucedidas fórmulas desse mais bem-sucedido conglomerado da indústria cultural brasileira (a telenovela e o telejornal) um arguto reconhecimento daqueles referi- dos “operadores” (a manipulação retroativa, a usurpação do esquematismo, a domesticação do estilo, a despotencialização do trágico, o fetichismo das mercadorias culturais) acrescidos de um mecanismo original: certa “vocação filantrópica” – tutela dúbia atinente à parcela mais desassistida da população pela promoção regular de campanhas para arrecadação de fundos e prestação de serviços básicos em lugar do Estado – típico do modelo da indústria cultural brasileira. Indústria Cultural: uma introdução assim cumpre (e ultrapassa) seus desígnios didáticos.
Nota
1 DUARTE, Rodrigo. Teoria Crítica da Indústria Cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003(coleção Humanitas).
Lucas Alves Marinho
Trilhas da História | UFMS | 2011
Trilhas da História (Três Lagoas, 2011-) foi pensada e elaborada com o objetivo de promover o debate acadêmico, tendo o propósito de enriquecer as pesquisas em andamento, tal como agregar produções de outros lugares, instituições e sujeitos.
Com esse objetivo, esperamos alcançar, além de professores da universidade e da rede pública e privada de ensino, alunos graduandos de nosso curso [de História – Três Lagoas/MS] e de outras universidades, tendo por intuito incentivar novas pesquisas e a busca por conhecimentos produzidos pela História e áreas afins.
Se a proposta é interdisciplinar, disciplinas como a Filosofia, Geografia, Ciências Sociais, Antropologia, Arqueologia, entre outras, encontrarão espaço para veicular as suas produções, desde que concernentes aos temas sugeridos pela Revista. A Revista se constitui de Dossiês; Artigos livres; Ensaios de Graduação; Resenhas e Fontes.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2238 1651
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Os mestres da humanidade – JASPERS
JASPERS, Karl. Os mestres da humanidade. Coimbra: Almedina, 2003. 165p. Resenha de: CARVALHO, José Mauricio de. Argumentos – Revista de Filosofia, n.6, p.161-164, 2011.
Acesso permitido apenas pela publicação original
Advinhas do tempo: êxtase e revolução – MATOS (ARF)
MATOS, Olegária Chain Féres. Advinhas do tempo: êxtase e revolução. São Paulo: Hucitec, 2006. 128p. Resenha de: MAGALHÃES, Rogério Silva de. Argumentos – Revista de Filosofia, n.6, p.165-167, 2011.
Acesso permitido apenas pela publicação original
A questão do sentido em psicoterapia – FRANKL (ARF)
FRANKL, Victor. A questão do sentido em psicoterapia. Campinas: Papirus, 1990. Resenha de: CARVALHO, José Maurício de. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.5, 2011.
O livro de Victor Frankl foi publicado há muitos anos, mas conserva atualidade pelo diálogo que obriga entre a Filosofia e a Psicologia. Ele possui introdução, três conferências e um esboço autobiográfico. Nestes textos enfrenta uma questão fundamental que ocupou parte significativa dos filósofos no século XX: possui a vida humana um sentido? Esta questão se mistura a outras de caráter existencial que ajudam a clareá-la.
Eis algumas: será que a finitude da existência aniquila seu sentido? O sofrimento físico e mental contribui para a elaboração do sen tido ou o destrói? Como pensar o sentido diante daquilo que nos acontece? Exemplo do que nos ocorre é uma doença incurável ou ser levado para o campo de extermínio.
É para enfrentar estas questões que Frankl escreveu este livro. A pergunta é essencial- mente filosófica e ela será tratada assim. No entanto, o autor estende as conseqüências da meditação para o campo da Psicologia ao colocar a questão do sentido como eixo orientador de uma abordagem psicológica que ele desenvolve. Entender o modo como filosoficamente Frankl pensa o problema do sentido e depois perceber os resultados que daí deriva para a Psicologia é o que confere nexo ao livro.
Victor Frankl começa sua obra retomando a questão que Albert Camus consagrou como a única digna de ser efetivamente meditada: como é o sentido da vida humana? A vida vale a pena ou o suicídio é o que se nos oferece como alternativa mais plausível? O filósofo francês trata a questão do sentido nos romances A Peste e O Estrangeiro, bem como nas peças de teatro Calígula e Os Justos . Ao optar pelo sentido construído pelo existente coloca em evidência o problema da liberdade humana, pois nela reside o sentido e não numa construção lingüística rebuscada ou erudita. Este sentido da vida como expressão de liberdade é assunto fundamental dos existencialistas observa outro filósofo francês Roger Garaudy. A vida não tem um sentido prévio ou pronto, ele diz, “como se tem uma casa ou uma conta no banco. Seria (se assim fosse) um cenário já escrito, fora de nós e sem nós; teríamos apenas que representar aparentando crer em nossa liberdade.” ( Palavra de homem , p. 52).
A questão do sentido para Frankl vai além da meditação filosófica porque o problema expresso pelo sentimento de vazio de sentido obrigou as pessoas hoje em dia a procurar o psicólogo e o psiquiatra. O vazio existencial e a depressão são as doenças do século XXI e isto aumenta o interesse pelo livro de Frankl. O homem não sabe o que quer e esta ignorância não apenas serve para ele meditar melhor sobre a vida, “a sensação de falta de sentido é patogênica, isto é, leva a doenças, a neuroses específicas.” (p. 20). Este A rgumentos , Ano 3, N°. 5 – 2011 181 sentimento se manifesta de muitos modos como: na chamada crise de meia idade ou no medo do domingo tão comum em nosso tempo. Em ambos os fenômenos o que verdadeiramente aparece é a falta de sentido.
Esta falta de sentido coloca em evidência o problema de ir além de si, trata-se da auto – transcendência sem a qual a vida parece ficar sem sentido. Afirma o autor: O homem não é apenas um ser que reage e abreage, mas também que se autotranscende. E a existência humana aponta para além de si mesma, mostra sempre algo que não é de novo ela mesma – a algo ou alguém, a um sentido, ou a um ser companheiro. (p. 29).
O que há de singular nesta posição de Frankl é que ele coloca a questão do sentido como sendo de interesse primário do homem e não como meditação que lhe confere algo a mais, algo que lhe adensa o sentido, mas sem o qual é possível viver. O sentido para Frankl é questão fundamental. Ao referir- se ao comportamento dos prisioneiros nos campos de concentração fica claro o que ele quer dizer: “não foi menos importante a lição que eu pude levar para casa de Auschwitz e Dachau: que os mais capazes, inclusive de sobreviver a tais situações-limite, eram os direcionados para o futuro, para algo ou alguém que os esperava.” (p. 34). Esta questão filosófica fundamental foi deixada de lado pelos psicólogos, comenta o autor. Os psicanalistas a consideram parte dos processos psicodinâmicos e os comportamentalistas um tipo de aprendizagem que precisa ser removido para que o sujeito fique “espontaneamente curado.” (p. 37). Ora o problema não pode ser resolvido deste modo, a falta de sentido é um tipo de sofrimento, mas não uma doença no sentido médico ou uma ignorância a ser suprimida. Também não se confunde falta de sentido com desespero, pois este último só ocorre quando a pessoa não enxerga sentido para o sofrimento. E aqui surgem questões fundamentais: A vida tem sentido e se tem podemos nós comunicá-lo? Frankl considera que a vida tem sentido e que podemos percebê-lo. Com isto não invalida o trabalho dos psicanalistas, pois muita coisa tida como sentido deve ser desmascarada, mas tentar desmascarar o problema do sentido produz uma deshumanização, porque estamos diante de “um fenômeno que não se deixa desmascarar porque é autêntico” (p.41). A conclusão de Frankl é que “o homem é um ser à procura de sentido” (p. 45). E considera que esta questão fundamental da filosofia existencial seja o centro de sua uma orientação psicológica. A raiz desta linha psicológica é a intencionalidade no sentido de Bren- tano, Husserl e Scheler, que produz a relação com os sujeitos intencionais, ou seja, entre os atos intencionais que deles provém e os objetos intencionais. Tão logo deixemos de contemplar o ser sujeito do sujeito, nós perdemos de vista que ele tem objetos próprios. (p. 35).
Trata-se, portanto, de uma psicologia fenomenológica como as de Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, o representante da Es- cola gestáltica de Berlim Wolfgang Köhler, além do que escreveu o existencialista e personalista Gabriel Marcel, filósofos e psi- cólogos cujos nomes Frankl cita textualmente em sua autobiografia, o último dos textos do livro (p. 112).
As questões associadas ao sentido fo – ram desenvolvidas em três conferências que Frankl pronunciou sobre o sentido e valor da vida na Universidade para o povo em Viena- Ottaring. Ele entende que o pensamento europeu reconheceu a dignidade humana com a formulação ética de Immanuel Kant, mas depois vieram as guerras e em especial a Segunda Guerra Mundial onde o homem foi colocado a serviço da morte. Nos campos de refugiados os presos não valiam o prato de sopa e a vida humana foi exterminada em massa, a sociedade européia desonerou- se da dignidade. Esta atitude não foi uma decisão coletiva, o reconhecimento do valor da vida é singular. Isto se demonstra pela atitude do chefe nazista que gastava o próprio dinheiro para comprar remédio para os doentes do campo. No mesmo Campo havia prisioneiros mais antigos que maltratavam os companheiros recém-chegados. A direção fundamental assumida por Frankl remonta a Kant, viver é um dever. Há alegria na vida, mas ela não é um fim, apenas o resultado.
José Mauricio de Carvalho – Doutor em Filosofia e Professor da UFSJ-MG.
A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno – SILVA (AF)
SELIGMANN-SILVA, Márcio. A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. Resenha de: KANGUSSU, Imaculada. Artefilosofia, Ouro Preto, n.9, out., 2010.
A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno, livro recém-lançado de Márcio Seligmann-Silva, chama imediatamente a atenção pela densidade do texto. O autor da obra apresentada como uma “publicação introdutória” (p.83), e com o desejo de servir “de incentivo para os leitores irem aos originais” (p.12), consegue condensar em poucas páginas, e em linguagem acessível a não especialistas, aspectos importantes do legado intelectual deixado pelos dois amigos, luminares da forma de pensamento conhecida como Teoria Crítica, a partir do conceito de atualidade. Através da apresentação de reflexões dos próprios filósofos em torno do necessário movimento de atualização, Benjamin e Adorno revelam-se, no correr do texto, como pensadores de problemas ainda atuais e como autores de reflexões que ainda podem auxiliar na percepção das realidades atuais.
Depois de uma breve introdução, os protagonistas são apresentados separadamente e em ordem cronológica: a primeira parte é dedicada a Benjamin, a segunda a Adorno. O modo de o autor enfocá-los também é distinto, mais amplo em Benjamin, mais pontual para Adorno. Na primeira parte, denominada simplesmente “Walter Benjamin”, mesmo confessadamente consciente do perigo existente na tentação de explicar as obras a partir da biografia do autor e com isso “cair no biografismo” (p.15), Seligmann-Silva assume o risco de, no seu texto, levar em frente, entrelaçados, o pensamento filosófico e a “memória de sua (dele, Benjamin, ik) trágica vida” (p.16). Ao adotar esse procedimento essencialmente benjaminiano, i.e, o de considerar a obra pari passu com a materialidade do contexto histórico de sua produção, o livro já diz a que veio, na medida em que pinça e dá a conhecer, condensados, detalhes da vida do protagonista potencialmente capazes de lançar novos focos de luz sobre seu pensamento. E se aceitarmos a ideia benjaminiana segundo a qual a repetição é a alma do jogar – ou da brincadeira, em alemão spielen nomeia os dois – e, mais ainda, de que “toda experiência mais profunda quer ser insaciavelmente, até o fim de todas as coisas, repetição e volta, restauração de uma protossituação da qual ela partiu” (BENJAMIN, Gesammelte Schriften III, p.131, citado na p.19), o autor realiza essa experiência anímica como convite ao jogo de levá-la adiante por meio da repetição. Como uma mônada, com mais ou menos ênfase, o texto reflete toda a vida do pensador alemão, do nascimento ao suicídio, e a incidência desta sobre a obra, e vice-versa. A escolha da amplitude leva à apresentação por meio de índices da enorme exuberância dos conceitos benjaminianos e movimenta uma massa de pensamentos sucintamente 214 Imaculada Kangussu apresentados. Corre com isso o perigo de que a intensidade das dobras e manobras presentes na formulação destes passe desapercebida aos neófitos diante da síntese tão bem construída a partir da relação vida e obra. Risco que, da minha perspectiva, vale a pena ser corrido na medida em que é compensado pelo volume de informação fornecido. Por outro lado, em quem encontra-se mais familiarizado/a com o filósofo, o livro provoca um turbilhão mental ao promover, com sua leitura, a rememoração dos percursos realizados até que sejam encontradas as formulações apresentadas. Com isso, o texto ganha uma força extra ao mover leitores e leitoras rumo à rememoração do que não está dito, e, vale lembrar, todo rememorar configura uma forma de atualização. Seja como apresentação, seja provocando rememorações, o livro atualiza a dimensão metafísica da linguagem salientada pelo assim chamado “jovem Benjamin”; a caracterização da crítica como médium da e de reflexão (Reflexionsmedium), de acordo com a tese fundamental de O conceito de crítica da arte no romantismo alemão (Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik); as articulações de uma teoria política, as ideias messiânicas, a percepção corpórea dos fenômenos e sobretudo o desdobramento da filosofia da linguagem, presentes nos textos dos anos 1920; a capacidade de pensar imageticamente revelada em Rua de mão única (Ein- bahnstrasse) e nos Diários de Moscou ; o entrelaçamento entre vida e obra sob a égide da filosofia, na Crônica Berlinense (Berliner Chronik) e em sua versão posterior, Infância berlinense por volta de 1900 (Berliner Kindheit um neunzehnhundert). Deslocando um pouco o termo, também é salientada a atualidade de certas passagens relativas às obras de arte, como acontece por exemplo na defesa da pertinência de uma teoria estética composta a partir “do índice, dos traços, rastros e marcas, em oposição à arte da narrativa totalizante, épica, metafórica e tradicional” (p. 41), percebida por Seligmann-Silva na descrição feita por Benjamin, em “O autor como produtor”, dos objetos dadá, capazes de produzir a percepção de que, devidamente emoldurado, “o menor fragmento autêntico da vida diária diz mais que a pintura”. Dialeticamente, revela-se também bastante atual a denúncia da transformação da “própria miséria em objeto de fruição”, encontrada no mesmo texto.
Em nossa época, povoada por excessos de dados e ausências de nexos, soa extremamente up to date o termo fantasmagoria, usado para nomear certas indistinções (frutos da impossibilidade de distinção) entre o real e o universo da fantasia. Seligmann-Silva observa que foi nos brinquedos e nas brincadeiras que Benjamin aprendeu pela primeira vez seu significado: “os brinquedos e as brincadeiras implicavam para ele (Benjamin, ik) uma libertação” (p. 78). Antes de passar para a segunda parte do livro, onde o autor discorre sobre Theodor W. Adorno, julgo – tendo em vista a analogia temática – valer a menção a um brevíssimo texto de Norbert Bolz, “Estéticas da Media”, composto em torno da questão relativa ao “custo de se manter Benjamin atual”. Bolz atualiza o pensamento deste ao salientar a verdade ainda presente na necessidade, reclamada por Benjamin, de se reformular, na teoria estética contemporânea, a distinção entre individual e coletivo, a partir do momento em que, na prática, organizar a percepção coletiva constitui a principal tarefa do cinema. O preço atribuído por Bolz à atualização de Benjamin consiste, portanto, no necessário abandono das categorias estéticas focadas nas relações entre a obra e o indivíduo, cujo conceito precisa acompanhar o deslizamento factual deste, rumo à sua dissolução nas amorfas massas urbanas. Parece não ter sido ainda levado às últimas consequências o fragmento (K 3, 3) das Passagens, onde se apresenta o filme como “desdobramento (resultado?) de todas as formas e percepção, tempo e ritmo que se encontram pré-formados nas máquinas atuais, de tal maneira que todos os problemas da arte atual só podem encontrar suas formulações definitivas na correlação com o cinema” (Der Film: Auswicklung (Auswirkung?) aller Anschauungsformen, Tempi und Rhyth- men, die in den heutigen Maschinen präformiert liegen, dergestalt dass alle Pro- bleme der heutigen Kunst ihre endgültige Formulierung nur im Zusammenhange des Films finden). Quando se vai, para além do conceito de obra de arte, em direção à dimensão estética em seu sentido original mais abrangente, pode-se perceber que a necessidade de atualização do pensamento filosófico relativo às transformações provocadas nos modos de percepção sensível pelo incessante processo de maquinização – incluindo nesse processo o próprio cinema – permanece viva. E lembro aqui o duplo significado de “atual” (duplicidade existente também no termo alemão Aktuell) que pode dizer respeito tanto a algo significativo no momento presente, quanto àquilo que é a realização de uma potência, do que se encontrava anteriormente em estado virtual.
Conforme já foi registrado, a segunda parte do livro, relativa à atualidade de Adorno, tem um foco mais fechado e a chave de leitura da filosofia adorniana é encontrada na teoria estética. Seligmann-Silva inicia seus comentários sublinhando o caráter assistemático do filósofo e o engano de se considerar sua recusa ao sistema como abandono dos conceitos. Na realidade, Adorno elege a forma ensaística como modo privilegiado para expressar campos de força onde as “partículas (efêmeras) do real” são organizadas a partir de conceitos dinâmicos, tendo em vista que, “em lugar da falsa definição, do artigo de dicionário, o pensamento que se deixa embalar pelo ritmo do ensaio permanece aberto, tenso” (p.85). Parece-me bem aguda, a esse respeito, a observação formulada por Alfred Whitehead, em Process and Reality, segundo a qual o conceito de “mundo real” é similar a “ontem” e “amanhã”: ele muda de sentido de acordo com o ponto de vista. Esse preâmbulo torna-se essencial por- que, conforme a citação de A Dialética do Esclarecimento, recolhida por Seligmann-Silva, “a história real (die reale Geschichte) se teceu a partir de um sofrimento real, que de modo algum diminui proporcionalmente ao crescimento dos meios para sua eliminação, a concretização desta perspectiva depende do conceito” (p.86). Em outras palavras, para Adorno, “crítica da sociedade é crítica do conhecimento, e vice-versa” (ibidem). Na segunda parte do livro, também se apresentam as relações entre vida e obra, através do entrelaçamento das duas esferas e ao mesmo tempo mantendo a distinção entre ambas, procedimento consoante ao proposto por Adorno para abordar a relação entre sujeito e objeto. Grande destaque é dado ao ponto de vista adorniano da “arte como expressão do sofrimento e memória da barbárie”, nome de uma das seções da obra. A arte aparece como potência capaz de fazer vir à tona o reprimido, o recalcado, e, a partir de certo momento, ao colocar em cena vidas danificadas pelos horrores da história, de constituir uma forma de “memória do sofrimento acumulado”. Segundo o filósofo citado, “os autênticos artistas do presente são aqueles em cujas obras ressoa o terror mais radi- cal” (“ Die authentischen Künstler der Gegenwart sind die, in deren Werken das Grauen nachzittert ”, p.97). Tal perspectiva implica ir além dos limites do trágico e do sublime assinalados por Schiller, dentro dos quais a dor e o sofrimento extremos não tinham lugar. Vemos no texto de Seligmann- Silva (p.104), como Adorno ultrapassa essa limitação e, no ensaio – de 1967 – “A arte é alegre?” (“ Ist die Kunst heiter? ”), critica a famosa frase de Schiller, escrita no fi nal da introdução de Wallenstein, “A vida é séria, a arte é alegre” (“ Ernst ist das Leben, heiter ist das Kunst ”), com o irônico comentário, segundo o qual “o burguês deseja que a arte seja voluptuosa e a vida ascética, o contrário seria melhor” (“ Der Bürger wünscht die Kunst üppig und das Leben asketisch; umgekehrt wäre es besser ”).
Na teoria estética adorniana pós-Auschwitz, a verdadeira arte é a expressão do indizível, aquela que tira da pressão o que em outra linguagem não encontraria som nem figura. Conforme recortado por Seligmann-Silva: “Não há quase outro lugar [senão na arte] em que o sofrimento encontre a sua própria voz” (“ kaum woanders [als in der Kunst] findet das Leiden noch seine eigene Stimme ”, p.107). O problema reside no fato de, por um lado, a obra testemunhar o irreconciliável, e, por outro, de tender à reconciliação, devido à linguagem própria da forma, que provoca prazer. Dor e sonho se acasalam tendo como pano de fundo uma espécie de anseio quimérico. Mesmo o radicalismo formal de Schonberg na canção “Sobrevivente de Varsóvia” (Überlebende von Warschau) também pode consolar. Se o movimento pode ser considerado traição do conteúdo através da forma, a aporia nesse caso não é o fim do caminho, ao contrário, pode ajudar a ir adiante porque expressa também o que ainda não encontrou reconciliação: a barbárie testemunhada e a outra esfera criada pelas obras, a qual, mesmo quando se trata de obras formalmente radicais, aponta para a reconciliação, em uma ambiguidade bastante condizente com a já famosa metáfora utilizada por Adorno da mensagem na garrafa. Depois de assinalar tais questões, entre outras, sumamente atuais, o livro sobre A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno termina lembrando que “o importante é percebermos o pólen ativo do pensa- mento de ambos. Eles possuem potencial para fertilizar muito em nosso presente” (p.126). Palavras que faço minhas.
Imaculada Kangussu – UFOP.
Deleuze, a arte e a filosofia – MACHADO (AF)
MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. Resenha de: PACHECO, Fernando Tôrres. Artefilosofia, Ouro Preto, n.8, abr., 2010.
Lançado no segundo semestre de 2009, Deleuze, a arte e a filosofia consiste em uma revisão ampliada do livro Deleuze e a filosofia (Graal, 1990). No mais recente, Roberto Machado procura explicitar os ca- minhos percorridos pelo filósofo Gilles Deleuze no seu esforço para afirmar o pensamento da diferença contra o pensamento representativo. Para tanto, fez-se necessário demonstrar como essa afirmação perpassa por agenciamentos com interlocutores tanto da própria filosofia quanto de outras maneiras de pensar, como as artes. Deleuze, ao travar acordos e distanciamentos com esses interlocutores, revolve seus conceitos e/ou sensações buscando elevar as suas relações em prol do exercício construtivista característico de seu pensamento. A via proposta pelo autor centra-se principalmente sobre as leituras das obras da década de 60 – em especial Diferença e Repetição – partindo para Foucault e terminando sua análise nos livros e escritos sobre literatura, pintura e cinema. Roberto Machado investiga como o tema da diferença é suscitado tomando como ponto de partida o texto “Platão e o simulacro”, em que Deleuze discorre sobre o método de divisão platônico. Tal texto pretende demonstrar como Platão privilegia a representação em detrimento da diferença ao adotar um método de divisão na sua teoria das idéias, em que há uma eliminação sistemática das cópias que não possuem os seus respectivos correspondentes no mundo ide- al. Dessa maneira, Platão elimina da perspectiva filosófica o simulacro, prevalecendo somente as cópias que mantêm correlação intrínseca com a idéia originária. Contra essa perspectiva excludente das diferenças e contra o ponto de vista ascensional platônico, Deleuze alia- se à perspectiva nietzscheana, esta que se posiciona de maneira cética ao pensamento identitário e universalista. Deleuze revisita o filósofo alemão e adota as noções de eterno retorno e vontade de potência como orientações do pensamento que, em relação, são capazes de afirmar a diferença sem subordiná-la à identidade. O ponto determinante do livro está na leitura deleuziana de Kant, em que podemos perceber que a relação do filósofo francês com o criador da filosofia crítica não se configura por tanta animosidade como é comum ser dito. Dentre as inovações conceituais kantianas, Deleuze aponta como fator positivo a inserção da forma do tempo no cogito, gerando uma cisão no sujeito, o je transcendental e o moi empírico. Deleuze é instigado pela caracterização temporal atribuída por Kant em sua filosofia, a qual possibilita a forma diferencial cingida do sujeito, ainda que este mesmo sujeito seja reconciliado posteriormente pela identidade sintética e pela moralidade da razão prática. Em contrapartida, o filósofo francês vai questionar o acordo das faculdades kantianas inserindo a idéia de “gênese” no senso comum. Para Deleuze, Kant não abre mão da noção do comum acordo entre as faculdades, que configuraria um dos postulados da filosofia da representação. Ao contrário, Kant multiplicaria tal noção. Dessa maneira, o filósofo francês demonstrará que existe um “acordo discordante” entre as faculdades encontradas na Crítica do Juízo, em que “no caso do sublime, o desacordo entre imaginação e a razão é o princípio genético do acordo das faculdades”. Ao contrário da idéia da filosofia da representação em que as faculdades convergem para a recognição do objeto, Deleuze propõe três faculdades (sensibilidade, memória e pensamento) autônomas: a cada uma delas um objeto próprio é apresentado, “só apreende o que a concerne exclusivamente, diferencialmente”.
A intensidade é aquilo que força a ser sentido, é a razão suficiente do fenômeno, dá o limite daquilo que é sentido. O objeto da memória (memória transcendental) é a forma pura do tempo, a coisa esquecida, o ser em si do passado que força a lembrança. Já o pensamento opera sobre um impensável que força o pensamento a pensar. Assim, Deleuze aponta que a relação entre as faculdades é do tipo de uma violência discordante que força o pensamento e que as idéias são uma multiplicidade. O capítulo sobre Foucault é apresentado pelo autor como referência a uma continuidade temática de Deleuze em relação aos escritos da década de 60, o que o faz afirmar não haver uma ruptura a partir do “Anti-Édipo”. Nesse capítulo, ao demonstrar o procedi- mento deleuziano de repetir o pensamento de outrem com o intuito de criar torções, o autor adota também a perspectiva de colagem, contrapondo a própria leitura à de Deleuze e demonstrando o funcionamento de conceitos como poder e saber segundo a perspectiva de cada um. Na parte do livro reservada ao pensamento deleuziano em conexão com interlocutores não-filosóficos, Roberto Machado demonstrará como o filósofo francês capta potências de conceitos oriundos de sensações literárias, pictóricas e cinematográficas. Com Proust, Deleuze irá demonstrar o papel da boa interpretação como forma de alcançar a essência: perfeita unidade entre signo e sentido. Continuando entre os literatos, o filósofo demonstrará a importância da linguagem e do estilo e apontará para o papel da sintaxe como constructo da diferença. Para Deleuze, a sintaxe estabelece o que ele chamará de uma “língua estrangeira” dentro da própria língua, o desvario da língua materna. Alguns autores como Melville conseguem, através do uso sintático da linguagem, proporcionar uma desterritorialização da língua, produzindo um devir-outro da língua que fuja dos padrões gramaticais, do establishment canonizado. Esse procedimento de criação de uma nova linguagem procura estabelecer uma conexão com o de-fora “(…) que consiste em visões e audições capazes de revelar o que há de vida nas coisas ao capturar as forças e a intensidade”. Com Francis Bacon, Deleuze demonstrará como o pintor, ao adotar procedimentos de desfiguração e isolamento da Figura, se caracteriza como sendo o artista a expressar as forças, a prevalência das forças sobre as formas.
Para introduzir “Imagem-movimento” (cinema clássico), Machado demonstra a distinção feita por Deleuze entre movimento reproduzido e movimento apresentado para localizar a leitura de Bergson sobre o cinema e, ao invés de situá-lo como algoz da sétima arte, insere sua filosofia mais ainda no audiovisual. “Imagem-tempo” (cinema moderno) caracteriza-se para Roberto Machado como o livro de cinema em que Deleuze pôde estabelecer a sua filosofia da diferença. Com o advento do neo-realismo, o filósofo francês enxerga a tomada do pensamento pelo cinema: ele sai do cinema de ação e passa a ser um cinema visionário, “um exercício transcendental da faculdade de sentir que suspende o reconhecimento sensório-motor da coisa, ou a percepção de clichês, como é a percepção comum, proporcionando um conhecimento e uma ação revolucionários” (p.273).
Deleuze, a arte e a filosofia reforça a hipótese do autor de que a filosofia de Deleuze é uma filosofia sistemática, mas uma sistematização que se dá por articulações e agenciamentos de multiplicidades conceituais. Como bem lembrou Machado ao comparar a filosofia deleuziana ao “Samba de uma nota só” de Tom Jobim: “outras notas vão entrar, mas a base é uma só.”
Fernando Tôrres Pacheco-Mestrando em Estética e Filosofia da Arte/ IFAC/ UFOP.
Tempo Presente | UFS | 2010
O Grupo de Estudos do Tempo Presente – GET, ligado ao Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, responsável pela revista eletrônica semestral dos Cadernos do Tempo Presente (São Cristóvão, 2010-), informa a todos os interessados em apresentar artigos e resenhas para publicação que continua recebendo artigos e resenhas em fluxo contínuo e de acesso aberto.
Seguindo a própria composição do GET, serão bem-vindas produções de historiadores, geógrafos, cientistas sociais, filósofos, jornalistas, economistas, psicólogos, estudiosos das relações internacionais, dos meios de comunicação e demais áreas das ciências humanas.
Periodicidade semestral.
Acesso livre
ISSN 2179-2143
Acessar resenhas [Coletar 2015-2022]
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Signum | ABREM | 2010
Signum – Revista da ABREM (Londrina, 2010) é o periódico da Associação Brasileira de Estudos Medievais, fundada em 22 de março de 1996 como entidade civil, sem fins lucrativos, com sede nacional no município em que estiver instalada a Diretoria. Entre 1996 a 2010, a Signum foi publicada em formato impresso, após o que adotou-se o formato digital para todos os seus números. É um periódico semestral que tem por finalidade divulgar a produção científica sobre o período Medieval nas mais diversas áreas de especialidade, como os Estudos Literários, a História, a Filosofia, as Artes e o Direito.
A revista, por ser vinculada à Associação Brasileira de Estudos Medievais, não possui uma área de especialidade predominante ou exclusiva, pois procura incluir, inter e transdisciplinarmente, as diversas áreas de estudos que se interessam pela temática medieval, dentro e fora do Brasil.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2177-7306
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Berlim: um diário de idéias – DURÃO (AF)
DURÃO, F. Rio-Durham (NC). Berlim: um diário de idéias. Campinas: Publicações IEL/ UNICAMP (Coleção Work in progress), 2009. Resenha de: JÚNIOR, Douglas Garcia Alves. Experiências do pensamento diante da face das coisas. Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, out., 2009.
Fábio Durão apresenta um empreendimento incomum em nossos dias: um “diário de idéias”, composto de 85 fragmentos. Projeto ousado já na forma, que remete a Nietzsche e Adorno, filósofos que fizeram da forma de exposição em aforismos um elemento central de suas obras. Ousado, além disso, na amplitude e dificuldade dos temas tratados, que vão da dialética aos Estudos Culturais, da diferença entre as formas brasileira e norte-americana de sociabilidade ao capitalismo, da hermenêutica literária ao silêncio na música, da questão do lugar histórico das idéias à utopia do conhecimento. Reconhece-se, tanto na forma, como nos temas, o diálogo com Adorno, o que o torna ainda mais ousado: pretende- ria o autor reescrever as Minima Moralia em chave contemporânea e brasileira? No que se segue, reúno algumas indicações a respeito do teor das experiências de pensamento que Durão propõe. Trata-se de um breve comentário de quatro núcleos temáticos do livro de Durão, os quais, a meu ver, representam melhor o teor do seu trabalho como um todo. São eles: a reificação na prática acadêmica contemporânea; as dificuldades na lida hermenêutica com a alteridade da arte; as relações humanas como esfera de resistência à dominação capitalista; a utopia de uma teoria alegre. A reificação da academia Durão fala do contexto americano, alemão e brasileiro, mas é neste primeiro que ele mais se detém, tomando a sério o anúncio de Max Weber: “permitam-me que os conduza aos Estados Unidos da América, pois que lá se pode observar certo número de realidades em sua feição original e mais contundente” 1. O núcleo das suas anotações a respeito, retiradas de sua experiência pessoal naquele país, refere-se, em primeiro lugar, ao produtivismo e à competitividade, de feições abertamente capitalistas, que se observam em tudo o que é relaciona- do à universidade. Por outro lado, e intimamente relacionado a este primeiro aspecto, ele nota a contradição entre uma busca obstinada pela heterogeneidade, multiplicidade e pelo novo, por parte da crítica literária, da “Teoria” e dos Estudos Culturais, e o encerramento desses discursos em uma concepção anistórica e abstrata do “outro”, que termina por perdê-lo.
As várias faces do primeiro aspecto, Durão as encontra na prática americana das citações 2, na designação de “star” aplicada aos professores que detém um “grande nome” capaz de atrair muitas matrículas 3, n a especialização de cada departamento de universidade em um determinado tipo de “mercadorias culturais” 4, na polivalência de intelectuais que acompanham as demandas cambiantes de um trabalho flexibilizado 5, na transformação da prática intelectual em uma “máquina hermenêutica”, a recobrir de sentido (e perder) o movimento contraditório da realidade social capitalista 6. Quanto ao segundo aspecto apontado, a compulsão abstrata pelo “outro”, Durão a entende a partir de sua posição histórica e social, e da divisão social do trabalho. Cito: Muito se fala nos Estados Unidos do outro. Em inúmeras publicações, congressos, cursos etc encontra-se esse desejo pela diferença, por aquilo que não se repete, que anuncia o novo. A busca pelo diferente pode assumir as mais diversas formas: o entusiasmo pelos novos media, o deslumbre pelas possibilidades de sexualidades alternativas, a fixação pelo indefinível do corpo, a promessa de riqueza na mistura de culturas de imigrantes num mundo globalizado, a disseminação infinita do sentido no infinito da linguagem… Todas essas versões de alteridade têm seu contrário na realidade repetitiva da rotina do trabalho, na homogeneização dos hábitos por todo o globo, na Mcdonaldização do mundo. 7 Essa denúncia seria unilateral se não viesse acompanhada de um reconhecimento do que há de crítico nessa busca do “outro”. A “nebulosa da Teoria” porta consigo um teor de verdade: a indicação de que a aspiração ao novo não pode ser realizada nos quadros de um todo social que reprime a irrupção do heterogêneo sob a máscara da hiper-produção de sentido e do consumo de bens culturais. Escreve Durão: “entregar-se completamente à teoria da diferença, de fato, leva à auto-satisfação da classe média, mas ignorá-la por completo, reprimi-la, só faz com que ela volte, como uma vingança, para assombrar o discurso revolucionário dono da verdade” 8.
Durão sugere que a recuperação do momento de verdade da hermenêutica americana do “outro” passa por uma operação reflexiva, pelo dever de pensar as formas de produção de sentido sob o capitalismo contemporâneo, ao mesmo tempo em que se põe a pensar os problemas de uma leitura respeitosa e, ao mesmo tempo, desafiante, viva, das obras de arte. Torna-se impositivo resistir ao fluxo homogeneizador dos discursos da diferença, e abrir um “tempo lógico” para a teoria em sentido forte, isto é, para a contemplação da conexão inteligível imanente que se apreende das próprias coisas. Talvez a problemática da hermenêutica da obra de arte sob o capitalismo seja o locus privilegiado para pensar estas questões.
A (difícil) alteridade da arte
A incômoda experiência de fazer parte da massa de turistas diante da Mona Lisa, no Louvre, é senha para Durão pensar a questão da posição do receptor diante da obra de arte, do que esta tem de único e irredutível. Trata-se, naquele caso, de uma experiência em que está ausente o silêncio, em que não há tempo para que se desdobre um outro tipo de experiência, negativa (face ao excesso de sentido proposto): a de abrir-se à obra para que ela “perguntasse algo àquele que [a] via” 9. A renúncia à intenção subjetiva, assim, torna-se mediação incontornável para o contato com a alteridade. A leitura do mundo, das coisas, exige uma disciplina do sujeito. Não sua dissolução completa, em prol de um “objetivismo” ingênuo, mas participação no movimento constitutivo da obra. Ela exige, na verdade um trabalho do sujeito, no sentido de reconstituir as mediações históricas impressas na estrutura e no tecido da obra, e, além disso, de uma atenção ao que escapa a esse movimento, à sua não-identidade material irredutível. Durão torna clara a sua posição a esse respeito, ao comentar a prática acadêmica do close reading: Para a lírica, busca-se ambigüidades e padrões imagísticos recorrentes, assim como recursos sonoros organicamente li- gados ao sentido; para a prosa, investiga-se a profundeza e a verossimilhança psicológica dos personagens, a estruturação e o desenvolvimento do enredo. Subjacente a essa forma de ensino da literatura reside uma bela idéia de imediatidade e comunicabilidade da experiência humana (daí a identificação com personagens desempenhar um papel tão importante) seu aspecto negativo, no entanto, apresenta-se no apagamento da diferença, da estranheza que artefatos do passado geram quando parecem se fechar para nossas perguntas a eles 10. Como romper a reificação dos instrumentos hermenêuticos, dos métodos de análise estética? Como restituir ao objeto o que é do objeto, a sua alteridade mais secreta? Durão amplia o foco dessas questões a partir da consideração do oposto da obra de arte, do “lixo” da indústria cultural. Este, surpreendentemente, adquire um estatuto revelador para o crítico cultural interessado na não-identidade da arte. Por dois motivos. Em primeiro lugar, segundo Durão, é possível mostrar que o “puro ruim não existe”, que mesmo o mais reificado produto da indústria cultual contém, latente, um momento de utopia, anuncia uma promessa de satis- fação e liberdade 11 (ainda que não as sustente de modo radical). Além disso, mais fundamentalmente, trata-se de ter consciência de que, se o “lixo” da indústria cultural impõe uma cunha hermenêutica a seus receptores, impedindo-os de desenvolver uma leitura diferenciada do mundo, em franca contraposição, trata-se, para a crítica, de apontar estes entraves, para restituir o potencial obstruído de leitura do mundo 12. Enfim, é possível pensar a prática crítica e a leitura forte da obra de arte como um tipo de amizade, de uma relação em que atividade e passividade se complementam, para articular um campo de forças em que as tensões possam se exprimir, ao mesmo tempo em que a dominação e a violência, desse modo, possam ser substituídas pela coexistência vivificadora e autônoma. Talvez seja por isso que Durão enxergue nas relações interpessoais um potencial utópico não-desprezível.
A fragilidade e a resistência das relações humanas
Um dos mais interessantes fragmentos de Durão é o de número 41, sobre o universo social da praia de Copacabana. Enquanto a opção mais fácil para o intelectual crítico brasileiro seria a de apontar para o engodo da intimidade entre os socialmente desiguais, na esteira da crítica (justificada, diga-se) de Sérgio Buarque de Holanda à “cordialidade” brasileira, ele toma um outro rumo. Sem negar a injustiça impressa na realidade, ele chama a atenção para o teor de verdade da sociabilidade afetiva e próxima do carioca. O “esforço de se ligar a um outro” e o “ser amigável como ponte” portam algo de verdadeiro, na medida em que manifestam, de algum modo, um confronto com a realidade social que faz dos indivíduos “mônadas sociais irreconciliáveis”. O criminoso, que também circula por lá, lembra Durão, é aquele que nega essa proximidade, que expõe sua insuficiência 13.
Esse limite da proximidade carioca é posto em questão, nova- mente, por outra via, a do comentário da relação amorosa. Se o vocábulo “relação” chama para si a atenção para o aspecto desregulamenta- do e espontâneo do amor, é preciso apontar, lembra Durão, para aquilo que a “relação” exclui: a abertura para o mundo além das subjetividades envolvidas 14. O conteúdo utópico das relações interpessoais tem seu funda- mento na simples conversa, relação em que os interlocutores não se engajam primariamente em um objetivo instrumental, a qual Durão confere dignidade, ao comentar o texto de Jakobson, “Lingüística e Poética”. Ele ressalta o elemento de contato da linguagem, a “função fática”, e afirma que a conversa “define um tipo de troca onde o tópico ou o tema é flutuante, onde aquilo que me liga ao meu interlocutor é, simples e unicamente, o prazer de tê-lo à minha frente” 15. A dignidade do individual, do ôntico, em sua finitude e alteridade, é estabelecida, assim, na faculdade da linguagem, capaz de estabelecer e manter pontes com o outro, concreto e único. Não se deve esquecer, além disso, o elemento de prazer envolvido no exercício dessa faculdade. Esse elemento de prazer tem a ver com a experiência do reconhecimento da semelhança do “outro” – indivíduo, obra de arte, animal, coisa – com o sujeito. Essa dimensão mimética da experiência, desse modo, se faz notar como elemento fundamental tanto da ética quanto da estética. Durão, nesse sentido, em ressonância com Lévinas, chama a atenção para o elemento utópico da experiência da face, do rosto. Cito: Nossa capacidade de identificar caras, um ímpeto não-intencional e não-consciente, é talvez a prova maior da possibilidade concreta da utopia. O rosto faz humano (…) Desde Auschwitz, seu inimigo maior é o número. A felicidade reside no contrário, no aprendizado da leitura da face. O que é o amor senão a multiplicação dos rostos do ser amado? Quem ama está sempre vendo novas faces no outro, faces que no fundo quebram as amarras do indivíduo: de quem contempla, que se perde no rosto amado, e de quem é contemplado, cada vez com uma outra cara 16. Essa “possibilidade concreta da utopia” é o que cabe desdobrar como conceito a uma teoria atenta tanto ao particular individual e material quanto ao universal, à dinâmica social que lhe dá a lei e o insere numa ordem. A experiência do pensamento como alegria utópica
A referência a uma “teoria da alegria” 17, que me autorizo a interpretar como uma teoria alegre, faz eco aos dois autores que mencionei no início, Nietzsche e Adorno. Se, para o primeiro, a noção de uma “gaia ciência” 18 recebia o sentido de uma crítica da construção de mundos inteligíveis e da separação filosófica tradicional entre corpo e espírito (que desvalorizava o primeiro para melhor assegurar a dominação do último), em Adorno, a teoria, sobretudo a teoria moral, é tida como uma “triste ciência” 19, na medida em que “não há vida correta na falsa” 20, e que tanto pensamento quanto ação se vêm enredados na perpetuação da dominação social da natureza externa e interna. No entanto, para o autor da dialética negativa, resta ao pensamento a tarefa de determinar as condições de efetivação de uma “humanidade como utopia” 21.
Em Adorno, a “vida correta”, a arte autêntica e o pensamento forte se medem pela sua negatividade com relação ao estado de coisas existente, de super-exploração do trabalho e degradação da natureza, no capitalismo tardio. Durão recolhe a lição de Adorno, e sua escolha pelo fragmento é sinal disso: a “teoria da alegria” que persegue deve surgir do contato com os objetos, com a configuração de cultura e da sociabilidade no atual estádio histórico. O fragmento permite certa “lógica de sedimentação”, pois “os fragmentos devem dar boas vindas à insistência daquilo que, apesar de si próprios, se faz repetir” 22. O fragmento, recusando a lógica do sistema dedutivo, de premissa e conclusão, dá lugar à experiência do confronto do pensamento com o pensado, permitindo desenhar a figura de uma “utopia do saber”, afim à noção adorniana de “constelação”, que Durão descreve da seguinte maneira: Um bom conceito se deixa isolar apenas relutantemente, sob a pena de se oferecer como vítima. Aquilo que quer ter de único, de singular, aconteceria da sedimentação de seus contextos de ocorrência, que necessariamente deixam restos, parte de seu sentido para a qual permanecemos na maioria das vezes cegos 23.
Esse elemento fugidio do conceito, Durão o aborda por meio do que se poderia chamar de primazia da idéia em relação ao sujeito, à qual alude diversas vezes, ao dizer que “as idéias nos pensam” 24, que “as idéias nos possuem 25 ”, que, ao “caçador de idéias” intelectual, vale lembrar que “uma idéia não gostaria de ser caçada; ao invés, disso, preferia ser paparicada, cortejada, até mesmo às vezes esquecida para ser depois revisitada” 26. Mais adiante, ele aponta para a fragilidade do pensamento, ao se dar conta de que “é necessário acolhermos os pensamentos, pegá-los no colo e sermos doces com eles, ao invés de tentarmos ser mais fortes que eles” 27. Todas essas formulações sugerem a noção de uma necessidade de uma contínua auto-reflexão do pensamento a respeito de seus próprios pressupostos – mais uma afinidade com Nietzsche e Adorno, que denunciaram o caráter arbitrário e violento do sistema, mais afeito ao aumento da dominação sobre as coisas do que a uma relação verdadeira com sua não-identidade. Esse acolhimento da diferença do pensado em relação ao pensamento, Durão várias vezes o relaciona à idéia da necessidade de um corte no fluxo discursivo geral, num momento de silêncio da teoria. Uma fórmula resume essa concepção: “em silêncio, dar tempo para as coisas falarem” 28. Não se trata, porém, da busca do místico, que motivou um Wittgenstein, por exemplo. Trata-se de um difícil trabalho do sujeito, de encontrar e valorizar na experiência os “brancos” do discurso e da sobrecarga de sentido. Momentos tais como os sonhos diurnos, as conversas e os devaneios 29 – cujo potencial utópico foi valorizado por Ernst Bloch. Nesses blocos de experiência em que “para além de qualquer intenção individual ou consciência subjetiva” se expressa o anseio pelo inteiramente outro, o sujeito deve tentar encontrar a pulsão que ancore o pensamento, para além de todo sentido socialmente instaurado de felicidade, justiça e liberdade. Espero ter podido indicar, ao cabo, que há uma unidade que atravessa todos esses núcleos temáticos, e que tem a ver com algo extremamente difícil que o autor logra realizar, a meu ver: a articulação de uma tipologia contemporânea das dificuldades de se aceder a uma relação dialética (vale dizer, reflexiva e, ao mesmo tempo, interna, colada aos fenômenos) com o universo hiper-regulamentado da vida contemporânea, nos seus aspectos culturais, cognitivos e sociais. Ao fazer isso, penso que ele contribui para desfazer o equívoco, por um lado, de ver na teoria crítica da sociedade um mero exercício de pessimismo cultural, e, por outro, o engano daquelas “coleiras mentais” que, mais afeitas à administração da produção acadêmica do que à coisa mesma, ao exercício do pensamento, insistem em diferenciar entre autores e temas “sérios” daqueles pretensamente “não-filosóficos”. A estes, e a todos nós, o livro de Fábio Durão faz pensar e dá alento.
Notas
1 WEBER, Max. A ciência como vocação. In: Ciência e política: duas vocações. Trad. de Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1973, p. 43.
2 DURÃO, Fábio. Rio-Durham (NC)-Berlim: um diário de idéias. Campinas: Publicações IEL/UNICAMP (Coleção Work in progress), 2009, p. 16.
3 Idem, p. 32.
4 Idem, p; 34.
5 Idem, p. 46s.
6 Idem, p. 58s.
7 Durão, op. cit., p. 58.
8 Idem, p. 70.
9 Durão, op. cit., p. 27.
10 Idem, p. 45.
11 Durão, op. cit, p. 65.
12 Idem, p. 56.
13 Idem, p. 39s.
14 Durão, op. cit., p. 31s.
15 Idem, p. 69.
16 Idem, p. 34.
17 Durão, op. cit, p. 76.
18 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Trad. de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. Cf. especialmente o aforismo 1, p. 52s, sobre a valorização do ôntico, e o aforismo 324, p. 215, que fala da vida como experiência de alegria e conhecimento.
19 ADORNO, Theodor W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. Trad. de Luiz Bicca e revisão de Guido de Almeida. São Paulo: Ática, 1992, p. 7.
20 Idem, p. 33.
21 Idem, p.67.
22 Durão, op. cit., p. 33.
23 Idem, p. 42.
24 Idem, p. 44, 74.
25 Idem, p. 76.
26 Idem, p. 47.
27 Idem, p. 54.
28 Idem, p. 65
29 Idem, p. 62
Douglas Garcia Alves Júnior-Professor do Departamento de Filosofia da UFOP.
Leis da Liberdade – KANGUSSU (AF)
KANGUSSU, Imaculada. Leis da Liberdade. São Paulo: Ed.Loyola. Resenha de: FIGUEIREDO, Virginia. Sobre Marcuse, 40 anos depois de 68. Artefilosofia, Ouro Preto, n.6, maio, 2009.
“A subjetividade dos indivíduos, a sua própria consciência e inconsciência, tendem a ser dissolvidas na consciência de classe. Assim é minimizado um importante pré-requisito da revolução, nomeadamente, o fato de que a necessidade de mudança radical se deve basear na subjetividade dos próprios indivíduos, na sua inteligência e nas suas paixões, nos seus impulsos e nos seus objetivos. A teoria marxista sucumbiu à própria reificação que expôs e com- bateu na sociedade como um todo.” Essa passagem que extraio do livro Leis da Liberdade é uma citação de outro livro, A Dimensão Estética, de Herbert Marcuse. Ela exprime, com alguma clareza, a atitude desse filósofo que podemos considerar como membro da Escola de Frankfurt, mas também como um crítico da ortodoxia marxista, talvez pela influência que Martin Heidegger, seu orienta- dor em Freiburg, deixou marcada em seu pensamento. Neste ano de 2008, lembrando a importante participação e liderança de Marcuse no movimento estudantil de 1968, principalmente na Universidade da Califórnia, em San Diego, onde o filósofo era, na época, professor, nada mais justo que comemoremos os 40 anos de Maio 68, com a publicação do livro de Imaculada Kangussu, que é resultado de uma tese sobre Marcuse, defendida com muito brilho na UFMG em 2001. A autora, que há tempos milita no difícil questionamento, hoje e sempre, das relações entre arte e política, quer chamar nossa atenção para o sentido de subversão política que a dimensão estética pode conter. Nas suas palavras, a dimensão estética aparece como uma “trincheira para a potência de negação”, na qual se exercitam as leis da liberdade, que são a marca distintiva da natureza humana. Também são de se ressaltar, no livro As Leis da Liberdade, a s incursões psicanalíticas, sobretudo em conceitos freudianos, como os de pulsão e princípio de prazer, a partir dos quais nos é revela- do o sentido material e natural da razão marcuseana, bem como o progressivo recalque a que a mesma foi e continua sendo submetida pela ordem perversa do sistema capitalista.
Renovando o espírito de contestação e rebeldia, com o qual toda arte digna desse nome está comprometida, o livro pretende alcançar a definição de uma “Nova sensibilidade” (é assim que um dos capítulos se intitula) descondicionada. Se, junto com Freud, Marcuse reconhece o valor metapsicológico das estruturas pulsionais, diferentemente dele, o filósofo atribuiu a elas certa plasticidade e, portanto, certa capacidade de efetuar mudanças da organização social. Tomando, talvez como pressuposto, certa constatação de fracasso do que estava implícito nas propostas das estéticas vanguardistas – o que poderia ser resumido na estratégia de dissolução da subjetividade, como se esta última fosse o foco privilegiado da ação individualizadora do capital – a proposta de retomada da obra marcusiana parece querer indicar a necessidade da constituição de uma “nova subjetividade” positiva (e não mais dissolvida e negativa, o que, talvez tenha, segundo esse diagnóstico, favorecido o avanço voraz da economia pródiga de recalques do capital) ou estética, forte o suficiente para o confronto e a resistência frente à ordenação do nosso status quo.”
Virginia Figueiredo-UFMG/CNPq.
Conjectura | UCS | 2009
O escopo da revista Conjectura – Filosofia e Educação (2013-) é incentivar a investigação e o debate acadêmico acerca da Educação e da Filosofia em seus diversos aspectos, prestando-se como um instrumento de divulgação do conhecimento. Para tal, busca qualificar-se continuamente, observando os critérios indicados pelo Qualis/Capes: publicação mínima de 18 artigos por volume, dos quais 60% de autores vinculados a pelo menos 4 instituições diferentes da que edita a revista com indicação da afiliação institucional. Em cada número publicado, pelo menos 1 artigo será proveniente do exterior.
Periodicidade – Os itens da revista, após serem aprovados, serão publicados em fluxo contínuo, no sistema Ahead of Print.
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
ISSN 0103 1457 (Impresso)
ISSN 2178 4612 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Artefilosofia | UFOP | [2009]
Artefilosofia – Revista de Estética e Filosofia da Arte do Programa de Pós-graduação em Filosofia – UFOP foi editada em formatos diferentes durante seus onze anos de existência. Seu início foi como revista impressa, e permaneceu como tal até sua oitava edição. A partir de sua nona publicação tornou-se uma revista eletrônica, por meio da produção de um website que contava com versão digital de com todos os números impressos até então. Este ano sua equipe editorial passou a fazer uso das facilidades e funcionalidades do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). A adoção do sistema internacional de gestão de publicação eletrônica possibilitará à Revista Artefilosofia consolidar o reconhecimento e o prestígio que a publicação possui na área de Estética e Filosofia da Arte.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 1809-8274 (Impresso)
ISSN 2526-7892 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
“Eine bisher unbekannte Handschrift mit Werken des Nikolaus von Kues in der Kapitelsbibliothek von Toledo”, Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft – REINHARDT (ARF)
REINHARDT, Klaus. “Eine bisher unbekannte Handschrift mit Werken des Nikolaus von Kues in der Kapitelsbibliothek von Toledo”, Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft, 17, p. 96-141). Resenha de SCHMITT, Alexia B. Ninicolás de Cusa, Acerca de lo no-otro o de la definición que todo define, nuevo texto crítico original (edición bilingüe). Argumentos, Fortaleza, n. 2 – 2009.
Nicolás de Cusa, Acerca de lo no-otro o de la definición que todo define , nuevo texto crítico original (edición bilingüe), Introducción: Jorge M. Machetta y Klaus Reinhardt, Traducción: Jorge M. Machetta, Preparación del texto crítico y notas complementarias: Claudia DʹAmico, Martín DʹAscenzo, Anke Eisenkopf, José González Ríos, Jorge M. Machetta, Klaus Reinhardt, Cecilia Rusconi, Harald Schwaetzer, 391 pp., Editorial Biblos, Colección Presencias Medievales, Buenos Aires, 2008.
Esta edición se inicia con la presentación de la obra, a cargo del Prof. Dr. Jorge M. Machetta (p. 11-12); la historia de la transmisión del texto, escrita por el Prof. Dr. Klaus Reinhardt (pp. 13-20); y bibliografía sobre el escrito cusano, tanto ediciones en lenguas modernas como trabajos sobre el mismo (p. 21-24).
A continuación encontramos, junto a su traducción española, el texto original latino iluminado por un completo aparato de fuentes, tanto explícitas como implícitas, de tal obra cusana, y un elenco de lugares paralelos en sus demás escritos, pues se trata de una edición crítica. Pero lo más significativo es que se ofrece el nuevo texto crítico original a partir del descubrimiento de un ignorado manuscrito de Acerca de lo no-otro en la Biblioteca Capitular de Toledo llevado a cabo por el Prof. Dr. Klaus Reinhardt 1 .
Es ésta la primera edición que publica el nuevo texto crítico. Ello es el fruto del proyecto conjunto cumplido por investigadores alemanes, miembros del Institut für Cusanus-Forschung de Trier, e investigadores argentinos, integrantes del Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires. Gracias al aporte de la DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) y la Fundación Antorchas, entre Marzo de 2003 y Octubre de 2006, el grupo de investigadores alemanes, -dirigido por el Prof. Dr. Klaus Reinhardt y secundado por el Dr. Harald Schwaetzer-, y argentinos, – coordinado por el Prof. Dr. Jorge M. Machetta, secundado por la Dra. Claudia DʹAmico, e integrado por los Licenciados en Filosofía y Doctorandos Cecilia Rusconi, Martín D ́Ascenzo y José González Ríos. La primera tarea consistió en el minucioso análisis paleográfico del nuevo manuscrito y luego se procedió al cotejo con la edición crítica anterior de la Academia de Ciencias de Heidelberg, preparada por los profesores Ludovico Bauer y Paul Wilpert en 1944, utilizando el manuscrito que fuera recogido y publicado por Ioannes Übinger, como anexo a su obra Die Gotteslehre des Nikolaus von Kues en 1888.
Junto a estos tres tipos de notas (variantes textuales disponibles, fuentes, y paralelos en la obra cusana) encontramos, iluminando el nuevo texto crítico original y su traducción española, dos clases de notas complementarias:
- Notas temáticas, destinadas a facilitar la comprensión del texto en torno a los aspectos temáticos más importantes, distribuidas de esta manera:
1.1 Interlocutores del tetrálogo (Jorge M. Machetta, p. 243-246).
1.2 La fuerza significativa de lo “no-otro” (José González Ríos, p. 247-263).
1.3 La definición que se define a sí misma y a todo (Cecilia Rusconi, p. 264-272).
1.4 El principio del ser y del conocer (Jorge M. Machetta, p. 273-285).
1.5 Participación y alteridad (Claudia DʹAmico, p. 286-295).
1.6 El carbúnculo (Harald Schwaetzer, traducción Jorge M. Machetta, p. 296-303).
1.7 La sustancia (Martín DʹAscenzo, p. 304- 310).
1.8 Acerca del Principio A (Cecilia Rusconi, p. 311-322).
1.9 El tiempo (Anke Eisenkoff y Harald Schwaetzer, traducción Jorge M. Machetta, pp. 323-328).
- Notas de autores presentes en el texto propuestas, con el fin de poner de manifiesto las principales fuentes doctrinales del texto: 2.1 Aristóteles (Martín DʹAscenzo, p. 329-335).
2.2 Alberto Magno (Jorge M. Machetta, p. 336- 346).
2.3 Dionisio Areopagita (José González Ríos, p.347-358).
2.4 Proclo (C. DʹAMICO , p. 359-369).
Como puede advertirse, las notas complementarias se concatenan unas con otras y brindan al lector, sea éste novato o especializado, valiosas herramientas que lo ayudarán a profundizar en la comprensión del sentido del texto.
Finalmente, el libro se cierra con los índice de nombres (p. 371) y obras (p. 372) mencionadas por Nicolás de Cusa en este escrito, un índice de autores de fuentes mencionadas (p. 373-385), el index codicum (p.386) y un glosario de términos latinos específicos cusanos con su correspondiente traducción al español (p. 387-391).
El propio Cusano presenta este escrito como un “tetrálogo” (Nota temática 1.1, p.244); éste no es un mero detalle estilístico sino que revela lo profundamente dialógico del proyecto filosófico cusano (cf. Nota temática 1.1, p. 243). En el diálogo fecundo desea Nicolás mostrarnos “la unidad en la diversidad que alienta los múltiples intentos filosóficos” (Nota temática 1.1, p. 244). Él mismo señala el criterio último que debe animar el diálogo: n o e l a rg u m e n t o d e a u t o r i d a d , s i n o e l descubrimiento de la verdad por la razón (cf.n. 2 y Nota temática 1.1, p. 246).
Los cuatro interlocutores tienen en común el encontrarse “entregados al estudio” (n. 1) y el ocuparse de “temas profundos” (n. 1), pero cada uno, desde distintos pensadores (cf. n.1 y Nota temática 1.1, p. 243-246): el abad Juan Andrés, secretario del Cusano, estudia el Parménides de Platón y el Comentario de Proclo; Pedro Balbo traduce del griego al latín la Teología platónica de Proclo; Fernando, médico personal de Nicolás, se dedica a Aristóteles; y el Cusano frecuenta la obra del teólogo Dionisio Areopagita (cf. Notas de autores presentes en el texto 2.3, p. 347-358).
Tras esta presentación, el abad expresa el interés común a los tres interlocutores: que Nicolás les brinde “una formulación más sintética y más clara” (n. 1) de los temas que cada uno aborda. El Cardenal responde con la siguiente sentencia paradójica: “alguna vez me pareció a mí que es dejado de lado por nosotros aquello que nos podría guiar más próximamente a lo buscado” (n. 1); es decir, “lo que parece tan obvio […] a la vez es tan insospechado” (Nota temática 1.1, p. 245).
N i c o l á s c o m i e n z a p r e g u n t a n d o a l interlocutor aristotélico “qué es aquello que ante todo nos hace saber” (n. 3), y Fernando responde la definitio , pues etimológicamente definición significa delimitar, poner límites (n. 3): “decir lo que una cosa es -dar su definición- implica circunscribir dicha cosa en sus límites dejando por fuera todo lo que ella no es.” (Nota temática 1.3, p. 265).
Si la definición pone límites a todo, también se limita a sí misma (cf. n. 3). Arribamos a lo que el Cusano había adelantado que descuidamos: “la definición que todo define es no otro que lo definido” (n. 3); lo no-otro es la definición que define todo (el cielo es no otro que el cielo (cf. n.
5) ) y a sí mismo (lo “no-otro es no otro que no- otro” (n. 4) ). El tema en torno al cual los cuatro interlocutores se demorarán en este diálogo será lo no-otro en cuanto “definición que se define a sí y a todo” (n. 4). Tal definición no sólo debe ser entendida desde un plano lógico, sino también ontológico (cf. Nota temática 1.2, p. 263; Nota temática 1.3, p. 264-272).
Una de las preocupaciones del Cusano, que se reitera desde el primero hasta el último de sus escritos, es encontrar una formulación para referirse al primer principio (Cf. Nota temática 1.2, p. 262). No obstante, los nombres a los que arriba son siempre “enigmáticos”, porque, por un lado, manifiestan la imposibilidad de expresarlo en forma adecuada, pues él es anterior a todo, es principio de todo (cf. n.
6); no obstante, por otro lado, señalan uno de los modos en que el principio se participa en lo principiado (Nota temática 1.2, p. 254).
El propio Cusano define “enigma” como una “imagen de aquello que, siendo anterior a toda imagen -puesto que es su principio-, es en sí mismo invisible en toda forma de visión (n. 103). Aquello que no puede ser visto directamente puede verse -invisiblemente- en el enigma, como si viéramos en un espejo la imagen de lo que no puede ser visto directamente” (Nota temática 1.3, p. 268-269).
¿En dónde reside la fuerza de lo no-otro para que el Cusano lo considere un enigma más “preciso” (n. 7), tal como lo expresa en el manuscrito de Toledo, frente a los demás nombres, tanto los provenientes de la tradición como los formulados por él mismo en obras anteriores (cf. n. 13; Nota temática 1.2, p.261-262)? A ello nos responde: puesto que lo no- otro no puede ser definido por otro término, sino sólo por medio de sí mismo, nos muestra al primer principio como anterior, autosuficiente y desvinculado de todo (cf. n. 6; Nota temática 1.2, p. 259-260; Nota temática 1.3, p. 269; Nota temática 1.5, p. 288). Además, cuando lo no- otro se define a sí mismo (lo “no-otro es no otro que no-otro”), nos revela la naturaleza unitrina y relacional del principio (cf. n. 7; Nota temática 1.2, p. 260-261; Nota temática 1.3, p. 269; Nota temática 1.5, p. 289). En tercer lugar, por medio de lo no-otro podemos ver que “el principio del ser es, asimismo, el principio del conocer” (n. 8); tal es el significado ontológico de la definición que a sí misma y a todo define (cf. Nota temática 1.3, p. 270-271; Nota temática 1.4, p. 273- 285): “La novedad profunda de la propuesta cusana consiste, a nuestro entender, que en la denominación de lo no-otro se implican los principios fundamentales del ser y del conocer y que con ello ha alcanzado el mayor nivel de profundización, concentración y unidad en su especulación acerca del principio supremo” (Nota temática 1.4, p. 285). Por último, “la novedad de este nombre enigmático “ non aliud ” para referirse al principio se encuentra en que tal denominación hace referencia a la noción de alteridad: ser principio implica la exclusión de sí de toda alteridad, a la vez que la precedencia y fundación del ámbito de toda alteridad posible” (Nota temática 1.5, p. 286).
Ahora bien, alteridad y participación se encuentran siempre vinculadas: “la participación sólo es posible en la alteridad y la alteridad sólo tiene su ser en la medida en que en ella se participa la no alteridad del principio” (Nota temática 1.5, p. 286). Las nociones de alteridad (cf. n. 20-30) y participación (cf. n. 36-39) abren paso a la concepción cusana de singularidad (cf. n. 44; Nota temática 1.5, p. 287): “Si bien en De non aliud el principio de identidad de cada cosa, es decir el de su singularidad, se presenta desde el comienzo y se va completando con la doctrina de la participación en una forma o esencia única según diversos grados, tal doctrina parece no bastar para dar respuesta a la cuestión de la diferencia en términos de alteridad” (Nota temática 1.5, p. 295). Tal cuestión sólo podrá ser respondida si se atiende a la concepción cusana de sustancia y materia (cf. n. 41-52; Nota temática 1.5, p. 295; Nota temática 1.7, p. 304-310).
Por último, entre las fuentes del nombre no-otro, el propio Cusano menciona a Pseudo Dionisio (cf. n. 5-9 y n. 73-98; Notas de autores presentes en el texto 2.3, pp. 347-358; Nota temática 1.8, p. 311-322), y al Parménides de Platón y el comentario de Proclo (cf. n. 100; Notas de autores presentes en el texto 2.4, pp.359-396), frente a este último el Cusano ya no adopta una actitud crítica como en obras anteriores, sino todo lo contrario.
Acerca de lo no-otro o de la definición que todo define ocupa, sin duda, un lugar destacado, tanto dentro de la obra cusana, -“quizás […] la más especulativa de Nicolás de Cusa” (Presentación, p. 11)-, como en la historia de la filosofía, por su inagotable profundidad y densidad metafísicas. Por consiguiente, la presente edición crítica constituye un acontecimiento único y de singular importancia para todo aquel que busque la verdad en las fuentes perennes del pensamiento. No obstante, adquiere para nosotros desde Latinoamérica una mayor relevancia, pues nunca antes investigadores de nuestra región habían participado en la edición crítica de una obra cusana. Aún más, la presente edición, encarnando el ideario que el Cusano nos ha legado en cada una de sus obras filosóficas y con su propia vida, manifiesta un aspecto fundamental de la verdad, que nuestra época parece haber olvidado: la fecundidad y riqueza del diálogo y del trabajo en equipo o, en términos cusanos, la unidad en la diversidad.
Alexia B. Schmitt – Doctoranda en Filosofia, Universidad del Salvador – Argentina, Miembro del Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires.
Alétheia | Unipampa | 2008
Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo (Jaguarão, 2008-) é um periódico eletrônico vinculado ao curso de História-Licenciatura do Campus de Jaguarão da Universidade Federal do Pampa.
Este periódico foi por pesquisadores de pós-graduação inicialmente vinculados à Universidade Federal de Goiás. Ao longo dos últimos anos, temos buscado promover esse espaço enquanto um local de promoção de pesquisas sobre Antiguidade e Medievo.
A partir de 2016, a revista está incorporada à base de periódicos da Universidade Federal do Pampa, que conta com dois de seus membros do quadro efetivo como editores da publicação.
Durante o ano de 2019, temos reorganizado as atividades e o funcionamento deste periódico de modo a restabelecer uma periodicidade e número de publicações mais adequado. Acreditamos que o resultado dessas modificações será mais bem perceptível a partir de 2020.
Atualmente, nosso objetivo consiste na divulgação de produções acadêmicas universitárias empreendidas por graduandos, pós-graduandos e doutores na área da História Antiga, História Medieval, Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, e Letras Clássicas.
Nosso periódico tem como objetivo principal a disseminação de artigos científicos e resenhas de publicações recentes sobre a área de Antiguidade e Medievo.
Periodicidade anual
Acesso livre
ISSN 1983-2087
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Argumentos | UFC | 2008
Argumentos é uma Revista de Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Visa divulgar e intercambiar, prioritariamente, trabalhos de pesquisadores em Filosofia do Brasil e do exterior nas seguintes linhas de pesquisa: Ética e Filosofia Política e Filosofia do Conhecimento e da Linguagem. Essas linhas são compatíveis com a política de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC.
Duas vezes ao ano, Argumentos publica artigos, notas de discussão, resenhas e/ou uma edição especial, sobre todos os aspectos da filosofia, escritos em português, inglês, espanhol, alemão ou francês. Seu principal objetivo é apresentar e expandir a filosofia, amplamente interpretada. A Revista Argumentos se esforça para oferecer artigos com argumentação sólida e bem escrita sobre as questões filosóficas. Em 2011, a revista entrou em uma nova etapa e se tornou a revista científica oficial do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará, Brasil. Seu objetivo é ser uma publicação de filosofia de alto padrão, com impacto no Brasil e no exterior. Com esse objetivo, Argumentos possui quatro co-editores principais, que cuidam de duas grandes áreas: (1) filosofia teórica (principalmente, mas não exclusivamente, de natureza analítica) e (2) filosofia prática (principalmente, mas não exclusivamente, continental). Para garantir alta qualidade em suas publicações, Argumentos possui um comitê científico composto por filósofos não brasileiros e brasileiros.
A revista Argumentos é uma publicação com periodicidade semestral, com acesso livre.
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo. Segue o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público. Proporcionando, assim, maior democratização mundial do conhecimento. Nenhuma taxa de submissão ou processamento é cobrada.
ISSN 1984-4255 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Educação & Realidade | UFRGS | 1976
Educação & Realidade (1976) tem como missão a divulgação da produção científica na área da educação e o incentivo ao debate acadêmico para a produção de novos conhecimentos. Visa, também, a disponibilização de novas ferramentas analíticas, de modo a expandir as fronteiras do pensamento e da prática no campo da educação. Nos seus quase 40 anos de existência, Educação & Realidade vem realizando essa missão por intermédio de uma política editorial consistente e centrada na qualidade dos textos oferecidos aos seus leitores.
Educação & Realidade é uma publicação trimestral e publica artigos relacionados às várias áreas do campo da educação e suas interfaces com as artes, filosofia, letras, ciências sociais e humanas, resultantes de estudos teóricos, pesquisas empíricas, análises sobre práticas concretas ou debates polêmicos e atuais. A revista publica artigos em português, inglês ou espanhol e todos os textos passam por avaliação cega por pares, independente da forma como foram submetidos.
Para que um artigo seja publicado em Educação & Realidade, ele deverá ser inédito e oferecer uma perspectiva que contribua para a discussão e o avanço dos modos como o tema até então tem sido tratado no campo da educação. Todos os números de Educação & Realidade são organizados em torno de um tema que garante uma identidade aos mesmos (eles recebem um título, que aponta a problemática em destaque naquela edição). Isso se dá tanto em números em que todos os artigos estão relacionados diretamente a um tema, quanto em números que apresentam uma seção temática, além de artigos sobre outros assuntos.
Busca-se manter espaço para outros temas como forma de continuar acolhendo e publicando artigos que espelham a rica produção dos pesquisadores da educação, enviados diretamente à Educação & Realidade. A apresentação de uma pluralidade de perspectivas teóricas é um dos pilares da política editorial de Educação & Realidade, como atesta a sua história de liderança na proposição de questões candentes na área da educação. A revista tem como objetivo servir de veículo não apenas para o conhecimento e as pesquisas já consolidadas, mas também para perspectivas inovadoras, tanto no que se refere à argumentação quanto à metodologia, e que se apresentam como alternativas aos modelos estabelecidos
Periodicidade trimestral
ISSN 0100 3143 (Impresso)
ISSN 2175 6236 (Online)
Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional
Acessar as resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Especiaria | UESC | 2007
A Revista Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas (Ilhéus, 2007-) recebe semestralmente artigos, resenhas e traduções de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, em português, inglês, italiano ou espanhol, das grandes áreas de ciências humanas e sociais e de letras e linguística.
As submissões seguem fluxo contínuo, com a seguinte configuração: dois semestres consecutivos com números dedicados à filosofia, à história, à arqueologia e às ciências sociais e um semestre com edição dedicada às letras e à linguística, podendo haver chamadas com temáticas específicas.
Periodicidade semestral
Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade | Unicamp | [2006]
A Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade (Campinas, [2006]-) é uma publicação semestral do Centro de Estudos e Documentação sobre o Pensamento Antigo Clássico, Helenístico e sua Posteridade Histórica do IFCH-UNICAMP. Destina-se à divulgação de artigos originais, traduções, resenhas e documentos, sobre estudos filosóficos e históricos a respeito do pensamento antigo, redigidos em qualquer língua moderna de difusão científica.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2177- 5850
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Ética e Filosofia Política | USP | 2005
Cadernos de Ética e Filosofia Política (2005-) é vinculada ao programa de pós-graduação do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Publica artigos, resenhas e traduções da área de ética e filosofia política com o intuito de promover o debate acadêmico.
A revista Cadernos de Ética e Filosofia Política, cujo número inaugural foi lançado em 1999, tem, ao longo de mais de duas décadas, ininterruptamente e periodicamente publicado artigos dedicados à área de Filosofia. Os Cadernos visam suprir em alguma medida a demanda por textos especializados e que atendam o estado atual da questão para o campo ao qual se destina, fornecendo bibliografia a um público interessado no caráter multifacetado da reflexão sobre a ética e a política.
As questões relativas ao direito, à história, à religião e às artes não raro são por elas incorporadas, convertendo a um só tempo em sua matéria de investigação e seu cenário de intervenção. É esse caráter abrangente da ética e da filosofia política que lhes concede a virtude da vivacidade. Os Cadernos sempre procuraram corresponder e promover essa virtude, veiculando sobretudo a produção teórica discente, sem distinguir correntes ideológicas, linhas filosóficas ou áreas de saber incluídos nas mais diversas manifestações de reflexão.
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
Periodicidade semestral
ISSN 1517-0128 (Impresso)
ISSN 2317-806X (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Ágora | UFES | 2005
A principal finalidade da Revista Ágora (Vitória, 2005-) é constituir um espaço virtual de debate, de discussão que resulte em ideias originais e iniciativas transformadoras, como outrora se dava entre os gregos, os patriarcas do pensamento ocidental e precursores do conhecimento histórico.
Com esse espírito que convidamos a todos a acessar e contribuir com a manutenção da revista mediante a publicação de artigos inéditos, resenhas, traduções e documentos historiográficos de autoria de mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. Os artigos são agrupados em dossiês ou temas livres.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 1980-0096
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Cognitio | PUC-SP | 2000
Editada pelo Centro de Estudos de Pragmatismo do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Cognitio (2000-) é uma revista de filosofia com foco em temas relacionados principalmente ao Pragmatismo clássico.
A Cognitio propõe-se a publicar artigos, ensaios e comunicações de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, funcionando assim como espaço para um fértil diálogo e debate de ideias entre a comunidade filosófica nacional e internacional. Está, portanto, aberta a contribuições e abordagens diversas, mas que de alguma forma tangenciem o universo teórico do Pragmatismo, afeito à teoria do conhecimento, à semiótica e à lógica, à filosofia da linguagem, à ética e à metafísica. Ainda no âmbito deste projeto, a Cognitio propõe-se a publicar também entrevistas, resenhas, traduções e notícias, entre outras contribuições.
Periodicidade contínua
ISSN 2316 527
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Filosofía Práctica e Historia de las Ideas | INCIHUSA | 2000
¿Por qué Estudios – Filosofía Práctica e Historia de las Ideas? (Mendonza, 2000-) Decía Alberdi que en nuestras naciones la filosofía, si bien se nutría de las fuentes universales del saber, debía surgir de nuestras necesidades. Sin desmedro de la dimensión puramente teórica, Alberdi acentuaba la dimensión práctica del saber filosófico.
En estos días de vertiginosos cambios, fragmentaciones y perplejidades, se hace menester profundizar en la dimensión práctica de la filosofía. Al mismo tiempo se advierte la necesidad de una comprensión histórica que permita desentrañar las contradicciones de nuestro pasado y presente, abrir nuevas perspectivas para la interpretación de la actualidad, evaluar críticamente tradiciones culturales, iluminar las decisiones y orientar las acciones que se proyectan hacia el futuro. La publicación de ESTUDIOS de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas contribuirá a la investigación seria y rigurosa sobre estas problemáticas, a su discusión y clarificación.
Esta publicación pretende, por una parte, ser un vehículo para la difusión y transferencia de la producción científica relativa a los estudios de Filosofía Práctica, Historia de las Ideas y disciplinas o problemáticas afines (estética, ética aplicada, ética social, estudios de género, estudios sobre la cultura, filosofía del derecho, filosofía moral, filosofía política, historia de las ideas latinoamericanas y del Caribe, historia de las ideas ibéricas, problemática de los derechos humanos, entre otras). Por otra parte, aspira a constituirse en un espacio de encuentro, diálogo, discusión, y análisis crítico de propuestas procedentes de todos los rincones del país, de América Latina y del mundo con la sola exigencia de la calidad científica y académica.
Periodicidade semestral.
Acesso livre
ISSN 1851-9490
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos [2006-]
Contextos Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales | UMCE | 1998
Revista Contextos, Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Santiago, 1998-) es una publicación semestral, editada de forma ininterrumpida por la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación desde 1998. Su principal misión es la difusión de trabajos en los que se discuta, analice y reflexione en torno a la literatura, lenguaje, filosofía, artes plásticas, música, comunicación, historia, geografía y semiología.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 0717 7828 (Impresso)
ISSN 0719 1014 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Nietzsche | UFSB/Unifesp | 1996
Fundados em 1996 por Scarlett Marton, os Cadernos Nietzsche são lançados desde então regularmente nos meses de maio e setembro. Publicação do GEN – Grupo de Estudos Nietzsche, os Cadernos contam difundir para um publico de filosofia ou das ciências humanas em geral trabalhos de especialistas estrangeiros e brasileiros, dos mais experientes a doutorandos ou mestrandos.
Espaço aberto para o confronto de interpretações, os Cadernos Nietzsche pretendem veicular artigos que se dedicam a explorar as ideias do filósofo ou desvendar a trama dos seus conceitos, escritos que se consagram à influência por ele exercida ou à repercussão de sua obra, estudos que comparam o tratamento por ele dado a alguns temas com os de outros autores, textos que se detêm na análise de problemas específicos ou no exame de questões precisas, trabalhos que se empenham em avaliar enquanto um todo a atualidade do pensamento nietzschiano.
O título abreviado do periódico é Cad. nietzsche, que deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas.
Periodicidade quadrimestral
Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons do tipo atribuição BY-NC.
ISSN 1413-7755 (Impresso)
ISSN 2316 8242 (Online)
Acessar as resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Filosofia Alemã | USP | 1996
Organizada pelo Grupo de Filosofia Crítica e Modernidade (FiCeM), um grupo de estudos constituído por professores(as) e estudantes de diferentes universidades brasileiras, a revista Cadernos de Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade (ISSN 2318-9800) é uma publicação semestral do Departamento de Filosofia da USP que, iniciada em 1996, pretende estimular o debate de questões importantes para a compreensão da modernidade.
Tendo como ponto de partida filósofos(as) de língua alemã, cujo papel na constituição dessa reflexão sobre a modernidade foi – e ainda é – reconhecidamente decisivo, os Cadernos de Filosofia Alemã não se circunscrevem, todavia, ao pensamento veiculado em alemão, buscando antes um alargamento de fronteiras que faça jus ao mote, entre nós consagrado, da filosofia como “um convite à liberdade e à alegria da reflexão”.
Periodicidade semestral
Sob a licença Creative Commons Non Commercial – Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Acessar resenhas
Acessara dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Dissertatio | UFPEL | 1995
A Revista Dissertatio de Filosofia (RDF) (1995) é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas.
RDF publica artigos originais, estudos críticos, traduções devidamente autorizadas pelos autores e/ou representantes legais, com introdução, comentários e notas de temas relevantes na História da Filosofia, assim como resenhas. Desde 2015, a RDF começou a publicar volumes de fluxo contínuo e volumes suplementares em um mesmo número, ao invés de intercalar volumes de fluxo contínuo com números temáticos (dossiês).
Em 2016, a Revista Dissertatio de Filosofia migrou para a Plataforma Open Journals (viabilizada pelo Public Knowledge Project), com o objetivo de qualificar e agilizar seus processos editoriais. Em 2017, o objetivo é intensificar o processo já em curso de internacionalização. Neste sentido, a periodicidade da revista passará a ser quadrimestral, seguindo as diretrizes dos principais indexadores internacionais.
Periodicidade semestral
Revista licenciada pela CREATIVE COMMONS ATRIBUIÇÃO 4.0 INTERNACIONAL. Com esta licença os leitores podem copiar e compartilhar o conteúdo dos artigos em qualquer meio ou formato, desde que o autor seja devidamente citado.
ISSN 1983 8891
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos [A partir de 2007]
Espinosanos | USP | 1995
O Grupo de Estudos Espinosanos do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, nasceu em 1995. Ao longo deste período, diversas atividades foram desenvolvidas e procurou-se fazer o registro delas para, como diz Espinosa, tentar contornar as forças do “tempo voraz que tudo abole da memória dos homens”. Os Cadernos Espinosanos se inspiram nesse propósito.
Desde o número X, dedicado ao Professor Lívio Teixeira, os Cadernos estão dedicados também a Estudos sobre o século XVII, seu subtítulo. O que, na verdade, expressa algo que já acontecia na prática, pois textos acerca de vários outros filósofos do período sempre estiveram presentes a cada edição.
O objetivo destes Cadernos continua sendo publicar semestralmente trabalhos sobre filósofos seiscentistas, constituindo um canal de expressão dos estudantes e pesquisadores deste e de outros departamentos de Filosofia do país.
Porque destinados a auxiliar bibliograficamente aos que estudam o Seiscentos, tanto para os trabalhos de aproveitamento de cursos, quanto para a elaboração de outros projetos de pesquisa, estes Cadernos também publicarão, regularmente, ensaios de autores brasileiros e traduções de textos estrangeiros, contribuindo com o acervo sobre o assunto.
Esperamos que esta iniciativa estimule os estudos sobre os filósofos daquele período a que esta publicação é inteiramente dedicada e permita criar ou ampliar a comunicação entre os que estão envolvidos com a pesquisa desses temas, incentivando, inclusive, outros departamentos de Filosofia a colaborar conosco no desenvolvimento deste trabalho.*
Periodicidade semestral (Julho e Dezembro)
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
ISSN 2447 9012 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
CEBRAP | CEBRAP | 1981
Novos Estudos CEBRAP (1981) é uma publicação quadrimestral impressa e on-line do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Destina-se à publicação de trabalhos científicos originais nas áreas de Sociologia, Política, Economia, Direito, Filosofia, Antropologia, Artes e Humanidades. O objetivo da revista é publicar estudos relevantes e contribuir para o debate intelectual com uma variedade de temas.
Periodicidade quadrimestral.
Acesso livre.
ISSN 1980-5403
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
IHGB | IHGB | 1839
Circulando regularmente desde 1839, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Rio de Janeiro, 1839) é uma das mais longevas publicações especializadas do mundo ocidental. Destina-se a divulgar a produção do corpo social do Instituto, bem como contribuições de historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, arquitetos, etnólogos, arqueólogos, museólogos e documentalistas de um modo geral.
Periodicidade trimestral.
Acesso livre
ISSN 0101 – 4366 (Impresso)
ISSN 2526-1347 (Online)
Acesse resenhas [Coletar 1960-2000]
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos












![Artefilosofia | UFOP | [2009] 13 ARtefilosofia2 História da Biologia](https://www.resenhacritica.com.br/wp-content/uploads/2009/01/ARtefilosofia2.jpg)




![Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade | Unicamp | [2006] 18 Estudos Filosoficos e Historicos da Antiguidade História da Biologia](https://www.resenhacritica.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Estudos-Filosoficos-e-Historicos-da-Antiguidade.jpg)