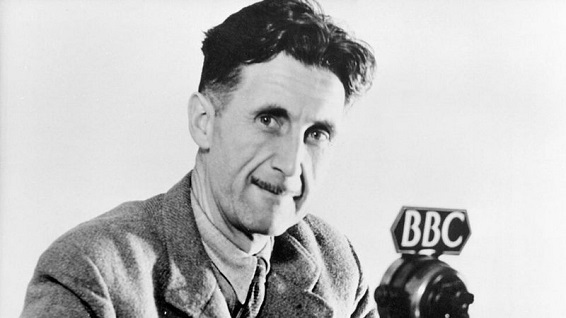Posts com a Tag ‘Companhia das Letras (E)’
Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900 – CROSBY (AN)
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Tradução: José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011. Resenha de: VENCATTO, Rudy Nick. .Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 331-338, jul. 2013.
As questões socioambientais ganharam um grande impulso nas discussões acadêmicas, principalmente no final do século XX e início do século XXI. É neste cenário que a obra de Alfred W. Crosby1, Imperialismo Ecológico: a expansão biológica da Europa 900-1900 ressurge, no ano de 2011. Publicado primeiramente no ano de 1986, nos Estados Unidos, o livro foi lançado no Brasil pela Editora Companhia das Letras no ano de 2011, em uma versão de bolso, fruto de uma tradução da primeira reimpressão, que data de 1991.
Cabe aqui uma primeira reflexão plausível de debates. Por que uma obra lançada no século passado ganha evidência no Brasil somente no ano de 2011? Em um panorama no qual as preocupações ambientais auferiram lugar de destaque, editar uma obra com tal magnitude de discussão significa também, para a editora, um mercado de circulação favorável. Além disso, é inegável que a temática abordada por Alfred Crosby é pertinente, não somente neste século, mas sim, em qualquer temporalidade, pois proporciona diferentes olhares sobre os movimentos expansionistas e coloniais, estimulando, assim, a quebra de alguns paradigmas.
De uma forma geral, a obra de Alfred W. Crosby problematiza o processo de expansão das populações europeias, principalmente por volta dos 0 a 1900, porém sem perder de vista um recorte temporal mais longínquo. O foco de sua discussão concentra-se na invasão biológica lançada pelas levas europeias em outras regiões do planeta, as quais constituíram aquilo que denominou-se de “biota portátil”2. Crosby aufere um lugar protagonista à biota portátil, sendo ela responsável por expulsar ou até mesmo eliminar a flora, fauna e os habitantes nativos de distintas regiões do mundo, dando origem às “Neoeuropas”, ou seja, Austrália, Nova Zelândia e América.
Para tal reflexão, sua obra foi dividida em doze capítulos, ao longo dos quais, Crosby passeia da Pangeia, há aproximadamente 180 milhões de anos, até 1900. Segundo ele, neste período, as Neoeuropas já estão constituídas e, por sua vez, são responsáveis pelo abastecimento mundial de alimentos estando todas situadas em latitudes similares, em zonas temperadas dos hemisférios norte e sul, possuindo a grosso modo, o mesmo clima. Como introdução, Crosby lança explicações para delimitar seu tema, partindo de uma preocupação central: entender as razões que levaram os europeus e seus descendentes a estarem distribuídos por toda a extensão do globo.
Segundo Alfred Crosby, o bom desempenho das campanhas imperialistas e expansionistas europeias está ligado a questões ecológicas e biológicas. Porém, ao fazer estas afirmações, o autor acaba por simplificar estas campanhas, e/ou, até mesmo, naturalizálas, diminuindo, assim, a relevância das questões econômicas, políticas e culturais que também foram agentes neste processo. Trata-se de uma afirmação audaciosa que por vez pode direcionar os leitores a caírem na malha discursiva do autor, tomando os movimentos de conquista e extermínio enquanto ações naturais, ligadas apenas a questões biológicas.
É no segundo capítulo intitulado, Revisitando a Pangeia: o Neo lítico Reconsiderado, que Crosby passa a olhar mais atento para o processo de evolução e desenvolvimento de diferentes espécies, tomando como eixo de análise a divisão da Pangeia3. Para Crosby, este movimento definidor dos continentes proporcionou que muitas formas de vida se desenvolvessem de maneira independente e em muitos casos, com exclusividade, o que, segundo o autor, pode explicar as diferenças extremas de fl ora e fauna entre a Europa e as Neoeuropas.
Chama atenção a definição de cultura que Crosby traz para sua análise. É cabível de compreensão que sua concepção adapta-se aos interesses que procura desvendar neste processo de investigação, apresentando de forma limitada uma categoria de análise tomada por tanta complexidade e debatida em várias áreas das ciências humanas.
Para Crosby (2011, p. 25), cultura pode ser entendida enquanto: […] um sistema de armazenamento e alteração de padrões de comportamento, não nas moléculas do código genético, mas nas células do cérebro. Essa mudança tornou os membros do gênero Homo os maiores especialistas em adaptabilidade de toda natureza.
Para o crítico literário Raymond Williams, os conceitos são elementos historicamente constituídos, fixando sentidos, imagens e margens de significações que, muitas vezes, imobilizam o passado no passado. Os conceitos, antes de empregados como verdades ou paradigmas, devem ser vistos e problematizados em seu movimento, levando em consideração o espaço e o tempo em que foram criados.
Só assim será possível aplicar análises que venham a compreender os sentidos cristalizados, vividos em outras temporalidades (WILLIANS, 2001). Neste sentido, para além da proposta de Crosby, cultura deve ser entendida não apenas enquanto manifestações biológicas, mas sim enquanto um complexo de relações que são constitutivas e constituintes dos sujeitos humanos.
A partir da concepção biológica de cultura, Crosby levanta hipóteses sobre o desaparecimento dos grandes mamíferos em localidades onde o gênero Homo fora se estabelecendo. Para o autor, as doenças e o fogo utilizado para efetivar grandes queimadas podem ter alterado o hábitat dos gigantes tornando impossíveis a vida e a reprodução. Segundo Alfred Crosby, este processo foi uma mutação cultural que deu origem à “Revolução do Neolítico”4.
No terceiro capítulo, intitulado Os Escandinavos e os Cruzados, Crosby dá ênfase às primeiras colônias ultramarinas da Europa, sendo elas: a Islândia e a Groenlândia. Estabelecidas por populações escandinavas, estas, por sua vez, contribuíram para a criação de mecanismos necessários para o bom desempenho das navegações no século XV. Segundo o autor, o sucesso nestas colônias esteve relacionado à competência náutica, à capacidade de lidar com atividades da pecuária e à adaptação a uma alimentação a base de leite.
Por outro lado, o fracasso, mais tarde, também está relacionado às questões fisiológicas e estratégicas. Para ele, a ausência de cereais, madeira e ferro nestas localidades, tornava o contato comercial com esse continente inviável, e o resultado por um maior intervalo de tempo sem contato com o continente europeu era o extermínio por surtos de epidemias. Em suas palavras, “[…] as doenças infecciosas davam a impressão de trabalhar não para os escandinavos, mas contra eles.” (CROSBY, 2011, p. 64).
No discurso de Crosby, os agentes patógenes que muitas vezes passam despercebidos na análise dos processos de colonização são cruciais para compreender os sucessos e fracassos das expansões europeias. Entretanto, não se deve perder de vista que agentes culturais como costumes, língua, religião, entre outros, são de suma importância para uma compreensão mais abrangente sobre estas campanhas. Olhar somente para a biota portátil significa dar muito crédito a um único conjunto de fatores. Faz-se necessário somar outros elementos que tiveram papel ativo neste processo de ocupação e colonização.
Por outro lado, a quebra de paradigmas que Crosby possibilita é plausível de elogios. É ainda no terceiro capítulo que, fazendo uso de uma rica documentação baseada em cartas de navegação e diários de navegadores, o autor torna possível quebrar com os mode los explicativos que cristalizam o contato e a ocupação europeia do continente americano, apenas enquanto fruto das navegações do século XV. Problematizando a chegada dos escandinavos na região do atual Canadá, Crosby contribui para perceber a história enquanto movimento e processo, estabelecendo, assim, uma série de novos elementos para esta refl exão.
O quarto capítulo é As Ilhas Afortunadas; o quinto, Ventos; e o sexto, Fácil de alcançar, difícil de agarrar, figuram o processo de expansão marítima empreendido pela Europa entre os séculos XIV e XV.
São nesses capítulos que o autor chama atenção às funções dos arqui pélagos para os navegadores. Passando de sinais de orientação no oceano a lugares de abastecimento, tornaram-se, mais tarde, elos entre as metrópoles e as colônias. Para Crosby, os arquipélagos funcionaram como experimentos no processo de expansão das atividades agrícolas e pecuárias. Transformar ilhas em lugares de abastecimento significava disseminar espécies de animais, muitas das quais, num período longo de tempo, acabaram causando alterações nos elementos da fl ora e fauna. Segundo Crosby, (2011, p. 86) “É possível que plantas nativas tenham desa parecido e animais nativos tenham morrido por falta de alimento e abrigo”.
O autor levanta uma refl exão que impulsiona os leitores a pensar sobre a instabilidade do ambiente natural. Para Crosby, muitas espécies que se julgam nativas de um lugar foram em algum tempo trazidas pelos europeus, espalhando-se e levando a crer que sempre existiram em um determinado espaço. Perceber que espécies dora vante tomadas enquanto nativas foram em outros tempos, introdu zidas consciente ou inconscientemente por migrações humanas, significa perce ber os sujeitos humanos num processo relacional com a natureza.
Penso neste momento no trabalho de Simon Schama, Paisagem e memória (1996), no qual, segundo o autor, antes mesmo de estarmos lidando com uma natureza, estamos lidando com uma paisagem, ou seja, olhares que foram lançados sobre a natureza e que, de alguma manei ra, instituem significados para esses espaços. Schama instiga a perceber a natureza não apenas por olhares da botânica ou dos bió logos, mas sim a partir dos usos e das representações presentes no imaginário dos seres humanos. Para o autor, é necessário redescobrir o que já possuímos, mas que, de alguma forma, escapa-nos ao reconhecimento e à apreciação. Através desta concepção, é possível estar atento à rique za, à antiguidade e à complexidade da tradição paisagística com relação aos modos de ver a natureza.
O sétimo capítulo é Ervas; o oitavo, Animais; e o nono, Doenças, dão ênfase, e Crosby não poupa em exemplos, na expansão da biota portátil que, para o autor, fora o principal agente delimitador do sucesso na constituição das Neoeuropas. São nestes capítulos que, sutilmente, Crosby diminui o peso das ações de extermínio causadas pelo expansionismo europeu. Para ele, as mudanças também fugiram do controle humano quando algumas espécies de animais como o rato embarcaram nos porões dos navios levando consigo um universo de agentes patológicos. Para Crosby (2011, p. 201-202), “Isso parece indicar que os seres humanos raras vezes foram senho res das mudanças biológicas que provocaram nas Neoeuropas.”.
É no nono capítulo que essa abordagem é realizada com maior cautela. Crosby dá grande ênfase às ações modificadoras causadas pelos agentes patógenes, excluindo, assim, de maneira sutil, a responsabilidade europeia pela ação e devastação nas colônias ultramarinas.
Em suas palavras, “Foram os seus germes os principais responsáveis pela devastação dos indígenas e pela abertura das Neoeuropas à dominação demográfica”. (2011, p. 205). De certa forma, cabe pensar que quando a ação das enfermidades fora percebida pelos europeus, a mesma passou a ser utilizada enquanto arma no processo de expansão.
Neste caso, excluir a intenção e dar ênfase somente à biota, significa realizar uma anistia no processo de extermínio e isentar os conquistadores das chacinas realizadas.
No décimo capítulo, Nova Zelândia, o autor preocupa-se em destacar o caráter distinto da formação dessa Neoeuropa. Baseando-se em trabalhos de botânica e analisando o processo de colonização da Nova Zelândia, Crosby aprofunda-se na compreensão das mudanças proporcionadas pela biota portátil. Este capítulo emerge enquanto exemplo mais específico, para dar legitimação à análise proposta pelo autor em ressaltar as interferências europeias nos outros continentes.
É nos capítulos décimo primeiro, Explicações e décimo segun do, Conclusão, que Alfred Crosby procura fechar sua análise, mas sem esgotar as possibilidades de refl exão. Cabe destacar que, ainda no capítulo Explicações, o autor retoma a explicação daquilo que seria a biota portátil tornando, de certa forma, algo maçante em seu texto.
Por outro lado, este balanço final vem enquanto auxílio aos leitores que não se debruçam pelos caminhos de toda a obra. Mais uma vez, Crosby vai insistir no discurso que naturaliza o processo de invasão e extermínio causado pela expansão europeia. Um de seus argumentos concentra-se ao fato de que, por volta do século XV, as modificações e devastações de espécies vivas já faziam parte do processo de evolução destes continentes. Em suas palavras: “Em 1500, o ecossistema dos pampas estava arrasado, desgastado, incompleto – como um brinquedo nas mãos de um colosso pouco cuidadoso.” (CROSBY, 2011, p. 290).
Alfred Crosby estimula a olhar para os movimentos migra tórios, sejam eles no Neolítico ou no século XV, enquanto duas levas de invasores da mesma espécie. Para ele, os primeiros atuaram como tropa de choque abrindo caminho para a segunda leva, a qual, numericamente maior, estava equipada com economias mais complexas.
(CROSBY, 2011, p. 291).
De certa forma, O imperialismo ecológico, de Alfred Crosby, possibilita lançar olhares para outros elementos que também são significativos na compreensão dos processos de expansão e colonização difundidos pelo globo. Porém, faz-se necessário, ao longo do texto, estar atento para não naturalizar estas ações humanas, as quais, no discurso do autor, ganham uma imparcialidade perante os agentes naturais. Olhar para as modificações impulsionadas pelas navegações significa não perder de vista os agentes políticos, econômicos e sociais presentes neste processo.
É significativo pensar no caráter da biota portátil e sua capacidade de modificação dos espaços. Caminhar pelas linhas do Imperialismo Ecológico, de Crosby, permite estar atento a esses agentes.
Entretanto, é de suma importância não cair nas amarras e deixar de lado a bagagem cultural que se desloca com esses movimentos migra tórios, levando consigo, transformações e adaptações. Olhar para ambos os aspectos torna a compreensão das ações humanas mais esclarecedoras e possibilita não perder de vista as ações e decisões humanas, imbricadas em diferentes conjunturas e temporalidades.
Notas
1 Nascido em Boston, em 1931, o autor estadunidense atuou em diversas universidades americanas e se estabeleceu na Universidade do Texas, em Austin, onde aposentou-se, no ano de 1999. Suas pesquisas ao longo de sua carreira contemplaram principalmente questões voltadas para a história biológica, assumindo como maior preocupação as ações e interferências causadas pelos processos evolutivos de diferentes espécies de seres vivos.
2 Conjunto de animais, plantas e doenças que navegaram com os europeus efetivando projetos de colonização e dominação de novas terras.
3 Massa única de terra a qual, após sua divisão, deu origem aos continentes. Este movimento iniciou-se por volta de 200 milhões de anos atrás.
4 Para Crosby, essa revolução ocorreu quando os humanos passaram a triturar e polir. Mais tarde vem o surgimento da agricultura e a domesticação dos animais, a qual vai iniciar primeiramente no Velho Mundo (Europa) e mais tarde nas Neoeuropas. (2011, p. 29).
Referências
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900.
Tradução de José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011.
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
WILLIAMS, Raymond. Cultura y sociedad. 1780-1950. De Colerige a Orwell, Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.
Rudy Nick Vencatto – Docente do Curso de História da Universidade Paranaense – UNIPAR e doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. E-mail: [email protected].
Represálias selvagens: realidade e ficção na literatura de Charles Dickens, Gustave Flaubert e Thomas Mann – GAY (C)
GAY, Peter. Represálias selvagens: realidade e ficção na literatura de Charles Dickens, Gustave Flaubert e Thomas Mann. Trad. de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Conjectura, Caxias do Sul, v. 18, n. 2, p. 157-162, maio/ago, 2013.
Literatura e história: aproximações teóricas e divergências metodológicas
A narração não podia ter uma condição própria, pois, conforme os casos, estava submetida às disposições e às figuras da arte retórica, ou seja, era considerada como o lugar onde se revelava o sentido dos próprios fatos ou era percebida como um obstáculo importante para o conhecimento verdadeiro. […] Só o questionamento dessa epistemologia da coincidência e a tomada de consciência sobre a brecha existente entre o passado e sua representação, entre o que foi e o que não é mais e as construções narrativas que se propõem ocupar o lugar desse passado permitiram o desenvolvimento de uma reflexão sobre a história, entendida como uma escritura sempre construída a partir de figuras retóricas e de estruturas narrativas que também são as da ficção. (CHARTIER, 2009, p. 12).
Assim, Roger Chartier, em seu livro A história ou a leitura do tempo, resumia as contendas entre historiadores, críticos literários e filósofos nos anos 1960 e 1970, e que se desdobraria na “crise da história” dos anos 1980 e 1990. Na década de 1970, o historiador Peter Gay não deixou de lado essas questões, mas seu caminho seguiu um rumo também peculiar. Em suas obras: O estilo na História: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt (de 1974), Arte e ação: as causas na história – Manet, Gropius, Mondrian (de 1976) e Freud para historiadores (de 1985), além de “pagar seu tributo à historiografia”, com uma trilogia não planejada, o autor também revisou o campo dos estudos históricos, ao propor articular novamente arte e ciência na escrita da história, em uma abordagem inovadora sobre o estudo da história social das ideias, utilizando-se das contribuições da Psicologia (em especial, da Psicanálise), para entender os homens e as sociedades do passado.
Ao publicar, em 1974, O estilo na história, ele não destacava especial apreço, ou atenção, sobre as discussões a respeito da “virada linguística”, proporcionada pela recepção do estruturalismo e do pós-estruturalismo francês nos Estados Unidos. Como ele próprio indica no livro, destinava maior consideração aos trabalhos de Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ferdinand de Saussure (1857-1913), Claude Lévi-Strauss (1908-2008) e Erich Auerbach (1892-1957). Principalmente o último, que o marcou profundamente, ao ler seu livro: Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental, de 1946. Ao tratar da composição do estilo na obra de cinco historiadores: Edward Gibbon (1737-1794), Leopold von Ranke (1795-1886), Thomas Macaulay (1800-1859), Jacob Burckhardt (1818- 1897) e Theodor Mommsen (1817-1903), discutido na conclusão do livro, acentuaria de modo sutil sua crítica a Roland Barthes (1915-1980). Primeiro, porque o estilo não se encontrava apenas no campo da escrita, mas na sua interação com o escritor, sua época e seu meio. Segundo, porque as metáforas que lhe seriam inerentes não inviabilizavam a representação do princípio da realidade, antes a destacaria com maior sensibilidade e profundidade. Isso porque, ao ser o próprio homem, como o definiu Georges-Louis Leclerc (1707-1778), (mais conhecido como) conde de Buffon, o estilo demarcaria a matéria, a retórica, a maneira e as estratégias da escrita, mas ao ser também mais do que ele, como destacou Peter Gay, o estilo “nem sempre é o homem, decerto não o homem por inteiro”, mostraria sua relação com o “contexto de produção”, com o “lugar social ocupado pelo autor”, suas “leituras” e sua “formação”. Com isso, o estilo “por vezes, é menos do que o homem; com frequência é mais que ele”. (1990, p. 193).
Por isso, também, o estilo “é a arte da ciência do historiador”. Não foi por acaso, nesse sentido, que a continuidade de seus estudos, nesse campo, o levasse a analisar a “causalidade na história”, e a maneira como se apresentava na escrita, mas tendo em vista seus contornos em “artistas”, e não, nesse caso, em “historiadores”, como mostrou em seu livro: Arte e ação: as causas na história – Manet, Gropius, Mondrian (de 1976). No início dos anos de 1980, o autor prolonga tal esforço metodológico, apresentando sua proposta de aproximar a escrita da história, com a análise do “inconsciente”, exposta pela Psicanálise – tendo em vista a obra de Sigmund Freud (1856-1939), de seus seguidores e intérpretes (GAY, 1989b).
Assim, a sua “justificativa para a história como uma ciência elegante, razoavelmente rigorosa, apoiava-se fortemente […] no [s]eu comprometimento com a psicologia, em particular com a psicanálise”. Para o autor, a maior contribuição a ser encontrada nessa aproximação, outrora iniciada pelas descobertas de Marc Bloch (1886-1944) e de Lucien Febvre (1878-1956), com o movimento que geraram a partir da revista Annales, é que a “história psicanalítica pode entrar para expandir a nossa definição de história total decisivamente ao incluir o inconsciente, e o incessante tráfico entre a mente e o mundo, no território legítimo da pesquisa do historiador”.
(1989a, p. 165). Apesar de não dialogar diretamente, até este momento, com os filósofos franceses dos anos 60, que contribuíram para desencadear “a virada lingüística”, que nos Estados Unidos trouxe um grande impacto, ao questionarem a maneira pela qual os estudos históricos eram apresentados em suas formas narrativas, a obra de Peter Gay, nem por isso, deixou de reiterar a incontornável ligação entre a arte e a ciência, sobre os estilos da escrita da história apreendidos pelo historiador.
Quase duas décadas depois de concluir sua trilogia, sobre o estilo e suas relações com a história e sua escrita, o autor volta-se agora com maior atenção para o que até então havia deixado um pouco de lado, o romance e sua representação da realidade. Por que não só de divergências são constituídos os discursos histórico e literário. E seu livro Represálias selvagens (originalmente publicado em 2002), neste caso, não é apenas uma reconciliação do autor com o campo da produção literária, mas também um avanço quanto as suas análises sobre o estilo e a maneira pela qual caracteriza autor e obra, ao abordar o “princípio de realidade” contido na escrita – tanto da narrativa histórica, quanto na do romance. Contudo, o estudo da produção literária exige certa cautela, porque o romance encontra-se na “intersecção estratégica entre a cultura e o indivíduo, o macro e o micro, apresentando ideias e práticas políticas, sociais, religiosas, desenvolvimentos portentosos e conflitos memoráveis, num cenário íntimo”.
(GAY, 2010, p. 16). Apesar de os leitores quererem confiar “nos escritores de ficção tanto quanto acham que querem confiar nos historiadores”, ambos constroem representações peculiares sobre a realidade. Ainda que as aproximações teóricas, sobre os espaços de análise do romancista e do historiador sejam evidentes, há divergências metodológicas significativas na maneira como cada um procede com as fontes e reconstrói o vivido.
Para realizar seu estudo, o autor pautou-se na trajetória de três romancistas representativos do século XIX e início do XX: Charles Dickens (1812-1870), Gustave Flaubert (1821-1880) e Thomas Mann (1875-1955), dando destaque, respectivamente, aos seus romances: Casa sombria (de 1852- 1853), Madame Bovary (de 1857), e Os Buddenbrook (de 1900). Poderíamos resumir seus objetivos, neste livro, em três questionamentos principais, a saber: 1 – De que maneira a Literatura (e a História) (re)constrói uma representação peculiar da realidade?; 2 – Como uma visão de mundo molda uma linguagem e forja uma prática discursiva?; 3 – E de que modo a linguagem é perpassada por ideologias (ou por componentes ideológicos)? Para ele, Dickens teria sido um anarquista zangado (ao criticar e satirizar a sociedade inglesa da Era Vitoriana), Flaubert um anatomista fóbico (por ver os pormenores das relações sexuais e ironizar a maneira pela qual a sociedade francesa da Belle Époque viam-nas como um tabu) e Mann um aristocrata rebelde (ao viver silenciosamente sua homossexualidade e expor o cotidiano da aristocracia alemã oitocentista), em suas formas específicas de apreenderem o princípio de realidade nos seus romances históricos.
Apesar das evidentes contribuições que esses romances, e seus autores, possam trazer para a pesquisa histórica, o historiador deve ter claro que seu uso “é severamente limitado”, ainda que o “mundo que o romancista realista cria [seja] o mesmo do historiador, apenas alcançado por seus próprios caminhos” (p. 141), e que ambos tenham também em comum “o estudo das mentes individuais e das mentalidades coletivas”. (p. 144).
Dito isso, o autor passa a verificar por que a crítica pós-moderna, ao delinear o espaço de produção da história e do romance, estabelece uma fronteira tênue quanto ao significado da verdade, e seu alcance entre esses diferentes discursos narrativos. Se Jacques Derrida (1930-2004) foi o guru do movimento, Hayden White foi, sem dúvida, “o mais influente entre os historiadores pós-modernistas”, e “levou a perspectiva relativista a seus limites” (p. 145-46), ao ver indistintamente o discurso histórico e o discurso literário: “Ele converte a história num tipo de romance (geralmente não reconhecido) sobre o passado.” (p. 176). Para dar maior consistência aos seus argumentos, Peter Gay demonstra por que foi importante para Hayden White alinhar sua trajetória com os apontamentos centrais da virada linguística, estabelecendo uma relação direta com as obras de Michel Foucault e Friedrich Nietzsche. O que, em suas palavras, se constituiria como o mestre desse autor, “como de outros pós-modernistas, é (além de Friedrich Nietzsche, o favorito de todo mundo nesta escola de pensamento) Michel Foucault. Mas, o “principal problema com as excursões pós-modernistas de Foucault na história é que sua psicologia é irremediavelmente reducionista: para ele, é tudo uma questão de poder, de uma conspiração meio involuntária dos que têm contra os que não têm [o poder em suas mãos]”. (p. 176-77).
Para ele, as mesmas ressalvas seriam válidas para outros pós-modernistas (como: Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard). De acordo com ele: Para os pós-modernistas, os fatos não são descobertos, mas criados; seus ancestrais intelectuais, remontando ao menos até Goethe, insistiram por muito tempo que todo fato já é uma interpretação.
Como uma interpretação social, é inerentemente modelado pelos mitos dominantes que mantêm o historiador (bem como o romancista) preso em sua garra de ferro. Vieses, antolhos, estreiteza de visão, pontos cegos, toda espécie de impedimentos à objetividade são essenciais na própria natureza de todos os esforços humanos para conhecer; o estudioso do passado é o prisioneiro de sua própria história pessoal. Nessa visão, escrever história é apenas outra maneira de escrever ficção. (p. 146, grifo nosso).
Postura frágil, o pós-modernismo, para o autor estabeleceria sutilmente: À parte seu absurdo inerente, a tentativa pós-modernista de reduzir à irrelevância a busca da verdade empreendida pelo historiador tem conseqüências práticas. Forçaria os escritores de fatos e os escritores de ficção a um casamento indesejado sob a mira de uma arma. […] O que significa que os historiadores não precisam dos pós-modernistas para lhes dizer que o ponto de vista de profissionais individuais, em parte inconsciente, pode impedir um tratamento objetivo do passado. Eles assim afirmariam ao desmascarar alegremente a parcialidade dos outros. Mas tratariam essas armadilhas no caminho para a verdade antes como obstáculos a ser superados do que como leis da natureza humana a ser humildemente seguidas. (p. 146-148).
O que significa que os “debates dos historiadores (sem os quais a profissão seria reduzida a um tedioso relato de fatos universalmente aceitos) fazem parte de um interminável empreendimento coletivo que tenta se aproximar do exato ideal de lorde Acton: um acordo inteiramente bem informado sobre o passado”. Além disso, nenhuma “das objeções propostas contra esse ideal é válida”, por que para “falar sem rodeios: pode haver história na ficção, mas não haver ficção na história”. (p. 150).
Após resumirmos os principais pontos da discussão do autor nos anos 1970 e 1980, e o modo como avança sobre eles neste livro (ainda que nos aspectos fundamentais não tenha mudado sua perspectiva de análise), podemos passar a algumas constatações: a) mesmo não considerando todos os argumentos provenientes da virada linguística nos anos 1970 e 1980, o autor não deixou de lado tal questão, e ao voltar sobre ela, além de resumir as principais fragilidades dessa postura, e do empreendimento pós-moderno (que lhe deu continuidade), também demonstrou a importância dos romances para a pesquisa histórica; b) ao indicar as especificidades metodológicas do discurso histórico e do discurso literário, o autor também mostrou que os caminhos como cada um chega à, ou pensa, a verdade são diversos; c) como diversos são ainda os recursos que ambos têm à disposição para, a partir do princípio de realidade, construir suas narrativas.
Referências
CHARTIER, R. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
GAY, P. O estilo na história: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt. Trad. de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
____. Freud para historiadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. Resenha recebida em 21 de setembro de 2012 e aprovada em 5 de outubro de 2012.
Diogo da Silva Roiz – Mestre em História pela Unesp. Professor na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Campo Grande – MS – Brasil. E-mail:[email protected]
Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador – SINGER (NE-C)
SINGER, André. Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. Resenha de: MIGUEL, Luis Felipe Limites da transformação social no Brasil. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.95, Mar 2013.
No primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), o cientista político e jornalista André Singer ocupou a função de porta-voz da presidência da República. No segundo mandato, de volta ao mundo acadêmico, colocou-se na posição de intérprete do “lulismo”, buscando entender algo que, para ele, é mais do que a simples adesão a um líder carismático: é um projeto político complexo, baseado no apoio da massa de excluídos e voltado para a superação da miséria sem o enfrentamento dos privilégios. Apresentado em artigos que causaram razoável polêmica, o argumento está agora consolidado no livro Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador, que reúne os três textos antes publicados e acrescenta a eles uma introdução e um capítulo inéditos. Como posfácio, o autor inclui uma versão modificada do memorial que apresentou ao concurso para livre-docência na Universidade de São Paulo, mas que – à parte desvelar sua relação afetiva com o ideário original do Partido dos Trabalhadores – pouco soma ao livro.
Essa vinculação, no entanto, não é irrelevante. No início do livro, Singer faz o elogio ritual da “objetividade científica”, garantindo que o trabalho não é contaminado por suas preferências e afetos políticos. Evidentemente, não é assim – e não há nenhum demérito nisso. Os sentidos do lulismo tem a ambição de mostrar que, no PT de hoje, que abraça Paulo Maluf e se entrega gostosamente às práticas da política tradicional brasileira, ainda sobrevive o compromisso popular e mesmo socialista dos primeiros anos. Não se trata de negar as mudanças sofridas pelo partido, nem o caráter conservador delas, mas de enquadrá-las numa narrativa em que aquilo que, à primeira vista, parecia ser oportunismo ou capitulação se torna peça de um projeto, muito moderado, é verdade, mas orientado decididamente na direção da mudança do país.
A tese principal do livro é que o “reformismo fraco” do lulismo não é o abandono, muito menos a traição, e sim a “diluição” do “reformismo forte” do petismo de antes. O reformismo diluído lulista evita a todo custo o confronto com a burguesia, optando por políticas que, na aparência, não afetam quaisquer interesses estabelecidos. Tal opção não se deve, ou não se deve principalmente, ao jeito matreiro e ao pendor acomodatício do ex-presidente, como a imprensa gosta de afirmar. É fruto, por um lado, da chantagem que os proprietários fizeram nas campanhas presidenciais do pt, desde a ameaça aberta de desinvestimento em 1989 até a elevação exagerada do câmbio em 2002. Lula aprendeu que não deve mexer com o capital. Por outro lado, a diluição do reformismo reflete a compreensão de que o maior contingente do eleitorado brasileiro – o “subproletariado”, segundo o conceito que o livro busca na obra de Paul Singer – deseja um Estado ativo no combate à pobreza, mas que não ponha em risco a manutenção da “ordem”.
O subproletariado reúne aqueles que não conseguem vender sua força de trabalho pelo valor necessário para sua própria reprodução e que formariam cerca de metade da população economicamente ativa do Brasil. Singer discute, com algum cuidado, a opção pelo conceito, em vez de falar em “excluídos” ou mesmo na “ralé” dos livros de Jessé Souza. É o gancho para sua defesa de uma análise das disputas políticas focada nas classes sociais, que parte da observação – correta – de que, ao deixar esse eixo de lado, a ciência política se torna insensível a elementos centrais do conflito de interesses na sociedade. A ambição é mostrar que as decisões eleitorais acompanham as clivagens de classes. No entanto, o argumento é enfraquecido pelo fato de que, em boa parte da análise, voto classista é tratado como equivalente de voto econômico.
O ponto é intrincado porque, na percepção de Singer, o subproletariado tem como único projeto deixar de existir, isto é, transformar-se em proletariado. Ele deseja ser incorporado ao mercado formal de trabalho, receber salários que garantam um padrão mínimo de consumo e gozar das garantias que o Estado concede a esses trabalhadores. O livro observa, com razão, que a “nova classe média”, tão badalada, é na verdade formada por neoproletários, sejam eles operários tradicionais da indústria ou empregados dos escalões inferiores do crescente setor de serviços. São setores intermediários, sim, porque abaixo deles permanece o subproletariado, mas estão longe de possuir as características associadas às classes médias propriamente ditas.
No meio disso tudo, as classes, protagonistas da narrativa do livro, não se caracterizam por quaisquer antagonismos – que é o que permite a mágica do lulismo, de dar aos pobres sem tirar dos ricos. Como se fosse o avesso da percepção de E. P. Thompson, de que as classes sociais se formam como efeito das lutas que ocorrem no interior da sociedade, aqui a classe surge pela identificação que algum outro agente político faz dos desejos e necessidades de um aglomerado de pessoas. Essa visão explica porque Singer problematiza tão pouco o apego à “ordem” por parte do subproletariado. A ojeriza à desordem, que significa na verdade qualquer política de enfrentamento do capital, explica por que o subproletariado foi historicamente a base eleitoral da direita, por que ele se converteu ao lulismo ao longo do primeiro mandato de Lula e por que tentativas de mobilizá-lo de outra forma, como a buscada pelo MST, não obtiveram êxito mais do que parcial. Mas permanece, ela mesma, inexplicada.
Seja como for, foi a sensibilidade de Lula para o programa dessa camada (um Estado atuando em favor dos mais pobres, sem confrontar a ordem) que permitiu o realinhamento eleitoral de 2006, quando o presidente trocou parte do eleitorado petista tradicional, baseado nas classes médias urbanas mais escolarizadas, pela massa de subproletários. A tese do realinhamento é polêmica, como Singer mesmo indica no livro, mas os dados são eloquentes quando mostram a mudança na base eleitoral dos candidatos presidenciais do PT em 2006 e 2010, em comparação com as disputas anteriores.
A necessidade de manter a ação governamental dentro dos limites da “ordem” tem consequências quanto ao ajuste do foco das políticas. Singer observa, com razão, que o reformismo fraco tem como meta a superação da pobreza, ao passo que o reformismo forte buscava a superação da desigualdade – e que as duas coisas não confluem necessariamente. É essa observação que permite colocar em sUSPeita a tese, central ao livro, da continuidade do programa petista, apesar da diluição de seu componente reformista. A diluição implicou a substituição do horizonte almejado, que deixa de ser um país sem desigualdade para ser um país sem pobreza, como diz o slogan do governo Dilma Rousseff.
Muito mais do que a convivência e o amálgama entre as duas “almas” do pt, como diz Singer, a socialista aguerrida dos primórdios e a moderada de agora, é possível ver a consolidação de uma hegemonia interna, com a marginalização dos setores mais principistas do partido – por mais que, como aponta o livro, muitas de suas teses permaneçam brilhando nas resoluções dos congressos petistas. É uma mudança que se refere ao abandono do projeto não só de transformação socialista das relações de produção, mas também de renovação das práticas políticas, com o aprofundamento da democracia e a revalorização da experiência popular. Quanto a esse quesito, o autor evoca a realização das conferências nacionais de políticas públicas, embora se veja constrangido a reconhecer que seus resultados práticos são “discutíveis”1. Mas é indiscutível a adesão do PT ao “toma lá, dá cá” que caracteriza o jogo político brasileiro.
O questionamento da tese da continuidade entre o petismo inicial e o lulismo não significa que a obra de Singer não faça uma análise competente da gestão do Estado brasileiro desde 2002. A redução da miséria e da pobreza, fruto de uma ação política que a priorizou, por meio de medidas como Bolsa Família, aumentos reais do salário mínimo e ampliação do crédito consignado, além de programas que evitaram ativamente o desaquecimento da economia, como o Minha Casa, Minha Vida, é um fato de enorme relevância política e social, valioso por si só. Mas Os sentidos do lulismo não avança na investigação sobre o impacto da diminuição da pobreza nos padrões de distribuição da riqueza.
De fato, os dados têm mostrado uma redução significativa da desigualdade de renda no Brasil desde o início do governo Lula. Mas os números dizem respeito apenas aos rendimentos do trabalho; dito de outra forma, as disparidades salariais estão diminuindo, sobretudo pela redução do contingente dos que são severamente sub-remunerados – o que já é uma vitória em si, já que a discrepância entre maiores e menores salários, no Brasil, sempre foi obscena. Para críticos das administrações petistas, entre os quais Francisco de Oliveira, o dado esconde o fato de que, ao mesmo tempo, a parcela abocanhada pelo capital, na riqueza nacional, estaria crescendo. Ou seja, os mais pobres seriam beneficiados por políticas compensatórias, ao mesmo tempo que a burguesia auferiria lucros recordes. Singer cita brevemente dados que contradizem essa interpretação e mostram que, na verdade, a participação do trabalho na renda nacional estaria aumentando. Em nota de rodapé, admite que os dados são controversos e que é possível que esteja ocorrendo o contrário. Uma interpretação razoável, baseada nas contas nacionais, parece ficar no meio termo: a repartição da renda entre capital e trabalho tem ficado estável desde o início do século XXI, com o rendimento do capital correspondendo a cerca de três quintos do total.
Se é mesmo assim, os limites da política lulista são bem mais claros do que a narrativa de Singer acaba por indicar. Fato que ecoa uma das ausências importantes do livro, que é a plataforma política do capital. O subproletariado é, evidentemente, personagem importante, tendo encontrado quem realize por ele seu programa. O proletariado seria beneficiado objetivamente com a redução do exército industrial de reserva, o que lhe colocaria em condições mais vantajosas nas disputas salariais. E as classes médias aparecem como as antagonistas, perdendo tanto o sentimento subjetivo de distinção social, que a distância em relação aos mais pobres concedia, quanto as vantagens objetivas advindas do acesso a uma multidão de pessoas dispostas ao subemprego, uma realidade apreendida pela infeliz boutade do ex-ministro Delfim Netto sobre a empregada doméstica como “animal em extinção”. Pouco se fala, porém, de como os interesses da burguesia se expressam. Seguramente porque, no jogo político brasileiro de hoje, que o lulismo não questiona, os interesses do capital são intocáveis.
As vantagens do operariado sob o lulismo também merecem uma atenção maior. André Singer concentra toda a interpretação no efeito que a redução do subemprego tem na correlação de forças dos embates por melhores salários e condições de trabalho. Cita, como sustentação, a elevada proporção de greves que têm obtido reajustes reais para suas categorias profissionais. Mas não leva em conta o fato de que o perfil das categorias paradas mudou, com uma concentração no setor público, bem como o alcance de suas reivindicações. Embora a mudança do perfil da economia brasileira seja apontada, com o peso crescente das commodities e decrescente da produção industrial, o reflexo desse fato na ação política da classe operária não é discutido.
Ao tratar dos governos anteriores, é lembrado o esforço de Fernando Henrique Cardoso para quebrar a espinha do sindicalismo, com sua atuação na greve dos petroleiros de 1995, que seguiu a melhor cartilha thatcherista. Mas o PT também trabalhou na direção do esvaziamento do movimento sindical – e dos movimentos sociais em geral – com políticas de cooptação de suas lideranças, engessamento de suas agendas e sufocamento de suas demandas. Conforme o célebre conselho de François Andrieux a Napoleão, “on ne s’appuie que sur ce qui résiste“: só nos apoiamos sobre o que resiste. Ao dobrar a resistência dos movimentos sociais no Brasil, o PT enfraqueceu sua própria base de apoio. Sua atual incapacidade de mobilização ficou patente no recente julgamento do chamado “mensalão”. Mas não se trata de um efeito colateral ou inesperado. O enfraquecimento dos movimentos sociais que alimentaram a experiência do PT em sua fase heroica representou a garantia dada ao capital de que a inflexão moderada, pragmática ou conservadora, expressa em documentos como a “Carta aos brasileiros” da campanha de Lula em 2002, não seria letra morta. Minando a possibilidade de ação efetiva dos setores que sustentariam um projeto de transformação mais radical, garantiu-se a credibilidade das promessas feitas de manutenção das linhas gerais do modelo de acumulação vigente. Por isso, a afirmação de que o lulismo é vantajoso para a classe operária precisa ser matizada com outros elementos.
Da mesma forma, o entendimento de que os programas de inclusão social do período lulista se tornaram um componente inarredável do consenso político no Brasil parece ter muito de wishful thinking. É verdade que o lulismo avançou sobre as bases eleitorais tradicionais dos partidos de direita e os obriga a uma reorganização do próprio discurso. Nem por isso é preciso aceitar ao pé da letra as afirmações – anódinas e inconvincentes – dos candidatos do psdb, de que vão ampliar os benefícios do Programa Bolsa Família. A verdade efetiva por trás delas só será verificada quando retornarem ao poder. É mais significativa sua guinada para um discurso moralista, que, quando voltado para as classes médias urbanas, ganha um matiz udenista e foco na probidade administrativa, e, quando voltado para os mais pobres, assume a forma do fundamentalismo cristão, voltando-se contra os direitos das mulheres e dos homossexuais. As campanhas de José Serra em 2010 e 2012 são exemplos eloquentes.
A mobilização eleitoral desse tipo de discurso ainda não rendeu os frutos esperados e restam dúvidas sobre o êxito da “americanização” da disputa política no Brasil. Mas é um elemento importante para entender os processos em curso, na redefinição das posições dos principais partidos. Da forma que Singer coloca, o lulismo também teria promovido uma elevação do patamar do consenso político, incluindo o compromisso com a superação da pobreza, o que de alguma maneira até poderia compensar a perda da promessa de uma nova forma de fazer política, que o PT representava. Levando em conta a guinada reacionária no discurso do psdb, os termos da equação se alteram. E nada disso é incompatível com uma proposta de fazer a análise dando centralidade à clivagem de classes: a disputa ideológica faz parte da luta de classes, que não se resume ao aspecto econômico.
Ao final do livro, o leitor não fica inteiramente convencido de que o lulismo é um projeto, realmente, e não a expressão apenas de sensibilidade política e senso de oportunidade. A noção de cesarismo ou bonapartismo, que Singer mobiliza mais de uma vez ao longo da obra, encontra dificuldades para se adaptar a uma democracia eleitoral moderna, mas apresenta vias de interpretação interessantes, sobretudo se lembramos que são soluções conservadoras para impasses na reprodução da dominação.
Escrito com clareza – e justamente por isso se abrindo de maneira franca ao debate -, Os sentidos do lulismo é uma contribuição valiosa para o entendimento da política atual no Brasil. Trata-se de um processo complexo, eivado de ambiguidades e ainda em curso. André Singer ajuda a pensá-lo para além das oposições esquemáticas e dicotomias grosseiras que se apresentam em muitas das análises mais correntes. Entre ganhos sociais que não podem ser negados e o abandono, também inegável, de ideais mais exigentes de sociedade, permanece em aberto o saldo do experimento lulista.
Nota
1 SINGER, A. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 122. [ Links ]
Luis Felipe Miguel – Professor titular de ciência política na Universidade de Brasília, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades (Demodê).
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Outros olhares acerca da Revolução Francesa [1]
A Revolução Francesa foi abordada, e ainda o é, por diversos trabalhos significativos na historiografia mundial. Lynn Hunt, entretanto, em seu livro Política, cultura e classe na Revolução Francesa nos traz uma nova maneira de abordá-la. A autora se encaixa em uma corrente historiográfica denominada como Nova História Cultural. Esta perspectiva propõe uma maneira diferente de compreendermos as relações entre os significados simbólicos e o mundo social (tanto comportamentos individuais como coletivos) a partir de suas representações, práticas e linguagens. É a partir desta perspectiva, portanto, que Hunt analisa o tema: busca compreender a cultura política da Revolução, isto é, as práticas e representações simbólicas daqueles indivíduos que levaram a uma reconstituição de novas relações sociais e políticas.
A pesquisa acerca do tema iniciou-se na década de 1970 e resultou na publicação do livro em 1984. Inicialmente, a autora buscava demonstrar a validade da interpretação marxista: a Revolução fora liderada pela burguesia capitalista, representada pelos comerciantes e manufatores. Os críticos desta abordagem, entretanto, afirmavam que tais líderes foram os advogados e altos funcionários públicos. Focando-se nestes aspectos, após um levantamento de dados feito a partir da pesquisa documental, Hunt percebeu que os locais mais industrializados, com maiores influências de comerciantes e manufatureiros, não foram, necessariamente, os mais revolucionários. Outros fatores deveriam então ser levados em consideração para explicar tal tendência revolucionária, não somente o da posição social dos revolucionários. Sendo assim, Hunt procurou evitar tal abordagem marxista, que coloca a estrutura econômica como base para as estruturas políticas e culturais. Desta maneira, a partir de uma mudança de olhar, tomou como objeto de estudo a cultura política da Revolução, que segundo a autora, propõe “uma análise dos padrões sociais e suposições culturais que moldaram a política revolucionária” (HUNT, 2007, p.11). Para ela, a cultura, a política e o social devem ser investigados em conjunto, e não um subordinado ou separado do outro.
Tais questões surgidas em sua pesquisa estão dentro de um contexto da década de 1980, quando os historiadores culturais procuravam demonstrar que a sociedade só poderia ser compreendida através de suas representações e práticas culturais. Na introdução de seu livro, a autora nos apresenta três influências principais: François Furet, que entendia a Revolução Francesa como uma luta pelo controle da linguagem e dos símbolos culturais e não somente como um conflito de classes sociais; Maurice Agulhon e Mona Ozouf, que demonstraram em seus estudos que as manifestações culturais moldaram a política revolucionária. Suas fontes foram documentos oficiais, como jornais, relatórios policiais, discursos parlamentares, declarações ficais, entre outros; contudo, a sua abordagem não poderia ignorar outras fontes como relatos biográficos, calendários, imagens, panfletos e estampas, que são produtos de manifestações e linguagens culturais da época.
Partindo de três vertentes interpretativas, a autora procura justificar a proposta de sua análise. Critica as abordagens marxista, revisionista e de Tocqueville por entenderem a Revolução centrando-se em suas origens e resultados, desconsiderando as práticas e intenções dos agentes revolucionários. Para Hunt,
A cultura política revolucionária não pode ser deduzida das estruturas sociais, dos conflitos sociais ou da identidade social dos revolucionários. As práticas políticas não foram simplesmente a expressão de interesses econômicos e sociais “subjacentes”. Por meio de sua linguagem, imagens e atividades políticas diárias, os revolucionários trabalharam para reconstituir a sociedade e as relações sociais. Procuraram conscientemente romper com o passado francês e estabelecer a base para uma nova comunidade nacional. (Ibid, p.33)
Mais do que uma luta de classes, uma mudança de poder ou uma modernização do Estado, Hunt enxerga como a principal realização da Revolução Francesa a instituição de uma nova relação do pensamento social com a ação política, uma vez que tal relação era uma problemática percebida pelos revolucionários e já posta por Rousseau no Contrato Social.
A partir de tais considerações, Hunt estruturou seu texto em dois capítulos: no primeiro, A poética do poder, a autora analisa como a ação política se manifestou simbolicamente, através de imagens e gestos; no segundo, A sociologia da política, apresenta o contexto social da Revolução e as possíveis divergências presentes nas experiências revolucionárias. Em todo o texto, a autora nos traz um debate historiográfico acerca de termos, conceitos e concepções das três perspectivas anteriormente citadas.
Hunt destaca a importância da linguagem na Revolução. A linguagem política passou a carregar significado emocional, uma vez que os revolucionários precisavam encontrar algo que substituísse o carisma simbólico do rei. A linguagem tornou-se, portanto, um instrumento de mudança política e social. Através da retórica, os revolucionários expressavam seus interesses e ideologias em nome do povo: “a linguagem do ritual e a linguagem ritualizada tinham a função de integrar a nação” (Ibid, p.46). Contudo, este instrumento deveria inovar nas palavras e atribuir diferentes significados a elas, já que se buscava romper com o passado de dominação aristocrática. Não é a toa que a denominação Ancien Régime foi inventada nesta época.
Nesta tentativa de se quebrar com um governo anterior dito tradicional foi que as imagens do radicalismo jacobino ficaram mais evidentes, afirma Hunt. O ato de representar-se através de uma ritualística foi questionado, descentralizando assim a figura do monarca e a base em que ele estava firmemente assentado: a ordem hierárquica católica. A imagem do rei sumiu do selo oficial do Estado; nele agora estava presente uma figura feminina que representava a Liberdade. Os símbolos da monarquia foram destruídos: o cetro, a coroa. Por fim, em 1793, os revolucionários eliminaram o maior símbolo da monarquia: Luís XVI foi guilhotinado.
Há outro aspecto da linguagem evidenciado pela autora: a comunicação entre os cidadãos. Influenciados por Rousseau, os revolucionários acreditavam que uma sociedade ideal era aquela na qual o indivíduo deixaria de lado os seus interesses particulares pelo geral. Entretanto, para que isto fosse possível, era necessário uma “transparência” entre os cidadãos, isto é uma livre comunicação, na qual todos pudessem deliberar publicamente sobre a política. A partir deste pensamento e da necessidade de se romper com as simbologias, rituais e linguagens do Ancien Régime, os revolucionários precisavam educar e, de certa maneira, colocar o povo em um molde republicano. Houve, portanto, uma “politização do dia-a-dia” (Ibid, p.81), no qual as práticas políticas dos revolucionários deveriam ser didáticas, com a finalidade de educar o povo. O âmbito político expandiu-se, portanto, para o cotidiano e, segundo a autora, multiplicaram-se as estratégias e formas de se exercer o poder. E o exercício deste poder demandava práticas e rituais simbólicos: a maneira de se vestir, cerimônias, festivais, debates, o uso de alegorias e, principalmente, uma reformulação dos hábitos cotidianos.
No livro Origens Culturais da Revolução Francesa, Roger Chartier busca compreender algumas práticas que contribuíram para a emergência da Revolução Francesa. Apesar do que sugere o título, o autor não está preocupado em estabelecer uma história linear e teleológica do século XVIII partindo de uma origem específica e fechada; mas em entender as dinâmicas de sociabilidade, de comunicação, de processos educacionais e de práticas de leitura que contribuíram para um universo mental, político e cultural dos franceses naquele período. Dentre os vários capítulos de sua obra, trago aqui algumas ideias principais do capítulo Será que livros fazem revoluções? para complementar a perspectiva de Hunt, visto que os dois autores bebem de uma mesma perspectiva.
Assim como Hunt, Chartier também desenvolve em sua introdução um debate historiográfico com os escritos de Tocqueville, Taine e Mornet. No capítulo especifico citado anteriormente, Chartier afirma que estes três autores entenderam a França pré-revolucionária como um processo de internalização das propostas dos textos filosóficos que estavam sendo impressos no momento: “carregadas pela palavra impressa, as novas ideias conquistavam as mentes das pessoas, moldando sua forma de ser e propiciando questionamentos. Se os franceses do final do século XVIII moldaram a revolução foi porque haviam sido, por sua vez, moldados pelos livros” (CHARTIER, 2009, p.115). Contudo, Chartier vai além: propõe que o que moldou o pensamento dos franceses não foi o conteúdo de tais livros filosóficos, mas novas práticas de leituras, um novo modo de ler que desenvolveu uma atitude crítica em relação às representações de ordem política e religiosa estabelecidas no momento. Como foi demonstrado por Hunt, novos significados e conceitos foram reapropriados pela linguagem e retórica revolucionária. Neste sentido, Chartier propõe uma reflexão: talvez tenha sido a Revolução que “fez” os livros, uma vez que ela deu determinado significado a algumas obras.
“Assim, a prática da Revolução somente poderia consistir em libertar a vontade do povo dos grilhões da opressão passada” (HUNT, 2007, p.98). Todavia, seríamos ingênuos de pensar que estes revolucionários almejavam uma igualdade social e política sem hierarquias, na qual todos estivessem em contato pleno com o poder. Focault afirma que o poder não está centralizado, ele constitui-se a partir de uma rede de forças que se relacionam entre si: o poder perpassa por tudo e por todos. Contudo, admite que há assimetrias no exercício e nas apropriações do poder (FOUCAULT, 2006). E neste contexto revolucionário não poderia ser diferente: os republicanos, através de seus discursos, buscaram disciplinar o povo de acordo com seus interesses.
Devemos relembrar que o próprio conceito de política foi ampliado. Neste sentido, Hunt afirma que as eleições estiveram entre as principais práticas simbólicas: “ofereciam participação imediata na nova nação por meio do cumprimento de um dever cívico” (Ibid, p.155). Como consequência disto, expandiu-se a noção do que significava a divisão política e a partir de então diversas denominações surgiram: democratas, republicanos, patriotas, exclusivos, jacobinos, monarquistas, entre vários outros. Mais significante ainda foi a divisão da Assembleia Nacional em “direita” e “esquerda”; termos que perduram até hoje.
Durante este processo surgiu uma nova classe política revolucionária, conforme a autora. Contudo, não devemos pensar esta classe como completamente homogênea: ela é composta por interesses e intenções individuais, mas define-se por oportunidades comuns e papéis compartilhados em um contexto social. “Nessa concepção, os revolucionários foram modernizadores que transmitiram os valores racionalistas e cosmopolitas de uma sociedade cada vez mais influenciada pela urbanização, alfabetização e diferenciação de funções” (Ibid, p.237).
O conteúdo simbólico foi se modificando e se moldando conforme as aspirações revolucionárias durante a década que sucedeu a Revolução. Mas a autora questiona-se como tais transformações foram percebidas e recebidas nas diferentes regiões da França e de que maneira os diversos grupos lidaram com elas. Seria equivocado pensarmos que a cultura política revolucionária foi homogênea em todos os lugares, até porque tal política estava sendo construída no momento. Sendo assim, Hunt também procura contextualizar socialmente a Revolução. Ela nos propõe uma análise da sua geografia política, considerando que “a identidade social fornece importantes indicadores sobre o processo de inventar e estabelecer novas práticas políticas” (Ibid, p.153). Neste sentido, o contexto social da ação política se deu conforme as condições sociais e econômicas; laços, experiências e valores culturais de cada local.
“A Revolução foi, em um sentido muito especial fundamentalmente ‘política’” (Ibid, p.246). O estudo de Hunt nos mostra como as novas formas simbólicas da prática política transformaram as noções contemporâneas sobre o tema. Talvez este tenha sido o principal legado da Revolução Francesa e talvez ela ainda nos fascine porque gestou muitas características fundamentais da política moderna. Ela conclui, portanto, que houve uma revolução na cultura política. Mais do que enxergarmos as origens e resultados da Revolução, é fundamental compreendermos como ela foi pensada pelos revolucionários e de que maneira estes sujeitos históricos se modificaram a si próprios e a própria Revolução.
Nota
1. Resenha produzida para a disciplina de História Moderna II, ministrada pela professora Dra. Silvia Liebel, do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Referências
CHARTIER, Roger. Origens Culturais da Revolução Francesa. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
FOUCAULT, Michel. Estratégia, Poder-Saber. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Carolina Corbellini Rovaris – Graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). E-mail: [email protected]
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Resenha de: ROVARIS, Carolina Corbellini. Outros olhares acerca da Revolução Francesa. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.12, p.284-288, jan. / jul., 2013. Acessar publicação original [DR]
Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823) | José Murilo de Carvalho e Lucia Maria Bastos Pereira das Neves
O recém-lançado Às armas, cidadãos!, organizado por José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos e Marcello Basile, vem se juntar a um conjunto de importantes, ainda que escassos, trabalhos de edição crítica de documentos sobre a independência do Brasil, que resultaram em coletâneas, antologias e coleções de textos fundamentais da época. Tal conjunto a que me refiro é composto tanto pela organização de documentos produzidos pelos órgãos oficiais (das Cortes de Lisboa às juntas governativas provinciais e câmaras municipais, passando pelo reinado de D. João VI e a regência de D. Pedro no Rio de Janeiro), quanto por séries de periódicos e obras reunidas de personalidades envolvidas diretamente no processo de constitucionalização do reino luso- americano e sua subsequente emancipação política. Alguns desses títulos, sobretudo aqueles dedicados a documentos de caráter oficial, foram concebidos no âmbito das comemorações do centenário e sesquicentenário da independência do Brasil, a exemplos da obra Documentos para a História da Independência, publicado pela Biblioteca Nacional em 1923, e dos volumes de As Câmaras Municipais e a Independência e As Juntas Governativas e a Independência, ambos publicados pelo Arquivo Nacional em 1973.
As edições críticas e reuniões de fac-símiles publicadas nos últimos anos destacam-se por acompanharem a urgência da promoção de obras que estimulem o debate historiográfico em torno dos temas da construção do Estado e da nação, assim como do surgimento da imprensa e da gestação da opinião pública no Brasil. Nesse sentido, sobressaem as publicações fac-similadas do Correio Braziliense, coordenada por Alberto Dines (2001), do Revérbero Constitucional Fluminense, organizada por Marcello e Cybelle de Ipanema (2005), d’O Patriota, organizada por Lorelai Kury (2007), bem como a reunião da obra de Cipriano Barata, Sentinela da Liberdade e outros escritos, realizada por Marco Morel (2008). Ainda sobre os periódicos, vale lembrar de uma outra leva de edições críticas ensaiada nos anos quarenta pela editora Zelio Valverde; dentre suas publicações destacam-se as organizações do Tamoyo, por Caio Prado Jr. (1944) e da Malagueta, por Helio Vianna (1945).
Pode-se dizer que Às armas, cidadãos!, – aguardado pelos historiadores dedicados ao tema da independência, desde a divulgação do projeto por seus organizadores nos seminários do CEO/PRONEX – segue a tendência acima esboçada. Embora o livro se restrinja aos panfletos manuscritos – um total de 32, “sem dúvida amostra pequena dos papelinhos que circularam na época” (p.22), admitem os autores no texto de apresentação – não deixa de ser uma iniciativa importante frente a um cenário editorial que pouco investe nesse tipo de publicação. Provavelmente, as editoras entendem que os custos de produção e distribuição não sejam rentáveis para o mercado editorial brasileiro, comprometendo, portanto, o alcance de projetos voltados às obras de referência. Em Às armas cidadãos!, a timidez na seleção dos panfletos, não incluindo no volume os impressos que circularam à época em maior quantidade e com número de páginas bem superior aos “papelinhos” manuscritos, deve ser salientada não em detrimento do trabalho realizado – claro, de altíssimo nível e cujo recorte é bem justificado pelos autores, como veremos mais à frente –, mas pelo fato de os panfletos impressos da independência serem ainda de difícil acesso para historiadores de várias partes do país e também estrangeiros.
Assim, deve ser sublinhado que as historiografias a respeito das independências ibero americanas, incluindo evidentemente o Brasil, passam por uma profunda revisão de seus marcos estritamente nacionais concebendo a realidade dos antigos impérios ibéricos em suas múltiplas identidades, inseridas numa mesma unidade conjuntural revolucionária internacional e em íntima relação com contextos políticos e intelectuais diversificados e em interação entre si. Tal perspectiva tem uma consequência de mão dupla. Se por um lado a independência do Brasil tem sido abordada menos em função de sua suposta excepcionalidade em relação aos demais movimentos políticos do período, por outro lado, o interesse pelos desdobramentos históricos em seus diversos quadrantes regionais motivam perspectivas comparativas e visões de conjunto que ampliam a demanda por acesso às fontes primárias e produção de obras de referência.
Uma boa parte dos panfletos impressos remanescentes, assim como ocorre com os manuscritos selecionados em Às armas cidadãos!, também são originários da Bahia, do Rio de Janeiro e de Portugal. Não obstante, há registros de panfletos publicados em outros lugares onde existiram tipografias no período, como em Pernambuco e na Cisplatina. Quanto aos da Bahia e do Rio de Janeiro, estes se encontram em maior volume no acervo da Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional e, ao que consta, não foram microfilmados ou digitalizados, como no caso dos periódicos da época, já disponíveis, não totalmente, mas em quantidade razoável, para consulta no site da instituição. Os panfletos impressos chamam a atenção por suas formas variadas: cartas, catecismos políticos, diálogos, discursos, manifestos, memórias, projetos, relatos, orações, entre outros. Alguns já foram incluídos em O Debate político no processo da Independência, organizado por Raymundo Faoro em 1972, e outros podem ser encontrados disponíveis em formato PDF nos sites do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e da Biblioteca Nacional de Portugal. Frente a um panorama acanhado, e por não encontrar nenhuma referência explícita no livro de que o projeto de publicação dos panfletos terá continuidade, não poderia deixar de manifestar o incentivo aos organizadores de Às armas, cidadãos! a persistirem com o projeto de publicação dos panfletos da independência estendendo a pesquisa aos impressos e completando, assim, uma lacuna deixada neste volume.
Passadas essas observações iniciais dediquemo-nos à análise do conteúdo do livro propriamente dito. Os 32 panfletos manuscritos transcritos e analisados pelos organizadores no texto de “Introdução” pertencem ao acervo do Arquivo Histórico do Itamaraty sob a classificação Coleções Especiais, “Documentos do Ministério anterior a 1822”, Independência, capitania da Bahia, capitania do Rio de Janeiro e diversos (documentos avulsos) (p.21-22). Os documentos reunidos foram numerados e divididos em quatro partes correspondentes aos locais onde foram produzidos: Bahia, Rio de Janeiro, Portugal e os de origem não identificada. Quanto ao critério de seleção dos manuscritos, os organizadores reafirmam a opção pelos papéis que “contivessem crítica ou sátira política, tivessem ou não sido colados em paredes, postes ou nos muros das igrejas” (p.23), portanto, excluindo os escritos oficiais encontrados nas pastas do arquivo, à exceção de uma proclamação, a qual comentaremos abaixo. Uma “Nota editorial” informa que todos os documentos foram transcritos atualizando-se a ortografia, mantendo-se a pontuação original da época e corrigindo-se a grafia quando necessário. Além do mais, foram inseridas notas explicativas sobre indivíduos, datas, expressões e termos típicos citados nos panfletos, que auxiliam na compreensão da conjuntura e do vocabulário político do período. Por fim, um outro suporte à leitura dos documentos selecionados é a excelente “Cronologia” incluída no final do livro, na qual os eventos ocorridos na Bahia e no Rio de Janeiro ganham maior destaque.
Cada transcrição é antecedida da reprodução do original, de modo a manter no texto “o sabor de época” (p.33) e, assim, convidar o leitor a dimensionar como tais panfletos eram expostos e debatidos pelo público. A esse respeito, destaco dois panfletos da Bahia. O primeiro, de número 14, intitulado Meu Amigo, apesar de não mencionar o ano de redação, possui um registro informando o dia em que foi arrancado, 14 de fevereiro. Tal registro é um sinal explícito de que muitos “folhetos” eram afixados em locais públicos das cidades a fim de dar ampla divulgação aos projetos e ideias surgidas no bojo dos debates sobre a constitucionalização do reino o que, fatalmente, os tornavam alvos do controle dos órgãos de governos locais que temiam as agitações populares. Aqui, percebemos como os espaços de sociabilidades eram invadidos por práticas representativas de uma nova ordem política.
O outro panfleto, de número 12, é o único de caráter oficial incluído no livro, como já dito. Os organizadores justificam sua incorporação pelo fato de ele ter sido divulgado à moda dos bandos do Antigo Regime. Trata-se de uma proclamação redigida em 1823 pelo brigadeiro Inácio Luís Madeira de Melo, governador das armas da Bahia que, ao constatar a “Província revolucionada”, declarava seu estado de sítio, bloqueava a capital transformando-a em “Praça de Guerra” e determinava sob seu nome todas as competências e poderes da Lei. Tudo isso era levado ao público, segundo o brigadeiro, ao “Som de Caixas pelas ruas e praças públicas” da cidade a fim de fazer chegar a notícia a todos, de modo que “ninguém possa alegar ignorância” (p.97). Neste caso, de forma aparentemente contraditória, o uso de uma forma de comunicação, como o som dos bandos, não significa pura e simplesmente a reprodução de práticas políticas típicas do Antigo Regime, mas a sujeição dessa forma às pressões exercidas pela reconfiguração da funcionalidade dos espaços públicos. Portanto, ambos os panfletos são amostras do quanto as formas de interação social e política se transformavam naquele período, sobretudo porque amplas camadas da população eram expostas ao debate público, embora o alcance dessas práticas entre os sujeitos sociais ainda necessite ser melhor investigado, possibilitando a “intervenção do indivíduo comum na condução dos destinos coletivos” (p.9), e assim permitindo que as opiniões ganhassem força.
É sob este aspecto que os organizadores de Às armas, cidadãos! justificam a publicação dos panfletos manuscritos e, ao mesmo tempo, traçam a distinção de linguagem destes em relação aos impressos. Os panfletos, sejam manuscritos ou impressos, “transformaram-se em instrumentos eficazes de promoção do debate e, mais ainda, da ampliação de seu alcance, graças à prática de leitura coletiva em voz alta” (p.9), não obstante o estilo mais simples dos folhetos manuscritos chamem a atenção. Dentre outras coisas, caracterizavam-se por motivações mais imediatas e voltadas a despertar as emoções de uma audiência motivando antipatias em relação a determinadas personalidades ou convocando a população à ação política direta. Um dos alvos prediletos dos panfletários era Tomás Vilanova Portugal, ministro de D. João VI, defensor da manutenção da Corte no Brasil e opositor radical dos revolucionários do Porto. No “Panfleto 23”, o ministro encabeçava a lista de nomes de pessoas que deviam ser presas na intenção dos eleitores do novo governo do Rio de Janeiro que circulou em 1821. E no “Panfleto 24”, num poema sem data, seu autor, “um Amante da Pátria”, recomenda ao ministro que ele fizesse chegar ao rei aquele ultimato em versos: “Assina a Constituição / Não te faças singular, / Olha que a teus vizinhos / Já se tem feito assinar. / Isto não só é bastante, / Deves deixar o Brasil, / Se não virás em breve / A sofrer desgostos mil.” (p.170).
Já os impressos, via de regra, destacam-se por desenvolver argumentos e interpretações mais complexas e buscarem, com certo grau de didatismo político, esclarecer e/ou convencer a opinião pública a se posicionar a favor ou contra determinado princípio ou projeto político em debate. A linguagem dos panfletos manuscritos é, com frequência, mais violenta e contundente, as vezes grosseira, como ocorre no “Panfleto 26”, em que o autor de um poema português relata a entrada em Lisboa, após viagem ao Brasil, de William Carr Beresford, militar britânico que comandou o exército português na luta contra os franceses e que exerceu durante a regência um grande poder. Já no título, o sarcasmo: “Obra nova intitulada entrada do careca pela barra”. E na sequência, insultos direcionados ao militar e aos brasileiros: “Tornastes a voltar filho da Puta / Do País das araras, e coqueiros / Oh mal haja os Bananas Brasileiros / Que vivo te deixaram nessa luta” (p.182). Esse tipo de afronta, em certo sentido, contrasta com a prudência com que falavam e agiam boa parte das vezes os redatores dos periódicos e panfletos impressos, em sua maioria, homens instruídos – negociantes, bacharéis, clérigos e militares. Para os organizadores, esse fato se explica em parte pela origem popular dos papéis manuscritos e pela precária liberdade de imprensa vigente à época, que proibia a veiculação de certas informações nas tipografias oficiais e particulares (p.24).
Nesse sentido, em Às armas, cidadãos! os aspectos formais que distinguem os panfletos também são representativos das assimetrias sociais existentes entre os partícipes do movimento político, pois “se os panfletos impressos da mesma época revelam intenso debate político entre letrados em torno dos grandes problemas do momento, os manuscritos sobressaem pela revelação das ruas na ‘guerra literária’ da constitucionalização e da independência” (p.31). Ao sublinhar tais diferenças o livro abre um diálogo com as pesquisas dedicadas à amplitude social dos envolvidos nesse processo histórico, o que é bastante louvável. Por outro lado, a não inclusão dos panfletos impressos, como ressaltamos ao longo da resenha, prejudica uma visão de conjunto sobre a documentação e a amplitude de outros temas por ela suscitados. De todo modo, Às armas, cidadãos! apresenta resultados já expressivos, mas quiçá pode ser considerado ainda em desenvolvimento.
Rafael Fanni – Mestrando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), E-mail: [email protected]
CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; BASILE, Marcello Otávio de Neri Campos (Orgs.). Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823). São Paulo / Belo Horizonte: Companhia das Letras / Editora UFMG, 2012. FANNI, Rafael. A força da opinião: panfletos manuscritos na independência do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.5, p. 199-202, jan./jun., 2013.
Capítulos de história do Império | Sérgio Buarque de Holanda
Foram significativas as vezes em que Sérgio Buarque de Holanda se envolveu na revisão e ampliação de suas próprias obras. Talvez o melhor exemplo seja o caso da revisão de Monções, originalmente publicada em 1945, e que, durante toda a década de 1960, passou por um processo de ampliação e reescrita. Na primeira metade da década o autor reescreveu alguns dos seus capítulos, publicados em 1964 na Revista de História (USP), e posteriormente acrescentados como apêndice da terceira edição da obra (Editora Brasiliense, 1990). Em 1965, Sérgio emplacou um projeto de pesquisa na FAPESP, e com o apoio ampliou a pesquisa de arquivos, voltando três vezes à Cuiabá, realizando uma visita aos arquivos portugueses (Arquivo Histórico Ultramarino e Biblioteca Nacional de Lisboa), além de uma ida aventuresca ao Paraguai no fusca creme com sua esposa, Maria Amélia, ao volante. Os manuscritos produzidos com esta pesquisa são conhecidos graças ao empenho de seu aluno, o professor hoje aposentado da USP José Sebastião Witter, que cuidou da edição e, a partir dos originais, publicou a obra O extremo oeste (Editora Brasiliense, 1986). Tudo leva a crer que Sérgio Buarque pretendia não apenas reescrever Monções aumentando consideravelmente o aparato crítico e documental da obra, mas duplicá-la, dividindo o trabalho em dois assuntos: o das monções de exploração e das monções de povoamento.
O caso descrito nas linhas acima se assemelha ao mais recente, da publicação de Capítulos de História do Império, obra póstuma de Sérgio Buarque de Holanda publicada em 2010; é uma edição organizada por Fernando Novais a partir de um manuscrito original de mais ou menos 150 páginas. Apesar das poucas informações disponíveis sobre a origem e o tratamento do manuscrito, sabemos que se trata de trabalho inconcluso ao qual Sérgio Buarque se dedicou praticamente até a sua morte, em abril de 1982, tanto que em entrevista a Richard Graham, publicada em fevereiro do mesmo ano na revista The Hispanic American Historical Review (v.62, n.1), o historiador brasileiro afirma estar naquele momento empenhado na escrita do que seria seu mais importante livro.
A intenção de Sérgio Buarque de Holanda era a revisão, reestruturação e ampliação do livro Do Império à República, volume publicado em 1972 como desfecho do tomo O Brasil Monárquico da série História Geral da Civilização Brasileira (Difel), empreitada que coordenava desde o início dos anos 1960. Assim como gostaria de fazer com Monções, o desejo do autor, manifestado na mesma entrevista a Graham, era reorganizar o material ampliado em dois volumes. Segundo o que indica Evaldo Cabral de Mello no “Posfácio” da obra, o primeiro volume, O pássaro e a sombra “deveria chegar até a crise política de 1868”, já o segundo, A fronda pretoriana “até o golpe militar que implantou a República entre nós” (p.225).
Do Império à República é estruturado em cinco livros de quatro capítulos cada (com exceção do segundo livro que possui três capítulos). O primeiro livro, Crise no Regime se fixa na crise político-partidária de 1868, quando D. Pedro II agiu segundo as prerrogativas do Poder Moderador substituindo, sem a convocação de eleições gerais, o gabinete liberal de Zacarias de Goes e Vasconcelos pelo conservador do visconde de Itaboraí (tratados no dois primeiro capítulo, Crise no regime). Este evento, no qual o poder pessoal do monarca aparece em estado puro – elemento caracterizado no segundo capítulo, Um general na política – enseja uma retrospecção que ilumina a dinâmica político-partidária do segundo reinado a partir dos últimos gabinetes de conciliação em fins da década de 1850, que permeia todo o livro segundo, O pássaro e a sombra, até uma volta aos eventos de 1868, aberta pelo terceiro e último capítulo do livro, O fim do segundo quinquênio liberal, e desenvolvida ao longo do livro terceiro, Reformas e paliativos. Este livro avança no tempo abordando o contexto de aprovação da lei do Ventre Livre, em 1871, até o conflituoso contexto de discussões sobre reformas constitucionais e eleitorais que marcaram o final da década de 1870 e início da década seguinte, que culminaram com a Lei Saraiva, de 1881. As circunstâncias de sua aprovação são, por sua vez, esmiuçadas no livro quarto, Da “constituinte constituída” à lei saraiva, que progride até a solidificação do movimento republicano e de um clima de insatisfação geral nas províncias. Por fim, o livro quinto, A caminho da República, parte de uma breve análise sobre a incapacidade de adaptação do regime às novas bases sociais, ligadas à dinâmica da produção cafeeira (no primeiro capítulo, Resistência às reformas), até a solidificação do exército como protagonista (no terceiro capítulo, A fronda pretoriana), passando pela análise da emergência das novas bases ideológicas republicanas (no segundo capítulo, Da maçonaria ao positivismo).
Como se pode observar por meio do esquema acima, Da Monarquia à República é executado sobre um plano que combina a exposição cronológica dos eventos com incursões retrospectivas em camadas. Este movimento de fluxo e refluxo temporal se ancora em certos eventos, momentos decisivos, que expõe os impasses e fraturas que estarão na base da derrocada do regime. Grosso modo, cada um dos livros se liga a um momento chave que se sobrepõe em camadas e reproduz a sistemática descrita. Também deve ser notada a coesão do conjunto, já que as partes são meticulosamente subordinadas a um eixo argumentativo principal, que se apresenta na forma de impasse: a missão imperial de garantir a unidade dos territórios nacionais não só sedimenta, mais intensifica o abismo entre o Estado central e os grupos sociais por ele representados. O resultado é um processo crescente de concentração de poder discricionário, que tem na proclamação da República o seu ponto culminante.
Seguindo esta perspectiva, seus marcos principais são os “estelionatos” (como define em Do Império à República) políticos cometidos em 1868, com a já mencionada ascensão do gabinete conservador, o de 1881, das reformas eleitorais da Lei Saraiva, e, finalmente, o próprio golpe militar de 1889 que pôs fim à Monarquia. Estes momentos são decisivos pois, neles, o autoritarismo aparece de maneira clamorosa, expondo a falta de respaldo social e político; a fratura crescente entre Estado e sociedade na formação da nação. Em outras palavras, Do Império à República pode ser entendido como a história do paradoxo da fundação de uma nação por meio da governança autoritária, sem base social orgânica. Fica evidente que, como grande historiador, Sérgio Buarque falava do passado ao mesmo tempo em que se posicionava no presente já que o período de escrita da obra corresponde aos anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira, entre finais da década de 1960 e início da década de 1970.
Mas se Do Império à República é um trabalho de história tão benfeito, cumpre inevitavelmente a pergunta: porque então dedicar quase obsessivamente os últimos anos de vida a alterá-lo? Uma forma de começar a entender esta questão é analisar brevemente os pontos do livro que seriam modificados ou ampliados com o manuscrito Capítulos de História do Império. Infelizmente, como alertou Evaldo Cabral de Mello no “Posfácio” (p.228), o texto que ora conhecemos corresponde apenas ao trecho reescrito dos dois primeiros livros de Do Império à República, que vai da Conciliação à articulação do gabinete conservador de 1868; ou seja, considerando a concepção dos dois volumes, deve-se notar que Sérgio Buarque ainda trabalhava no primeiro, O pássaro e a sombra.
É possível que os recortes temporais do O pássaro e a sombra e A fronda pretoriana fossem mais permeáveis do que sugeriu Evaldo Cabral. O primeiro poderia evoluir para além de 1868 e o segundo poderia regredir em relação a este marco. Um dos indicativos disso é que A fronda pretoriana, seguindo hipótese do próprio Sérgio Buarque no capítulo homônimo de Do Império à República (o terceiro do livro quinto), deveria abranger a história do fortalecimento político do exército desde a Guerra do Paraguai, regredindo ao longo da década de 1860. Em sua versão conhecida, a hipótese do autor não é adequadamente desenvolvida, pois é contida pelos limites do capítulo que trata da derrocada do Império desde a Lei Saraiva de 1881, que havia sido tema do livro anterior. Outro indicativo é o fato de que a Guerra do Paraguai praticamente não aparece em Capítulos de História do Império, apesar de ter sido abordada com minúcias justamente na região englobada pela reestruturação das obras, entre o final do livro primeiro e segundo de Do Império a República. É provável, portanto, que os capítulos em que trata da formação do exército, tanto em sua base ideológica quanto material, fossem agrupados e reelaborados, compondo, A fronda pretoriana.
Outra modificação temporal que se pode inferir a partir dos manuscritos é o prolongamento do O pássaro e a sombra até o evento da Independência, tema do primeiro capítulo, “Para uma pré-história do império do Brasil”. Trata-se de uma recuperação do que o autor desenvolveu em A herança colonial – sua desagregação, texto de abertura do segundo tomo, referente ao Brasil Monárquico, publicado em 1961, em sua História Geral da Civilização Brasileira, pois sua preocupação é caracterizar o estranho conluio entre ideias liberais e nossas estruturas coloniais (“o que em realidade poderia acontecer era que as ideias e fraseados de importação passariam a ser reinterpretados no contexto das estruturas herdadas”, p.22). Neste terreno, segundo o autor, as tendências emancipatórias e federalistas encontravam solo fértil para se desenvolver, já que a herança da atividade colonizadora era a própria desagregação política, social e econômica dos territórios.
Nesse mesmo esteio, o que pode ser diretamente associado ao texto de 1961 é o esforço de Sérgio Buarque em desnaturalizar a emergência da nação brasileira como um evento inevitável. Pelo contrário, e de forma até mais clara que em Herança Colonial, o autor procura restituir aos eventos ocorridos sua condição de mera possibilidade em um complexo quadro, coisa que fica evidente a partir da página 28, quando se esmiúçam detalhes das discussões dos representantes das províncias brasileiras nas Cortes. Evidentemente, esse exercício abre as portas para se compreender que a unificação nacional foi o resultado de uma luta travada durante todo o período monárquico e o principal condicionante de sua dinâmica política.
A nação e os partidos e Entre a liga e o progresso, capítulos segundo e terceiro, continuam o argumento, caracterizando a dinâmica político-partidária do Império nas décadas de 1840 a 1860 e tendo como marco referencial um momento chave. O primeiro é o da prática política da Conciliação, que foi estabelecida a partir do gabinete presidido por Carneiro Leão (1853-56), como um modo de reintegração no poder central das oligarquias regionais e haviam sido marginalizadas no período de 1848-53, momento de predomínio saquarema. O segundo momento, é o da Liga Progressista, que narra o equilíbrio instável dos partidos entre 1864 e 1868. Pode-se dizer sobre essa dinâmica partidária que o liberalismo de fachada associado ao conservadorismo da mentalidade colonial resistente contribuía para tornar a fronteira entre os partidos liberal e conservador altamente permeável. Ao contrário do que se pode esperar, esta fronteira não foi melhor definida entre os partidos ao longo do Império, não apenas devido a tendências que defendiam a simples extinção do sistema partidário (p.39-43), mas sobretudo devido ao quadro problemático causado pela “supressão do tráfico transoceânico” (p.53), que impunha a manutenção de certa coesão política sob o risco de descontrole social.
Emerge, neste contexto, o poder pessoal do monarca D. Pedro II como elemento fundamental do sistema, pois sua atuação garante a ordem e, assim, a própria existência do Estado. Este é o tema desenvolvido no quarto capítulo, Por graça de Deus, que talvez seja dos textos mais bem escritos de toda a carreira do autor. Nele, a reconstituição do modus operandi do monarca se apresenta de forma vívida, tal como na melhor ficção realista do século XIX, se misturando de forma natural com a precisão do recurso a uma ampla gama de fontes históricas. Esse grau avançado de lapidamento do texto deve-se ao fato de que estas páginas coincidem justamente com certas passagens mais ou menos reescritas dos primeiros capítulos de Do Império à República.
Na descrição de Sérgio Buarque de Holanda, as características da personalidade sóbria e reservada do monarca operam como uma espécie de metonímia da trajetória política da nação, a representação mais perfeita da associação entre arcaico e moderno que caracteriza a visão do autor. O trecho em que fala do esforço de D. Pedro em evitar qualquer opinião pessoal, sustentando uma imagem institucional (que aparece em sua correspondência com Gobineau), tem a sua correspondência em Do Império à República (p.16-17 da 5o edição, de 1997). Nas páginas seguintes deste volume são abordadas sua impessoalidade frente aos ministros, assim como a pretensa soberania que conferia aos seus gabinetes, trechos que reaparecem muito alterados nas páginas 120-123, dos originais de Capítulos. O parágrafo final deste que é o capítulo 2 do livro 1 de sua obra de 1972 que corresponde à sequencia linear das passagens descritas acima aparece em Capítulos apenas entre as páginas 141 e 142. Por condensar a essência de sua visão sobre D. Pedro II, segue, abaixo a sua transcrição:
De fato os poderes imperiais que tentavam dissimular-se funcionaram muitas vezes como catalizadores de uma resistência surda às mudanças na estrutura tradicional, quando as mudanças importavam mais do que uma estabilidade estéril e mentirosa. Era pela supressão dos abusos que comportava a praxe eleitoral e talvez preferisse o sufrágio universal, mas reputava-a “ainda por ora impraticável”, conforme se pode ler na Fé de ofício, mas as medidas que tiveram nesse sentido sua a aprovação acabaram por afastar drasticamente das urnas a quase totalidade da população ativa do Império e transformaram o direito de votar em um privilégio. Queria a extinção do trabalho escravo, mas achava que toda a prudência era pouca nesse assunto e, estivesse no país em maio de 1888, não teria sido assinada a “lei áurea”, como ele próprio chegou a admitir. Queria que o país tivesse sempre em boa ordem as finanças e a moeda sólida, por lhe parecerem exigidas por uma elementar prudência, ainda quando a realização de tais desejos pudesse perturbar a promoção do desenvolvimento material, da instrução pública, da imigração, que também queria. Ora, a meticulosa cautela deixa de ser virtude no momento em que passa a ser estorvo: lastro demais para pouca vela.
Agindo na superfície como um rei típico de uma monarquia constitucional parlamentar, que “reina mas não governa” (p.167), D. Pedro II manobrava com sutileza as estruturas reminiscentes absolutistas, sendo de fato o soberano condutor do pacto de unificação nacional. O desenvolvimento deste tema em continuidade com o capítulo que trata da personalidade de D. Pedro II é o último da primeira parte de Capítulos de história do Império, Crise no Regime. Nele é abordada a crise política de 1868, quando D. Pedro II lança mão do Poder Moderador e empossa o gabinete conservador do visconde de Itaboraí, desvelando justamente a concentração de poder de fato do monarca. Este capítulo também possui correspondência direta com o capítulo 1 livro 1, de mesmo título, Do Império à República e nele podem ser encontrados trechos reescritos especialmente das duas ou três primeiras páginas concentrados nas p.146 e p.152-154 de Capítulos.
Os últimos dois capítulos do livro, desprovidos de título e que compõem a segunda parte, possuem redação menos acabada do que os outros além de voltarem a alguns assuntos já tratados; inclusive com algumas repetições. A primeira parte do capítulo I ainda se relaciona com os dois anteriores, analisando a forma sutil com que o monarca exercia o seu poder pessoal em contraste com os modelos franceses e ingleses de governo (p.163-169). Nas páginas seguintes há um salto para uma breve análise dos efeitos potencializados nas províncias da instabilidade no governo central. O segundo capítulo volta a analisar a sistemática de rotação dos partidos e substituição “em massa de empregados públicos”. O que há de comum entre esses temas é que eles compõem o quadro explicativo do “estelionato” político que colocou os saquaremas no poder em setembro de 1848, frente às notícias das revoltas na Europa ocorridas naquele ano (p.184-188). Enquanto o segundo capítulo esmiúça o evento em si, o primeiro capítulo trata das circunstâncias anteriores no governo central e nas províncias. Isso significa que se trata de uma parte complementar e inacabada (ou simplesmente descartada) do capítulo 2 da primeira parte de Capítulos de História do Império; em outras palavras, trata-se ainda de partes referentes ao processo de escrita do que seria provavelmente o volume O pássaro e a sombra.
Resta retomar a pergunta feita no início deste texto. Se Do Império à República é um livro tão bem executado porque então dedicar os últimos anos de vida a reescrevê-lo? Procurando encaminhar uma resposta provisória diante do que foi dito até aqui, podem-se realizar duas considerações. A primeira é que, de fato, Capítulos de história do Império, apesar de inacabado, coincide mais ou menos com o que seria o volume O pássaro e a sombra, reescrita dos primeiros livros de Da Monarquia à República. Além disso, o plano original do livro seria prolongado conservando, em princípio, o método de execução peculiar e a linha argumentativa. O pássaro e a sombra e A fronda pretoriana comporiam uma espécie de história do autoritarismo brasileiro no século XIX, ou, em outras palavras, uma história do abismo entre estado e sociedade na formação da nação. Enquanto Do Império à República abrange as últimas duas décadas do Império em dois ou três momentos decisivos, a obra inacabada abrangeria desde a independência até a República incluindo mais momentos em que o autoritarismo é exposto visceralmente: a outorga da constituição em 1824, a ascensão do gabinete conservador de 1848, a Conciliação, A Liga Progressista, a crise de 1868 (no O pássaro e a Sombra), e O Ventre Livre, a Lei Saraiva de 1881, e finalmente a eclosão da república em 1889.
A segunda consideração diz respeito ao fato já observado por Fernando Novais na Nota Introdutória aos Capítulos e também por Izabel Marson em resenha da mesma obra pulicada na revista Estudos Avançados em 2011 (v.25, n.71). O tema tratado em Capítulos de história do Império guarda notável semelhança com o mote central de sua obra de estreia, Raízes do Brasil: o impasse gerado pelo recurso ao autoritarismo de matriz absolutista, traço fundamental da herança colonial, como ferramenta da unificação nacional. Recurso este que só tornava mais evidente e endêmico o descompasso entre Estado recémformado e os grupos sociais no anseio de representação. O estudo sistemático das semelhanças e diferenças entre as obras ultrapassam o limite e o formato do presente texto e serão tratados em ensaio a ser publicado em breve.
Na explicação para o afã de revisão que gerou os manuscritos que hoje conhecemos como Capítulos de história do Império se esconde um desejo de deixar um legado definitivo, produzindo um elo entre as duas extremidades de sua própria obra, da sua obra de estreia à sua obra derradeira. O fato de não ter conseguido concluir sua missão é emblemático, pois, Sérgio Buarque de Holanda também havia revisado radicalmente Raízes do Brasil até que ganhasse a feição que conhecemos, e mesmo assim, até o final da sua vida, demonstrava grande descontentamento com o seu ensaio. Em sua visão de historiador maduro, seu livro de estreia era demasiado ensaístico, reducionista e pouco fundamentado, justamente os defeitos opostos às qualidades do seu último e derradeiro texto.
Thiago Lima Nicodemo – Professor do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES – Vitória / Brasil) e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB – USP). E-mail: [email protected]
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história do Império. Organização de Fernando A. Novais. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: NICODEMO, Thiago Lima. A obra derradeira e inacabada de Sérgio Buarque de Holanda. Almanack, Guarulhos, n.5, p. 206-211, jan./jun., 2013.
Acessar publicação original [DR]
Como Shakespeare se tornou Shakespeare | Stephen Greenblatt
Stephen Greenblatt em Como Shakespeare se tornou Shakespeare realiza uma biografia bem particular. Ele não segue, como nas biografias tradicionais, a simples evolução da vida de seu personagem. Greenblatt, que comprova ser um bom conhecedor da Inglaterra de fins do século XVI, vai até as obras do dramaturgo inglês em busca de provas daquilo que mostrou ao leitor através da pesquisa histórica. Esse é um método interessante e que, a princípio, mostra como Shakespeare utilizou, na criação de suas peças, os elementos primordiais da vida social ao seu redor. Mas como em todo gênio do drama, Shakespeare não reproduz de forma direta os acontecimentos (históricos) que lhe tocaram de forma mais intensa.
Aqui, percebe-se o trabalho de Greenblatt: ele preenche esse hiato entre história concreta e criação cultural. Neste ponto, a obra Como Shakespeare se tornou Shakespeare é de grande valor. Isto porque prova que em Shakespeare não há só o gênio da criação cultural, mas também o atento observador do universo social de uma Inglaterra pré-revolução burguesa. Neste caso, vamos dar dois exemplos. Greenblatt explica dessa forma a criação de Hamlet: Leia Mais
O navio negreiro: uma história humana – REDIKER (H-Unesp)
REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 456 p. Resenha de: BARREIRO, José Carlos. História [Unesp] v.32 no.1 Franca Jan./June 2013.
A escravidão negra no Brasil é, provavelmente, um dos temas mais pesquisados pela historiografia brasileira. Muito se escreveu sobre o trabalho escravo nas lavouras de cana e café, no trabalho doméstico e nas cidades, com a prestação de pequenos serviços aos senhores, feita geralmente sob a condição de escravos de ganho.
As controvérsias entre as múltiplas formas de abordagem do tema continuam alimentando instigantes discussões entre os especialistas. Há os que defendem a ideia de que, no Brasil, a escravidão foi mais amena, comparada à de outros países. Outras vertentes enfatizam a brutalidade a que os escravos estavam submetidos nas relações de trabalho, o que impossibilitava sua reação ao sistema, eternizando-se sua condição de escravo. Muitos outros historiadores têm ressaltado, mais recentemente, a existência de uma consciência escrava que, embora fragmentária e ambígua, elevava o escravizado à condição de pessoa, como tal, capaz de se colocar como sujeito de sua própria libertação por meio de suas lutas cotidianas ao longo do tempo. Contudo, na maioria das vezes nossos estudos se limitam ao entendimento do escravo desde seu desembarque nos portos brasileiros até sua inserção nas relações de trabalho. São poucos ainda os que investigam as diversas etnias, culturas e linguagens dos habitantes do continente africano.
Marcus Rediker, ao contrário, percorre o caminho completo e complexo da reinvenção da escravidão no mundo moderno. Neste seu livro, desvenda a ação, muitas vezes concertada, das elites daquele continente aliadas ao comerciante europeu e ao capitão de navio e seus ajudantes no aprisionamento e venda dos escravos para as colônias do novo mundo. Estes deixavam suas terras para, amontoados nos porões dos navios negreiros, chegar a seu destino após meses de travessia.
Nesse sentido, a edição brasileira do livro de Rediker parece bastante oportuna para instigar a ampliação de nosso olhar historiográfico no exame da questão da escravidão sob uma ótica mais globalizada. Precisamos de mais pesquisas sobre a escravidão brasileira que a entenda como parte de uma economia atlântica que envolve não só Portugal e Brasil com todas as suas capitanias, mas também várias regiões do continente africano e outros países da América do Sul.
Em seu livro O tráfico negreiro: uma história humana, Rediker estuda a idade do ouro do tráfico negreiro no atlântico norte, ocorrida entre 1700 e 1808, quando 2/3 do total de escravos africanos foram transportados para as colônias inglesas em navios britânicos e americanos. Seu tema consta justamente de conhecer esses navios e sua composição, procurando saber como viviam as tripulações e os cativos durante a travessia atlântica, até a chegada ao novo mundo para o trabalho nas plantations.
Rediker está profundamente envolvido com o objeto que estuda. É sob a perspectiva de uma história militante que o autor elabora uma minuciosa etnografia do navio negreiro, revelando a verdade cruel que setores dominantes da sociedade inglesa do século XVIII procuravam esconder de si mesmos e da posteridade. Neste sentido, a tortura generalizada e o terror que caracterizaram a prática do tráfico e da escravidão transformaram o navio negreiro, diz o autor, em um navio-fantasma que ainda hoje viaja nas fímbrias da consciência moderna.
Nesta linha, é bastante apropriada a forma como constrói seu livro, descrevendo do primeiro ao último capítulo casos impactantes de castigos, epidemias e crueldades que ocorriam durante a travessia. Os acontecimentos do navio Zong, em 1781, capitaneado por Luke Collingwood, são apenas alguns dos exemplos destacados no livro que, segundo o autor, constituiu-se provavelmente na mais terrível das atrocidades ocorridas ao longo dos 400 anos de história do tráfico.
Quando efetuava a travessia, o capitão Collingwood reuniu os marinheiros para ordenar que os escravos atingidos pela epidemia que assolava o navio fossem atirados ao mar para evitar maiores prejuízos com a morte de muitos outros mais. Apesar da oposição de alguns membros da tripulação, prevaleceu a vontade do capitão e, já na primeira noite, a tripulação atirou ao mar 54 escravos de mãos amarradas. Dois dias depois, outros 42 foram arremessados ao mar e, posteriormente, mais 26. Dez escravos assistiram ao pavoroso espetáculo e atiraram-se ao mar por vontade própria (p. 248).
Todo o drama começava com a construção do navio por uma equipe especializada de trabalhadores dos estaleiros, encomendado pelo comerciante com a tonelagem e as especificações adequadas para tráfico e para o transporte das mercadorias que seriam trocadas por escravos nas feitorias da Costa da África. À construção do navio seguia-se a montagem da tripulação, que envolvia a contratação do capitão, do piloto e também geralmente de um médico. Os marinheiros comuns eram arregimentados pelo capitão do navio, que percorria as tabernas encontrando-os quase sempre bêbados e sem dinheiro. Embora sempre querendo esquivar-se do trabalho nos navios negreiros, acabavam, sem alternativa, assinando contratos enganosos e embarcando para a costa da África.
As várias tribos do continente africano viviam em estado de guerra permanente mesmo antes da chegada dos europeus, e os capitães de navio entravam em contato com as elites negras para adquirir suas presas em troca de armas e outras mercadorias. Por exemplo, em alguns momentos históricos, os fons ou os axantes estendiam seus domínios sobre povos vizinhos. Havia também “guerras permanentes” entre grupos menores, como os conflitos entre os golas e os ibaus. Assim, a maioria dos africanos que se encontravam em navios negreiros teve esse destino porque eles haviam se transformado em prisioneiros de guerra vendidos aos traficantes por chefes de tribos poderosas da África. As guerras ocorriam com muita frequência entre as tribos africanas. Mas muitas vezes elas eram estimuladas pelos traficantes europeus e americanos e começavam assim que um navio negreiro aparecia na costa.
Os comerciantes locais, com a ajuda – e armas – do capitão do navio negreiro, preparavam pequenos destacamentos que eram conduzidos por canoas ao interior do continente para fazer guerra e recolher os escravos, que eram depois vendidos ao financiador da expedição.
Um dos pontos fortes da pesquisa refere-se à parte em que o autor reconstitui o vigoroso movimento abolicionista inglês para conseguir o fim do tráfico de escravos na Inglaterra, cujo pico ocorreu por volta dos anos 1788-1789. A partir de então, esse grupo de homens tomou consciência de que os horrores do tráfico de escravos eram moralmente indefensáveis e essa violência devia ser conhecida em todos os portos africanos de embarque e também nos principais portos e cidades inglesas e americanas.
Rediker reconstitui minuciosamente o movimento dos abolicionistas e reúne farta documentação produzida por aqueles homens em sua intensa militância. Com esse material, consegue desvendar aspectos importantes de toda a cadeia do tráfico, desde o porto de embarque até seu destino final, utilizando-se de pesquisas e depoimentos que os abolicionistas ingleses prestaram ao parlamento britânico, à época do esforço que empreendiam para a cessação do tráfico. Com sua luta, eles conseguiram tornar o navio negreiro uma realidade palpável, por meio da produção de muitos pronunciamentos, palestras, poesias e recursos visuais.
É particularmente notável a luta, a liderança e o trabalho do abolicionista Thomas Clarkson que, junto com seus companheiros, percebeu que o movimento não podia avançar sem provas. Clarkson percorreu as associações comerciais e as alfândegas de Bristol e Liverpool, lá encontrando listas de chamadas pelas quais computou os índices de mortalidade dos escravos, além de nomes de 20 mil marujos, para saber o que acontecera com eles. Reuniu ainda contratos salariais para verificar as condições de trabalho e emprego daquela gente. Mas, acima de tudo, ao trabalhar como um historiador social e adotar uma abordagem baseada na história oral, Clarkson foi ao encontro das pessoas na zona portuária para entrevistá-las.
Seguindo a narrativa de Rediker sobre a luta dos abolicionistas ingleses (viva e bem documentada), é impossível não nos perguntarmos a respeito do caráter relativamente inexpressivo do movimento abolicionista brasileiro, se comparado à luta incomensurável dos ingleses, que acabaram vencendo o lucrativo e tenebroso negócio do tráfico no Atlântico Norte. Se história de tal intensidade existiu no Brasil ela ainda espera, adormecida, por historiadores que a ressuscitem dos empoeirados arquivos brasileiros e portugueses.
Além da documentação produzida pelos abolicionistas, Rediker encontrou inúmeras memórias de capitães de navios negreiros, registros e depoimentos de médicos que faziam parte da tripulação do navio, diários de viagens para a África, bem como depoimentos e biografias de marinheiros comuns. Chama atenção a acuidade com que a documentação é analisada, principalmente quando se trata de registros mais conhecidos, como a biografia do marinheiro comum Olaudah Equiano. Rediker compara os vários estudos já existentes sobre Equiano peneirando eventuais exageros contidos na biografia ou separando o que ali existe de ficção e realidade.
É possível entender o valor informativo e crítico da obra de Rediker não apenas pela farta documentação que conseguiu encontrar, mas também por ter se beneficiado com uma volumosa massa de pesquisas sobre a África produzida por historiadores ingleses e americanos, divulgadas nas últimas três décadas em forma de livros e revistas especializadas.
Da versão atualizada dos trabalhos de David Eltis, Stephen D. Behrendt, David Richardson e Herbert S. Klein, A transatlantic slave trade: a database on CD-ROM, Rediker utilizou-se de dados quantitativos importantes que serviram de complemento e sustentação à documentação de caráter mais qualitativo. Mas seria impossível pensar no êxito dessa empreitada de Rediker sem sua sensibilidade e envolvimento com a causa que abraçou.
José Carlos Barreiro – Professor Titular de História do Brasil do Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Assis, UNESP. Av. Dom Antônio, 2.100, Jardim Universitário, CEP 19 806-900, Assis-SP.
O Alufá Rufino: Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro (c. 1822 –c. 1853) / João J. Reis
Na trajetória da História Social dos últimos 40 anos, o interesse dos historiadores abandonou a análise das estruturas –que produziam resultados cada vez menos capazes de apreender a complexidade da realidade histórica, e que falhavam em oferecer respostas satisfatórias a novos questionamentos –em favor de observações qualitativas, preocupadas em conferir como as pessoas reais lidaram com os desafios e condições de seu tempo. Diminuiu a convicção sobre teorias e modelos, já que a observação das experiências vividas punha em xeque a validade de tais postulados. Talvez a corrente historiográfica que mais fielmente tenha encarnado os novos valores da historiografia seja aquela rotulada de micro-história. Estudos ligados a essa metodologia buscam reunir eixos que haviam sido apartados: estrutura e experiência. A historiadora Hebe Castro -em artigo publicado na obra coletiva “Domínios da História” –afirma que tais estudos encontram “agentes históricos por trás dos discursos”, rompem “excessos de agregação e da simplificação das variáveis”, deixam claro a “liberdade e a inteligibilidade da ação humana na história”.
O “Alufá Rufino” de Reis, Gomes e Carvalho é um trabalho que enfeixa todas estas considerações historiográficas. Amparada numa extensa bibliografia e em documentação histórica levantada em três continentes e em vários estados do Brasil, a obra foi definida pelos autores como uma “história social do tráfico e da escravidão no Atlântico”. O que se observou não foi um Atlântico genérico, impessoal e ideal, e sim o Atlântico de Rufino José Maria, o contexto onde a vida tumultuada e incerta deste africano se desenrolou. Um Atlântico particular que, se por um lado estava marcado por condições que determinaram a trajetória daquele africano, ao mesmo tempo era espaço para suas manobras, negociações e decisões. Como resultado, os autores delinearam não um quadro mecânico, devorador de vidas e vontades ao sabor de suas leis, mas um espaço de possibilidades, uma demonstração do poder do indivíduo frente ao que se lhe impõe. A reboque destas realizações historiográficas, extraídas do emprego inteligente da micro-análise, os autores contribuíram ainda com “quadros” ricos de diversos aspectos do período estudado, observações que cobrem temas tão díspares quanto uma vida humana, uma “experiência”, pode abarcar.
Sobre a África de Rufino, para começar, a obra faz ver o tumultuado contexto de lutas étnicas que estabeleciam com o tráfico humano uma relação de estimulação mútua. No início do século XIX, a África Ocidental da região dos golfos de Benim e Biafra e seus sertões era uma colcha de retalhos étnica, onde grupos islamizados de diversos matizes (desde ortodoxos até aqueles mais abertos a sincretismos com as religiões tradicionais africanas), disputavam entre si pelo controle dos territórios e se sucediam no governo de pequenos reinos, estados e califados. Oriundo de um reino outrora poderoso mas então em crise, o africano que no Brasil viria a se chamar Rufino, membro de uma família malê (iorubá islamizada), foi aprisionado e remetido ao porto litorâneo por membros de outra etnia islamizada, que agora detinha o poder na região.
Saindo de uma África deflagrada, Rufino se deparou, na Bahia, com mais conflitos: tratava-se da Guerra de Independência, que na região de Salvador opôs militares portugueses –que controlavam a capital –aos fazendeiros brasileiros entrincheirados na região do Recôncavo. O fato de ter sido vendido a um boticário de renome foi oportunidade para que os autores explorassem as particularidades desta atividade, demonstrando detalhes da medicina e do comércio da Bahia de inícios do século XIX.
É também seguindo Rufino para o Rio Grande do Sul onde, ainda na condição de escravo, ele acompanha o filho de seu senhor, que os autores acabam penetrando nas fímbrias da Revolução Farroupilha. Perseguindo a sinuosa trajetória daquele africano, que parecia destinado a viver em regiões belicosas, aproximaram-se da rotina de José Maria de Salles Gameiro de Mendonça Peçanha, o desembargador Peçanha, chefe de polícia da Província gaúcha. Peçanha seria o novo senhor de Rufino. Aproveitando-se desta parada na acidentada trajetória atlântica de Rufino, os autores oferecem um olhar sobre a Porto Alegre do início dos oitocentos, especialmente sobre as condições da escravidão naquela região, que tinha fama de ser dura com os cativos. Transparecem, por meio dos documentos policiais, dos relatos de viajantes, das informações colhidas em jornais daquele tempo, as táticas de resistência e repressão empregadas por escravos e senhores. Mostram ainda as faíscas iniciais, detectadas nos relatórios do senhor de Rufino aos seus superiores no governo, da grande rebelião que tomaria o sul do país por uma década, a Farroupilha.
Outro aspecto importante da obra, também ligado à trajetória de Rufino, é a discussão que se faz sobre as etnias africanas no Brasil, sua distribuição territorial e profissional, e sobre as representações feitas sobre elas pelos senhores. Escravos minas, chamados malês na Bahia, eram temidos e perseguidos naquele momento. Pairava sobre eles uma endêmica suspeita de conspiração, um medo que servia inclusive aos fins políticos dos conservadores, que se apoiavam nele para adotar medidas de exceção e perseguir seus oponentes (segundo a acusação dos liberais). O domínio da escrita e o emprego do idioma árabe eram fatores que tornavam os minas ainda mais perigosos aos olhos dos senhores e das autoridades.
O Rio de Janeiro, destino seguinte de Rufino, era uma “extraordinária Babel africana” (REIS et alii, 2010, p. 71), a maior cidade africana das Américas. Ali desembarcaram, nas três primeiras décadas do século XIX, entre 500 e 900 mil africanos. Apesar de serem minoria no Rio de Janeiro –cuja população negra era composta majoritariamente de africanos de Angola, Congo e Moçambique –os minas apareciam desproporcionalmente em documentos policiais. Eram também majoritários nas atividades de ganho, o que os tornavam mais aptos à conquista da liberdade. Nessa época, 45% das alforrias pagas beneficiaram africanos minas, que representavam algo em torno de 5% da população africana carioca. A massa africana no Rio de Janeiro provocava um clima de tensão e repressão constante, traduzindo uma intensa pressão emancipatória dos escravos. Na Bahia, a presença de africanos oriundos da Costa da Mina, falantes do iorubá e familiares a Rufino, era maior.
Segmento essencial da obra aparece após a alforria de Rufino, diante da decisão que este toma sobre o que fazer com a sua liberdade: é aí que se penetra nos bastidores do tráfico humano do Atlântico. Livre, Rufino ingressa no comércio de escravos, na função de cozinheiro assalariado (o que lhe dava a chance de ser também pequeno comerciante transatlântico). É oportunidade para que os autores desvendem as intrincadas tramas deste negócio lucrativo e, a partir de 1831, ilegal, que juntava interesses e fazia fortunas nos dois lados do Atlântico. Eles demonstram as condições aviltantes da travessia, onde a falta de espaço, de alimentação e hidratação corretas e os precários padrões sanitários vitimavam, em média, 12% dos cativos. Através da análise do caso de Rufino e de outros correlatos e coevos, demonstra-se o funcionamento interno de uma embarcação traficante clandestina, destacando-se a importância do papel do cozinheiro. Evidenciam-se os esquemas absurdos erigidos pelos traficantes para “enganar” as autoridades brasileiras, que na verdade faziam vista grossa para o movimento incessante do tráfico negreiro. Aparecem as nuances das redes internacionais do tráfico, as conexões entre traficantes radicados nas duas extremidades do Atlântico; demonstra-se o caráter familiar de muitos desses empreendimentos escravistas, passados de pai para filho. Os “patrões de Rufino” são desmascarados neste segmento, que revela os meandros da atividade escravista.
Finalmente, aparece o papel da repressão inglesa, devidamente desmistificada e vinculada a interesses nada humanitários. O pragmatismo da marinha inglesa, que por motivos jurídicos tentava preservar a “cena do crime”, contribuía para um aumento absurdo das taxas de mortalidade nos tumbeiros. Os autores apontam ainda o cuidado que os ingleses tinham para evitar que a repressão ao tráfico interviesse nos seus interesses comerciais: os navios negreiros quase nunca eram capturados antes de tocar o solo africano e trocar as mercadorias trazidas do Brasil (muitas delas de origem inglesa) por africanos escravizados. Transparece também o caráter negocial das apreensões de navios traficantes, cuja captura gerava bônus para os perseguidores e que, levados para Serra Leoa e leiloados, produziam lucros para os potentados locais.
Radicado em Recife na década de 1840, Rufino torna-se alufá, espécie de sacerdote, contando para isso com os ensinamentos que recebeu na comunidade islâmica em Serra Leoa, onde passou duas temporadas de estudos. Emerge neste ponto da narrativa uma reflexão sobre o processo de sincretismo, em pleno desenvolvimento, entre religiosidades multicontinentais. Ao islamismo africanizado de Rufino, marcado pelo apego a patuás e amuletos, somavam-se crenças, conceitos e ritos brasileiros, estes também já bastante marcados pelo contato com outras religiosidades. Analisando o depoimento de Rufino, tomado em 1853, os autores detectaram o emprego de termos usados comumente por negros católicos no Brasil. A parada de Rufino em Recife, outro ponto do Atlântico sinalizado por este viajante incansável, dá ensejo ainda a análises sobre o espaço urbano recifense e sobre as tensões sociais subjacentes a sua vida cotidiana.
Além de todo o trabalho detetivesco feito pelos autores, verdadeiro exercício de faro fino, e da reunião e análise de uma extensa bibliografia que desse conta dos contextos percorridos por Rufino em sua trilha atlântica, sobressai do trabalho grande nota de sinceridade, de reconhecimento de limites. Durante todo o trajeto, quando necessário, os autores deixam claro a fragilidade de suas constatações. Não raras vezes encontraram pontos cegos, ausências e falhas na documentação, vicissitudes que não permitiram apontar com precisão total os passos dados pelo protagonista ou por aqueles que o cercavam. Os autores, diante dessas lacunas, oferecem conjecturas e possibilidades, mas o fazem de maneira a permitir que o leitor acompanhe o raciocínio, pese as possibilidades e julgue por sua conta. A própria decisão de publicar como anexos documentos importantes ligados à trajetória de Rufino, na íntegra, demonstra essa escolha de exibir os caminhos que levaram a esta ou aquela interpretação, no lugar de oferecer um produto fechado, inviolável e que se deve aceitar no todo e sem questionamentos.
Ao explicitar o modus operandi de seu trabalho, mostrando as escolhas interpretativas que fizeram, os argumentos que sustentam suas afirmações, os autores fazem um convite à reflexão, levando o leitor a adotar uma postura crítica, que poderá ser estendida a todas as outras leituras que ele vier a realizar. A escolha da micro-análise, a perseguição do indivíduo e de sua experiência, o abandono das análises totalizantes, ao contrário do que alguns apregoam, é um caminho vantajoso para os estudos de história. Longe de impedir a formação de uma compreensão maior, o estudo da trajetória de Rufino demonstrou exatamente o contrário, que a análise qualitativa é capaz de oferecer dados sólidos para a compreensão de um determinado contexto. A obra é, afinal, um grande tratado sobre a escravidão africana, um contributo valioso para a historiografia sobre o tema.
Daniel Rincon Caires – Instituto Brasileiro de Museus –IBRAM.
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus J. M. de. O Alufá Rufino: Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro (c. 1822 –c. 1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.Resenha de: CAIRES, Daniel Rincon. Outros Tempos, São Luís, v.10, n.15, p.250-254, 2013. Acessar publicação original. [IF].
A ideia de justiça – SEN (C)
SEN, Amartya. A ideia de justiça. Trad. de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. Resenha de: DALSOTTO, Lucas Mateus. Conjectura, Caxias do Sul, v. 18, n. 1, p. 212-215, jan/abr, 2013.
Qual deve ser o objetivo primeiro da justiça? Essa é, por assim dizer, a interrogativa que move grande parte dos escritos do economista e filósofo indiano Amartya Sen (1933), em especial em seu mais recente e proeminente livro denominado A ideia de justiça. Dentre as particularidades do autor, cabe sublinhar que Sen nasceu em Santinikenatan, onde atualmente é Bangladesh, e é professor da Universidade de Harvard. Foi laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em memória a Alfred Nobel no ano de 1998 por sua contribuição e pesquisa a respeito da teoria da escolha social e do walfare state, além de ser também um dos criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) juntamente com Mahbub ul Haq.
Publicado inicialmente em 2009 na Grã-Betanha, A ideia de justiça é uma homenagem e ao mesmo tempo uma crítica ao pensamento de John Rawls (p. 23), importante filósofo americano que em 1971 publicou a importante obra Uma teoria da justiça, a qual marcou para sempre o pensamento seniano, inclusive servindo como ponto de partida para a presente obra. O livro é composto por 18 capítulos, subdivididos em quatro grandes partes, além de uma longa e esclarecedora introdução. Esses quatro núcleos em que o autor divide o texto dão uma compreensão geral da obra e organizam as teses defendidas por ele de forma profunda. Leia Mais
Memória e Sociedade: lembranças de velhos | Ecléa Bosi
Cônjuge do crítico literário e historiador da literatura brasileira Alfredo Bosi, Ecléa Bosi nasceu em São Paulo e atualmente é professora de Psicologia Social na USP. Possui Graduação (1966), Mestrado (1970) e Doutorado (1971) nessa mesma área temática, por esta instituição. É coordenadora da Universidade Aberta à terceira idade e atua nos seguintes temas: psicologia, memória, cultura. Bosi é autora de Memória e sociedade, Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias, Velhos amigos, O tempo vivo da memória e da antologia Simone Weil. Recebeu o título de professora emérita em outubro de 2008, o prêmio internacional Ars Latina (2009) por Memória e sociedade e os prêmios Loba Romana e Averroes (2011). Mulher singular, Ecléa Bosi traduziu escritores de renome internacional como Leopardi, Ungaretti, Garcia Lorca e Rosália de Castro. Sua tese de livre docência intitulou-se Um estudo de psicologia social da memória, obtida em 1982 e apresenta a arguição teórica que deu base à Memória e Sociedade. Leia Mais
Comércio e canhoneiras: Brasil e Estados Unidos na Era dos Impérios (1889-97) | Steven Topik
Em Trade and Gunboats: the United States and Brazil in the Age of Empire – publicado originalmente em 1996 – o brasilianista Steven Topik recupera as negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e suas inflexões no campo da política, especificamente no contexto da Revolta da Armada. A obra contribui para o entendimento de dois elementos essenciais do período e da Revolta da Armada, mais especificamente: O acordo Blaine-Mendonça e a Esquadra Flint.
O acordo firmado em 30 de janeiro de 1891 entre James G. Blaine, Secretário de Estado norte-americano, e Salvador de Mendonça, Ministro Plenipotenciário do Brasil nos Estados Unidos, está inserido em um contexto de expansão de novos impérios coloniais e comerciais. As grandes potências europeias estavam “repartindo o mundo” entre si, e os Estados Unidos discutia os meios necessários para efetivar a Doutrina Monroe e tornar a América verdadeiramente dos (norte) americanos, procurando afastar a influência comercial europeia da região. Leia Mais
Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi / José M. Carvalho
O livro Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi, de José Murilo de Carvalho, é um clássico da historiografia brasileira no que se refere ao estudo da prática de cidadania entre o povo brasileiro no início da República. Utilizando-se de inúmeras fontes, que vão desde revistas e jornais da época a documentos oficiais, desde artigos e teses a livros conceituados, o autor constrói seu trabalho de maneira singular.
O trabalho é dividido em cinco capítulos, além da conclusão, notas, caderno de fotos e bibliografia no final. São ao todo 196 páginas muito bem utilizadas, e que vale a pena serem lidas.
Na introdução da obra o autor, como bom historiador que é, nos informa o recorte espaço-temporal de seu estudo: a cidade do Rio de Janeiro no período de transição do Império para a República até o governo de Rodrigues Alves. É também na introdução que ele lança o questionamento que buscará responder no decorrer do livro: por que o povo era considerado bestializado? Qual a razão de sua apatia política? Num primeiro momento, ao ler-se o título da obra, pensa-se até que o autor tratará da passividade do povo brasileiro, de sua inércia política. Mas seu objetivo é outro: é “tentar entender que povo era este, qual seu imaginário político e qual era sua prática política”.
O primeiro capítulo – O Rio de Janeiro e a República – traz uma descrição das mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais por que passou o Rio de Janeiro na transição entre os regimes monárquico e republicano, e as consequências delas advindas para a população. Também enfatiza o impacto do novo regime no que se refere à expectativa de maior participação política do povo. Mas tais esperanças foram logo traídas. O governo tratou de calar a população. Era preciso estabilidade política, a qual não seria possível se o negro, o pobre, o estrangeiro, o operário tivessem voz. A grande maioria da população foi excluída do processo eleitoral, mas o povo encontrou outros meios de inserção no sistema e participação política, embora não fossem nada formais. Este ponto será mais bem tratado nos capítulos seguintes.
No capítulo II – República e cidadanias – o autor trata das diversas concepções de cidadania nascidas no início da República. Vários setores da população foram despertados pela expectativa de expansão dos direitos políticos, como abordou Carvalho no capítulo anterior. Por sua vez, as diferentes ideologias e as próprias condições sociais dessa população diversificada, influenciaram a formação de múltiplos conceitos de cidadania.
Dentre essas concepções, Carvalho cita a dos conservadores ou o “setor vitorioso da elite civil”, que apoiavam o conceito liberal de cidadania (liberdade de pensamento, de reunião, de profissão, de propriedade etc.), mas ao mesmo tempo impedia a democratização com as inúmeras barreiras ao direito ao voto pela grande maioria da população. O autor destaca que houve até um retrocesso nos direitos políticos e sociais. A noção positivista de cidadania apoiava a ampliação dos direitos civis e sociais, mas não incluía os direitos políticos. O anarquismo repudiava qualquer tipo de autoridade e tinha aversão aos partidos políticos e eleições. A luta deveria ser direta, através de greves, boicotagem, manifestações públicas. Já os socialistas acreditavam na organização partidária, porém seus partidos não duraram muito.
Porém, como essas concepções eram muitas vezes abafadas pela elite governante, a reação dos excluídos foi a “estadania, ou seja, a participação, não através da organização dos interesses, mas a partir da máquina governamental, ou em contato direto com ela” (p. 65).
O terceiro capítulo – Cidadãos inativos: a abstenção eleitoral – é dividido em três momentos. Primeiramente, o autor apresenta testemunhos da época sobre o comportamento político brasileiro, que era visto por estrangeiros e até por propagandistas da República como apático e sem expressão. Entretanto Carvalho nos adverte a examinar tais testemunhos com cuidado e não tomá-los como retratos da realidade, pois como vimos no capítulo anterior, eram várias as concepções de cidadania. O autor critica as afirmações acima, considerando-as exageradas, uma vez que havia intensa participação popular desde a Independência, e com a República, as manifestações, as greves, as passeatas, os quebra-quebras se tornaram cada vez mais frequentes. Os testemunhos dos contemporâneos eram baseados em percepção europeizada do cidadão: bem-educado, militante organizado. Não encontraram este tipo no Rio, ou melhor, o cidadão carioca não se enquadrava nos conceitos que os observadores tinham em vista.
Na segunda parte do mesmo capítulo, o autor utiliza como referências censos da época para analisar a população fluminense, cuja composição, segundo seus estudos, é em grande parte de trabalhadores informais e de imigrantes. Carvalho aponta que tais características dificultavam a cidadania política no Rio. No primeiro caso, porque era difícil para esse setor popular (trabalhadores mal qualificados) compreenderem os mecanismos que regiam a sociedade. No segundo caso, porque a grande presença de estrangeiros também reduzia o envolvimento organizado na vida política da cidade.
Carvalho, no terceiro momento deste capítulo, busca compreender a participação do povo através dos canais oficiais, como o voto. O autor nos mostra que o eleitorado era bastante limitado. Apenas 20% da população do Rio podiam votar, e, dentre estes, poucos exerciam esse direito. O autor esclarece, que além da exclusão legal do processo eleitoral havia a auto-exclusão, cuja decisão era tomada por boa parte dos votantes, por saberem das fraudes eleitorais e do perigo de votar. Podemos entender isso como um meio de resistência a esse sistema corrupto.
Como a participação eleitoral era uma farsa e não lhe valia muita coisa, o povo buscou outras maneiras de se fazer ouvir. O capítulo IV – Cidadãos ativos: a Revolta da Vacina – aborda exatamente essa questão. Primeiramente, o autor nos apresenta o contexto social do Rio antes da Revolta, tratando das obras públicas de reforma urbana e saneamento na cidade, como também da luta pela implantação da vacina obrigatória contra a varíola, liderada por Oswaldo Cruz. Vários setores da sociedade iniciam então a Revolta da Vacina, que é descrita pelo autor dia após dia. Tal revolta foi fragmentada, reflexo da sociedade também fragmentada da época, que não tinha a tradição de organização e luta como havia entre o operariado europeu, consequência também das características dos trabalhadores do Rio.
Porém, quando o povo entendia que o governo havia passado dos limites, seja no campo material (criação ou aumento dos impostos) ou no campo da moral (invasão de privacidade, desrespeito à honra da família, valores ameaçados), o povo reagia. A Revolta da Vacina foi um exemplo claro disso, “um movimento popular de êxito baseado na defesa do direito dos cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo” (p. 139).
No capítulo V – Bestializados ou bilontras? – o autor procura explicar o comportamento político do Rio de Janeiro. De um lado, percebia-se um comportamento participativo na religião, na assistência mútua e nas grandes festas, em que a população parecia reconhecer-se como comunidade. Porém, de outro, havia a indiferença pela participação na política e ausência de visão do governo como responsabilidade coletiva.
Uma forte razão para isso, segundo o autor, era o peso das tradições escravista e colonial que viciaram a relação dos cidadãos e o governo. “O Estado aparece como algo a que se recorre, como algo necessário e útil, mas que permanece fora do controle, externo ao cidadão” (p. 146). Até porque a elite utilizou de vários mecanismos para alienar esse povo, para este permanecer quieto e passivo.
Porém, o autor nos mostra que essa atitude da população era também uma forma de resistência. A população logo descobriu que o novo regime não havia trazido avanços a liberdade e a participação. Então, “perante tal Estado, a cidade reagia seja pela oposição, seja pela apatia, seja pela composição” (p. 155). Os casos de apatia e oposição foram abordados nos capítulos III e IV. Os de composição referiam-se a exatamente a estadania, a aproximação do Estado, para reclamarem e conseguirem direitos que acreditavam serem da alçada do governo, como segurança, limpeza pública, transporte, arruamento. Todas eram maneiras de o povo atuar, reivindicar, reclamar, já que sabiam que não havia outros caminhos oficiais de participação. A República não era para valer. O discurso bonito do Estado não condizia com a realidade. Quem percebia isso não era bestializado. “Bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse a manipulação (…) Quem apenas assistia, como fazia o povo o Rio por ocasião das grandes transformações realizadas a sua revelia, estava longe de ser bestializado. Era bilontra [gozador, espertalhão].” (p. 160).
Em sua conclusão o autor explica que como não aconteceu uma República real, ou seja, o governo nunca foi uma coisa pública, a cidade não teve cidadãos, nesse sentido. Estes se relacionavam com o Estado da maneira que conseguiam. Como a cidade foi impedida de ser República, foram formadas várias repúblicas, onde os cidadãos foram construindo a sua identidade coletiva.
Por tudo isso apresentado até aqui, vemos o trabalho excepcional do historiador José Murilo de Carvalho, sobre o povo brasileiro e sua prática política.
No decorrer da leitura nos surpreendemos com a sua análise, que se mostra muito bem estruturada. A maneira pela qual ele constrói seus argumentos, não nos deixa perdidos na leitura. Os capítulos são sempre construídos de forma a darem suporte ao seguinte, de modo que o leitor consegue acompanhar sua linha de raciocínio. Ao final do livro, o autor conclui retomando todas as ideias anteriores, e solidifica ainda mais a nossa compreensão.
José Murilo de Carvalho não se mostra apenas como um bom escritor, mas também como um exímio pesquisador. As dez páginas de citação de fontes e referências bibliográficas ao final do livro, já nos dá uma boa impressão do trabalho. Jornais, revistas, almanaques, documentos oficiais, livros científicos e literários, artigos e teses foram utilizados pelo autor para construir esse trabalho. Porém, não só pela quantidade, mas também pela qualidade e inteligência que ele apresenta no uso dessas fontes, podemos perceber a confiabilidade de sua obra.
Kellen Araújo Sousa – Graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura em História, pela Universidade Federal de Roraima.
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. Resenha de: SOUZA, Kellen Araújo. Examãpaku – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, História e Relações Internacionais, Roraima, v.6, n.1, 2013. Acessar publicação original. [IF]
Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai
Como já mencionamos em oportunidade anterior [2], a Guerra do Paraguai é uma temática que tem gerado celeumas na historiografia brasileira (e não somente nesta). O professor Francisco Doratioto, que atua no Departamento de História da Universidade de Brasília, é conhecido nacional e internacionalmente por pesquisar sobre a Guerra do Paraguai e as relações internacionais entre o Brasil e os países da América Meridional.
Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai, livro publicado pela Companhia das Letras, é fruto de anos de pesquisa do autor e é considerado um referencial para o pesquisador que deseje se aventurar nas tumultuosas águas das Histórias referentes à Guerra do Paraguai. Alguns pesquisadores, contudo, chegam a utilizar irrefletidamente o texto do professor Doratioto como um porto seguro, quase que como um ponto final nas altercações produzidas sobre a historiografia do conflito. Leia Mais
As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que nos cerca – BROCKMAN; MATSON (EPEC)
BROCKMAN, J; MATSON, K. (Orgs.). As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que nos cerca. Diogo Mayer, Suzana Sturlini Couto (Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 308 páginas. Resenha de: SIMÕES, Ceane Andrade. As coisas são assim? Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.14, n. 02, p. 187-192, ago./nov., 2012.
UMA APROXIMAÇÃO À “TERCEIRA CULTURA” E À SUA TENTATIVA DE SÍNTESE
Se você estivesse numa sala repleta de cientistas famosos e pudesse formular apenas uma pergunta a cada um deles, quais seriam essas perguntas? É a partir dessa provocação que John Brockman e Katinka Matson organizam a obra de divulgação científica As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que nos cerca. Ela é uma escritora e artista que vem empregando a tecnologia nas suas obras para estudar a nossa intrincada relação com a natureza e com mundo2. Brockman é um agente literário nova-iorquino bastante requisitado por personalidades prestigiadas no meio científico.
Em função dessa relação íntima com pensadores e cientistas, ele foi capaz de criar diversas maneiras de estimular a manifestação destes, especialmente por meio eletrônico. Habitualmente, Brockman formula diversos questionamentos e provocações aos seus autores e os envia por correio eletrônico ou cria listas de discussão em sua página na internet3. As respostas obtidas são organizadas em livros, tal como a obra que apresentaremos.
O espaço virtual de interlocução entre cientistas, escritores, filósofos, sociólogos e investigadores criado por Brockman, no Edge Foundantion, é chamando de The World Question Center. Representa a ponte entre o pensamento científico e o pensamento filosófico-sociológico, ou seja, a tentativa de junção da cultura humanística com a científica, a qual Brockman prefere chamar de Terceira Cultura4. Segundo ele, The Third Culture “consiste nos cientistas e outros pensadores no mundo empírico que, através do seu trabalho e dos seus ensaios, estão a tomar o lugar do intelectual tradicional na tarefa de tornar visíveis os significados mais profundos das nossas vidas, redefinindo quem e o que somos” (extraído do site www.edge.org, tradução nossa).
Os colaboradores de Brockman, que ele classifica como as mentes mais interessantes do mundo, são verdadeiros intelectuais em ação e a exposição de suas ideias significa o reconhecimento das capacidades especulativas daqueles a que estamos mais habituados a ver como representantes do rigor e da exatidão.
A proposta de uma terceira cultura não é, necessariamente, uma novidade. Snow, na obra As Duas Culturas, publicada originalmente em 1959 – ampliada em 1963 sob o título The two Cultures: a Second Look, e editada no Brasil sob o título As Duas Culturas e uma segunda leitura: Uma Versão Ampliada das Duas Culturas e a Revolução Científica -, já criticava o distanciamento entre as ciências naturais e as humanidades. Tal distanciamento, resultante da especialização excessiva existente nesses dois campos, provocaria o empobrecimento da visão dos intelectuais5, tornando- os ignorantes ou nas ciências naturais ou na cultura humanística, o qual poderia ser superado com o surgimento de uma outra cultura capaz de fazer confluir vários campos do conhecimento. Essa nova cultura, ou Terceira Cultura, prevista por Snow, surgiria para reduzir o fosso de comunicação entre literatos e cientistas.
A polêmica instaurada por Snow sobre o desconhecimento de conceitos básicos da ciência pelos humanistas (ou literatos) e, por outro lado, a ignorância das dimensões sociais, éticas e psicológicas dos problemas científicos pelos próprios cientistas, pode sugerir os impactos gerados no campo educacional. Para ele, a educação deveria se ocupar com o cultivo de mentes criativas e de indivíduos que usufruam e produzam ciência e arte, assumindo o dever de minorar o sofrimento de seus contemporâneos (KRASILCHIK, 1992).
É nesse espírito de superação das dicotomias culturais que Brockman e Matson organizam As coisas são assim, uma coletânea de ensaios escritos por trinta e quatro renomados cientistas e pensadores, em abordagem sucinta e instigante.
Engana-se quem, assim como eu inicialmente, faz uma breve incursão pelo livro e acredita estar diante de um manual ao estilo “tudo que é preciso saber sobre a ciência” ou de um guia de explicitação de conceitos científicos. Os artigos presentes nessa obra ultrapassam esse lugar comum e permitem um inquietante interesse sobre a ciência e seus usos e métodos de construção de conhecimentos. Como os próprios autores afirmam na introdução, são apresentadas contribuições que funcionam como ideias elementares, conceitos básicos ou como ferramentas para o pensamento. Esse intento fica bem claro no título original do livro, publicado em 1995, “How Things Are: A Science Tool – Kit for the Mind”, que pode ser traduzido como “As coisas são assim: uma ferramenta científica – kit para a mente”.
A obra está dividida em seis partes: Pensando sobre ciência; Origens; Evoluções; A mente; O cosmos e o futuro. Os artigos são acompanhados, ao final, por uma breve descrição sobre seus autores, do que se ocupam e de suas principais pesquisas e obras. Essa síntese é bastante elucidativa e serve para situar os leitores, especialmente aqueles que têm pouca intimidade com nomes como os de Richard Dawkins, Daniel Dennet, Niles Eldredge, entre outros.
Na parte I (Pensando sobre ciência) encontramos os ensaios “Só isso ou tudo isso?”, em que a zoóloga Marian Stamp Dawkins, ao tratar das explicações científicas, lembra aos que julgam que elas retirariam a beleza dos “mistérios do mundo”, que a ideia é justamente o contrário e afirma: (…) explicar algo de modo científico não o diminui. Intensifica-o. (p.17). No ensaio “Sobre a naturalidade das coisas”, a antropóloga Mary Catherine Bateson fala das constantes confusões criadas em torno dos conceitos de natureza e natural. A forma como muitas vezes empregamos o sentido de natureza faz com que ela possa parecer algo a ser contornado. Outras vezes ela é colocada como o oposto de cultura ou como aquilo que é não influenciado por atos humanos. Então, a autora alerta: (…) o mais grave de tudo é que a visão da comunidade humana como algo separado da (e em oposição à) natureza se tornou natural.
(p.28). Em “Boas e más razões para crer”, o evolucionista Richard Dawkins fala das diferenças entre as provas encontradas pelos cientistas e as crenças. Muitas crenças são incutidas secularmente pelas tradições, por uma ação de autoridade, ou surgem por uma suposta “revelação”. Os fatos da ciência parecem ter a mesma conotação.
A diferença, segundo ele, é que os que anunciam fatos científicos viram as provas e estas podem ser examinadas.
Na parte II (Origens), estão os ensaios: “O que aconteceu antes do Big Bang?”, escrito pelo físico teórico e professor de Filosofia Natural Paul Davies, que concebe a ideia de que pensar, por exemplo, por que o Big Bang aconteceu, também pode levar a questionamentos como o que intitulou esse ensaio, em uma espécie de regressão infinita. Tal problema é enfrentado com frequência pelos cientistas.
“O fascínio da água”, escrito pelo Físico-Químico Peter Atkins, faz uma descrição sobre como, a partir de uma estrutura molecular tão simples, pode surgir a água.
Ele fala que o prazer de contemplar a água é reforçado quando sabemos de sua essencialidade para o surgimento e manutenção da vida. “De onde viemos?”, escrito por Robert Shapiro – professor de Química da New York University -, trata das origens da vida e questiona: “Como é que a vida surgiu pela primeira vez, neste ou em qualquer outro lugar do universo onde possa existir?” (p.58). “Quem culpamos pelo que somos?” escrito pelo biólogo reprodutivo Jack Cohen, fala sobre o DNA como princípio organizador da vida e desconstrói alguns mitos sobre ele, como aqueles contidos em perguntas como “Como é que o DNA faz a mosca?”. A resposta é simples, ele não faz. O que faz a mosca ou qualquer outro ser vivo é o processo de desenvolvimento no todo. “O triunfo do embrião”, de Lewis Wolpert – pesquisador da área de biologia celular –, questiona, por exemplo, “Como algo tão pequeno e sem graça quanto um ovo pode originar um complexo ser humano?” e “Como os genes, o material hereditário, podem controlar esses processos de gerar a espantosa variedade de formas vivas? (p.75).
“Do kefir à morte”, da bióloga Lynn Margulis, fala da morte e sobre o que significa “morte programada”. Ela afirma: “A morte significa a perda das fronteiras nítidas de um indivíduo; com a morte, o ser se dissolve”. (p.83).
Na parte III (Evolução), estão os ensaios: “Três aspectos da evolução”, escrito pelo evolucionista e paleontólogo Stephen Jay Gould, que trata do que a evolução não é, o que ela é e que diferença isso faz para nós. “Nossa gangue”, escrito pelo antropólogo Milford Wolpoff, trata de esclarecer as relações entre os seres humanos e o macaco e sobre o papel da Paleoantropologia em desenvolver teorias sólidas sobre a evolução humana. “E o incesto?”, escrito por Patrick Bateson – antropólogo -, fala que o desenvolvimento do tabu do incesto está historicamente relacionado ao controle do abuso sexual dentro das famílias. “Porque algumas pessoas são negras?”, escrito pelo biólogo Steve Jones, lembra que a falta de explicações simples para uma pergunta tão simples revela algumas fraquezas da teoria da evolução e daquilo que a ciência é capaz de dizer sobre o passado ou daquilo que ela já não pode verificar diretamente, ainda que ela nem sempre requeira provas experimentais diretas. Em “O acaso e a história da vida”, o paleontólogo Peter Ward questiona por que os mamíferos, incluindo os humanos, dominaram a Terra e “(…) por que os dinossauros não estão mais por aqui, se eram tão bem adaptados?” (p.138). “Ninguém gosta de mutantes”, escrito pela bióloga evolucionista Anne Fausto-Sterling, trata sobre o que é o normal e o natural na relação com o anormal e o artificial. Ela diz: “O não-natural, o natural, o normal, o anormal, o moral, o imoral se misturam. Ao discuti-los, tentemos pelo menos ser os mais claros possível.” (p.146).
Na parte IV (A Mente), estão os ensaios: “Como cometer erros”, escrito pelo filósofo Daniel Dennett, que lembra que cometer erros é a chave para o progresso.
E diz: “Você deveria procurar oportunidades para cometer grandes erros, só para então se recuperar deles”. (p.151). “A mente pode fazer mais do que o cérebro?”, escrito pelo lógico Hao Wang, questiona se essa é realmente uma pergunta científica, pois atualmente filósofos e cientistas entendem que mente e cérebro se equivalem. “Como pensar sobre o que ninguém jamais pensou?”, escrito pelo neurofisiologista William Calvin, sintetiza a interessante ideia de pensar sobre o próprio pensamento. “O quebra-cabeça das médias”, escrito pelo neurobiólogo Michael Gazaniga, discute que cada cérebro possui um padrão único, apesar de que no decorrer do “treinamento científico” as médias estarão sempre presente. “Ceteris Paribus (Tudo o mais sendo invariável)”, do antropólogo Pascal Boyer, defende que a ciência tem sido o empreendimento intelectual mais bem sucedido entre todos, até o momento. “Dar mais uma olhada”, escrito pelo psicólogo Nicholas Humphrey, trata da ilusão, do improvável e do impossível.
“O que saber e como aprendê-lo”, escrito pelo psicólogo Roger Shank, argumenta sobre a importância de aprender fazendo. “Como nos comunicamos?”, escrito pelo antropólogo Dan Sperber, discute aspectos essenciais da comunicação humana.
“A mente, o cérebro e a pedra de Roseta”, do neurocientista Steven Rose, traz elementos para a discussão sobre a dicotomia mente-cérebro e ressalta as outras diversas dicotomias presentes em nossa linguagem. “Estude o Talmude”, escrito pelo cientista da computação David Gelernter, trata sobre aprender a ler e apresenta o Talmude como um modelo importante para isso. “Identidade na Internet”, da psicóloga Sherry Turkle, faz uma análise sobre as personalidades assumidas pelos usuários de chats e sobre como os computadores mudam a nossa maneira de pensar.
Na parte V (O Cosmos), estão os ensaios: “O que é o tempo?”, em que o físico Lee Smolin lembra que qualquer criança sabe o que é o tempo, mas em algum momento terá que lidar como os paradoxos que estão por trás dessa noção. Ele explica como o mistério do tempo foi se aprofundando para ele e lança questões como: os relógios medem o tempo real? Existirá uma forma de medir o tempo real do mundo? O tempo absoluto existe?. “Aprendendo o que é através do que não pode ser”, escrito pelo físico Alan Guth, remete a pensar sobre a importância do impossível para a ciência, embora ela seja, a princípio, o estudo das coisas possíveis. “Simetria: o fio da realidade”, escrito pelo matemático Ian Stewart, fala dos padrões de simetria na natureza, lembrando que ela pode parecer apenas uma repetição de estruturas sem maior importância, mas que influencia a visão científica no universo. “Relatividade especial: porque não podemos nos mover mais rápido do que a velocidade da luz”, escrito pelo cientista da computação Daniel Hillis, discute sobre a impossibilidade de não se poder viajar mais rápido que a velocidade da luz.
Na última parte (O Futuro), estão os ensaios: “Quanto tempo durará a espécie humana?”, escrito pelo professor de Física Freeman Dyson, que trata dos prognósticos da ciência, lembrando inicialmente das previsões sombrias de Robert Malthus sobre o aumento geométrico da população e o aumento aritmético da produção de alimentos. “A singularidade do atual crescimento da população humana”, escrito pelo matemático de populações Joel Cohen, fala sobre o atual crescimento populacional na Terra. O autor lembra que a espécie humana está passando por um pico transitório e breve de crescimento populacional que, além de não ter precedentes, provavelmente será o único. “Quem herdará a Terra? Carta aberta a meus filhos”, escrito pelo paleontólogo Niles Eldredge, questiona as previsões sobre o fato de o mundo estar indo “por água abaixo”, apesar de todos os impactos negativos causados pela nossa forma de existência e pelo crescimento populacional. “A ciência consegue responder a todas as perguntas?”, em que – tomando o exemplo da desconfiança de Auguste Comte sobre a possibilidade de a ciência responder a tudo, mediante a pergunta “Do que são feitas as estrelas?” – o astrofísico Martin Rees demonstra como os astrônomos responderam sobre o que são as estrelas.
A visão trazida por essa obra remete à ciência como uma forma de entender o mundo. Aliás, uma das características que perpassa os ensaios é a do alto poder explicativo da ciência. A perspectiva é notadamente a das Ciências Naturais, por isso, apesar da intencionalidade dos autores em buscar uma via alternativa à dicotomia entre as culturas humanística e científica, temos aqui uma bela exposição dos modos de produção desse campo específico. Tal fato não lhe tira o mérito, pois como é anunciado na “orelha” dessa obra, “Ouvir o que os cientistas têm a dizer é fascinante e muitas vezes surpreendente. Um jeito novo de ver as coisas é oferecido”.
Pensar a ciência como uma lente que nos permite enxergar a realidade de uma determinada maneira, implica em compreendê-la como uma cultura, tal como uma linguagem. Ou seja, percebê-la como uma forma de consenso compartilhado por um grupo social, que afeta as suas práticas e em que a produção e intercâmbio de significados são negociados entre os seus membros. Nesse caso, a ciência não poderia ser analisada como algo que se orienta independentemente de uma matriz sociocultural, mas sim como algo em que a implicação da relação entre cognição com tempos históricos, culturas e sociedades específicas lhe é constitutiva (ZARUR, 1994).
De qualquer modo, a obra nos oferece a visão de que o exercício da indagação e do questionamento é, por si mesmo, muito precioso, e sugere, mesmo que indiretamente, uma importante reorientação para o ensino de ciências.
Notas
1 Esta resenha foi elaborada no âmbito de uma disciplina de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas, cuja tônica era a discussão sobre o papel ocupado pela Ciência em nosso contexto cultural. Nessa altura, a obra As coisas são assim foi selecionada como um texto representativo do gênero divulgação científica e antes de optar por trabalhar com ela, foram realizadas algumas buscas na internet, não sendo encontrada nenhuma resenha publicada nos meios em que se discute a educação em ciências. Entendemos que isso justifica o fato de resenharmos uma obra de publicação não tão recente.
2 Em sua técnica de fotografia, Katinka emprega scanner de mesa que, na captura das imagens, dá ritmo e profundidade às pétalas, caules e pistilos. Assim, luz e sombra contribuem para realçar, de uma forma vívida, detalhes do desenho e as suas cores. Procurar mais detalhes em http://www.katinkamatson.com. Ela é presidente da agência literária Brockman Inc. e co-fundadora e diretora da Edge Foundation.
3 Uma das perguntas anuais lançadas por Brockman no seu site (www.edge.org) foi “Qual é a maior invenção dos últimos 2 mil anos?”. A organização das respostas deu origem ao livro As Maiores Invenções dos Últimos 2 Mil Anos, publicado no Brasil em 2000, pela Editora Objetiva. Em outra lista de discussão, que alcançou 120 contribuições de cientistas, intelectuais e artistas, foi perguntado “What do you believe is true even though you cannot prove it?” (O que você acredita que seja verdade mesmo que não possa provar?). Estas ideias foram organizadas no livro Grandes idéias impossíveis de provar, publicado em Lisboa em 2008, pela Editora Tinta da China.
4 Conferir artigo de Nuno Crato na Revista da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Disponível em http://nautilus.fis.uc.pt/cec/arquivo/Nuno%20Crato/ 1998/19980711%20A%20terceira%20cultura.pdf 5 Os intelectuais (tradicionais) seriam os literatos, “homens das letras” ou críticos literários, colocados em oposição aos cientistas ou pessoas com formação científica. Para Brockman, os intelectuais da Terceira Cultura, os terceiro-pensadores, teriam o papel de comunicadores. Eles seriam “sintetizadores” da ciência, pessoas que não apenas conhecem coisas, mas que moldam o pensamento de sua geração e, para isso, estabelecem uma via de comunicação direta com seu público. Essa via tem sido conhecida hoje sob o rótulo de literatura de divulgação científica. A chamada do público para os debates científicos coloca a ciência em uma posição central na vida cultural moderna.
Referências
KRASILCHIK, M. Resenha As duas culturas e um segundo olhar. Em Aberto, ano 11, nº 55, jul./ set. 1992. Disponível em: <http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/823>.
Acesso em: 12 de agosto de 2009.
SNOW, C. P. As Duas Culturas e uma segunda leitura: uma versão ampliada das duas culturas e a revolução científica. Renato Rezende Neto (Trad.). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 1995.
ZARUR, G. I. A arena científica. Campinas, SP: Editora Autores Associados, 1994.
Ceane Andrade Simões – Mestranda em Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professora da Universidade do Estado do Amazonas (UFAM). E-mail: [email protected]
[MLPDB]O Alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (c.1822-c.1853) | João José Reis e Flávio dos Santos Gomes
Nas últimas páginas de Alufá Rufino os autores ressalvam, talvez tardiamente, sobre as impressões que os leitores possam ter a respeito de uma inversão na imagem da escravidão atlântica, na verdade não uma inversão, mas outra versão, em que o binômio bom/mau se torna difuso. Tradicionalmente, a idéia de maldade para o catolicismo, o pecado (o mau) como oposição às coisas de Deus, como pensava São Tomás de Aquino, poderia ser aplicada para opor a religiosidade de Rufino, um Alufá – um mestre de sabedoria para uma corrente do islamismo – a sociedade branca oitocentista brasileira, mas não é o que acontece nas entrelinhas de sua história.
A religiosidade de Rufino não é vista neste livro como um fardo para o africano Rufino, ao contrário, tornar-se Alufá faz parte de uma série de escolhas que fizeram ímpar sua trajetória. Outros ex-escravos, vindos também da África e com uma vida dissonante da grande maioria, amealharam dinheiro, algumas vezes originário do tráfico negreiro, ou gozaram de certa relação privilegiada na comunidade, geralmente da relação com os cultos adivinhatórios, como mostrou João José dos Reis, um dos autores aqui, em seu livro sobre Domingos Sodré.
É preciso lembrar que os leitores referidos não são necessariamente historiadores ou aqueles que já leram as obras mais recentes que tratam da complexa rede que estruturou a escravidão, textos que discutem o fato de que não só na África houve comércio de escravos por negros. No Brasil, alguns libertos conseguiram adentrar, em pequeno volume, neste negócio.
Como o livro parece ter sido escrito para um público leitor maior do que o alvo de obras acadêmicas, as explicações sobre as nuanças mostradas sobre a vida de Rufino podem ter uma intencionalidade, talvez uma escrita que queira ser mais próxima de uma narrativa romanceada, com um personagem multifacetado que vai se modificando ao passar das páginas. Claro que Rufino não se transforma num personagem caricato aos moldes dos folhetins, suas experiências em diversas partes do Brasil e depois em navegações atlânticas o conduzem a uma série de oportunidades, como possivelmente ter aprendido o preparo de ungüentos com seu senhor, um boticário; ter se tornado um pequeno comerciante transatlântico e talvez de escravos; e ainda ter estudado em escolas islâmicas, aprendendo inclusive a ler e escrever árabe, o que provavelmente possibilitou sua condição de “mestre” em Pernambuco.
Estas oportunidades que levam Rufino a uma condição singular na história do tráfico negreiro do século XIX, também possibilita que os autores do livro o utilizem como um guia para diversos assuntos, como a empresa marítima do tráfico ilegal, a diversidade étnica e religiosa dos escravos e a sociedade branca brasileira, esta última através das páginas de jornal que noticiaram o caso da prisão de Rufino.
Algumas questões chamam a atenção neste livro, primeiro à alforria de Rufino, que além de inusual em sua forma, um documento que mais se aproxima de um alvará, o que podia ser uma forma também diferente dos padrões para um acordo com seu senhor, nos mostra sua desenvoltura na sociedade escravista, já que parece ter conseguido arrecadar o valor que se pagaria por um escravo no Rio Grande do Sul e assim comprar sua alforria. Segundo, a maneira que ele transitava no universo mercantil atlântico, com certas regalias, como a de levar caixas de goiabada numa embarcação, possivelmente de tráfico, para serem comercializadas na costa africana. E depois, continuar pleiteando os direitos a reparação de sua carga apreendida no Ermelinda, detida por acusação de tráfico de escravos.
Também é curiosa a certa tolerância de uma sociedade dominante cristã a religião do Islã praticada pelos africanos, sendo eles ladinos, mais experientes nas relações com os brancos, ou boçais, que deveria trazer suas convicções religiosas mais firmes, pelo menos com as práticas mais frescas na memória.
A curiosidade sobre a alforria de Rufino é que ele pode ter negociado sua liberdade através de um acordo muito particular, o que talvez justifique um documento que normalmente não serviria para este fim. Sendo Peçanha, senhor de Rufino, uma autoridade jurídica, atuando nesta peça como juiz e senhor, o documento tem até um peso maior, dando plenos direitos à liberdade, sem citar o valor de contrato. Isto mostra que havia um dinamismo na relação senhor-escravo2 que permitia certos acordos, os autores levantam a possibilidade que Rufino tenha pagado ao senhor 600 mil-réis, mas este dado não está incluído no documento por ser este um ato jurídico, como já dito, de uma atuação dupla, de autoridade e interessado ao mesmo tempo. Acredito que esta negociação pode ainda ter outros ingredientes que não foi possível demonstrar na pesquisa.
Se então Rufino pagou a importância declarada por ele, mostra que sua ladinização fora frutífera, talvez, como mostram os autores, ele já tivesse amealhado alguma importância ainda nas ruas da Bahia. A atividade comercial, feita por escravos de ganho, tornou-se tão disseminadas em algumas cidades brasileiras que gerou pressões de comerciantes sobre as autoridades. Em Salvador uma medida tentou regularizar a atividade comercial de rua, em 1835 a câmara da cidade editou lei que obrigava a fazer uma matrícula com nome, nome do senhor (caso fosse escravo), tipo de venda, tendo que ser atualizada mensalmente (Reis, p18, 1993).3
Sobre a capacidade de Rufino de utilizar as brechas existentes na sociedade escravagista brasileira é interessante também sua história atlântica, depois de ter vindo agrilhoado nos porões insalubres dos tumbeiros, alguns anos depois, já liberto, comandava a cozinha de embarcações que provavelmente alternavam sua carga entre mercadorias e escravos. A cozinha, como os autores destacam incisivamente, seria muito importante para o negócio ultramarino de cargas vivas, principalmente porque estar em alto-mar não permitia que as pessoas tivessem boas chances de permanecer vivas ante alguma doença violenta, as condições de transporte eram as piores possíveis. Uma provável condição de conhecedor das práticas de um boticário aumentaria o cartaz de Rufino, controlar a qualidade mínima dos alimentos e ainda ter algum tipo de conhecimento para aliviar um mal que pudesse ser tratado ali deveria fazer dele um profissional desejado pelas companhias atlânticas.
Decerto esta importância facilitou com que Rufino tivesse a oportunidade dele mesmo fazer um comércio atlântico, se ele conseguiu mesmo os 600 mil-réis que disse ter pagado por sua alforria, o preço médio de um escravo, não seria estranho pensar que ele tivesse certo traquejo para a negociação. O que também chama a atenção é que, de volta ao Brasil, seus contatos com os donos do Ermelinda não cessaram, provavelmente pelo interesse mútuo, se Rufino queria ser ressarcido por suas goiabadas estragadas, também seu nome constava como papel importante no processo de apreensão da embarcação.
Na última viagem de Rufino à África, ele continuou se aperfeiçoando nos estudos, desta vez o tempo que passou na escola de Fourah Bay parece ter sido suficiente para lhe preparar para ser um mestre islâmico, um Alufá, quando voltara para o Brasil. Apesar dos documentos que foram utilizados na pesquisa do livro se tratar de uma prisão e sua repercussão na imprensa, parece que em certa medida a religião de Maomé era mais tolerada que os cultos dos orixás. O que era estranho em vários sentidos, pois também praticavam adivinhações e uso de objetos rituais simbólicos em suas práticas.
Rufino, por exemplo, sobrevivia de curar males, prever o futuro e até mesmo retirar feitiço. E se a imprensa chamava quem praticavam tais atos de velhacos e oportunistas, é de se estranhar que Rufino tenha sido tratado diversas vezes por mestre ou por homem de sabedoria. Talvez a sua capacidade de escrever e ler árabe o colocasse numa posição diferente dos demais cultos, ou mesmo a sua clientela fosse a responsável por esta diferenciação. Ou seja, alguns brancos também acreditavam na capacidade espiritual do Alufá, não se sabendo quantos ou se os mesmo eram influentes.
Rufino dá margem para pensarmos que a relação entre negros e a sociedade branca brasileira, pelo menos nos subterrâneos, era permeável e que possibilitava até mesmo uma inversão de lugares, o Alufá era o mestre que propiciava conhecimento a quem o procurava, como podemos imaginar pelo relato de Rufino não eram somente os negros.
O livro termina deixando claro que Rufino foi um personagem da história brasileira, ou de uma história atlântica, que soube utilizar as fissuras da sociedade para sobreviver à violência da escravidão. Alguém que reconstruiu seu espaço, se colocando num outro lugar da embarcação negreira, os autores mostram que ele literalmente mudou de lado em relação à caldeira.
Esta reconstrução do espaço, dentro de possibilidades, é claro, se deu não só na relação econômica, mas em sua atividade social, reafirmando sua crença islâmica, ser Alufá o colocou numa posição de destaque numa pequena comunidade de escravos e libertos malês, e em certa medida, também o destacava na sociedade dominante. Rufino foi um guia dos autores para revelar relações que ocorriam na penumbra, que não são percebidas num rápido passar de olhos, mas que são importantes para entendermos a formação da sociedade brasileira, que se pensarmos em Gilberto Freyre, se tornaria cada vez mais matizada.
Notas
2. Para compreender mais sobre essa relação ver CHALLOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
3. João José Reis. A Greve Negra de 1857 na Bahia. Revista USP, 18, 1993.
Tissiano da Silveira1 – Mestrando do Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista CNPq. E-mail: [email protected]
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim de. O Alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (c.1822-c.1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.Resenha de: SILVEIRA, Tissiano da. A trajetória singular de Rufino. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.30, n.2, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido | Laura de Mello e Souza
A coleção Perfis Brasileiros, coordenada por Elio Gaspari e Lilia Moritz Schwarcz, tem oferecido aos leitores biografias, algumas delas de excelente nível, prestando importante serviço ao gênero biográfico. Agora vem a lume Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido, da historiadora Laura de Mello e Souza, o que só confirma o acerto dos editores em mobilizar pesquisadores de qualidade acadêmica para biografar personagens de relevo pertencentes ou conectados à tradição histórica brasileira.
A narrativa da vida e morte de Cláudio Manuel da Costa – poeta mineiro do setecentos, quase esquecido fora dos círculos literários mais eruditos ou dedicados aos estudos arcádicos – é mais que a biografia do homem que virou nome de rua em Belo Horizonte, Sorocaba ou Curitiba. Mais do que uma mera biografia, o livro é um mergulho na história das Minas do século XVIII. Sem abdicar da força da erudição histórica, nem desconsiderar a contribuição da cultura acadêmica mais atualizada, a autora soube produzir um texto elegante e fluído que, ao narrar a vida de um homem, estabelece o fundo histórico no qual ele viveu.
Ao reconstruir a trajetória do poeta, Laura de Mello e Souza alude à formação histórica de uma das mais remotas e importantes províncias do Império português. Para o pequeno Reino de Portugal, e seu vasto Império, que se estendia por três continentes, o século XVIII amanheceu sob o impacto da descoberta de ouro no interior da América, que viria rapidamente a se tornar o fulcro de todo o sistema português. A atenção da Coroa e de seus agentes – bem como de reinóis e colonos, modestos ou afidalgados – voltou-se para os ermos do continente, muito além da Serra da Mantiqueira. Ao abordar o homem, a autora expõe a sociabilidade urbana de Ribeirão do Carmo, depois denominada Mariana, e Vila Rica, depois Ouro Preto, com suas festas, igrejas e ordens religiosas. No texto aparecem as relações políticas entre os homens bons e a Coroa. Ou ainda as estratégias de ascensão social, típicas das sociedades do Antigo Regime, ávidas por insígnias, nas quais as relações sociais estavam assentadas em critérios de fidelidade, parentesco, amizade, honra e serviço. Também aparece o peso da escravidão, “talvez o elemento mais importante da sociedade surgida nas Minas: sociedade conflituosa, tensa, complexa e mestiça desde o nascedouro” (p.34). Ao narrar a morte do poeta já idoso – rico e prestigiado, mas inconfidente e preso – a autora contempla em discretas e precisas pinceladas a Inconfidência Mineira, amparada pela leitura dos autos e por fina interpretação histórica, em que o rigor analítico dialoga com a leitura dos poemas.
Cláudio, dilacerado
Cláudio Manuel da Costa nasceu no distrito da Vargem do Itacolomi, perto do Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, no dia 5 de julho de 1729. Seu pai, um modesto português de nome João Gonçalves da Costa, e sua mãe, Teresa Ribeiro de Alvarenga, de antiga e tradicional família paulista, haviam sido atraídos pelo ouro, como milhares de outras pessoas. E prosperaram, pois tiveram escravos, terras, minas e honra. Mas não se tornaram verdadeiros potentados da terra, como sugere a documentação relativa ao inventário da morte de João, pai de Cláudio: “A simplicidade da vida material dos cônjuges contrastava vivamente com o fato de terem enviado cinco filhos – todos os homens que nasceram – para estudar em Coimbra” (p.40). Se João e Teresa reuniram recursos o suficiente para mandarem seus rapazes a Coimbra, é lícito imaginar que amealharam alguma riqueza, tiveram gana de ascensão social e certa sofisticação cultural, além de amigos importantes. Entre eles estava o poderoso contratador João Fernandes (pai de outro João Fernandes, talvez ainda mais poderoso e célebre por esposar Chica da Silva). João Fernandes, o velho, era amigo de João Gonçalves da Costa e padrinho de seu filho, o menino Cláudio.
Aos 15 anos o jovem Cláudio atravessa as Gerais a fim de estudar no colégio jesuíta, no Rio de Janeiro. E aos 18, cruza o Atlântico. No dia primeiro de outubro de 1749, já matriculado na Universidade de Coimbra, inicia sua carreira de homem de letras. Às margens do Mondego, entre aulas, leituras e convivências – e versos – começa a construir sua fama de erudito. Cláudio foi capaz de adquirir uma sólida bagagem cultural humanista permanentemente alimentada ao longo da vida.
Em 1754, aos 24 anos, contrariado, retorna a Minas, de onde nunca mais sairia. Jamais abandonou os versos, mas ganhou a vida (e fez fortuna) como advogado e homem de Estado, exercendo diversas funções, de almotacé a cargos na Fazenda pública e na Câmara de Vila Rica. Ao narrar a vida pública de Cláudio, a autora traça interessante perfil do modo como Estado e a administração atuavam, com seus meandros, labirintos e interesses (lícitos e escusos). Naquele mundo bruto, Cláudio jamais deixou de ser poeta e foi capaz de transpor à sua obra a contradição expressa na convivência tensa entre uma cultura urbana e letrada e outra matuta e iletrada, tão característica das Minas do século XVIII, na qual se sentia “vítima estrangeira” na própria terra.
O poeta não apenas viveu em Minas, mas a expressou, sem jamais esquecer a cultura árcade da Europa. O confronto e a convivência entre a civilização e a barbárie no Novo Mundo é um tema recorrente na Ilustração. A saudade da civilização do Reino é sempre lembrada para falar da desolação de sua terra. “Ser letrado na aldeia não o livrava contudo dos tormentos internos. Em 1768, no ‘Prólogo’ à Obras, desabafou que as boas influências recebidas em Coimbra – ‘alguns influxos, que devi às águas do Mondego’ – estavam destinados a sucumbir, uma vez retornado às Minas: ‘aqui entre a grossaria dos seus gênios, que menos pudera eu fazer que entregar-me ao ócio, e sepultar-me na ignorância!’” (p.138).
A saudade – e o sentimento de inferioridade – perante a Europa, que já acometia Cláudio Manuel da Costa, parece ser um antigo traço do homem de letras brasileiro. Um século e meio depois das saudades metropolitanas de Cláudio, Mário de Andrade, em carta a Carlos Drummond, repreendendo-o, diria: “O dr. Chagas descobriu que grassava no país uma doença que foi chamada de moléstia de Chagas. Eu descobri outra doença mais grave, de que todos estamos infeccionados: a Moléstia de Nabuco. (…) Moléstia de Nabuco é isto de vocês andarem sentindo saudade do Sena em plena Quinta da Boa Vista e é isso de você falar dum jeito e escrever covardemente colocando o pronome carolinamichaelisticamente” (referência à filóloga portuguesa Carolina Michaëlis). (Lélia Coelho Frota, Carlos e Mário, 2002, p.128). Muitos dos conflitos vividos por Cláudio, ainda antes da modernidade, são dramas existenciais constantemente reatualizados por certos estratos da elite brasileira, que vivem cindidos entre a crença profunda de pertencer ao Ocidente e o sentimento igualmente profundo de estar à margem.
Concepção e narrativa
Narrar a vida – e de certo modo a obra – de um homem e seu mundo é uma luta com o tempo e com as palavras. Luta ainda mais árdua quando o acervo documental é exíguo e já se vão mais de dois séculos entre o tempo do narrador e do narrado. Reconstruir um tempo e um mundo que já nos são estrangeiros é tarefa por excelência do historiador, cuja missão é traduzir o passado, reconstruindo demoradamente filias e fobias, conceitos e projetos, paixões e ódios, decifrando códigos cuja fluência se perdeu. O Cláudio Manuel exumado por Laura nem é o “verdadeiro”, irremediavelmente perdido, nem é um personagem inventado à maneira de um ficcionista, mas um Cláudio reconstruído a partir de um acurado tratamento documental e bibliográfico, assentado em seu contexto histórico. Para que esse Cláudio exista foi necessário imaginar – ao modo dos grandes historiadores do XIX, como Jules Michelet, que, primando pela qualidade da reflexão e pela exploração crítica das fontes, não recusaram o estilo e a potência interpretativa, capazes de criar uma perspectiva autoral, inconfundível.
Para narrar a viagem de Cláudio Manuel entre o Rio de Janeiro e as Minas, na longa volta para casa, em 1754, depois de seus anos de estudo em Coimbra, a historiadora soube encontrar soluções aos problemas que a pesquisa impunha: na falta de quaisquer documentos relativos à viagem do jovem bacharel, a autora utilizou o relato do reinol Costa Matoso, que na qualidade de ouvidor nomeado àquela capitania, registrou a viagem em minúcias, em 1749; assim, ficamos sabendo que nos estreitos e tortuosos caminhos de Minas não raro a bagagem senão as próprias mulas despencavam ribanceira abaixo; que as chuvas de verão praticamente impediam a viagem entre novembro e março. Narra a biógrafa que, à “medida que a baía do Rio de Janeiro ia ficando para trás, encoberta por véus esgarçados de neblina, ficava também o oceano que ligava a colônia à metrópole, ficavam os navios atracados no cais, as igrejas, os conventos, o palácio dos governadores, o mundo mais lusitano e mais polido que havia desempenhado um papel tão importante na sua formação, e ao qual ele se ligara profundamente, com admiração e culpa” (p.70).
A riqueza do texto, submetido ao rigor da pesquisa histórica, garante à narrativa pelo menos duas camadas de leitura: o leitor especializado encontrará acurada perspectiva analítica, ancorada em erudição bibliográfica e documental; já o leitor não especialista reconhecerá no texto sabor e interesse.
No livro não há notas de rodapé, nem longos balanços historiográficos, como é comum nos textos vazados em linguagem acadêmica. No entanto, no fim do volume, já depois dos agradecimentos, entre as páginas 201 e 215, há uma importante contribuição aos estudantes e estudiosos das Minas do século XVIII. Em “Indicações e comentários sobre bibliografia e fontes primárias” a autora, professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, oferta aos interessados um valioso roteiro de leitura, com comentários acerca da bibliografia e da documentação.
Uma das qualidades da abordagem de Laura está na construção de um retrato de Cláudio e sua época que transcende a dimensão local ou mesmo “nacional”. Inclusive porque o Brasil enquanto nação não existia, nem existiam as nações modernas, com suas sensibilidades românticas e seus projetos de unidade política, cultural, linguística e legal. Consciente de que a história de Cláudio transcorre numa província do Império português, não é de se estranhar que um dos poucos autores citados no livro seja Charles Boxer, historiador que não escreveu sob a égide do estruturalismo e dos recortes estritos (embora aprofundados) no espaço e no tempo, de onde emerge o particular. A obra de Boxer, mais tributária da hermenêutica documental do que da especulação teórica, construiu grandes painéis interpretativos, narrativos, abertos à multiplicidade temporal e espacial da história, como em O império marítimo português, 1415-1825 ou Portuguese Society in the Tropics. The Municipal Councils of Goa, Macao, Bahia, and Luanda, 1510-1800. Quando as historiografias brasileira e portuguesa – por melhor que fossem – ainda estavam presas aos recortes nacionais, Boxer já praticava uma historiografia de dimensão imperial, o que não significa menosprezar as instituições locais, como a Câmara, ao contrário, pois era através dela que o braço régio atingia os lugares mais remotos do império. Na “vereação de 1781”, da qual Cláudio fazia parte, todos os membros da Câmara, com exceção de um deles, também pertenciam à Santa Casa da Misericórdia, “compondo, assim, o modelo da oligarquia local detectado pelo historiador britânico Charles Boxer para o conjunto do Império português: quem não estava na Câmara, estava na Misericórdia, quando não estava nas duas” (p.90).
A biógrafa é especialista nas Minas do século XVIII, o que, por certo, ajudou a assentar o biografado no chão histórico em que viveu o poeta árcade. Quanto à apreciação propriamente histórico-literária da obra de Cláudio Manoel da Costa, a historiadora travou diálogo com Sérgio Alcides, autor de Estes penhascos. Cláudio Manuel da Costa e a paisagem das Minas (1753-1773) e com a incontornável referência de Sérgio Buarque de Holanda, em Capítulos de literatura colonial. Como Lucien Febvre, nos seus Combates pela História, a autora apostou na contextualização e na humanização do personagem, sem, contudo, desconsiderar o enquadramento do estilo retórico de Claudio Manuel e sua época.
Mapas e viagens
“Viagem dilatada e aspérrima” é a frase com a qual Cláudio descreveu o périplo empreendido pelo governador da capitania, entre agosto e dezembro de 1764, comitiva da qual era integrante. Este é também título do capítulo 15 do livro, em que Laura narra a viagem de 40 léguas, ou 2640 quilômetros, pelo interior selvagem das Minas. A viagem expõe os caminhos, as vilas, os rios, as montanhas, os índios, os negros, os sertanistas, os contrabandistas. O lugar seria perfeito (em linha com a criativa concepção do livro) para presentear os leitores com os esforços cartográficos produzidos nas Gerais do século XVIII. Afinal, mapas ocupavam a imaginação do poeta: “Cláudio guardava duas imagens de santos dentro de redomas de vidro, que ficavam em cima de algum móvel ou dentro de um oratório, ou ainda quem sabe ao pé da cama: as paredes, ele reservava para uma de suas paixões, os mapas” (p.144). Não é possível resgatar os mapas das paredes da casa de Cláudio, mas teria sido interessante imaginá-los, especulando (e integrando ao texto) mapas da época, que nelas poderiam ter estado. Há no livro, no entanto, dois pequenos e extraordinários mapas: um que apresenta a setecentista Vila Rica, em que aparece circulada a fazenda de Cláudio Manuel da Costa (e que havia sido do casal João e Teresa, seus pais); e outro que exibe uma vista panorâmica de Mariana. Mas outros poderiam ter sido evocados, inclusive algum que mostrasse o traçado do caminho que havia sido percorrido por Cláudio (e descrito por Costa Matoso) entre o Rio e as Minas. Ele próprio, conta a autora, havia preparado um mapa, hoje desaparecido, para o governo local. Mapas eram uma das suas obsessões, aliás, não apenas sua, mas de seu tempo.
Honra, lei e a vida
Cláudio Manuel da Costa – um luso-brasileiro branco, educado em Coimbra, enriquecido nas lidas de advogado de prestígio, e um dos maiores poetas da língua portuguesa de seu tempo – jamais se casou, porém viveu por mais de 30 anos com Francisca Arcângela de Souza, negra, provavelmente escrava alforriada, com quem teve ao menos cinco filhos (tampouco se sabe o número exato). Para um homem de sua posição, casar-se com uma moça branca, de sua extração social, teria sido fácil, mas naquele mundo, assumir Francisca impunha um custo elevadíssimo.
Em seu esforço para se nobilitar, Cláudio empenhou-se em ingressar na Ordem de Cristo, a mais aristocrática das ordens militares portuguesas, fundada na Idade Média e herdeira dos templários. Na época dos descobrimentos, o “mestre” da Ordem era El Rei D. Manuel, o Venturoso, o que denota a importância da honraria, cujo valor era simbólico, destinando-se a “homens que haviam se distinguido tanto em feitos de armas como em outras ações dignas de nota, nas letras, no governo, na religião” (p.110). Além disso, pessoas que trabalhassem com as mãos ou fossem de “raça infecta” (ou casadas com gente de “sangue impuro”), por ascendência moura, judaica, negra ou indígena, estavam legalmente impedidas de pertencer à Câmara, às ordens militares ou à Santa Casa da Misericórdia. “Cláudio não podia. Nem casar com a companheira negra que lhe deu cinco filhos, e com quem permaneceu até o final. Como ficariam as honrarias que perseguia, o hábito de Cristo, o cargo de procurador da Fazenda, tudo amarrado pelas exigências restritivas do status e da legislação sobre pureza de sangue?” (p.160). Cláudio – cultor de Ovídio, leitor de Góngora, em termos políticos razoavelmente simpático às reformas do despotismo ilustrado de Pombal – foi, e não poderia deixar de ser, um “homem de seu tempo e de seu país”, parafraseando Machado de Assis (Instinto da Nacionalidade. Obra completa, vol.3, 1994, p.811). Afinal, vivia numa sociedade escravocrata e num Império cioso da pureza de sangue. Apesar da sóbria simpatia que lhe dedica, a biógrafa não deixa de revelar as contradições do poeta: “Cláudio se afeiçoou a uma negra pobre e não teve a coragem do desembargador João Fernandes de Oliveira, filho de seu padrinho, que, milionário e poderoso, assumiu publicamente tanto Chica da Silva quanto a filharada que nasceu da união” (p.141).
Cai o mundo de Cláudio
A partir da década de 1780 vigia, nas Gerais, um clima de sedição e conspiração, manifesto no que Laura de Mello e Souza chamou de “conversas perigosas”. O descontentamento prevalecia entre os grandes da terra – num contexto pós-pombalino, em que o governador nomeado por Lisboa, Luís da Cunha Meneses, gozava de péssima reputação, na medida em que buscava cortar foros e privilégios da elite local. A inquietação se agravava com a rígida política tributária que onerava as finanças dos endividados homens bons. Nesse clima, abundavam reuniões frequentadas pelo cônego de Mariana Luís Vieira da Silva, por Alvarenga Peixoto, que vivia em São João del Rei, por Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, entre muitos outros, como Domingos de Abreu Vieira, Joaquim Silvério dos Reis e, decerto, Tiradentes.
O sentimento de contradição – que opunha interesses locais e o dever de lealdade à Coroa – deve ter calado fundo no já atormentado Cláudio, de certo modo tão português, mas também sensível às coisas do mundo em que habitava. Além dos conflitos latentes, havia um pano de fundo que a autora nota com muita sensibilidade, o que nem sempre percebem os historiadores ávidos de concretude e pouco afeitos a interpretações mais ousadas: “para completar seu desespero, (Cláudio) deve ter percebido com clareza que os luso-brasileiros não eram, no fundo portugueses: nem se sentiam mais assim, nem eram vistos como tais, quando olhados do Reino” (p.180).
O desastre era iminente. A devassa havia começado no Rio de Janeiro, onde Tiradentes fora encarcerado. Em Minas, na manhã de 22 de maio de 1789 fora preso Tomás Antônio Gonzaga. Outra escolta prendera Abreu Vieira. No dia 24, Alvarenga Peixoto e o padre Toledo foram presos. Todos seguiram para o Rio, “montados em cavalos que os soldados puxavam pelas rédeas e, humilhação das humilhações, agrilhoados nos pés e nas mãos” (p.182). Cláudio contava sessenta anos, era o mais velho dos inconfidentes e estava doente, talvez n’alma também. Ele, cavaleiro da Ordem de Cristo, educado em Coimbra, membro ativo da elite imperial, estava prestes a ser preso por alta traição ao Rei. Na madrugada do dia 25 de maio sua casa fora cercada. O poeta de prestígio, proprietário de escravos, advogado de quase todos os grandes contratadores, rico o suficiente para emprestar dinheiro aos ricos, estava preso. Ele que conhecia como poucos a legislação do Reino, agora era réu e devia depor. O depoente, alquebrado e acovardado, acostumado ao outro lado do balcão, foi logo incriminando amigos e confessando. “Mal lhe perguntaram se desconfiava do motivo que o levara a tal situação e já confessava o terror que o acometera ao saber do envolvimento de Gonzaga ‘numa espécie de levantamento com ideias de República’ e o receio de que o considerassem ‘sócio consentidor ou aprovador de semelhantes ideias’” (p.184). Além de trair seu Rei, traía seus amigos, convivas da Rua Gibu de poucas semanas antes. Ele, que tanto lutara por honra, já não a tinha. Os cargos, já não valiam mais nada. O hábito de Cristo devia soar ridículo.
No dia 4 de julho de 1789 Cláudio decidiu pôr termo à vida.
Ele que, talvez, nem desejasse um efetivo rompimento com a metrópole, contentando-se com maior autonomia da Capitania, um governo mais ilustrado e menos voraz e, principalmente, mais sensível às demandas locais. Cláudio Manuel da Costa foi a primeira vítima da Inconfidência. Antes do degredo de Gonzaga e Alvarenga, ou da morte esquartejada de Tiradentes, fora ele o primeiro a sucumbir.
Laura de Mello e Souza, convincentemente, opta pela tese do suicídio, o que seria visto como algo herético pela historiografia patriótica do século XIX (e por vários outros autores), para quem Cláudio foi assassinado, o que jamais saberemos. Resta ao historiador compreender, reunindo documentos, observando contextos, cotejando informações e refletindo sobre o passado – esse país estrangeiro que, à maneira de um etnógrafo, deve ser inquirido. O historiador não é um ficcionista, mas pode ser um narrador criativo, embora refém das fontes – por isso é também um detetive. Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido é um painel das Minas do século XVIII, acessado a partir da leitura de um homem e suas circunstâncias. Empresa intelectual em que se percebe a influência do historiador italiano Carlo Ginzburg – não por acaso, um cultor do método indiciário. E, ainda mais se nota a herança de Sérgio Buarque de Holanda, que leu a poesia árcade de Cláudio como “o contraste entre o espetáculo da rudeza americana e a lembrança dos cenários europeus (…). Nos poemas que, restituído a terra natal, passa a compor, domina insistente e angustiada a nostalgia de quem – são palavras suas – se sente na própria terra peregrino” (Sergio Buarque de Holanda, Capítulos de história colonial, Brasiliense, 1991, p.227). Laura narrou a vida cindida de Cláudio, como Sérgio havia compreendido a obra cindida do poeta.
Alberto Luiz Schneider – Professor temporário de História Colonial no Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH /USP-São Paulo/Brasil). E-mail: [email protected]
SOUZA, Laura de Mello e. Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. Resenha de: SCHNEIDER, Alberto Luiz. A vida (e a morte) de Cláudio Manuel da Costa: poeta árcade, escravocrata e inconfidente. Almanack, Guarulhos, n.4, p. 168-173, jul./dez., 2012.
Liberdade | Jonathan Franzen
Mesmo antes de sair nos EUA, em setembro de 2010, Liberdade já era objeto de atenção. O livro anterior de Franzen, As correções, de 2001, fizera bastante barulho: ganhou, entre outros, o National Book Award, principal prêmio literário do país, e transformou Franzen numa das promessas mais auspiciosas da literatura americana. Mal começaram a sair as primeiras resenhas elogiosas de Liberdade, Oprah Winfrey incluiu-o em seu clube de leitura, o Guardian pespegou-lhe o epíteto de “livro do século” e a revista Time estampou na capa uma foto do escritor acompanhada da legenda: “O grande romancista americano”.
Parte do frisson em torno de Franzen tem a ver com essa obsessão pelo “Grande Romance Americano”. É um fetiche entre os autores de lá e uma espécie de santo graal da literatura: o grande autor é aquele que consegue transferir para o romance os pontos nevrálgicos da experiência do país. A trinca sagrada da prosa americana da segunda metade do século fez isso: John Updike, Phillip Roth e Saul Bellow devem boa parte de sua reputação ao modo como plasmaram a experiência dos EUA num determinado recorte de sua obra. Em As aventuras de Augie March (1953), de Saul Bellow, por exemplo, lê-se na primeira linha: “Sou americano, nascido em Chicago…” .De saída estamos diante da tentativa de responder a essa pergunta:o que é ser americano?
Essa é uma tradição francesa do século XIX, a do homem de letras empenhado em responder às grandes perguntas do seu tempo. Com a transformação dos EUA em grande potência no século XX, a função se torna estratégica em face de uma experiência cuja ressonância assume escala mundial.
Franzen disputa o posto de herdeiro dessa tradição. O barulho da mídia é também reflexo da expectativa de que ele possa assumir o bastão dessa linhagem nobre em nome da nova geração. É importante lembrar que nessa transição ocorreram os atentados de 11 de Setembro.
Não é, portanto, apenas o lugar do novo grande romancista americano que está vago, mas o lugar do grande romancista capaz de dar sentido a uma experiência traumática. Em certa medida, um evento como esse contribui para injetar vitalidade à atividade de escritor, de pronto convocado ao papel de intérprete de seu tempo.
É uma ideia complicada. O que se pode esperar da literatura como forma capaz de plasmar essa experiência? Como a competição com as humanidades e a indústria do cinema, da internet e da televisão interfere na capacidade da literatura em dar sentido a esse debate? Esse livro aspira à condição de grande romance, mas o frisson em seu redor, para ser compreendido, deve ser visto ao lado do prestígio alcançado pelo romance no século XIX e início do XX e da nostalgia em relação à centralidade de que já desfrutou um dia.
É simples identificar o que em Liberdade permite situá-lo como herdeiro dessa tradição. São setecentas páginas que procuram tocar os nervos da experiência americana dos últimos trinta anos. Os governos Reagan, Clinton e Bush, o terrorismo, a questão palestina, o crescimento econômico desgovernado, o aquecimento global, o conflito entre gerações, a mercantilização da cultura, a explosão do mercado financeiro, o sistema de saúde, o politicamente correto nas universidades. O cardápio é tão variado que por vezes lembra uma lista de tarefas a cumprir.
O que o salva da condição de manual é a habilidade de Franzen em atar esses temas às funções que desempenham na trama, que é bem urdida e evolui com naturalidade.
O fio é a transformação do casal Walter e Patty Berglund em ruína sentimental e moral. Ela vem de uma família liberal endinheirada de Nova York em que jamais se integrou. Não se interessava por livros ou política:era jogadora de basquete e se dedicava com ardor a isso, apesar do desprezo da mãe. Foi por ser jogadora que obteve uma vaga numa faculdade de segunda linha, em Minnesota, no início dos anos 1980.
Walter, seu colega na faculdade, era filho de pai alcoólatra e mãe trabalhadora, dona de motel de beira de estrada numa cidade do interior. Mas era o esforçado da família, o primeiro a fazer curso superior, o moço abstêmio, inábil com as mulheres e não particularmente bonito. Mas ele vence pelo cansaço, e eles se casam no fim dos anos 1980, têm um casal de filhos e adotam uma vida de família burguesa em Minnesota.
O fator de tensão entre os dois, desde a faculdade, é Richard Katz. Richard era o melhor amigo de Walter e ao mesmo tempo seu antípoda. Era bonito, sexy e inconsequente. Walter, por outro lado, era um exemplo de lealdade e um esteio para o desregramento do colega. Desde aqueles anos, Patty cultivava uma paixão por Richard que não se concretizava em razão da lealdade entre os amigos. Resignada, Patty cedeu aos apelos de Walter menos por amor do que por falta de opção.
Ao longo de todo o livro, Richard permanece uma sombra para o casal. Muitos anos depois, numa casa de campo, Patty e Richard passam dois dias juntos e transam, por insistência de Patty. Um pouco depois, ao cabo de anos tocando para pouca gente e amargando fracasso atrás de fracasso, Richard grava um disco de sucesso e se torna uma figura hype no mundo da música.
Os dias que Patty passa com Richard e o sucesso dele mudam tudo na vida dos Berglund. Walter, com ciúme, torna-se competitivo. Ressentido com o silêncio do amigo, que parecia se afastar dele nesse período de bonança, muda de emprego e se aproxima de políticos de má índole. Patty, depois do caso com o amigo do marido, cai em depressão.
Há ainda a relação conturbada com os filhos. Joey, o mais velho, sai de casa na adolescência para morar com a namorada, a vizinha Connie Monaghan. Isso para desespero de Patty, que odeia a mãe de Connie e sobretudo o namorado dela. O sujeito é um machão truculento, vidrado em carros, armas, e simboliza o protótipo do americano tosco, da direita mais empedernida. É essa figura que vira influência para Joey: depois de dois anos na casa do vizinho, ele vai cursar economia, sonha trabalhar em Wall Street, resgata suas raízes judaicas e vira um republicano envolvido com interesses de Bush na invasão do Iraque.
O que prende a atenção é essa espiral em direção à desintegração, ao fracasso da relação, à sucessão de passos em falso em que a vida do casal vai se transformando. A estrutura romanesca é essa. E o que Franzen consegue construir em redor dela constitui o espírito de época que o romance, de modo mais abrangente, tenta capturar em sua busca pela vaga de herdeiro da linhagem mais nobre da tradição literária americana.
A parte mais substancial é dedicada à era Bush: são os dilemas pós-11 de Setembro que aparecem com mais força e que Franzen procura examinar de modo detido. A trajetória de Joey é exemplar disso: a descoberta do judaísmo e a vontade de explorar essa identidade vêm num contexto de reação ao terrorismo, num movimento que parece acompanhar o renascimento da direita conservadora americana logo após 2001. Sujeito oportunista, frio e incapaz de afetividade, Joey é um retrato pouco lisonjeiro dos quadros que a causa republicana é capaz de cativar.
Vale o mesmo para a onipresença do discurso ambientalista. O sarcasmo é grande e ocupa boa parte da trajetória de Walter Berglund. Desafiado pelo sucesso de Richard, Walter deixa o emprego numa unidade de conservação em Minnesota para encarar uma enrascada em Washington. Ele assume o Fundo de Conservação da Mariquita-Azul, na verdade uma grande piada. O fundo é invenção de um bilionário do Texas, amigo de Bush e Dick Cheney, interessado em vender reservas para empresas que exploram a extração de carvão, nocivas e poluentes. O tal fundo é uma cortina de fumaça, uma licença para destruir tendo como álibi a preservação da espécie. Ingênuo e bem-intencionado, Walter cai na arapuca – e é o nome dele que vai parar no New York Times quando fica claro o que está por trás do fundo da mariquita-azul.
Franzen é ornitólogo e adora observar pássaros, mas o ambientalismo do século XXI aparece em seu livro como tolice de gente bem-intencionada. Há acidez no modo como ele trata o discurso em defesa do controle de carbono, contra o aquecimento global e o crescimento demográfico. A crítica aos republicanos e à direita é evidente, mas também o discurso politicamente correto é alvo de sarcasmo.
A Nova York dos círculos letrados e progressistas que ele retrata, da mesma maneira, está longe de ser ambiente estimulante. Estão todos munidos de smartphones e ipods, prontos para consumir as novidades do mercado cultural sob a forma de “autenticidade” ou “atitude”. O personagem de Richard Katz é o veículo das críticas disparadas ao intelectualismo bem-intencionado e ao cinismo dos liberais endinheirados nos rooftops de Tribeca e do Chelsea. Não há autenticidade possível. A decisão de Katz de voltar a ser trabalhador braçal mesmo depois do sucesso de seu disco aponta nessa direção.
Nova York é também a síntese do que Patty odeia em sua família. Democratas, judeus heterodoxos e de cabeça aberta, seus pais aparecem, logo no início do livro, a cometer uma enormidade: adolescente, Patty foi estuprada numa festa por um colega de escola. Mas o garoto era filho de doadores importantes da campanha eleitoral de sua mãe, de modo que os pais se reconciliam com a família do agressor.
Liberdade ganhou pecha de ingênuo, como se a crítica aos republicanos fizesse de Franzen um autor a serviço do bom-mocismo da era Obama. O livro não pende para um lado só do espectro político nem faz proselitismo fácil, com uma ou outra exceção, como o modo esquemático com que retrata o sistema público de saúde, pauta evidente demais nos editoriais da imprensa democrata para não esbarrar no artificialismo. Mas não é ao acusar Franzen de esquerdista ingênuo que se fará boa crítica de seu trabalho.
O ponto em discussão diz respeito à forma do livro. Desse ponto de vista, é uma obra convencional. Da mesma maneira que a imagem de “homem de letras” em nome da qual a revista Time elogiava o autor é do século XIX, também do ponto de vista formal Franzen se movimenta num registro antigo. Ele dialoga pouco com a tradição do romance do século XX. Esse é um repertório que a ele não interessou incorporar e que pode ser visto como fraqueza de certo ponto de vista crítico. Está claro, contudo, que não teria obtido essa ressonância se fosse autor de um livro experimental, e aí pode haver boa dose de cálculo.
Há dois exemplos a esse propósito. Um é o primeiro parágrafo, cartão de visitas para qualquer obra de ficção. Outro é a maneira quase imperceptível com que tenta variar a voz narrativa em situações que a estrutura parece pedir isso. As primeiras linhas do livro dizem o seguinte:
A notícia sobre Walter Berglund não circulou localmente – ele e Patty tinham se mudado para Washington dois anos antes e já não significavam nada mais para St. Paul -, mas o povo de Ramsey Hill não era leal à sua cidade a ponto de deixar de ler o New York Times. […] Seus ex-vizinhos tiveram dificuldade em conciliar os adjetivos com que o Times o qualificava (“arrogante”, “presunçoso”, “eticamente comprometido”) com o vizinho generoso, sorridente e corado que viam pedalando até a condução para o trabalho todo dia […] Se bem que sempre tinha havido algo estranho na família Berglund.
Esse primeiro parágrafo é poderoso. Todas as setecentas páginas seguintes são dedicadas a mostrar como se deu essa queda que levou a família exemplar até as páginas de escândalo do Times, coisa que só acontece ao fim do livro, quando Walter atua como laranja dos republicanos interessados na extração de carvão. Mas é também um truque romanesco dos mais convencionais: o autor puxa um elemento decisivo do fim da história para as primeiras linhas, de modo a prender a atenção do leitor até que essa isca, lançada logo de início, se mostre em sua totalidade.
Vale comparar com uma abertura célebre, a de Anna Karenina, de Tolstói:
Todas as famílias felizes se parecem entre si; as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira.
Na segunda linha, já se sabe que o narrador vai passar as páginas seguintes a contar uma desgraça familiar. Mais que isso:uma desgraça particular, que só poderia ter sido vivida daquela maneira.
Não é casual a comparação com Tolstói. Algumas páginas de Liberdade são dedicadas a paráfrases de Guerra e paz, que Patty lê em seu retiro na casa de campo. Como nos grandes livros de Tolstói, em Franzen o centro é também o drama familiar. Assim como na obra do escritor russo, há uma capacidade de conferir humanidade aos personagens que por vezes parece suspender a mediação do autor, como se a própria realidade se escrevesse de forma espontânea diante de nossos olhos.
As variações da voz narrativa são uma fragilidade mais evidente. Franzen sabe bem que o romance contemporâneo não pode prescindir de questionamento sobre a forma de narrar. Compõe seu livro, assim, a partir de dois narradores: um é onisciente, em terceira pessoa, bem aos moldes do romance do XIX. Outros trechos, contudo, são narrados por Patty Berglund. Por sugestão de seu terapeuta, ela escreve uma autobiografia, que faz as vezes de segundo capítulo e ocupa cento e tantas páginas.
É de estranhar a pequena variação entre os trechos do narrador convencional e aqueles narrados por Patty. Ela também escreve em terceira pessoa, com raras referências à “autobiógrafa”. E escreve com brilho, com passagens que funcionam nas mãos de um escritor de talento como Franzen, mas que não convencem quando se tem em mente que a voz é de uma dona de casa deprimida e ex-jogadora de basquete. Franzen tenta marcar a diferença: assim que acaba a autobiografia, entram parágrafos imensos, sem ponto final, como a indicar essa mudança. Mas são ocorrências episódicas, que não marcam o andamento do texto e deixam essa incompletude no ar.
Franzen não é um romancista acabado e é saudável desconfiar da histeria em torno de seu livro. Mas isso não é o mesmo que lhe negar os méritos. Há um lugar vago para o grande intérprete literário da alma americana pós-11 de Setembro. O escritor que der sentido a ela por meio de uma imagem forte como a da família Berglund terá decerto destaque merecido.
É cedo para dizer se Franzen é essa figura, mas está sem dúvida entre aqueles capazes de aspirar a essa condição. Suas ambições de ser o Tolstói do século XXI podem suscitar desconfiança quanto à capacidade de renovar a forma do romance e também sugerem pouca disposição para uma discussão necessária sobre o papel que cabe hoje à ficção literária. Mas a intensidade com que essas ambições são praticadas em seus livros é rara e digna de nota. E elas só podem fazer bem para a literatura num momento em que sua morte é decretada a cada dia.
Flavio Moura – sociólogo.
FRANZEN, Jonathan. Liberdade. Trad. Sergio Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. Resenha de: MOURA, Flavio. Ambição e Nostalgia. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.93, Jul, 2012. Acessar publicação original
O Espírito das Roupas: A Moda no Século XIX | Gilda de Mello e Souza
A presente resenha não possui pretensões de trazer novas interpretações da obra de Souza, que é bastante conhecida no meio intelectual da disciplina de sociologia, especialmente quando tratamos das grandes universidades paulistas como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Porém, pretendemos trazer uma contribuição historiográfica ao propor a leitura de “O Espírito das Roupas” também pelos historiadores, proporcionando uma nova dimensão às discussões de moda e estética, campos em constante crescimento na historiografia da cultura.
Gilda de Mello e Souza (1919-2005) nasceu em São Paulo, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP graduando-se em filosofia em 1940, ano em que obteve licenciatura e passou a dar aulas na mesma instituição. Em 1943 foi assistente do sociólogo francês Roger Bastide na cadeira de Sociologia I. Sob a orientação do mesmo, defendeu a tese de doutorado “A moda no Século XIX: Ensaio de Sociologia Estética” em Ciências Sociais na USP em 1950.
A tese referida trata-se do mesmo texto aqui resenhado, porém, publicado 37 anos depois da defesa, momento em que a autora recebe o devido reconhecimento. Isso dá elementos para considerarmos esse trabalho “bastante aferente de sua época”. É evidente que suas reflexões estavam inseridas no contexto de seu mundo cotidiano, porém, a academia brasileira ainda não enfatizava os estudos culturais, dando preferência aos estudos políticos e econômicos.
Em 1951, ao conseguir publicar um artigo com o mesmo titulo da tese na Revista do Museu Paulista, recebe alguns comentários favoráveis, mas ainda cheios de críticas. Dentre eles está o de Florestan Fernandes:
Poder-se-ia lamentar, porém, a exploração abusiva da liberdade de expressão (a qual não se coaduna com a natureza de um ensaio sociológico) e a falta de fundamentação empírica de algumas das explanações mais sugestivas e importantes. (FERNANDES apud PONTES, 2004, pp. 02)
Através dessa severa crítica mostra-se evidente que a autora foi na contramão de toda a corrente historiográfica e sociológica da época. Segundo a comentadora Heloisa Pontes, é possível interpretar algumas nuances dessa crítica de Fernandes. A primeira é de nível estilístico. Souza, antes de entrar para a academia, tentou carreira como escritora [2], isso lhe rendeu uma fluência particular com o uso das palavras muitas vezes assemelhando suas assertivas a um escrito literário. Essa capacidade, atualmente louvável, foi muito criticada na época da publicação de seu artigo, uma vez que seu estilo de escrita dava às suas publicações “um tom de ensaio”. Por isso a crítica de Florestan se mostra tão enfática uma vez que sua preocupação era de consolidar um panorama intelectual que desse à sociologia um potencial de “explicar” os fatos em sua veridicidade, longe da subjetividade e da hermenêutica como nos textos de Souza.
A partir das críticas recebidas pela autora podemos perceber certa tendência a uma abordagem cultural, porém não posso afirmar que ela negue categoricamente a interpretação materialista, embora que tece críticas ao materialismo histórico especialmente o de teor frankfurtiano [3]. Para a autora, há sim um elemento de “fetichização” e “mercadorificação” também na moda, mas isso não afeta seu status de arte ou de passível de ser estudada enquanto uma manifestação cultural.
Por isso, se é possível situar a autora em alguma “corrente historiográfica” me parece coerente inscrevê-la como uma historiadora da cultura. Suas influências são claramente visíveis: citações de Jacob Burkhardt são constantes em sua obra, porem ela parte de uma interpretação mais refinada que a do historiador da cultura do século XIX, muito mais semelhante com a de Carlo Ginzburg. Essa aproximação é comprovada por Otília Beatriz Fiori Arantes:
Há exatamente vinte anos saía o livro do historiador italiano Carlo Ginzburg, “Mitos, emblemas, sinais”. Lembro-me de Gilda comentar o quanto se sentiu lisonjeada reencontrando num autor famoso uma explicação erudita de dois métodos de abordagem da obra de arte que lhe eram por assim dizer desde sempre como que congenitamente próprios e que, além do mais, não gozavam de muito prestígio entre os críticos locais, a saber: a arqueologia visual dos mestres da escola de Warburg e o método indiciário praticado pelos connaisseurs, notadamente pelo mais conhecido deles, o médico italiano do século XIX, Giovanni Morelli (ARANTES, 2006, pp.1)
Não que eu me permita analisar a escola de Warburg ou o método indiciário dos connaisseurs, mas essa afirmação mostra a afinidade teórica da autora com o historiador italiano.
Além da presente obra, Souza se concentrou em diversos outros estudos, publicando obras de estética, crítica literária e sociologia como “O tupi e o alaúde: uma interpretação de Macunaíma” (1979), “Exercícios de leitura” (1980) e “A idéia e o figurado” (2005), esse último publicado no ano de sua morte aos 86 anos.
Tratando mais especificamente do livro “O Espírito das Roupas”, delinearei alguns detalhes que me pareceram interessantes. A obra, como o próprio nome explica, busca interpretar a moda no século XIX e suas significações sociais.
Sua abordagem é pautada em fontes das mais diversas e próprias, a utilização de pranchas de moda, ilustrações, pinturas e inúmeras fotografias permitem que a autora demonstre ao leitor os detalhes e as configurações da moda no século XIX. Outra metodologia, portadora de muita inovação para a época, é a utilização de trechos literários e testemunhos de romancistas enquanto fontes históricas ou sociológicas. Passagens de José de Alencar, Machado de Assis, Balzac, Proust são magistralmente utilizados para descrever de forma mais detalhada possível as nuances daquela sociedade. Dessa forma, utilizando-se de um extenso e detalhado corpo documental a autora – diferentemente do que afirma Fernandes – faz sim uma rigorosa pesquisa sociológica e histórica ao abordar a moda no século XIX.
No primeiro capítulo, intitulado “A Moda como Arte” a autora lança seus pressupostos teóricos acerca da moda classificando-a como uma arte, com suas próprias nuances e particularidades, que se liga com as outras artes da época, especialmente a arquitetura, a escultura e a pintura, graças à espacialidade, às texturas e às cores em comum. Com isso, baseada no sociólogo e historiador da moda Cunnington, Souza traça os quatro vetores que expressariam a linguagem da moda, a saber: a forma, a cor, o tecido e a mobilidade. Através da articulação desses elementos é possível estabelecer as geometrias estéticas que definiram o belo masculino e o feminino do século XIX, sendo o primeiro definido pela proximidade de aparências a uma letra “H” onde os ternos, as calças e a sobriedade das roupas lhe dão essa aparência. Já as mulheres cada vez mais se vestiam em um formato semelhante à letra “X”, sendo influenciadas pelos vestidos, chapéus e espartilhos. A autora encerra seu capítulo com uma afirmação bastante instigante:
Não é possível estudar uma arte, tão comprometida pelas injunções sociais como é a moda, focalizando-a apenas nos seus elementos estéticos. Para que a possamos compreender em toda sua riqueza, devemos inseri-la no seu momento e no seu tempo, tentando descobrir as ligações ocultas que mantém com a sociedade (SOUZA, 1987, pp. 50-51)
É interessante essa afirmação, pois demonstra uma influência historicista da necessidade de contextualizar historicamente a arte “no seu momento e no seu tempo”. Outro aspecto interessante é a afirmação de tentar descobrir “as ligações ocultas que mantém com a sociedade”: trata-se de interpretar as significações da cultura muito semelhantemente com o que postula Clifford Geertz em sua obra “A Interpretação das Culturas”. Segundo ele, a função do antropólogo seria de interpretar a cadeia de significados sociais – passiveis de ser observada através dos diversos signos sociais – de forma a perceber os significados expressos por eles. É uma teorização muito próxima da prática de Souza, me parece ser exatamente uma “descrição densa” que a autora faz no decorrer de seu livro, pois cada traço\detalhe das roupas, dos comportamentos ou dos sinais sociais são interpretados pela autora que busca “compreender [a sociedade] em toda sua riqueza”.
Já no segundo capítulo intitulado “O Antagonismo” a autora se centra na diferenciação sexual [4] ocorrida no século XIX onde a moda mostrou-se como um dos principais índices de tal separação. Antecipando diversos estudos de gênero feitos atualmente, a autora tratou de forma relacional os modelos de representação da masculinidade e da feminilidade através da significação da vestimenta. Embora mal compreendida pela primeira geração de estudiosas de gênero (décadas de 70 e 80), foi receber seu devido valor no fim da década de 80, justamente por abordar os sexos de forma complementar, e não contraditória, em suas palavras “Cada sexo é a imagem dos desejos do sexo oposto […] Os grupos masculino e feminino acabam se completando. A barreira que os separa não é intransponível”. (SOUZA, 1987, pp. 83). Trata-se de uma abordagem de gênero inédita até o final da década de 80.
Em sua argumentação, a roupa masculina no século XIX foi perdendo todos os traços de exibicionismo centrando-se cada vez mais na seriedade dos tons de preto e cinza. Em completa oposição o traje feminino se enriquece com rendas, enfeites, babados e fitas, perpassando as mais diversas cores, em especial o branco e os tons claros. Refletindo nas próprias nuances daquela sociedade e das distinções de gênero já que os homens incorporavam a seriedade e o ascetismo nessas sóbrias roupas escuras e a mulher incorporava a docilidade da esposa e mãe através das vestimentas claras.
Em seu terceiro capítulo intitulado “A Cultura Feminina” [5], a autora se delonga na moda e nos sinais da vestimenta feminina. Parece-me que é precisamente essa abordagem que fez com que seu estudo tenha sido tão mal aceito pela academia da época e ao mesmo tempo com que ele tenha sido editado e reeditado 37 anos depois de sua defesa. Segundo Pontes (2004), na década de 40 a USP ainda estava criando o curso de sociologia que era orientado pela escola francesa. Baseada em modelos estruturalistas e muitas vezes positivistas, buscava atingir uma suposta cientificidade no conhecimento sociológico. Os temas privilegiados eram as grandes estruturas sociais, tirando a prioridade aos aspectos mais peculiares da cultura, como as relações de gênero ou a moda. Já no fim da década de 80, com a renovação dos “woman studies” sua obra foi reconhecida enquanto portadora de uma refinada análise de gênero. Isso permitiu que seu estudo fosse publicado e que sofresse diversas edições, lançadas até o ano de 2005, sendo que todas já se encontram esgotadas.
Em seu quarto capítulo, intitulado “A Luta das Classes”, a autora se opõe à historiografia marxista ortodoxa ao estudar a diferenciação das classes do século XIX não por fatores econômicos, mas por uma peculiaridade cultural: a moda. Outro aspecto de oposição a essa historiografia é com relação a sua interpretação das classes enquanto diversas, maleáveis e portadores de uma “identidade, de usos e costumes, de hábitos e mentalidade” não sendo uma estrutura dicotômica binária exploradores-explorados. Trata-se, no meu ver, de uma sensibilidade analítica somente proposta posteriormente pela terceira geração da escola dos Annales, com sua “História das Mentalidades” ou pela “New Left Revew” de estudos de classe focados por perspectiva cultural.
Outra sensibilidade ímpar da autora foi a de perceber a transitoriedade das influências estéticas da moda entre o meio urbano e o rural. Para a autora, tradicionalmente a sociedade rural não havia se distinguido socialmente através das vestimentas, mas o contato com as elites urbanas proporcionou uma mudança nesse padrão e a sociedade rural passou a adquirir esse “espírito das roupas” que, antes de um princípio estético, servia como um índice de distinção social. Ou melhor, a moda é interpretada por Souza em duas utilidades aparentemente antagônicas, a primeira é que a moda poderia servir como índice de distinção social, mostrando quem tem capacidade e polimento de possuir um traje caro e desconfortável [6] e ao mesmo tempo a moda poderia aproximar as classes, que agora se vestiam cada vez mais semelhantes, a ponto de muitas vezes serem confundidas graças aos trajes usados.
A autora comenta sobre a reação da nobreza que, ao ver a “confusão” de classes ocasionadas pela vestimenta, se apega em novos distintores sociais como a auto-contenção, a utilização das “boas maneiras”, na elaboração dos gestos e no polimento das palavras. Isso dá pressupostos para seu capítulo seguinte, intitulado “O Mito da Borralheira”. Segundo Souza, talvez baseada em teorias psicanalíticas, comenta que o ascetismo do século XIX precisava encontrar escapes para sua seriedade, talvez o principal deles fosse a festa, local onde as pessoas poderiam, nesse momento de exceção, exaltarem a fantasia e a imaginação. O erotismo era expressado por sutilezas na vestimenta feminina, inspirando os galanteios ou as trocas de olhares e suspiros. É nesse momento de exceção que havia a possibilidade das classes não nobres se inserirem nesse desejado meio, pois o uso apropriado das roupas possibilitava o encontro entre as mais diversas classes em um espaço de sociabilidade comum a todas: os salões. Nesse momento a autora se utiliza da argumentação antropológica para considerar a festa enquanto um ritual de reorganização da sociedade. A expressividade das roupas, unidas aos gestos apropriados, permitiam que em raros momentos houvesse a incorporação de algum membro pela classe alta, possibilitando a reorganização e a permanência das elites pela introdução de novos membros considerados capazes. A boa utilização da moda dentro de uma festa pode-se entender como uma “tática” [7] das classes não nobres, pois isso lhes dá a possibilidade astuta de ascensão social. São aliviadas as tensões sociais graças à possibilidade dos membros das classes menos nobres de tornarem-se nobres. Não por acaso o capítulo chama-se “O Mito da Borralheira”, pois uma vez descidas as cortinas da festa, o rigor do distanciamento entre as classes retornava e a antiga “ordem” social era restabelecida, lançando de volta os considerados “não aptos” das classes não nobres à obscura realidade de seu mundo cotidiano.
A inovação da abordagem e da problemática que essa obra representa é muito expressiva, dado suas opções teóricas e metodológicas. Isso dá um impressionante ar de juventude e contemporaneidade a um trabalho com mais de 50 anos de idade. A erudição da autora pode ser uma chave pela qual alguns comentaristas consideram que “O Espírito das Roupas” conseguiu suspender o tempo e “no lugar de envelhecer, ganhou um frescor e uma atualidade inquietantes” (PONTES, 2004, pp. 10). Trata-se de uma clara demonstração do que Henri-Irenée Marrou quis dizer com: “a riqueza do conhecimento histórico é diretamente proporcional à da cultura pessoal do historiador”. A vida intelectual de Souza transparece em uma linguagem fluida e bem direcionada, segundo Alexandre Eulalio o livro “não consegue esconder […] a sensibilidade literária perspicaz” (EULALIO apud SOUZA, 1987, pp.14). Suas referências: Simone de Beauvoir, Johann Huizinga, Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss, Michel de Montaigne, Georg Simmel (todos citados no original) mostram a sensibilidade teórica da autora pelas tendências teóricas da época. É uma das formas mais brilhantes de se utilizar de sua bagagem intelectual para escrever uma obra ainda hoje digna de exclamações como as de Pontes: “é uma jóia de ensaio estético e sociológico” (2004, pp. 10).
Notas
1. Trabalho apresentado quando o autor estava na graduação em História – UFPR.
2. Incentivada por seu primo Mário de Andrade.
3. que considera uma parte das artes do século XX, inclusive a moda, enquanto “indústria cultural”.
5. Numa evidente referência ao estudo de Georg Simmel que possui o mesmo título.
6. Apontando que o usuário não labora e tem posses para pagar.
7. Uso o termo “tática” na concepção de de Certeau (1994) quando o autor se refere à forma astuta de resistência do mais fraco.
Referências
ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Notas sobre o método crítico de Gilda de Mello e Souza. In: Estudos Avançados, São Paulo, v. 20, n. 56, 2006. Acessado em: 6/11/2008
CERTEAU, Michel De. A invenção do Cotidiano vol.1. Petrópolis: Vozes, 1994. GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. In: A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. Capitulo 1.
MARROU, Henri-Irenée. Sobre o Conhecimento Histórico. Rio de janeiro: Zahar Editores, 1978.
PONTES, Heloisa. Modas e Modos: uma leitura enviesada de o espírito das roupas. In: Hildete Pereira de Melo, Adriana Piscitelli, Sônia Weidner Maluf, Vera Lucia Puga (organizadoras). Olhares Feministas. Brasília: Ministério da Educação: UNESCO, 2006. 510 p. Acessado em: 6/11/2008
______ A paixão pelas formas: Gilda de Mello e Souza”, In: Novos Estudos Cebrap, n.74, março de 2006, pp.-87-105. Acessado em: 6/11/2008
SOUZA, Gilda de Mello e. O Espírito das Roupas: A Moda no Século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
Fernando Bagiotto Botton – Graduação em História – UFPR.
SOUZA, Gilda de Mello e. O Espírito das Roupas: A Moda no Século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. Resenha de: BOTTON, Fernando Bagiotto. Cadernos de Clio. Curitiba, v.3, p.343-356, 2012. Acessar publicação original [DR]
Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido – MELLO E SOUZA (RBH)
MELLO e SOUZA, Laura de. Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 240p. FERREIRA, Cristina. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.63, 2012.
A biografia de Cláudio Manuel da Costa, escrita pela historiadora Laura de Mello e Souza, integra a Coleção “Perfis Brasileiros”, editada pela Companhia das Letras sob a coordenação do jornalista Elio Gaspari e da antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, portanto, cabe pensá-la no âmbito desses pressupostos editoriais, do contrário, correria o risco de praticar um equivocado isolamento e ignorar a simbiose entre o perfil editorial e as escolhas metodológicas feitas pela autora. A coleção destina-se tanto aos leitores em geral quanto aos especialistas no assunto, e contempla a vida de personalidades brasileiras, com destaque para estadistas, artistas e intelectuais. Os biógrafos, em sua maioria, são historiadores ou profissionais ligados às Ciências Humanas e se dedicam a trabalhar a história de personagens por meio de um texto conciso e pesquisa documental diversificada.
Esses parâmetros definem a linha editorial, o formato da obra e a opção da historiadora em escrever um texto com o mínimo possível de interrupções e citações. Laura de Mello e Souza faz um trabalho pautado em uma vasta bibliografia e alguns dados documentais inéditos. A citação das fontes de pesquisa consta em um dos itens finais da obra, sob a denominação “Indicações e comentários sobre bibliografia e fontes primárias”, com uma breve descrição da aplicabilidade e do uso das fontes, sistematizadas por temáticas no decorrer da obra. A obra contém imagens que retratam lugares – Rio de Janeiro e interior de Minas Gerais – e retratos atribuídos ao biografado, bem como personagens ‘ilustres’ contemporâneas a ele, sua assinatura e reproduções de trechos do principal documento original utilizado pela autora – o inventário de João Gonçalves da Costa, pai de Cláudio Manuel da Costa. Todas as imagens estão legendadas e referenciadas quanto aos acervos de origem, mas reunidas no centro do livro, característica editorial que não permite a sua integração com o texto.
Cláudio Manuel da Costa, poeta e advogado, homem de grande prestígio, viveu entre 1729 e 1789, a maior parte do tempo em Ouro Preto, na época Vila Rica, a capital das Minas Gerais. Sua educação formal aconteceu no colégio jesuíta do Rio de Janeiro, e a formação de bacharel foi obtida na Universidade de Coimbra. Morreu solteiro, mas viveu por trinta anos com Francisca Arcângela de Sousa, nascida escrava e alforriada quando deu à luz o primeiro filho de Cláudio. Foi a companheira de sua vida toda e mãe de seus cinco filhos, um indelével indicativo de que o costume suplantou a legislação, mas não na íntegra, porque segundo a letra da lei, os bacharéis a serviço do Império não podiam casar-se com mulheres ‘da terra’. Cláudio Manuel da Costa não era português, mas sim luso-brasileiro, e não conseguiu superar sua formação jesuítica e escolástica, que de certo modo o aprisionava às leis, para de fato desenvolver coragem suficiente e assumir publicamente sua relação com uma negra.
A dupla atuação como homem de lei e de governo permitiu a Cláudio Manuel da Costa tornar-se um exemplo típico do que foi a promoção social em Minas, passados entre 25 e 30 anos do início da mineração, porque diferentemente das regiões do litoral, Minas era uma região nova, aberta no final do século XVII, e a consolidação das elites locais acontece apenas ao longo do século XVIII. A poesia fez dele um homem de letras, que “nunca abandonou os livros e as musas da história”, mas seus conflitos internos o dilaceravam e dividiam entre direitos políticos e comércio ilícito, liberdade e valores do Antigo Regime, corroído pela delação que fez de seus amigos e envolto em uma morte conflituosa e controversa.
Laura de Mello e Souza faz uso da personagem para definir vários elementos que compõem a biografia, desde temas e periodização até a definição dos espaços de análise. Um aspecto evidente na obra é a opção da autora em deixar a personagem garantir o tom de originalidade à pesquisa, situação que se exemplifica por meio da divisão dos capítulos em temas como: significado do nome, pais, infância, formação, poesia, profissão, amizades, prisão e morte. Ainda assim, a autora não cai na armadilha de se deixar enredar por privilegiar a temática da Inconfidência, sua firme decisão de historiadora-biógrafa está originalmente pautada na personagem, em seus conflitos, sua poesia e os sentidos de sua vida. Laura de Mello e Souza dialoga, de fato, com a vasta tradição historiográfica sobre a Inconfidência Mineira, amplia o debate sobre as incongruências e conflitos dos indivíduos envolvidos nesse processo histórico e investiga também os problemas relacionados à documentação e aos laudos inconsistentes que constituem os autos da Devassa.
A concepção de tempo adotada na obra remete a uma espécie de fluidez, pois as fases da vida do biografado não estão encerradas em si mesmas, muito menos aparecem como rígidas e imóveis, portanto, há constantes retomadas a diferentes momentos, seja no passado ou no futuro de Cláudio Manuel da Costa. É nítida a recusa da historiadora à forma tradicional, linear e factual na composição biográfica, pois o tempo comporta rupturas e não há como conceber a constituição de modelos de racionalidade que estabeleçam personalidades estáveis ou coerentes aos seres humanos. A autora demonstra que a vida do biografado não cessa com sua morte, o que leva a um ponto de vista interessante: escrever a vida é um trabalho inacabado e infindável, porque sempre se abrem pistas novas que podem arrebatar o pesquisador para outros caminhos epistemológicos, com uma única certeza: dificilmente o biógrafo ficará livre das incertezas, por mais que circunscreva sua pesquisa em fontes e documentos.
A autora não cita as leituras específicas que realizou sobre os ‘usos da biografia’, porém, faz referência aos importantes textos sobre o assunto cedidos pela historiadora Vavy Pacheco Borges, a quem a biógrafa dedica o livro. Arrisco dizer que sua escolha metodológica remete à proposta de Giovanni Levi, que relaciona Biografia e Contexto também no sentido de preencher lacunas documentais em relação ao biografado, por intermédio de comparações com outras personagens com as quais ele conviveu.
Cláudio Manuel da Costa é dado a conhecer, em geral, por meio do contexto que, por sua vez, elucida aspectos relacionados à Minas Gerais setecentista. A autora utiliza a biografia para se aproximar do contexto, não com o propósito de reconstituí-lo, mas com a intenção de estabelecer uma relação de reciprocidade entre a personagem e seu campo de atuação. A historiografia brasileira acerca do período colonial em Minas Gerais, consolidada e em constante renovação, é o alicerce da autora e gera uma combinação que demonstra sua familiaridade com as fontes e arquivos relacionados às temáticas e ao período histórico analisado.
O problema mais emblemático com o qual a biógrafa lida na pesquisa é a escassez de documentos que relacionem, em um sentido direto, o biografado. A estratégia de Laura de Mello e Souza para apresentar novidades em torno da vida de ‘seu’ biografado consiste na valorização do Inventário de João Gonçalves da Costa (pai de Cláudio); dos processos de habilitação para o hábito de Cristo de dois de seus irmãos e, em especial, alguns documentos autógrafos de Cláudio Manuel da Costa. Mas, parte do ofício de historiador consiste em viver “às voltas com os limites fluidos entre a verdade e a mentira, o fato e a ficção, a narrativa e a ciência” (p.190) e deixar-se dominar pela vontade de compreender a personagem em seus aspectos conflitantes e notáveis.
O poeta foi biografado por conta de algumas inquietações da autora em relação a aspectos de sua vida que se relacionam diretamente com o espaço e lugar do vivido. Cláudio era considerado um poeta obsessivo, um cultor da forma perfeita, mas um dado instigante é o fato de que sua poesia conquista pouco espaço na lírica brasileira e, embora seus sonetos sejam belíssimos, não têm uma característica de universalidade, pelo contrário, apresentam uma linguagem muito marcada por sua época.
Toda a vida do poeta foi estigmatizada pela ambiguidade e pela contradição, e sua morte permanece até hoje sob o signo da incerteza, tendo se tornado um dos objetos mais controvertidos da historiografia brasileira, criando-se verdadeiras facções que, ou defendem o assassinato, ou sustentam o suicídio. Laura de Mello e Souza, ao referendar os riscos e necessidades que a compreensão impõe ao historiador, não se esquiva em se posicionar: “se entendi o homem que foi Cláudio Manuel da Costa, sou levada a afirmar que decidiu pôr um termo a sua vida. Nunca se saberá se o fez por desespero ou excesso de razão. Se porque viveu dividido e nunca se encontrou, ou porque, dividido que era, resolveu, afinal, juntar os pedaços. A seu modo” (p.190).
Essa é uma clara indicação de que a biógrafa não está obcecada por uma ‘verdade histórica’ irrevogável sobre sua personagem, mas sim em busca de uma concebível integração entre realidade e possibilidade, plausível ou verossímil. Os impedimentos naturais para recorrer a uma vasta documentação ‘direta’ permitiram à autora a legitimação do uso de conjecturas e inferências. Em vários momentos a biógrafa faz um exercício de imaginação histórica e aplica, na dosagem certa, uma espécie de imaginação ‘controlada’, amplamente referenciada nas fontes. Essa opção metodológica é garantia de uma narrativa elegante e instigante, por isso, a obra merece ser lida e relida por todos que se interessam em descobrir as sutilezas e incongruências da vida humana.
Cristina Ferreira – Doutoranda em História Social na Unicamp. Departamento de História – Universidade Regional de Blumenau. Rua Antônio da Veiga, 140. 89012-900 Blumenau – SC – Brasil, E-mail: [email protected].
O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30 – FAUSTO (PL)
São Paulo, capital, 2 de março de 1938. Enquanto a cidade começava a se recuperar dos muitos dias de festas e bailes de carnaval e o país se preparava para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo da França, um crime ocorrido na Rua Wencelsau Braz chamou a atenção da polícia, da opinião pública e da população. As vítimas foram dois imigrantes chineses, que possuíam um restaurante no mesmo local onde moravam – cenário que viria a ser o de suas mortes. Seus dois empregados, um brasileiro e um lituano, também foram mortos.
O crime chamou a atenção pelo número de mortos, mas também pela maneira fria com a qual as vítimas foram supostamente tratadas. Nos dias de hoje, com a banalização da violência gerada principalmente pelos meios de comunicação, este crime não se diferencia significativamente de outros que podem ocorrer no dia a dia, em especial numa cidade grande e repleta de diferenças sociais como São Paulo. Mas em 1938, ele ficou marcado como um dos maiores crimes da época, sendo comentados por jornais, programas de rádio e pelas pessoas nas ruas, que a todo tempo lembravam “O Crime do Restaurante Chinês”. Leia Mais
O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30 – FAUSTO (PL)
FAUSTO, Boris. O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Resenha de: OLIVEIRA, Pedro Carvalho. Quarta-feira de cinzas e sangue: “O Crime do Restaurante Chinês” de Boris Fausto e o Brasil dos anos 1930. Ponta de Lança, São Cristóvão, v. 5, n.9, p. 71-73, out., 2011.
São Paulo, capital, 2 de março de 1938. Enquanto a cidade começava a se recuperar dos muitos dias de festas e bailes de carnaval e o país se preparava para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo da França, um crime ocorrido na Rua Wencelsau Braz chamou a atenção da polícia, da opinião pública e da população. As vítimas foram dois imigrantes chineses, que possuíam um restaurante no mesmo local onde moravam – cenário que viria a ser o de suas mortes. Seus dois empregados, um brasileiro e um lituano, também foram mortos. Leia Mais
Cabeza de Vaca – MARKUN (HU)
MARKUN, P. Cabeza de Vaca. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 283 p. Resenha de: KALIL, Luis Guilherme Assis. Comentários sobre Cabeza de Vaca. História Unisinos 15(3):468-471, Setembro/Dezembro 2011.
Cabeza de Vaca não descobriu novas terras, não colonizou territórios, não encontrou as riquezas da Serra de Prata, não manteve o controle sobre seus subordinados e não conseguiu ser absolvido nos tribunais espanhóis. Apesar da sequência de negativas acima, seu biógrafo afirma que este personagem foi um dos grandes “heróis” do século XVI.
A decisão de escrever sobre um personagem pouco estudado pela historiografia brasileira coube a Paulo Markun, escritor e jornalista que já havia publicado outras biografias, como a dedicada a Anita Garibaldi. Fruto de uma extensa pesquisa (cujo resultado pode ser consultado no site criado pelo biógrafo, onde foram disponibilizadas centenas de documentos relativos ao personagem), a obra acompanha a vida deste navegador que, ao longo do século XVI, realizou duas viagens ao Novo Mundo.
Descendente de nobres espanhóis nascido no final do século XV, Álvar Núñez Cabeza de Vaca (cujo sobrenome remete à guerra contra os mouros, quando um de seus ancestrais indicou a melhor rota para os cristãos através do crânio de uma vaca) viajou pela primeira vez à América, em 1527, como tesoureiro real da esquadra comandada por Pánfilo de Narváez à região da Flórida. As tempestades e furacões, aliados a uma série de decisões equivocadas, resultaram em uma sequência de naufrágios que, acompanhados pelo desconhecimento sobre a região e os embates contra grupos indígenas, dizimaram os espanhóis.
Da fracassada expedição restaram apenas quatro tripulantes. A fome extrema e a insegurança acabaram levando esses homens a atuarem como curandeiros dos indígenas, realizando rituais descritos pelo viajante em um de seus relatos:
Vimo-nos, pois, numa situação de tanta necessidade, que tivemos que fazer algo, na certeza de que não seríamos punidos por isso […] A forma como procedíamos em nossas curas era fazendo o sinal da cruz, soprando sobre os doentes, rezando um pai-nosso, uma ave-maria e rogando a Deus nosso senhor que lhes desse saúde e fizesse com que nos tratassem bem. Quis Deus Nosso Senhor, em sua divina misericórdia, que todos por quem pedimos e que abençoamos dissessem aos outros que estavam curados. Por causa disso nos tratavam bem e deixavam de comer para nos alimentar; nos davam peles e outras coisas (Markun, 2009, p. 56-57).
Com o “sucesso” das curas, os denominados “filhos do sol” passaram a ser acompanhados por milhares de indígenas, que lhes forneciam abrigo, alimento e proteção. Cerca de oito anos depois de desembarcarem na América, os quatro sobreviventes alcançaram a Nova Espanha, sendo Cabeza de Vaca o único que decidiu retornar à Europa. De volta à Espanha, publicou os Naufrágios, obra que, como o próprio título aponta, descreve os infortúnios enfrentados em sua viagem. O fracasso, contudo, não o impediu de continuar a investir suas posses na busca pelas riquezas que acreditava estarem ocultas no interior do Novo Mundo. Diante da negativa da Coroa para que chefiasse uma nova expedição à Flórida, o navegador aceitou o cargo de governador e adelantado da região do rio da Prata.
Neste trecho da biografia, Markun deixa de lado, por alguns momentos, a trajetória de Cabeza de Vaca para analisar as disputas entre Portugal e Espanha pelo controle da região onde estaria localizada a mítica Serra de Prata, com suas riquezas incalculáveis2. Como apontado por Sérgio Buarque de Holanda (1969), em seu clássico Visão do Paraíso, os contatos iniciais com esta parte da América ocorreram após a chegada à Europa dos primeiros carregamentos de metais preciosos do Peru e da Nova Espanha, o que reforçava a crença na existência desses minerais.
Quando as primeiras expedições chegaram à região, muito do “esperado” pelos europeus foi “confirmado” pelas próprias características das novas terras3 e também através das informações dadas pelos grupos indígenas – que, segundo os relatos, faziam recorrentes indicações sobre a existência de metais preciosos nas terras do interior –, o que fez com que o início da presença europeia na região fosse marcado por inúmeras expedições em direção às riquezas existentes em locais como a Serra de Prata, o reino do Rey Blanco, a cidade dos Césares, o reino dourado das Amazonas, entre outros.
O autor passa, então, a centrar suas atenções na segunda viagem de Cabeza de Vaca ao Novo Mundo, marcada pelas frustradas expedições em busca de metais preciosos e pelas constantes disputas de poder com Domingos Martinez de Irala, organizador de um motim que conseguiu aprisionar o governador e enviá-lo de volta à Espanha. Seus últimos anos de vida são descritos como um período marcado por longas disputas judiciais, onde o navegador tentou, sem sucesso, comprovar sua inocência. Ao mesmo tempo, Cabeza de Vaca publicou, em conjunto com seu escrivão, Pero Hernández, sua segunda obra: Comentários.
Imprescindíveis para um estudo sobre a trajetória do navegador, os dois textos publicados por Cabeza de Vaca são amplamente utilizados por Paulo Markun como fontes de informações. Ao longo do livro, entretanto, o biógrafo acaba tomando para si a tarefa de determinar em quais trechos das obras o viajante se aproximava ou se afastava da narrativa “real” dos fatos. Dessa forma, enquanto Markun elogia alguns trechos dos Naufrágios, por permitirem ao leitor observar como eram os hábitos dos indígenas da região do atual Texas, através de descrições “dignas de um antropólogo aplicado” (Markun, 2009, p. 59), o conteúdo dos Comentários é criticado, por se tratar de “um oba-oba sobre o tumultuado governo de Cabeza de Vaca, em que, no mais das vezes, Pero Hernández aproveitava cada lance para ressaltar a coragem, o altruísmo, o espírito cristão e o bom senso de seu chefe” (Markun, 2009, p. 256).
Acreditamos, entretanto, que a análise dos relatos coloniais ganha em relevância quando são abandonadas as pretensões em buscar o que haveria de “verdadeiro” em seu conteúdo para analisar o processo de construção das representações sobre o Novo Mundo. Dessa forma, seguimos as premissas apontadas pelo historiador francês Roger Chartier: “O real assume assim um novo sentido: o que é real, de fato, não é somente a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como ele a visa, na historicidade de sua produção e na estratégia de sua escritura” (Chartier, 2002, p. 56).
Essa postura é adotada por Paulo Markun em alguns momentos de sua obra. Como exemplo, podemos citar a análise das passagens dos Naufrágios em que o viajante descreve sua atuação como curandeiro, chegando a indicar a ressurreição de um indígena4. Segundo o biógrafo, havia uma preocupação do conquistador em exaltar sua atuação entre os nativos sem, contudo, sugerir poderes que pudessem ser interpretados como heresia pelo Santo Ofício. O mesmo ocorre quando o biógrafo identifica aproximações entre o conteúdo das narrativas de Cabeza de Vaca com o de passagens bíblicas, como o trecho onde o navegador afirma que teria morrido se não tivesse encontrado uma árvore em chamas (semelhante à sarça ardente vista por Moisés). Para Markun, essas aproximações fariam parte de um processo de “autoglorificação” de seu personagem, que se descreve como um líder diferente dos outros espanhóis por ter conseguido manter um contato pacífico com os indígenas, o que explicaria as revoltas contra seu governo e sua expulsão do Novo Mundo.
É interessante observarmos que esta imagem construída por Cabeza de Vaca em suas obras acabou sendo reiterada por vários autores ao longo dos séculos. Um deles é Henry Miller. O célebre escritor norte-americano descreve o navegador espanhol como um dos poucos seres humanos que “viram a luz”:
Qualquer análise mais profunda deste livro [Naufrágios] eleva seu drama a um plano que pode ser comparado a outros eventos espirituais na cadeia dos esforços incessantes do homem em busca da autolibertação. Para mim, a importância deste registro histórico não está no fato de que de Vaca e seus homens foram os primeiros europeus a atravessar o continente americano […] mas sim porque, em meio a suas provações, depois de anos de infrutíferas e amargas peregrinações, um homem que já havia sido um guerreiro e um conquistador, fosse capaz de dizer: “Ensinarei o mundo a conquistar pela bondade, não pela matança”. […] a experiência deste espanhol solitário e deserdado no sertão da América anula toda a experiência democrática dos tempos modernos. Creio que, se vivesse hoje e lhe mostrassem as maravilhas e horrores de nosso tempo, ele voltaria instantaneamente ao modo de vida simples e eficaz de quatro séculos atrás. Acredito que São Francisco faria o mesmo, assim como Jesus, Buda e todos aqueles que viram a luz (Núñez Cabeza de Vaca, 1987, p. 10-13).
Ponto de vista semelhante é adotado na introdução da única tradução – parcial – para o português dos Naufrágios e Comentários5, onde o viajante é descrito como alguém que, com sua “utopia plausível”, poderia ter alterado os rumos da conquista do Novo Mundo: “Mesmo que tenha permanecido apenas alguns meses em terras hoje brasileiras, sua experiência poderia ter significado uma radical mudança de curso no trágico relacionamento entre brancos e índios neste país – e em todo o continente.
Caso suas estratégias de ação tivessem encontrado eco entre os demais conquistadores, o genocídio dos povos indígenas, as dificuldades pelas quais passaram os próprios colonizadores e talvez até a destruição dos ambientes selvagens – tudo poderia ter sido evitado” (Núñez Cabeza de Vaca, 1987, p. 18)6.
Postura diferente é adotada por Paulo Markun em sua biografia: “O mítico conquistador fracassado e sonhador – cujos planos para outro modelo de conquista, mais humano, teriam sido destruídos pela ganância dos subordinados – revelou-se um homem de seu tempo, repleto de contradições. A vivência entre os índios norteamericanos afetou sua visão de mundo, mas foi incapaz de produzir uma alternativa eficiente e humana para a conquista – pelo simples fato de que tal hipótese não se sustenta, sejam quais forem os protagonistas desse tipo de intervenção” (Markun, 2009, p. 261).
Ao concluir sua obra problematizando a imagem de Cabeza de Vaca como um injustiçado defensor do contato pacífico e harmônico com os indígenas, Markun tenta escapar da postura adotada por muitos escritores, que tentam “absolvê-lo” ou “condená-lo”, para enfatizar a força da narrativa deste “soldado, alcoviteiro, conquistador, náufrago, escravo, comerciante, curandeiro, governador, prisioneiro e escritor”.
Por fim, julgamos ser necessário deixar claro que a premiada7 obra de Paulo Markun não tem o propósito de ser uma análise aprofundada da trajetória de Cabeza de Vaca e/ou de suas narrativas sobre o período em que esteve no Novo Mundo. Destinada ao público leitor não especializado, este livro segue uma estrutura diferente da presente nos trabalhos acadêmicos, o que exige uma análise diferenciada. Como apontado pelo professor da Universidade de São Paulo Elias Th omé Saliba, esse tipo de produção do conhecimento histórico é tão válido quanto os outros, mas responde a lógicas próprias8. Dessa forma, acreditamos que, apesar de, em certos momentos, apresentarem uma visão reducionista do processo histórico (como a tentativa de equiparar a atuação de Cabeza de Vaca com as de Hernán Cortés e Francisco Pizarro), obras como a analisada nesta resenha têm o mérito de aproximar algumas questões históricas a um grupo não especializado de leitores que vêm crescendo nos últimos anos.
Referências
AGUIAR, R. [s.d.]. Cronistas europeus e a etno-história carijó na ilha de Santa Catarina”. In: A. ESPINA BARRIO (ed.), Antropología en Castilla y León e Iberoamérica – IV Cronistas de Indias. Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, p. 324-335.
CHARTIER, R. 2002. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude.
Porto Alegre, Editora Universidade/UFRGS, 277 p.
HOLANDA, S. 1969. Visão do Paraíso – motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo, Edusp, 380 p.
NUNES CABEÇA DE VACA, A. 1893. Comentários. Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, s.n., tomo LVI (pt. 1), p. 193-344.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. 2000. Naufragios y comentarios.
Madrid, Editora Dastín, 356 p.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. 1987. Naufrágios e comentários. Porto Alegre/São Paulo, L&PM Editores, 180 p.
SALIBA, E.T. 2011. Conhecimento não é monopólio acadêmico. História Viva, 8(90):16-18.
Notas
2 A crença na existência de um monte composto de prata foi impulsionada pela New zeutung ausz presillandt (conhecida em português com o título de “Nova Gazeta da Terra do Brasil”). Inspirado nos escritos de Américo Vespúcio, esse folheto anônimo foi editado em 1515, na cidade de Augsburg, e obteve uma ampla repercussão, sendo republicado diversas vezes nos anos seguintes. Seu conteúdo descreve uma expedição realizada à região sul da América, local este que, além de cruzes e marcas dos passos de São Tomé, possuiria grandes reservas de metais preciosos.
3 Cabeza de Vaca afirmou que, durante uma de suas expedições, avistou uma região cuja “falta de árvores e ervas” indicaria a presença de metais preciosos. Entretanto, tais metais não teriam sido extraídos devido à grande quantidade de doentes e à falta de aparelhos de fundição (Núñez Cabeza de Vaca, 2000, p. 252).
4 “O que estava morto e fora tratado diante deles havia se levantado, redivivo, andado, comido e falado com eles; e todos os outros que haviam sido tratados estavam sãos e muito alegres” (Markun, 2009, p. 80).
5 Alguns trechos dos Comentários também foram publicados na Revista trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1893. Contudo, Tristão de Alencar Araripe, tradutor desta versão, afirma ter se dedicado apenas às partes que “interessavam a nossa história pátria” (Nunes Cabeça de Vaca, 1893, p. 193-344).
6 Em artigo sobre os índios Carijós, Rodrigo L.S. de Aguiar também chega a uma conclusão similar. O autor apontou que, certamente, foi Cabeza de Vaca quem estabeleceu o contato mais pacífico com os indígenas, fruto do período que passou entre os nativos da América do Norte durante sua primeira viagem ao Novo Mundo, que “mudou seu conceito de mundo” e sua compreensão de que “aqueles povos da América eram humanos livres, com costumes próprios, e não bárbaros, servos por natureza. Tal visão, ao contrário à da maioria dos conquistadores, veio a lhe custar o exílio, anos mais tarde” (Aguiar, s.d., p. 334-335).
7 Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de melhor biografia de 2009.
8 “As obras de difusão mais popular da história operam segundo uma lógica reducionista: um princípio organizador simples é usado para explicar acontecimentos que a história acadêmica considera infl uenciados por princípios múltiplos. Isso produz uma nitidez argumentativa e narrativa que falta aos trabalhos universitários e parece responder plenamente às perguntas sobre o passado. Ao contrário da boa história acadêmica, essas obras não partem de um problema específico, não oferecem um sistema de hipóteses, mas certezas, ainda que circunstanciais. Esse é o seu principal defeito. Por outro lado, como se trata de uma história fundamentalmente narrativa, ela pode produzir conhecimento novo ao redescobrir significados inéditos. Contar a história de outra maneira também pode mudar o foco e estimular novas pesquisas. Essa é a grande virtude desses livros. Obras desse tipo cumprem também o papel de trabalhar com estudos monográficos e dar a visão geral para o público. Isso deveria ser papel do historiador. Se ele não faz isso, ele fracassou. Mas esses livros desempenham uma função de divulgação que eu acho extremamente importante” (Saliba, 2011, p. 17).
Luis Guilherme Assis Kalil – Universidade Estadual de Campinas Rua Cora Coralina, s/n 13083-896, Campinas, SP, Brasil . E-mail: [email protected].
A era do inconcebível: por que a atual desordem no mundo não deixa de nos surpreender e o que podemos fazer | J. C. Ramo
Em 1994, Georges Balandier lançou um livro intitulado: O Dédalo. Nele o autor argumentava a eficácia da metáfora sobre o labirinto, o minotauro e o fio de Ariadne para compreendermos nossa própria contemporaneidade, e podermos sair adequadamente do século XX, para entrarmos no XXI.
Do labirinto de que nos fala o mito (em que Teseu recebe de Ariadne um fio que o orienta pelo labirinto, onde encontrou e matou o minotauro) aos labirintos da realidade, que nos conduz a História e a sua escrita (em função da condição sempre fragmentária dos documentos e dos relatos), as distâncias (a)parecem, até certo ponto, intransponíveis para se determinar o ‘princípio de realidade’ que deu base e originou cada uma daquelas diferentes narrativas (míticas e históricas). Mas essa condição de distanciamento entre o mito e a história talvez seja apenas aparente. É o que indicou o próprio Balandier, ao avaliar o processo de elaboração e manutenção de um mito no tempo, e interpretar as mudanças drásticas, rápidas e sutis das sociedades (em especial, as contemporâneas), que lhe foi ensejada por meio da análise do mito do labirinto, não deixando de demonstrar as relações e as trocas complexas que se estabeleceriam entre o mito e a história ao longo do tempo. Leia Mais
O poder da arte | Simon Schama
No ano de 2006, a rede televisa BBC de Londres produziu uma série de documentários sobre arte com a coordenação do professor de História da Arte da Universidade de Columbia em Nova York: Simon Schama. Envolvendo dramatizações e uma proposta de atingir o grande público, a série trazia momentos e obras de oito artistas modernos e contemporâneos: Caravaggio; Bernini; Rembrandt; David; Turner; Van Gogh; Picasso e Rothko.
O livro O poder da Arte, ora resenhado, surge como fruto direto do sucesso destes documentários. O próprio autor esclarece que no texto foi possível aprofundar e apresentar questionamentos que não cabiam no documentário, pois a linguagem televisa segue seus próprios cânones, que diferem da escrita, a começar pelo tempo que um programa ocupa numa grade de televisão, o que faz com que seja sempre necessário estabelecer cortes e omitir passagens no tema a ser documentado. O livro toma da sua versão televisiva, o ritmo e a cadência de personagens que aparecem nos oito programas. Alguns acréscimos são realizados nas análises, como a discussão sobre a Cabeça de Medusa, tela montada em madeira de autoria de Caravaggio datada de 1598-1599, que ilustra a capa da edição brasileira. Leia Mais
Relações de força: história, retórica, prova | Carlo Ginzburg
Fazer História (de qualquer tipo, e especialmente a história cultural) nos idos atuais sem se render às incertezas, fraquezas e ambiguidades do paradigma dito pós-moderno é uma façanha que poucos conseguem levar adiante. Optar por este caminho e, para além disto, avançar no debate e na construção de uma história com procedimentos realistas (para não dizer científicos), ancorada solidamente na pesquisa documental e na busca da verdade, é tarefa ainda mais ingrata, a qual se impôs Carlo Ginzburg, com esmero e galhardia. São poucos os que fazem esta opção, e muitíssimo poucos os que a realizam a contento, como este italiano, autor – entre outros clássicos da historiografia contemporânea –, de Os andarilhos do bem, O queijo e os vermes, História Noturna, além de importantes ensaios para se discutir um novo paradigma para a história, ciência do homem. Leia Mais
O Navio Negreiro: uma história humana – REDIKER (S-RH)
REDIKER, Marcus. O Navio Negreiro: uma história humana. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 446 p. Resenha de: FERNANDES, João Azevedo. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [25] jul./ dez. 2011.
Em 1843, na costa índica da África, a nau inglesa que transportava o reverendo Pascoe Grenfell Hill capturou um navio negreiro brasileiro, o Progresso, de acordo com a lei inglesa e os tratados internacionais que escreviam os capítulos finais da tragédia do tráfico africano para as Américas. Em meio a chocantes descrições da vida e morte em um negreiro lotado, em sua maior parte por crianças, Hill observou uma cena que nos diz muito acerca da natureza do “infame comércio”. Alguns africanos eram encarregados de prestar serviços no navio, recebendo por isso roupas e outros sinais distintivos, o que divertia os marinheiros, como descreve o reverendo:
A estranha aparência e os desajeitados esforços causaram alguma hilaridade entre a tripulação. “Nós devemos ter sentimentos para com esses infelizes, mais do que temos”, disse um marinheiro para o seu companheiro. O outro replicou: “Ora, nós não temos sentimento uns pelos outros, muito menos por eles.” Mesmo os mais respeitosos estavam propensos a olhar aquela infeliz raça como seres de uma ordem inferior; como se o Criador não tivesse “feito de um sangue todas as nações dos homens em toda a face da Terra”. Assim ouvimos as expressões: “Isso vai morrer”, “Aquilo está morrendo”, “Aquele sujeito não pode viver.”2 Neste trecho transparece toda a crueldade envolvida em um negócio no qual a principal mercadoria era a carne humana. A violência da escravidão é um tema tratado há muito pelos historiadores, mas poucos até agora se debruçaram sobre as experiências de vida dos indivíduos que efetivamente realizavam o comércio, ou daqueles que eram traficados. Leia Mais
A Invenção dos Direitos Humanos: uma história – HUNT (CTP)
HUNT, Lynn. A Invenção dos Direitos Humanos: uma história. Tradução Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Resenha de: MOURA, Luyse Moraes. A Invenção dos Direitos Humanos: uma História de Lynn Hunt. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 03 – 03 de abril de 2011.
Os direitos humanos constituem fundamentos essenciais para o exercício da universalidade, assim como valores que asseguram as liberdades individuais, sendo, por isso, considerados inquestionáveis. Entretanto, a nossa percepção do que são esses direitos e a quais indivíduos estão direcionados muda constantemente. Ao contrário do que muitos imaginam, os direitos humanos não podem ser plenamente definidos, na medida em que permanecem sujeitos à discussão e passíveis de transformações contínuas.
Estudos sobre essa temática despertam o interesse de diversos pesquisadores e configuram uma área em franco desenvolvimento, resultando na produção e publicação de um grande número de obras. Para reproduzir o longo processo histórico que originou as ideias e práticas desses direitos, a consagrada historiadora norte-americana Lynn Hunt, autora do livro A Invenção dos Direitos Humanos: uma história, baseou-se em três documentos fundamentais: a Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão surgida na Revolução Francesa (1789) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos publicada oficialmente pelas Nações Unidas (1948).
Ao narrar a fascinante saga dos direitos humanos, Lynn Hunt articula os conhecimentos da filosofia à crônica dos eventos políticos e à história do cotidiano e, dessa maneira, não apresenta os direitos humanos tão somente como uma doutrina formulada em documentos, mas principalmente como um conjunto de convicções sobre como são as pessoas e como elas distinguem o certo e o errado.
Diferindo de quase tudo que já foi mencionado a respeito do assunto, a autora argumenta que a evolução dos direitos humanos e o surgimento de noções básicas como a liberdade de expressão, a tolerância religiosa e a inviolabilidade dos corpos são frutos de mudanças nas práticas de vida e de novas experiências individuais, que vão desde visitas à exposições públicas de imagens à leitura de romances epistolares sobre o amor.
Na visão de Hunt, o papel exercido pelos romances epistolares nesse processo evolutivo foi de crucial importância, visto que suas narrativas apresentavam a ideia de que todos os indivíduos eram essencialmente semelhantes, em razão de suas emoções íntimas. Os romances incitavam o sentimento de empatia entre os leitores, pois à medida que se identificavam com os personagens, tornavam-se mais compreensivos em relação a terceiros, em vez de apenas centrados em si mesmos. E nesse sentido, “os direitos humanos só puderam florescer quando as pessoas aprenderam a pensar nos outros como seus iguais, como seus semelhantes em algum modo fundamental”. (p.58) A difusão da empatia contribuiu decisivamente para o estabelecimento de princípios (direitos) que regeriam uma nova ordem política e social. Entretanto, o sentimento de compreensão, por si só, não era suficiente para impulsionar tão grandes mudanças. Era preciso que houvesse, também, um novo interesse pelo corpo humano, ou seja, uma percepção da separação e do autocontrole dos corpos. Quando se atribuiu aos corpos um valor mais positivo, no sentido de se tornarem mais individualizados, a violação desses corpos despertou reações negativas. A tortura, por exemplo, foi abolida como consequência do surgimento de uma nova estrutura, “na qual os indivíduos eram donos de seus corpos, tinham direitos relativos à individualidade e à inviolabilidade desses corpos, e reconheciam em outras pessoas as mesmas paixões, sentimentos e simpatias que viam em si mesmos”. (p.112) Em sua obra, Hunt também observa que os direitos são comumente apresentados em uma declaração devido ao poder inerente a uma afirmação formal e pública de confirmar as mudanças que ocorreram em uma sociedade. Além de assinalar as transformações na atitudes e comportamentos gerais, as declarações de direitos de 1776 e 1789 se destacaram ao criar panoramas políticos inovadores, onde os governos eram justificados pela garantia dos direitos universais.
Utilizando-se de uma narrativa elegante e envolvente, a historiadora narra os eventos políticos e sociais que desembocaram no surgimento das declarações de direitos dos Estados Unidos e da França, permitindo ao leitor observar que, enquanto os norte-americanos seguiram uma tradição particularista dos direitos humanos, priorizando os direitos específicos de um povo ou tradição nacional, os franceses adotaram a versão universalista, que pretendia assegurar os direitos inalienáveis de todos os homens. A autora ressalta que mesmo em meio às diferenças, o exemplo americano influenciou significativamente na elaboração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tendo em vista que a Declaração de Independência firmou entre a população francesa o senso de que o seu governo também poderia ser estabelecido sobre novos fundamentos, tornando assim mais fácil o emprego dos direitos humanos.
As declarações emprestavam maior urgência a determinados assuntos, como o direito das minorias religiosas ou daqueles que não tinham propriedade, e propunham novas questões sobre grupos, até então não cogitadas, como as mulheres e os escravos. À medida que essas questões eram anunciadas, tornava-se evidente que conceder direitos a alguns grupos(aos protestantes, por exemplo) era mais aceitável do que concedê-los a outros (às mulheres). Entretanto, a propagação dos direitos humanos tornou a manutenção da escravidão e da subserviência da mulher ao homem mais difíceis. Ainda que fossem considerados por muitos inadmissíveis ou indiscutíveis, os direitos civis das mulheres começaram a ser conquistados e a abolição da escravatura converteu-se em realidade.
Lynn Hunt chama a atenção do leitor para a longa lacuna na história dos direitos humanos, de sua enunciação inicial nas revoluções americana e francesa até a Declaração Universal promulgada pelas Nações Unidas em 1948. Segundo a autora, a ascensão do nacionalismo transformou a discussão dos direitos humanos e os tornou dependentes da autodeterminação nacional. Ao tornar-se cada vez mais fechado e defensivo, o nacionalismo assumiu uma postura xenófoba e racista, e a partir desse momento os debates sobre os direitos universais do homem diminuíram consideravelmente.
O mundo assistiu ao crescimento alarmante de inúmeras formas de sexismo, antissemitismo e racismo. O desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos resultaram em atos de uma barbaridade sem igual. As atrocidades cometidas durante as duas grandes guerras, não só evidenciaram isso, mas também impeliram os indivíduos a pressionar as autoridades no intuito de restabelecer o cumprimento universal dos direitos humanos e das liberdades fundamentais a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada como resposta à humanidade que clamava por mudanças, constituindo apenas o primeiro passo de um processo extremamente tenso e conflituoso que persiste até os dias de hoje.
Em A Invenção do Direitos Humanos, a reflexão iniciada pela autora revela-se extremamente pertinente. Ainda hoje, constatamos em muitas sociedades práticas de racismo, tortura, desvalorização da mulher, escravidão e intolerância religiosa. Os mesmos veículos de comunicação que tornaram possível que mais pessoas sintam empatia por indivíduos que vivem em lugares distantes e realidades diferentes, anunciam a todo momento o total desrespeito do homem para com ele próprio e para com seus semelhantes. Tudo isso justifica e confirma o discurso de Hunt de que os direitos humanos ainda precisam ser resgatados.
Nesse sentido, o livro possibilita ao leitor constatar que o descaso para com direitos é fruto de uma humanidade que, apesar de caracterizada pela diferença, não aprendeu a lidar com a experiência da alteridade.
A Invenção dos Direitos Humanos é um relato singular que revela o quão paradoxal é a noção dos direitos humanos. Afinal, ao mesmo tempo em que propôs resguardar os valores mais preciosos da pessoa humana, como solidariedade, igualdade e fraternidade, estimulou o crescimento de fanáticas e intolerantes ideologias da diferença. Uma obra de estilo literário e caráter científico, que propicia uma ampla reflexão sobre o futuro dos direitos humanos, e que através de uma fascinante história mostrou que essa bandeira é defendida principalmente pelos sentimentos e convicções de indivíduos, e não pela morosidade e distanciamento de estruturas políticas.
Referência
HUNT, Lynn. A Invenção dos Direitos Humanos: uma história. Tradução Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Luyse Moraes Moura – Bolsista PIBIC/FAPITEC. Graduanda em História/UFS. Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente. Email:[email protected]. Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard (DHI/UFS). Este texto resulta das atividades do Projeto “A cibercultura e suas apropriações pela nova extrema-direita sul-americana”, apoiado pela FAPITEC/SE através do edital 10/2009.
O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, As relações perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy – COSTA LIMA (HH)
COSTA LIMA, Luiz. O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, As relações perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 398 p. Resenha de: ROIZ, Diogo. A ascensão do romance na história europeia. História da historiografia. Ouro Preto, n.6, p.234-239, março 2011.
Pareceu-me […] que uma maneira de avançar na indagação proposta haveria de consistir no destaque da relação entre os modos diferenciais de controle, presentes entre o Renascimento e o realce do pensamento científico (Bacon e Descartes), e o gênero romanesco, cuja afirmação fora adiada e continuaria a ser prejudicada mesmo depois de sua aparição auspiciosa com o Quijote. Não se pretende dizer com isso que o romance estivesse contido na ordem das coisas, como um fruto cuja semente apenas demorasse a brotar, senão que, como gênero implica uma linguagem […] que contrariava tanto o controle ético-retórico, de fundo religioso, quanto o estimulado pela justificação da ciência. Tínhamos assim ocasião de precisar a incidência direta do controle do imaginário sobre a ficcionalidade do romance (COSTA LIMA 2009, pp. 324-325. Grifos do autor).
Assim, Luiz Costa Lima resume, habilmente, seu novo livro, lançado em março de 2009. Após publicar em 2007, em uma versão totalmente revista, de sua Trilogia do controle, em que reunia os livros O controle do Imaginário: razão e imaginação nos tempos modernos (de 1984), Sociedade e discurso ficcional (de 1986) e O fingidor e o censor (de 1988), observava que, mesmo com os cortes e os ajustes, ainda estava insatisfeito com a teorização que propunha sobre o “controle do imaginário” diante da criação literária europeia moderna e contemporânea. Embora indique que a trilogia foi continuada e aprofundada por O controle do imaginário & a afirmação do romance, que constituiria seu último livro, encerrando uma longa pesquisa (de quase três décadas), sendo um fato, facilmente, verificável no decorrer da obra, pareceunos também que o novo livro dá ainda uma continuidade mais direta ao seu livro História. Ficção. Literatura, lançado em 2006, também pela editora Companhia das Letras, no qual dimensiona o aparecimento de cada um daqueles campos do saber, as discussões que suscitaram no tempo e as aproximações e os distanciamentos entre a escrita da história e o romance.
Diferentemente daqueles casos, neste novo livro, contudo, o autor aborda de que maneira houve o aparecimento do romance moderno, ao transcender, concomitantemente, tanto o controle do imaginário forjado pela ética religiosa quanto por aquele construído pelo discurso científico, dando ênfase aos casos de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes (1547-1616), As relações perigosas, de Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos (1741-1803), Moll Flanders, de Daniel Defoe (c.1660-1731), e Tristram Shandy, de Laurence Sterne (1713- 1768).
De imediato, vale destacar, que, evidentemente, as pressões desse controle do imaginário, circunstanciado na criação artística da pena dos literatos, não se esvaiu, imediata ou completamente, de uma vez, mas foi um processo lento e gradual. O autor indica que o ápice desse processo ocorreu entre o final do século XVIII e o início do XIX, período no qual o romance produziu um discurso autônomo, frente àquelas antigas amarras do imaginário – o que, ao mesmo tempo, não queria representar a possibilidade de criação de outras barreiras (censuras políticas, novos controles, alteração de movimentos literários em hegemonia, etc.). Para Costa Lima, foi, a partir do século XVIII, que “o romance torna-se o gênero ficcional por excelência da modernidade” (Ibidem, p. 19). Neste período, no entanto, o controle do imaginário se apresentaria em duas situações: Em princípio, está sempre implícito, pois não há sociedade sem regras, e onde há regras há controle. Mas ele não assume um aspecto visível e marcante se a instituição ou a sociedade que o ativa não está em crise, ou sob sua iminente ameaça. Se o controle será exercido sobre o romance, tanto se pode dizer que a crise afetara a Igreja católica, enquanto matriz dos valores institucionalizados, como atingira o poder configurado nas cidades-Estado italianas. (Ibidem, p. 21).
Em circunstâncias a priori adversas, agrupar-se-ia a este tipo de controle de cunho moral, de aspecto religioso, outro tipo de controle produzido pelo discurso científico, com a revolução científica do século XVII, que criaria também um tipo peculiar de visão sobre o mundo e a natureza, o que faria com que o próprio imaginário social fosse refeito em meio a essas novas descobertas.
Nesse contexto, a produção romanesca estaria permeada por essas duas construções discursivas, que forjaram, igualmente, formas de controle sobre o imaginário e sobre a sociedade, cujas raízes, de início, não teriam como também não estar presentes sobre a escrita literária dos romances produzidos nessa época.
Para demonstrar suas hipóteses, o autor analisa, primeiro, o contexto teórico em que foram produzidos aqueles tipos de controles, indo do Renascimento à Contrarreforma e desta até o Iluminismo, apresentando, pormenorizadamente, os principais traços desses movimentos e a maneira através da qual incidiram sobre a produção literária. Após expor seu programa teórico para o estudo do controle do imaginário imposto aos romances procurou aplicar, de modo mais específico e detalhado, seus procedimentos em alguns romances paradigmáticos do período, que foram citados acima. Foi diante dessas circunstâncias específicas que: A dissimulação, que implicava esconder-se o esforço imposto para seu cumprimento, ‘imitava’ exatamente a regra da arte, da qual manifestamente se distanciava. A ficção possível era controlada pela ficção externa (falsidade, mentira, embromação). Dito de maneira mais explícita: os mecanismos de controle se exerciam por uma medicina homeopática, isto é, o controle era o ‘veneno’ com o qual tanto se reduzia a ficção interna, permitindo-se que circulasse desde que não irrealizasse normas substantivas, quanto se privilegiava o diálogo do faz de conta. (Ibidem, p.54. Grifos do autor).
O exercício imposto às técnicas de construção literária por tal mecanismo estabelecer-se-ia de modo implícito. No entanto, à medida em que passavam das pequenas cortes italianas do começo do século XVI para a Espanha da primeira metade do XVII e, daí, para a França absolutista da segunda metade, os mecanismos de controle do ficcional, por um lado, mostravam-se em um palco internacional e, por outro, ofereciam condições de verificar-se, ao menos em parte, o que haviam procurado esconder. (Ibidem, p. 57).
Todavia: O fenômeno do controle do imaginário só pode ser intuído a partir do instante, das décadas finais do século XVIII, em que a arte se autonomiza das instituições de que estivera a serviço. Mas, paradoxalmente, a arte, no processo de sua autonomização, não esteve motivada para repensar o processo do controle. Seu horizonte concentrava-se na visão da liberdade a conquistar (Ibidem, p. 60. Grifos do autor).
Em função disso, o controle é um instrumento político cujos efeitos são de ordem estética […]; ele tanto interfere na construção das obras em circulação como provoca o retardo no aparecimento do romance dos tempos modernos e, depois, de sua legitimação institucional. (Ibidem, p. 78).
A eficiência com que tais mecanismos envolviam-se com o processo de produção dos romances se devia também ao fato de que a “experiência da arte […] não nos dá acesso a puras imagens, mas a objetos tematizados e recebidos como imaginários” (Ibidem, p. 154. Grifos do autor). E essas questões, quando não controladas, poderiam expor as próprias fragilidades com que os mecanismos de controle aspiravam camuflar, silenciosamente, para manter, em outra extremidade, a posse dos meios de controle da esfera sociocultural.
Digno de nota sobre essa questão é o tratamento oferecido pelo autor, no capítulo O imaginário e a imaginação (Ibidem, pp. 110-155). Nesse capítulo, além de circunstanciar, historicamente, a criação desses conceitos, também procurou indicar de que maneira os mecanismos de controle e a produção literária apoiavam-se neles para mediar seus diálogos com a sociedade, assim como, manter ou alterar suas expectativas (temporais, políticas, culturais, etc.).
Afinal, como os “mecanismos de controle, por definição, mudam de acordo com os valores que os configuram”, (Ibidem, p. 195) o “fato de que o romance se tenha tornado o gênero dominante na ficção da modernidade não significa, de imediato, senão que certa configuração do controle metamorfoseou-se noutra” (Ibidem, 2009, p. 177), cujas funções, entretanto, não deixariam de corresponder as suas formas anteriores.
Nesses termos, devemos notar ainda que “o controle científico não substitui o antigo [de cunho religioso], senão que se acrescenta a seu conteúdo” (Ibidem, 2009, p. 201), pois, é certo “que a mudança de eixo do controle afeta a importância que antes tinham os gêneros e as técnicas predeterminados como modelos pela retórica, prática substituída pela atenção ao factual”. Contudo, “em situações de cunho moral, permanec[ia]m as normas do antigo controle” (Ibidem, p. 195). Por isso, não é sem sentido que o romance trate de questões morais dando-lhes novos contornos, em função de suas críticas implícitas ou explícitas à operacionalidade do sistema, de modo a tentar transpô-lo. Ao ultrapassar o sistema, o romance busca apoiar-se no acontecido – nos fatos “reais” e dignos de nota, mas também naqueles de menor significado social – como medida de representação plausível à temática desenvolvida no enredo da narrativa, assim como para se privar de formas mais incisivas de controle sobre sua elaboração, sua publicação e sua distribuição. Isso porque a “presença do controle científico limitava-se à exaltação do fato, que aglutinava agora os instrumentos que haviam sustentado o controle de orientação religiosa” (Ibidem, p. 201).
É desnecessário acrescentar que, nesta resenha, seria impossível conceder, ainda que de forma muito sucinta, o tratamento adequado à análise feita pelo autor sobre os romances paradigmáticos do período, a saber: Dom Quixote, As relações perigosas, Moll Flanders e Tristram Shandy. Para o autor, tais obras cobririam os principais momentos e questões circunstanciadas tanto pelo controle do imaginário de cunho religioso, depois científicos. Ao mesmo tempo, neste ínterim, deram-se as bases para a autonomização do discurso literário, que configuraria o amadurecimento e a afirmação do romance moderno.
Evidentemente, a escolha daqueles romances não excluiria a possibilidade de análise de outros, cuja importância o autor não deixa de indicar, mas, em função também de predisposições pessoais, deliberadamente, selecionou aqueles e não outros.
Ora, justamente, por ser um acerto de contas com sua produção anterior, cuja insatisfação o predispôs a mais esta empreitada, buscando um avanço sobre suas interpretações anteriores ao articular os mecanismos de controle do imaginário (religioso e científico) às circunstâncias que forjaram o aparecimento e a afirmação, entre os séculos XVI e XVIII, do romance moderno, este livro constitui uma importante referência deste campo temático, sendo, merecidamente, laureado com o segundo lugar no prêmio Jabuti de 2010, cujo primeiro lugar, na categoria Teoria/Crítica Literária, ficou com a obra A clave do poético de Benedito Nunes.
Por fim, destacamos que este livro ganha em substância ao ser lido na sequência de Trilogia do controle e de História. Ficção. Literatura, pois, o leitor pode acompanhar, passo a passo, os principais momentos em que se desenvolveram suas hipóteses, suas teorias e suas interpretações sobre os mecanismos de controle do imaginário e as ressonâncias desses mecanismos sobre a produção literária do período moderno e contemporâneo, em que ocorreu a afirmação do romance moderno no Ocidente. O leitor pode também evidenciar outros exemplos de controle já que, em sua Trilogia do controle, Costa Lima dá destaque à análise de outros romances e de outros autores.
Nesse sentido, valendo tanto pelo conjunto, quanto pela qualidade analítica presente neste livro, a obra de Luiz Costa Lima apresenta-se como a de poucas no país, cuja forma de interpretação segue uma constância e uma coerência teórica e metodológica, representando um significativo acréscimo sobre o entendimento de questões fundamentais a respeito da relação complexa e mutável entre formas de sociedade, formas de saberes e formas de ficção, além de aproximar os eixos da teoria literária, da filosofia e da história em uma abordagem interdisciplinar profícua para todas as áreas.
Referências
COSTA LIMA, Luiz. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
____. Trilogia do controle. O controle do imaginário. Sociedade e discurso ficcional. O fingidor e o censor. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.
Diogo Roiz – Doutorando Universidade Federal do Paraná. E-mail: [email protected]. Rua Tibagi, 404/100 – Centro 80060-110 – Curitiba – PR Brasil.
A questão dos livros: presente, passado e futuro | Robert Darnton
VLADIMIR
Vamos esperar até estarmos completamente seguros.
ESTRAGON
Por outro lado, talvez fosse melhor malhar o ferro antes que esfrie.
VLADIMIR
Estou curioso para saber o que ele vai propor. Sem compromisso.
Samuel Beckett [2]
Da palavra impressa à digitalização, ou da impressão em um mundo a cada dia mais digital: é à longa relação dos homens com os livros, e suas recentes mutações, que se dedica o historiador Robert Darnton em seu último título traduzido no Brasil. Trata-se de uma coletânea de ensaios em sua maioria publicados, como lembra o autor na introdução, na New York Review of Books (p. 16-17). Distribuídos sob uma organização temporal tripartite, como alerta o subtítulo, talvez não seja um exagero recordar, com Paul Ricoeur (1913-2005), que devemos a Santo Agostinho (354-430) tal ordenamento cronológico há muito banalizado. A constatação desse hábito não sugere, evidentemente, qualquer desprezo pelos exames das disputas diárias que, se sabe, envolvem a temporalidade tridimensional com a qual estamos acostumados, mas o contrário. [3]
Esta ordem do tempo – tão histórica – é por Darnton apropriada de modo muito pertinente, situando seus ensaios, em certo sentido, a partir de suas próprias experiências como repórter, arguto estudioso dos meios editorais iluministas, membro dos conselhos de importantes editoras universitárias dos Estados Unidos e do corpo administrativo da Biblioteca Pública de Nova York. Desde 2007 ele atua como diretor da Biblioteca Harvard. (p. 7-9). E é neste ponto que, em A questão dos livros, ingressamos nas expectativas relativas à resistência dos livros (impressos e digitais), ao controle sobre as explorações comerciais dos periódicos científicos, à manutenção e reordenamento das bibliotecas após o advento dos meios eletrônicos de arquivamento, entre outras importantes dúvidas que hoje se impõem aos pesquisadores, de maneira geral.
“O futuro, seja ele qual for, será digital” (p. 15). Sem qualquer descuido com o passado – trata-se de um estudioso da chamada “história do livro” – ou com o presente – o assunto da coletânea é de contemporaneidade inconteste – Darnton começa por um “fim” que ainda desconhecemos. A primeira parte, “Futuro”, reúne quatro ensaios em que o historiador, tal como Vladimir e Estragon, personagens da mais conhecida e aclamada peça do dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906-1989), mostra-se apreensivo. Entretanto, sua ansiedade é específica: direciona-se aos rumos do guardo e acesso do conhecimento acumulado ao longo de séculos nas páginas de livros. Ainda, ao contrário daqueles, o autor expõe, já no primeiro ensaio, “O Google e o futuro do livro” (p. 21-38), indagações de natureza prática que não devem ser deixadas a esmo. O processo de digitalização em massa de livros levado a cabo pela multinacional sediada nos Estados Unidos, com o projeto ora conhecido Google Book Search, desencadeou uma ação judicial de autores e editores que se sentiram, de imediato, violados em seus direitos autorais (p. 21).
Retornando aos ideais da República das Letras setecentista e passando pela criação e posteriores adaptações do copyright e dos campos de conhecimento (estes, emergentes a partir do século XIX), Darnton oferece bons argumentos para a “prudência” sugerida no ensaio que abre o livro aqui resenhado. Ao destacar a inerente relação saber-poder então envolvida, ele convoca as críticas dos filósofos do século XVIII referentes ao monopólio no que diz respeito à difusão do conhecimento, apontando algumas lacunas deixadas nas últimas duas décadas no tocante à garantia do interesse público no assunto em questão: a incorporação da digitalização nos meios universitários nos Estados Unidos (p. 34). Sem cair em comparações infundadas entre o Iluminismo e os dias atuais, o Google é visto como de fato é: uma empresa em franca expansão que, com boas ou más intenções, visa o lucro, opera em um mercado instável e é passível de ser vendida ou extinta (p. 36).
No segundo ensaio desta primeira parte, “O panorama da informação” (p. 39-59), o que se pode encontrar é uma lúcida retrospectiva dos saltos nos suportes do conhecimento humano desde a invenção da escrita, do pergaminho ao códice, do códice à impressão, dos primeiros passos da comunicação eletrônica à web (p. 39-41). Argumenta-se que, ao contrário do que atualmente se diz, não vivemos em uma época especial de fragilidade da informação: para o historiador ela “nunca foi estável” (p. 47). Atento ao trabalho dos historiadores e seus hábitos de pesquisa, ao estatuto das bibliotecas para os mesmos e, sobretudo, aos equívocos que atravessam tudo aquilo que, enfim, permeia a informação, um dos problemas reais levantados relaciona-se com a preservação dos textos que “nasceram digitais” (p. 56).
Em “O futuro das bibliotecas” (p. 60-75), o foco concentra-se nos acervos das universidades e a empreitada digitalizadora do Google é retomada de forma profundamente crítica. O acordo judicial da empresa é trazido à baila e os perigos do monopólio são reapresentados, inclusive com prescrições sugeridas pelo historiador – lembremos que se trata de um gestor de biblioteca (p. 64-65). As particularidades dos centros e editoras universitárias são apresentadas, ao mesmo tempo em que explana sobre preocupações pragmáticas, como a conservação de mensagens eletrônicas (possíveis documentos históricos para hoje e amanhã), a composição de acervos digitais nacionais e internacionais com acesso público garantido e a disposição correta dos orçamentos agora direcionados a aquisições tanto impressas como virtuais (p. 70-75).
O último ensaio dessa primeira parte, bastante curto, “Achados e perdidos no ciberespaço” (p. 76-82), consiste em algumas reflexões do autor no que trata ao ofício do historiador agora agregado de subterfúgios eletrônicos. Datado de 1999, o breve texto elenca algumas surpresas de Darnton quando envolvido, pela primeira vez, na elaboração de um ebook. Ainda habituando-se aos novos meios, os argumentos do historiador baseiam-se sobremaneira em comparações entre o trabalho convencional com impressos – seja na leitura, seja na escrita – e os novos limites e possibilidades das produções exclusivamente virtuais. Contudo, o impacto de suas experiências permite interessantes meditações sobre o redimensionamento da pesquisa histórica possibilitado pelos e-books e outras funções da internet.
A parte II, “Presente”, de longe a mais sucinta da obra, é composta de três ensaios: “Ebooks e livros antigos” (p. 85-95), “Gutemberg-e” (p. 96-118) e “Acesso livre” (p. 119-122). O primeiro compõe um contundente panorama dos choques entre as exigências dos campos de pesquisa no que diz respeito a publicações produzidas por seus pesquisadores, à tradição do valor do material impresso (há séculos preservado como principal meio de transmissão de informações) e às disponibilidades nem sempre respeitadas do universo digital. O ensaio agrupa, na verdade, os confrontos entre os suportes, mas também entre formatos próprios da produção acadêmica. Além disso, com a inflação dos preços que as editoras comerciais de periódicos passaram a cobrar para autorizar a liberação de seus conteúdos às bibliotecas, estas se viram obrigadas a reduzir suas aquisições de monografias. Ou seja, como frisa Darnton, a nova geração de acadêmicos tende a se ver imobilizada diante da ausência de espaços para divulgação de seus trabalhos e das cobranças relativas à eficácia na publicação de resultados para que haja progressão na carreira. O mesmo mal atinge as editoras universitárias, igualmente atingidas por questões de mercado (p. 88-89). Enfim, o que se evidencia é a comum ausência de regulamentação do ciberespaço, com a mescla entre escritos com características particulares, mas que, na rede, acumulam-se como se fizessem parte de um mesmo conjunto. Os acervos de teses, neste sentido, são, para o historiador, bons exemplos: “teses não são livros” (p. 92). O trabalho de revisão e edição que envolve a formatação de um livro ultrapassa as propostas de uma tese “crua”. Novos problemas.
“Gutemberg-e” apresenta um projeto desenvolvido pelo autor quando esteve na presidência da American Historical Association (AHA), a partir de 1999. A proposta direcionava-se no sentido de organizar a publicação de teses recriadas para divulgação eletrônica, como meio de atender àqueles diversos recém-doutores que não encontravam espaço para compartilhar de suas pesquisas. Darnton expõe ao longo do texto seus percalços diante das dificuldades na conversão das teses, do universo absolutamente desconhecido para ele no tocante às especificidades de uma edição digital e, novamente, do preconceito contra as publicações on-line (p. 101). Entre erros e acertos reconhecidos pelo ex-presidente da AHA, a transcrição da proposta de financiamento por ele formulada, quando do início do projeto, e do relatório de progresso (2002) poderão, no futuro, vir a ser um ponto de partida para esforços semelhantes nos Estados Unidos e em outras partes do mundo (p. 104-118). “Acesso livre”, ensaio que encerra a segunda parte de A questão dos livros, é um texto de quatro páginas que vale como manifesto em favor do acesso garantido a publicações acadêmicas, editado no mesmo dia em que uma resolução sobre o tema foi votada em Harvard e aprovada por unanimidade (p. 119). É, também, uma retomada sintética de todos os problemas elencados em alguns dos artigos anteriores.
Por fim, chega-se ao “Passado”, terceira e última subdivisão da obra, a maior delas. Neste ponto encontra-se um conjunto de texto que em muito rememora o legado mais conhecido de Robert Darnton no Brasil e, provavelmente, em diversos outros países, qual seja, o autor de O grande massacre de gatos e O beijo de Lamourette. 4 Com exceção do primeiro dos quatro ensaios que compõem esta etapa final, “Em louvor ao papel” (p. 125- 145), os demais são modelos de excelentes investigações relacionadas à história da leitura, escrita, edição e circulação de livros na era moderna. O primeiro ensaio, supracitado, traz informações surpreendentes acerca da destruição de originais (em diversos formatos) após a incorporação do microfilme durante boa parte do século XX nas bibliotecas dos Estados Unidos. “A importância de ser bibliográfico” (p. 146-163) destaca a relevância das listas de obras que compõem um texto após a inserção de escritos na internet e as desconfianças que daí surgiram. Segundo Darnton, a falta de prestígio da bibliografia é uma marca do século XX, pois nos séculos anteriores ela teve um valor especial nos esforços de filólogos para o estabelecimento de textos clássicos (no ensaio o caso de Rei Lear é explorado). A própria noção de literatura entre os séculos XVI e XVIII, na Inglaterra, e as relações entre contextos políticos e produção literária são vislumbradas. “Os mistérios da leitura” (p. 164-188), por sua vez, coloca à vista as pesquisas do historiador relativas às possibilidades que fontes como os “livros de lugares-comuns” abrem ao exame dos hábitos de leitura no passado. Fechando a obra, “O que é a história do livro?” (p. 189-219), texto redigido há trinta anos, retorna efetivamente ao passado, alinhavando as diretrizes que, em maior ou menos medida, agrupam os três tempos da obra. Categorias que demandavam atenção desde as primeiras sistematizações de Darnton (autores, editores, gráficos, distribuidores, livreiros, leitores) podem e devem ser retomados, agora, sob efeito das perdas e ganhos do mundo digital (p. 208-216).
Ainda que cercado dos cuidados descritos pelo autor, a obra, por tratar-se de uma coletânea, em alguns momentos repete informações e argumentos (especialmente nas duas primeiras partes). Todavia, tal aspecto em nada compromete a pertinência da proposta. Por outro lado, se ela é por demais centrada no caso norte-americano – alguns problemas e vantagens do mundo universitário diferenciam-se profundamente do caso brasileiro – há diversos elementos transnacionais para os quais ainda não se atentou por aqui. Dos “três tempos” de A questão dos livros, o “Futuro” e o “Presente” abrem questões fundamentais para pesquisadores de todas as áreas do campo historiográfico, enquanto o “Passado” garante o deleite de todo e qualquer leitor, tendo em conta o profundo conhecimento do autor em sua área de estudo e a qualidade de sua escrita.
Notas
2. BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução: Fábio de Souza Andrade. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p.37.
3. RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução: Alain François [et al]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007, p.364.
4. Cf. DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos, e outros episódios da história cultural francesa. Tradução: Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986; DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
Evandro Santos – Doutorando em história na UFRGS e bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
DARNTON, Robert. A questão dos livros: presente, passado e futuro. Trad. Daniel Pellizari. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: SANTOS, Evandro. Aedos. Porto Alegre, v.3, n.8, p.254-259, jan. / jun., 2011. Acessar publicação original [DR]
A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira | Warren Dean
Pode-se dizer que a especialidade historiográfica atualmente denominada “História Ambiental” se define a partir de um tema específico. No caso, a relação entre homens e natureza ao longo do tempo. Sendo que por “natureza” a maior parte dos historiadores ambientais compreende todo o mundo não-humano ou não-criado originalmente pelo homem. Assim, como se pode inferir, a especialidade engloba uma vasta gama de discussões e problemáticas, bem como força uma série de diálogos interdisciplinares pouco convencionais no interior das Ciências Humanas. Sobretudo, com as Ciências Naturais e Físicas, incluindo aí não só a Biologia ou a Meteorologia, mas muitas outras, inclusive as ditas “aplicadas”, tais como a Engenharia Civil ou a Genética.
Apesar da preocupação em compreender aspectos das relações entre sociedades e seus ambientes naturais não ser algo assim tão recente entre os historiadores, foi só a partir dos anos 1970 que se passou a esboçar claramente o projeto de uma história “ecológica” ou “ambiental”.
Dentre os franceses da escola dos Annales, por exemplo, os próprios Marc Bloch (1886-1944) e Lucien Febvre (1878-1956) já apontavam, entre as décadas de 1920 e 40, para a necessidade de se compreender as bases ambientais, sobretudo geográficas, sobre as quais se organizavam as diferentes sociedades humanas do passado. Mais tarde, seu maior discípulo, Fernand Braudel (1902-1985), aprofundaria essa sensibilidade em obras como O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Felipe II (1949). Uma obra monumental na qual, entre outras coisas, o historiador chama a atenção para os cenários geológicos, hidrológicos e oceanográficos nos quais se desenvolvem os processos econômicos, sociais e políticos que analisa.
Em outros países, ainda na primeira metade do século XX, outros autores nutriram preocupações semelhantes. Nos Estados Unidos, Frederick Turner (1861-1932), bem como outros dos chamados “historiadores da fronteira”, demonstrou claro interesse no impacto representado pela expansão europeia sobre o ambiente natural da América do Norte.
Entre nós, brasileiros, autores como Euclides da Cunha (1866-1909) e, principalmente, Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) também podem ser tomados como precursores desse tipo de preocupação temática. Obras como Os Sertões (1902) e Caminhos e Fronteiras (1957) seriam alguns exemplos, dentre os nossos clássicos, de reflexões preocupadas, entre outras coisas, em inserir culturas e processos sociais em contextos ambientais específicos. Contextos estes de algum modo compreendidos como elementos ativos na dinâmica histórica.
Não obstante, seria na transição dos anos 1960 para os 70 que uma historiografia claramente preocupada com as relações entre processos sociais e naturais ao longo tempo passaria a ser pensada como uma área de investigação específica no interior da disciplina histórica.
Com a eclosão de novos movimentos sociais, fora do âmbito estritamente universitário, e com a revisão e ampliação de antigos pressupostos e objetos de pesquisa, no interior da academia, a História Ambiental começou a ganhar seus primeiros teóricos e praticantes. Dentro da chamada Terceira Geração dos Annales, autores como Emmanuel Le Roy Ladurie (1929), em 1973, defendiam a legitimidade do “clima” como um objeto legítimo à reflexão do historiador [2]. Não obstante, seria nos Estados Unidos – um dos principais focos do movimento ambientalista internacional – que surgiriam os primeiros e mais influentes trabalhos de História Ambiental. Foram das universidades americanas que saíram (e ainda saem) alguns dos principais textos ligados a essa especialidade. Estudos clássicos como os de Roderick Nash (Wilderness and the American Mind, de 1967), Donald Worster (Nature’s Economy: a history of ecological ideas, de 1977) e Warren Dean (Brazil and the struggle for rubber: a study in environmental history, de 1987).
E é de autoria deste último, Warren Dean, a obra que é considerada por muitos especialistas um dos primeiros e mais importantes trabalhos de História Ambiental já realizados sobre o Brasil. Estamos nos referindo ao livro With Broadax and Firebrand: the destruction of the brazilian Atlantic Forest, publicado originalmente em 1995. Texto logo traduzido para o português (a primeira impressão brasileira é de 1996) sob o título A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira.
Falecido em 1994, num acidente automobilístico no Chile, Dean não teve a oportunidade de acompanhar o impacto que A ferro e fogo causou em nossa comunidade acadêmica. Já bastante conhecido entre os historiadores brasileiros desde os anos 1960 e 70, por livros como A Industrialização de São Paulo (1967) e Rio Claro: um sistema brasileiro de plantation (1976), a Ferro e Fogo, superou Brazil and the struggle for rubber, como exercício de história ambiental. A originalidade e amplitude do tema, os diálogos interdisciplinares e o uso de uma vasta gama de fontes fizeram desse livro um modelo teórico-metodológico dedicado a essa modalidade historiográfica. Além, é claro, de uma referência obrigatória para toda uma geração de pesquisadores que, de algum modo, se interessam pelas relações que humanos e floresta Atlântica travaram entre si ao longo dos anos, séculos e milênios afora.
Prefaciado por outro brasialinista ilustre, Stuart Schwartz – autor de Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835), de 1985 -, o livro de Warren Dean se divide em quinze capítulos. Nestes, o autor realiza um exercício incomum noutras especialidades historiográficas, mas essencial em qualquer bom trabalho de História Ambiental: a articulação entre o tempo natural (ou geológico) e o tempo social. A relação entre as grandes escalas de tempo da Geologia e da Biologia, contadas em milhões e bilhões de anos, e o tempo mais curto dos processos humanos, contados em unidades mais “modestas” como milhares, centenas ou dezenas de anos. Assim, no primeiro capítulo, somos apresentados à floresta atlântica desde a sua formação há bilhões de anos, passando pelas sucessivas eras geológicas, até a formação da biomassa que as primeiras levas de “invasores” humanos encontraram ao chegarem ao subcontinente Sul Americano há “apenas” 10 mil anos.
Warren Dean é categórico ao expressar o seu entendimento do tema proposto. Para ele uma história das florestas não deve se limitar a compreender o ambiente natural apenas do ponto de vista humano, isto é, vendo este ambiente apenas como uma simples reserva de recursos econômicos ou, ainda, como mero cenário contra o qual se desenvolveriam isoladamente as ações humanas. Em oposição a esta visão dicotômica e estática, Dean sugere um entendimento dinâmico da relação entre humanos e natureza, sobretudo se essa natureza se refere a um sistema altamente complexo como o são as florestas tropicais. Para o autor, a Mata Atlântica não foi apenas objeto da sua história, mas também sujeito. Ela atuou, impôs limites, ditou regras, ajudou a moldar atitudes e pensamentos àquelas sociedades que, um dia, se aventuraram no seu interior.
O saldo do encontro entre ambos os universos (o humano e o natural) foi, no entanto, trágico. Segundo Dean, a história da Mata Atlântica é uma história de devastação porque, de um modo geral, em todo o Planeta, a história das florestas sempre teria sido “uma história de exploração e destruição”.[3] O homem não pertenceria àquelas sociedades compostas por inúmeras espécies de plantas e animais em contínua interação. Seu equipamento natural não o possibilita viver em ambientes altamente hostis às suas necessidades como de fato é uma floresta tropical. Para permanecer lá, ela, a espécie humana, precisa alterar o mundo ao seu redor. Assim, para viver na Mata Atlântica os homens, necessariamente, precisaram destruíla. Não obstante, se algumas sociedades fizeram isto de forma mais ou menos equilibrada durante longos períodos de tempo, outras, no entanto, foram altamente prejudiciais ao equilíbrio do sistema em relação ao qual elas eram alienígenas. Foi este o caso dos invasores europeus que chegaram ao Continente Sul Americano no século XV.
Dean, portanto, não poupa ninguém no seu balanço geral da devastação da floresta atlântica. Índios, caboclos, colonos, latifundiários, grandes industriais, Estado… Para o autor, todos tiveram a sua cota de responsabilidade no resultado final do processo. A Mata Atlântica praticamente não existe mais em sua extensão e forma originais, tanto por causa dos séculos ou milênios de agricultura predatória indígena, quanto por causa das décadas de industrialização acelerada de um Estado e burguesia embriagado com a idéia de um desenvolvimento econômico rápido e irresponsável.
Seu livro, portanto, é um retrato de uma luta desigual. De um lado um dos ecossistemas mais complexos e inalterados com que a espécie humana já travou contato, de outro, a própria espécie humana com sua particular capacidade de transformar ambientes conforme as suas diversas necessidades materiais e simbólicas. O resultado deste embate, ao menos por hora, pode ser apreciado em qualquer viagem de carro ou avião ao longo do litoral brasileiro.
Narrada de forma linear e numa linguagem bastante acessível A ferro e fogo é uma obra que, por vezes, faz parecer fácil uma das modalidades historiográficas mais exigentes e sofisticadas dentro da historiografia contemporânea. Além da amplidão de seu recorte espacial (a Mata Atlântica originalmente corresponde ao que hoje abrange 14 estados brasileiros) e temporal (bilhões de anos geológicos; pelo menos, 10 mil anos de história humana não registrada em fontes escritas; e 500 anos de ocupação europeia) seu livro apresenta centenas de fontes dos mais variados tipos (relatórios técnicos, relatos de viajantes, artigos científicos, livros, manuais agrícolas, tratados de história natural, legislações ambientais, jornais, mapas, etc.) e estabelece alguns diálogos disciplinares bastante instigantes, sobretudo com a Biologia, Geografia, Arqueologia e a Antropologia. No mais, no interior da própria disciplina histórica, Warren Dean não deixa de estabelecer vínculos entre a História Ambiental e outras especialidades, em especial com a História Econômica e Social.
A despeito dos seus possíveis limites e deficiências, A ferro e fogo permanece incólume como um dos exemplos mais bem acabados de boa História Ambiental. Neste livro, parece-nos, Warren Dean consegue articular com desenvoltura aqueles três níveis, ou três grupos de perguntas, que Donald Worster definiu como centrais para a pesquisa dentro desta especialidade historiográfica. [4] A saber, Dean consegue a) dar-nos uma idéia mais ou menos objetiva do modo como a “natureza propriamente dita” se “organizou e funcionou no passado”, tantos em seus aspectos orgânicos quanto inorgânicos (incluindo aí os organismos humanos); b) demonstrar o papel ativo do meio natural no interior dos processos sociais e econômicos das diferentes sociedades que interagiram com o ambiente natural ao longo do tempo; c) abranger os diferentes significados inferidos pelos homens ao meio natural e demonstrar como essas percepções afetaram a sua relação com a floresta.
A ferro e fogo é, provavelmente, a obra-prima de Warren Dean e vai, certamente, permanecer durante muito tempo como um clássico da História Ambiental. Se não pelo peso de todas as suas conclusões e análises, ao menos pelo fato de ter conseguido concretizar o objetivo maior dessa rica vertente historiográfica: o de inserir, de maneira dinâmica, determinados processos humanos no interior de seus contextos naturais específicos. Um diálogo que, mesmo que não percebamos (ou não queiramos perceber), história e natureza sempre realizam. E isto porque, nós, antes de sermos humanos, somos criaturas vivas. Seres imersos num tempo, mas também num espaço nem sempre criado ou controlado por nós. Sujeitos e objetos de um ambiente que por vezes modelamos e que invariavelmente também nos molda.
Notas
2. LADURIE, Emmanuel Le Roy. O clima: história da chuva e do bom tempo. In.: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. História: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986. p. 11-33.
3. DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 1. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2004. p. 23.
4. WORSTER, Donald. Para fazer história ambiental. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.4, n.8, p.198-215, 1991. p. 205.
Luiz Alberto de Souza – Bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrando em História Cultural pela mesma instituição. E-mail: [email protected].
DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Cia. das Letras, 2004. Resenha de: SOUZA, Luiz Alberto de. Aedos. Porto Alegre, v.3, n.8, p.264-268, jan. / jun., 2011. Acessar publicação original [DR]
O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853) | João Rosé Reis e Flávio dos Santos Gomes
A história de Rufino … não foi de maneira alguma típica. O interesse em narrá-la decorre de que a história não é somente feita do que é norma, e esta pode amiúde ser mais bem assimilada em combinação e em contraste com o que é pouco comum. Foi, aliás, o que buscamos aqui fazer: nosso personagem nos serviu de guia para uma história bem maior do que caberia na sua experiência pessoal. Ele foge com enorme regularidade de nosso campo de visão para dar lugar ao drama colossal da escravidão no mundo atlântico no qual desempenhou seu pequeno mas interessante, às vezes nefasto, papel. (p.360)
Ao estudarem a trajetória de Rufino José Maria, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcus de Carvalho nos oferecem um extraordinário painel, no espaço micro e macrossocial, do que foi o tráfico transatlântico de cativos africanos para o império do Brasil no século XIX. Por certo o tema não é novo, mas a maneira como foi abordado, sem dúvida é muito inovador. Se houve, realmente, um considerável aumento no número de pesquisas sobre o assunto desde o final da década de 1980, que culminou com o primeiro centenário da Lei Áurea, além de se terem firmado novos marcos para a análise do sistema escravista e das políticas inclusivas no país, o tema do tráfico de escravos também recebeu revisão significativa, como indicam trabalhos como Em costas negras, de Manolo Florentino.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e no Caribe, o tema do tráfico de escravos e do sistema escravista tem sido repensado, como indica Gerald Horne em O sul mais distante. Destoando dos estudos indicados, os autores deste O alufá Rufino deixam os dados quantitativos apenas como complemento, para abordarem a trajetória de um desses africanos que se tornou cativo nas Américas, onde alcançaria a alforria. Rufino tornou-se também traficante e dono de escravos, e nesse percurso transatlântico aprendeu a ler e escrever e cultivou a religião segundos as regras do Alcorão, praticando-a no Império do Brasil, motivo pelo qual foi preso. É bem presumível que a escolha do objeto deva-se não apenas à sua riqueza documental e exemplaridade, mas também às evidências que João José Reis trouxe com Domingos Sodré, um sacerdote africano. Contudo, diferentemente desse livro, em O alufá Rufino os autores aproveitam-se mais do que o personagem oferece para, a partir dele, reconstituírem certos nexos entre atores sociais que povoaram o mundo do tráfico de escravos. Circunstanciam os grandes comerciantes do período, descrevem suas principais embarcações e expõem como burlavam o bloqueio inglês nas costas do continente africano, como agiam quando eram capturados e que tipo de mercadorias levavam das Américas, para tornarem o negócio ainda mais lucrativo. Nesse ponto, habilmente os autores demonstram que quase toda a tripulação das embarcações fazia parte desse comércio, com caixas e rubricas próprias, como foi o caso de Rufino – embora até onde o acompanharam não tenham encontrado suas iniciais entre as mercadorias. Como cozinheiro, Rufino aproveitava o ensejo para comerciar doces – e até, provavelmente, comprar escravos – na África. Outra diferença entre os dois livros é que neste as afirmações seriam mais pautadas em suposições do que em comprovação documental.
Como mostram os autores, a “história dos africanos no Brasil do tempo da escravidão”, assim como a de Rufino, “em grande parte, é escrita a partir de documentos policiais” (p.9), que têm sido vasculhados de modo mais sistemático nas últimas décadas pelos pesquisadores brasileiros. Assim, com a história de Rufino os autores nos apresentam o perfil de alguns dos compradores de escravos no Império do Brasil, como João Gomes da Silva, homem pardo que exercia o ofício de boticário. Provavelmente, Rufino foi seu aprendiz por certo período, antes de seguir para Porto Alegre e lá ser vendido, porque é “possível que suas habilidades na cozinha viessem a ter alguma valia na preparação de remédios de origem animal e mineral” (p.31). No início da década de 1830, Rufino desce para o Rio Grande do Sul em companhia de seu senhor-moço, Francisco Gomes, que algum tempo depois o venderá para José Pereira Jardim, comerciante em Porto Alegre, onde “Rufino encontrou … alguma gente de sua terra escravizada ou já alforriada” (p.52). Em 1835, alguns meses após o levante dos malês na Bahia, ironicamente, Rufino alcançaria sua alforria pagando a quantia de 600 mil-réis.
Com a liberdade, Rufino passaria a figurar de volta na documentação, meses depois seguindo para o Rio Grande, “onde funcionava o governo legal antifarroupilha, talvez na companhia de seu ex-senhor, o desembargador José Maria Peçanha”, e lá “ficou … envolvendo-se com a comunidade muçulmana local até que, no final de 1838, teve lugar a ação policial em Porto Alegre contra aquela escola muçulmana” (p.69). Com isso, como sugerem os parcos documentos sobre ele, provavelmente seguiu para o Rio de Janeiro, entre o final de 1838 e o início de 1839, “e não três anos antes, como deixou transparecer no Recife em 1853, quando tinha boas razões para omitir a verdadeira história de sua saída do Rio Grande do Sul: preso por suspeita de conspiração, ele não podia revelar que suspeita semelhante já havia pairado sobre ele quinze anos antes” (p.70).
No Rio de Janeiro, “Rufino teria percebido que podia conseguir proteção e boa vida – além de dinheiro – alistando-se como trabalhador do tráfico” (p.81). Aqui, os autores demonstram como Rufino participará do comércio transatlântico de escravos, além de pormenorizarem o perfil de tripulantes dos navios negreiros e suas mercadorias (além das quantidades médias de escravos transportados na viagem de volta), e também circunstanciarem os principais organizadores desse mercado arriscado, em função da proibição inglesa, desde o início da década de 1830, mas, ainda assim, incomparavelmente lucrativo.
Nesse percurso, os autores nos apresentaram as histórias de vários personagens do tráfico da época, dos tripulantes aos chefes do comércio. Ao lado da Ermelinda, embarcação na qual Rufino trabalhou, eles indicam os destinos da escuna Paula, do patacho São José e da União (embarcação em que Rufino esteve antes de ir para a Ermelinda), quando estas foram confiscadas e julgadas pelos ingleses em Serra Leoa, juntamente com outras embarcações. Destaque-se ainda que havia muitas evidências, apesar da fiscalização inglesa, de que “traficantes e ingleses se irmanavam nos entrepostos do trato de gente”, pois “os verdadeiros ‘irmãos’ dos ingleses no terreno eram outros brancos, mesmo se traficantes, e não os negros traficados, de quem se diziam ‘irmãos’ os abolicionistas na distante Inglaterra” (p.157).
Embora não tenha sido condenada, apesar das tentativas na reunião de indícios que a apontassem como embarcação de tráfico negreiro – o que de fato era -, os prejuízos foram evidentes para a Ermelinda, sua tripulação e seus donos. Ainda que extraordinariamente rica a exposição dos autores, não há como em tão poucas linhas circunstanciarmos todas as ramificações e detalhes desse empreendimento e suas consequências, ao serem capturadas as embarcações e levadas até Serra Leoa, onde foram julgadas.
De Serra Leoa para o Recife, Rufino, como toda a tripulação e os comerciantes do trato de gente, teve de computar os prejuízos do empreendimento, não levado a cabo em função da captura inglesa nas costas do continente africano. Em Recife, Rufino se fixaria na rua da Senzala Velha, nome representativo para um ex-cativo e traficante, como ele. Os autores fazem uma primorosa análise do perfil e das características das práticas religiosas na Recife do século XIX, onde Rufino não estaria sozinho, haja vista a pluralidade étnica, cultural e religiosa ali presente. Como alufá, Rufino conhecia os meandros de sua religião, e a sua prática o ajudou a ultrapassar aquele período conturbado. Quando foi detido em meados de 1853 pela prática de rituais religiosos, Rufino manteve uma atitude serena, apesar de a “preocupação das autoridades pernambucanas” ter sido “atiçada não só porque sabiam que na Bahia os rebeldes possuíam papéis escritos em árabe como aqueles encontrados com Rufino, mas também porque, segundo as notícias que circularam o país, muitos dos rebeldes malês eram africanos libertos e nagôs como ele” (p.331). Dito isso, vale destacar ainda que “Rufino certamente desenvolveu uma visão cosmopolita de um mundo dificilmente alcançada pela maioria dos africanos e, menos ainda, dos brasileiros seus contemporâneos” (p.355), o que torna mais representativa sua trajetória.
Portanto, os autores nos oferecem a interpretação de um personagem rico e complexo, inserido no próprio núcleo do movimento dinâmico do tráfico de cativos do século XIX. Desse modo, tracejando pela microanálise (com a trajetória de Rufino) e pela macroanálise (com o estudo pormenorizado do tráfico de escravos), o texto também sugere avanços e traz inovações sobre o uso desses instrumentais metodológicos de análise das fontes e apresentação dos dados.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História (UFPR), bolsista do CNPq. Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Campus Amambai. Cidade Universitária de Dourados. Caixa Postal 351. 79804-970 Dourados – MS – Brasil. E-mail: [email protected].
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim de. O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 481p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011. Acessar publicação original
[IF]
O Crime do Restaurante Chinês – Carnaval, Futebol e Justiça na São Paulo dos anos 30 | Bóris Fausto
Considerações iniciais
Há no panorama teórico da historiografia uma intensa discussão conceitual, que tem sido descrita como uma disputa entre paradigmas rivais (CARDOSO, 1997: 3). De um lado, aqueles que embasam seus esforços numa ótica iluminista, o que significa acreditar na capacidade da razão humana em descobrir e ordenar as forças em atuação no universo. Entre estes, ainda de acordo com Cardoso, podem ser enquadrados os marxistas, positivistas e mesmo aqueles ligados à “Nova História”. Trabalhos realizados a partir dessas diretrizes tendem a buscar uma visão holística do processo histórico, agregando os fenômenos sob explicações totalizantes.
Na outra ponta estão aqueles que abandonam tentativas generalizantes de explicação, enfatizando a singularidade dos objetos e a impossibilidade de reuni-los sob uma mesma rubrica sem que se percam suas qualidades fundamentais. A esses se atribui a filiação a certo “paradigma pós-moderno”. O movimento tendencial parece apontar para a ascensão da ótica pós-moderna em detrimento do paradigma iluminista. Leia Mais
Apesar de vocês: oposição à ditadura – GREEN (VH)
GREEN, James Naylon. Apesar de vocês: oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985. Tradução S. Duarte. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 582p. Resenha de: MONTENEGRO, Antonio Torres. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
O livro de James N. Green começou a ser pensado, segundo ele mesmo, quando, em 1998, durante um encontro da Lasa (Associação Americana de Estudos Latino Americanos), um historiador brasileiro criticou os brasilianistas por não terem atuado de forma significativa na resistência ao regime militar que tomou o poder, no Brasil, em 1964. Posteriormente, constatou que uma parcela de intelectuais brasileiros também tinha uma avaliação semelhante. Discordando dessa leitura, James, ao longo de dez anos, pesquisou diversos documentos para construir outra historiografia acerca da reação de uma parte de intelectuais dos EUA ao regime militar.
Duas seriam as razões básicas que James, afirma terem concorrido para produzir essa avaliação “não verdadeira” acerca da atuação de certos setores da sociedade dos EUA, especialmente intelectuais, em relação ao regime militar que dominou o Brasil de 1964 a 1984. A primeira estaria relacionada à censura, o que dificultava o conhecimento acerca das campanhas internacionais contra o regime, tanto na Europa quanto nos EUA. A segunda seria a corrente antiamericanista, que se espalhou pelo mundo acadêmico, quando análises marxistas, antiimperialistas e nacionalistas, tornaram-se dominantes nas décadas de 1950 à 1970.
James N. Green propõe romper com essa perspectiva antiimperialista que domina muitos estudos macropolíticos e macroeconômicos, acerca das relações políticas e culturais entre o Brasil e os EUA.
Por meio de uma significativa pesquisa documental, associada a mais de cem entrevistas, o autor apresenta as redes que se formaram nos EUA, congregando exilados políticos brasileiros, ativistas americanos, professores de diferentes universidades dos EUA, religiosos, políticos, jornalistas e pessoas simpáticas a causa dos direitos humanos.
O percurso narrativo é construído apresentando um acirrado embate entre forças políticas antagônicas, que inclui o movimento em defesa dos direitos humanos, a embaixada do Brasil em Washington, o Departamento de Estado, a grande imprensa dos EUA, o conselho de Igrejas. Mas não são apenas essas redes, grupos, ou órgãos e instâncias de poder que se digladiam. Dentro do próprio Estado Americano há divergências e conflitos de orientação política. O Departamento de Estado e o Congresso dos EUA, algumas vezes, entram em rota de colisão acerca da política adotada em relação ao Brasil. Também se descobre como a grande imprensa americana produz editoriais e artigos que não correspondem ao que o governo, gostaria que fosse debatido e divulgado. Em outros termos, James, lembra-nos como a generalização no campo da história se apresenta como uma grande armadilha. Sobretudo, porque simplifica e minimiza os confrontos e apaga o trabalho de resistência dos indivíduos, grupos sociais e organizações que também produzem ações com efeitos de verdade e mudanças na definição das políticas de Estado.
Nesse sentido, é revelador dos interesses e princípios conflitantes que informam a política externa, entre Brasil e EUA, o novelo de forças que se constitui logo após a promulgação e publicação do AI – 5, em 13 de dezembro de 1968. Narra o autor que o embaixador americano William Belton estabelece a linha política a ser adotada pelo Departamento de Estado, ou seja, dos EUA permanecerem discretos quanto ao pronunciamento público contra o regime militar, mas passando também a considerar a idéia de suspender ajuda ao Brasil. Talvez, informado, Delfin Neto, ministro da Fazenda, no governo do general Costa e Silva, veio a público desmentir qualquer possibilidade de congelamento da ajuda, no que foi apoiado irrestritamente pelo presidente da Câmara de Comércio norte-americana, em São Paulo, que teria declarado: “as empresas norte-americanas em São Paulo apóiam o governo brasileiro e consideram [o] AI – 5 a melhor coisa que poderia ter acontecido ao país”.1 Mesmo sob pressão da grande imprensa dos EUA, o Departamento de Estado não contrariou os interesses da Câmara de Comércio e nem desfez os prognósticos de Delfin Neto.
Assinala James, que a imprensa dos EUA, que até então raramente tinha publicado alguma crítica ao regime militar, após o AI – 5 passa a nomear o regime político do Brasil de ditatorial e a fazer denúncias de abuso de poder. No entanto, é em razão de um editorial do The New York Times, em dezembro de 1968, criticando o AI 5 – e que causou indignação aos militares brasileiros – que o professor Robert Levine na época jovem professor assistente na Universidade Estadual de Nova York em Stony Brook enviou uma carta a esse jornal, tecendo críticas ao referido editorial, mas em um sentido oposto. Para Levine, o editorial estava equivocado ao afirmar, que os militares tinham boas razões para derrubar o governo constitucional de João Goulart. Levine inaugura – segundo o autor – a série de artigos e pronunciamentos públicos de intelectuais norte-americanos contra o regime militar.2
Porém, gostaria de chamar a atenção para passagens que me parecem carregadas de muitos significados. Em certo momento – como documenta o autor – é possível acompanhar o esforço do regime civil-militar brasileiro de tentar influir no discurso da imprensa nos EUA e na Europa, quando são publicadas matérias relativas a torturas e prisões arbitrárias. A tentativa do regime, de criar um órgão exclusivamente para cuidar da imagem do Brasil no exterior, é uma informação importante para refletir acerca do esforço dos governos em produzirem seus discursos de verdade e poder. Por outro lado, quando o Washington Post publicou um editorial condenando as práticas de tortura e afirmando o quanto este fato era grave para a imagem dos EUA – pois estaria sendo associado a um governo opressor – , imediatamente, há forte reação do governo brasileiro. O ministro das relações exteriores do Brasil convida tarde da noite o embaixador americano para uma conversa. Reclama que houve por parte da imprensa dos EUA um “ataque ofensivo, perverso e insultuoso contra o governo brasileiro”.3 Essa reação também estava relacionada ao fato de que, neste editorial, o presidente Médici é nomeado de “general bronco”. E o embaixador, Mario Gibson Barboza, inicia um trabalho sistemático junto a alguns jornais dos EUA para tentar alterar as matérias críticas ao governo: “No entanto, após seis meses de intensa interação com importantes jornais do país, chegara à conclusão de que as posições ideológicas do Post, do Times e do Christian Science Monitor os levava a tratar do Brasil de maneira hostil, apesar de sua “ação incansável para esclarecer [os relatos enganosos de] pessoas influentes nesses jornais, sem resultado”. Barboza informou ao ministro das Relações Exteriores: “Minha avaliação é que não se trata de um problema de esclarecimento e persistência, e sim de uma posição ideológica estabelecida e, portanto, muito difícil de demover”.4
O ministro, ao afirmar que os jornais defendiam uma posição ideológica e não apenas conjuntural, remete ao problema do imperialismo. Ou seja, os EUA têm uma agenda política, econômica, cultural, social que expressa seus projetos de dominação e interage com os demais países a partir dessa agenda. Como documenta James, essa agenda sofre variações e pressões diversas. A repressão e a tortura seriam inadmissíveis para diversos segmentos da sociedade norte-americana, no entanto, para outros segmentos não, como o livro documenta. Mas, penso que não se pode avaliar essa história política fora dos quadros complexos das relações desiguais entre as nações, em que aqueles que têm mais riqueza e poder instituem e agenciam o discurso do justo e do verdadeiro. Ou seja, deve-se analisar historicamente este quadro ou jogo de interferências de poder entre nações na perspectiva de uma política imperialista. Essa análise histórica não é contemplada por James Green ao estudar as formas de manifestação política contra o regime militar do Brasil a partir de 1964 nos EUA, o que enriqueceria sua obra.
Noam Chomsky, em entrevista recente na China, afirmou:
O ano de 2010 é chamado “O Ano do Irã”. O Irã é descrito como uma ameaça para a política externa dos EUA e para a ordem mundial. Os EUA impuseram sanções severas e unilaterais, mas a China não lhe seguiu o exemplo… Poucos dias antes de deixar a China, o Departamento de Estado dos EUA advertiu a China de uma maneira muito interessante. Disse que a China tem de assumir as responsabilidades internacionais, ou seja, seguir as ordens dos EUA. São estas as responsabilidades internacionais da China. Isto é o imperialismo típico: os outros países têm de agir de acordo com os nossos desejos. Se não, são irresponsáveis. Essa é a lógica típica do imperialismo.5
Em síntese, o livro de James traz importante pesquisa sobre as lutas, os confrontos, as alianças, os boicotes no cotidiano da política dos EUA, na relação com o regime civil-militar que se instala em 1964, particularmente após o AI 5. Revela uma trama complexa, em que os exilados brasileiros nos EUA, os brasilianistas, as organizações religiosas, os políticos dos EUA comprometidos com a agenda dos direitos humanos, atuaram de forma importante e significativa para desnaturalizarem as práticas autoritárias de governabilidade do regime militar que os EUA ajudaram a montar.
1 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês: oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964 -1985. Tradução S. Duarte. São Paulo: Companhia das Letras. 2009, p.145.
2 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês, p.149.
3 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês, p.228.
4 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês, p.297-298.
5 Noam Chomsky interviewed by Southern Metropolitan Daily, August 22, 2010.
Antonio Torres Montenegro – Professor Titular Programa de Pós-Graduação em História/ Centro de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Federal de Pernambuco. Campus Recife Avenida Acadêmico Hélio Ramos S/N 10º andar CFCH. Cidade Universitária -Recife- PE- Brasil. CEP:50670-901 [email protected].
S
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX | João José Reis
Estudos biográficos de indivíduos que experimentaram a escravidão – e mais ainda daqueles que conseguiram superá-la – representam um gênero narrativo de crescente interesse. Esses estudos se referem, sobretudo, ao complexo escravista do Atlântico Norte. As biografias de africanos e de seus descendentes permitiram perceber sob um novo ângulo, e de maneira mais humana, o movimento amplo da história, seja do tráfico de escravos, da ascensão e queda da escravidão no Novo mundo, da reconfiguração do Velho mundo pela colonização e pelo escravismo, enfim da formação de sociedades, economias e culturas atlânticas. É possível fazer dessas histórias pessoais uma estratégia para entender o processo histórico que constitui o mundo moderno e, em particular, as sociedades plantadas na escravidão que dele brotaram. Prospera, também no Brasil, o interesse por estudos biográficos desse tipo […] do sujeito que viveu na sombra do anonimato, de quem não se tem memória constituída, ou cuja memória pertence mais ao mito do que à história […]. (REIS, 2008, p. 315-6).
Com essas palavras, João José Reis justificou, no início do epílogo de seu novo livro Domingos Sodré, um sacerdote africano, o estudo que empreendeu para analisar a trajetória deste na Bahia escravista dos 800. Leia Mais
A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário – LINEBAUGH; REDIKER (Tempo)
LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Tradução de Berilo Vargas. Resenha de: ALADRÉN, Gabriel. História atlântica vista de baixo: marinheiros, escravos e plebeus na formação do mundo moderno. Tempo v.16 no.30 Niterói 2011.
“Deus não é respeitador de Pessoas”: evocando essa passagem bíblica, os Diggers3 lutavam contra o cercamento dos campos na Inglaterra. A frase tinha uma conotação universalista que remontava às origens do cristianismo e advertia que Deus não diferenciava a humanidade por critérios de raça, etnicidade, classe, gênero ou nação. A terra seria uma criação divina e seu uso comunitário deveria ser livre para todos, de forma igualitária, “sem respeitar pessoas”. Versões semelhantes apareciam nas palavras de homens e mulheres que integravam grupos religiosos dissidentes durante a Revolução Inglesa.
Suas ações fizeram parte da resistência do proletariado atlântico ao processo de formação do capitalismo global nos séculos XVII e XVIII. Essa “história oculta do Atlântico revolucionário” é o tema do livro de Peter Linebaugh e Marcus Rediker, A hidra de muitas cabeças, publicado originalmente no ano 2000 e trazido ao público brasileiro em uma bela edição da Companhia das Letras.
Trata-se de um livro inovador, narrado com maestria e paixão e lastreado em uma sólida pesquisa documental. Sua metodologia e estrutura de apresentação são originais. Os autores percorrem casos de motins, revoltas, conspirações e situações que expressam a oposição das classes populares ao nascente capitalismo inglês, construindo uma história do Atlântico vista de baixo.
Para simbolizar esse confronto, Linebaugh e Rediker recorrem ao mito clássico de Hércules. Políticos, filósofos e proprietários o usaram como um emblema do poder e da ordem, no qual seus doze trabalhos representavam o desenvolvimento econômico. O segundo trabalho de Hércules foi a destruição da hidra de Lerna, um monstro de várias cabeças, as quais renasciam constantemente quando decepadas.
Da expansão colonial inglesa aos primórdios da industrialização no século XIX, “os governantes usaram o mito de Hércules e da hidra para descrever a dificuldade de impor a ordem em sistemas de trabalho cada vez mais globais, apontando aleatoriamente plebeus esbulhados, delinquentes deportados, serviçais contratados, extremistas religiosos, piratas, operários urbanos, soldados, marinheiros e escravos africanos como as cabeças numerosas e sempre cambiáveis do monstro” (p. 12).
Ao adotar um ângulo de visão inusitado e ao utilizar com criatividade fontes de natureza variada, os autores demonstram a existência de conexões raramente observadas entre histórias a princípio tão diversas como a dos grupos radicais na Revolução Inglesa, dos náufragos nas primeiras expedições colonizadoras da Virgínia, dos maroons jamaicanos, dos escravos rebeldes e dos servos irlandeses no Caribe, dos piratas e marinheiros, dos conspiradores das cidades portuárias do Atlântico e dos operários ingleses. O impacto do livro na historiografia é significativo e será duradouro, em especial para os estudos sobre a Idade Moderna e para a história do trabalho, pois ele descortina uma perspectiva toda nova para a análise da expansão capitalista e das origens da classe operária.
Um de seus maiores méritos é o de realizar uma genuína história atlântica, na qual os diferentes fatores que condicionam a formação do capitalismo são integrados em uma análise densa e apresentados com uma narrativa primorosa. Em cada um dos casos discutidos ficam claras as forças transnacionais e a circulação de experiências que influenciaram as ações e os anseios revolucionários do proletariado atlântico.
Sublinhar isto não é de menos importância, pois atualmente há uma certa avidez entre os historiadores por vincular seus trabalhos ao rótulo da história atlântica, sem que necessariamente empreguem metodologias e formulem problemas de pesquisa que efetivamente transcendam os quadros nacionais ou, na melhor das hipóteses, imperiais. Tal movimento é salutar na medida em que exige o redimensionamento dos esquemas conceituais de fenômenos históricos usualmente explicados a partir de cadeias de causalidade circunscritas, mas muitas vezes serve apenas para apresentar temas e abordagens tradicionais – e nem por isso menos meritórias – em novas roupagens.4
Isso posto, é necessário fazer uma ressalva ao caráter atlântico do livro, especialmente para os pesquisadores da América do Sul e particularmente do Brasil. Na verdade, se trata de uma história do Atlântico Norte de língua inglesa o que, aliás, é reconhecido pelos próprios autores.
No Atlântico Norte operava o chamado comércio triangular, que conectava os portos ingleses, africanos e americanos e seguia as correntes marítimas que partiam da Europa, passavam pela costa da África e atingiam o Caribe, retornando depois ao noroeste europeu. Tal sistema não gerava simplesmente uma articulação mercantil transoceânica, mas também possibilitava o contato de pessoas de diferentes sociedades que compartilhavam ideias e experiências e criavam novas formas de comunicação e cooperação. Essa circulação levava as ondas revolucionárias e as tradições proletárias, sempre recriadas em cada contexto por novos sujeitos, a todas as margens do Atlântico Norte, acompanhando o fluxo das marés e das transações comerciais.
No Atlântico Sul, funcionava um sistema diferente.5 Desde o século XVII, o tráfico negreiro assentava-se na base de um comércio bilateral, que unia a América portuguesa diretamente à África – em especial o Rio de Janeiro a Luanda e Salvador à Costa da Mina. Essa ligação foi duradoura, passou praticamente incólume pela independência do Brasil e só foi ser rompida com o término do tráfico atlântico em 1850.6 A veiculação de ideias e tradições de resistência no Atlântico Sul passava mais por essa comunicação direta entre Brasil e África do que por rotas triangulares que eram típicas do sistema mercantil do Atlântico Norte.7
Outro ponto importante é a discussão sobre o proletariado atlântico, um conceito chave do livro. Linebaugh e Rediker partem de Marx para ir além, encontrando conexões e vínculos insuspeitados e até uma espécie de consciência coletiva contra-hegemônica – no que às vezes incorrem em certo impressionismo – entre os trabalhadores das diferentes partes do império britânico. O proletariado atlântico era constituído de camponeses ingleses expropriados, ameríndios inseridos em regimes de trabalho compulsório, africanos escravizados, marinheiros de diversas nações e indentured servants irlandeses. Homens e mulheres que não eram, necessariamente, indivíduos livres vendendo sua força de trabalho em troca de salário, conforme a acepção mais restrita de Marx.
A ousadia de incluir trabalhadores tão distintos – sob critérios étnicos, raciais, nacionais, culturais e jurídicos – em um mesmo conceito é uma das forças do livro. Permite que se faça uma leitura ampla da história do mundo atlântico e se identifiquem relações geralmente encobertas entre as diversas formas de exploração do trabalho que foram cruciais para a gênese da modernidade.
Nesse sentido, o livro navega na tradição teórica que enfatiza as relações entre modernidade, capitalismo e escravidão.8 Um de seus mais notáveis representantes é C.L.R. James, que há muito divisou a proximidade das condições dos escravos das plantations com o proletariado moderno.9 No entanto, essa identificação era pensada por James em uma chave de leitura mais convencional, na medida em que ele considerava que os escravos antecipavam as experiências coletivas dos proletários – e aqui pensava em trabalhadores fabris –, mas não se confundiam com eles.10
Na conclusão, Linebaugh e Rediker apresentam uma síntese da constituição histórica do proletariado no Atlântico Norte. Na primeira fase, de 1600 a 1640, o capitalismo surgiu na Inglaterra e se expandiu via comércio e colonização, deixando para trás uma massa de plebeus expropriados transformados em proletários na África, na Irlanda, na Inglaterra, no Caribe e na América do Norte. Na segunda fase, de 1640 a 1680, o espectro da resistência se ergueu, inicialmente com a revolução na metrópole e posteriormente com as revoltas de escravos africanos e indentured servants em Barbados e na Virgínia. Suas derrotas abriram caminho para a estruturação do tráfico negreiro britânico na África Ocidental e para a montagem das plantations nas colônias.
A terceira fase, de 1680 a 1760, foi marcada pela consolidação do capitalismo atlântico, baseado na organização de um Estado marítimo inglês que garantia política e militarmente os capitais que operavam no lucrativo comércio colonial. Nesse cenário, o controle da mão-de-obra dos navios mercantes e da marinha de guerra tornou-se fator decisivo, e o uso da violência e do terror passou a ser fundamental no recrutamento de marinheiros e na repressão aos motins nos portos e em alto mar.
Em oposição à rígida hierarquia do Estado marítimo, os piratas construíram uma ordem alternativa e democrática que ameaçou a estabilidade do comércio britânico no Caribe e na costa africana. As várias gerações de piratas e marinheiros rebeldes foram reprimidas até serem silenciadas na década de 1720.
As lutas do proletariado atlântico passaram a se manifestar no ciclo de rebeliões escravas caribenhas nas décadas de 1730 e 1740 e culminaram com uma conspiração na zona portuária de Nova York em 1741, da qual participaram soldados, marujos e escravos irlandeses, hispano-americanos e africanos, que foram chamados pelas autoridades de “os párias das nações da Terra”.
A quarta e última fase ocorreu entre 1760 e 1835. Na Jamaica, a Revolta de Tacky envolveu quilombolas e escravos e assustou os proprietários das plantations. Na América do Norte, a horda heterogênea de marinheiros, escravos e negros livres lutou para marcar a Revolução Americana com um caráter abolicionista, mas foi contida pelos pais da pátria que arquitetaram uma república escravista. Na década de 1790, uma segunda onda de revoltas estourou na América e na Europa e contribuiu para difundir os direitos do homem e, a longo prazo, para abolir o tráfico e a escravidão.
A “era das revoluções” foi o canto do cisne do proletariado atlântico. A industrialização metropolitana, a construção dos estados nacionais e a repressão à revolução no Haiti concorreram para quebrar seus vínculos e bases materiais. A formulação da ideia biológica de raça e da categoria política e econômica de classe em fins do século XVIII expressa a divisão, que se aprofundaria nas décadas subsequentes, entre os operários brancos ingleses e os escravos negros nas Américas.
A historiografia sobre a classe operária costuma iniciar daí, sem observar que em suas origens, as aspirações dos operários ingleses estavam profundamente carregadas de uma dimensão atlântica. Linebaugh e Rediker formulam uma crítica às narrativas dominantes sobre o tema, sobretudo à influente obra de E.P. Thompson11, por apenas identificarem as tradições estritamente nacionais que conformaram a classe operária na Inglaterra. Essa crítica é ilustrada pela análise da conspiração de Edward e Catherine Despard e da Sociedade Correspondente de Londres, fundada por Thomas Hardy.
Edward Marcus Despard era irlandês, coronel do exército britânico e servira na Jamaica, na Nicarágua e em Belize, antes de retornar a Inglaterra e ser executado em 1803, sob acusação de ter planejado um atentado contra o rei. Catherine, sua esposa, era uma afro-americana que o conhecera no Caribe. Juntos chegaram a Londres no ano de 1790, e naquela década turbulenta, participaram do movimento abolicionista que então entusiasmava os trabalhadores ingleses. Linebaugh e Rediker argumentam que os Despards compartilhavam, junto com pessoas como o poeta William Blake, Thomas e Lydia Hardy, o escritor C.F. Volney e os ex-escravos abolicionistas Olaudah Equiano e Ottobah Cugoano, uma concepção de liberdade e igualdade universais, expressa na ideia de “raça humana”, em oposição aos critérios de raça e nação que estavam se impondo.
Thomas e Lydia Hardy e Olaudah Equiano eram amigos e viveram juntos entre 1790 e 1792. Quando Thomas fundou a Sociedade Correspondente de Londres, evento considerado por Thompson como um marco na formação da classe operária inglesa, pediu auxílio a Equiano para estabelecer contatos em Sheffield. No início, a Sociedade tinha entre seus objetivos o combate à escravidão e a luta pela igualdade de todos “fossem negros ou brancos, superiores ou inferiores, ricos ou pobres” (p. 288). No entanto, logo passou a se dirigir a um público mais restrito, britânico e branco, deixando para trás a questão da igualdade racial. Essa mudança foi fruto da reação inglesa à revolução de São Domingos, que empregou o racismo para combater o exército negro de Toussaint L’Ouverture. Nesse contexto, Hardy preferiu evitar discutir o tema, que se tornou delicado, e circunscreveu o escopo da Sociedade aos limites nacionais.
O argumento de Linebaugh e Rediker é de que a década de 1790 foi um divisor de águas para a história do proletariado atlântico. Ao mesmo tempo em que chegou ao seu auge, a circulação de ideias revolucionárias foi duramente reprimida e a solidariedade entre os trabalhadores da Inglaterra e das Américas foi quebrada com a gênese das concepções modernas de raça, classe e nação: “O que ficou para trás era nacional e parcial: a classe operária inglesa, os negros haitianos, a diáspora irlandesa” (p. 300). É como se o bumerangue revolucionário, para retomar expressão utilizada por Linebaugh,12depois de ter ido tão longe, tivesse caído bruscamente, abatido pela forte rajada de vento que reprimiu as aspirações do proletariado atlântico.
A análise e a periodização proposta pelos autores são apropriadas para a história do Atlântico Norte e do capitalismo inglês. Na América Latina, a construção dos estados nacionais e a afirmação das concepções modernas de raça e classe seguiram ritmos bem distintos. Talvez justamente por isso, as contribuições do livro são potencialmente interessantes para a historiografia latino-americana. Novas pesquisas poderão dizer se a hidra, decepada no hercúleo processo de globalização capitalista no Atlântico Norte, no Sul ainda levantaria suas subversivas e heterogêneas cabeças ao longo do século XIX.
3 Os Diggers, Levellers e Ranters eram grupos populares radicais que atuaram na Revolução Inglesa defendendo ideais igualitários. Ver Christopher Hill, O mundo de ponta-cabeça. Ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640, São Paulo, Companhia das Letras, 1987. [ Links ]
4 Uma excelente análise de exemplos positivos da “virada atlântica” na historiografia do Brasil colonial pode ser encontrada em Stuart B. Schwartz, “A historiografia dos primeiros tempos do Brasil moderno: tendências e desafios das duas últimas décadas”, História: Questões & Debates, n. 50, Curitiba, 2009, pp. 175-216. [ Links ]
5 Mesmo no Atlântico Norte, o comércio triangular era complexo e envolvia rotas mercantis que escapam a um modelo simplificado. Ver Herbert S. Klein, The Atlantic Slave Trade, Nova York, Cambridge University Press, 1999. [ Links ]
6 Luiz Felipe de Alencastro, O trato dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul, São Paulo, Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
7 João José Reis, por exemplo, discute as dimensões africanas da Rebelião dos Malês. Ver João José Reis, Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, São Paulo, Companhia das Letras, 2003. [ Links ]
8 Sobre o tema ver Robin Blackburn, A construção do escravismo no Novo Mundo: do barroco ao moderno, 1492-1800 , Rio de Janeiro, Record, 2003. [ Links ] No campo dos estudos culturais ver Paul Gilroy, O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro, Editora 34/UCAM, 2001. [ Links ]
9 C.L.R. James, Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos, São Paulo, Boitempo, 2007. [ Links ] A publicação original é de 1938.
10 Convém lembrar o importante trabalho de Sidney Mintz, que escreveu sobre a necessidade de integrar analiticamente o estudo dos escravos e dos proletários, sem distingui-los radicalmente do ponto de vista conceitual. Ver Sidney W. Mintz, “Was the plantation slave a proletarian?”, Review, vol.2, nº1, 1978, pp. 81-98. [ Links ]
11 E. P. Thompson, A formação da classe operária inglesa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. [ Links ]
12 Peter Linebaugh, “All the Atlantic mountains shook”, Labour/Le Travailleur, n. 10, 1982, pp. 87-121. [ Links ] Linebaugh usa o termo bumerangue para simbolizar a circulação de experiências históricas de luta contra a exploração capitalista no Atlântico que levava tradições revolucionárias da Europa para as Américas e para a Àfrica e vice-versa.
Gabriel Aladrén – Doutorando em História na Universidade Federal Fluminense.
Soldados da Pátria – História do Exército Brasi leiro (1889-1937) – McCANN (AN)
McCANN, Frank D. Soldados da Pátria – História do Exército Brasi leiro (1889-1937). Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Resenha de: FERREIRA, Bruno Torquato. Anos 90, Porto Alegre, v. 17, n. 32, p. 327-333, dez. 2010.
Frank D. McCann é professor do Departamento de História da Universidade de New Hampshire e, nos anos 1960, como oficial da reserva do Exército americano, foi professor na Academia Militar de West Point. É autor de livros como Aliança Brasil-Estados Unidos (1937-1945) e A Nação Armada: ensaios sobre a história do Exército brasileiro.
Teve passagens por universidades brasileiras como professor visitante, tendo sido também agraciado pelo governo brasileiro com alguns títulos. McCann vem se debruçando sobre os problemas concernentes à atuação política dos militares há mais de trinta anos e a sua produção acadêmica nesse período, ao que tudo indica, também se concentra nessa temática. Ultimamente vem se engajando em um projeto de desenvolvimento de uma base de dados biográficos sobre os oficiais do Exército brasileiro no século XX (Brazilian Army Officers Project) e na elaboração de uma biografia de Pedro Aurélio de Góes Monteiro (p. 621). Soldados da Pátria faz parte de um projeto maior cuja intenção é investigar a história da instituição militar terrestre brasileira até o começo da década de 1990 (p. 10).
Dois aspectos importantes da obra, no tocante ao processo de pesquisa e redação, merecem ser mencionados. A primeira diz respeito ao uso abundante e original dos registros burocráticos produzidos pelo comando militar no período, já que, no seu modo de ver, um estudo sobre a formação da oficialidade do Exército deveria incluir a estrutura, a doutrina, os equipamentos e o treinamento dos homens dessa instituição como objetos de análise1, material este ainda pouco explorado pelos pesquisadores brasileiros. Sobre os estudos relacionadas à década de 1920 no Brasil, o próprio McCann é quem alerta aos interessados: A história de um Exército, dada a complexidade da instituição, requer um enfoque amplo. Além disso, não deve se ocupar apenas dos vencedores; precisa também falar de quem perdeu e por quê. Apesar da importância das rebeliões, há mais na história do Exército (p. 290) As rebeliões em si revelam muito das características culturais dos brasileiros naquela época; as amizades foram fatores não desprezíveis para a aderência ou não a um lado (revoltado) ou outro (legalista) nas vésperas dos sucessivos movimentos. Muitas vezes, era o posicionamento da maioria da guarnição o que determinava o comportamento dos oficiais (p. 361-362). Por outro lado, mesmo os legalistas, não delatavam os seus colegas conspiradores quando convidados a tomar parte nos movimentos (p. 622). Portanto, “conversar, escrever e até mesmo tramar eram tolerados até que alguma ação ocorresse” (p. 410). Além disso, muitos simpatizantes das conspirações deixavam de tomar parte nos movimentos sediciosos por lealdade aos seus comandantes legalistas: “Cabe ressaltar que os oficiais brasileiros não juravam obediência à Constituição, e sim a seus superiores, de modo que os laços pessoais tinham papel importante na manutenção da disciplina” pois tratava-se de um sistema “acentuadamente paternalista, influenciado pelas ligações pessoais de amizade” (p. 373). De fato, a pátria estava acima da Constituição, do Gabinete, do imperador ou do presidente: “O Exército brasileiro foi e ainda é, um baluarte contra as forças centrífugas regionalistas” (p. 11).
Talvez refletindo sobre suas próprias limitações analíticas a esse respeito o autor comentou: “Muitos estrangeiros tinham dificuldade para perceber, e ainda mais para aceitar, a importância da amizade na vida política pública brasileira” (p. 649). Contudo, essa tradição de conciliação chegou ao fim a partir da segunda metade da década de 1930, sobretudo após 1935, quando os sargentos e demais praças passaram a ser alvo de brutal repressão, sem falar dos constantes expurgos e ameaças de expurgos tornados constantes a partir de 1937, utilizados para chantagear e manter na linha os ocupantes da base hierárquica da instituição.
Alguns comentários são reveladores acerca da maneira como alguns americanos compreendem a realidade brasileira, em que pesem os incômodos que podem causar aos brasileiros mais ciosos ou mesmo aos padrões nacionais de cientificidade no tocante às humanidades. O episódio de 15 de Novembro, por ser pouco conhecido e investigado, foi descrito como um dos “aspectos bizarros da história brasileira moderna” (p. 28) ou “A história do Exército brasileiro é mais bem compreendida como um refl exo da complexa, intrincada e às vezes contraditória cultura nacional” (p. 9). O autor parece supor que não existe cultura “contraditória”2.
Em segundo lugar, chama a atenção do leitor mais atento a bibliografia utilizada, que demonstra existir nos Estados Unidos uma historiografia brasileira à parte, com a qual, diga-se de passagem e salvo exceções, a historiografia produzida no Brasil parece manter muito pouco contato, embora a recíproca não seja verdadeira. Temas como a proclamação da República, o conflito de Canudos, a Revolta da Vacina, o conflito do Contestado, a Revolução de 1930, a economia brasileira nas primeiras décadas do século XX entre outros assuntos foram e são largamente debatidos em universidades americanas e, em alguns casos, as pesquisas resultantes desses debates apresentam dados inteiramente originais3.
O autor, desde o começo, anuncia seu rompimento com as análises que interpretam as rebeliões militares como reflexos da política civil ou mesmo de determinismos classistas. Nesse sentido segue a trilha já palmilhada por autores brasileiros e brasilianistas como Edmundo Campos Coelho, José Murilo de Carvalho, John Schulz e Alfred Stepan. Seguindo os rastros desses mesmos autores também indica, que seu intuito inicial de entender o comportamento dos militares brasileiros no período de 1964-1985 levou-o “constantemente” de volta ao período 1889-1937, o qual começou a ver como “a sementeira de acontecimentos posteriores” (p. 10).
Não concorda, por outro lado, com a tese do “poder moderador” de Alfred Stepan (p. 14-15) e, neste ponto, se aproxima mais uma vez das abordagens de Carvalho e Coelho. Conclusão do autor: “O Exército não se tornou o moderador na década de 1890; seu poder era muito precário e muito cooptado. Antes da década de 1930, o Exército não possuía vontade institucional, a doutrina ou a capacidade para tal papel” (p. 14). A unidade doutrinária na formação dos oficiais seria alcançada apenas décadas depois, com a homogeneização da sua formação (p. 251). Acontece que na década de 1920, muitos sargentos foram comissionados em postos de oficiais, o que parece ter dificultado essa propalada unificação doutrinária. Sem unificação doutrinária como esperar que agissem de forma ordenada, coesa e coerente? Nesse sentido, o autor aponta a importância da ESAO e da ECEME4 na unificação doutrinária do Exército nos escalões médios e altos da organização no decorrer do século XX (p. 270). Por outro lado, na década de 1920 essa unidade ainda era incipiente, razão pela qual o autor atribui à falta de unidade doutrinária uma das principais causas da “disposição [dos jovens oficiais] de desrespeitar a hierarquia e rebelar-se (p. 276). Para McCann o Exército começou a se tornar moderador apenas a partir de 1937: “Vargas abriu a porta, e os generais entraram” (p. 547).
O grande caráter instrumental do Exército se revelou quando ele foi acionado para “manter na linha as massas, ou pessoas comuns” (p. 19). Assim podem ser compreendidos episódios como Canudos e Contestado, além da própria repressão aos comunistas e esquerdistas na década de 1930. Além disso, foi o principal instrumento de projeção política do Estado-nacional brasileiro. Esta leitura se estende para além dos limites cronológicos do Estado Novo, não obstante a autonomia institucional alcançada pelo Exército, que lhe potencializou um intervencionismo mais atuante (p. 552-553).
O Exército brasileiro, nesse último período, trilhou um caminho institucional que o transformou, de uma força miliciana, em uma organização de caráter nacional e relativamente ramificada pelo território brasileiro. Desempenhou importante papel civilizador – no sentido eliasiano – e constituiu uma espécie de ponta-de-lança do Estado no que diz respeito às necessidades de integração territorial e desenvolvimento de valores identitários relacionados a esse espaço, principalmente após o advento do serviço militar obrigatório. A esse respeito destaca-se a importância de intelectuais militares da estirpe de Alfredo Taunay e Euclides da Cunha como grandes formuladores da identidade nacional.
Do etno-historiador (?) Anthony F. C. Wallace McCann incorporou as categorias analíticas política dos apetites e política da identidade para se referir aos dois pólos que basilaram a conduta política da oficialidade brasileira nos 30 primeiros anos da República (p. 17).
A última se refere aos movimentos sociais e suas reivindicações, que podem colocar em xeque o domínio oligárquico e a primeira, por sua tonalidade clientelística, contribuía para a manutenção do status quo (p. 17-18). Nem mesmo o eterno legalista Estevão Leitão de Carvalho teria se mostrado imune aos apetites (p. 373). Com efeito, de acordo com McCann, o tenentismo foi um misto de política das identidades e dos apetites (p. 18). No entanto, reconhece que a principal luta dos tenentes nos anos 1920 era mais pelo controle do Exército do que por qualquer outro motivo (p. 339).
Foi uma época de fortes dissensões internas: clivagens horizontais e verticais opunham oficiais entre si e contra praças. Desse modo, o autor se propõe a explicar as razões internas das explosões de violência corriqueiras na evolução institucional do Exército, sobre tudo nas décadas de 1910, 1920 e 1930. São acontecimentos que revelam profundidades estruturais e, por isso, sua explicação não é auto-evidente, como foi o episódio das cartas atribuídas a Arthur Bernardes contra Hermes da Fonseca (p. 279). Entre as razões do descontentamento da oficialidade estavam questões profissionais vinculadas à insatisfação com a organização política do país, como promoções atrasadas, atrasos nos soldos, falta de equipamentos, inade quação dos armamentos, a estrutura política excludente, confl itos latentes com os membros da Missão Militar Francesa entre outros.
Assim sendo, McCann demonstra percepção acurada ao relacionar a explosão das rebeliões no período focado por suas investigações aos conflitos e problemas intra-organizacionais, alguns por razões comezinhas. Nesse sentido, reconhece, por exemplo, que a principal luta dos tenentes nos anos 1920 era mais pelo controle do Exército do que por qualquer outro motivo (p. 339)5. Tratava-se de um confl ito geracional, que tinha seus fundamentos nos bloqueios à progressão profissional dos mais jovens e nas diferenças de formação. Dessa maneira consegue iluminar e oferecer uma explicação plausível acerca da linha de experiência política que se iniciou com a crise conhecida como Questão Militar e que atravessou todo o primeiro terço do século XX até a crise dos anos 1930, que redundou na inauguração do Estado Novo em 1937. Ao mesmo tempo, a análise da experiência política da oficialidade do Exército nas décadas de 1920 e 1930 é usada como fator explicativo das condições que levaram ao regime de 1964-1985 (p. 12).
Muito ainda precisa ser respondido sobre o envolvimento militar na política brasileira, mas essa obra se revela salutar, instigante e incontornável para quem se interessa pelo entendimento do papel desempenhado pela oficialidade do Exército na construção do Estado nacional e da própria nacionalidade, entre outros aspectos. Sua obra merece atenção dos historiadores brasileiros, sobretudo porque, em que pesem as irresponsabilidades dos relativismos atual mente em voga, essa obra constitui um alento motivador para aqueles que ainda se ocupam com a história de verdade, e não com representações oníricas.
Notas
1 Ainda resta saber até que ponto o Exército foi uma instituição controlada de alto a baixo pela oficialidade. Chama atenção também o uso expressivo e constante de relatórios diplomáticos e de adidos militares para alcançar compreensão a respeito de aspectos da socialização, das condições de vida, da profissionalização e do ambiente político no interior do Exército.
2 Do mesmo modo, McCann revelou inocência metodológica ao expor sua intuição de que Vargas pretendia reconstitucionalizar o país em 1932 e só não colocou em prática esse projeto em função do movimento paulista ocorrido em julho daquele mesmo ano baseado unicamente nas evidências contidas no diário “secreto” do político brasileiro, publicado apenas em 1995, pois, de acordo com o Autor, “agora sabemos o que ele estava dizendo a si mesmo naquela época” (p. 419).
3 A respeito do conflito ocorrido em Canudos no final do século XIX merece destaque a informação de que o beato Antônio Conselheiro mantinha estreitas relações clientelísticas com alguns coronéis locais, membros do clero e inclusive com o próprio governador da Bahia na época (p. 64, verificar especialmente a nota 66).
4 Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Escola de Comando e Estado-Maior do Exército respectivamente. Atualmente constituem cursos de pós-graduação equiparados aos níveis de mestrado e doutorado pelo Ministério da Educação.
5 O Autor parece acompanhar, nesse aspecto, a diferenciação proposta por Edmundo Campos Coelho que admitia a existência de um tenentismo político nas décadas de 1920 e 1930 em oposição ao tenentismo profissional, protagonizado pelos jovens turcos na década de 1910. O primeiro apresentava uma maior disposição para a luta contra a cúpula do Exército e a camada dirigente da República do que o segundo.
Bruno Torquato Ferreira – Atualmente é discente do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná em nível de doutorado e professor do Ensino Fundamental no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG). E-mail: [email protected].
Globalização, Democracia e Terrorismo – HOBSBAWM (CTP)
HOBSBAWM, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Tradução de José Viégas. Resenha de: SILVA, Karla Karine de. Sobre a Globalização, a Democracia e o Terrorismo. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 01 – Outubro de 2010.
Em seu mais recente livro, Globalização, Democracia e Terrorismo (Tradução José Viegas. São Paulo: Companhia das Letras Ed. 2007, R$ 36,00), o historiador egípcio Eric Hobsbawm reúne uma coletânea de palestras e conferências pautadas em alguns dos temas mais atuais da contemporaneidade. Dividida em dez capítulos, sua obra analisa fatos e situações focadas principalmente nos séculos XX e XXI. Hobsbawm aborda diferentes e relevantes problemas, como os impérios hegemônicos estabelecidos por Estados Unidos e Grã-Bretanha e suas diferenças; o fim da Guerra Fria e suas conseqüências; a democracia em suas diversas particularidades; o terrorismo, esta novidade apenas aparente na geopolítica, a crescente violência e seus deslocamentos de eixos; a expansão do Império norte-americano. Todos os escritos são permeados por discussões sobre guerra, paz, segurança, nacionalismo, globalização, economia e ordem pública. Há também considerações significativas sobre o futebol, relacionado com criatividade a alguns dos temas mencionados.
Eric Hobsbawm nasceu em Alexandria, em 1917, e educou-se na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra. Historiador contemporâneo, recebeu o título de doutor honoris causa em universidades de diversos países. Lecionou até se aposentar no Birkbeck College, da Universidade de Londres, e posteriormente na New School for Social Research, de Nova York. Publicou no Brasil obras como Era dos Extremos (1995), Ecos da Marselhesa (1996), Sobre História (1998), O Novo Século (2000) e Tempos Interessantes (2002).
Embora não deixe de mencionar exemplos sobre guerra, globalização e terrorismo em um punhado variado de países nos cinco continentes, as conferências selecionadas para o livro concentram-se nas políticas norte-americana e britânica. Hobsbawm deixa claro sua crítica e contrariedade ao expansionismo do governo de George W. Bush (2000-2008). O historiador põe em perspectiva comparada os fenômenos que fizeram desses países – EUA e Inglaterra – grandes impérios, ao mesmo tempo em que apresenta suas diferenças. Tratando-se da Grã-Bretanha, centro da economia mundial no século XIX, Hobsbawm explica que suas pretensões expansionistas eram, e são, sobretudo comerciais. Dos anos 1800 até a primeira metade do século XX, o império britânico era o maior exportador de produtos manufaturados, ainda detentor de uma força naval incomparável e, embora tenha encontrado um forte concorrente tecno-industrial (EUA) no século seguinte, reestruturou-se no mercado investindo ainda mais em instituições financeiras, bancos e exportação de capitais.
Os EUA também têm um vasto mercado-mundo tecno-industrial e sua frota aérea não enxerga concorrentes. Entretanto, sua política externa expansionista pautada em parte na exportação do chamado “modelo americano de ser”, e mais incisivamente pela ocupação militar de países mais fracos, valendo-se da ideologia que Hobsbawm classifica de “uma missão imperial (…) a implicação messiânica da convicção fundamental de que sua sociedade livre é superior a todas as demais e está destinada a tornar-se o modelo global”, difere em muito dos ideais britânicos de superioridade. O reconhecimento de seus limites e da não interferência nas políticas internas dos países “ocupados” economicamente pela Grã-Bretanha, impedem-na de cair na megalomania messiânica americana.
A ênfase que Hobsbawm confere às discussões sobre as hegemonias norte-americana e britânica se justifica pelo fato de que, diante das crises mundiais, – principalmente as que emergiram com o fim da “Guerra Fria” – apareceram pequenos Estados independentes e internamente conflituosos. Isto facilitou o acesso de grupos terroristas a armamentos mais sofisticados, aumentou da violência e inflacionou as guerras civis (as guerras larvais em “países sem importância” para os falcões do exército americano são o melhor exemplo disto). O mundo Pós-Guerra Fria experimentou histerias diante de catástrofes (aquecimento global), pandemias (AIDS, gripe aviária) e viu, pela TV e Internet, a ascensão da propaganda do terrorismo. Por isto, o historiador afirma que é urgente a necessidade que os povos têm de um sistema governamental que interfira positivamente como agente promotor da ordem global. Seriam os EUA, potência mundial militar e tecnológica, tal agente? Esta questão permeia toda a obra do autor, especialmente os capítulos seis a oito.
O conceito atual de democracia-liberal, muito distante dos seus ideais originais, tem sido desculpa para as “intenções” messiânicas americanas. O autor ressalta que esta proposta estadunidense não resolve os problemas, tampouco está ali o modelo de governo a ser seguido pelas nações do mundo. As diferenças culturais, as necessidades de cada povo e as variadas concepções de mundo dentro das culturas, elegem qual modelo de governo adéqua-se melhor aos problemas das diversas sociedades.Neste sentido, a ânsia de um governo adequado às necessidades de um grupo ou a resposta a algum tipo de imperialismo, tem alimentado a crescente onda de terrorismo. A análise de Hobsbawm sobre os agentes do terror e os elementos que lhe dão embasamento é provocativa. Ele considera que este não se concentra em grupos ativistas específicos como, por exemplo, ETA, IRA, Al-Qaeda, Hamas, Al Fatah, Jihad Islâmica da Palestina, Hezbollah, Tigres Tâmeis, Partido dos Trabalhadores do Curdistão etc., mas acentuadamente está presente em Estados (autoritários ou liberais), nas suas táticas de coerção e “controle”.
Em suma, Globalização, Democracia e Terrorismo traça vividamente um painel do cenário político internacional analisando a situação mundial e os problemas mais agudos com que nos confrontamos atualmente. Mais do que uma mera apresentação da situação mundial, o autor deixa claro sua oposição às intervenções armadas como desculpa para resolver questões internacionais. Condena fortemente as pretensões imperialistas e hegemônicas, aceleradoras da violência e, sobretudo, demonstra sua preocupação com o colapso no qual o mundo se encontra atualmente. Em época de guerras, falências e forte crise econômica, uma obra como esta pode nos auxiliar a observar de maneira crítica as ondas rápidas dos acontecimentos no tempo presente.
Karla Karine de Jesus Silva – Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe. Bolsista PIBIC/CNPq. Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente – GET.
O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30 – FAUSTO (CTP)
FAUSTO. Boris. O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Resenha de: ROSALBA, Patrícia Salvador Moura. O Crime do Restaurante Chinês: carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 01 – Outubro de 2010.
São Paulo, década de 1930, carnaval, festas, copa do mundo, crimes e justiça, são alguns dos temas retratados por Boris Fausto no livro O Crime do Restaurante Chinês. O autor faz um estudo detalhado sobre um episódio criminoso que acometeu o casal de chineses Ho-Fung e Maria Akiau e mais duas vítimas, dois homens que trabalhavam no estabelecimento comercial do casal. Para a produção do livro, Fausto recorre aos arquivos da história e da memória pessoal. Esmiúça os jornais publicados durante o marco temporal mencionado e o prodigioso processo criminal que detalha um dos fatos policias que mais chamou atenção da opinião pública paulistana na década de 1930. Resgata em sua memória a beleza e a mestria do carnaval de 1938, vivenciada sob a companhia da família por meio da participação do corso da Avenida São João, sempre ao cair da noite no domingo e terça-feira de carnaval. Relembra como o tal crime marcou a sua infância através das imagens estampadas nos jornais e que aterrorizaram suas noites, dos comentários que escutava nas ruas e no ambiente familiar sobre o episódio. Boris vivia, sentia, sofria com os fatos que conhecia sobre o crime na época de sua infância. As lembranças, a curiosidade do excelente pesquisador e sua trajetória profissional no campo acadêmico, contribuíram para que Boris Fausto construísse um enredo envolvente e misterioso com revelações que surpreendem o leitor a cada página e capítulos. Trouxe a baila discussões importantes que marcaram e ainda estão presentes na cultura brasileira como a importância da imprensa na formação da opinião pública, os dispositivos técnicos utilizados pelo sistema de justiça criminal para solucionar crimes, teorias raciais, a relação entre migrantes, imigrantes e trabalhadores marginalizados nas grandes cidades e, sobretudo, a grande euforia provocada por dois momentos importante de exacerbação da cultura brasileira, o carnaval e a Copa do Mundo de Futebol, realizada na França em 1938, aliás, rituais cristalizados nacionalmente que, em suas várias versões, continuam a movimentar os espaços culturais brasileiros provocando momentos de euforia coletiva.
A perspectiva teórico-metodológica utilizada pelo autor está ancorada nos estudos denominados de micro-história. Com base em autores como Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e Le Roy Ladurie, a micro- história se constituiu como um gênero muito estudado que influenciou e influencia a construção de diversos estudos históricos. Portanto, Fausto ainda nos presenteia com detalhes metodológicos desta forma de fazer história, na medida em que evidencia em sua escrita as principais características dessa metodologia. Reduziu a sua escala de observação, com a narração do crime do restaurante chinês, no qual buscou significados importantes que falam da cultura paulistana e que passariam despercebidos na leitura ampla de grandes episódios. Concentrou a observação em pessoas comuns como Arias de Oliveira, Ho-Fung, Maria Akiau, José Kulikevicius e Severino Lindolfo Rocha, ambos marcados socialmente através dos estereótipos de algoz e vítimas. Extraiu dos discursos presentes nos jornais e nos processos, dos fatos aparentemente corriqueiros uma dimensão social muito importante para entender e explicar a cidade de São Paulo dos anos 30 e suas peculiaridades, utilizando-se do estilo narrativo para contar a história. O livro está dividido em dezesseis capítulos, acrescentados de uma breve explicação e de uma introdução, nos quais a autor narra o acontecimento policial de 1938 em detalhes, com imagens ricas, fotos que apresentam São Paulo nos anos de 1930, manchetes dos jornais relatando o crime, além das fotografias das pessoas envolvidas no processo criminal, desde as vítimas, acusado e autoridades do Sistema criminal e médico. São fotos surpreendentes acompanhadas de explicações que envolvem o/a leitor/a na teia dos acontecimentos e os/as deixa com vontade de não parar de ler. Uma trama que envolve o debate entre saber, poder e ciência, esmiuçado em laudos periciais, testes psicológicos, teorias científicas, interrogatórios, depoimentos, confissões, relatórios, denúncia e sentenças, e coloca na cena principal o acusado Arias de Oliveira, negro, pobre, analfabeto e interiorano, cujo corpo e mente são analisados, estudados, destrinchados pelo Estado, numa ação que evidencia as interfaces da biopolítica. Para aguçar a curiosidade de quem ainda não teve o privilégio de tal leitura, recorro ao estilo descritivo e informo que em uma manhã da quarta-feira de cinzas de 1938, foram encontrados quatro corpos em um restaurante chinês, situado à Rua Wenceslau Braz nº 13. Os corpos espalhados no chão dividiam espaço entre mesas e cadeiras, e foram identificados como sendo de Ho-Fung, chinês, imigrante e proprietário do restaurante e de sua mulher Maria Akiau. Além do casal, também compuseram a cena do crime mais dois corpos de homens que foram identificados como o lituano José Kulikevicius e o brasileiro Severino Rocha, ambos trabalhavam no restaurante havia pouco tempo antes do crime. Os assassinatos contra os dois empregados do restaurante foram cometidos com diversos golpes de um cilindro de madeira, que era usado como pilão na cozinha do estabelecimento comercial. O dono do restaurante, além de ser espancado e ter várias fraturas na cabeça, também foi asfixiado, aparentemente, numa tentativa de não deixar dúvidas sobre sua morte. Maria Akiau, que foi assassinada por último, lutou com o criminoso, como demonstrou o laudo, através da constatação de marcas de unha em partes de seu corpo, e foi esganada com um laço de tecido apertado em seu pescoço. A partir da cena encontrada, a apuração dos assassinatos se desenrola e várias questões brotam, sem respostas imediatas. A principal delas se dirigia ao responsável pelo crime, ou seja, quem teria sido o assassino monstruoso? É nessa teia de acontecimentos que se chega ao principal suspeito, Arias de Oliveira. A história se desenvolve, de maneira rica em resgate de fatos históricos, e por meio de uma verdadeira aula de metodologia e análise de fontes documentais. Além do mais, coloca o/a leitor/a em contato com a memória pessoal de Boris Fausto em plena década de seu nascimento, revelações sobre sua família, seus medos, o marcante carnaval de 1938 e relatos indiciosos e inesperados sobre esse fato que lhe marcou e que ficou registrado, segundo o próprio Fausto “nas ilusões da memória” p.217 como “o mais aterrorizante elemento da cena do crime” p. 217, mas que não aparece registrado em nenhuma fonte analisada pelo autor. O livro em questão trata da história de São Paulo, e porque não dizer da História do Brasil, ligando acontecimentos culturais importantes a um crime que tomou as páginas dos jornais paulistanos em uma década marcada por importantes mudanças em âmbito nacional. Destaco que, uma das principais contribuições do autor é reflexão sobre as formas de se fazer história, através de uma discussão pertinente com a memória. Recomendo ao leitor a se debruçar sobre as páginas do Crime do Restaurante Chinês, certamente será uma prazerosa leitura, repleta de enigmas e descobertas.
Nota
Patrícia Rosalba Salvador Moura Costa – Aluna do Programa de Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. Pesquisadora do Grupo de Estudos do Tempo Presente -GET e do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades-NIGS da UFSC.
A Caverna – SARAMAGO (C)
SARAMAGO, J. A Caverna. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Resenha de: LEÃO, Andreza Marques de Castro. A caverna. 206 Conjectura, Caxias do Sul, v. 15, n. 3, set./dez. 2010.
A presente resenha tem por foco apresentar o livro intitulado A Caverna, de autoria do conhecido escritor português José Saramago. É mister esclarecer que se trata de um romance, com personagens fictícios, como o autor relata, e que pode trazer inúmeras contribuições ao estudo da História da Educação, traçando, também, relevantes e instigantes articulações com a Filosofia da educação.
Em relação à linguagem empregada, o romance apresenta características peculiares, que são o uso ínfimo, até mesmo a abolição completa dos sinais gráficos de pontuação, procedimento esse que aproxima a linguagem escrita da oral.
Quanto aos personagens do enredo, há cinco principais: Cipriano Algor (oleiro); Marta (filha de Cipriano); Marçal Gacho (genro do oleiro); Isaura (estudiosa, viúva apaixonada por Algor); e Achado (um cão com atributos quase humanos).
A história se passa no Centro (de fato esse pode ser tanto um dos locais do enredo, quanto um dos personagens centrais); na olaria, que é um lugar de transição entre cinturões industriais e o cinturão verde, que fica próximo de uma cidade, porém é um local não urbano onde moram Cipriano, Marta, Marçal, quando está de folga, e na vila em que reside Isaura.
O foco central do enredo é o dilema de Cipriano: mudar-se ou não com a filha e o genro para o Centro quando esse fosse promovido à guarda residente.
Cipriano, como citado anteriormente, é um oleiro de profissão, com tradição familiar de artesões, que tem 64 anos e um modo rude de encarar as pessoas e as situações corriqueiras; talvez tal fato seja decorrente da profissão, que lhe exigia ter de amassar e cozinhar o barro, ou seja, trabalhar com coisas brutas. Não obstante, é uma pessoa de grande sensibilidade, fazendo sempre reflexões sobre a vida.
Marta é auxiliar e companheira do pai, mulher de muitas ideias. Ela é mais otimista que ele, embora, não tanto quanto Marçal em relação à mudança para o Centro, visto que receia o que pode ocorrer com seu pai. Fica grávida no início do livro e continua a auxiliar o pai mesmo durante a gravidez.
Marçal é segurança do Centro. Na realidade, é guarda residente, e não entende como Cipriano temia em ir morar em outro lugar que não no Centro. Gacho tem problemas com seus pais, e seu maior sonho é ser promovido no serviço e, cada vez mais, participar e ser envolvido pelo Centro. Seus pais também queriam morar no Centro com ele, mas devido à impossibilidade de esse pedido ser atendido, visto que os apartamentos lá são pequenos, não podendo comportar Marta, Cipriano, Marçal, o futuro filho, e mais os pais desse, há um desentendimento familiar. Ambas as famílias não cultivam um bom relacionamento em vista de um acidente que Marçal teve no forno da olaria, na época em que ainda namorava Marta, que lhe ocasionou uma cicatriz oblíqua que ele tem em uma das mãos.
Isaura é uma viúva da região onde Cipriano mora e por quem ele nutre uma grande estima. Todavia, ele luta contra esse sentimento. Em relação ao Centro, para ela é uma entidade distante e que pouco afeta sua vida. Após ter ficado viúva, procura emprego na vila, e passa a trabalhar numa loja. Talvez tenha sido por essa atitude que Cipriano tenha se apaixonado por ela.
Achado é o mais “humano” dos cães. Foi encontrado num dia de chuva e por seus modos quase humanizados cativou o carinho de Cipriano e Marta. É ele que escuta os lamentos de Cipriano e procura entender os difíceis e contraditórios sentimentos humanos. “o Achado é um cão consciente, sensível, quase humano.” (p. 349).
No enredo, os personagens, além de terem nome próprio, também são chamados pelo apelido característico. Quanto aos de Cipriano e Marçal, chama a atenção os seus respectivos significados. Algor significa frio, e Gacho, a parte do pescoço do boi em que se assenta a canga. Essa alusão feita por Saramago descreve bem e de modo sucinto a característica principal de tais personagens à luz da história: Algor se mantém frio perante o Centro, receoso quanto a ter de morar nele; por outro lado, Gacho se deixa escravizar pelo Centro, se submetendo a ele. Assim, ambos apresentam visões opostas de Centro: o primeiro de opressão, e o segundo, de submissão.
O livro inicia a história narrando a ida de Cipriano Algor ao Centro, local em que levava suas mercadorias: louças de barro para entregar, pois era fornecedor. No entanto, se confronta com uma árdua realidade: suas mercadorias não são mais “aceitas” pelo Centro, visto que a venda das louças tinha baixado, pois apareceram louças de plástico, as quais eram mais baratas, não quebravam e eram mais leves, havendo uma maior demanda por esse tipo de louça do que pelas de Algor, ou seja, seus produtos não atendiam mais aos anseios do mercado. Diante disso, Cipriano fica perplexo e contesta o chefe das vendas quanto às suas mercadorias: “Não é razão para que se deixe de comprar as minhas, o barro sempre é barro.” Contudo, o chefe responde: “Vá dizer isso aos clientes, não quero afligi-lo, mas creio que a partir de agora a sua louça só interessará a colecionadores, e esses são cada vez menos.” (p. 23).
Cipriano fica indignado com essa situação, porquanto suas mercadorias são desvalorizadas. Sabiamente Marta compreende essa situação, problematizando que, na verdade, não são os gostos das pessoas que determinam o que o Centro deve produzir, é o contrário: “Os gostos do Centro que determinam os gostos de toda a gente.” (p. 42).
Pensativo, Algor concluiu que se o Centro persistisse na averiguação dos novos produtos que estava sendo realizada, a olaria talvez fosse apenas a primeira vítima. De fato, ele entendeu que as inovações tecnológicas estavam ganhando espaço, ao passo que as atividades ditas “manuais”, como a sua de oleiro, não mais teriam lugar nesse contexto, por isso, ele se vê como uma espécie em extinção.
Cabe pontuar que dentre as reflexões que Saramago faz, deixa claro, na história, que a modernização vai extinguindo aos poucos as profissões.
Com a notícia de que o Centro não mais adquiriria seus produtos, sendo tal decisão irrevogável, e sabendo que estava proibido de fazer negócios diretamente com os consumidores, Cipriano começa a ficar angustiado, pensando em como viverá do seu trabalho se o Centro, além de tudo, não o autoriza a vender seus produtos a outras pessoas, tendo de abandonar suas mercadorias no campo, num local escondido.
Com esse episódio de recusa de suas mercadorias, desgostoso, ele passa a refletir sobre sua vida e questões essenciais envolvidas, como a sobrevivência. A partir disso, analisa criticamente a condição de vida do trabalhador assalariado, que aceita o destino desse labor:
Cipriano passa de uma hora para outra [a] desmerecer a reputação do operário madrugador ganhada numa vida de muito trabalho e poucas férias. Levanta-se já com o sol fora, lava-se e faz a barba com mais vagar que o indispensável a uma cara escanhoada e a um corpo que se habituou à limpeza, desjejua pouco mas pausado, e finalmente, sem acréscimo visível no escasso ânimo com que saiu da cama, vai trabalhar. (p. 55).
Algor percebe o contexto global em que está inserido, em que uns exploram, e outros são os explorados. Portanto, compreende que uma vez que o indivíduo não se enquadra em nenhuma dessas condições, isto é, fica fora desse sistema, ele não tem como sobreviver.
Devido à sua angústia, Cipriano foi ao cemitério visitar a lápide de sua falecida esposa, que, há três anos, o havia deixado. Nesse local, encontra a viúva Isaura (estudiosa, mulher de 45 anos), que relata a Algor que queria comprar um cântaro. Na ocasião, ele fala que faria melhor, daria um a ela, o que ele fez no dia seguinte, quando a viu. Esse encontro com Isaura despertou a atenção dele por ela.
Após esse episódio, surge na olaria um cão. Em vista de seu súbito aparecimento, lhe deram o nome de Achado.
Em decorrência da situação difícil de Cipriano, Marta sugeriu que fizessem bonecos de barro como produtos substitutivos das louças de barro. Ambos se empenham na confecção de modelos a serem mostradas.
Assim, Cipriano revela a ideia ao chefe de vendas do Centro. Ao apresentá-la, o chefe não lhe deu resposta imediata acerca da aceitação, contudo, ficou de pensar no caso. Em vista disso, Algor conclui que “para o Centro não tem importância uns toscos pratos de barro vidrado ou uns ridículos bonecos a fingir de enfermeira, esquimós e assírios de barba, nenhuma importância, nada, zero”. (p. 99). Todavia, o Centro se propôs a fazer uma encomenda experimental dos bonecos, mas a possibilidade de novas encomendas dependeria do modo como os clientes receberiam tal produto, pois “para o Centro… o melhor agradecimento está na satisfação dos nossos clientes, se eles estão satisfeitos, isto é, se compram e continuam a comprar, nós também o estaremos”. (p. 130). Desse modo, os bonecos seriam submetidos a uns inquéritos orientados sob duas vertentes: Situação prévia à compra, isto é, o interesse, a apetência, a vontade espontânea ou motivada do cliente, em segundo lugar, a situação decorrente do uso, isto é, o prazer obtido, a utilidade reconhecida, a satisfação do amor próprio, tanto de um modo de vista pessoal, como de um ponto de vista grupal. (p. 239).
Devido à não mais aceitação dos pratos de louça que fornecia ao Centro e ao receio de não receptibilidade dos bonecos por esse, Cipriano, apesar de sua luta e recusa internas de ir morar ao Centro, decide se mudar com a filha e o genro para lá, na ocasião em que esse fosse promovido. Saramago mostra, de modo nítido, no enredo, que essa atitude de Cipriano é causada pelo desgosto que sentia, ao se ver sem outro modo de sobreviver. Isso ocasiona perplexidade mental, visto que “teria de ir viver para o mesmíssimo Centro que acabava de lhe desprezar o trabalho”. (p. 197). Acrescente-se a isso, que sua autoestima também fora abalada, uma vez que se considerava um empecilho, um estorvo, um inútil para a filha e para o genro.
Assim, com a nomeação de Marçal, Cipriano vai com ele e a filha morar no Centro, num pequeno apartamento que é cedido aos guardas e que se localiza dentro do Centro. Porém, antes da mudança, Algor deixa sob a incumbência de Isaura o cuidado de Achado, porque o Centro não aceita animais. Apesar de ele, durante todo o enredo, lutar contra o sentimento que nutre por ela, nessa ocasião, declara seu amor e lamenta não ter nada pra lhe oferecer, pois não sabendo como poderia sustentar a si próprio quanto mais sustentaria outra pessoa. Então, decide viver no Centro.
Sou uma espécie a caminho da extinção, não tenho futuro, não tenho sequer presente… não tenho nada que lhe oferecer… a olaria fechou e eu não aprendi a fazer outra coisa… não tenho mais remédio. (p. 300).
Após o inquérito solicitado pelo Centro para avaliar os bonecos de barro de Cipriano, eles foram rejeitados. Assim, a última esperança de Algor de manter em funcionamento a olaria, morria naquele momento.
Cipriano se vê refém do pequeno apartamento no Centro. Como estava sem trabalhar, sem ter o que fazer, decide começar a conhecer melhor o Centro. Passeia e se aventura como se descobrisse um mundo novo. Nas suas andanças, numa das ocasiões, ele escreve as frases que ficam expostas nos letreiros das lojas e as lê para a filha e o genro, se apercebendo do vazio que o Centro representava, em que tudo se resumia a consumir e incitar a vontade dos clientes.
Não obstante, um episódio vai modificar os acontecimentos da família Algor. Desde que se mudaram para o Centro, estavam sendo realizadas obras de construção em um depósito frigorífico no subsolo. Entretanto, houve um incidente, e a obra precisou ser parada para que fosse avaliada por especialistas. Marçal foi informado de que a obra colocou à mostra no piso, algo estranho. Para averiguar tal fato, foram chamados geólogos, arqueólogos, sociólogos, até mesmo médicos legistas. Ao tomar conhecimento desse fato, o que chamou a atenção de Cipriano foi que, além desses profissionais terem sido requisitados, os guardas deveriam manter essa informação em sigilo.
Em decorrência desse acontecimento misterioso, Cipriano decidiu, durante o turno da madrugada de Marçal ir às escondidas tentar descobrir o que havia no buraco de 34 metros de profundidade que precisava ser tão protegido. Apesar do receio do genro de perder o emprego por essa aventura do sogro, ele lhe indica o caminho que devia seguir para desvendar o segredo. Assim sendo, com uma lanterna nas mãos e muita audácia, entra na gruta. Lá Cipriano encontrou algo que o abalou emocionalmente: seis corpos humanos, três homens e três mulheres, atados a um banco de pedra. “Um violento tremor sacudiu os membros de Cipriano Algor, a sua coragem fraquejou como uma corda.” (p. 331).
Ao sair da gruta, chorou sobre os ombros do genro. Perplexo, indaga-o e tem uma conversa com esse: Sabes o que é aquilo, Sei, li alguma coisa em tempos, respondeu Marçal, E também sabes o que o que ali está, sendo o que é, não tem realidade, não pode ser real, Sei, E contudo eu toquei com esta mão na testa de uma daquelas mulheres, não foi uma ilusão, não foi um sonho, se agora lá voltasse iria encontrar os mesmos três homens e as mesmas três mulheres, as mesmas cordas a atá-los, o mesmo banco de pedra, a mesma parede em frente, Se não são os outros, uma vez que eles não existiram, quem são estes, perguntou Marçal, Não sei, mas depois de os ver fiquei a pensar que talvez o que realmente não existe seja aquilo a que damos o nome de não existência. (p. 333).
Cipriano, ao relatar esse fato à filha, compreende que, na verdade, os corpos “essas pessoas somos nós… somos nós, eu, tu, o Marçal, o Centro, tudo provavelmente o mundo”. (p. 334-335). Após essa descoberta, ele decide deixar o Centro, salvar a sua vida e voltar para a Olaria. Lá chegando, tem um encontro emocionado com Isaura e lhe conta os últimos acontecimentos do Centro, e o motivo de ter voltado. Nessa ocasião, decide finalmente tê-la como sua companheira.
Após uns dias do ocorrido, Marçal pede demissão ao Centro. O fato de ter visto corpos o acordou para a realidade alienante em que estava vivendo. Quando questionado acerca do motivo que o levou a tomar tal decisão, ele responde: “Quem não se ajusta não serve e eu tinha deixado de ajustar-me.” (p. 347).
Desse modo, Cipriano, Marta, Marçal e Isaura decidem deixar a olaria também, ir em busca de uma nova vida, levando com eles o Achado.
Antes disso, Algor posiciona os bonecos de barro em frente da porta de sua casa. Assim, com a chuva, eles voltariam do barro ao pó. Nesse sentido, a caverna representa a condição do homem no contexto atual, cuja trajetória vai, tanto no plano denotativo como no conotativo, também do barro ao pó, tal qual objetos que, quando não são mais úteis, são descartados.
No momento da partida, ao passar pelo Centro, descobrem que até mesmo da descoberta dos corpos o Centro se apropria para tirar proveito: “Brevemente, abertura ao público da caverna de Platão, atracção exclusiva, única no mundo, compre já a sua entrada.” (p. 350).
No enredo, Cipriano representa a pessoa que consegue ser arrastada para fora da caverna e enxergar a realidade. Ele é o único que consegue perceber a preponderância econômica do Centro Comercial.
Dessa forma, podemos compreender por que motivo Saramago intitulou sua obra com esse título. A caverna, nesse caso, é o Centro Comercial, ou um shopping, local em que não há janelas, e só se pode ver o seu interior.
O Centro exerce grande influência na vida das pessoas e pode guiar os gostos das pessoas ao que convém ou não; incitar as vontades para consumirem, é claro, no Centro; instigar a cobiça das pessoas por quererem ter mais e a qualquer custo, entre outros motivos. Tudo gira em torno do Centro, e os que são seus concorrentes sofrem por estar se rivalizando com tamanho sistema. “Para o Centro só existe um caminho, o que leva do Centro ao Centro.” (p. 233).
Ao escrever A Caverna, Saramago nos exorta a nos identificar com Cipriano Algor, o homem comum que adquire sabedoria, que se liberta, buscando meios paliativos para se sustentar no Centro, mas que não se deixa cegar por ele.
Em suma, embora o livro já tenha dez anos, trata de um tema atual: a diferença entre dois mundos distintos: o Centro Comercial, que é exigente, competitivo, e que, na realidade, representa o capitalismo em sua fase moderna; e Cipriano, oleiro, que representa o modo simples da vida, além das inovações.
Há um convite explícito ao leitor para que reflita sobre as condições da nossa sociedade, para as consequências advindas da modernização do capital e sobre a nossa atitude perante tudo isso: se temos percebido ou se estamos estáticos, cegos, sendo passivamente envolvidos pela modernização.
Para Saramago, é possível escapar dessa caverna chamada capitalismo, como fez Cipriano que não se moldou a esse Centro, tendo uma visão crítica sobre ele, que aumentou quando conheceu de fato esse Centro quando lá morou.
Referência
SARAMAGO, J. A Caverna. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 352 p.
Andreza Marques de Castro Leão – Pós-Doutora no Departamento de Psicologia da Educação. Faculdade de Ciências e Letras da Unesp/Araraquara/SP. Bolsista da Fapesp.
O mundo prodigioso que tenho na cabeça – Franz Kafka: um ensaio biográfico | L. Begley
Se existe um ‘significado inteligente’ a ser encontrado em ‘O veredicto’, Na colônia penal, A metamorfose, Amerika, O processo ou O castelo é a reação que essas obras provocam no leitor (BEGLEY, 2010, p. 240).
De que modo um romancista traduz sua ‘experiência de vida’ para a ‘criação literária’? Como compreender o movimento entre realidade, imaginação e romance? Por que ao reconstruir imaginativamente a realidade o romancista proporciona a possibilidade de refazer a própria experiência do vivido no leitor? Se essas perguntas são enigmáticas e instigantes para a grande maioria dos intérpretes dos romancistas modernos, para o caso de Franz Kafka (1883-1924) elas parecem ainda mais pertinentes, na medida em que seus livros se tornaram uma das chaves interpretativas dos ‘regimes totalitários’, das engrenagens dos sistemas burocráticos, e da própria Modernidade. Contudo, quando a questão é entender sua obra, seu pensamento e quem a produziu não existe nenhum tipo de consenso (ANDERS, 2007). Pelo contrário, ora se atribui a autor e obra uma mera reprodução dos sistemas, numa extensão global, de modo a fazer com que todos estejam encobertos por uma rede interconectada de ideologias, e que imporiam um efeito alienante constante (KOKIS, 1967), ora um delírio enigmático, formado por labirintos que em nada se aproximam da ‘realidade’, ou se o fazem é sempre de forma indireta (COSTA, 1983), ora manifestando a experiência traumática do autor, refeita em seus personagens (CALASSO, 2006), ora demonstrando a ‘visão de mundo’ teológica, produto do judaísmo de sua época (MANDELBAUM, 2003), ora criando a figura de um ‘anti-herói’, prisioneiro das organizações estatais e da burocracia, para as quais este não teria saída, muito menos o que poder fazer (NUNES, 1974), ou ainda, produtor de um projeto inconformista, ao mesmo tempo crítico da modernidade e de suas instituições, e insubmisso a elas (LOWY, 2005).
Não sendo indiferente a essas observações, Louis Begley tentou circunstanciar de que modo Kafka elaborou em suas narrativas ‘o mundo prodigioso que tinha na cabeça’. Para isso, o autor reviu a trajetória problemática do romancista com o pai; quais as relações que teria mantido com os judeus e interpretado suas histórias; de que modo viveu seus relacionamentos amorosos; como essa experiência é refeita na obra, produzindo uma nova experiência artística; e por que seus romances fincaram raízes profundas no Ocidente, por justamente conseguir pormenorizar as conseqüências da burocracia, das instituições e dos regimes totalitários, antes mesmo que estes alcançassem seu auge nos anos de 1930 e 1940. Em suas palavras:
O processo, com sua célebre primeira sentença – ‘Alguém certamente havia caluniado Josef K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum’ – e os trâmites movidos contra K. por um sistema judicial secreto, parecem prefigurar tão claramente a vida sob os regimes totalitários no século XX, com suas leis secretas e seu terror de Estado policial, que inevitavelmente os leitores se admiraram do descortino que Kafka teve da história e da política. Poderia esse romance, publicado em 1925 mas escrito entre o outono de 1914 e janeiro de 1915, portanto antes dos eventos seminais dos regimes bolchevique, fascista e nazista, ter sido uma profecia velada? Esse autor apolítico e reservado teria antevisto a chegada de uma catástrofe que ainda era invisível para grandes estadistas? Nada nos diários de Kafka, em sua correspondência ou nas recordações de seus amigos sugere isso. A resposta há de ser que a visão de Kafka, que consistia tão somente nas coisas tais como elas eram, revelou-se misteriosamente congruente com a realidade do futuro próximo. O amplo material que a formou incluiu: a experiência de Kafka como um súdito Habsburgo e, como estagiário no Tribunal de Praga, com a esclerosada mas ainda toda-poderosa burocracia do império e seus procedimentos labirínticos, ‘kafkianos’; o íntimo conhecimento da burocracia e da arcana regulamentação do Instituto de Seguro; o trato com vítimas de acidente de trabalho cujas reivindicações chegavam às suas mãos, e contra às quais ele às vezes era obrigado a litigar; o virulento e onipresente antissemitismo tcheco, que lhe ensinou lições inesquecíveis sobre o significado de ser rejeitado e desprezado por seus vizinhos; e, obviamente, tudo aquilo que ele censurava em seu pai: brutalidade, veleidade e injustiça (p. 213-14).
Para alcançar esses objetivos, Begley toma como base as correspondências, os diários e os textos produzidos pelo autor. Com o intento de analisar como essa documentação foi produzida, como foi sendo articula, que relações estabeleceu com a obra, como exemplifica em:
Depois de mais uma sessão intensa de estudos no ano acadêmico de 1905-6, Kafka passou raspando nos exames de qualificação e em 16 de junho de 1906 recebeu o grau de doutor em direito. Já fizera um estágio não remunerado de dois meses no escritório de um advogado em Praga, e foi então estagiar durante o ano acadêmico de 1906-7 no tribunal de Praga, primeiro na área civil, em seguida na criminal. Esse treinamento era pré-requisito apenas para o ingresso no funcionalismo público da Áustria, e portanto desnecessário no caso de Kafka. No entanto, revelou-se uma dádiva, pois deu-lhe acesso a material que ele aproveitou quando escreveu sobre o tribunal em O processo. Ele adquiriria mais material valioso – a experiência pessoal no funcionamento da burocracia estatal – trabalhando para a empresa que o empregaria por toda a vida, uma seguradora semiestatal, de meados de 1908 até meados de 1922, e o usaria em O castelo e O processo (2010, p. 36).
E:
É bem comum que filhos incompreendidos de pais filisteus deixem a casa paterna, especialmente depois de, como Kafka, obterem um emprego que lhes permita um grau razoável de independência financeira. Escritores pobres demitiram-se de empregos seguros para atender ao chamado da Musa, enfrentando com bravura a penúria e coisas piores. Kafka não era desse feitio. Ele não abriu mão do Instituto de Seguro antes de seu médico declará-lo incapaz para o trabalho. Quando deixou Praga em setembro de 1923 e foi para Berlim, era um homem desesperadamente doente, e mesmo então manteve a ficção de que era apenas uma mudança temporária e de que logo retornaria (p. 51).
A mesma sensibilidade foi dedicada ao examinar como Kafka interpretou as práticas religiosas judaicas, e como elas serviram para que este pudesse pensar seu mundo. Para ele, “Kafka era um mestre da dialética e raramente se punha apenas de um lado em uma argumentação” (p. 80). Mas, o “purismo do alto alemão da prosa de Kafka, a austeridade de sua linguagem e as ocasionais singularidades de sua grafia e uso da língua também são produtos de sua educação praguense” (p. 78).
De igual modo se aplicou a investigar como foram seus relacionamentos e que experiências absorveu deles. Em suas palavras:
Com exceção dos momentos de triunfo nos quais ele escreveu suas melhores obras e, a partir de 1917, dos momentos que marcaram o avanço de sua doença, os eventos que se destacam na vida de Kafka são suas peripécias atrás de mulheres seguidas por frenéticas tentativas de escapar delas. Duas de suas amadas, Felice Bauer e Milena Jensenská, foram imortalizadas em cartas que ele lhes escreveu e quis que fossem destruídas. Outras foram importantes: Dora Diamant, a moça judia polonesa que se amasiou com Kafka no fim do verão de 1923; a pequena Julie Wohryzek, sua noiva durante um breve período que se seguiu ao término definitivo do relacionamento com Felice e se encerrou com a entrada em cena de Milena, em 1920; a jovem cristã por quem ele esteve brevemente enamorado durante uma temporada de duas semanas em um sanatório de Riva no outono de 1913; Hedwig Weiler, jovem estudante de Viena, que ele conheceu em Triesch no verão de 1907; e uma misteriosa e nunca identificada mulher madura que foi paciente no mesmo sanatório em que ele esteve internado em 1905 em Zuckmantel (p. 88).
Ainda demonstra a importância que as correspondências tinham para o autor, principalmente, quando não obtinha resposta de suas cartas, e transparecer uma reação histérica e compulsiva ao escrever outras cartas procurando saber por que as anteriores não haviam sido respondidas. Preocupa-se em deixar claro quais as aproximações e os distanciamentos entre seus relacionamentos amorosos e a sua produção literária, em especial, no momento em que compôs partes de O processo, entre 1914 e 1915. Para ele:
A vida de Kafka comanda tão imperativamente o nosso interesse porque seus textos curtos e novelas estão entre as mais originais e magistrais obras da literatura do século XX. Sem eles, pouco restaria para que nos lembrássemos dele: esse homem reservadíssimo e introvertido teria sido apenas mais um judeu germanófono entre os 146 098 cristãos e judeus falantes do tcheco e do alemão que morreram na Tchecoslováquia em 1924, no mesmo ano que ele (p. 159).
Mas, ao se voltar mais diretamente para a obra, o autor indica: primeiro, de que modo Kafka a pensou e a articulou, em seguida, quais suas principais características e objetivos. No primeiro caso, detêm-se sobre ‘O foguista’, A metamorfose e ‘O veredicto’, indicando que um tema em comum entre esses textos diz respeito a maneira como os filhos, de uma forma ou de outra, além de estarem dependentes dos pais, sendo submissos a suas vontades, também seriam impotentes ao tentarem se rebelar ou procurar mudar o exercício dessas relações de dominação; as quais o autor pensou em até publicá-las em conjunto sob o título de Os filhos. Para o segundo ponto, vale indicar alguns pequenos exemplos. Para ele:
A família Samsa de A metamorfose fica horrorizada e em choque ao ver que Gregor transformou-se num gigantesco inseto, mas nem o pai nem a irmã evidenciam algo parecido com espanto. Na história de Na colônia penal, o explorador acha repugnante o sistema judiciário, mas nunca lhe ocorre indagar se poderia estar no meio de um pesadelo. Em O processo, a truculência de Josef K. segue o ritmo de sua crescente compreensão do bizarro funcionamento dos trâmites jurídicos, mas ele não contesta sua realidade. Em vez disso, diz ao Inspetor que não está ‘de modo algum muito surpreso’ com as estranhas circunstâncias de sua prisão. No mundo de Kafka, a história é o que é: a realidade é como é retratada (p. 178).
O universo argumentativo de Kafka se moveria formando diversos labirintos, em que, quase sempre, ninguém “houve e ninguém responde”, por que os “circundantes, se houver algum, se mostrarão tão indiferentes quanto o explorador de Na colônia penal, e igualmente pouco propensos a ajudar” (p. 202). E:
Semelhante nesse aspecto a ‘O veredicto’, O processo é um romance com um pé na tradição realista do século XIX. Lendo pela primeira vez o primeiro capítulo, poderíamos pensar que estamos entrando em um mundo ficcional aparentado com os de Gogol, Dostoievski e Flaubert. Essa impressão dissipa-se com o prosseguimento da leitura: percebemos que por trás dos cenários e eventos minuciosamente descritos opera uma força que os distorce e cria uma contrarrealidade. No centro da contrarrealidade estão os tribunais especiais, desconhecidos por K., e a constituição e a lei vigentes em seu país. Entretanto, praticamente todos os demais parecem estar a par do segredo: a sra. Grubach e a srta. Bürstner, os três funcionários que trabalham no banco de K., o tio de K. e o industrial, cliente do banco de K., que o encaminha ao pintor Titorelli. Isso sem contar os que são empregados periféricos dos tribunais, como a lavadeira e seu marido, e os que estão envolvidos nos trâmites da justiça: o advogado Huld e sua enfermeira e criada, Leni, e o comerciante Block, que também tem um caso pendente no tribunal. A ingenuidade e ignorância de K. são verdadeiramente espantosas (p. 218-19).
Assim, “cada pessoa está completamente só”, e é “possível que Josef K. descubra essa verdade em seu último instante de consciência, e que o mesmo se dê com outras grandes vítimas da ficção de Kafka”; esse talvez “seja o segredo por trás da anomia do explorador” (p. 241). Em todo caso, para ele:
O castelo é um romance mais rico do que O processo na amplitude da narrativa, no desenvolvimento de personagens secundários cativantes e inesquecíveis (Frieda, Olga, Amália, as duas albergueiras da aldeia, Pepi e Bürgel, entre outros) e nas descrições da aldeia sem nome coberta de neve e dos interiores de estalagens e cabanas de camponeses que fazem lembrar as pinturas de Peter Bruegel. […] No centro do romance há uma busca incansável e inquietante: a de K., um andarilho, um estranho, cuja identidade limitase a uma inicial. Ele deixou uma terra distante de nome não mencionado, à qual talvez não lhe seja possível retornar. Ostensivamente, K. procura assumir o cargo de agrimensor da aldeia, para o qual as autoridades do castelo podem ou não tê-lo contratado. O castelo domina sobranceiro a aldeia aonde K. chegou, e abriga a toda-poderosa administração a serviço de seu senhor, o conde Westwest. Se K. realmente foi contratado pelo castelo, pode ter sido por engano. Entretanto, há uma versão diferente para a busca de K., que ele revela quando o romance está a meio caminho: K. gostaria de ter chegado à aldeia sem ser notado, sem alarde, para poder encontrar um bom trabalho estável como agricultor. Essa questão nunca é esclarecida, e as intenções de K. não se tornam claras. Mesmo o desejo mais modesto, porém, muito provavelmente teria sido negado (p. 229).
Ainda que esta seja a obra de Kafka que menos desafie “a credulidade do leitor”:
Há muitas ligações temáticas entre O processo e O castelo, o complexo, atravancado e comovente belo último romance de Kafka. Os dois protagonistas – Josef K. no primeiro, K. no segundo – lutam em um labirinto que às vezes parece ter sido concebido de propósito para frustrá-los e derrotá-los. Mais frequentemente, o oposto parece valer: não há um propósito; o labirinto simplesmente existe. Josef K. busca justiça, absolvição de um crime que ele desconhece e do qual o acusam. O objetivo de K. é menos certo (p. 228-29).
Portanto, movendo-se pela vida e a obra de Kafka, e pelas circunstâncias que a deram origem, o autor, embora refaça seus caminhos e estabeleça nexos de identificação plausíveis com outras leituras, como a de Hanna Arendt e de Walter Benjamin, não há como negar que, para ele, autor e obra estariam imersos num circulo de submissões ao sistema institucional e burocrático, cerceado por labirintos e efeitos alienadores. Kafka seria apolítico, o que talvez pareça ingênuo, dadas as suas ligações estreitas com o anarquismo, mesmo que não diretamente partidárias (LOWY, 2005). Ainda assim, seus méritos são evidentes. De leitura agradável e envolvente, este livro permite que o leitor sobrevoe e reencontre o ‘mundo prodigioso que’ Kafka tinha ‘na cabeça’.
Referências
ANDERS, G. Kafka: pró & contra. Tradução, posfácio e notas de Modesto Carone. São Paulo: Cosac Naify, 2007 (1ª ed. 1951, e a nacional de 1969).
CALASSO, R. K. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
COSTA, F. M. Franz Kafka – o profeta do espanto. São Paulo: Brasiliense, 1983.
KOKIS, S. Franz Kafka e a expressão da realidade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967.
LOWY, M. Franz Kafka: sonhador insubmisso. São Paulo: Azougue Editorial, 2005 (1ª ed. 2003).
MANDELBAUM, E. Franz Kafka: um judaísmo na ponte do impossível. São Paulo: Perspectiva, 2003.
NUNES, D. Franz Kafka: vida heróica de um anti-herói. Rio de Janeiro: Bloch, 1974.
Diogo da Silva Roriz – Doutorando em História pela UFPR, bolsista do CNPq. Mestre em História pelo programa de pós-graduação da UNESP, Campus de Franca. Professor do departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Campus de Amambai, em afastamento integral para estudos. E-mail: [email protected]
BEGLEY, L. O mundo prodigioso que tenho na cabeça – Franz Kafka: um ensaio biográfico. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: RORIZ, Diogo da Silva. O enigmático mundo de Franz Kafka (1883-1924). Caminhos da História. Montes Claros, v. 15, n. 2, p.143-148, 2010. Acessar publicação original [DR]
A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário – LINEBAUGH; REDIKER (A)
LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Resenha de: GONZÁLEZ, Martín P. Antítese, v. 3, n. 6, jul./dez. 2010.
Si bien tanto Peter Linebaugh como Markus Rediker realizaron otras publicaciones antes y después de La Hidra de la Revolución, 1 nunca lograron alcanzar el reconocimiento que les valió este libro. En la presente reseña crítica nos proponemos, entonces, recuperar las diversas dimensiones que hacen del presente trabajo una innovación dentro de un escenario historiográfico un tanto hostil a los nuevos abordajes y las propuestas analíticas novedosas. Para facilitar la lectura, estructuraremos nuestro análisis en seis apartados diferenciados, para así dar cuenta de la riqueza y los matices que posee el libro. El primero estará centrado en analizar los debates historiográficos, metodológicos y teóricos en los cuales La Hidra se posiciona, buscando así establecer vínculos y relaciones con otros autores. Los siguientes cuatro apartados se centrarán en comentar el libro a partir de su propia estructura, buscando ir más allá de una mera enumeración de capítulos, indagando en las aristas problemáticas que pueda presentar el abordaje de los autores. Finalmente, el último apartado presentará una conclusión crítica. Existe también una publicación en español La Hidra de la Revolución. Marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, publicada por Crítica en Barcelona durante 2005.
Galardonado con el “International Labor History Association Book Prize”, el presente trabajo de Linebaugh y Rediker generó grandes controversias en los círculos académicos, a partir no sólo de su novedosa interpretación de la historia atlántica entre los siglos XVII y XIX, sino también de la forma en que utilizan ciertas categorías de la tradición analítica propia de la historiografía marxista inglesa, estableciendo diálogos con la teoría antropológica y sociológica. Así, si bien el libro está claramente orientado hacia problemáticas analizadas por historiadores de la talla de Rodney Hilton, Edward Palmer Thompson o Christopher Hill2 –como por ejemplo las resistencias campesinas y esclavas, las ideologías radicales de las multitudes sin voz, los conflictos y resistencias en el proceso de trabajo, o la constitución de clases sociales a partir de la experiencia de los sujetos–, podemos notar en el análisis de Linebaugh y Rediker la intención de trascender los límites nacionales –específicamente ingleses– de esos procesos. En este sentido, La Hidra retoma algunas de las hipótesis que guiaron los trabajos tempranos de George Rudé y Eric Hobsbawm,3 quienes buscaron traspasar las barreras de la historia inglesa, analizando ideologías y movimientos populares más allá de los límites geográficos de los Estados nacionales. Nos encontramos entonces con una propuesta temática y un recorte espacial, cronológico y temático más amplio: el espacio del Atlántico, cuyas corrientes y mareas determinaron una serie de experiencias comunes a un proletariado atlántico compuesto de marineros, labradores, criminales, mujeres, radicales religiosos y esclavos africanos, desde el comienzo de la expansión colonial inglesa en el siglo XVII hasta la industrialización metropolitana de inicios del XIX. En este sentido, “los gobernadores recurrieron al mito de Hércules y la hidra para simbolizar la dificultad de imponer orden en unos sistemas laborales cada vez más globales” (p. 16): es precisamente sobre el origen, características, accionar y devenir de las múltiples cabezas de esa hidra, que está centrado el análisis de Linebaugh y Rediker. Entonces, en lugar de centrarse en analizar la constitución de una clase obrera industrial, las características de los piratas, el tráfico esclavista o las ideologías religiosas radicales como elementos independientes, los autores buscan rescatar –a partir de una mirada “desde abajo”- esta multiplicidad de experiencias de opresión, violencia y dominación en función de un abordaje holístico que recupere las conexiones existentes entre estos fenómenos aparentemente dispersos. Así, si bien estos conflictos tendrán diversos escenarios (principalmente los terrenos comunales, la plantación, el barco y la fábrica), el eje de análisis pasa por las relaciones, los quiebres, y las continuidades entre esta diversidad de espacios. Como los procedimientos de análisis de los autores presentan variaciones de capítulo en capítulo, consideramos oportuno abordar a continuación una descripción de los mismos, en función del recorte temático-temporal que realizan, estructurado en cuatro momentos en el desarrollo de este conflicto entre la globalización capitalista hercúlea y las resistencias planteadas por esa compleja hidra policéfala. Los dos primeros capítulos del libro se ocupan de la primera fase de este proceso de dominación hercúleo, que ocurre en los años de 1600 a 1640, signado por el crecimiento y desarrollo del capitalismo comercial inglés y la colonización del espacio atlántico. Estos años de expropiación serían fundamentales, entonces, para la conformación de una estructura económica de exclusión y transformación de las relaciones sociales existentes hasta el momento. El primer capítulo, “El naufragio del Sea-Venture”, sienta las bases de la metodología analítica de los autores. La misma parte de reconstruir casos concretos –como en este caso, el del naufragio de un barco inglés– para indagar en cuestiones estructurales de la época. Así, a partir de este suceso, se abordan cuestiones esenciales del naciente capitalismo atlántico de principios del siglo XVII: la expropiación –mediante la reconstrucción del contexto de competencia imperialista y desarrollo capitalista del cuál la Virginia Company fue uno de sus motores esenciales, a partir de las estrategias de colonización de tierras americanas trasladando poblaciones campesinas–, la lucha por crear modos de vida alternativos a esa expropiación –retomando así la tradición de uso de terrenos comunales, que llegó al territorio americano de la mano de los marineros–, las formas de cooperación y resistencia –fundamentalmente entre los mismos marineros, que, ante los peligros de altamar, iban más allá de sus condiciones de artesanos, proscriptos, campesinos pauperizados, o peones, uniéndose en pos de lograr objetivos comunes– y la imposición de una disciplina clasista –a partir de la respuesta que los funcionarios de la Virginia Company tuvieron frente a esas resistencias, imponiendo el terror de la horca y una disciplina laboral estricta. Este primer capítulo es también representativo en términos de los procedimientos de análisis que los autores realizan de los documentos. En este punto podemos observar un claro interés por hacer dialogar la teoría marxista – especialmente La ideología alemana y el capítulo veinticuatro (sobre la acumulación originaria) de El Capital de Marx–, con la historiografía inglesa – si bien el interlocutor privilegiado lo constituye el marxismo británico de Hill y Thompson, también se cuestionan otras interpretaciones, como podría ser la Hugh Trevor Ropper– y un extenso y detallado corpus documental del período, compuesto principalmente por relatos de viajes, documentos administrativos de la Virginia Company y obras literarias como La Tempestad de Shakespeare. Así, en el segundo capítulo, “Leñadores y aguadores”, los autores retoman los argumentos de algunos de los principales intelectuales de la primer parte del siglo XVII inglés, como Francis Bacon o Walter Raleigh, y cómo caracterizaban a los enemigos de ese Hércules explorador, colonizador y comerciante, a partir de la monstruosidad de esas multitudes variopintas. Centrándose entonces en los leñadores y aguadores, que desempeñaron funciones esenciales para el avance de este proceso globalizante –a saber, realizaron las tareas de expropiación mediante la tala de bosques y destrucción del hábitat de los terrenos comunales, construían los puertos y barcos, y desarrollaban las actividades domésticas cotidianas–, los autores reconstruyen el proceso de constitución de la “infraestructura” necesaria para la expansión del capitalismo comercial, así como la consolidación de un aparato represivo orientado a controlar estas poblaciones: el terror, la prisión, los correccionales, la horca, las campañas militares y los trabajos forzados en ultramar. Sin embargo, a partir de los vínculos de solidaridad y resistencia, estos grupos de “leñadores y aguadores” comenzaron a formar iglesias, regimientos politizados al interior del ejército y comunas rurales y urbanas. “La hidra, formada por marineros, obreros, aguadores, aprendices, es decir, las clases humildes y más bajas –o, por decirlo de otra manera, el proletariado urbano revolucionario– estaba emprendiendo acciones de un modo independiente” (p. 87). Estas cuestiones constituyen el transfondo de la segunda fase de este proceso. Los siguientes dos capítulos están centrados en la segunda fase de este proceso, que iría de 1640 a 1680, y que estaría signada por los levantamientos de esas múltiples cabezas de la hidra, mediante la revolución en la metrópolis y los levantamientos en las colonias. El interlocutor privilegiado de estos capítulos es Christopher Hill, ya que el contenido de los mismos está orientado hacia los mismos problemas y tópicos teóricos tratados por él, aunque con ciertas variaciones que enriquecen el análisis. El tercer capítulo, “Una ‘morita negra’ llamada Francis” constituye acaso la forma más acabada de aplicación de la metodología de estos autores. Como decíamos más arriba, Linebaugh y Rediker parten de casos concretos para reflexionar sobre la totalidad de un proceso, explotando los documentos al máximo e indagando en las condiciones estructurales a partir de coyunturas específicas. Pues bien, en este caso los autores analizan un único documento, un informe de Edward Terrill, dirigente eclesiástico de la Iglesia de Broadmead, en Bristol, sobre “una criada morita y negra llamada Francis”. Lo interesante es cómo, a partir de esta somera descripción de una carilla, los autores analizan la confluencia entre dinámicas sociales como la raza, la clase y el género en el contexto de la revolución puritana inglesa. Así, la reconstrucción de la posible trayectoria de Francis, lejos de centrarse en un abordaje biográfico, da cuenta de las diversas problemáticas del período. “La bifurcación de los debates de Putney”, el cuarto capítulo, está centrado específicamente en las ramificaciones que dichas polémicas tuvieron. Durante el otoño de 1647 tuvieron lugar, en el pequeño pueblo de Putney, una serie de debates de radical importancia para el futuro de Inglaterra –y del capitalismo.
Notas
1 Entre los numerosos trabajos realizados pos los autores, vale la pena resaltar: Marcus Rediker. Between the devil and the deep blue sea: merchant seamen, pirates, and the AngloAmerican maritime world, 1670-1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Peter Linebaugh. The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth-Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; y Douglas Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, Edward P. Thompson y Cal (eds.) Albion’s Fatal Tree. Crime and Society in Eighteenth-Century England. London: Penguin Books, 1988. Martín P. González Peter Linebaugh e Marcus Rediker.
2 Entre la numerosísima bibliografía de estos autores, resaltamos: Christopher Hill. Antichrist in Seventeenth-century England. Londres: Verso, 1990; El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII. Madrid: Siglo XXI España, 1983; y Los orígenes intelectuales de la revolución inglesa, Crítica, Madrid, 1996; de Edgard P. Thompson. Costumbres en común. Barcelona: Crítica, 1984 y Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios de la crisis de la sociedad industrial. Barcelona: Crítica, 1984; y Rodney Hilton. (ed.) La transición del feudalismo al capitalismo. Barcelona: Crítica, 1982; y Hilton, Rodney. Siervos liberados. Madrid: Siglo XXI, 1978.
3 Hacemos referencia, principalmente, a trabajos como: George Rudé. La multitud en la historia. Madrid: Siglo XXI, 1971; y Eric Hobsbawm. Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Madrid: Siglo XXI, 1978; y Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Madrid: Crítica, 2001.
Martín P. González – Professor da Universidad de Buenos Aires (UBA) / Argentina.
Cada um na sua lei: tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico – SCHWARTZ (Tempo)
SCHWARTZ, Stuart B. Cada um na sua lei: tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. Resenha de: SOUZA, Jorge Victor de Araújo. “Menocchios Atlânticos”. Tempo v.15 no.29 Niterói jul./dez. 2010.
O dicionarista Raphael Bluteau, no início do século XVIII, definiu “tolerância” como: paciência, certa permissividade e conveniência. Uma dessas acepções, pelo menos, encontrava-se presente nos atos de diversas personagens elencadas pelo historiador Stuart B. Schwartz no resultado de sua busca pela tolerância religiosa no mundo atlântico Ibérico.
Stuart Schwartz, professor titular de história na Universidade de Yale, na década de oitenta expôs os “segredos internos” da produção açucareira no recôncavo baiano dos séculos XVI ao XVIII. Desta vez, sua lide enquadra-se em uma história sociocultural preocupada com as incongruências entre sistemas normativos ortodoxos, práticas religiosas diversas e discursos ambíguos. O caso do moleiro Menocchio, estudado por Carlo Ginzburg, foi o estopim do interesse pelo tema, como o próprio autor admite. Entre indivíduos de diversos estratos sociais, vassalos das coroas mais intransigentes em aspectos religiosos, Schwartz encontrou proposições cuja tópica era, com algumas variantes, que “cada um pode se salvar na sua lei”.
O livro é dividido em três seções. Na primeira, “Dúvidas ibéricas”, Schwartz mapeia, em quatro capítulos, diversas discordâncias religiosas e um determinado “relativismo religioso” presente no Velho Mundo, notadamente na Espanha. A segunda parte, “Liberdades americanas”, é constituída por três capítulos que tentam englobar a possibilidade de “tolerância” nos trópicos. O destaque fica por conta das análises sobre circularidade de livros e de ideias. A terceira parte, “Rumo ao tolerantismo”, com dois capítulos, ocupa-se da imbricação entre Estado e Igreja. Apontando que ao longo da modernidade o Estado foi se laicizando, Schwartz analisa a penetração de ideias iluministas na Península Ibérica, culminando em legislações que garantiram, mesmo que minimamente, a “liberdade de consciência” no alvorecer do século XIX.
A partir da documentação, principalmente inquisitorial, são analisados múltiplos discursos em torno de crenças salvíficas, nos quais são destacadas as vozes dissonantes que, em assuntos como a sexualidade, ousaram ir de encontro às normas da ortodoxia religiosa. Vozes como a de Pedro Navarro de Granada que afirmava que “ter acesso carnal um homem com uma mulher não era pecado mortal e bastava ser venial, porque os homens devem ir com as mulheres e as mulheres com os homens” (p. 55). De acordo com Schwartz, as declarações sobre fornicação simples constituem uma chave interpretativa – pode-se, através delas, acessar uma racionalidade prática, que expunha opiniões sobre atitudes da vida privada, a despeito das determinações teológicas sobre o tema.
Se a fornicação simples, pelo menos no século XVI, era tema recorrente entre o povo comum, a possibilidade de salvação fora da Igreja era muito menos propalada. Todavia, Schwartz encontra opiniões que colocam em xeque o senso comum sobre o período, como a de um mourisco na Espanha que, com boa dose de ironia, ousou: “Deus não fez bem seu serviço fazendo uns mouros, outros judeus e outros cristãos” (p. 62). Ao final do primeiro capítulo, Schwartz chama a atenção para a crença da unidade religiosa como condição sine qua non para a paz interna de um território, assertiva presente em obras como a do teórico político Diego Saavedra Fajardo. Nesse sentido, os que pensavam em uma chave religiosa relativista eram vistos como perigosos, pois colocariam em risco a própria unidade sociopolítica do Império.
Além dos católicos, Schwartz analisa os conversos e os mouriscos, recordando que na Península Ibérica, durante a Idade Média, as três grandes religiões monoteístas – islamismo, cristianismo e judaísmo – conviveram em diversas ocasiões. Eram, então, comuns as referências às três leis – a de Maomé, a de Cristo e a de Moisés. Aos poucos, a lei de Cristo foi se sobrepondo às demais, chegando ao ponto da tolerância não ser tão possível assim. Porém, nem todos os vassalos davam importância às questões espirituais. Isto, segundo o autor, é um “alerta contra as tendências de se enxergar o mundo no início da modernidade apenas em termos de religião e salvação” (p. 113).
São apresentadas possibilidades de atitudes tolerantes, mesmo entre os grupos mais insuspeitos, como os clérigos. Também é destacada a descrença como atitude possível, relativizando a famosa tese de Lucien Febvre em O problema da incredulidade no século XVI. Ao final de um capítulo, Schwartz teoriza que “o caminho da crença de cada um parece ter sido determinado mais por decisões e convicções individuais do que por características sociais” (p. 146). Um dos muitos aspectos discutíveis na obra.
“Portugal: cristãos-velhos e cristãos-novos”, capítulo aberto com uma frase que, como toda boa epígrafe, sintetiza perspicazmente as questões que serão desenvolvidas: “Se Deus não queria que os cristãos-novos fossem cristãos, por que haviam os senhores inquisidores de querer fazer os ditos cristãos-novos por força?” (p. 147). Trata-se de questão proferida em Évora, no ano de 1623, por um tal Domingos Gomes. Para a sociedade portuguesa, de acordo com o autor, os cristãos-novos constituíam um problema no que dizia respeito às dúvidas sobre a ortodoxia das práticas católicas. Todavia, mesmo em uma sociedade com estas características, era possível o surgimento de religiosos católicos que discordavam da opinião geral da Igreja. Foi o caso do insigne jesuíta Antônio Vieira, mesmo que motivado por certo pragmatismo econômico.
O Brasil é alvo do sétimo capítulo, onde a questão crucial é a possibilidade de salvação em uma “sociedade escravocrata”. São apresentados os agentes basilares das reformas tridentinas, os padres da Companhia de Jesus, cujas atuações já são bem conhecidas pelos historiadores. Schwartz aponta as desavenças entre jesuítas e outros letrados que insistiam em fazer leituras sui generis de diversas obras. Deparamos, então, com o caso do florentino Rafael Olivi, morador da Fazenda São João, em Ilhéus, e dono de muitos livros. Suspeito de heresia, Olivi foi preso em 1584, por ter feito severas críticas ao Papa e ao alto clero. Segundo Schwartz, o caso do florentino serve para demonstrar que “nem mesmo os remotos confins da colônia estavam fora do alcance de ideias alternativas” (p. 278).
O livro de Stuart Schwartz, traçando um amplo panorama que encobre áreas tão vastas – do Caribe a Cádiz e do Maranhão à região do Porto, por exemplo – traz grande contributo aos estudos sobre religiosidades e relações sociais no mundo atlântico, servindo de contraponto aos inúmeros exemplos de intolerância religiosa que abundam a documentação inquisitorial. Em tempos de intolerâncias explícitas e falsas tolerâncias, esta obra não poderia ser mais oportuna.
Jorge Victor de Araújo Souza – Doutorando em História na Universidade Federal Fluminense.
O Jogo da Dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil – ALBUQUERQUE (Tempo)
ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O Jogo da Dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 2009, 319 p. Resenha de: GOMES, Tiago de Melo. Dissimulação e outros jogos. Tempo v.15 no.29 Niterói jul./dez. 2010.
“‘Saber o seu lugar’ é uma dessas expressões capazes de traduzir regras de sociabilidades hierarquizadas que, sendo referendadas ou contestadas, atualizam-se cotidianamente. É construindo e conhecendo tais ‘lugares’ que as pessoas estabelecem relações, reconhecem formas de pertencimento e estruturam disputas próprias ao jogo social. Mas quais seriam os sentidos imprimidos a essa expressão no contexto das mudanças políticas e sociais das últimas décadas do século XIX? Em que medida a desarticulação da escravidão fundamentava as leituras que os contemporâneos faziam dos diferentes lugares naquela sociedade?” (p. 33).
Essa é a maneira pela qual Wlamyra R. de Albuquerque define a problemática de seu livro em sua introdução. O tema central de O Jogo da Dissimulação é uma interrogação a respeito da reorganização das hierarquias sociais com o fim da escravidão, um dos pilares centrais de todo um sistema de dominação que dava sentido àquela sociedade. Sendo esse alicerce removido, como os senhores poderiam manter suas políticas de domínio? E como os dominados poderiam buscar uma nova inserção em um mundo sem a presença da escravidão? Sobre tais questões, Albuquerque constrói seu O Jogo da Dissimulação.
O livro possui, dessa maneira, uma ancoragem muito sólida na história social, algo que é mantido com coerência pelos quatro capítulos do livro. Os quais, por sinal, a despeito de interligados, podem ser lidos em separado sem maiores prejuízos para o leitor. Mas o livro não carece de unidade: a problemática enunciada na citação acima é perseguida da primeira à última página, de modo que o que se tem não é uma coleção de artigos, mas um livro com início, meio e fim.
Segundo a autora, o primeiro capítulo seria centrado “nas dissensões flagrantes nos meetings e ações dos abolicionistas, diante das atitudes da população de cor” (p. 39). No entanto, não é uma definição particularmente feliz. Os abolicionistas só entram em cena com o capítulo bem adiantado, na terceira (e última) parte. Através deles, a autora nos mostra que para Salvador valia algo que outros autores já haviam demonstrado para Rio de Janeiro e São Paulo: abolicionismo não é incompatível com racismo. E naquele contexto não era raro as duas coisas andarem juntas, pois muito do abolicionismo de elite era fundado exatamente no desejo de se livrar dos negros para substituí-los por imigrantes brancos.1 Albuquerque nos mostra isso com competência, o que, embora não seja propriamente original, nunca deixa de ser relevante, principalmente com a exaltação que muitos ainda se ocupam de fazer a figuras como Joaquim Nabuco2.
Mas o que efetivamente vale a leitura do capítulo são suas primeiras duas partes. A partir da chegada de dezesseis africanos em 1877, com intenção de se estabelecer em Salvador como comerciantes, a autora nos conduz por uma história incrível. Embora livres e portadores de passaportes ingleses, o grupo é proibido de se estabelecer e mandado de volta para a África. Um episódio que gerou um pequeno choque diplomático com os ingleses e envolveu o chefe de polícia da cidade, o governador da província, chegando à alta instância do Conselho de Estado. Mais admirável é que Albuquerque nos mostra não ter se tratado de fenômeno isolado. Pode ser mais bem definido como parte de um esforço consciente do Estado brasileiro de impedir a entrada de imigrantes de cor sem que houvesse a necessidade de recorrer a uma legislação específica. Ao mostrar outros casos com a mesma problemática e o mesmo final, Albuquerque deixa claro que o Estado brasileiro lutou em várias frentes pelo embranquecimento da nação. Não apenas se esforçou para trazer imigrantes que clareassem o Brasil, mas deliberadamente impediu africanos e afrodescendentes de outras nacionalidades de entrar no país.
O que é uma importante contribuição para inserir de forma mais consistente o papel do Estado brasileiro na promoção da desigualdade racial. A ausência de legislação discriminatória tem feito com que historiadores não deem ao Estado um papel de destaque nesse processo.3 Estudos sobre ações semelhantes em outros contextos, aliados ao trabalho de Albuquerque, fornecem elementos impossíveis de serem ignorados, que apontam claramente nessa direção.4
O segundo capítulo, centrado no contexto imediatamente anterior e posterior ao 13 de maio, é um dos pontos altos do livro. Albuquerque nos conduz por um intenso jogo de reconstrução de sentidos causado pela remoção de um dos pilares sobre o qual se construía a sociedade brasileira até então. Sem a escravidão, os senhores percebiam a derrocada de toda uma política de domínio longamente estabelecida, e o medo do caos social se disseminava (para não mencionar as consequências econômicas, em especial para uma província já decadente). Do lado dos subalternos, a excitação ante a possibilidade da reconstrução de todo um contexto social em termos que lhes fossem mais favoráveis.
Em meio às festividades e desafios políticos que os dominados promoviam, ou a tentativas desesperadas e eventualmente patéticas de manter a antiga ordem social por parte dos dominantes, Albuquerque nos introduz a repensar algo há muito consagrado sobre aquele período. Há uma tendência a pensar na década de 1880 como uma desagregação definitiva da escravidão, e no 13 de maio como apenas o último ato de uma situação praticamente já consolidada. Mergulhando em bairros negros de Salvador, em engenhos do recôncavo e em vilas afastadas no interior, Albuquerque nos lembra com muita intensidade o quanto a escravidão ainda era naquele momento a peça-chave de todo um sistema de dominação que era intensamente presente no cotidiano daquela sociedade.
Já o terceiro capítulo tem um brilho menor. Contém uma ideia muito interessante, e que em certos momentos consegue fascinar o leitor: a de que a racialização da visão de mundo do universo dominante de fins do século XIX não se deve apenas à influência do ideário racista europeu, mas também deve ser vista como uma tentativa de reorganização das hierarquias a partir do declínio da escravidão. Uma ideia das mais interessantes, mas que às vezes é soterrada no capítulo por discussões menos originais. Pintar republicanos como essencialmente brancos bem educados de classe média e alta, em contraposição a uma paixão popular (e sobretudo negra) pela monarquia, por exemplo, é algo que hoje já se transformou em lugar-comum. Muitas páginas são dedicadas a essa questão, sem trazer ganhos palpáveis a uma discussão que, se perseguida de forma mais sistemática por todo o capítulo, poderia ter resultado em uma discussão do mais alto interesse.
Já o quarto e último capítulo muda o rumo da discussão, se embrenhando em uma discussão aberta há muitos anos por Beatriz Góis Dantas,5 mas que poucos tentaram prosseguir. Trata-se da imagem da Bahia como capital afro-brasileira, ideia em grande parte referendada em uma determinada africanidade (a jeje-nagô), que nessa visão seria mais “pura” ou até mesmo “superior” às outras áfricas que aportaram em território nacional.
Se Albuquerque segue o trabalho de Dantas ao se ocupar da visão de atores como Nina Rodrigues, Manoel Querino, Édson Carneiro e Artur Ramos (fundadores e difusores daquela imagem), inova ao acrescentar um dado novo: os próprios africanos e afro-brasileiros que viveram aqueles anos. No capítulo, podemos ver os portadores daquela cultura afro-brasileira que foi alvo de tantos escritos representando a si próprios e a própria África. Aprendemos que não era apenas na faculdade de medicina de Salvador ou nas publicações de literatos que o tema estava na ordem do dia. Blocos carnavalescos, terreiros, batuques, bancas de jogo do bicho, qualquer espaço parecia bom naquele momento para pensar a relação entre África e Bahia.
E o mínimo que se pode dizer a partir da leitura do capítulo é que naquele contexto havia uma multiplicidade de representações disponíveis sobre o continente africano, que não aparecia apenas como espaço da barbárie. Havia outros elementos a ele associados, tais como resistências ao imperialismo europeu. Disso resulta que era evidente o conflito de significados associados àquele continente, com evidentes implicações político-raciais. Áfricas diferentes também significavam diferentes percepções sobre o lugar de seus descendentes em território brasileiro.
O último capítulo de O Jogo da Dissimulação é um convite para que o tema da construção de uma determinada leitura da capital baiana seja mais problematizado por historiadores. O capítulo não é propriamente conclusivo, trazendo mais perguntas do que respostas. De toda forma, desperta a curiosidade do leitor para o tema sobre o qual se debruça, o que é sem dúvidas um mérito dos mais relevantes.
Um pequeno reparo que deve ainda ser feito em uma leitura global do livro se refere ao título. Que poderia ser ótimo, se fosse adequado ao seu conteúdo. Mas a verdade é que não temos em mãos um livro sobre dissimulação. O termo só aparece no primeiro capítulo, para descrever as tentativas do Estado brasileiro de barrar a entrada de africanos e afrodescendentes no país, sem recorrer a uma racialização explícita. No mais, o que temos são confrontos, projetos, choques de visão de mundo, mas nunca dissimulação.
O Jogo da Dissimulação, ao fim, mostra-se um livro instigante, que deixa no leitor uma vontade de saber mais sobre o assunto. É de esperar que sua publicação contribua para que as questões discutidas possam avançar. São temas muito importantes e nem sempre tratados como deveriam pela historiografia brasileira.
Gostaria de encerrar com uma questão de caráter mais geral que o livro levanta: o papel da escravidão na trajetória posterior dos afro-brasileiros. Albuquerque nos lembra de algo muito importante: o destino dos afro-brasileiros após 1888 poderia ter sido muito diferente. A escravidão não pode ser vista, portanto, como uma origem que explica toda uma trajetória posterior de desigualdades raciais. Vemos claramente no livro como o encaminhamento da “questão servil”, desde o momento em que a abolição afigurou-se como inevitável, foi conduzido de forma a produzir desigualdades em um mundo sem escravidão. Vemos os grupos dominantes buscando na racialização uma maneira de reorganizar as hierarquias de forma a manter a existência de senhores, mesmo em um mundo sem escravos. Em um momento em que essa questão está na ordem do dia, Albuquerque nos lembra com muita propriedade o quanto essas diferenças e hierarquias se reconstroem permanentemente. Somos todos atores desta história.
1 O trabalho seminal sobre o assunto é Célia Maria Marinho de Azevedo, Onda Negra, Medo Branco: o negro no imaginário das elites – século XIX, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
2 Novamente é preciso lembrar o trabalho de Célia Azevedo, em textos como “Quem Precisa de São Nabuco?”, Estudos Afro-Asiáticos, vol. 23, nº 1, Rio de Janeiro, 2001, p. 85-97.
3 Uma exceção importante é o trabalho de Anthony Marx, em obras como “A Construção da Raça e o Estado-Nação”, Estudos Afro-Asiáticos, nº 29, Rio de Janeiro, 1996, p. 9-36 e Making Race and Nation: a comparison of the United States, South Africa and Brazil, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1998.
4 Episódios semelhantes foram documentados na década de 1920, ver Teresa Meade e Gregory Alonso Pirio, “In Search of the Afro-American ‘Eldorado’: attempts by North American blacks to enter Brazil in the 1920s“, Luso-Brazilian Review, vol. 25, nº 1, Madison, 1988, p. 85-110; Tiago de Melo Gomes, “Problemas no Paraíso: a democracia racial brasileira frente à imigração afro-americana (1921)”, Estudos Afro-Asiáticos, vol. 22, nº 2, Rio de Janeiro, 2003, p. 307-331; Jair de Souza Ramos, “Dos Males Que Vêm Com o Sangue: as representações raciais e a categoria do imigrante indesejável nas concepções sobre imigração da década de 1920”, in: Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade, Rio de Janeiro, Fiocruz-CCBB, 1996, p. 59-82.
5 Beatriz Góis Dantas, Vovó Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil, Rio de Janeiro, Graal, 1988.
Tiago de Melo Gomes – Professor Adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: [email protected].
Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela Inquisição / Ronaldo Vainfas
A chamada microstoria – versão italiana onde nascera este movimento nos anos 1970-80 – já deitou suas raízes no Brasil, definitivamente. Seus defensores, em distintas partes do mundo acadêmico ocidental, nos principais centros científicos de produção em História e nas Ciências Sociais deixaram delineadas as linhas-mestras da arrojada perspectiva da mudança de escala nas análises sociais e da rejeição aos aportes macroanalíticos que se pretendiam unívocos e inflexíveis; enfim, mesmo que de forma variada, a micro-história e seus defensores “se esforçam para dar à experiência dos atores sociais (o ‘cotidiano’ dos historiadores alemães, o ‘vivido’ de seus homólogos italianos) uma significação e uma importância frente ao jogo das estruturas e à eficácia dos processos sociais maciços, anônimos, inconscientes” [2]; que, por muito tempo, pareciam ser os únicos a chamar a atenção dos pesquisadores.
É no âmago dessa discussão, no Brasil, que o trabalho de Ronaldo Vainfas – professor titular do departamento de História da Universidade Federal Fluminense – com o sugestivo título “Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela Inquisição” deve ser apreciado. Aliás, este autor já havia deixado claro, em momentos anteriores, a sua simpatia e abertura teórico-metodológica para o microssocial [3].
Traição desvenda a história de uma biografia nada comum, mas nem por isso inverossímil em um império lusófono de um território entrecortado por mares e oceanos e ainda em processo definitivo de integração sob o governo de um único rei pós- Restauração portuguesa (1580-1640). O protagonista desta história é Manoel de Moraes, mameluco nascido em São Paulo de Piratininga, filho de um outro mameluco “destro na arte da canoagem” e irmão de bandeirantes apresadores de índios. Teria pelo ambiente onde nascera o destino de seus parentes, se não fosse a outra faceta do mundo colonial brasílico a lhe arrebatar desde criança: a religiosidade católica. Com isso, fez votos solenes no Colégio da Bahia, tornando-se jesuíta professo de três votos, em 1623.
Por pouco não convivera com o mais ilustre filho do colégio jesuítico baiano, padre Antônio Vieira.
O livro, diga-se de passagem, sem introdução, é desenvolvido ao longo de quarenta capítulos com títulos bem sugestivos e que parece indicar de forma clara a intenção do autor em demonstrar a fluidez e a dinâmica das identidades: “Mameluco de São Paulo” (cap. 2); “Jesuíta na Bahia” (cap. 3); “Missionário em Pernambuco” (cap 4); “Capitão do gentio” (cap. 6); “Soberba do padre” (cap. 8); “A traição do jesuíta” (cap. 10); “O fantasma de Manoel” (cap. 13); “A vanglória do traidor” (cap. 14); “A serviço da WIC” (cap. 15); “Licenciado em Leiden” (cap. 16); “Paixões flamengas” (cap. 18); “Manoel calvinista” (cap. 19); “De volta a Pernambuco” (cap. 26); “Manoel brasileiro” (cap. 27); “Regresso ao catolicismo” (cap. 29); “Capelão da guerra divina” (cap. 30); “Manoel delator” (cap. 32); “Manoel pertinaz” (cap. 35); “Manoel valentão” (cap. 39); “Réquiem para Manoel” (cap. 40).
Mas, o que parecia ser o início de uma vida ascética trabalhando entre os índios como missionário e “língua” – ofício de tradutor que, sem dúvida, era uma das heranças de sua família mameluca – logo se mostrou apenas o princípio de uma vida conturbada; pois ela fora vivida dilacerada entre o desejo de acumular riquezas através de mercês régias e a ortodoxia de sua religião que simplesmente não deixava espaços para qualquer tipo de heresia.
Ainda jesuíta em Pernambuco, Manoel de Moraes foi um dos missionários da Companhia de Jesus que logo aceitara a convocação do governador, Matias de Albuquerque, para a defesa das capitanias do Norte contra o iminente ataque holandês.
Os cronistas da guerra o chamavam “capitão de emboscada”, liderando até mesmo as forças indígenas de Antônio Felipe Camarão – seu antigo neófito na aldeia de Meritibi – no Arraial do Bom Jesus, um dos baluartes da resistência após a derrocada do Recife, em 1630. Mas o padre guerreiro, “capitão do gentio” (cap. 6), nunca poderia ter sido um capitão oficial de guerra, pois era então jesuíta, deixando perplexos e enciumados pela sua ação os outros oficiais militares da restauração pernambucana, entre eles, o conhecido personagem dos pesquisadores da história cearense, Martim Soares Moreno, também ele comandante de forças potiguaras.
Ronaldo Vainfas descortina, a meu ver, um dos aspectos da guerra pernambucana ainda pouco discutido na historiografia: as rivalidades entre os oficiais (cap. 7 e 8). Da relação entre o capitão jesuíta e o capitão por ofício, “não seria absurdo dizer, sobre Manoel e Martim, que um era o espelho do outro” (p. 52). Entretanto, Soares Moreno era por ofício o capitão do jesuíta comandante de índios, sendo que aquele “tornar-se-ia, na verdade, inimigo figadal de Manoel de Moraes. O pior de todos” (p. 53). Com a conquista da Paraíba, em 1634, Manoel de Moraes se entregara as forças holandesas, sendo acusado por traição pelos oficiais militares luso-portugueses; em sua defesa no Tribunal do Santo Ofício, as rivalidades ganharam uma nova ressonância, ao afirmar ele que Martim Soares Moreno o havia abandonado à própria sorte em uma das mais importantes batalhas na Paraíba: “Martim Soares não tolerava o jesuíta metido a capitão” (cap. 9, p. 67).
A conquista da Paraíba, como diz o autor, trouxera uma inflexão não apenas quanto à dominação holandesa no andamento dos recontros, mas também na vida de muitos, entre eles, o jesuíta comandante de índios. Manoel de Moraes de prisioneiro de guerra, logo passou a informante precioso, nomeando todas as aldeias de índios e suas respectivas lideranças, uma das mais relevantes informações naquele contexto de batalhas. Mas não apenas isso. Em Recife, chegou mesmo a lutar ao lado dos holandeses contra os filhos da terra, vestido como “flamengo” em “traje de gente militar”, portando um “vistoso uniforme escarlate dos soldados holandeses”. Na mudança dos trajes – o que não era pouca coisa naquele mundo instavelmente perigoso – a partir de então o ex-jesuíta havia mudado mesmo de identidade: “Garboso e cheio de si, Manoel não trazia mais a tonsura que sempre tinha usado, mesmo quando lutava contra os holandeses na defesa da capitania, senão cabelo comprido e barba crescida” (cap. 10, p. 75).
Ao renegar a tonsura sacerdotal – marca característica dos inacianos – e vestir os trajes do vencedor, Manoel de Moraes aumentou a fúria que já lhe era devida pelos militares e religiosos. Para os primeiros, ele era mais um traidor à sombra de Calabar, “patriarca dos traidores” (cap.11), para os últimos, todavia, um herege que merecia a fogueira expiatória. A bem da verdade, nem um nem outro o deixaria em paz por essa afronta pública naquele mundo brasílico.
Ainda em 1635, o provincial da Companhia de Jesus, padre Domingos Coelho toma as providências para a expulsão de Moraes que, à época, mesmo antes de passar ao lado dos holandeses, diziam alguns, “já andava de chamego com as índias”. Acusado de fornicação, apostasia, heresia, e ainda por cima, de traidor dos portugueses, em junho deste ano, Manoel de Moraes fora avisado de sua expulsão dos quadros da Companhia de Jesus. A essa altura, contudo, o destino lhe traçara uma nova vida e, porque não dizer, uma nova identidade: no mesmo mês de 1635, Manoel de Moraes estava na Holanda, vivendo como consultor da Companhia das Índias Ocidentais (WIC).
Nos oito anos em que vivera nos Países Baixos calvinistas, entre 1635 e 1643, o ex-jesuíta casou duas vezes, contraindo as segundas núpcias à moda de Calvino após enviuvar-se. Protegido do humanista Joannes de Laet – renomado intelectual e diretor da WIC – a quem auxiliava em seus escritos sobre o Brasil, conseguiu entrar na prestigiada Universidade de Leiden e obter o grau de Licenciado em Teologia (cap. 16).
Dentre as suas produções, a mais importante foi um “plano para o bom governo dos índios”, documento desconhecido, mas citado em uma carta dos Dezenove Senhores ao Conselho Político do Recife, em 1635. Nela se previa o reconhecimento das lideranças indígenas leais e o reforço do trabalho dos missionários calvinistas e, como atentou o autor, tratava-se de “um modelo de catequese calvinista com metodologia inaciana” (p.121).
O Manoel ex-jesuíta não esquecera, como nunca esqueceria ao longo da vida, sua vinculação católica. A repercussão dessa maneira holandesa de governar com os índios pode ser constatada na troca de correspondência entre Pedro Poti e Felipe Camarão, índios potiguaras que defendiam lados distintos na guerra, já bem conhecida dos pesquisadores do Brasil colonial (cap.7 – Imbróglio indígena).
Mas o lado brasileiro de Manoel de Moraes não o deixava sossegado, sua ânsia era voltar ao Brasil. Contraiu um empréstimo com a WIC e voltou a Pernambuco, em 1643, onde se tornou um explorador de pau-brasil. Juntou cabedal e logo se tornou senhor escravista, auxiliado por uma feitora: a negra Beatriz. Logo, a luxúria do exjesuíta, aliás, esse era seu único pecado como sustentará por algum tempo no Tribunal da Inquisição, novamente era aflorada e Beatriz passa a ser sua amante. Vainfas, mais uma vez, sintetiza em poucas linhas os meandros da vida de seu biografado: “Manoel tornou-se um senhor de escravos como tantos outros, tinha escrava em casa, sua mulher estava na Holanda, e de padre ele já não tinha nem o hábito” (p. 233).
Em Recife, o ex-jesuíta e então ex-calvinista passa a freqüentar as igrejas e capelas; afinal, seu passado era católico e mesmo sob a pecha de traidor lhe era movido um sentimento de se reconciliar com a Igreja, quem sabe defender-se no próprio Tribunal do Santo Ofício, em Lisboa, que nos idos de 1642 já o havia queimado em estátua pelos agravos públicos de 1635. Seja como for, “Manoel vivia com a consciência pesada. Identidade fragmentada”. (p. 245).
Para o leitor absorvido na intrigante vida dessa personagem, o ponto alto do livro Traição é, sem dúvida, a luta de Manoel de Moraes diante dos inquisidores. Sua intenção antecipada de se reconciliar com a Igreja e sua participação na “guerra da liberdade divina”, novamente empossado como capelão de tropa por ninguém menos que o general da restauração pernambucana, João Fernandes Vieira, não foi impeditivo para ele ser preso e remetido a Lisboa, a dar conta de sua vida ao Santo Ofício. (Cf. cap. 30 e 31).
A partir da documentação inquisitorial, Ronaldo Vainfas vai pouco a pouco desvendando os enredos construídos entre os acusadores e o réu. Para os inquisidores do Tribunal, traição e heresia eram lados da mesma moeda, por isso a relutância de Manoel de Moraes em esconder tanto quanto possível sua vida de traidor no ano de 1635.
Acusado de heresia pelo tempo em que vivera na Holanda, onde contraiu dois casamentos à moda calvinista, o réu insistirá que não conhecia nem mesmo a língua de seus anfitriões, e que casara apenas por luxúria, ou seja, pecado grave, mas que fugia da alçada da inquisição, preocupada com os crimes de fé: “Por causa da luxúria, era sua alma que arderia eternamente no inferno. Por causa da heresia, ele mesmo poderia arder na fogueira” (p. 287).
Entre 13 de abril e 23 de outubro de 1646, Manoel de Moraes preso nos cárceres de Lisboa, sustentará sua versão “catolicizante” de que, no Brasil e na Holanda, dera provas de sua identidade católica. Mas nada disso parecia reter um palmo sequer a convicção de seus acusadores. Sem confessar o que queriam ouvir os ministros do Tribunal, o ex-jesuíta foi mandado ao suplício na “sala do tormento” (cap.36), com o fim de ser içado pelos pulsos até o teto e de lá ser despencado ao chão numa polé.
Diante do instrumento de tortura, o bravo “capitão de emboscada” tremeu, e a imaginar o tempo de sua reclusão naquela atmosfera de ser queimado vivo, não viu outra alternativa e confessou.
Em Traição, o autor consegue realizar aquilo que se considera mais importante numa biografia ao estilo da micro-história: ajudar seus leitores a compreender um pouco melhor um mundo distanciado pelo tempo cronológico, mas trazido a tona percorrendo as pegadas de uma única vida jogada entre as estruturas e as conjunturas de um tempo historio pretérito4.
Aqui, peço licença ao leitor para usar uma das sutilezas argumentativas do escritor-historiador Ronaldo Vainfas que insiste em deixar para o próximo capítulo aquilo que procura demonstrar no anterior. No mais, os dois últimos capítulos de Traição nos apontam o destino dessa personagem excepcional. Contudo, na parte da cronologia, ao final do livro, há uma pista instigante e bem ao estilo do autor: “1651. Manoel de Moraes morre, provavelmente em Lisboa. Amém” (p. 342).
Notas
1. Cf. “Apresentação”. In: REVEL, Jacques (org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Tradução de Dora Rocha. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 10. Vide também o capítulo primeiro.
2. Vale a pena uma leitura demorada da discussão elaborada entre Ronaldo Vainfas e Ciro Cardoso, paradoxalmente, num mesmo livro que organizam juntos. Cf. CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. Especialmente a introdução e a conclusão, na mesma obra. Ainda do autor, vide: VAINFAS, Ronaldo & SANTOS, Georgina S. & NEVES, Guilherme P. Retratos do império – trajetórias individuais no mundo português nos séculos XVI a XIX. Niterói: EdUFF, 2006.
3. Cf. LORIGA, Sabina. “A biografia como problema”. In: REVEL, Jacques (org.). Op. Cit., pp. 225-249.
Ligio José de Oliveira Maia
VAINFAS, Ronaldo. Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 384p. Resenha de: Embornal, Fortaleza, v.1, n.2, p.1-6, 2010. Acessar publicação original. [IF].
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Originalmente lançado em 1984, mas publicado no Brasil apenas em 2007, o estudo da historiadora norte-americana Lynn Hunt intitulado Política, cultura e classe na Revolução Francesa oferece não apenas pertinentes contribuições ao exame de um dos eventos mais estudados da história mundial, como também apresenta uma original abordagem da política, vista de maneira indissociável das práticas culturais e sociais.
Quando Hunt começou a pesquisa que daria origem ao livro, esperava demonstrar a validade da interpretação marxista, ou seja, de que a Revolução Francesa teria sido liderada pela burguesia (comerciantes e manufatores). Os críticos dessa visão (chamados de “revisionistas”), afirmavam, ao contrário, que a Revolução havia sido liderada por advogados e altos funcionários públicos. Procedendo a um minucioso levantamento de dados sobre a composição social dos revolucionários e suas regiões de origem, Hunt esperava encontrar maior apoio à Revolução nas regiões francesas mais industrializadas. Contudo, ela constatou que as regiões que mais industrializavam não foram consistentemente revolucionárias, e havendo de ser buscados outros fatores para tais comportamentos como os conflitos políticos locais, as redes sociais locais e as influências dos intermediários de poder regionais. “Em suma, as identidades políticas não dependeram apenas da posição social; tiveram componentes culturais importantes” (HUNT, 2007:10). Leia Mais
O crime do restaurante chinês – FAUSTO (H-Unesp)
FAUSTO, Boris. O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 246 p. Resenha de: PEREIRA, Vantuil. Uma “outra” São Paulo da década de 1930. História [Unesp] v.29 no.1 Franca 2010.
A década de 1930 sempre exerceu certo enlevo para quem estuda a História do Brasil Contemporâneo. Em grande medida, a Revolução de 1930 pautou tanto as ações políticas, quanto as ações acadêmicas. Assim, no campo acadêmico, olhar para aquele decênio significa tentar compreender fenômenos como o populismo, o estudo das “modernas” formas de fazer política, o estilo constituinte dos partidos contemporâneos.
É resultado deste período a estruturação daquilo que Wanderley Guilherme dos Santos denominara “cidadania regulada”, isto é, uma inserção social controlada pelo Estado, no qual os direitos inerentes de cidadania são constituídos de forma parciais e com uma clara intenção homeopáticas.
A essa época consta também os traços ou resquícios de um tempo não muito distante. Pertencem a mesma década as principais formulações racistas e autoritárias, expressas na eugenia ou na proposição de que não haveria um sentimento de povo no Brasil, apenas visões parciais e localistas. Por seu turno, a sociedade não estaria preparada para o exercício político; não estava acostumada com instituições democráticas. Do mesmo modo, o pensamento científico ganhava terreno, ampliando suas relações socais concretas.
Diferentemente de verificar como um Estado autoritário impactou na vida de um militante comunista ou sindicalista, esta historiografia deixa de olhar como estas instituições impactaram no cotidiano das pessoas comuns. Embora as ideias racistas não tivessem sido introduzidas no Brasil naquela época, foi em 30 que as discussões raciais ganharam terreno. Elas resultaram de uma articulação entre a academia e a vida cotidiana da população através dos aparelhos repressivos que, mediado pelo Estado, interferiram no dia-a-dia da população.
Ao lançar vistas para os anos de 1930, tem-se pelo menos dois outros aspectos instigantes. O primeiro se refere a uma preocupação principal com a construção do edifício e as bases do Estado moderno nacional, seja pelo viés industrial e urbano, seja pelo pensamento político e jurídico daí emanado. Em segundo lugar, dá-se ênfase a compreensão do fenômeno político que foi Getulio Vargas, uma espécie de mito moderno o qual, ao longo das décadas seguintes à sua chegada ao poder, acabou por instituir uma espécie de paradigma político e social na história recente do país.
Desse modo, frequentemente a história política dos anos 30 esteve às voltas com as narrativas das grandes personalidades que, obviamente, não se restringiam à persona de Getúlio, podendo-se falar em figuras como Gustavo Capanema, Juarez Távora, Francisco Campos, etc. Portanto, tratar-se-ia de um enfoque histórico a partir dos grandes homens ou, no mais das vezes, de uma história política renovada que procurava construir uma releitura das ações, padrões políticos, mentalidades e culturas políticas dentro de uma lógica motivada “pelo alto”.
Raros são os estudos deste período que versam sobre a compreensão do mundo das camadas populares, dos homens e mulheres comuns, embora sejam tocados pela construção do Estado, pelos discursos de Getúlio Vargas e toda carga simbólica que ele representara. Ao mesmo tempo, podemos perguntar como a urbanização acelerada, o fortalecimento e consolidação de uma opinião pública, calcada no rádio, moldaram as vidas ou como esses elementos repercutiram no cotidiano da gente comum, pois coadjuvado com a imprensa escrita, irradiavam valores de um “novo” momento nacional.
Em grande medida, a impossibilidade de se alcançar os impactos das transformações daquela década se deveu, por um lado, pela própria perspectiva histórica de valorização da história política tradicional, pela resistência em ver na gente comum uma cultura ou capacidade de reação às ações do Estado. Por outro lado, inexistiam métodos capazes de perceber tais nuances específicas das camadas sociais mais pobres.
Esses limites começam a ser quebrados no Brasil a partir da década de 1980 quando, sob influência da micro-história, ocorre uma junção das análises com a eleição do cotidiano como campo de observação com o enfoque sociocultural. A preocupação aqui está em examinar como a classe operária (e não seus dirigentes) é formada, ou como ocorrem resistências populares a partir de uma “outra historia”. O cotidiano é visto a partir do contraditório, revela tensões, desconexões aparentes, conflitos com os poderes e das resistências a esses poderes.
Henrique Espada (2006) argumentaria que seria importante o historiador olhar com atenção para as paisagens que aparentemente não se transformam. Sugere-se, portanto, que se tome, se não um procedimento, ao menos a qualidade de uma observação ou de uma perspectiva frente aos objetos da análise. Assim, a metodologia ou as fontes disponíveis para se chegar às pessoas comuns não são as mesmas que para se compreender o modo de pensar das grandes personalidades.
Como afirmavam E. P. Thompson, George Rudé e Eric Hobsbawm, as pessoas comuns – quase que invariavelmente -, não deixaram documentos escritos para a posteridade e não tinham arquivos disponíveis para guardar as suas memórias. Dessa forma, um procedimento para auscultar este segmento social se faz através de um tratamento intensivo das fontes, ao seu modo peculiar de ler os indícios, isto é, a atenção do historiador deverá ser redobrada, ele deve estar atento a todos os detalhes, aos não ditos. Em diversas oportunidades ele está trabalhando ao nível das trajetórias individuais, da realidade cotidiana e de ardis recorrentes nas extensas redes de pequenos poderes onde os atores sociais se revelam em toda a sua humanidade.
Ao valer-se da metodologia e do enfoque micro-histórico, O crime do restaurante chinês de Boris Fausto, vem cobrir parte desta lacuna do período do Estado Novo. O autor traz contribuições valiosas para o entendimento do modo de pensar e de como as pessoas comuns sobreviviam no interior de uma cidade de São Paulo em transformação.
O autor se relaciona com a micro-história ao considerar aspectos determinantes daquela metodologia, tais como a redução da observação do historiador. Fausto não se preocupa em tratar, por exemplo do Estado como ente privilegiado, ele busca apreciar ações humanas e significados que passam despercebidos quando se lida com grandes quadros
Do mesmo modo, para dar consubstanciação à sua proposta, ele concentra sua escala em pessoas comuns e não em grandes personagens, buscando ouvir suas vozes. Aqui, entra um terceiro elemento, pois há uma preocupação em extrair de fatos aparentemente corriqueiros uma dimensão sociocultural relevante.
Embora reconheça que sua obra possa ser lida como uma “boa história”, Fausto marcará sua posição de historiador ao revelar dois aspectos imprescindíveis de seu trabalho. Embora apele para o recurso da narrativa, contraria a história das grandes estruturas, sem se confundir com o estilo das narrativas tradicionais, predominantes no século XIX. E, por fim, mas não menos importante, situa sua obra no terreno da história, o que significa apoiar-se nas fontes, delimitando assim, claramente, a obra ficcional.
No último ponto, Fausto retoma alguns ensinamentos de Carlo Ginzburg e suas preocupações em distinguir seu modo de construção narrativo da corrente que propugna por um ataque cético à cientificidade das narrações históricas (GINZBURG, 2007, p.10-13). Afirma que as narrações históricas não falariam da realidade, mas sim de quem as construiu. O crime do restaurante chinês tem um estilo preferencial pela narrativa, admite Fausto, mas não a narrativa ficcional, pois a trama se apoia em fontes históricas, conclui o autor.
Em seu lugar, Fausto atuará mais como um camponês arando um terreno árido, procurará se situar mais como um “vasculhador” de testemunhos históricos a contrapelo, como Walter Benjamin sugeria, isto é, contra as intenções de quem os produziu.
Uma das grandes forças de O crime do restaurante chinês é que sua escala de observação é reduzida. Vários personagens são pessoas comuns, invisíveis no plano dos grandes acontecimentos, que não figuram na galeria dos grandes mitos da história nacional. Contudo, dentro da proposta micro-histórica, o modo de pensar, as vidas e as interações das pessoas comuns servem para inseri-las em um amplo contexto social que serve como chaves de entendimento de ângulos ignorados do contexto da época. São “fachos de luz, capazes de alcançar lugares escuros de uma sala que a luminária do teto não alcança”, dir-nos-ia Boris Fausto.
O autor argumenta que a problemática só poderá ser entendida se compreender o contexto geral em que a vida das pessoas está envolvida. Assim, ele situará suas análises ao longo da repercussão do próprio crime do restaurante chinês, isto é, na São Paulo da década de 1930, ou, com maior incidência, nos anos que vão de 1938 a 1942. Naquele momento, a cidade não era a megalópole dos dias atuais. Todavia, ela já vivia os problemas dos grandes centros urbanos, sobretudo se considerarmos que nela já habitavam mais de 1 milhão de pessoas. Os vestígios do passado insistiam em não desaparecer, ainda que os meios de informação estivessem bastante disseminados, pela via dos jornais e das emissoras de rádio, que alcançavam não só a classe média como setores das classes populares. Outro aspecto da cidade era a presença de uma multiplicidade étnica, em grande medida resultante da imigração em massa de fins do século XIX e das primeiras décadas do século XX. “Em meados dos anos 1930, nela conviviam imigrantes e seus descendentes, velhos paulistanos em crescente minoria e migrantes internos que começavam a chegar em grande número, de Minas Gerais e do Nordeste” (FAUSTO, 2009, p.10).
Fausto reconhece que a obra está envolta de elementos de sua própria memória, pois parte do que ele retira dos relatos e da narrativa é decorrente das lembranças da sua infância, do carnaval de 1938, dos encontros familiares, das desgraças, etc. A memória reconstruída por Fausto é como uma fotografia de sua infância. O que foi lembrado é interessante na medida em que nos revela parte da trama.
O escritor admite que na sua memória “ficaram apenas as imagens do último carnaval [em família], do mistério sem rosto da morte da minha mãe. Ficaram também as imagens do crime do restaurante chinês, na versão em que Arias de Oliveira era considerado o autor da chacina” (FAUSTO, 2009, p.217), motivadas pelas cenas estampadas nos jornais, pelos comentários repercutindo o massacre.
No presente, ocorre um confronto entre o historiador e sua memória. A memória reconstruída do autor procura não o julgamento, mas a compreensão daquelas cenas, a partir das evidências, das fontes. O “juiz” transforma-se em historiador. Lembrar agora pode ser visto não como algo inocente, pois, olhando por trás dos ombros do delegado e nas tintas da imprensa que repercutia o crime, fica consciente de que, a autoridade depositada nestas instituições são elas mesmas apenas vozes contraditórias que se juntam ao processo.
As cenas que atormentavam um pequeno menino não deixavam de ser as da exposição de uma memória coletiva. As percepções de Boris Fausto, ainda que aparentemente passem à margem dos acontecimentos daqueles anos, implicam nas tramas que circundavam a sociedade: o crime, o futebol, o carnaval, as leituras que a imprensa construía sobre os envolvidos nos acontecimentos do carnaval de 1938 e a primária ideia de justiça.
O crime do restaurante chinês é uma chave de abertura dos caminhos mais amplos, seja ele o funcionamento do aparelho policial e judiciário – aqui estariam ausentes o uso da força como mecanismo de dominação e a obtenção da confissão do acusado negro Arias de Oliveira – , ou os novos mecanismos propugnados pela ciência criminológica, auxiliada pela psicologia e pelas técnicas desenvolvidas pelo professor positivista italiano Cesare Lombroso. Portanto, recorrentemente, estão contidas as teorias racistas, que procuravam demonstrar os tipos de homens capazes de cometer crimes e, consequentemente, a discussão da natureza da criminalidade e do perfil dos infratores.
Dividido em 16 capítulos curtos e objetivos, o livro é de fácil compreensão e acessibilidade (tanto para um leitor leigo quanto para um acadêmico). A obra conta o desenrolar do crime (ou chacina, como afirma o autor) do restaurante chinês, ocorrido no carnaval de 1938. No morticínio morreram o proprietário do restaurante, sua mulher e dois empregados do casal. Auxiliado pela riqueza de detalhes produzidos por jornais como o Estado de São Paulo, Folha da Manhã e Correio Paulistano, Fausto constrói a trama procurando problematizar e relativizar cada detalhe do crime. Coadjuvado pela imprensa, será na friúra do inquérito policial que ele procurará reconstruir a personalidade de todos os envolvidos. Contudo, o que o mundo da chacina revela, ao contrário de um mundo glamourizado, é a vida de “migrantes pobres, analfabetos ou semianalfabetos”, alguns que com esforço vinham escalando alguns degraus da ascensão social (FAUSTO, 2009, p.41-43).
Seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos – que permite a compreensão do desenrolar dos acontecimentos -, não deixa de tocar nas intrigas e emaranhados que envolvem a trama, desde a existência de uma possível máfia chinesa, passando pela contrariedade de familiares do proprietário do restaurante chinês, as pressões “desatinadas” da imprensa sensacionalista, a busca pelos culpados, chegando ao negro Arias de Oliveira – o acusado de ter cometido o crime do restaurante chinês.
No ínterim da narrativa, Fausto percebe uma disputa política envolvendo, de um lado, a polícia que, pressionada pela repercussão popular de um grande crime, isto é, episódio que se destaca pela exuberância sangrenta, por envolver paixões amorosas, na importância dos protagonistas, ou por tudo isso junto (FAUSTO, 2009, p.39) que, na atualidade, se encontra banalizado não só pela generalização dos acontecimentos, mas, sobretudo, pela capacidade da imprensa em torná-los corriqueiros. De outro lado, ao chegar ao preto Arias, a ação da polícia desencadeia uma ação por parte da chamada burguesia “de cor”, responsável por atividades culturais e pela criação de entidades como a Frente Negra Brasileira, que se propunha a lutar contra a discriminação racial. A Frente se colocara na defesa de Arias de Oliveira, evitando que ele ficasse desamparado ou nas mãos de um defensor público. Entra em cena, o jovem advogado Paulo Lauro, importante para as três absolvições que Arias receberia ao longo de três anos.
Ao lermos O crime do restaurante chinês, a riqueza de fotografias nos transporta para os acontecimentos, permite que nos envolvamos cada vez mais na trama. Ao nos depararmos com a acusação de Arias de Oliveira, perguntamo-nos a cada momento qual será o desfecho dos acontecimentos.
O que podemos antecipar é que Arias de Oliveira volta à obscuridade, sem que o crime deixe de figurar na memória coletiva da cidade de São Paulo. Ele é memória coletiva para os militantes negros.
Do mesmo modo, pode ser compreendido como uma memória não rememorada de mil outros “Arias de Oliveira” que não tiveram o mesmo destino de se verem fora das prisões e suas vidas transformadas pelas agruras da justiça. Diante deste possível desfecho, fica cada vez mais provocativo pensarmos o potencial da construção historiográfica a partir de homens e de mulheres comuns que foram impactados pela nova ordem de coisas, pela ética do trabalho, pelo racismo, pela exclusão disseminada a partir da consolidação do capitalismo no Brasil, na São Paulo que era o seu exemplo mais concreto já a partir da década de 1920.
O livro de Boris Fausto é uma obra que contempla um jeito novo de fazer história: não perde a perspectiva de se construir conhecimento. Articula a relação entre o contar uma boa história (científica, porque baseada nas fontes) e uma outra (narrativa), ao gosto do leitor comum, que procura os prazeres de uma boa estória.
Vantuil Pereira – Professor Doutor – Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História – UFRJ – Univ. Federal do Rio de Janeiro – Av. Pasteur, 250, CEP: 22290-240, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected].
A dança dos deuses: futebol, sociedade, cultura | Hilário Franco Júnior
Comecemos com um clichê imperdoável: existem 180 milhões de técnicos de futebol no Brasil. Todo mundo pensa que entende do assunto. É uma reconhecida tradição nacional que praticamente a totalidade desse imenso exército de amadores chame o profissional que comanda a Seleção Brasileira de burro. Muitos, mesmo sem entender totalmente a lógica da regra do impedimento, declaram aos berros que podem fazer melhor. Melhor que os técnicos e melhor que os jogadores. Tudo ou nada é o lema. Um segundo lugar na Copa, medalha de prata ou bronze nas Olimpíadas são consideradas campanhas fracassadas. Erros não são permitidos. Perder um pênalti é imperdoável. Sofrer um frango é motivo de vexame eterno. Fazer gol contra é uma heresia.
A cultura do futebol está entranhada na cultura nacional. Seu jargão, seus hábitos, seus mitos. Estranhamente, até mesmo sua história. Não é tão raro que indivíduos que não sabem dizer quem foi Tiradentes ou D. Pedro I sejam capazes de dar a escalação completa do Guarani de Campinas, campeão brasileiro de 1978. O brasileiro médio que, outro clichê, não faz a mínima questão de cultivar a memória nacional, cultiva cuidadosamente sua história futebolística. Diversos programas esportivos de televisão ajudam nessa preservação, passando diariamente cenas de arquivo. Algumas imagens, de tão repetidas, entraram para o imaginário coletivo. Os resultados práticos desse amplo esforço educacional são continuamente comprovados ao final de cada partida de futebol, profissional ou amadora. Os torcedores, por mais simplórios que sejam, destilam orgulhosamente sua erudição esportiva nas rodas de conversa após os jogos. Enfim, todo brasileiro, de modo macunaímico, além de técnico de futebol também é um historiador do futebol. Leia Mais
Os dentes falsos de George Washington: um guia não convencional para o século XVIII | Robert Darnton
Na verdade, tudo o que se refere ao século XVIII é estranho, quando examinado em detalhe (DARNTON, 2005: 8).
Para Robert Darnton, o século XVIII é bem mais estranho do que imaginamos corriqueiramente. Seus personagens, e suas formas de agir e pensar, conforme argumenta, nos fariam ter uma sensação de estranhamento abissal. Após publicar um grande número de livros sobre o século XVIII, em parte já traduzidos no Brasil, como: Boemia literária e revolução (1987), O lado oculto da revolução (1988), O grande massacre de gatos e outros ensaios (1988), O beijo de Lamourette (1990), Edição e sedição (1992), O Iluminismo como negócio (1996), Os best-sellers proibidos da França pré-revolucionária (1998) e Democracia (2001), o autor apresenta um guia, segundo ele nada convencional, para se entender o século XVIII, ou melhor, parte dele e de seus temas.
Neste livro, Os dentes falsos de George Washington (2005), em suas palavras, procurou oferecer um guia “para o século XVIII, não para todo esse período (o que exigiria um tratado em vários volumes), mas para alguns de seus recantos mais curiosos e singulares, e também para seu tema mais importante, o processo do Iluminismo” (DARNTON, 2005: 9). Para tanto, o autor expos relatos de campo, de parte de suas pesquisas, embora não dando um mapa completo do século XVIII, mas se concentrando em alguns de seus temas, como: “conexões franco-americanas, a vida na República das Letras, modos de comunicação e, por fim, formas de pensamento peculiares ao Iluminismo francês” (DARNTON, 2005: 10). Neste percurso sua tese “não é de que o século XVIII era estranho em si mesmo […] mas de que é, sim, estranho para nós”, em função das profundas transformações históricas que se deram do passado ao presente e, nesse sentido, preocupou-se em “abrir linhas de comunicação com o século XVIII e, ao segui-las até suas origens, compreender o século ‘como ele realmente era’, em toda a sua estranheza” (DARNTON, 2005: 14). Leia Mais
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX – REIS (RBH)
REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 461 p. Resenha de: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 29 no. 57, JUN. 2009.
João José Reis é merecidamente um figurão da historiografia brasileira. Seus livros, desde o pioneiro Rebelião escrava no Brasil, modificaram o estado da arte dos estudos sobre escravidão, sobre rebelião escrava e movimentos sociais, não só no país, mas internacionalmente. Esse pesquisador meticuloso e apaixonado, esse amante dos arquivos, das bibliotecas, dos documentos e dos livros acaba de lançar mais uma obra, um livro já saudado efusivamente em várias resenhas de especialistas no campo dos estudos sobre escravidão, no campo da chamada História Social: Domingos Sodré, um sacerdote africano. O livro se propõe a fazer um exercício de micro-história, pois toma como fio condutor da análise a vida de um africano liberto que viveu na Bahia do século XIX, e a partir da biografia desse ex-escravo que se tornou uma importante figura entre a população africana da cidade, desse sacerdote preso por ser acusado de práticas religiosas heréticas e diabólicas, o autor traça um amplo panorama das intrincadas relações sociais, das relações de poder, das atividades econômicas e culturais vivenciadas pelos libertos, por essa parte da população que, vivendo nas fímbrias do sistema escravista, sendo resultado dele, mas em muitos aspectos a ele se opondo, é pouco levada em conta quando se trata de contar a história da escravidão brasileira. A trajetória do liberto, do papai Domingos Sodré, que provavelmente nasceu em Onim ou Lagos, na atual Nigéria, por volta do ano de 1797, que morreu em 1887, com estimados noventa anos de idade, que deve ter desembarcado na Bahia, como escravo, entre os anos de 1815 e 1820, até por sua longevidade, por ter atravessado quase todo o século e por ter transitado entre as condições de escravo e de homem livre, permite pensá-lo como um sujeito encruzilhada, sujeito que foi se constituindo e se transformando à medida que transitava por distintos territórios sociais e culturais, que elaborou e vestiu distintas máscaras identitárias, que encarnou distintos lugares de sujeito, que entrou em conflito e teve de negociar com distintas forças e personagens sociais, que conviveu, fez parte e recorreu a distintas instituições sociais, tanto formais como informais, que fez parte tanto do mundo dos pretos, da cidade negra, quanto dos brancos, da cidade oficialmente dita branca e aristocrática. Através de sua vida, João Reis tentou acompanhar as pistas que levam àpresença e àprática do candomblé, na Bahia do século XIX, bem como dar conta da dura repressão que ele sofria, em dados momentos, por parte das autoridades policiais e judiciais, e como, ao mesmo tempo, essas práticas conseguiam resistir e sobreviver por terem, muitas vezes, o apoio de membros das elites e até mesmo das próprias autoridades que deviam combatê-las.
No que tange à contribuição deste livro para o estudo da escravidão, da liberdade e do candomblé, outros autores já se manifestaram e não sou eu o mais habilitado para avaliá-la, já que não sou especialista no tema, nem milito no campo da História Social. Os motivos que me levam a resenhar esta obra, a indicá-la, portanto, como leitura obrigatória para todos os historiadores, independentemente do tema com que se ocupem, do campo da disciplina em que militem, é que a considero uma obra exemplar do que seriam, hoje, as regras que presidem a operação historiográfica; considero-a uma obra exemplar na observância dos procedimentos que dariam estatuto científico ao nosso ofício, mas também a considero exemplar no que tange aos impasses, aos dilemas, aos debates acalorados que dividem, nestes dias que correm, a comunidade dos historiadores. Assim como aborda um sujeito encruzilhada, ela é, também, uma obra onde as encruzilhadas em que está colocado nosso ofício emergem com nitidez. Ela é uma obra exemplar do caráter narrativo da historiografia, do papel que a narrativa desempenha na elaboração e inscrição da história; é obra exemplar das artes e artimanhas que são requeridas de todo historiador, na hora que tem de transformar a pilha de documentos compulsados, as inúmeras pistas e rastros encontrados, num enredo que faça toda essa poalha, essa dispersão, fazer sentido; ela é exemplar do uso do que alguns preferem chamar de imaginação histórica, para não dizer o uso da ficção na escrita da história, ficção entendida não como o oposto da verdade ou da realidade, mas como a capacidade poética humana de dotar as coisas de sentido, de imaginar significados para todas as coisas, sentidos que são sempre, em última instância, uma invenção humana, já que as coisas não trazem em si mesmas um único significado, nem gritam ou dizem o que significam. As evidências nem falam, nem são evidentes; elas são levadas a dizer algo por quem as diz, elas são levadas a serem vistas por quem as põe em evidência.
Em várias passagens do livro, o caráter lacunar das fontes, a falta de documentos sobre a vida de Domingos Sodré e o silêncio dos arquivos sobre a vida dos de baixo obrigam João Reis a imaginar, a ficcionar, a tentar adivinhar como poderia ter sido, o que poderia ter acontecido com o papai Sodré e seus companheiros de condição na cidade da Bahia, em tal ano e em tal situação. Ele não se contém em imaginar que papai Domingos poderia ter estado em dado lugar, conhecido alguns de seus vizinhos, participado de dadas cerimônias, conhecido algumas autoridades, tivesse tomado algumas medidas, sabido de dados eventos e notícias, sempre fazendo questão de deixar claro, nesses momentos, como pesquisador sério e honesto que é, que se tratava de viagens ou visagens de sua própria lavra. Imaginação, ficção que na historiografia é limitada pelas próprias informações que se tem, pelo conhecimento que o historiador tem do período que estuda, por aquilo que sabe sobre o funcionamento da sociedade e da cultura que está estudando. Imagina-se o provável, ficciona-se o possível de ocorrer naquele tempo e lugar, com as pessoas que vivem em dada situação social e segundo dados códigos culturais. No entanto, sem essa capacidade de imaginar, sem a habilidade de criar, de inventar sentidos e significados para os restos do passado que chegam até o presente, a historiografia seria impossível. O próprio João Reis admite o parentesco existente entre o historiador e o adivinho. O historiador, às vezes, também tem que ser um papai, tem que jogar os coloridos búzios das significações que acha possível serem dadas a um evento, tem que exercer suas artes divinatórias, deixar a intuição trabalhar, estabelecer ligações entre os eventos que não estão explicitadas na documentação. Afinal, faz certo tempo que os historiadores sabem que os documentos não dizem tudo e que eles são capazes de provar as teses mais díspares, dependendo dos significados que a eles se atribuem, da leitura que deles se faz.
No epílogo do livro, João Reis vai fazer uma afirmação que é muito reveladora da própria consciência que o autor tem da importância da narrativa, da construção do texto para a versão da história que constrói. Estamos muito longe, aqui, de certa visão ingênua de que é possível estabelecer uma versão definitiva dos eventos e que essa seria a verdadeira versão do passado. O autor vai afirmar que se as informações que se tinha sobre um figurão popular como Domingos Sodré eram poucas e esparsas, o que se sabia sobre a vida de Maria Delfina da Conceição, que foi sua esposa por cerca de dezenove anos, era ainda menos expressivo. Essa mulher que acompanhou os passos, que dividiu a vida, a casa e possivelmente a crença com o papai, deixou pouquíssimos rastros de sua passagem pela história. Se soubéssemos mais sobre ela, diz Reis, o enredo dessa história poderia ser diferente. Nessa passagem, o autor admite, explicitamente, que a história que acabou de contar tinha um enredo: ela foi enredada, tramada, os eventos foram interligados por uma atividade narrativa, por uma arte de contar história. Ao contrário do que alguns historiadores ainda supõem, o enredo da história de Domingos não foi descoberto, encontrado pronto nos arquivos pelo historiador baiano. Ele não está no próprio passado, embora este seja uma referência para criá-lo, embora pequenos pedaços de enredos, pequenas tramas, também narrativas, também escritas tenham chegado até nosso pesquisador. O que Reis está afirmando é que o enredo foi feito no presente, por ele, com as informações que encontrou. Se ele afirma que o enredo poderia ser outro, não é que a história em si mesma pudesse ser outra. Sabemos que o passado não pode mais ser alterado pelo simples fato de que passou, mas o enredo poderia ser outro, pois, de posse de outras informações, de informações sobre a vida da companheira de Domingos, ele poderia escrever a história que escreveu de outro modo, o livro poderia ser diferente do que este que está publicado. A estratégia narrativa podia ser outra, outras as personagens, outras as ligações entre os eventos, outras as tramas, outras as explicações e significações.
O livro Domingos Sodré, um sacerdote africano é uma obra modelar no uso das artes, artimanhas e mandingas de nosso ofício, por isso deve ser bibliografia obrigatória nos cursos de metodologia da pesquisa histórica. Nele estão presentes todas as regras que presidem a operação historiográfica e que permitem que nosso ofício reivindique o estatuto científico: a narrativa mediante documentos; a pesquisa ampla e meticulosa de arquivo, onde o autor expõe nosso parentesco com os detetives; a crítica rigorosa das fontes; o concurso de uma ampla bibliografia na área de estudos a que pertence, incluindo desde obras clássicas, até obras mais recentes, trabalhos sequer publicados; um domínio fino da teoria e da metodologia faz com que ela sustente a análise, esteja presente na carpintaria, na estruturação do texto e de todos os passos da pesquisa, sem que precise aparecer atravancando o texto, em digressões que costumam ser xaroposas e pedantes. Essa leveza, essa fluência, essa beleza do texto, que já fez de Reis um autor premiado, é parte desta outra dimensão inseparável da operação historiográfica, aquilo que Certeau nomeou de escrita, a dimensão artística de nosso ofício, a dimensão ficcional que a narrativa histórica convoca. O bom livro de história, o clássico em nossa área não se faz apenas às custas do tema que se escolhe e da pesquisa documental que se faz, pois a história só existe quando escrita, é no texto que ela se realiza, bem ou mal. Afirmo, e talvez ele nem considere isso um elogio, que grande parte do sucesso dos livros de João Reis se deve à forma como são escritos, à sua habilidade narrativa, a despeito de serem todos fruto de exaustiva pesquisa e do estudo metódico e rigoroso de temas inovadores, muitos deles pouco tratados ainda.
João José Reis possui uma consciência da centralidade da narrativa em nosso ofício, como poucos. Seus livros explicitam as estratégias narrativas que escolheu. Domingos Sodré é um livro que, se fôssemos adotar as sugestões de Hayden White, diríamos vazado no enredo romanesco. É uma trama em que embora Domingos opere como uma metonímia de seu tempo, bem a gosto da micro-história italiana, que inspira teoricamente e metodologicamente o livro, ele é descentrado e disperso por uma dezena de outros personagens que vêm ocupar o seu lugar na trama sempre que as informações sobre ele escasseiam. João Reis deixa explícito que irá adotar na narrativa esse procedimento analógico. Como num romance, o livro de Reis não é um livro de teses, embora defenda algumas ideias, aliás faça algumas conclusões, mas estas não aparecem explicitadas, e sim implícitas, imanentes à trama que ele arma. Ele convoca a nós, leitores, a que cheguemos às conclusões antes que ele as exponha, a partir do enredo que ele elabora. Ele homenageia a inteligência dos leitores, jogando no tabuleiro os seus Fás para que a gente os decifre, para que leiamos a mensagem que quer nos fazer chegar. Em vários momentos da obra, a metonímia Domingos é substituída por outros personagens que atuam como se fossem metáforas do velho sacerdote, outros personagens ocupam o lugar desse sujeito e o dispersam, fazendo-o aparecer com diferentes rostos, em diferentes corpos, em diferentes situações, para em seguida, em outro movimento, tal como ocorre com o Menocchio de Carlo Ginzburg, em quem parece se inspirar, deixar de ser um ser singular, único, para ser um sujeito exemplar, um sujeito resumo de seu tempo, de sua sociedade e de sua cultura. Sua figura, que se dispersa num primeiro momento, no segundo momento unifica, homogeneíza, encarna a situação do liberto na Bahia, no século XIX. Em ambas as situações o caráter ficcional do procedimento é notório, para o mau humor do historiador italiano, que não cessa de fazer diatribes azedas contra a presença da ficção no ofício do historiador. Mas sem a ficção não haveria trama, não haveria enredo, não haveria compreensão, não haveria saber histórico. Tanto no momento em que outros libertos vêm agir, se comportar, falar, como Domingos, tanto no momento em que o autor supõe que se um liberto realizava tais práticas, o papai como um liberto que era também possivelmente fazia a mesma coisa, passava pela mesma situação, quanto no momento em que o sacerdote singular, excepcional, tão único que chegou a merecer biografia escrita por outro figurão da cidade, torna-se um representante de todos os libertos, que sua vida se torna similar à de todos de sua condição, que suas práticas de crença se tornam análogas às de outros praticantes desses rituais, é a imaginação, é a ficção, é a capacidade de dar sentido, de raciocinar por imagens, por figuras, de estabelecer configurações, por parte do historiador, que está agindo. É o historiador João Reis que está produzindo esse enredo, essa versão para o passado, a partir de seu olhar: um olhar formado pela disciplina histórica, pelas regras da disciplina, um olhar informado por dados pressupostos teóricos, um olhar informado por dadas posturas políticas, éticas e morais, e, por que não admiti-lo, um olhar constituído por dados códigos estéticos, por uma dada maneira de figurar o mundo, de vê-lo e de dizê-lo, um olhar tropológico, além de ideológico. A história é um saber de encruzilhada entre o fato e a ficção, entre o feito e o contado, entre a ação e a narração, entre o que se vê e o que se imagina, entre o rastro e o sonho, entre o resto e o desejo, entre o que se lembra e o que se esquece, entre o achado e o perdido, entre a fala e o silêncio, entre o signo e a significação, entre o material e o etéreo, entre os homens e todos os deuses.
Portanto, Domingos Sodré, um sacerdote africano é um bom exemplo de como a “história vista de baixo” é uma impossibilidade, já que ela, como todas aquelas escritas por historiadores, é fruto do olhar do historiador e não do personagem que nela é tratado. No livro de João Reis não lemos a história contada do ponto de vista de Domingos, até porque este está morto e quase nada pode nos dizer para além do pouco que ficou registrado, sempre por outras pessoas, pois, como é comum entre os de baixo, na época tratada por Reis, ele era iletrado, e até os documentos que registram sua presença são escritos e assinados por outros. A história é vista por Reis, não por Domingos, embora caiba ao historiador, esta é uma das mandingas do ofício, tentar adivinhar, imaginar, fabular, idear, intuir o que pensava e sentia o papai. Talvez, quem sabe, João Reis até gostaria de ser um cavalo em que viesse se encarnar o papai Domingos, o mandingueiro famoso, mas, nas artes divinatórias da história, quem frequenta essa encruzilhada costuma fazer seus próprios despachos, encomendar seus próprios feitos e contados. João Reis faz, como todas, uma “história vista de cima”, já que, pelo menos até hoje, em nossa sociedade, os historiadores costumam ocupar os estratos considerados superiores da sociedade. É ele quem olha para Domingos do alto de sua sabedoria, de sua posição social, de seu lugar institucional, de seu lugar de classe, de seu lugar de letrado e doutor, de seu lugar de branco, né meu rei! Sobre a vida do velho sacerdote joga sua rede discursiva, o aprisiona em dados sentidos que estão agora à disposição da comunidade de historiadores para que sejam discutidos, debatidos, repensados, refeitos, reabertos a novas interpretações, a novas invenções. Mas, por isso mesmo, o velho mandingueiro baiano virou de vez figurão, passou a fazer parte da história do país, da história desta ignomínia, desta chaga que não pode deixar de ser reaberta para que continue doendo na consciência dos homens que foram capazes e ainda são capazes de perpetrá-la: a escravidão. Só por isso a invocação e a evocação do preto velho, a sua reencarnação narrativa nas páginas deste livro magistral, escrito por um mestre do ofício de historiar, que pode botar banca como seu personagem negro fazia na cidade da Bahia, já é merecedora de elogios e de leitura atenta. E quando tal intenção política e tal postura ética dão origem a uma narrativa primorosa como o deste Domingos Sodré, deve ser motivo de recomendação, não apenas para todos os santos, não apenas para todos os iniciados nas artes e ofícios da historiografia, mas principalmente para os neófitos, os que ainda estão realizando os atos preparatórios para entrar na nossa seita, os que ainda não estão de cabeça feita, que precisam passar pelos rituais de introdução a este fascinante mundo do sacerdócio, por isso mal remunerado, em nome do passado. Aceitem o sorriso convidativo do autor em sua rede e se enredem no fascínio deste livro escrito com competência científica e sensibilidade artística.
Durval Muniz de Albuquerque Júnior – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pesquisador CNPq. Departamento de História – Campus Universitário, BR-101, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN – Brasil. E-mail: [email protected].
8x Fotografia | Lorenzo Mammi e Lilia Moritz Schwarcz
Organizado por Lorenzo Mammì e Lília Moritz Schwarcz, o livro 8x Fotografia consiste numa coletânea de 8 ensaios realizados por sociólogos, antropólogos, fotógrafos, poetas e jornalistas, que selecionaram, cada um, uma fotografia diferente, (com exceção da Sylvia Caiuby que selecionou duas), para descrever e analisar aspectos teóricos, artísticos, sentimentais que a fotografia pode revelar.
Por sua variada função e por abranger várias áreas do conhecimento, esse livro tem como principal objetivo mostrar como a fotografia tem um amplo campo de estudos e como ela é suscetível a diversas interpretações, pois a visão de um fotógrafo profissional difere da de um crítico de arte, sociólogo ou historiador. Leia Mais
Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva / Beatriz Sarlo
O passado, ao contrário do sentido mais generalizado ao qual a expressão induz, de modo algum está limitado a fatos que se perderiam prisioneiros de um tempo ido e finito. Isto porque o passado, pelo menos enquanto construção de significado, só existe enquanto tal porque há um presente que lhe serve de lugar de produção e contraste: uma lembrança a qual se recorre, uma comparação entre o que foi e já não é. Passado que, para a crítica literária argentina Beatriz Sarlo, de certa forma continuaria sempre ali, presente e emergente nos momentos em que menos se espera, fugindo muitas vezes ao controle da própria vontade, manifestando-se fora das amarras de uma operação da inteligência, quando “o retorno do passado nem sempre é um momento libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do presente” (p.9).
Para além de uma mera categoria relacionada à observação e posicionamento diante da passagem do tempo, Sarlo, no livro Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva, problematiza o passado enquanto representação a partir de uma perspectiva que, segundo ela, tem predominado nas últimas décadas: uma espécie de valorização demasiada do testemunho, dos discursos produzidos por sujeitos que teriam vivenciado in loco e diretamente os fatos dos quais se propõem serem divulgadores.
Narração da experiência ligada à materialidade do corpo e da voz, à presença efetiva do sujeito naquele passado por ele recontado. Se por um lado isso nos levaria a afirmar que não existe testemunho sem experiência, por outro também poderíamos pensar que não há experiência sem narração, pois a linguagem realiza a libertação do aspecto mudo da experiência, redimindo-a de seu caráter imediato e do esquecimento ao qual estaria destinada, transformando-a no comunicável – na acepção de uma vivência compartilhada por meio do relato.
A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu acontecer (ameaçado desde seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo irrepetível), mas a de sua lembrança. A narração também funda uma temporalidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar (p.24).
Sarlo argumenta que, ao contrário do que possa parecer, quando nas últimas décadas houve certa impressão de que o “império do passado se enfraquecia diante do instante”, anunciada principalmente pela chamada pós-modernidade, presenciou-se de fato à erupção de inúmeras formas de representar o passado: lembranças, comemorações, lamentos, tentativas de reconstituição. Uma época que viu nascer, ou ao menos disseminar-se, a museificação, a produção intensa de romances e filmes com temáticas históricas, a realização das histórias da vida privada.
O objetivo declarado da autora é discutir as relações entre passado e memória nas últimas décadas, reagindo não aos usos jurídicos e morais do testemunho, mas a seus outros usos públicos. O que propõe é analisar a transformação do testemunho em um ícone da Verdade ou no recurso mais importante para a reconstituição do passado; discute a primeira pessoa como forma privilegiada diante de discursos dos quais ela está ausente ou deslocada. A confiança no imediatismo da voz e do corpo favorece o testemunho. O que proponho é examinar as razões dessa confiança (p.19).
Muito da análise de Sarlo está ligada ao passado recente de seu país. Principalmente ao fato de que, após sete anos de ditadura militar (1976-1983), iniciouse, e ganhou mais força, uma espécie de acerto de contas entre os argentinos – principalmente entre as vítimas diretas das arbitrariedades do regime e seus agentes. O conhecimento dos atentados contra a liberdade e a vida teriam sido possíveis, em grande parte, aos relatos daqueles que sofreram diretamente com tais medidas. A memória teria sido, na Argentina posterior à ditadura militar, mas também em outros países latinoamericanos, uma espécie de dever ao qual não se podia, e não se queria, fugir. O testemunho tornou-se uma das principais estratégias para a condenação do terrorismo de Estado.
Entretanto, argumenta Sarlo, para além de configurar-se na base probatória dos julgamentos e condenações ao terrorismo de Estado na Argentina, o testemunho se transformou num relato de grande força e penetração que não se restringiu ao âmbito do judiciário, mas que se disseminou para outras instâncias da sociedade, operando “cultural e ideologicamente” (p.24).
E esses testemunhos, em virtude das circunstâncias as quais se reportavam, geraram uma espécie de suspensão das desconfianças, sendo raramente submetidos a algum tipo de crítica. Não se desconfiava por uma série de motivos: jurídicos, com a necessidade de servirem de provas, às vezes as únicas, dos crimes cometidos pelo Estado; políticas, como demonstração do que significou a interdição da democracia; e morais, em que se considera o direito das vítimas em se manifestarem e o dever de seus interlocutores em saber o que aconteceu. Em detrimento da análise criteriosa, a tomada dos relatos como signos da verdade, facilitada pelo fato de que aquelas pessoas “estiveram lá”. Como salienta Beatriz Sarlo, o que importava “não era compreender o mundo das vítimas, mas conseguir a condenação dos culpados” (p.67).
Valendo-se muitas vezes da acumulação de detalhes, vivenciados por quem foi testemunha ocular dos fatos, tem-se a produção de um “modo realista-romântico”, quando o sujeito-narrador confere sentidos aos detalhes pelo próprio fato de que os incluiu em seus relatos. Assim procedendo, ele não se sente constrangido a atribuir significados ou explicar ausências, sendo o primado do detalhe “um modo realistaromântico de fortalecimento da credibilidade do narrador e da veracidade de sua narração” (p.51).
A partir da constatação de que o relacionamento que as pessoas mantêm com o passado é muitas vezes conflituoso, a autora pondera que nem sempre se mostra harmoniosa a relação entre história e memória: a primeira nem sempre acredita na segunda, sendo que esta freqüentemente nutre desconfianças em toda reconstituição que não a leve em conta – e mais que isso, que não a coloque em seu centro.
Diferença que de certa forma se desdobra na produção de dois tipos de fazer histórico, duas formas de lidar e produzir significados sobre o passado: uma história acadêmica, produzida segundo os cânones e estratégias de reconhecimento próprios da universidade; e uma qualificada, a partir de seus êxitos comerciais, como sendo “de grande circulação”.
A histórica acadêmica, com suas regras de métodos, que incluem as disputas por poder dentro do espaço institucional, monitora ou pelo menos serve como ponto de observância aos modos de construção de um discurso sobre o passado. Como escreveu Michel de Certeau, seu lugar de fala inclui o objetivo de reconhecimento entre os chamados pares, de legitimação perante um modo de fazer considerado adequado. Sarlo observa que toda esta preocupação não se converte necessariamente na construção de uma escrita histórica que tenha apelo ou que suscite a atenção de um público mais amplo, para além dos ditos circuitos especializados.
Característica que seria mais típica de uma história pensada como sendo de grande circulação, mais atenta não estritamente a demandas de mercado, pois não se trataria somente da produção de um artigo que se sabe de antemão que vai vender bem.
Para além do âmbito mercadológico, haveria a constatação de que este tipo de história mostrar-se-ia mais sensível aos mecanismos pelos quais “o presente torna funcional a investida do passado e considera totalmente legítimo pô-lo em evidência”. Uma história que deve encontrar suas respostas na própria esfera pública atual, atendendo às expectativas e crenças do público, orientando-se por elas. Algo que não a tornaria “pura e simplesmente falsa, mas ligada ao imaginário social contemporâneo, cujas pressões ela recebe e aceita mais como vantagem do que como limite” (p.13).
Mas como essa história, também designada por Sarlo como “de massa”, realizaria aqueles propósitos? Segundo ela, por meio da recorrência a um princípio explicativo que buscaria garantir origem e causalidade, a serem aplicados a quaisquer fragmentos de passado, demonstrando ou não uma pertinência com os mesmos. Haveria assim uma “redução do campo das hipóteses”, que acabaria por sustentar o interesse público e realizar uma “nitidez argumentativa e narrativa”, algo do qual a história acadêmica careceria. Desse modo a história de massas, de acordo com Sarlo, que reflete especialmente sobre a produção argentina sobre os anos da ditadura, não prescinde do relato pelo fato de que este acaba impondo uma “unidade sobre as descontinuidades, oferecendo uma ‘linha do tempo’ consolidada entre seus nós e desenlaces” (p.14).
Os textos não acadêmicos sobre o assunto investiriam sobre o passado de maneira bem menos regulada pelo método do que por necessidades, demandas ou expectativas políticas, intelectuais, morais e afetivas. A autora sustenta que muito do que foi escrito sobre as décadas de 1960 e 1970, não apenas na Argentina como em outros países da América Latina que tiveram experiências de regimes autoritários, principalmente as histórias baseadas em testemunhos, correspondem àquelas características.
E aqui temos o que mais parece incomodar a escritora argentina: o fato de que esses escritos oferecem antes certezas e verdades apresentadas como indiscutíveis, porque baseadas em experiências vividas, do que a possibilidade de hipóteses, de indagações, cuja confirmação ou refutação dependam substancialmente da crítica, algo de que o testemunho parece muitas vezes estar imune.
O que ela propõe é uma espécie de exercício da desconfiança, principalmente em relação à tendência que acredita ser possível “reconstituir a textura da vida e a verdade abrigadas na rememoração da experiência”. Sarlo identifica seu nascedouro com o fim, ou pelo menos o enfraquecimento, das concepções estruturalistas a partir dos anos 70, em que de certa forma houve um ressurgimento do sujeito, não mais limitado por determinismos, seja de que matizes fossem. A partir de então foi imposta o que ela chama de guinada subjetiva, quando, por exemplo, a história oral e o testemunho trouxeram à tona a confiança na primeira pessoa que “narra sua vida (privada, pública, afetiva, política) para conservar a lembrança ou para reparar uma identidade machucada” (p.19). Algo que não se limita ao campo específico da disciplina História.
A dimensão intensamente subjetiva caracteriza o presente. Isso acontece tanto no discurso cinematográfico e plástico como no literário e midiático. Todos os gêneros testemunhais parecem capazes de dar sentido à experiência (p.38).
Para Sarlo, não se trata apenas de uma questão sobre a forma do discurso, mas também das condições de sua produção, das configurações políticas e culturais que lhe conferem fidedignidade. Além disso, ela questiona o fato de que se configuram margens para algumas contradições teóricas, pois, se por um lado há o consenso de que inexiste uma dizibilidade da Verdade, com a reconstituição dos fatos em si, por outro se admite sem maiores discussões que os discursos de experiência têm uma verdade identitária.
Assim, quando ninguém se mostra favorável em defender “a verdade de uma história, todos parecem mais dispostos à crença nas verdades de histórias no plural” (p.40).
Partindo de uma reflexão de Hannah Arendt, a autora critica o fato de que as narrativas baseadas principalmente na memória e nos testemunhos, bem como uma escrita de forte inflexão autobiográfica, estão sempre passíveis de caírem numa armadilha, representada pelo “perigo de uma imaginação que se instale ‘em casa’ com firmeza demais”, sem um necessário distanciamento que proporcione e consolide uma observação mais atenta, acurada e reflexiva.
ao ofício do historiador, acabariam eclipsados por certo dever de memória, muito mais afeito a uma relação sentimental e moral com o passado. Sua inquietação, quando observa aquilo que se tem escrito e publicizado sobre a ditadura na Argentina, é que sobressaem posicionamentos muito mais “de deferência, de respeito congelado” frente alguns episódios, principalmente referentes aos sofrimentos das vítimas, em detrimento da compreensão e de um debate mais criterioso, em que não sejam privilegiadas determinadas vozes como fontes indiscutíveis – que trazem muito mais as certezas que todos esperam ouvir do que ensejam novas indagações. Para ela, na memória estaria muito mais fragilizada a “possibilidade de discussão e de confrontação crítica, traços que definiriam a tendência a impor uma visão do passado” (p.43).
O testemunho seria mais suscetível ainda a outro perigo: o anacronismo. Sarlo ilustra essa constatação com um exemplo claro. Ela recorda que nas décadas de 1960 e 1970 não havia nos movimentos revolucionários argentinos a idéia de direitos humanos, não sendo possível projetá-la incólume para o passado, ainda que tal observação provavelmente seja dificultada pelos valores e idealizações produzidas no presente – risco maior, seguindo sua linha de raciocínio, assumido pelo privilégio dado ao relato, que ressoa ainda que involuntariamente idéias de épocas distintas, apresentadas como típicas de um período específico.
Desse modo, ainda que se considere, como no caso específico das vítimas da ditadura argentina, a necessidade (pessoal, social, política e jurídica) dos testemunhos, essa “legitimidade moral e psicológica não é suficiente para fundamentar uma legitimidade intelectual igualmente indiscutível” (p.42).
Tempo Passado é escrito com erudição e nenhum pedantismo, muito pelo contrário. Com o que eu chamaria de “elegância objetiva”, traz idéias claras, bem articuladas e expostas em argumentos desenvolvidos com fluidez. Destaca-se pela proposta de elucidar, num contexto específico – mas sempre com um olhar abrangente – a construção de demandas por explicações históricas, por inteligibilidades e interpretações dos acontecimentos; os usos que podem ser feitos, do conhecimento histórico de modo geral e da memória em particular; as disputas pela versão “correta” dos fatos e como as noções de verdade em história devem sempre ser redimensionadas a partir dos artífices desta produção.
Não é um debate propriamente inovador. Mas ora, não é imprescindível que o seja. Nem sempre a maior relevância está na busca incessante por aquilo que nunca foi dito – e sim no debate contínuo sobre pontos que não devem ser esquecidos ou negligenciados por já parecer consenso. Neste caso, reitera-se o sempre oportuno cuidado em perceber e pôr em discussão a maleabilidade dos usos do conhecimento histórico.
Fabio Henrique Gonçalves –Mestrando em História Social pela Universidade de Brasília (UnB). Bolsista da Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).
SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Tradução Rosa Freire d’Aguiar. – São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007. Resenha de: GONÇALVES, Fabio Henrique. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.14, p.212-219, jan./jun., 2009. Acessar publicação original. [IF].
O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício – GINZBURG (VH)
GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 454 p. ROIZ, Diogo da Silva. O labirinto da realidade, os princípios da História e as regras da historiografia. Varia História. Belo Horizonte, v. 25, no. 41, Jan. /Jun. 2009.
Do labirinto de que nos fala o mito (em que Teseu recebe de Ariadne um fio que o orienta pelo labirinto, onde encontrou e matou o minotauro) aos labirintos da realidade, que nos conduz a História e a sua escrita (em função da condição sempre fragmentária dos documentos e dos relatos), as distâncias (a)parecem, até certo ponto, intransponíveis para se determinar o princípio de realidade que deu base e originou cada uma daquelas diferentes narrativas (míticas e históricas). Mas essa condição de distanciamento entre o mito e a história talvez seja apenas aparente. É o que indicou Georges Balandier, em seu livro O dédalo, ao avaliar o processo de elaboração e manutenção de um mito no tempo e interpretar as mudanças drásticas, rápidas e sutis das sociedades (em especial, as contemporâneas), que lhe foi ensejada por meio da análise do mito do labirinto, não deixando de demonstrar as relações e as trocas complexas que se estabeleceriam entre o mito e a história ao longo do tempo. Sem ser indiferente a essa questão, Carlo Ginzburg se pautou no discurso do mito do labirinto, ao apreender a rica metáfora do “fio do relato, que ajuda a nos orientarmos no labirinto da realidade” (p.7), e sua relação com os infindáveis rastros, que as sociedades do passado nos legam em formas (definidas como) documentais. Nessa relação, entre os fios do relato e os rastros do passado, que os historiadores procurariam, de acordo com o autor, contar histórias verdadeiras (ainda que estas possam manter ligações estreitas com o falso), ao construir seu objeto de pesquisa e expor seus resultados sob a forma de uma narrativa, mesmo que peculiar. Para ele, hoje as relações entre verdadeiro, falso e fictício parecem muito mais tênues do que o foram para os historiadores oitocentistas.
Por isso argumenta, entre os quinze ensaios reunidos neste livro (e que foram produzidos entre 1984 e 2005), que há poucos decênios os historiadores passaram a dar maior atenção ao caráter construtivo e dinâmico de sua escrita, componente básico de seu ofício profissional. Alguns rastros dessa história recente do ofício de historiador formam o enredo principal deste livro, que se entrelaçam com a trajetória do autor, porque “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade, est[iveram] no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334) e contra “a tendência do ceticismo pós-moderno de eliminar os limites entre narrações (…) ficcionais e narrações históricas, em nome do elemento construtivo que é comum a ambas, eu propunha considerar a relação entre umas e outras como uma contenda pela representação da realidade”, que seria matizada por “um conflito feito de desafios, empréstimos recíprocos, hibridismos”. Mas para enfrentar tal desafio não era possível se enclausurar em “velhas certezas”, era sim “preciso aprender com o inimigo para combatê-lo de modo mais eficaz” (p.9). Para o autor desse O fio e os rastros, a contenda apontada acima estaria no cerne dos debates desencadeados, desde os anos de 1950, sobre o ofício de historiador, no qual verdadeiro, falso e fictício ganhariam contornos mais híbridos, ao se desfazerem as distinções até então aceitas entre elas, e que se tornaram totalmente enfadonhas para a compreensão do passado, de acordo com a interpretação ‘cética’, dita pós-moderna.
Desde que publicou Olhos de madeira, Relações de força e Nenhuma ilha é uma ilha,1 que Carlo Ginzburg vem, cada vez mais, avançando em sua crítica ao desafio cético sobre o aspecto construtivo do texto histórico, que ao ser apresentado como um discurso narrativo, a crítica pós-moderna o assemelhou ao texto literário, desfazendo, com isso, as distinções até então em voga e que calcavam no primeiro a pretensão à verdade (em função da utilização de fontes documentais, com os quais os historiadores presumiriam reconstituir o passado) e ao segundo a liberdade de criação imaginativa. Neste novo livro, o autor acrescenta os seguintes pontos: a) contar e narrar, servindo-se dos rastros do passado, para escrever histórias verdadeiras continua a ser um dos princípios do ofício dos historiadores; b) as relações entre as narrações históricas e as narrações ficcionais, ora se aproximando, ora se distanciando, é uma contenda que constitui, ao longo do tempo, uma disputa pela representação da realidade, na qual historiadores e romancistas mais se distanciaram do que aproximaram suas narrativas; c) a imposição da tese que descarta a possibilidade de as narrativas históricas apresentarem (ou falarem de) uma realidade, mas sim de quem deixou os indícios que são utilizados como fontes, desaperceberia o caráter profundo mantido nos documentos (mesmo os não autênticos) sobre “a mentalidade de quem escreveu esses textos” (p. 10); d) por isso, ler os testemunhos do passado a contrapelo, como sugeria Walter Benjamin, até para levar em consideração aquilo que não intencionavam expor quem os redigiu “significa supor que todo texto inclui elementos incontrolados” (p.11); e) e, diante das relações entre ficção e realidade, se estabeleceria um espaço representado pelo falso, “o não-autêntico – o fictício que se faz passar por verdadeiro” (p.13), que, de fato, confirmaria-se à existência de uma realidade exterior ao próprio texto; f) nesse sentido, “destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo” (p.14), não deixaria de ser uma das pretensões do ofício dos historiadores (quanto ainda de outros profissionais, mesmo que o façam de formas análogas). E foi seguindo as pistas deixadas pela obra póstuma de Marc Bloch, Apologia da história ou ofício de historiador, que o autor destes ensaios procurou entrelaçar seus textos numa nova defesa da História e de sua escrita. De Lucien Febvre (1878-1956), que figura constantemente em sua obra Relações de força (que é um debate aberto contra a crítica pós-moderna ao ofício de historiador), a Marc Bloch (1886-1944), que aparece neste texto como figura chave, os elos que se estabeleceram durante a trajetória do autor se apresentam de uma forma mais direta com a historiografia francesa. Mas não só com ela, pois, em função de suas origens familiares e educacionais, o autor manterá um débito direto com Arsenio Frugoni (1914-1970), Eric Auerbach (1892-1957), Walter Benjamin (1892-1940) e Arnaldo Momigliano (1908-1987). Além de uma exposição minuciosa sobre o desenvolvimento do ofício dos historiadores e suas contendas, este livro apresenta também o entrelaçamento e os débitos de Ginzburg para com os autores arrolados acima.
Já nos comentários feitos (no apêndice deste livro) à obra O retorno de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis, o autor aproveita para fazer de modo sutil, e até inesperado, uma revisão crítica aos apontamentos expostos por Hayden White, a partir de seu ensaio O fardo da história (publicado em 1966), ao ofício dos historiadores. Mas ao invés de refazer simplesmente o caminho pelo qual White sugeriu os contornos da divergência entre cientistas sociais e críticos literários aos historiadores, quando estes propunham que sua narrativa estaria em um nível médio, epistemologicamente neutro, de a história que escreviam estar entre a ciência e a arte, Ginzburg propôs seu ajuste de contas, demonstrando as relações instáveis que mediariam as trocas recíprocas, nas estratégias narrativas utilizadas tanto por historiadores, quanto por romancistas (e filósofos), a partir do século XV. E ainda, como sugeriu o autor, o leitor poderá ver nestes ensaios produzidos a partir da década de 1980, a gênese do projeto intelectual que deu origem aos textos reunidos neste livro. Por isso, não será por acaso, que se encontre desenvolvida entre os ensaios a proposta de mostrar “como resumos de fatos de crônica mais ou menos extraordinários e livros de viagem a países distantes contribuíram para o nascimento do romance e – através desse intermediário decisivo – da historiografia moderna” (p.319). Um intento justificado ainda pelo fato de o século XX vislumbrar de modo exemplar “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade”, e que esteve “no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334).
Por outro lado, a divergência apontada por White não era recente. Ginzburg demonstra que desde que o gênero histórico surgiu há pouco mais de dois milênios, que as divergências entre o discurso histórico, o literário e o filosófico são recorrentes. Por implicarem, cada qual a seu modo, representações da realidade, filósofos e romancistas acabaram dando pouca atenção ao trabalho preparatório da pesquisa elaborada pelos historiadores, e estes, por sua vez, dedicaram pouca atenção ao caráter construtivo de seu ofício, ao qual é demarcado por uma escrita, que é mediada por uma forma narrativa (ainda que peculiar). De acordo com ele, nas “últimas décadas, os historiadores discutiram muito sobre os ritmos da história [tendo a obra de Fernand Braudel (1902-1985) como base]; [mas] pouco ou nada, o que é significativo, sobre os ritmos da narração histórica” (p.321), com a qual se avolumaram críticas internas (dos próprios historiadores, hávidos por responderem aos céticos) e externas (vindas de críticos literários e filósofos). Por isso, a “crescente predileção dos historiadores por temas (e, em parte, por formas expositivas) antes reservados aos romancistas (…) nada mais é que um capítulo de um longo desafio no terreno do conhecimento da realidade” (p.326). Nesse sentido, Ginzburg responderá a indagação de White (e de François Hartog) se apoiando em Arnaldo Momigliano, ao dizer que:
A recusa, essencialmente relativista, de descer a esse terreno faz da categoria ‘realismo’, usada por White, uma fórmula carente de conteúdo. Uma verificação das pretensões de verdade inerente às narrações historiográficas como tais implicaria a discussão dos problemas concretos, ligados às fontes e às técnicas da pesquisa, a que os historiadores tinham se proposto em seu trabalho. Se esses elementos são desdenhados, como faz White, a historiografia se configura como puro e simples documento ideológico (p.327).
O que ressaltará Ginzburg, lembrando Momigliano, de que os historiadores trabalham com fontes, “descobertas ou a serem descobertas”, e as ideologias contribuem “para impulsionar a pesquisa, mas (…) depois deve ser mantida à distância” (p.328), para que seja mantido o princípio de exposição da realidade, que está na encruzilhada entre a busca da verdade e a criação imaginativa, a que os historiadores estariam, de certo modo, ‘enclausurados’. Esse princípio condicionaria a interligação de todos os momentos do trabalho historiográfico (“da identificação do objeto à seleção dos documentos, aos métodos de pesquisa, aos critérios de prova, à apresentação literária”), aos quais, a redução “unilateral desse entrelaçamento tão complexo à ação imune a atritos do imaginário historiográfico, proposta por White [em Meta-história, de 1973] e por Hartog [em O espelho de Heródoto, de 1980], parece redutiva e, no fim das contas, improdutiva”. Foi precisamente graças aos atritos suscitados pelo princípio de realidade “que os historiadores, de Heródoto em diante, acabaram apesar de tudo se apropriando amplamente do ‘outro’, ora em forma domesticada, ora, ao contrário, modificando de forma profunda os esquemas cognoscitivos de que haviam partido” (p.328). Em resumo, este seria o ponto que uniria os outros quinze ensaios reunidos pelo autor neste livro, e demonstrariam como ao longo do desenvolvimento do ofício de historiador ocorreriam trocas recíprocas no campo estilístico (e, em menor proporção, expositivo dos dados) utilizados pela história, pela literatura e pela filosofia. Embora haja uma interligação entre os textos, verificável facilmente pela maneira como o autor os organizou, tendo em vista uma ordem cronológica crescente de apresentação dos dados do passado e do presente, esta não é totalmente linear como se verá. Ainda assim, dois princípios expositivos seriam plenamente visíveis: a) a do desenvolvimento do método histórico e suas trocas recíprocas com a literatura e a filosofia; b) e, neste movimento complexo, estabeleceria o lugar específico de sua obra nesta contenda, e como se posicionou durante essas últimas décadas. Para ele, a “questão da prova permanece mais que nunca no cerne da pesquisa histórica, mas seu estatuto é inevitavelmente modificado no momento em que são enfrentados temas diferentes em relação ao passado, com a ajuda de uma documentação que também é diferente” (p.334).
Ao evidenciar, no primeiro ensaio, que constatamos como reais os fatos contados num livro de história, como resultado do uso de elementos contextuais e textuais, o autor voltou-se com maior atenção para os textuais, com os quais historiadores antigos e modernos se utilizaram, e por estarem ligados a certos procedimentos literários, que por convenção presumiam estabelecer um ‘efeito de verdade’, em sua narrativa tida como parte essencial de seu ofício. Na Antiguidade Clássica esse componente textual (que daria um ‘efeito de verdade’ no relato escrito), relacionava-se a estratégia então usada de descrever ‘com vividez’ os acontecimentos. Os elos que se estabeleciam neste exercício (narração histórica – descrição – vividez – verdade) constituíam a base da escrita da história na época. Contudo, enquanto neste período, para gregos e para romanos, a verdade histórica se fundava na ‘vividez’ com que os eventos eram narrados, para nós, modernos, o autor dirá que esse efeito é encontrado por meio da utilização e interpretação dos documentos. Para ele, a historiografia moderna nasceria da convergência entre duas tradições intelectuais diferentes, a história filosófica e a pesquisa sobre a Antiguidade. Segundo ele, Momigliano teria notado o início desta mudança, no relato e na prática de pesquisa, no século XVII. Mas Ginzburg a verá no século anterior, por meio da interpretação da obra do italiano Francesco Robortello (1516-1567), que teve, de acordo com o autor, a sensibilidade de descrever parte daquelas alterações. Ao estabelecer o diálogo de Robortello com seus contemporâneos e com os autores da Antiguidade, Ginzburg acredita que demonstrou as raízes de um complexo problema, no qual surgiria à historiografia moderna, ao se distanciar das evidências puramente estilísticas e retóricas, que dariam maior vividez aos acontecimentos narrados, e dar maior atenção às “citações, notas e sinais lingüístico-tipográficos que as acompanham podem ser considerados – como procedimentos destinados a comunicar um efeito de verdade – os equivalentes” (p.37) da ‘vividez’ (a enargeia) na Antiguidade. E que estava ligada a uma cultura baseada na oralidade e na gestualidade, na qual a vividez do relato comunicaria a ‘ilusão’ da presença do passado. Já as citações e as remissões ao texto estarão ligadas a uma cultura dominada pelos gráficos e centrada na escrita, e o passado seria, portanto, “acessível apenas de modo indireto, mediado” pelos documentos. Para o autor foi graças “sobretudo à história eclesiástica e antiquária, [que] a prova documental (…) impôs-se sobre a” (p.38) mera evidência narrativa alcançada pela ‘vividez’ do relato.
A maneira como o francês Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) recolheu de suas experiências de viagem e de suas leituras os ingredientes fundamentais para a elaboração de seus ensaios é, para o autor, um caso exemplar, por que: a) demonstra como nos séculos XV e XVI eram construídas as relações entre ‘brancos’ europeus e ‘índios’ americanos, e, sobre isso, como o autor d’Os ensaios (cuja primeira edição é de 1580) a refez; b) e este transitou entre a ‘vividez’ do relato e a remissão a textos, para a comprovação de seus argumentos (no terceiro ensaio).
O diálogo entre ficção e história (exposto no quarto ensaio) ganhará mais envergadura no século XVII, quando em 1647 na cidade de Paris, Jean Chapelain (1595-1674) passou a avaliá-la em seu texto Sobre a leitura de velhos romances (cuja primeira edição póstuma foi publicada em 1728), ao ter como base o romance Lancelot. A maneira como François de La Mothe Le Vayer (1588-1672), a partir de 1646, tomará partido nesta questão dará ao ensaio um tom detetivesco, principalmente, ao destacar que “uma das tarefas da história é a exposição daquilo que é falso” (p. 90). Para Ginzburg:
Nesse caso, portanto, a distância crítica com respeito à matéria tratada não é obra de Diodoro mas dos seus leitores, sendo o primeiro de todos La Mothe Le Vayer. Para ele a história se nutria não só do falso mas da história falsa – para usar mais uma vez as categorias dos gramáticos alexandrinos retomadas polemicamente por Sexto Empírico. As ficções (…) referidas, e partilhadas, por Diodoro podiam tornar-se matéria de história. Chapelain, que dava um desconto à veracidade de Lívio, entendeu a argumentação do Jugement às ficções (…) de Homero e de Lancelot: ambas poderiam tornar-se matéria de história (p.91).
Mais ainda:
A fé histórica funcionava (e funciona) de modo totalmente diferente. Ela nos permite superar a incredulidade, alimentada pelas objeções recorrentes de ceticismo, referindo-se a um passado invisível, graças a uma série de oportunas operações, sinais traçados no papel ou no pergaminho, moedas, fragmentos de estátuas erodidas pelo tempo, etc. Não só. Permite-nos, como mostrou Chapelain, construir a verdade a partir das ficções (…) a história verdadeira a partir da falsa (p.93).
A partir da análise do milanês Girolamo Benzoni (1519-1570) em A história do novo mundo (de 1565), e suas implicações perante a compreensão do xamanismo e do uso de produtos entorpecedores na Europa, Ginzburg procurou demonstrar, ao relacioná-la a História geral e natural das Índias de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), cuja primeira edição foi publicada em 1535, e aos débitos comuns destes autores para com Pomponio Mela e Solino sobre os trácios e Máximo de Tiro sobre os cita, que estão, por sua vez, relacionados a Heródoto, não deixa de ser tão surpreendente, quando se visualiza as possíveis raízes mongólicas e orientais dos rituais xamânicos dos citas, cujos autores do século XVI os aproximaram do xamanismo americano. Com isso, o autor observa que o “episódio interpretativo que reconstruí com minúcia talvez excessiva pode ser considerado quase banal: não a exceção, mas a regra” (p.111) para a construção e compreensão de qualquer processo histórico, que é matizado por testemunhos e esquecimentos, trocas recíprocas e inovações (algumas vezes até inesperadas).
A leitura de Eric Auerbach empreendida em Mímesis (obra pioneira, cuja primeira edição foi publicada em 1946) sobre Voltaire, é refeita por Ginzburg (no sexto ensaio) para demonstrar os contextos de ambos os autores e seus respectivos textos, suas leituras e seus débitos, com vistas a indicar como o estranhamento era uma estratégia estilística que Voltaire, inspirando-se em Swift, utilizava-se para propor uma representação sobre a realidade de sua época, na qual a diversidade cultural e religiosa, começava a ser homogeneizada, em função da ação da economia e do mercado mundial. Tal questão demonstraria as metamorfoses sobre a maneira com que Voltaire compreendeu a tolerância, e a forma como Auerbach a despercebeu em sua época.
O texto de Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) sobre a Viagem do jovem Anacársis à Grécia (de 1788) foi utilizado pelo autor (no seu sétimo ensaio) para demonstrar a inatualidade de sua estratégia narrativa, que não foi “nem um tratado sistemático de antiquariato, nem uma narrativa histórica” (p.146), mas teve uma inspiração direta nos antiquários, verdadeiros e falsos, e não nos historiadores que começavam a falar da realeza e de sua autoridade. Mesmo procurando documentar as indicações de seu texto (com mais de 20 mil notas, como lembrará Ginzburg), o trabalho de Barthélemy, em sua “híbrida mescla de autenticidade e ficção” procuraria superar os limites da historiografia existente. Mas durante seu processo de elaboração surgiria um outro texto, Declínio e queda do Império Romano, de Edward Gibbon (1737-1794), que se utilizaria da mesma cultura antiquária que inspirou Barthélemy, e a complementaria com outros elementos, como as idéias filosóficas de sua época, e que o tornariam o fundador da historiografia moderna “por ter sabido fundir antiquariato e história filosófica” (p.153). Nesse sentido, o caminho tomado por Barthélemy, que “propunha a fusão entre antiquariato e romance”, foi uma estratégia, em longo prazo, perdedora, e hoje, para o autor, inatual, mas que nem por isso deixaria de ser “um antepassado involuntário [da etnografia histórica, prática] de antropólogos ou pesquisadores, mais próximos de nós” (p.153).
Para contornar as críticas pós-modernas “de abolir a distinção entre história e ficção” (p.157) ele partiu (no oitavo ensaio) de um caso analisado em escala microscópica, para “decifrar a identificação de Julien Sorel com Israël Bertuccio à luz dessa leitura verossímil” (p.159), da obra, Marino Faliero, de George Gordon Byron (1788-1824), escrita em 1820, para chegar a conclusões análogas. O que na época Lord Byron (forma como era mais conhecido) via como a análise de ‘fatos reais’, para nós pertenceriam ao mundo da ficção literária, mas “justamente porque é importante distinguir entre realidade e ficção, devemos aprender a reconhecer quando uma se emaranha na outra” (p.169). Nesse caso, o exemplo de Marino Faliero permitiria que se observassem os contornos entre realidade e ficção, e as mudanças que se operaram nessa relação, nas primeiras décadas do século XIX, quando a historiografia moderna passará a circunscrever e circunstanciar as regras do método histórico, e a delinear as restrições e diferenças da escrita da história sobre a criação ficcional dos romances.
Ainda seguindo por esses rastros, o autor verá o desafio lançado por Henri-Marie Beyle (1783-1842), mais conhecido como Stendhal, aos historiadores em seu ‘romance’ O vermelho e o negro, que era “uma representação pontual da sociedade francesa sob a restauração” (p.178), e que será, depois, visto como uma construção (puramente) literária, não deixa de ser também um caso exemplar (quando cotejou seu processo de elaboração e a possível data de sua conclusão e publicação). Em especial, porque mostra como o ‘discurso direto livre’ foi descartado pela pesquisa histórica, por não deixar, por definição, traços documentais. Por isso, “um procedimento como o discurso direto livre, nascido para responder, no terreno da ficção, a uma série de perguntas postas pela história, pode ser considerado um desafio indireto lançado aos historiadores” e ao qual o autor acrescenta: “Um dia eles poderão aceitá-lo de uma maneira que hoje nem conseguimos imaginar” (p.188).
No rastro da interpretação de Eric Hobsbawm, em sua autobiografia Tempos interessantes (publicada em 2002), na qual indica uma transição subterrânea em processo, tal qual a que ocorreu durante o período de 1890 a 1970, entre os procedimentos da história dos eventos políticos para a história social, em função das críticas efetuadas pelos historiadores ‘modernizadores’ sobre os ‘tradicionais’ que se deu àquela mudança epistemológica, que Ginzburg se voltará para a gênese da micro-história italiana (no décimo terceiro ensaio). Por Hobsbawm o ter inserido dentro da análise pós-moderna, crítica quanto aos procedimentos da história, que este irá reconstituir o desenvolvimento da micro-história italiana, com vistas a demonstrar que mesmo inserido neste campo de estudo (e não na macro-história econômica e social, defendida por Hobsbawm) não deixou de refutar as críticas dos céticos, pós-modernos. Por isso refez o caminho trilhado pela micro-história, desde os anos de 1970, quando com Giovanni Levi passaram a discutir a questão. Ao mesmo tempo indicou a gênese do termo ‘micro-história’ no campo das ciências humanas. De George R. Stewart (que primeiro se utilizou da noção em 1959) a Luis González y González (que a usou em sua obra Uma aldeia em tumulto em 1968), perpassando pelas obras de Raymond Queneau, Primo Levi, Ítalo Calvino, Andréa Zanzotto, Richard Cobb, Emmanoel Le Roy Ladurie, François Furet e Jacques Le Goff, as reviravoltas das discussões sobre a compreensão do termo foram diversas. E a maneira pela qual a micro-história italiana se desenvolveu foi diversa e independente da maneira como ocorreram as discussões na Inglaterra e na França.
Dito isto, convém destacar que ao lado desta reconstituição da história do ofício de historiador, o autor insere um conjunto significativo de exemplos, para discutir as bases da pesquisa histórica, e responder e refutar as críticas pós-modernas à escrita da história (ao rever os conceitos de verdade, autenticidade, testemunho, provas, documento, narrativa, cientificidade e realidade). Da conversão dos judeus (cap.2) de Minorca em 417-8, que se seguiu à chegada das relíquias de santo Estêvão, descritas por Peter Brown em O culto aos santos (de 1981); as relações (apresentadas no cap.10) entre o Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu de Maurice Joly (lançado anonimamente em Bruxelas em 1864) e os Protocolos dos sábios de Sião, de 1903, em que uma “refinada parábola política se transformou numa tosca falsificação” (p.209); aos testemunhos individuais que expressavam a única versão sobre acontecimentos traumáticos emitida pelo sobrevivente, o princípio de realidade é o centro da discussão (no cap.11); a maneira como Siegfried Kracauer, em sua obra póstuma História: as últimas coisas antes das últimas, lançada em 1995, na qual o autor estabelece uma reconstrução dinâmica e recíproca entre história e fotografia (e cinema) (no cap.12); até as discussões sobre as proximidades e diferenças entre o inquisidor e o antropólogo na coleta e organização dos testemunhos (cap.14), e as relações entre a feitiçaria e o xamanismo (cap.15), o que se verá será uma discussão que, no rastro da obra póstuma de Bloch, demonstrará, na contramão da crítica pós-moderna, que o princípio de realidade ainda constitui um campo legítimo da pesquisa histórica, e em seu processo construtivo, continua a manter uma ligação estreita entre verdade e provas.
Naturalmente, que pelo que até aqui foi dito, muitos poderão acusar Carlo Ginzburg de ser um (mero) atualizador dos antiquários dos séculos XVII e XVIII. Que seu método expositivo é impreciso, às vezes exagerado, ao apontar continuidades e descontinuidades milenares entre diferentes posturas teóricas, ou entre certos costumes, formas de agir e pensar, dos homens e das mulheres de outrora, como já indicou Perry Anderson,2 ressaltando que a “explicação que ele oferece é convencional e descuidada – pouco mais do que referências genéricas” (p.88). Ao empreender sua resposta ao desafio ‘cético’, dito ‘pós-moderno’, Carlo Ginzburg alerta para a necessidade de maior precisão do método e das pesquisas documentais, as quais favoreceriam a elaboração das ‘provas’, quando expostas em uma narrativa. Talvez seja o que indica, ao dizer que sabendo “menos, estreitando o escopo de nossa investigação, nós esperamos compreender mais”3 Contudo, seu método não passou ileso, mesmo entre os historiadores profissionais,4 o que não quer dizer que sua contribuição tenha sido irrelevante,5 tanto para a renovação dos estudos históricos, quanto para o desafio lançado pela ‘virada lingüística’, nos anos de 1960 e 1970, e que ele avança ainda mais neste livro.
1 GINZBURG, C. Olhos de madeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. [ Links ] 2 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg. In:. Zona de compromisso. Tradução Raul Fiker. São Paulo: Edunesp, 1996, p.67-98. [ Links ] 3 GINZBURG, C. Latitudes, escravos e a Bíblia: um experimento em micro-história. Revista Artcultura, UFU, v.9, n.15, p.86, 2007. [ Links ] 4 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg, p.67-98. [ Links ] 5 LIMA, H. E. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. [ Links ]
Diogo da Silva Roiz– Doutorando em História da Universidade Federal do Paraná. Rua Tibagi, n. 404, Edifcio Aruanã, ap. 100, Centro, Cep. 80060-110. Curitiba/PR. [email protected].
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX / João J. Reis
De africano escravizado a liberto na Bahia. Senhor de escravos e chefe de junta de alforria. Sacerdote de candomblé, sendo afamado babalaô, e homem católico, membro de irmandade negra. Essas são algumas facetas da vida de Domingos Sodré, narradas pelo historiador João José Reis, conhecido especialista da escravidão. Se a Bahia já possuía tradição em estudos sobre o candomblé, o livro de João Reis apresenta uma nova perspectiva.
Amparado em ampla pesquisa documental e utilizando a metodologia micro-histórica, o autor descortina a vida desse personagem, ao mesmo tempo em que analisa a formação do Candomblé na Bahia do século XIX.
No capítulo inicial, “A polícia e os candomblés no tempo de Domingos”, Reis apresenta ao leitor o aparato policial da Bahia oitocentista, responsável por reprimir as práticas culturais dos africanos, em especial os batuques e principalmente o candomblé, visto pelas elites como um obstáculo à civilização almejada na província. Mas o perigo representado pelo candomblé e sua supressão não era ponto pacífico entre as autoridades. As políticas de repressão e permissão em relação às praticas religiosas de matriz africana foram pontos delicados. Como mostra o autor, “as autoridades policiais com frequência se desentendiam” (p. 25), e subdelegados eram amiúde acusados de permissividade em relação aos candomblés que batiam alto sob seus olhos e ouvidos.
Entretanto, outras autoridades estavam especialmente decididas a extinguir tais práticas do seio da população, adotando uma linha dura contra os candomblés. Temos como exemplos o chefe de polícia Antônio de Freitas Henriques e o subdelegado da freguesia de São Pedro, Pompílio Manoel de Castro, responsáveis pela prisão de Domingos Sodré em 25 de junho de 1862. Mas a despeito da repressão mais ferrenha de alguns personagens em particular, o candomblé conseguiu sobreviver na Bahia oitocentista. Como explica João Reis, “a tolerância constituía um movimento discreto entre os envolvidos com o candomblé e as autoridades diretamente responsáveis pelo policiamento nos diversos distritos da cidade, fossem subdelegados ou inspetores de quarteirão” (p. 52), isto é, gente que lidava mais diretamente com os “sacerdotes, devotos e clientes”.
No capítulo seguinte, “De africano em Onim a escravo na Bahia”, João Reis narra as aventuras e desventuras de Domingos entre as duas margens do Atlântico, desde seu nascimento no final do século XVIII na cidade de Onim (atual Lagos, Nigéria), passando pelo conflito que envolveu os meio-irmãos Osinlokun e Adele pelo trono de Lagos, em 1823, até seu desembarque na Bahia. Domingos foi adquirido pelo coronel de milícias Francisco Maria Sodré Pereira, vivendo durante esse período em escravidão no engenho Trindade, no Recôncavo baiano, ao lado de uma maioria de escravos que, como ele, eram nagôs, o nome étnico dado aos africanos falantes de iorubá, convivendo ainda com escravos de outras nações africanas. Embora não tenha encontrado informações sobre essa época da vida do africano, o autor utiliza informações referentes a outros escravos que trabalhavam nesse engenho para recriar a atmosfera em que vivia Domingos – recurso frequentemente utilizado pelo autor, como mostrarei adiante.
A alforria de Domingos data de 1836, concedida após a morte de seu senhor. E como liberto, Domingos teria agora de se adaptar mais uma vez às novas condições. A paranóia que se seguiu ao levantes dos malês (1835) tornou a vida dos africanos libertos – e dos nagôs, em particular – ainda mais difícil, com o recrudescimento de medidas de controle, como a repressão aos festejos e comemorações africanas, os chamados batuques. Diante de toda essa legislação anti-africana, o autor conclui que “quando se tratava de africano, uma linha tênue dividia a condição de escravo daquela de liberto” (p. 92).
Domingos conseguiu negociar alguns espaços de autonomia na sociedade escravista, o que lhe permitia atuar como adivinho. Esse é o tema do capítulo seguinte. No quilombo de Domingos – foi assim que as forças policiais descreveram as moradias coletivas de africanos – as autoridades policiais encontraram “diversos objetos de feitiçaria”. O autor descreve os objetos rituais encontrados na casa de Domingos – roupas, jóias, panos-da-costa etc. -, mas presta especial atenção aos objetos de culto e seus significados. Esse, aliás, é um ponto alto do livro. A desenvoltura com que o autor navega na bibliografia africanista – e mais especificamente naquela referente à religião tradicional dos orixás, o èsin ibílè – é realmente notável. Graças a esse conhecimento e sensibilidade etnográfica, foi possível a João Reis imaginar – ou em seus próprios termos, “adivinhar” – o significado dos objetos rituais, a exemplo dos búzios, contas e “santos de pau”.
Domingos atuava principalmente como adivinho, “babalaô”, um sacerdote de Ifá, divindade da adivinhação, sendo provavelmente um maioral entre eles, um “papai”, como se referia o jornal O Alabama aos líderes dos candomblés. Ele sem dúvida adaptou e inovou certos procedimentos rituais na diáspora, embora mantivesse certas regras de adivinhação, que trouxe da África. Sua competência como babalaô seria testada pelos seus parentes de nação, os nagôs, “acostumados com estavam a consultar constantemente adivinhos em suas próprias terras” (p. 136).
Domingos Sodré foi preso por sua prática de adivinhação e suposta feitiçaria, cuja relação é analisada no capítulo 4. O Código Criminal do Império não tinha uma legislação específica sobre essas práticas, vistas como “superstições” no discurso desqualificador da época. Além disso, candomblé e feitiçaria era uma combinação perigosa, pois através de sortilégios os escravos adquiriam remédios para “amansar senhor” e promoviam a alforria à revelia senhorial – a principal chave na qual aparentemente atuava Domingos.
Após sua prisão, Domingos teve de assinar um termo de obrigação no qual se comprometia a “mudar de vida”, abandonando a vida de “candomblé e feitiçaria”, sob pena de ser expulso para a África, dispositivo utilizado pelas autoridades para punir os africanos envolvidos em candomblé, sobretudo seus líderes. Alguns tiveram esse destino, como Grato e Gonçalo Paraíso. A liberta nagô Constança do Nascimento também foi deportada para a África, mas não sem antes protestar bastante, levando o caso até o ministro da Justiça. Apesar dessa ferrenha repressão, o candomblé conseguiu resistir, entre outras razões, graças ao recrutamento de gente poderosa, branca e “engravatada”.
Em “Feitiçaria e alforria”, João Reis examina, através do processo movido por Domingos Sodré contra Elias Seixas, a atuação do papai enquanto chefe de uma junta de alforria, organização de crédito que visava a libertar africanos escravizados. Era provavelmente baseada no esusu, instituição de crédito iorubá. Sua atuação como chefe de junta de alforria é exemplo do respeito e importância enquanto líder religioso que Domingos usufruía entre outros africanos. Mas as atividades de Domingos, seja como adivinho ou como chefe de junta interferia num domínio exclusivo dos senhores, a alforria, expediente fundamental da política de controle paternalista, algo que preocupava as autoridades baianas.
Na introdução do livro, João Reis afirma que “o leitor perceberá que nosso personagem sai frequentemente de cena para dar lugar ao seu mundo e a outros personagens que o povoam, através dos quais sua história é em grande medida contada” (p. 16). É exatamente o que acontece no sexto capítulo, “Uns amigos de Domingos”. Nele, o autor narra a história de três africanos libertos, também envolvidos com candomblé: Manoel Joaquim Ricardo, haussá, envolvido com o tráfico de escravos enquanto ainda era ele mesmo um cativo, tornando-se mais tarde um próspero comerciante e um dos libertos mais ricos da época; Cipriano Pinto, também haussá, que teve seu candomblé invadido em 1853 e terminou sendo levado para o Aljube e posteriormente deportado para a África. Por fim, Antão Pereira, liberto bem sucedido, mas que terminou preso no final de 1872 sob a acusação de estupro, embora pesasse sobre ele também a fama de candomblezeiro. Terminou seguindo a sina de outros líderes de candomblé: a deportação para a África.
Os três casos reforçam a ideia de que os libertos lideravam o candomblé oitocentista, talvez em virtude da mobilidade e capacidade de levantar recursos. Ademais, demonstram como as fronteiras étnicas não impediam o contato entre as lideranças, com a circulação de pais e mães-de-santo de diferentes grupos étnicos, como Domingos, nagô, Joaquim Ricardo e Cipriano Pinto, haussás, Mariquinhas Velludinho, jeje, e tantos outros.
O capítulo final, “Domingos Sodré, africano ladino e homem de bens”, destrincha outras passagens da vida do liberto, como sua experiência no grêmio católico, embora não abandonasse sua atividade como sacerdote do candomblé. Domingos tinha as religiões como complementares, e não como sincréticas. Embora nascido na outra margem do Atlântico, Domingos lutava para legitimar-se membro da nação brasileira, como se comprova pelo ato de vestir uma farda de veterano da independência no momento de sua prisão. E assim como outros libertos, africanos ou não, Domingos também era senhor de escravos, embora fosse um pequeno escravista. Suas escravas eram todas nagôs como ele, tendência comum entre os libertos, que escravizavam gente da mesma nação. Mas Reis questiona se realmente essas escravas eram “sua própria gente”, isto é, se ele escravizou gente vinda de Lagos ou não. Caso sim, ele abandonou certas regras africanas de escravização.
Com o fim do tráfico transatlântico de escravos, Domingos buscou novas atividades para investir, como os bens imóveis. Mas na década de 1880, já velho e provavelmente doente, o liberto depositou certa quantia na Caixa Econômica, instituição financeira privada.
Entretanto, ao morrer em 1887, com estimados noventa anos, não deixou muito para sua esposa Delfina, presa com ele em 1862. Ela morreria em agosto de 1888, na miséria, após anos auxiliando seu marido, quem sabe até ritualmente.
Em sua conclusão, João Reis faz uma crítica ao conceito de crioulização, que poderia ser utilizado para definir a vida de Domingos Sodré. Ele poderia ser ainda definido como “crioulo atlântico”, outro termo consagrado na bibliografia internacional. Para substituí-los, João prefere o uso da noção de ladinização. Na sociedade escravista, o ladino era o africano que já tinha aprendido a língua e os costumes dos brancos, sem esquecer necessariamente seus valores da África. Nesse sentido, o uso de ladinização serve para “todas as gerações de africanos natos que […] tiveram com o tempo de adaptar, reinventar e criar de novo seus valores e práticas culturais, além de assimilar muitos dos costumes locais, sob as novas circunstâncias e sob a pressão da escravidão deste lado do Atlântico” (p. 317). E por sua grande capacidade de adaptar elementos culturais do mundo dos brancos às práticas que trouxe da África, negociando posições e cultivando relações dentro e fora da comunidade africana, Domingos era um mediador cultural, “um perfeito ladino” (p. 319).
Depois de ler essa obra e escrever essa resenha, posso afirmar que estamos diante de um trabalho cuidadoso, na melhor tradição da história social, onde personagens se cruzam todo o tempo no universo social e cultural de Domingos Sodré. O leitor encontrará profundidade analítica, num texto que realça as conexões entre África e Brasil – uma tendência nos estudos sobre a escravidão -, sobretudo para os libertos como Domingos. Há de acentuar também o trabalho etnográfico desenvolvido nesse livro, que buscou interpretar os significados dos objetos de culto relacionados ao biografado, bem como aos outros líderes do candomblé na Bahia oitocentista. Aliado a esses aspectos, o texto apresenta uma narrativa leve e fluida, característica presente em outros trabalhos de João Reis. Enfim, só nos resta agora aguardar e tentar adivinhar qual a próxima surpresa o autor terá a nos oferecer.
Carlos Francisco da Silva Jr. – Mestrando em História (UFBA). E-mail: [email protected].
REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo, Companhia das Letras, 2008. 463 p. Resenha de: SILVA JR., Carlos Francisco da Silva. Outros Tempos, São Luís, v.7, n.10, p.287-291, 2010. Acessar publicação original. [IF].
O Sol e a Sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII | Laura de Mello e Souza
No ano de 2006, foi publicado um livro que surge de forma a significar um divisor de águas quando o tema em questão é o da política e administração na América portuguesa do século XVIII, como expresso em seu subtítulo. Trata-se do livro O Sol e a Sombra, de autoria da historiadora Laura de Mello e Souza, onde são aplicadas novas perspectivas analíticas sobre o tema da “administração” colonial, assentadas em interpretações que incitam ao debate e à crítica.
O título do livro já é capaz de sintetizá-lo muito bem. O sol e a sombra se refere a um escrito – utilizado no livro como epígrafe – do famoso padre António Vieira, em que se relaciona, metaforicamente, a imagem do sol e a sua sombra variável à prática administrativa no império colonial português. Em seu raciocínio, Vieira adverte que quanto mais distante o sol está, maior, portanto, será a sombra projetada. O jogo entre o sol e a sombra, de que fala Viera, refere-se àqueles que compõem os governos ultramarinos, onde as grandes variações das sombras, dadas por distâncias cada vez maiores, significam, metaforicamente, que os ministros projetam, em possessões coloniais, imagens extrapoladas dos reis, de quem são representantes.
O fato de os oficiais formarem vários laços hierárquicos no aparelho administrativo favorecia a centralização, ao mesmo tempo em que se construía o seu contraponto, já que os oficiais poderiam, por exemplo, tomar decisões segundo vontade própria, haja vista as grandes distâncias entre reino e conquistas, além de vários casos particulares não estarem previstos nas Ordenações. Tem-se, então, um quadro “incoerente”, “inconsistente”, “contraditório”.
Por outro lado, como um quadro considerado como “contraditório” conseguiu se manter durante tanto tempo? Para Laura de Mello e Souza a resposta reside no fato de se entender esse quadro como aparentemente contraditório. Para ela, essa aparente “contradição”, significa, na verdade, um ajustamento entre interesses da metrópole e interesses das porções coloniais, disso resultando elementos peculiares. Para chegar a essa visão concernente ao funcionamento da política e administração colonial, a autora buscou conciliar rigor teórico e uma profunda pesquisa empírica, frutos do transcurso de mais de dez anos dedicados ao tema.
Em um estudo de 1980, intitulado Desclassificados do Ouro, Laura de Mello e Souza já havia constatado o caráter ambíguo das ações políticas e administrativas das personagens representantes do centro decisório do poder, passando a denominar de “pendular” a prática em que as autoridades buscavam uma “justa medida”, inicialmente qualificada de “política do bater-e-soprar”. Daí que a autora destaca que em muitas situações havia a necessidade de se recorrer à violência, bater; sem, contudo, deixar de soprar, ação esta que significaria amenizar as dores da colonização através de soluções que se adaptassem às circunstâncias locais. Esse mesmo enquadramento acompanhou o processo de construção do poder inerente aos Estados modernos, devido a sua importância para a permanência e duração da administração que se configurava naquele momento.
Preocupando-se com o diálogo historiográfico, Laura de Mello e Souza destaca que o comprometimento na conciliação entre os interesses que orientavam as ações desempenhadas tanto pelas elites locais quanto pelos oficiais régios lotados nos quadros da administração significaria um pressuposto inaceitável segundo as concepções de análise de muitos intelectuais brasileiros que escreveram sobre o assunto há mais de meio século. Esses estudiosos, entre os quais a autora destaca Caio Prado Jr. e Raymundo Faoro, não cogitavam a possibilidade de haver uma combinação entre interesses metropolitanos e coloniais. Assim, as análises historiográficas relacionadas ao tema não davam conta de apreender as “contradições” inerentes à política administrativa na América portuguesa, ponto este diretamente relacionado aos impasses e limites do mando português.
A “busca de ações comuns”, segundo a autora, comportava o ajuste de dois aspectos: interesses particulares, assentados, por exemplo, em contrabando, arbitrariedades, conflitos de jurisdições; juntamente com a adoção de políticas que preservavam interesses de religião, justiça e fazenda, elementos mais diretamente relacionados ao Estado. Para Laura de Mello e Souza, portanto, esse quadro se refere a uma política capaz de conciliar tanto interesses do Reino quanto interesses das conquistas. Daí o seu caráter aparentemente “contraditório”.
No decorrer de seus argumentos, Laura de Mello e Souza busca contrariar as discussões prevalecentes sobre o tema ao exercer a função primordial do intelectual: incomodar. E incomoda na medida em que destaca ser através do estudo de casos específicos a importante maneira para se compreender as características da administração e política imperial portuguesa na região do Atlântico sul do século XVIII; para tanto, adverte a importância de situá-los em um contexto maior, por ela denominado de “enquadramento geral”. A autora, então, lança uma crítica à postura adotada por uma série de jovens historiadores brasileiros influenciados pelos trabalhos de António Manuel Hespanha, traduzida no exagero do estudo de casos particulares desconectados de um contexto mais amplo e na interpretação capaz de identificar o Antigo Regime nos trópicos, sem levar em consideração os significados que o conceito de Antigo Regime encerra.
As preocupações do livro não estão relacionadas às descrições pormenorizadas das instituições que viabilizaram uma política administrativa no Brasil, mas buscar compreender as significações do mando e sua formação estrutural no interior do império português, concretizados em ações de homens inseridos numa dada conjuntura. A historiadora ainda aponta Stuart Schwartz como sendo o autor pioneiro no trato mais técnico dos órgãos da administração portuguesa, devido ao lançamento de Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial (1979). Além de ressaltar o robustecimento da temática do mando através da comparação entre a política administrativa portuguesa no Brasil e a experiência espanhola na América, tal como nos havia apresentado Sérgio Buarque de Holanda em sua interpretação inovadora de Raízes do Brasil (1936).
Em sua primeira parte, o livro apura a crítica historiográfica: traça um panorama de importantes tradições analíticas brasileiras; analisa aspectos decisivos para a formação do século XVIII, que envolvem a descoberta do ouro na região das Minas gerais, a sua formação social e a montagem de sua estrutura administrativa e fiscal, bem como a formação de São Paulo e o delineamento de uma identidade paulista; discorre sobre a intensificação de trabalhos interessados pela temática da administração no império português; problematiza o Antigo Regime enquanto categoria analítica; e, por fim, situa a contribuição de Laura de Mello e Souza no processo de construção de uma “renovação de perspectivas” sobre o tema.
Já em sua segunda parte, o livro destaca o percurso do governador Conde de Assumar e de outros funcionários reais da região das Minas. Ao desvelar percursos individuais, Laura de Mello e Souza enfatiza as “contradições” inerentes às vivências das personagens que ajudaram a construir esta porção da América portuguesa. Vivências estas marcadas por dilemas e paradoxos, frutos da embaraçosa situação de estarem divididos entre a execução do poder central e o exercício deste poder ao sabor das circunstâncias delimitadas pelos poderes locais.
Sabe-se que as distâncias entre colônias e metrópoles foram marcadas por longas jornadas que levavam meses, e, às vezes, anos. Assim, essas grandes distâncias proporcionavam que a administração adotasse uma série de mecanismos inclinados às circunstâncias locais. Para Laura de Mello e Souza, a ambigüidade dos papéis desempenhados pelas personagens do mando colonial, recorrendo ora à violência ora à cessão, significava uma estratégia para manter a integridade de todo o império através do bom funcionamento da administração. Segundo essa perspectiva, era necessário combinar rigidez e brandura, tolerância e rigor, como forma de se impedir um desmoronamento da administração e, consequentemente, colocar em risco o domínio português sobre a colônia brasileira.
Neste sentido, o mar encerra dois aspectos importantes. Por um lado, o mar funcionou como um fator de distância entre a ordem e a sua realização, proporcionando distorções e anulações de determinações vindas de cima; por outro lado, o mar também funcionou como importante elemento de união, materializada nas políticas de combinação de interesses reinóis e coloniais, sendo esta concepção tributária à idealização de um império luso-brasileiro.
A metrópole deveria, então, executar uma política mais permissiva em relação ao ultramar. Daí que as ações das personagens, dadas no bojo da administração, somente podem ser compreendidas se enquadradas pelo contexto da política, caso contrário, perder-se-ia o significado dialético da questão. Para a autora, política e “administração” são elementos intrinsecamente ligados. Dessa forma, aponta-se como importante a compreensão das vicissitudes inseridas entre a violência e a tolerância exercidas pelos homens que formavam os grupos políticos brasileiros no período colonial.
O Sol e a Sombra, de Laura de Mello e Souza, é um livro necessário; seja por suas análises intentarem melhor situar as discussões acerca da política e administração no período colonial; seja por realçar a necessidade de um aprimoramento conceitual sobre o tema; ou por destacar a consciência de que um longo caminho ainda há de ser percorrido nesse campo, devido à falta de maiores avanços em estudos monográficos e o maior diálogo com a historiografia nacional. Não se trata de nenhum “regionalismo”, em que pese defender uma tradição historiográfica brasileira em detrimento de uma importante contribuição de trabalhos estrangeiros, mas de não se perder de vista o “enquadramento teórico”, ao combinar análises específicas e enquadramentos gerais, além de se buscar problematizar e questionar modelos explicativos, por meio da perspectiva dialógica.
David Salomão Feio – Universidade Federal do Pará.
MELLO E SOUZA, Laura de. O Sol e a Sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Resenha de: FEIO, David Salomão. Canoa do Tempo. Manaus, V. 2, n. 1, jan./dez, 2008. Acessar publicação original [DR]
Sobre a verdade – ORWELL (ESP)
Retrato de George Orwell/Getty Images.
ORWELL, George. Sobre a verdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 208p. Tradução de Claudio Marcondes. Resenha de: BRASIL, Ubiratan. Textos de George Orwell sobre a verdade são mais necessários que nunca. O Estado de S.Paulo, 11 de julho de 2020.
George Orwell (1903-1950) escreveu romances, reportagens, cartas e ensaios variados, mas em todos tratou, de formas distintas, da verdade. E, em uma época em que as chamadas fake news ajudam a viralizar inverdades, que correm e põem em risco a sustentação da democracia, seus textos ganham uma importância exponencial. É o que justifica o lançamento de Sobre a Verdade, seleção inédita de escritos de Orwell que têm como eixo a ideia da verdade. O livro, que a Companhia das Letras lança inicialmente apenas em e-book, traz conceitos que, embora escritos há várias décadas, se mantêm vivos.
“Os ensaios comprovam a sua ternura essencial, parte de sua personalidade tanto quanto o distanciamento e a contrariedade”, observa Alan Johnson, político britânico, autor do prefácio. “E, ainda que ele esteja convencido de que conceitos como justiça, liberdade e verdade objetiva podem ser ilusórios, são ilusões poderosas nas quais as pessoas ainda acreditam.”
Nascido Eric Arthur Blair (o pseudônimo deriva do rio inglês Orwell e teria nascido depois de ele vivenciar diversos conflitos armados e internos enquanto servia ao Império Britânico), o escritor é principalmente conhecido por duas obras hoje essenciais, A Revolução dos Bichos (poderosa sátira política em que denuncia o totalitarismo, publicada em 1945) e 1984 (assustadora distopia cuja ficção também reflete sobre a essência nefasta de absolutismos, lançada em 1949). Socialista, logo vislumbrou as distorções do regime (especialmente o culto a Stalin, que instalou um governo de terror e de vigilância constante), tornando-se um de seus principais críticos.
Johnson observa que Orwell era um pensador político que jamais teve medo de adaptar suas ideias às novas circunstâncias, em vez de tentar submeter tais desenvolvimentos à rigidez de seu pensamento. “Provavelmente, no campo da esquerda, Orwell não era o único escritor que convivia com a atração pelo socialismo e a repulsa aos socialistas, mas foi o único a pôr no papel essa dicotomia”, afirma. “Em O Caminho Para Wigan Pier, por exemplo, ele dedica toda a segunda parte do livro para se opor ao socialismo, que defende na primeira parte.”
Sobre a Verdade traz textos que, além de saborosos, tratam de temas pontuais, mas que poderiam perfeitamente ser adaptados à atualidade, em especial quando se trata de fake news. Na resenha A Invasão Marciana, publicada em outubro de 1940 no The New Statesman and Nation, Orwell analisa a famosa irradiação radiofônica que Orson Welles fez, dois anos antes, baseada em A Guerra dos Mundos, romance de H. G. Wells.
Para refrescar a memória, o programa de rádio teve uma repercussão espantosa e imprevista, pois milhares de pessoas acreditaram ser, de fato, um programa de notícias que anunciava a invasão de marcianos em território americano. Acredita-se que cerca de 6 milhões de pessoas ouviram o programa e que mais de 1 milhão delas experimentaram algum tipo de pânico.
O programa se estruturou como uma sucessão de boletins de notícias, fato jornalístico habitualmente considerado verídico. “O mais espantoso foi que pouquíssimos ouvintes americanos fizeram algum esforço de verificação”, escreve Orwell, ao analisar uma pesquisa feita pela universidade de Princeton, constatando que as pessoas mais suscetíveis de ser afetadas eram os pobres, os menos instruídos e, sobretudo, aqueles que enfrentavam problemas financeiros ou eram infelizes no âmbito privado.
“A conexão evidente entre infelicidade pessoal e prontidão para aceitar o inacreditável é aqui o achado mais interessante”, observa Orwell. “Pessoas que estavam desempregadas ou à beira da falência por uma década talvez ficassem aliviadas ao saber do fim iminente da civilização. É um estado de espírito que levou nações inteiras a se lançar nos braços de um Redentor.”
Entre 1942 e 1948, Orwell colaborou com exatos cem textos para o jornal britânico Observer, compreendendo um período crucial na história da humanidade, ou seja, os anos finais da 2.ª Guerra Mundial e o início da Guerra Fria – termo, aliás, cunhado por ele no ensaio Você e a Bomba Atômica, publicado em outubro de 1945.
Alan Johnson nota que a eclosão da 2.ª Guerra Mundial marcou a cristalização das concepções de Orwell. “Ele era um patriota que entendeu as ameaças do fascismo e do comunismo (o pacto entre Hitler e Stalin foi um ponto de inflexão crucial), e isso inspirou os seus dois romances mais conhecidos.”
A Revolução dos Bichos é apontado como um alerta contra os males da revolução, enquanto 1984 era considerado pelo próprio Orwell como um alerta contra o totalitarismo de direita e de esquerda, e não de uma profecia. “No romance, ele imagina as consequências de uma filosofia política que coloca o poder acima da lei e sacrifica a liberdade individual pela interpretação de bem coletivo imposta pelo Partido”, diz Johnson. “Surpreendente é o quanto continua a ser extraordinariamente relevante mesmo no século 21. A limpidez e a precisão da prosa preservaram o frescor do livro, e os seus temas – a importância da verdade objetiva e da distinção entre patriotismo e nacionalismo – continuam muitíssimo pertinentes na nossa época.”
Johnson declara que a trajetória literária, política e filosófica de Orwell culminou numa derradeira obra magistral, que acabou sendo incorporada às nossas vidas. “A luta em defesa da verdade objetiva ainda é fundamental e, embora Eric Blair tenha morrido em 1950, George Orwell continua bem vivo.”
Rondon: o marechal da floresta – DIACON (E-CHH)
DIACON, Todd A. Rondon: o marechal da floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Resenha de: CATELLI, Rosana Elisa. p.333-339. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilheus, v.10, n.17, p.333-339, jan./jun., 2007.
Rondon: o marechal da Floresta é o título do livro do historiador Todd A. Diacon, da Universidade do Tenessee, Estados Unidos, lançado pela Companhia das Letras, em 2006. Diacon fez uma extensa pesquisa nos arquivos documentais, como o Museu do Exército e o Museu do Índio, ambos no Rio de Janeiro, a fim de recuperar a trajetória de Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), o oficial do exército que formulou uma das primeiras políticas para os povos indígenas no Brasil.
No final do século XIX, o governo brasileiro iniciou uma política de povoamento e ocupação que abrangia uma vasta região: do Mato Grosso ao Amazonas. A idéia era colonizar estas regiões com população não indígena, construir estradas, educar os índios e instalar meios de comunicação que ligassem o interior ao litoral. Em 1900, Rondon, jovem oficial do Exército, tornou-se o chefe da Comissão de Linhas Telegráficas do Estado do Mato Grosso e em 1907 comandou a Comissão Estratégica de Instalação de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, concluída em 1915. Diacon concentra sua análise nesta última Comissão, que percorreu 1600 quilômetros de mata cerrada, com rios largos, povos indígenas e poucos mapas para guiarem os homens nesta empreitada. O autor procura reconstituir o cotidiano desta Comissão e as dificuldades que enfrentaram ao explorar uma região totalmente desconhecida. Acompanhados de 58 mulas e 100 bois, carregavam comida, máquinas de costura, fuzis, morfina, baterias, cabos de aço, gramofone, mesas, tendas etc. No decorrer da viagem, várias dificuldades acometiam estes homens: os animais sucumbiam, faltavam suprimentos, eram atacados pela malária e pelos indígenas.
A descrição que Diacon faz da passagem da Comissão pelos inóspitos territórios do Mato Grosso e do Amazonas enfatiza o caráter de aventura que deve ter sido abrir estes caminhos pela selva. A chance de explorar este Brasil desconhecido, isolado da nação, é o que parecia animar Rondon, que não se deixava abater pelas perdas, pela malária e pelo cansaço. Integrar o sertão à nação brasileira e expandir a autoridade do Estado Central eram os propósitos centrais da Comissão. Diacon mostra que para compreender o processo de integração destas terras e dos povos indígenas, proposto por Rondon, é importante “levar a sério” os ideais positivistas que o acompanharam durante sua formação como engenheiro militar e depois como estrategista da ocupação do interior do Brasil. O positivismo seria a chave, na análise de Diacon, para compreender a obstinação de Rondon em sua aventura pela selva e a sua postura com relação aos índios.
Rondon entrou em contato com as idéias positivistas na Academia Militar do Rio de Janeiro. Adotou o mote positivista de servir à humanidade por ações que fomentassem o progresso científico, a industrialização e a modernização. Suas Comissões eram compostas por botânicos, zoólogos, antropólogos, todos com o objetivo de estudar a natureza e descobrir formas de usá-la para o bem da humanidade. Em plena floresta amazônica, Rondon e seus homens, praticavam os rituais positivistas: seguiam o calendário positivista, tocavam o Hino Nacional num gramofone que os acompanhava nas longas caminhadas, hasteavam a bandeira, comemoravam as datas cívicas. Rondon fazia sempre discursos para seus homens a fim de convertê-los ao positivismo.
Este afinco de Rondon a estes ideais explica, segundo Diacon, a forma como a política indigenista foi formulada pela Comissão.
Seguindo estes pressupostos, a integração deveria ocorrer pacificamente e não pela exclusão dos povos indígenas. A opção de Rondon foi a de proteger e assimilar culturalmente os índios, pela promoção da educação destes povos, que incutiria novos hábitos e promoveria a civilização dos mesmos. No ideário positivista, diríamos que os índios passariam do estado fetichista ao estado científico-industrial e para que esta passagem ocorresse de fato, ela precisava acontecer por “aceitação” e não pela força.
Os positivistas brasileiros criticavam a ação da Igreja Católica em relação aos índios, por forçá-los a abandonar as suas crenças em nome do catolicismo. Segundo os preceitos da Igreja Positivista, os índios, enquanto estivessem num estágio inferior da evolução social, não deveriam ser forçados a abandonar as suas crenças. Eles não eram vistos como uma raça inferior, mas num estágio de evolução inferior. Com base nestes pressupostos, Rondon foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio, de 1910 a 1915.
Com relação à política indigenista, Diacon faz uma discussão confrontando as obras de caráter mais biográfico, que louvavam as ações de Rondon e as revisões contemporâneas que tecem intensas críticas à ação da Comissão em relação aos índios.
Para Diacon, os estudos recentes, realizados por antropólogos, concebem que ações como as de assistência, proteção e pacificação escondem a violência da Comissão Rondon e o objetivo de conquistar estes povos. Diacon concorda, em parte, com esta tese dos chamados revisionistas, salientando a ambigüidade das ações da Comissão que, com uma visão etnocêntrica, contribuiu para a deturpação da cultura indígena, mas também afirma que Rondon foi o primeiro a defender as terras indígenas e a soberania destes povos. Segundo o autor, se Rondon optou por uma política de assimilação do índio aos hábitos culturais do homem “civilizado”, isto pode ter representado um avanço para a época se comparamos com propostas muito piores existentes naquele momento. Para Diacon, seria um anacronismo supor que Rondon concebesse os índios como um “outro”, com uma cultura própria. Para ele e os demais positivistas da época, o índio era um homem primitivo, que deveria ainda chegar ao estágio da civilização com o auxílio dos órgãos oficiais, que implantariam políticas educacionais e de proteção ao índio.
Este processo de assimilação dos povos indígenas proposto pela Comissão Rondon pode ser verificado também pelas imagens produzidas no decorrer de sua trajetória. A Comissão Rondon produziu vários registros fotográficos e cinematográficos de valor inestimável para os estudos etnográficos e imagéticos, arquivados em grande parte no Museu do Índio do Rio de Janeiro.
Há também a preciosa coleção de filmes etnográficos, alguns já perdidos e outros que foram preservados pela Cinemateca Brasileira, entre eles: “Rituaes e festas bororo” (1917), “Ao redor do Brasil: aspectos do interior e das fronteiras brasileiras” (1932), “Romuro, selvas do Xingu” (1924), “Os carajás” (1932), “Viagem ao Roraima” (1927), “Parimã, fronteiras do Brasil” (1927) e “Inspectoria de Fronteiras” (1938) (TACCA, 2001). A Comissão tinha como integrante o Major Luiz Thomaz Reis, responsável pela Secção de Cinematograhia e Photographia, criada em 1912. O Major Thomaz Reis tinha conhecimentos sofisticados de cinema e fotografia e realizou um dos primeiros registros etnográficos do mundo. Este material tem sido objeto de estudos sobre o uso da imagem no início de século e das relações estabelecidas com os índios. Rondon tinha consciência da importância da publicidade de suas ações e, principalmente, da repercussão que a veiculação destas imagens poderia ter. Os filmes de Thomaz Reis eram projetados para o público de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo e causavam grande polêmica. Para um público ávido por imagens, curioso a respeito do sertão brasileiro, os filmes de Thomaz Reis lotavam as salas e proporcionavam um grande “marketing” da Comissão. Na perspectiva nacionalista da comissão, os filmes e as fotografias tiveram grande importância na criação de um imaginário coletivo em torno do tipo nacional, do sertão e dos povos indígenas.
Segundo Diacon, nas fotografias da Comissão podemos encontrar representações de caráter positivista: índios segurando a bandeira nacional, a figura feminina como símbolo da nação, Catelli, Rosana entre outras. Imagens estas que eram utilizadas como forma de publicizar as ações da Comissão para o Exército e para o governo brasileiro, como também formar uma opinião pública a respeito da nação. Este uso institucional da imagem está entre uma das ações pioneiras da Comissão Rondon, que será seguida em vários projetos políticos posteriores.
A divulgação de imagens do interior do Brasil compunha não só um conjunto de representações internas do território nacional, como também contribuía para a construção da imagem do Brasil no exterior. Rondon sabia da importância de boas relações internacionais no auge do imperialismo americano e por isso aceita o pedido do Ministro das Relações Exteriores, em 1913, para guiar o ex-presidente Theodore Roosevelt que pretendia realizar um safári pelo noroeste brasileiro. Apesar de esta viagem significar uma interrupção nos trabalhos de Rondon, ele a aceitou por entender que isto possibilitaria a divulgação das potencialidades do Brasil no exterior, como também faria a publicidade de seu projeto telegráfico pelo interior do país.
Diacon descreve a trajetória desta expedição Rondon-Roosevelt com detalhes dos locais percorridos, os suprimentos e as dificuldades enfrentadas. Os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo da época divulgaram amplamente esta expedição, o que satisfez os objetivos de Rondon.
A Comissão Rondon oferece várias possibilidades de análise para compreendermos o Brasil do final século XIX e início do século XX. Diacon salientou aspectos como o ideário positivista presente na formação de Rondon e as conseqüências deste ideário para a política indigenista. Mas muitos outros pontos de vista poderiam ainda ser analisados, dada a riqueza de documentos textuais e imagéticos produzidos por esta Comissão. O trabalho de Diacon representa um importante levantamento histórico para percorrermos a trajetória de Rondon pelas selvas do Brasil e compreendermos as ações desta Comissão na construção de um imaginário sobre o índio e sobre a nação brasileira.
Referências
BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio de Janeiro: Contraponto/ Petrobrás, 2000.
MACIEL, Laura Antunes. A nação por um fio: caminhos, práticas e imagens da “Comissão Rondon”. São Paulo: EDUC, 1998.
TACCA, Fernando de. A imagética da Comissão Rondon: etnografias fílmicas estratégicas. Campinas: Papirus, 2001.
Rosana Elisa Catelli – Professora do curso de Comunicação Social da UESC e doutora em Multimeios – Cinema, pela Unicamp. E-mail:[email protected]
[IF]
Um outro olhar sobre a escravidão e o gênero no Brasil: Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista brasileira – GRAHAM (RBH)
GRAHAM, Sandra Lauderdale. Um outro olhar sobre a escravidão e o gênero no Brasil: Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, 289p. Resenha de: GRAHAM, Sandra Lauderdale. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.52 , dec. 2006.
A história da cafeicultura no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, tem em Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, o Barão do Pati do Alferes, uma de suas figuras mais representativas. Amparado em sua experiência como proprietário de fazendas e escravos, serviu-se da pena para divulgar seus conhecimentos não apenas de administrador, mas, sobretudo, dos princípios a serem seguidos pelos senhores no governo de seus cativos.
Assim, a partir de junho de 1847, inicia a publicação, no Auxiliador da Indústria Nacional, periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da qual Werneck era membro destacado, da sua “Memória sobre a fundação de uma fazenda na Província do Rio de Janeiro, sua administração e épocas que se devem fazer as plantações, suas colheitas, etc. etc.”.
Fosse porque a imprevisibilidade da produção agrícola impusesse certa distância entre teoria e prática, fosse porque os tempos já eram outros, o fato é que quando se tratou da administração do legado deixado por sua comadre e tia, D. Inácia Delfina Werneck (1771-1858), o Barão do Pati do Alferes enfrentou uma série de dificuldades. É nesse ponto, muito mais do que na dinâmica dos laços de parentesco que uniam os dois personagens, que se baseia uma das duas histórias reconstituídas por Sandra Lauderdale Graham, em seu livro voltado ao estudo de casos de mulheres da sociedade escravista brasileira.
Solteira e analfabeta, D. Inácia Delfina possuía, por ocasião da feitura de seu testamento, sete escravos, dos quais dois africanos, e três escravas, todas nascidas no Brasil. Além dos cativos, reunia uma soma razoável de recursos em dinheiro e jóias. Nem mesmo o fato de D. Inácia não saber ler ou escrever parece ter surpreendido Sandra Graham, ocupada em reconstituir-lhe a história de vida. Afinal, tratava-se de situação comum a mulheres de igual condição social da mesma geração que D. Inácia, partilhada também por sua irmã, D. Francisca. Inusitado, porém, principalmente ao observador de hoje, foi o fato de a proprietária deixar todos os seus bens a Bernardina e seus cinco filhos. Bernardina fora escrava de D. Inácia, de quem recebera a alforria com a obrigação de servi-la enquanto fosse viva. Dentre outros bens com que era contemplada no testamento, coube a ela dois escravos que a deveriam servir pelo prazo de dois anos, findos os quais, estariam livres.
Seus cinco filhos foram alforriados na pia batismal, e, à época da confecção do testamento, alguns eram menores e outros já haviam alcançado a maioridade. Os bens foram distribuídos desigualmente entre a prole de Bernardina, cabendo, por exemplo, a uma das filhas, Maria, a quantia necessária para quitar o valor de uma escrava que já possuía, de nome Inês. Antes disso, fato incomum, já havia contemplado outra filha de Bernardina, Rosa, com uma escrava de nome Helena.
Dadas as peculiaridades do sistema de herança no Brasil — herdado de Portugal e mantido após a Independência —, que assegurava às mulheres participação na herança deixada pelos pais e maridos, e dada a vigência de relações eminentemente privadas entre senhores e escravos, deixando, pelo menos em princípio, ao arbítrio dos proprietários todas as decisões que dissessem respeito à sua propriedade sobre cativos, a história de D. Inácia não surpreenderia tanto, exceto por instituir como herdeira uma sua ex-escrava.
A decisão, no entanto, assumiu uma série de desdobramentos, decerto não previstos pela testadora, conforme nos mostra Sandra Graham, sendo o principal deles resultado do equívoco na avaliação do montante do espólio. Assim, feitas as doações aos legatários nomeados por D. Inácia, a maioria composta por familiares, o que restou para a liberta Bernardina foram apenas dívidas. Dívidas cuja administração caberia ao primeiro testamenteiro, o Barão do Pati do Alferes. E aqui, não lhe parece ter valido a larga experiência como administrador de terras e escravos, registrada para a posteridade nas páginas do Almanack Laemmert, uma vez que “agiu com discernimento questionável” ao impor à família de Bernardina um contrato de arrendamento de terras exauridas e a preços exorbitantes (p.193).
O leitor desta resenha deve estar se perguntando o que a história de D. Inácia tem em comum com a da escrava Caetana, cuja história, afinal, dá título ao livro, apesar de ocupar menos páginas do que as da filha da aristocracia cafeeira. Deixemos a autora falar: “São histórias diferentes, sem conexão uma com a outra, exceto no importante sentido de que pertenceram à mesma cultura, sociedade e economia gerais — e que as utilizo para iluminá-las” (p.11). E certamente, é nesse ponto que reside uma das principais qualidades da obra. Laura Graham procura, com sucesso, dar conseqüências à afirmação, inúmeras vezes repetida, mas nem sempre levada em conta, de que “história é contexto”. Por isso mesmo, reconstitui minuciosamente os aspectos econômicos, sociais e demográficos de duas importantes regiões cafeeiras, o Município de Vassouras, no Rio de Janeiro, e Rio Claro, em Paraibuna, na Província de São Paulo.
Rio Claro é, assim, o cenário da primeira história narrada, a da escrava crioula Caetana. Tendo como fio condutor da narrativa a recusa de Caetana a partilhar o leito conjugal com seu marido, o também escravo Custódio, Laura Graham aponta como foram complexos os arranjos societários e pessoais que se forjaram no contexto das grandes unidades plantacionistas — ainda que com o emprego do termo não se queira repetir o engano de supor que essas unidades constituíssem verdadeiras autarquias. Tais arranjos se expressavam desde as pretensões do marido legítimo de Caetana a reproduzir, com anuência da família da escrava, uma relação de tipo patriarcal, forçando-a a submeter-se, até as possibilidades encontradas por Caetana em manipular sua condição de escrava doméstica, de mucama das mulheres da família na casa-grande para convencer a seu senhor, Capitão Tolosa, o mesmo que a constrangeu ao casamento, a intermediar sua demanda pela anulação do enlace.
Decisão que o fazendeiro aceita, mas não sem antes consultar um de seus pares, hóspede ocasional em sua casa, Manuel da Cunha de Azeredo Souza Chichorro. Antigo Secretário de Governo de São Paulo que, no cargo, se ocupou de questões como a utilização de homens vadios, malfeitores e vagabundos para estabelecerem povoações no sertão, colaborador da Revista do IHGB, Manuel da Cunha Chichorro o aconselha a atender aos rogos da escrava, mostrando assim que se as decisões dos senhores se circunscreviam ao âmbito privado, elas não correspondiam apenas ao arbítrio ou aos caprichos do proprietário.
O desfecho do pleito de Caetana, intermediado por seu senhor, é conhecido: a Cúria Metropolitana da Bahia recusa-lhe a anulação uma vez que a seu caso não era aplicável nenhuma das disposições canônicas que previam a anulação. Esse resultado decepciona mais o leitor do que a impossibilidade, assumida pela autora, de explicar as razões íntimas ou as menos recônditas, como se queira, que levaram Caetana a rejeitar o “estado de casada”. Isso porque Laura Graham se preocupa o tempo todo — e essa é outra característica positiva do trabalho — em formular hipóteses consistentes, numa espécie de ‘maiêutica socrática’ muito mais esclarecedora do que se fossem dadas respostas definitivas.
Um outro aspecto a ressaltar é o de que a perspectiva adotada é a da história de gênero, o que justifica o fato de personagens masculinos ocuparem papel proeminente na reconstituição das tramas. A preocupação central, portanto — apesar de o subtítulo informar que se trata de “Histórias de mulheres da sociedade escravista” —, é com a análise relacional, realçando a instabilidade dos papéis sociais assumidos por homens e mulheres no Brasil escravista.
Em meio a temas abrangentes — como organização da Guarda Nacional, atuação dos juízes de Paz, laços de compadrio, família escrava, recolhimentos no Brasil, rebeliões de escravos, sistema de herança, alianças matrimoniais, ilegitimidade, irmandades religiosas, Revolução Liberal de 1842 e declínio da cafeicultura no Vale do Paraíba no Rio de Janeiro a partir da experiência concreta de um fazendeiro —, Laura Graham desvenda a interação entre as histórias de Caetana, Chichorro, Tolosa, D. Inácia, Bernardina e seus filhos e o Barão do Pati do Alferes.
Caetana diz não foi lançado nos Estados Unidos três anos antes de a tradução vir a público no Brasil (Caetana says no: women’s stories from a Brazilian slave society. New York: Cambridge Press, 2002) sendo objeto de resenhas em revistas especializadas como Hispanic American Historical Review e The Americas. O livro integra, naquele país, a coleção “New approaches to the Americas”, editada por Stuart Schwartz.
Trata-se de obra elaborada com base em uma extensa pesquisa primária, constituída de fontes censitárias, cartorárias e eclesiásticas, perscrutada de maneira original. Mas há um aspecto que realmente deve surpreender nosso leitor: a opção da autora por basear-se em obras produzidas sobre a escravidão brasileira por especialistas norte-americanos. É bem verdade que muitos deles sobejamente conhecidos no Brasil, como no caso dos trabalhos de Stuart Schwartz e outros aqui radicados — Robert Slenes, por exemplo — e contra os quais a autora não poupa críticas: ao primeiro, por defender a centralidade do trabalho para o entendimento da dinâmica da sociedade escravista em oposição a fatores como família, comunidade e religião (p.49); ao segundo, por exagerar na insistência com que os senhores estimulavam seus escravos a se casarem com o fim de controlá-los enquanto cativos (p.56).
Não que estejam ausentes algumas das mais representativas obras produzidas pela nossa academia, mas nesse aspecto, a pesquisa sobre os títulos que poderiam lançar luz sobre o tema abordado não é, nem de longe, exaustiva. Assim, talvez se encontre aí uma outra originalidade do trabalho, da qual o leitor deva extrair algumas conseqüências: a de que se trata de uma abordagem, em boa medida, construída a partir do olhar do especialista estrangeiro, certamente influenciado pela própria compreensão da dinâmica de um país também de passado escravista.
Tal opção, em determinadas passagens, permite que se estabeleçam comparações importantes, ainda que implícitas, com o contexto da América do Norte. Esse parece ser o caso em que a autora reconhece que a precária legitimidade dos senhores sobre seus escravos no Brasil baseou-se na reiteração do direito costumeiro, dispensando, ao contrário do que se observou no norte da América, a produção de um discurso baseado na inferioridade racial (ainda que, vale ressaltar, esse não estivesse de todo ausente, sobretudo no Brasil Imperial). Ou quando afirma que a cultura da sociedade brasileira, por sua herança ibérica, era essencialmente jurídica — no sentido de que a maioria das transações eram autenticadas por documentos legais — diferentemente do que se verificava nos domínios coloniais das metrópoles da Europa Central (p.117-8).
A obra de Laura Graham, por fim, cumpre bem o programa da micro-história, vertente à qual se filia, com o mérito de preencher os vazios entre o particular e o geral, entre as trajetórias individuais e as coletivas, ampliando a aplicação do método para além da história cultural e das mentalidades.
Andréa Lisly Gonçalves – UFOP
[IF]Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica – MAYR (VH)
MAYR, Ernst. Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Prefácio de Drauzio Varella. Tradução de Marcelo Leite. Resenha de: FONSECA, Alexandre Torres. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 574-576, jul./dez., 2006.
As contribuições feitas por Ernst Mayr à biologia evolucionária o colocariam certamente em qualquer lista dos maiores biólogos evolucionários do século XX. Edward Wilson e Stephen Jay Gould, colegas de Mayr em Harward, chegam a colocá-lo como o maior biólogo de todos os tempos. Mas as realizações de Mayr se estenderam para além da biologia. Além de seus trabalhos de divulgação da história natural e da evolução, ele também escreveu sobre a história e a filosofia da ciência, especialmente da biologia.
Se levarmos em consideração o volume, a abrangência e a profundidade do trabalho de Ernst Mayr, ele ocupa um lugar único no desenvolvimento da biologia evolucionária no século XX. E, para entendermos adequadamente este desenvolvimento, nós precisamos entender seu trabalho. E é exatamente isso que Biologia, ciência única nos permite. A cuidadosa edição da Companhia das Letras, com tradução de Marcelo Leite, transforma Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica (2005) em um livro indispensável tanto para historiadores da ciência quanto para os historiadores ambientais, e, naturalmente, também para os biólogos.
Mayr, que morreu em fevereiro de 2005 com cem anos, começou seus estudos em medicina, mudando depois para a biologia. Publicou seu primeiro paper aos dezenove anos, em 1923; tornou-se Ph.D. com 22 anos pela Universidade Humboldt em Berlim. Publicou quase 700 papers e 25 livros, dos quais o último é Biologia, ciência única, que é, segundo ele, uma versão revisada e mais madura de seus pensamentos.
Mayr, ao mudar-se para os Estados Unidos em 1931, considerava-se um ornitologista. Durante sua vida deu nome a 26 espécies e a 473 subespécies novas de pássaros, publicou cerca de 300 artigos discutindo e descrevendo a variação geográfica e a distribuição dos pássaros. Como muitos de seus contemporâneos acreditava na herança lamarkiana até se tornar amigo e interlocutor de Theodosius Dobzhansky, o qual vai exercer grande influência no pensamento de Mayr. Desse encontro surgirá a Moderna Síntese evolucionária.
A teoria evolutiva moderna surgiu entre 1936 e 1947, com a Síntese Evolucionária ou Síntese moderna. Este termo foi introduzido por Julian Huxley no livro Evolution: The Modern Synthesis, em 1942. Esta síntese é reunião da teoria de Darwin com a genética e as contribuições da sistemática e da paleontologia. Este processo começou com R. A. Fisher, J. B. S. Haldane e Sewall Wright. Alguns anos mais tarde, o paleontólogo George Gaylord Simpson, o biólogo Ernst Mayr e o geneticista Theodosius Dobzhansky irão alargar o paradigma neodarwinista. E da união entre o darwinismo e a genética nascerá o neodarwinismo.
O termo neodarwinismo ou teoria neodarwinista é usado correntemente como sinônimo de Síntese Moderna por quase todos os biólogos evolucionários, como por exemplo, Dennett, Gould, Futuyma e Dawkins. É neste sentido que este termo é usado neste artigo. Ernst Mayr, embora tenha usado neodarwinismo com esse sentido, mudou de idéia em Biologia, ciência única (2005). Por isso, a importância deste livro. Fica claro que a promessa feita na introdução do livro, de apresentar uma versão revisada e mais madura de seu pensamento, é realizada.
Neste livro (capítulo 7, Maturação do darwinsimo), ele diz que é um equívoco chamar de neodarwinismo à versão do darwinismo desenvolvida nos anos 1940, porque Romanes já havia usado este termo, em 1894, para qualificar o “paradigma darwiniano sem a hereditariedade leve [soft inheritance] (isto é, sem a crença na herança de características adquiridas)” (2005, p. 147). Na sua nova maneira de pensar, a teoria sintética da evolução, o “produto da síntese das teorias dos estudiosos da anagênese e da cladogênese” (p. 147), deveria ser chamada simplesmente de darwinismo, pois se trata
em essência, da teoria original de Darwin com uma teoria válida de especiação e sem a hereditariedade leve. Como essa forma de hereditariedade foi refutada mais de cem anos atrás, não pode haver equívoco na retomada do simples termo “darwinismo”, porque ele engloba os aspectos essenciais do conceito original de Darwin. Em particular, refere-se à inter-relação entre variação e seleção, o cerne do paradigma de Darwin, e confirma que é melhor referir-se ao paradigma evolucionista, após um longo período de maturação, simplesmente como darwinismo (p. 147).
Outro exemplo é a discussão sobre o que constitui uma espécie (capítulo 10, Um outro olhar sobre o problema da espécie). O conceito de espécie defendido por Mayr é ao mesmo tempo sua mais conhecida contribuição para o estudo da biologia, e o motivo pelo qual a maioria dos biólogos, hoje em dia, discordam da visão de espécie de Darwin. Neste capítulo ele critica o conceito de espécie dos “taxonomistas de poltrona”.
Mayr também descreve as causas que o levam a considerar a biologia uma ciência única, autônoma, com vários conceitos ou princípios específicos, necessitando, por isso, de uma filosofia da biologia específica, que difere de filosofia da ciência, segundo ele, mais ligada à física. No capítulo 9, As revoluções científicas de Thomas Kuhn acontecem mesmo?, discute as idéias de Kuhn sobre revolução científica e paradigma, chegando à conclusão que esta não é uma boa teoria para a biologia. Mayr considera que “as descrições da epistemologia evolucionista darwiniana parecem captar melhor a mudança em teoria em biologia” (p. 184), fazendo uma clara opção por esta última.
Ernst Mayr é importante para a história da biologia e para o pensamento biológico por ter sido tanto um participante ativo da história na criação da Moderna Síntese quanto por sua significativa obra reflexiva sobre a filosofia da biologia. Nos últimos vinte anos de sua vida, ele se dedicou mais à história e à filosofia da biologia. Seu grande trabalho nesta área é The growth of Biological thought, de 1982, um tour de force de 974 páginas, que demorou dez anos para ser concluído. Havia a promessa de um segundo volume que não se realizou. Além disso, ele influenciou consideravelmente três ou quatro gerações de biólogos. Mayr diz que “por toda a biologia há numerosas controvérsias não resolvidas, e que ele não era otimista a ponto de acreditar que [ele tivesse] resolvido todas (ou mesmo a maioria)” (p. 13-14) delas. E o desafio que ele propõe aos jovens pesquisadores evolucionistas é ir em busca tanto das questões não respondidas quanto, e isso é o mais importante, de questões não formuladas. Com certeza, Biologia, ciência única é um bom começo.
Alexandre Torres Fonseca – Doutorando em Ciência e Cultura na História. UFMG. E-mail: [email protected]
[DR]
Nassau, o Governador do Brasil Holandês – MARIZ (RIHGB)
MELO, Evaldo Cabral de. Nassau, o Governador do Brasil Holandês. São Paulo: Companhia das Letras. Coleção Perfis Brasileiros, 2006. 288p. Resenha de: MARIZ, Vasco. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v,167, n.431, p.285-288, abr./jun., 2006.
Vasco Mariz – Sócio emérito do IHGB.
[IF]Os exuberantes anos 90 | Joseph E. Stiglitz
Em Os exuberantes anos 90 Joseph E. Stiglitz traça uma interpretação do grande boom e da subsequente retração da economia norte-americana durante a década de 1990. Trata-se preponderantemente de uma interpretação econômica, sob viés keynesiano, escrita em linguagem simples, sem gráficos nem tabelas, nem pretensões teóricas elevadas. Pelo contrário, Stiglitz quer escrever ao grande público, divulgando uma visão crítica e mais alternativa, que destaque não apenas os pontos positivos da década- que de fato existem, para ele, sob o ponto de vista da abundância material, para os EUA – mas principalmente as contradições do período, que em geral despertou apenas muito otimismo, e consequentemente muita ladainha laudatória.
De fato, o objetivo é menos perscrutar as causas do vigoroso crescimento econômico da economia norte-americana mas sim quais teriam sido as “sementes da destruição”- segundo sua própria expressão- da subseqüente queda, proporcional àquele crescimento, que jogou por terra a hipótese do desaparecimento dos ciclos dada uma suposta “nova economia da informação”. Para Stiglitz, as bases sobre as quais se apoiou a “exuberância irracional” econômica dos anos noventa nos Estados Unidos foram débeis, instáveis. As tintas com que os grupos e interessados as pintaram não passavam de véus míticos; suas justificativas de que passariam a trazer crescimento econômico e distribuição de riqueza de modo perene, erradas. Leia Mais
A Economia das fraudes inocentes: verdades para o nosso tempo | John Kenneth Galbraith
John Kenneth Galbraith pertence a uma geração de economistas que marcou o século XX. Intelectual controverso, escreveu uma vasta obra na qual constam O Novo Estado Industrial e A Era da Incerteza, entre outros. Quase centenário, Galbraith encontra alento para mais um livro: A Economia das fraudes inocentes.
A princípio, o livro parece leve. São apenas 84 páginas, na edição brasileira. Onze capítulos, uma introdução e uma conclusão. Nem um gráfico. Nem uma tabela. Nem um fluxograma. Nenhuma nota de referÍncia [1]. A leitura é fácil, didática, quase sequencial. Parece-se com um livro mais despretensioso da obra de Galbraith (como Economia, Paz e Humor), mas, a certa altura, alto lá! Deparamos com o seguinte trecho:
“O sistema econômico praticado por todos os países economicamente adiantados do mundo e, em formas mais difusas, pelos demais- com exceção da Coréia do Norte, de Cuba e, formalmente, mas não de fato da China- confere o mais alto poder econômico àqueles que dominam as indústrias, os equipamentos e as terras de maior importância (p. 18). ” Leia Mais
Imagem e persuasão: ensaios sobre o barroco | Giulio Argan
Giulio Carlo Argan (1909-1992) certamente constitui-se como uma das raras exceções onde a atuação política no exercício de cargos públicos não comprometeu a vida intelectual. Prefeito de Roma entre 1976 e 1979, senador eleito pelo Partido Comunista italiano em 1983 – cargo que exerceu por duas legislaturas – e catedrático de História da Arte Moderna na Universidade de Roma a partir de 1959, foi dos mais produtivos dentre os historiadores da Arte de sua geração, que inclui nomes como Ernst H. Gombrich, H. W. Janson e André Chastel. Seus estudos se estenderam por uma gama enorme de temas, que vão do Trecento italiano à Bauhaus, do Românico à Arte Moderna, de Fra Angelico a Caravaggio. Na verdade, alguns de seus livros são obras fundamentais quando se fala de Historiografia e Crítica de Arte produzida no século XX: História da Arte como História da Cidade[2]; Clássico Anticlássico[3]; Arte Moderna [4] e História da Arte Italiana[5] são apenas alguns de seus principais trabalhos, numa extensa lista iniciada ainda na década de 30. Leia Mais
Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860 | Rafael de Bivar Marquese
No final dos anos 80 Ciro Flamarion Cardoso chamava a atenção para o fato de que a historiografia brasileira sobre a escravidão ignorava o que era produzido no restante das Américas sobre o mesmo tema e alertava para a necessidade de utilização do chamado método comparativo nos estudos sobre a escravidão. Desde então, livros como o de Eugene Genovese, sobre a escravidão nos Estados Unidos, de Moreno Fraginals e Rebeca Scott, sobre Cuba, de Emilia Viotti da Costa, sobre a Guiana Inglesa e o de C. R. L. James, sobre o Haiti, representaram avanços consideráveis no estudo sobre o tema. Quanto ao método comparativo, ele pode ser identificado nas recentes publicações de Célia Marinho Azevedo, sobre o processo abolicionista nos Estados Unidos e no Brasil, e na coletânea organizada por Manolo Florentino e Cacilda Machado. O livro de Rafael de Bivar Marquese, Feitores do Corpo, Missionários da Mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860, está situado na intercessão entre estas duas possibilidades de estudo, pois faz um balanço da produção historiográfica sobre a escravidão nas Américas e apresenta um estudo comparativo sobre os regimes escravocratas nas colônias inglesas, francesas, espanholas e portuguesa. Leia Mais
Os gregos, os historiadores, a democracia, o grande desvio | Pierre Vidal-Naquet
Resenhista
Pedro Paulo Abreu Funari – Professor Titular de História Antiga, Coordenador-Associado do Núcleo de Estudos Estratégicos, Universidade Estadual de Campinas.
Referências desta Resenha
VIDAL-NAQUET, Pierre. Os gregos, os historiadores, a democracia, o grande desvio. Trad. Jônatas Batista Neto. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Resenha de FUNARI, Pedro Paulo A. História Revista. Goiânia, v.10, n.1, 2005. Acessar publicação original.
Curso de literatura inglesa | Jorge Luís Borges
Originário de aulas ministradas na Universidade de Buenos Aires durante a década de 1960 [1], o livro ainda mantém um interesse vivo pelas valiosas conclusões que Borges sugere de seus conhecimentos em fontes manuscritas e impressas de línguas germânicas. Os sete primeiros capítulos – ou aulas – referem-se aos períodos da Antigüidade e Idade Média. Neles, o professor explicita sobre as técnicas poéticas, as características e os princípios da literatura dos antigos saxões e dos escandinavos. Também demonstra em suas aulas que o panorama político europeu, especialmente da Inglaterra, foi muito favorecido pelas invasões nórdicas. É justamente neste aspecto que Borges revela muito mais que uma simples admiração por estes povos, identificando as personagens com um passado glorioso e heróico: “Os Vikings talvez tenham sido a gente mais extraordinária entre os germanos da Idade Média. Foram os melhores navegantes da sua época (…) à maneira de muitos escandinavos cultos, não era apenas guerreiro mas, além disso, era poeta” (p. 22).
Simplificadores do moderno idioma inglês, os antigos escandinavos possibilitaram a consolidação do futuro império britânico, segundo as mesmas idéias de Borges (pp.100-102).[2] Essa visão heróica e gloriosa dos bárbaros pode ser percebida pelo espaço concedido à análise dos épicos anglo-saxões, como Beowulf e das sagas islandesas. Para o escritor, o período em que viveram estes aventureiros não era simplesmente uma época de desordem e caos, mas um momento extremamente propício para a formação de estruturas literárias complexas: “uma época bárbara mas que propendia à cultura, que gostava da cultura”(p.20). Assim, podemos incluir os estudos teóricos de Borges como a culminação de um processo de recuperação da imagem do bárbaro que teve início no século XVIII e que foi essencialmente centrada na literatura.
Ao contrário do Renascimento e sua revalorização da cultura clássica, o Setecentos foi marcado pelo ressurgimento dos estudos da literatura dos povos da Europa Setentrional, especialmente os de origem Celta e Germânica [3]. Manuscritos foram traduzidos e publicados nas línguas modernas, obras teóricas surgiram, novos poemas e narrativas foram criadas ao estilo das arcaicas. Esta adaptação e reinterpretação literária esteve atrelada à concepções de fundo nacionalista, tão em voga na época. Os intelectuais, na realidade, estavam preocupados em resgatar valores tais como identidade social e demarcar as origens do que eles então definiam como sendo suas nações. A literatura servia diretamente tanto como marco simbólico desta consciência nacional, como um instrumento de propaganda dos valores antigos que deveriam ser resgatados.
Um caso especialmente estudado por Borges diz respeito ao Ciclo Ossiânico [4]. Durante o século XVIII, a Escócia procurou criar uma identidade diferenciada da Inglaterra (de origem histórica anglo-saxônica), mas que o mesmo fosse alternativa ao passado Celta comum aos irlandeses. James Macpherson [5] foi incumbido de recolher lendas na Escócia, de origem irlandesa mas que foram alteradas e sintetizadas para que sua região tivesse uma identidade nacional própria. O resultado foi a obra Fingal: Ancient Epic Poem in Six Books (1762), que fez grande sucesso em toda a Europa pré romântica. [6] O Ciclo Ossiânico também conhecido como Ciclo de Finn apresenta narrativas supostamente ambientadas no século III d.C. O ciclo de narrativas traz longas composições muito populares entre as gentes simples da Irlanda durante a Idade Média. Essas narrativas de cunho popular em muito se assemelham as narrativas do Ciclo Arturiano ou Bretão [7] compostas a partir do século XII principalmente na França. Esses dois ciclos de narrativas mais se aproximam do que se distanciam pois, além do caráter popular e folclórico de suas narrativas têm em comum as aventuras de suas personagens. Os Fiannas são considerados uma espécie de guarda de elite do grande rei da Irlanda. Entre as suas tarefas estão o recolhimento de impostos e a proteção dos mais fracos. As incumbências dos Fiannas são praticamente as mesmas dos Cavaleiros do Távola Redonda, fiéis servidores do rei Artur. Muitas das aventuras narradas no Ciclo Ossiânico podem ser comparadas com as do Ciclo Arturiano. Acreditamos que a semelhança narrativa mais próxima seja uma aventura vivida pelo próprio Finn, na aventura amorosa intitulada Diarmaid e Grinné. Grinné é uma jovem que vai ser entregue como concubina para o rei Finn mas ela se apaixona por Diarmaid, jovem cavaleiro e fiel servidor de Finn. Sabendo da paixão dos jovens o rei Finn finge que desistiu de manter a jovem como concubina, mas durante uma caçada ele constrói uma armadilha para que Diarmaid morra. Ao perceber a trama de morte inevitável Grinné não consegue avisar seu amado e, ao vê-lo morto deixa-se morrer ao seu lado. Essa “aventura” é o arquétipo da mais conhecida narrativa do Ciclo Arturiano, Tristão e Isolda, onde os jovens incapazes de concretizarem seu amor em vida se deixam morrer para que o sentimento sobreviva após a morte e possa se consumar. O tema do amor que só é possível se concretizar após a morte sempre trágica ou violenta dos amantes é recorrente na literatura ocidental desde a Antigüidade e para os românticos foi um tema profícuo, não só pelo fascínio que ele exercia e que foi representado tanto na prosa como na poesia dos autores dessa escola literária, mas que inspirou também pintores e escultores que representaram com beleza as malezas arquitetadas por Eros e Tanatos.
A narrativa de Tristão e Isolda que tem a sua matriz em Diamaid e Grinné teve desde o século XII muitas versões. No século XII Béroul e Thomás de Inglaterra compuseram duas das mais conhecidas e estudadas versões, Gottfried de Estrasburgo no século XIII compôs uma versão mesclando elementos da cultura celta com a cultura germânica e que no século XIX serviu de inspiração para Richard Wagner compor a sua versão da tragédia dos amantes. E, por fim no século XIX, Joseph Bédier, filólogo francês estabeleceu uma versão onde mescla elementos das três narrativas medievais mas que se iguala em beleza e elementos fundamentais para se estudar a força do mito do amor eterno que sobrevive após a morte.
O amor dos jovens Diarmaid e Grinné e Tristão e Isolda é um sentimento puro, que se encontra em seu estado “natural”, ele ainda não foi corrompido por convenções sociais, podemos dizer que, grosso modo, esse sentimento é algo sentido apenas por bárbaros, pessoas que não receberam o refinamento social devido e é por essa mesma razão que os românticos – tanto escritores como pintores – tão avessos às convenções vão eleger o “amor bárbarico” como um dos principais temas de suas obras, representando assim toda a sua rebeldia e insatisfação com as leis, padrões e moldes sócio- culturais vigentes. [8]
Além deste caráter puramente estético, no século XIX a imagem do bárbaro foi reforçada como incentivo nacionalista, mas desta vez com cada região tendo os seus próprios mitos literários. Os países da Escandinávia utilizaram seu patrimônio cultural dentro de especificidades regionais, onde os sentimentos patrióticos incorporaram elementos da literatura, história e mitologia dos tempos pagãos. Especialmente o historiador e poeta Erik Geijer no livro Svenka folkets historia (História dos povos suecos, 1836) utilizou a sociedade dos antigos nórdicos como um modelo social perfeito, onde a harmonia do povo e de seus líderes foi quebrada pela chegado do cristianismo e do feudalismo.[9] O “espírito” dos tempos passados era refletido na arte decorativa, no interior das casas e dos edifícios, nos jornais, na vida cotidiana e nas idéias políticas, sempre em consonância com o progresso tecnológico e social dos tempos modernos.[10] A poesia e a literatura romântica da Escandinávia refletiam diretamente os mitos nórdicos com ideologias políticas do presente. Obras literárias como a famosa Frithiofs Saga (1825) de Esaias Tegner, apesar de conter heróis medievais, possuem comportamentos e valores condizentes com a realidade histórica vivida pela Suécia do Oitocentos.
Concedendo especificidade ao contexto inglês, Borges examinou em suas aulas um conjunto de artistas que resgataram a imagem bárbara durante o final do século XIX, a Irmandade Pré-Rafaelita. [11 ]Os temas preferidos do grupo eram a mitologia arturiana, temas medievais e escandinavos. Os principais escritores pré-rafaelitas que Borges analisou foram Dante Gabriel Rosseti [12] e William Morris [13]. Rosseti foi um dos fundadores do movimento e peça fundamental para entender a principal ideologia artística reinante na época vitoriana. Segundo Borges, a valorização de temas medievais visava essencialmente a busca da nobreza no passado. Em uma época onde a tecnologia, o urbanismo e a industrialização tomavam grande vulto na Inglaterra, os artistas voltam-se para a busca do belo – idealizada nas figuras femininas de Isolda, Guinevere e Morgana – e no herói, principalmente no rei Artur, Tristão e Lancelot. Tanto estas figuras femininas quanto masculinas pertencem ao ciclo arturiano, um conjunto de narrativas de origem Celta, que foram mescladas aos princípios cristãos do comportamento cavalheiresco da Idade Média, como já vimos. Com isto, temos duas formas básicas da imagem do bárbaro realizada pelos artistas pré-rafaelitas: de um lado, o bárbaro (herói pagão), que é resgatado em sua forma pura, de um ponto de vista estético e histórico.[14] De outro lado, o herói pagão que foi cristianizado e moldado pelo cavalheirismo medieval, principalmente na forma dos personagens arturianos.
Um dos principais idealizadores do herói pagão foi o poeta William Morris. Além de tradutor de várias Sagas e epopéias escandinavas, o artista escreveu poemas narrativos resgatando o que Borges denomina de “consciência do germânico” dentro da História e arte inglesa.[15] Em um deles, The Earthly Paradise (1870), a mitologia nórdica é apontada diretamente como elemento nostálgico e nobiliárquico da sociedade inglesa: “Oh Breton, and thou Northman, by this horn/Remember me, who am of Odin’s blood”.[16] Ou seja, aqui o narrador apresenta o rei inglês como descendente direto do deus Odin, o principal do panteão germânico. Um resgate literário dos valores simbólicos das antigas sociedades, em plena Inglaterra vitoriana. Em outra obra, Sigurd the Volsung (1876), a importância do herói pagão de origem escandinava foi ainda mais acentuada. Baseado em manuscrito islandês homônimo, este poema épico enfatizava a tragédia, a derradeira morte do principal personagem. Esta característica essencialmente romântica, também seria muito comum ao movimento pré-rafaelita com a predileção iconográfica dos artistas pelas narrativas trágicas de Tristão e Isolda [17] e da morte de Artur.[18] Mas não podemos nos esquecer que os próprios deuses germânicos também eram essencialmente trágicos, pois ao contrário da mitologia clássica (onde todas as divindades são imortais), eles teriam um final, durante a batalha de Ragnarök. Explicando a existência de telas como Odin (1870) e Freyr (1870), por Edward BurneJones,[19] onde as duas divindades apresentam um olhar melancólico, ambas olhando para baixo e numa atmosfera de extrema tristeza. Outro momento trágico resgatado por este movimento artístico é o funeral, que surge ao final do poema Sigurd, de Morris (com a morte do herói e o suicídio de Brunhilde na pira funerária) e na famosa tela de Francis Dicksee, Funeral of a Viking (1893).
A imagem literária do homem e também da mulher bárbara que foi construída durante os séculos seja na literatura como nas artes plásticas, em muitos momentos não foi uma imagem negativa, mas procurou exaltar determinadas virtudes que para os jovens idealistas românticos estavam um tanto esquecidas. Ao nos expor com maestria e bom humor aspectos tanto da literatura inglesa como da efervescência cultural que foram os séculos XVIII e XIX na Inglaterra, Borges nos oferece também novas perspectivas de análises de fontes importantes não só para uma maior compreensão das letras, mas das representações de figuras que ainda hoje povoam nosso imaginário e nos encantam!
Ao apresentar suas aulas durante um período conturbado da história latino-americana, Borges não ensinou apenas nomes, autores e características literárias, ele concedeu aos seus alunos uma aproximação com a literatura germânica – e repete o feito com os seus leitores de hoje – de se encantarem com a beleza das letras compostas em um momento especial, onde resgatar a imagem e o espírito dos bárbaros não era somente uma fonte de inspiração e um modelo estético mas sim uma admiração pelo espírito de liberdade e de criatividade.
Notas
1 O livro foi organizado por Martín Arias e Martín Hadis, através de transcrições das aulas ministradas por Borges na Universidade de Buenos Aires.
2 Muito da imagem que o teórico transmite em suas aulas na década de 1960 provinha do cinema: “E eles, enquanto isso, vêem como os vikings vão desembarcando. Podemos imaginar os vikings com seus elmos ornamentados com chifres, ver chegar aquela gente toda” (p. 60). Essa representação dos guerreiros nórdicos portando chifres com ornamentos córneos surgiu durante o início do Oitocentos, produto de uma arte romântica e nacionalista, promovendo o resgate viril e poderoso dos Vikings. Posteriormente, essa fantasia popularizou-se nas histórias em quadrinhos, literatura e cinema. Conf. LANGER, Johnni. The origins of the imaginary Viking. Viking Heritage Magazine, University of Gotland/Centre for Baltic Studies, Visby (Sweden), n. 4, 2002. Borges deve ter estruturado este estereótipo em filmes como Príncipe Valente (1954) e romances populares, dos quais cita The Long Ships (do original Röde Orm, 1945, versão inglesa da década de 1950).
3 Designamos literatura de origem Celta toda produção literária originada do folclore ou tradição oral e transcrita após o século VIII em países como a Irlanda (Celtas irlandeses), Escócia (Pictos e Escotos), País de Gales, Bretanha inglesa e francesa (Bretões) e França (Gauleses). A de origem germânica refere-se aos países escandinavos e Islândia (Vikings), Alemanha (Germanos antigos) e Inglaterra (Anglosaxões). Borges realizou um estudo clássico sobre literatura germânica: BORGES, Jorge Luís & VAZQUES, Maria E. Literaturas germanicas medievales. Buenos Aires: Falbo Librero, 1965.
4 “Le Cycle de Finn, ou Cycle Ossianique, est le cycle consacré à la province du Leinster. Mais il déborde de loin les frontières de ce petit état et se retrouve, très florissant, dans l’Écosse tout entière. C’est le Cycle de Finn, transmis par la tradition orale depuis de siècles, que Mac Pherson a connu et quíl a répandu dans toute l’Europe. Car Fingal n’est autre que le nom romantique de Finn et Ossian celui de Oisin (= le Faon). Finn est le roi. Mais à la différence de Conchobar, il n’exerce pas une autorité légale sur l’Irlande ou sur une troupe de véritables nomades, de guerriers errants, qui sont passés à la posterité sous le non de Fianna (Fenians). Ces Fianna ont vraisemblament eu une existence historique, au temps du roi suprême Cormac Mac Airt, c’est-à-dire à la fin du IIe. Siècle de notre ère. Ils constituaient une sorte d’État dans l’État, et ils furent souvent en froid, nom seulement avec le roi suprême mais aussi avec les différents rois de provinces ou de tribus sur le territoire desquels ils exerçaient leurs talents”. MARKALE, Jean. L’épopée celtique d’Irlande. Paris: Payot, 1993, p. 159.
5 “James Macpherson nasceu nas Highlands da Escócia, nas Terras Altas da Escócia, nas serras da Escócia, no ano de 1736, e morre em 1796. (…) Macpherson nasce e se cria num lugar agreste ao norte da Escócia, onde ainda se falava um idioma gaélico, isto é, um idioma celta, afim, naturalmente, ao galês, ao irlandês e à língua bretã levada à Bretanha – antes chamada Armórica – pelos bretões que se refugiaram das invasões saxãs do século V” (Borges, 2002: 157-8).
6 “Como Macpherson não queria que os personagens fossem irlandeses, fez de Fingal, pai de Ossian, rei de Morgen, que era a costa setentrional e ocidental da Escócia (…) Macpherson foi acusado de falsário (…) Atualmente, não nos interessa se o poema é ou não é apócrifo, mas o fato de que nele já está prefigurado o movimento romântico” (Borges, 2002: 166). Uma das pinturas mais famosas inspiradas na obra de Macpherson é Ossian na margem do Lora invocando os deuses ao som de uma harpa, de Grançois Gérard (sem data). Nesta composição, temos os elementos chaves do romantismo europeu: atmosfera de mistério e horror, elementos ruinísticos, atmosfera onírica, e é claro, os elementos advindos da mitologia Celta. Conforme: WOLF, Norbert. A pintura da era romântica. Lisboa: Taschen, 1999.
7 “O Ciclo Bretão, no qual se destacam os feitos do rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, as aventuras de Galvain, Lancelot, Tristão e Isolda, Parcifal e a Demanda do Santo Graal, tem origem céltica. Na História Britonum, de Nennius, obscuro historiador latino do século VIII, Artur aparece como herói dos celtas britânicos contra os invasores anglo-saxões. As versões autenticamente célticas da lenda estão no Mabinogion, coleção de narrações na língua do País de Gales; aqui a figura de Artur e dos Cavaleiros já perdeu todo o caráter histórico, achando-se inteiramente transformados pela vivíssima imaginação céltica, nutrida de lendas de feiticeiros, fadas, florestas encantadas, castelos misteriosos, espectros. O Mabinogion na sua forma atual, foi redigido só no século XIV; os seus heróis célticos já têm a feição de cavaleiros franco-normandos. Para o mundo não céltico, a mesma transformação foi operada pelo ‘historiador’ Geoffrey of Mommouth, cuja fantástica História Regum Britanniae que foi escrita entre 1135 e1138; parece que Geoffrey pretendeu criar, intencionalmente, um pendant inglês da geste francesa. O último retoque, enfim, foi de natureza religiosa. Deu-se sentido cristão a certos episódios do ciclo, e como episódio final apareceu, em vez da viagem do rei Artur para a ilha de Avalon, paraíso dos celtas, a Demanda do Santo Graal e a transformação da Távola Redonda de grupo de cavaleiros aventurosos em irmandade de cavaleiros místicos”. CARPEUAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Volume I Rio de Janeiro: Alhambra, 1978, 2ª edição, p. 140.
8 LE BRIS, Michel. Barbares romantiques, Norsemen et Saxons. In: GLOT, Claudine & LE BRIS, Michel (orgs.). L’Europe des Vikings. Paris: Éditions Hoëbeke, 2004, p. 162-165. Na literatura francesa do século XIX, o Viking torna-se o herói romântico perfeito: aventureiro, sem nenhum temor, feroz, galante e essencialmente, livre. “Un personnage, dont le nom est déjà intervenu plusieurs fois, rassemble ce que le XIXe siècle a voulu mettre, en ce sens, sous le mot viking: c’est celui du roi de mer. L’expression seule suffisait déjà à déchaîner imaginations et passions: iéal aristocratique mêlé à tous les parfums de l’aventure, lois de l’héroïsme et de la brutalité (…) Le Viking, c’est l’homme libre”. BOYER, Régis. Le mythe Viking dans les lettres françaises. Paris: Editions du Porte-Glaive, 1986, p. 83-103.
9 LÖNNROTH, Lars. The Vikings in History and legend. In: SAWYER, Peter. The Oxford illustrated history of the Vikings. London: Oxford University Press, 1999, p. 238.
10 Além disso, cada país escandinavo resgatou a memória dos tempos Vikings dentro de um referencial próprio, condizente com a realidade política então vigente (p.ex., a Suécia de 1814 a 1905 foi unida com a Noruega, ao mesmo tempo em que mantinha uma grande rivalidade com a Dinamarca).
11 Em inglês Pre-Raphaelite Brotherhood, grupo de artistas britânicos fundado em 1848 e dissolvido cerca do ano 1853. Movimento de reação ao convencionalismo da arte vitoriana, que buscava através da inspiração literária e simbólica, mitológica ou bíblica, restituir à pintura a pureza alcançada antes de Rafael, ou seja, no século XV. Seus representantes mais famosos foram Dante Gabriel Rosseti, W. H. Hunt, J. E. Millais, F. Brown, E. Burne-Jones e William Morris. O pintor brasileiro Eliseu Visconti chegou a ser influenciado pelo movimento. Conf. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, vol. 19, p. 4772. A Irmandade Pré-Rafaelita fundou uma revista chamada The Germ (O Germe) para divulgar suas idéias, pinturas e poesias. BORGES, op. cit., p. 284. Para uma crítica estética deste movimento artístico ver: GOMBRICH, Ernest H. A história da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 404. Para o teórico Arnold Hauser, os pressupostos do pré-rafaelismo residiam em seu caráter poético/literário, espiritualista, histórico e simbólico: “(…) são idealistas, moralistas e eróticos envergonhados, como a grande maioria dos vitorianos (…) une um realismo que encontra expressão num deleite em ínfimos detalhes, na reprodução prazenteira de cada folha de grama e de cada prega de saia (…) exageram os sinais de perícia técnica, talento imitativo e perfeito acabamento”. HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 840-842.
12 Dante Gabriel Rosseti: pintor, desenhista e poeta inglês (Londres, 1828 – Kent, 1882). Filho do escritor napolitano Gabriele Rossetti, exilado por suas opiniões políticas. Foi um dos fundadores da confraria prérafaelita. Seus quadros (Ecce ancilla Domini, 1850; O sonho de Dante, 1871) e poesias (A moça eleita, 1850) inspiram-se em lendas medievais e temas da poesia primitiva inglesa e italiana. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, vol. 21, p. 5137.
13 William Morris: poeta, artista e ativista político inglês (Essex, 1834 – Hammersmith, 1896). Inovador da estamparia e xilogravura. Escreveu poesias narrativas como The Life and Death of Jason (1867) e The Earthly Paradise (1868), poemas pós-românticos, medievalistas. Traduziu a Eneida (1876) e a Odisséia (1887) e interessou-se pelas literaturas escandinavas. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, vol. 17, p. 4090.
14 O herói pagão sobreviveu na literatura arturiana sob a forma do mago Merlin, um druida (sacerdote dos Celtas) que ainda mantinha seus poderes sob o surgimento do cristianismo. Este personagem arturiano também recebeu diversas representações pelos pré-rafaelitas durante o Oitocentos: O engodo de Merlin (1874), de Edward Burne-Jones; Merlin e Nimue (1870), de Gabriel Rossetti. Também as representações de feiticeiras, fadas e druidas fizeram sucesso na arte vitoriana: Morgan Le Fay (1864), de A. Sandys; Os druidas trazendo o azevinho (1890), de George Henry e A. Horned.
15 Segundo Borges, a literatura inglesa havia esquecido suas raízes germânicas. Foi com o romantismo que essa vertente foi redescoberta, algo impensável com Shakespeare e totalmente consciente no caso de William Morris e os pré-rafaelitas. BORGES, op. cit., p. 356-357.
16 “Ó bretão, e tu Normando, por este chifre/Lembre-se de mim, que sou do sangue de Odin”. Texto original retirado de BORGES, 2002: 359.
17 A personagem Isolda foi muito representada pelos pré-rafaelitas, especialmente Burne-Jones, Rosseti, Morris e Francis Dicksee. A imagem de Isolda resgata muitos dos valores da mulher pagã, em meio à sociedade cristã das primeiras versões literárias. O seu amor impossível com Tristão inspirou o romance de Shakespeare, Romeu e Julieta. Contemplação, redenção e tragédia tornaram-se as características essenciais do movimento pré-rafaelita. Sobre o tema ver: CAMPOS, Luciana de. Uma leitura de Tristão e Isolda à luz da crítica feminina. Brathair 1 (2), 2001: 11-18 (www.brathair.cjb.net); CAMPOS, Luciana de. Em busca da bela dos cabelos de ouro: um estudo da representação da mulher/rainha Celta em Tristão e Isolda de Béroul. Tese de doutorado em Teoria Literária (Linha de pesquisa: História, Cultura e Literatura). Unesp/São José do Rio Preto, 2005.
18 Praticamente em todo o movimento pré-rafaelita, o rei Artur é quase sempre representado morrendo ou já morto na ilha de Avalon: L’morte d’Artur (1860) de James Archer – as rainhas choram ao lado de seu corpo próximo à praia; O rei Artur em Avalon (1894) de Edward Burne-Jones – o corpo do trágico rei repousa sobre uma ilha da costa da Bretanha, velado por nove rainhas. Para uma discussão historiográfica acerca de fontes literárias arturianas, consultar: ZIERER, Adriana. Artur: de guerreiro a rei cristão nas fontes medievais latinas e célticas. Brathair 2 (1), 2002: 45-61 (www.brathair.cjb.net).
19 Sir Edward Burne-Jones: pintor e desenhista inglês (Birmighan 1833 – Londres 1898). Aluno de Rosseti, uma das figuras marcantes do pré-rafaelismo; sua obra mistura mitologia antiga, lendas medievais e a religião cristã. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, vol. 5, p. 996.
Referências
BORGES, Jorge Luís & VAZQUES, Maria E. Literaturas germanicas medievales. Buenos Aires: Falbo Librero, 1965.
BOYER, Régis. Le mythe Viking dans les lettres françaises. Paris: Editions du Porte-Glaive, 1986.
CAMPOS, Luciana. Uma leitura de Tristão e Isolda à luz da crítica feminina. Brathair 1 (2), 2001: 11-18 (www.brathair.cjb.net).
_____ Em busca da bela dos cabelos de ouro: um estudo da representação da mulher/rainha Celta em Tristão e Isolda de Béroul. Tese de doutorado em Teoria Literária (Linha de pesquisa: História, Cultura e Literatura). Unesp/São José do Rio Preto, 2005.
CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Volume I. Rio de Janeiro: Alhambra, 1978, 2 ª edição.
DABEZIES, André. Mitos primitivos a mitos literários. In: BRUNNEL, Pierre (org.). Dicionário de mitos literários. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
GOMBRICH, Ernest H. A história da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
LANGER, Johnni. The origins of the imaginary Viking. Viking Heritage Magazine, University of Gotland/Centre for Baltic Studies, Visby (Sweden), n. 4, 2002.
_____ Rêver son passé. In: GLOT, Claudine & LE BRIS, Michel (orgs.). L’Europe des Vikings. Paris: Éditions Hoëbeke, 2004.
LE BRIS, Michel. Barbares romantiques, Norsemen et Saxons. In: GLOT, Claudine & LE BRIS, Michel (orgs.). L’Europe des Vikings. Paris: Éditions Hoëbeke, 2004.
LÖNNROTH, Lars. The Vikings in History and legend. In: SAWYER, Peter. The Oxford illustrated history of the Vikings. London: Oxford University Press, 1999.
MARKALE, Jean. L’époppé celtique d’Irlande. Paris: Payot, 1993.
WAWN, Andrew. The Vikings and the victorians: inventing the Old North in 19Th-Century Britain. London: D.S. Brewer, 2002.
WOLF, Norbert. A pintura da era romântica. Lisboa: Taschen, 1999.
ZIERER, Adriana. Artur: de guerreiro a rei cristão nas fontes medievais latinas e célticas. Brathair 2 (1), 2002: 45-61. (www.brathair.cjb.net)
Johnni Langer – Professor da UNICS, PR. E-mail: [email protected]
Luciana de Campos – Professora Mestre. Doutoranda em Letras/UNESP. E-mail: [email protected]
BORGES, Jorge Luís. Curso de literatura inglesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Resenha de: LANGER, Johnni; CAMPOS, Luciana de. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.5, n.1, p. 144-150, 2005. Acessar publicação original [DR]
Os Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio França e Inglaterra | Marc Bloch
Será desnecessário apresentar Marc Bloch aos historiadores. As pessoas que têm por ofício remexer o passado e seus vestígios de vida humana bem sabem a presença de nosso autor. Sentem-na tão forte em sua formação cotidiana que parecem, já familiarizados, dispensar o auxílio e a recorrência da procura. O historiador dos Annales, assim como os mortos renascentes da história, marca a historiografia e sua posteridade, funda discípulos e princípios, conduz da maneira mais humilde e sincera a apologia da história ou o ofício de historiador. Nosso livro é uma obra sua e não a menos genial. Talvez, a mais famosa. De leitura clássica e indispensável. Seu conteúdo: obra de ciência, de artista metódico, fonte de um renovar de história onde ainda história inexistia. Os reis taumaturgos e seus escrofulosos_ símbolos da mais alta magia e da crença; do poder e do sagrado, da ilusão e da cura.
***
Tudo tem início num propósito novo. Trata-se de estudar, em pleno ambiente intelectual dos anos 20 do século passado, a história de um milagre. Refazer grande parte do percurso da Idade Média e da Época Moderna para compreender o rito de cura das escrófulas (adenite tuberculosa), efetuado pelos reis de Inglaterra e França através do toque de suas mãos, regiamente diferenciadas. Ou, para ser mais exato e explícito, “fazer história com aquilo que, até o presente, era apenas anedota”(p.43). E sua história revela-se profunda. Da anedota, extrai matéria interminável de compreensão da humanidade persistente naqueles tempos antigos. Mais do que extração, aprofunda-se em novo estudo de história política e mental.
No interior da obra, vários temas sobressaltam e se fazem presentes ao conjunto da história deste milagre. Dá-se especial atenção à importância do imaginário coletivo, do poder das crenças e atitudes mentais dos homens, assim como se volta à demarcação do campo de disputas políticas travadas no processo de ascensão das casas principescas européias; a relevância do sagrado para caracterizar o ambiente religioso e mágico destas épocas, oscilantes entre o catolicismo pio da Igreja, os projetos e intenções nem sempre espirituais do poder laico e as tradições e anseios da cultura popular. Adentra a história de um milagre régio e de sua apropriação do sagrado, disputa e delimitação de diferenças e penetrações entre o espiritual e o secular, rei e papa, sacerdote e leigo_ História de sagração e poder, fé e crença. Enfim, passado, mais uma vez, que se vê profundo porque profundos são os desejos de vida humana na história.
***
A obra dividi-se em três livros. O primeiro, intitulado “as origens”, remonta aos primórdios das monarquias de França e Inglaterra. Servindo-se do famoso “mito das origens”, que tanto rodeia e seduz os historiadores, mesmo entre os mais astutos e conscientes, explicar-se-á o surgimento e a fundamentação permanente do ato de cura régia, no século XI, na França Capetíngia, e no século XII para os ingleses Plantagenet.
Mas, talvez, o indício mais significativo do primeiro tomo seja a caracterização do rito de cura em seus aspectos políticos e mentais: o desejo de cura dos escrofulosos, a imagem sagrada transposta ao rei através da consagração eclesiástica (principalmente com a unção), a delimitação da ambivalência atribuída pela cultura popular à certa salvação de sua saúde_ o sagrado enquanto sinônimo de “capaz de curar”_ e a longa tradição mágica presente em meio à gente comum.
O segundo livro, maior da obra, trata, primeiramente, do desenvolvimento do rito de cura régia durante a Baixa Idade Média, procurando “evocar o aspecto perceptível sob o qual esse poder corporificou-se aos olhos dos homens durante aquele período.”(p.91). O rei levava suas mãos às partes enfermas dos doentes e, logo após o toque, fazia o sinal da cruz. Eram essas, com pequenas variações, em suma, as ações básicas do rito. Contudo, apesar de simples, não deixavam de possuir imensa popularidade. “Tanto os reis de França quanto os da Inglaterra pretendiam ter o poder de curar”, e junto deles, acrescenta Marc Bloch, “todas as classes estavam representadas na multidão sofredora que acorria ao rei”.(p.101). Ao que tudo indica, a crença no poder taumatúrgico dos reis passaria ilesa pelos tempos conturbados dos séculos XIV e XV. É que a multidão atribuía às personagens régias divindade demais para conformar-se com a opinião de que seus soberanos fossem apenas simples senhores temporais. E, nisso, não estavam sós: também a medicina da época concordava em legitimar a prática régia dentro de quadros válidos para a saúde humana. Contudo, ainda, como sempre, existem contraditores. E aí tem-se a presença marcante do movimento Gregoriano, a disputar, primeiro com o Império e depois com o Regnum, as prerrogativas do sagrado. Por fim, ainda houve as tentativas de imitação dos reis ingleses e franceses por parte de alguns soberanos alhures.
Encontra-se também no mesmo livro o estudo de outra prática taumatúrgica. Só que, dessa vez, rito seguido apenas pelos soberanos Plantagenet. Trata-se das curas efetuadas pelos anéis medicinais benzidos pelos reis bretões, anéis que saravam da epilepsia e de distúrbios musculares. Em verdade, tínhamos, para todos estes atos mágicos e sagrados, o mesmo motivo: segundo Bloch, “o conceito de realeza sagrada e miraculosa (…), profundamente enraizado nas almas, permitiu que o rito do toque (assim como o dos anéis) sobrevivesse a todas as tempestades e a todos os assaltos”. (p.131).
Desta forma, vários temas perpassam a sedimentação do rito e as características essenciais com que o conceito de realeza sagrada e maravilhosa se mostrou. Dentre eles, destaca-se a dúbia condição assumida pela realeza diante da dignidade espiritual, quer dizer, “os reis sabiam muito bem que não eram de todo sacerdotes; mas eles também não se consideravam leigos; em torno deles, muitos de seus súditos partilhavam desse sentimento”.(p.149). Também, aspecto importante da santidade atribuída ao trono, a sagração real se fazia presente na devoção que lhe era dedicada. A unção régia, por seu lado, fornecia a razão desejada para demarcar a característica sagrada dos reis, que os situava, vez em quando, ao mesmo patamar dos sacerdotes de Roma. Vê-se, ao lado destas características, a própria definição e legitimidade do poder real: “Todo mundo sabia que para fazer um rei, e para fazê-lo taumaturgo, era necessário preencher duas condições(…) a ‘consagração’ e a ‘linhagem sagrada’”(p.169).
No desenrolar das práticas e discursos de legitimação, a monarquia condensa seus aparatos de símbolos e identidades. Em França, perpetuam-se as legendas do ciclo monárquico (Santa âmbula, as flores-de-lis e a auriflama) e as superstições que rodeavam a figura régia(o sinal de pele e a defesa inata contra os leões). Porque, “nessa época, o sucesso do maravilhoso de ficção explica-se pela mentalidade supersticiosa do público a que se destinava.”(p.187). Enfim, tem-se todo um arcabouço de sofisticação e moldagem do exercício do poder, correspondente, nos dizeres de Bloch, “aos progressos materiais das dinastias ocidentais”. Voltando à taumaturgia do toque das escrófulas, a evolução de signos atribuídos ao poder real é levada adiante pela aproximação, em França, da figura régia a S. Marcoul, santo curador deste mal que tanto afligia as almas. O que se mostra é a interpenetração de crenças populares que devotavam ao santo, assim como ao rei depois de sagrado, a capacidade sobrenatural. Além dos dois, somente aos “sétimos filhos” era concedido o dom taumatúrgico sobre os escrofulosos.
Contudo, apesar do avanço simbólico e material, sérios problemas surgiriam no século XVI para trajetória das casas reais européias. A Renascença e o Movimento Reformista compõem um novo tipo de pensamento humano e espiritual para os homens da Época Moderna. Mas, a crença maravilhosa da dádiva real ainda permaneceria viva até pelo menos o final do Antigo Regime. E nesse persistir, segundo Bloch, podemos entender melhor o desabrochar do absolutismo de Luís XIV na França e a profundidade do drama político inglês vivido no século XVII.
A Reforma havia complicado a vida política européia, e o rito do toque não escaparia às disputas que então se faziam entre os partidários da antiga fé e os novos seguidores da religião reformada. Primeiro abalo que se seguiria de outros. “Na verdade, a idéia do milagre régio estava relacionada a toda uma concepção do universo”, diz Marc Bloch. “Ora, não há dúvida de que, desde a Renascença e sobretudo no século XVIII, essa concepção tenha pouco a pouco perdido terreno.”(p.252).
As dinastias francesas e inglesas advindas após a Guerra dos Cem Anos e a Guerra das Duas Rosas passariam a tirar vantagem e também a sofrer os abalos de um lento, porém, progressivo, processo de secularização das consciências e das instituições políticas. As transmutações da história monárquica inglesa no século XVII imporiam vida curta ao rito miraculoso dos reis- médicos em território Saxão. A prática tem seu fim no início do século XVIII, já sob os Hannover.
O fim do rito francês demora ainda algum tempo. Tem-se, então, a incômoda passagem do pensamento ilustrado e da Revolução de 1789. Segundo o autor, “a decadência do milagre régio está intimamente ligada a esse esforço dos espíritos, pelos menos da elite, para eliminar da ordem do mundo o sobrenatural e o arbitrário e, ao mesmo tempo, conceber sob uma faceta unicamente racional as instituições políticas.”(p.252). O ocaso do rito em França se dá no século XIX sob reinado de Carlos X, situação onde a crença no milagre régio era ainda aceita apenas por parte do público arraigado às práticas antigas. Aqui se faz sentir toda a persuasão do céptico e irreligioso século XIX, onde o desencantamento do mundo redobrara a descrença nos corações dos homens.
***
São várias as indicações que Jacques Le Goff nos oferece, em seu prefácio da obra de Marc Bloch, para melhor entendermos Reis taumaturgos. Num resumo de tópicos, Le Goff aponta os possíveis itens da vida intelectual e prática de Bloch que teriam influenciado a feitura da obra: as reminiscências da Grande Guerra, o ambiente da universidade de Estrasburgo, o contato mais próximo com os medievalistas alemães, e também a influência e ajuda do irmão médico. Por outro lado, no próprio interior da obra, destaca o grande objetivo do autor: “o que Marc Bloch quis foi fazer a história de um milagre e, simultaneamente, a da crença nesse milagre”; ou melhor, a ‘história total de um milagre’(p.16). Traça, assim como se tentou fazer nesta resenha, um resumo do livro e de seus aspectos propriamente discursivos. E, por fim, analisa a ‘instrumentária conceitual’ de nosso autor e os itens relevantes à historiografia contemporânea que ainda estariam presentes no conteúdo da obra.
Desses aspectos, alguns tem importância destacada. Hoje, compreende-se a enorme dívida que os historiadores contemporâneos contraíram ao fundador da Escola dos Annales. Pode-se aglomerar nesta dívida a relevância que se atribuiria posteriormente pelas ciências humanas à história em longa duração, ao método comparativo e à antropologia histórica_ todos métodos e conceitos utilizados e mesmo fundados por Marc Bloch neste seu livro. Por outro lado, e seguindo ainda a opinião de Jacques Le Goff, “mais que a história das mentalidades, o caminho que Marc Bloch nos oferece explicitamente é o de uma nova história política(…) é o apelo ao retorno da história política, mas uma história política renovada, uma antropologia política histórica de que os Reis Taumaturgos serão o primeiro e sempre jovem modelo”(p.47).
***
Nos últimos anos, têm-se dado especial atenção, no âmbito da Historiografia da Europa Moderna, aos problemas e às especificidades do conceito de Absolutismo. O propósito deliberado de “resenhar” o livro abre-nos espaço de revelar faceta mais concentrada, porém, não menos importante, do conteúdo intelectual desta obra de Marc Bloch. De fato, o que Reis Taumaturgos teria a nos dizer a respeito desse conceito tão controverso e debatido?
Ora, a mais óbvia e prática correlação que se pode estabelecer entre esta história de um milagre régio e o conceito de Absolutismo é a possibilidade de se imaginar historicamente a força e o poder que detiveram estes seres, considerados, ao mesmo tempo, humanos e sagrados. Por outro lado, no decorrer de seu livro, Marc Bloch destaca intencionalmente a estreita correspondência que houve entre o sucesso da crença no milagre e o progredir, lento e definido, dos avanços materiais e simbólicos das monarquias francesa e inglesa durante a Baixa Idade Média e a Época moderna.
Contudo, é possível ainda mais estender o alcance da obra. O que se entrevê em algumas passagens é a ligeira demarcação, por parte do autor, do que ele próprio denomina ser uma “história profunda”; quer dizer, história que interpreta a crença neste milagre como sinônimo de todo um arcabouço de pensamento e entendimento do mundo que orbitaria sob parâmetros completamente singulares e historicamente determinados. A secularização das consciências e atitudes, assim como a “racionalização” da vida, tão marcantes em nossa sociedade contemporânea, só poderá ser esboçada no decorrer de nossa história, assim como na de Bloch, quando chegamos, a pouco e pouco, cada vez mais perto de nosso tempo. E somente a vemos perfeitamente delineada após o século XVIII. Para a Idade Média e para boa parte da Moderna, o que se vê em solo europeu é um mundo, ou uma forma de pensar o mundo, que pode ser definida como julgamento desvendado de um universo encantado e maravilhoso: fonte de todo o sagrado e sobrenatural.
O Absolutismo do Rei-Sol e a Monarquia de Direito Divino só poderiam ter razão de existir na atitude dos homens se, por meios possíveis, concedermos a eles a capacidade de aceitar como válidas práticas e crenças do “divino”. O que há de sagrado nos gestos e atitudes de Luís XIV para que se imagine o Todo-Poderoso conceito de amplitude do poder real? Nada haveria, por certo, se ao menos não fosse concedida a seus súditos a possibilidade do sagrado. E nisso, Marc Bloch nos ajuda a ver melhor a dificuldade de trabalho do historiador, estudioso que detém a incomensurável tarefa de escarafunchar alteridade com os mortos, tendo que, a cada vez em que olha pela janela de seu gabinete de estudos para o mundo de fora, saber lidar com a impressão aterrorizante e bela do contraste.
Le Goff vê em Marc Bloch homem “racionalista, herdeiro das luzes”, e assim justifica a necessidade do último livro de nosso autor (“interpretação crítica do milagre régio”), em que se procura entender ‘como se acreditou no milagre régio’. Para além das críticas ao, talvez, excessivo apego de Bloch, discípulo de Durkheim, às explicações racionais e científicas dos fenômenos sociais, o que fica já é o bastante. Se, às vezes, se podem encontrar dúbias colocações do autor a respeito da honestidade ou da sinceridade dos Reis e de seus fiéis seguidores no ato de cura _ o que o leva à inevitável conclusão de que tudo teria sido um “erro coletivo”_ o que se entrevê ao final é sempre a mesma seguridade abarcadora de todo um modo de compreensão do mundo que, ao cabo, afetaria Reis e súditos. Mundo maravilhoso e sagrado, mas, não destituído de intenções políticas deliberadas ou, pelo contrário, muitas vezes indicador de desejos e atitudes humanas em todas as esferas da vida_ seja pela vivência econômica, social ou sensível.
Talvez, assim como assinalou nosso prefaciador, encontremos certa hesitação conceitual no vocabulário de Marc Bloch (particularmente, para mim, na recorrência com que aparecem na obra conceitos vagos de nacionalidade na Idade Média e Tempos Modernos). Mas, em suma, trata-se de obra fundamental no campo das idéias e concepções políticas que, a seu turno, submete um novo olhar sobre a história.
Por fim, por meio deste livro, podemos utilizar, sem medo de usufruir indevidamente, a erudição histórica de dez séculos e a reflexão sutil de um dos maiores historiadores do século XX.
Referência
BLOCH, Marc. In: Reis Taumaturgos_ o caráter sobrenatural do poder régio: França e Inglaterra. Prefácio de Jacques Le Goff. Tradução: Júlia Mainard. São Paulo, Cia das Letras. 2 a Reimpressão, 1999.
BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio França e Inglaterra. Prefácio de Jacques Le Goff. Tradução: Júlia Mainard. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Resenha de: GASPAR, Tarcísio de Souza. A Ilusão e a Cura – Reis Taumaturgos, Marc Bloch. Cantareira. Niterói, n.8, 2005. Acessar publicação original [DR]
As camélias do Leblon e a abolição da escravatura. Uma investigação de história cultural – SILVA (RIHGB)
SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e a abolição da escravatura. Uma investigação de história cultural. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Resenha de: PIRES, Fernando Tasso Fragoso. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.165, p.209-213, n.425, out./dez., 2004.
Fernando Tasso Fragoso Pires – Sócio titular do IHGB.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Decifrando o genoma: a corrida para desvendar o DNA humano | Kevin Davies
A divulgação oficial, em junho de 2000, do primeiro ‘rascunho’ completo da cadeia de DNA humana constitui o mote central da argumentação de Kevin Davies em seu Decifrando o genoma. Em torno desse evento tão explorado pela mídia, controverso no meio científico e polêmico entre a opinião pública, cabem as apreciações do autor sobre a história dos estudos em genética. Ao mesmo tempo, ele expõe o campo de atuação da engenharia genética moderna e especula acerca de suas futuras conquistas.
O leitor à procura de reflexões mais aprofundadas sobre questões como bioética ou ansioso por entrar em contato com uma postura relativista possivelmente findará a leitura insatisfeito. Contudo, o autor alcança seu objetivo de mapear o que tem sido feito em genética desde seus ‘mitos de origem’, com as descobertas de Mendel, até as recentes revoluções biotecnológicas na ‘era da genômica’.
Na introdução, Kevin Davies explica que não pretende explorar o viés político e tampouco analisar antropologicamente o projeto Genoma Humano, mas sim “captar a emoção, a intriga, o mistério e a majestade da busca do Santo Graal da biologia” (p. 23).
À margem da proposta do autor, sobressai uma tendência de situar as conquistas científicas inseridas em sua cronologia histórica através de relações imediatas de causa e efeito. Essa perspectiva associativa que avalia o desenvolvimento da ciência segundo uma concepção unilinear torna-se explícita quando o autor acompanha a evolução do projeto Genoma Humano tomando por referência única a relação antagônica entre o Consórcio Público Internacional do Genoma e a iniciativa privada, leia-se, Celera Genomics.
Ainda sobre a oposição entre instâncias pública e privada, o autor tende a configurá-las metonimicamente. A personificação do debate é um recurso recorrente no texto. O Consórcio Público Internacional é primeiramente associado à figura de James Watson para depois dar espaço a seu sucessor na chefia do empreendimento, Francis Collins. Na iniciativa privada, destaca-se o nome de Craig Venter. Guardadas as devidas proporções, tais associações parecem justas e pertinentes, não fossem as apropriações que delas faz a narrativa ao exacerbar a questão da disputa no campo científico e polarizar a discussão sobre o seqüenciamento gênico.
Parece estar-se criando um tipo ideal de pesquisador, fundamentado em suas experiências, trajetória de vida e aspirações pessoais. A proposição de configurar a “corrida para desvendar o DNA humano” como uma competição particular entre dois homens é contestável. Na comparação entre Francis Collins e Craig Venter, o autor destaca pontos congruentes nas duas personalidades: homens que em suas vidas têm, ao lado de um acentuado espírito de competitividade, um comportamento altruísta atestado por seus ideais humanistas. Collins e Venter, segundo Davies, possuem personalidades cativantes, o que lhes fornece o substrato para serem figuras públicas, além do fato de serem cientistas de ponta. Assim é forjado o perfil daqueles que fariam a história decodificando o genoma humano.
Uma preocupação de Kevin Davies é ilustrar o contexto histórico em que se desenvolveram as primeiras idéias de elaborar um projeto que viabilizasse os estudos sobre o genoma humano. Os dois primeiros capítulos do livro tratam dos pioneiros, como James Watson, e principais defensores da implementação de um programa que necessitaria da disponibilidade de bilhões de dólares anuais.
Entre os que advogavam a favor do projeto Genoma Humano, havia os que o consideravam um grande passo para outros programas, como o do estudo do genoma do câncer. Outros, como Walter Gilbert e Eric Lander, avaliavam a iniciativa como a oportunidade de conceder à biologia o status de ciência que opera a partir de padrões universais. A perspectiva totalizante de se entender a biologia humana, assim como a possibilidade de listar em um livro todos os códigos que regem as funções do corpo humano, era de fato atraente, por abrir caminho para grandes projetos em biologia.
A princípio fomentado por órgãos públicos como o National Institute of Health e o U. S. Department of Energy, o projeto Genoma Humano, que teve início oficialmente em outubro de 1990, logo surge como uma promessa rentável para grandes empresas privadas, sobretudo da área de farmacologia e biomedicina. Estas últimas, por conseguinte, injetam capital nas pesquisas de diversos institutos, de olho nos lucros obtidos a partir do desenvolvimento de novas drogas e medicamentos criados com base nas descobertas sobre o genoma humano. A introdução do capital privado nas pesquisas redobrou a apreensão acerca das chamadas “implicações éticas, legais e sociais” do projeto. Questões como a discriminação genética e a patente dos genes tornaram-se polêmicas amplamente divulgadas na imprensa não-especializada e acentuaram o debate entre aqueles que se posicionavam contra ou a favor do projeto Genoma Humano.
Com um privilegiado lugar conquistado por sua experiência como editor-chefe da Nature Genetics, Davies oferece-nos uma abordagem esclarecedora sobre esse momento marcado pela intensificação dos confrontos entre o Consórcio Público Internacional e as pesquisas privadas. O clima tenso é bem trabalhado em Decifrando o genoma, que, utilizando a imagem de uma ‘corrida’, apresenta as vantagens e as limitações das duas partes: a pública e a privada.
O Consórcio Público Internacional do Genoma já entrava em seu segundo plano qüinqüenal de metas e ainda não havia conseguido atingir uma percentagem expressiva no seqüenciamento do genoma humano. Segundo Davies, isso explicava-se pelo método de clonagem gênica utilizado: com alto grau de confiabilidade, porém consideravelmente lento em relação ao modelo shotgun de Craig Venter. Por outro lado, a empresa privada de seqüenciamento genético, apesar de adiantada na tarefa de decodificar todo o genoma humano, enfrentava problemas relativos à impossibilidade legal de utilizar as patentes dos genes decodificados.
Um processo de conciliação de interesses foi então administrado pelo governo norte-americano, culminando, em 26 de junho de 2000, com o anúncio feito pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e pelo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, sobre o término do que foi considerado o ‘rascunho’ da seqüência gênica humana. Acompanhado por Francis Collins e Craig Venter, na Casa Branca, Bill Clinton comparava o feito dos cientistas ao aprendizado da “linguagem de Deus”.
A metáfora parece consagrar um processo marcado pela utilização de tantas outras, como ‘Santo Graal’, ‘Código dos códigos’, ‘Livro da vida’ etc. Esse não deixa de ser um dado importante — embora ignorado pela ênfase dada à linguagem jornalística utilizada pelo autor — que, analisado epistemologicamente, fornece subsídios para se pensar sobre as promessas oferecidas pelo projeto Genoma Humano à luz de uma sociologia das ciências.
As conseqüências do projeto são ainda motivo de especulação. Para Kevin Davies, como declarou Craig Venter: “A seqüência é apenas o início…” Subprogramas, tais como o projeto Genoma Funcional, pretendem localizar genes ou conjuntos de genes determinantes em potencial — simples ou complexos — de características biológicas, comportamentais e patológicas. Tantas vezes comparado à ficção de Huxley em Admirável mundo novo, os ‘profetas’ do projeto Genoma Humano parecem reproduzir algumas tendências reducionistas caras a outras correntes da história das ciências. Admirável, sim. Resta agora averiguar o quão inovador ideologicamente ele vem a ser.
Resenhista
Guilherme José da Silva e Sá – Doutorando em antropologia social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
Referências desta Resenha
DAVIES, Kevin. Decifrando o genoma: a corrida para desvendar o DNA humano. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. Resenha de: SÁ, Guilherme José da Silva e. Corrida ou duelo? História, Ciência, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.10, n.2, maio/ago. 2003. Acessar publicação original [DR]
As Excelências do Governador. O panegírico fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia/1676) | Alcir Pécora e Stuart B. Schwartz
O livro As excelências do Governador, panegírico fúnebre a Dom Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, composto em 1676 por Juan Lopes Sierra e organizado em edição modernizada por Stuart B. Schwartz e Alcir Pécora, foi publicado em 2002 pela Editora Companhia das Letras.
Ao estudioso norte-americano, Schwartz, couberam os apontamentos elucidativos quanto ao manuscrito de Sierra, no tocante aos diversos acontecimentos históricos que permeiam a composição do panegírico. O professor Alcir Pécora, por sua vez, analisa, no manuscrito, os seus aspectos estéticos, a partir de referenciais retóricos e poéticos tais como eles eram compreendidos e realizados no século XVII, no mundo ibérico. Leia Mais
Chica da Silva e o contratador dos diamantes. O outro lado do mito | Júnia Ferreira Furtado
O mais novo livro de Júnia Ferreira Furtado, Chica da Silva e o contratador dos diamantes, conquanto possa ser lido como uma unidade discreta no interior da produção historiográfica da estudiosa mineira, alcança seu pleno sentido quando lido como parte integrante de uma pesquisa coerente sobre o avanço da colonização lusitana para o interior da América portuguesa e a implantação de núcleos de povoamento que possibilitaram a reprodução das estruturas de poder do Estado português em lugares cada vez mais distantes do centro de deliberação por excelência, a Metrópole.
Em livro publicado em 1998, Homens de negócio, a autora discutiu o importante papel que coube ao comércio como mecanismo propiciador da interiorização da Metrópole nas regiões em que os paulistas descobriram ouro. A necessidade de criação de novas rotas comerciais visando ao abastecimento dos novos núcleos urbanos afastados do litoral conduziu à organização do comércio de abastecimento que entrelaçava interesses de reinóis àqueles de muitos colonos que se lhes associaram. Segundo Júnia Ferreira Furtado, “o controle do mercado de abastecimento, essencial para sustentar uma população urbana que crescia; a cobrança de impostos sobre a atividade mercantil, como forma suplementar de arrecadação de metais; e o mecanismo de endividamento da população local, que ficava nas mãos dos comerciantes, foram algumas das estratégias de expansão dos interesses metropolitanos nas Minas, por meio da atividade mercantil”. Para além dos interesses propriamente mercantis, muitos comerciantes reinóis, prepostos de grandes casas de comércio lusas na América portuguesa, acabavam por dedicar-se à agricultura, à pecuária, à mineração, adquirindo terras, escravos, fixando-se à terra a ponto dos seus interesses não se diferenciarem dos interesses do colonato em geral. Leia Mais
Velhos Amigos | Ecléa Bosi
Ouvir o que os velhos têm a dizer sobre o passado raramente é experimentado e entendido como uma atividade aprazível. Identificar a poesia e a beleza contidas no conteúdo das narrativas memoriais é, ainda mais, uma tarefa de difícil realização. A exceção fica por conta dos interessados em estudar a memória, a oralidade, a narratividade e outros temas que vicejam nos campos acadêmicos, cultivados por pesquisadores, intelectuais e similares. Desde a modernidade que a memória parece relegada ao plano dos estudos, se descolando da característica de atividade construtiva do cotidiano humano.
Mas a professora Ecléa Bosi, ao conceber e escrever Velhos Amigos, não se deteve nessas questões, felizmente! Velhos Amigos tem ares de reencontro com narradores do ontem e do hoje, exibindo as fímbrias da teia que estabelecem os elos entre passado e presente. Esse texto estabelece o retorno a Memória e Sociedade; lembranças de velhos, tese de livre-docência da autora, publicada em 1973. Na apresentação do trabalho – originalmente a argüição a tese –, Marilena Chauí, a certa altura, escreveu que “o pensamento compartilhado. Outrora, a filosofia o nomeava: diálogo” (p. XXI). Ao terminar a leitura de Velhos amigos, recordei dessa afirmação esclarecedora. Fui conferi-la e criei a impressão de que Ecléa Bosi constrói essa interlocução de forma saborosa no livro em tela. Leia Mais
Tempos interessantes. Uma vida no século XX – HOBSBAWM (RIHGB)
HOBSBAWM, Eric. Tempos interessantes. Uma vida no século XX. São Paulo: companhia das Letras, 2002. Resenha de: RODRIGUES, Lêda Boechat. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.164, n.418, p.219-223, jan./mar., 2003.
Lêda Boechat Rodrigues – Sócia emérita do IHGB.
[IF]Velhos Amigos | Ecléa Bosi
Ouvir o que os velhos têm a dizer sobre o passado raramente é experimentado e entendido como uma atividade aprazível. Identificar a poesia e a beleza contidas no conteúdo das narrativas memoriais é, ainda mais, uma tarefa de difícil realização. A exceção fica por conta dos interessados em estudar a memória, a oralidade, a narratividade e outros temas que vicejam nos campos acadêmicos, cultivados por pesquisadores, intelectuais e similares. Desde a modernidade que a memória parece relegada ao plano dos estudos, se descolando da característica de atividade construtiva do cotidiano humano.
Mas a professora Ecléa Bosi, ao conceber e escrever Velhos Amigos, não se deteve nessas questões, felizmente! Velhos Amigos tem ares de reencontro com narradores do ontem e do hoje, exibindo as fímbrias da teia que estabelecem os elos entre passado e presente. Esse texto estabelece o retorno a Memória e Sociedade; lembranças de velhos, tese de livre-docência da autora, publicada em 1973. Na apresentação do trabalho – originalmente a argüição a tese –, Marilena Chauí, a certa altura, escreveu que “o pensamento compartilhado. Outrora, a filosofia o nomeava: diálogo” (p. XXI). Ao terminar a leitura de Velhos amigos, recordei dessa afirmação esclarecedora. Fui conferi-la e criei a impressão de que Ecléa Bosi constrói essa interlocução de forma saborosa no livro em tela. Leia Mais
Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai | Francisco Doratioto
A 7 de dezembro de 1864, o diplomata Edward Thornton, representante britânico na Argentina e Paraguai, escreveu ao chanceler paraguaio José Berges uma carta que comprova o desinteresse da Grã-Bretanha na eclosão de uma guerra entre o Paraguai e seus vizinhos. No documento, Thornton afirma textualmente: “V.E. sabe que a Inglaterra também está em atritos com o Brasil, de modo que tanto por esse motivo, como pela falta de instruções de meu governo, não poderia fazer nada de oficial com seu governo; mas particularmente sim, se puder servir, no mínimo que seja, para contribuir para a reconciliação dos dois países, espero que V.E. não hesite em me utilizar”.
A disposição do representante britânico de colaborar para evitar o conflito entre Brasil e Paraguai é uma das muitas surpresas guardadas na obra do historiador Francisco Doratioto, que desfaz um dos maiores mitos a respeito da Guerra do Paraguai: o de uma guerra que teria sido provocada pelos interesses “imperialistas” britânicos. Construído inicialmente pelo revisionismo histórico paraguaio, a valorização da figura de Solano López chegou ao paroxismo no final dos anos 1960, quando intelectuais nacionalistas e de esquerda o elevaram à condição de líder antiimperialista. Uma geração inteira de brasileiros concluiu seus estudos secundários e mesmo de nível superior acreditando que o Paraguai alcançou um bom nível de desenvolvimento após a independência, possuía um projeto autônomo e equilibrado de crescimento e que foi destruído pela Tríplice Aliança, por representar uma ameaça aos interesses ingleses na região. A Grã-Bretanha teria se utilizado do Brasil, da Argentina e do Uruguai para pôr fim ao projeto paraguaio. Leia Mais
O pensamento mestiço – GRUZINSKI (RBH)
GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 398p. Resenha de: GIL, Antonio Carlos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.44, 2002.
Neste seu novo livro, Serge Gruzinski, historiador francês, diretor de pesquisa do Centre Nacional de la Recherche Cientifique (CNRS) e diretor de estudos na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), comenta em suas páginas iniciais a experiência precursora de Aby Warburg, um famoso historiador da arte de inícios do século XX. Warburg, imbuído de um olhar antropológico, descobrira um vínculo entre a cultura dos índios hopis do Novo México e a civilização do Renascimento. Gruzinski também se volta para esta relação, pois um dos objetivos centrais deste seu novo livro é observar como os povos ameríndios da segunda metade do século XVI, estão impregnados de diversos elementos europeus e vice-versa. Ou seja, se trataria de fato do estudo de culturas mestiças.
Gruzinski, ao abordar este tema, faz sempre uma ponte com o presente. Afinal, vivemos ainda mais radicalmente hoje as influências do processo de mundialização que se iniciou com a expansão européia no século XVI. Da Amazônia a Hong Kong vivemos em mundos mesclados, onde temos que nos esforçar para juntar os fragmentos que nos chegam por todas as partes, hoje em escala planetária. Nossas práticas atuais foram inauguradas no México do Renascimento (p. 90). A narrativa de Gruzinski demonstra que o arcaico é um engodo e que estamos profundamente contaminados pela modernidade. Sua epígrafe retirada de Mário de Andrade: “Sou um tupi tangendo um alaúde”, que também encerra o seu livro, exprime de maneira simbólica o que o autor irá demonstrar em todo o decorrer do livro. Vários traços característicos das sociedades analisadas, no caso, as sociedades indígenas da América Espanhola do século XVI, provêm da Península Ibérica e da Itália do Renascimento e não do distante passado pré-hispânico. O fenômeno da mestiçagem manobra com um número muito grande de variáveis que muitas vezes fogem à percepção dos historiadores. Além da grande complexidade das mestiçagens, o autor demonstra que havia e ainda há uma grande desconfiança em relação ao tema. Gruzinski estende a sua crítica aos antropólogos amantes de arcaísmos e de “sociedades frias” ou de tradições autênticas. Gruzinski certamente, ao escolher o título de seu livro, quer marcar sua distância do autor de “O pensamento selvagem”. Em seu primeiro capítulo, de fato, critica a antropologia estruturalista por ter desprezado a importância dos processos de recomposição permanente, privilegiando por sua vez as totalidades coerentes, estáveis e com contornos tangíveis. A todos que ignoram os efeitos da colonização ocidental e as reações que se desencadearam, o autor acusa de ocultadores da história, sem a qual é impossível conhecer a profundidade essencial desse processo.
Gruzinski tem a preocupação de tentar definir o que seria o conceito de mestiçagem. Tarefa difícil na medida em que os termos “mistura”, “mestiçagem” e “sincretismo” são carregados de diversas conotações e a priori (p. 42). Gruzinski alerta que a compreensão do termo choca-se com os hábitos intelectuais que preferem os conjuntos monolíticos e os clichês e estereótipos em vez dos espaços intermediários (p. 48). Alerta também para as ciladas que se impõem quando se utilizam os conceitos de cultura ou identidade. Neste sentido, o autor critica aos que “evocam a existência de uma ‘América Barroca’ ou uma ‘economia do Antigo Regime’ como se pudesse se tratar de realidades homogêneas e coerentes, das quais só restasse estabelecer os traços originais” (p. 54). Ou seja, Gruzinski adverte que para analisarmos as mestiçagens, nós, historiadores, precisamos “submeter nossas ferramentas de ofício a uma crítica severa e reexaminar as categorias canônicas que organizam, condicionam e, com freqüência, compartimentam as nossas pesquisas” (p. 55). Na análise que Gruzinski se propõe, emprega o termo “mestiçagem” para designar as misturas que ocorreram em solo americano no século XVI entre seres humanos imaginários e formas de vida, vindos de quatro continentes, América, Europa, África e Ásia. Já o termo “hibridação” é utilizado por Gruzinski na análise das misturas que se desenvolvem dentro de uma mesma civilização ou de um mesmo conjunto histórico (p. 62).
Ao analisar o momento da conquista, Gruzinski relembra que a chegada dos europeus gerou altas turbulências e foi sinônimo de desordem e caos, e que sem esta noção em mente não podemos compreender a evolução da colonização e as misturas provocadas pela conquista (p. 73). Surgiram o que o autor chama de “zonas estranhas” onde a improvisação venceu a norma e o costume, ou seja, os vínculos que ligaram os espanhóis e as populações ameríndias foram profundamente marcados por indeterminações, precariedades e improvisações. Havia um déficit constante nas trocas que se estabeleciam, visto que se relacionavam fragmentos e estilhaços da Europa, da América e da África. Além do impacto da conquista, Gruzinski desenvolve em um de seus capítulos outro processo que considera importante na formação das mestiçagens na América Espanhola: a ocidentalização. Ela operou a transferência para o nosso lado do Atlântico dos imaginários e das instituições do Velho Mundo (p. 94). Um dos elos essenciais dessa ocidentalização foi a cristianização.
Ao considerar o processo de ocidentalização, Gruzinski passa a abordar a cópia indígena. Fruto da demanda de uma clientela espanhola ou indígena, ávida por objetos de estilo europeu, a reprodução indígena, ou melhor, a noção de cópia acabou por se revelar extremamente elástica. Gruzinski demonstra que a concepção européia de reprodução deixava um campo considerável à interpretação e à invenção. Neste ponto, o autor começa a analisar o que consideramos o cerne deste seu novo livro: as mestiçagens da imagem.
De uma forma bastante criativa, Gruzinski, ao analisar os frisos do desfile das Sibilas que se encontram na “Casa do Decano” em Puebla ou os afrescos que enfeitam a igreja agostiniana de Ixmiquilpan, foge dos esquematismos e clichês construídos em relação aos índios da América, que sempre se referem aos esplendores das civilizações pré-colombianas ou à decadência inapelável que teria se sucedido (p. 131). Gruzinski demonstra que os indígenas, que pintaram as imagens analisadas, se inspiraram nas obras de Ovídio, principalmente em “As metamorfoses”, e adaptaram motivos clássicos de modo a dar às cenas indígenas um aspecto antigo. Gruzinski acredita que a razão para tantos esforços em unir os motivos ovidianos e indígenas seria maquiar as inúmeras reminiscências pagãs cujas conseqüências reflexivas poderiam assim estar fora do alcance de um espírito europeu.
Gruzinski direciona o nosso olhar para um espaço ornamental — os frisos. Seriam estes espaços um local dedicado às frivolidades da decoração, aos efeitos superficiais e ao culto do pormenor? Gruzinski afirma que é preciso reconsiderar o papel das margens e do ornamento na arte européia e a devolver a esses espaços o papel e o significado que lhes cabem. Gruzinski também põe em relevo a importância do maneirismo na proliferação do gosto pelo bizarro, pelos fenômenos estranhos e monstruosos, que influenciou o uso dos grotescos europeus pelos artistas mexicanos — os tlacuilos. Os grotescos revelam o gosto da época pelos arabescos e bestiários fantásticos. Em sua análise, Gruzinski demonstra que os grotescos permitiram a troca entre dois mundos — o indígena e o europeu. Neste sentido, o autor se volta para este objeto tão pouco estudado mas essencial para o processo de localização de engrenagens e processos de mestiçagem. Os grotescos europeus, ainda que explorem tendências decorativas, privilegiam metamorfoses e hibridações que estão presentes no pensamento do Renascimento. A contribuição de Gruzinski se dá pelo fato de constatar que a hibridação presente nas gravuras analisadas se transforma, em solo mexicano, em mestiçagens, uma vez que houve naquele momento um alargamento gigantesco de horizontes (p. 193). Cabe ressaltar que Gruzinski, em relação ao seu conceito de mestiçagem, não trabalha com a idéia de choque, justaposição, substituição ou mascaramento. O autor considera que o processo resultante da mestiçagem não é um puro produto dos meios que o engendraram. Neste sentido, o autor prefere trabalhar com a idéia de “atraidor” que à maneira de um ímã permite ajustar entre si peças díspares, reorganizando-as e dando-lhes um sentido (p. 197). Ou seja, ao unir concepções diversas, o atraidor possibilita a expressão de um pensamento mestiço, como podemos ver nos afrescos indígenas, no mapa-paisagem da cidade de Cholula ou nos cantares indígenas mexicanos.
Gruzinski se apropria da expressão “culture of disappearance” utilizada pelo sociólogo Ackbar Abbas, que analisa a situação de Hong Kong no último decênio do século XX (p. 315). Gruzinski considera míopes os que reduziram o passado do México a uma história de massacres e destruições, e que por muito tempo ignoraram ou fizeram desaparecer as formas singulares do Renascimento indígena (p. 316). Os nobres mexicanos, para evitar serem assimilados ou reabsorvidos, tiveram que aprender a “sobreviver a uma cultura de desaparecimento” adotando estratégias para tirar partido de mutações, evitando a hispanização pura e simples (p. 316). Portanto, o autor de uma maneira bastante feliz descarta as ciladas da marginalidade que apenas consolida o centro, assim como escapa às ilusões do local, percebido de forma ideal como um porto seguro que teria conservado a antiga pureza (p. 317).
Gruzinski, o tempo todo, nos alerta que o conjunto de componentes extremamente diversos como os pictogramas, os grotescos, as fábulas antigas, os cromatismos, os efeitos luminosos, frutos do encontro e do enfrentamento, não de duas culturas, mas do que ele chama “dois modos de expressão e comunicação” (p. 273), pertencem a um espaço novo, a uma “zona estranha” (p. 243), cuja compreensão depende da invenção de novos procedimentos de análise.
Os artistas da cidade do México no século XVI, assim como os cineastas de Hong Kong, segundo o autor, elaboraram novas práticas da imagem, ao mesmo tempo que desestabilizaram e distorceram os gêneros, sejam eles os grotescos do Renascimento, os velhos cantares ameríndios ou os filmes de kung-fu (p. 319).
Este livro de Gruzinski, além de ser uma obra de grande erudição, também é uma lição de método. A nós, historiadores, propõe que estejamos atentos à interdisciplinaridade e a todas as formas de expressão que permitam um enriquecimento das formas de análise de nosso objeto de estudo. Como disse anteriormente, Gruzinski faz diversas pontes com o presente. O seu estudo do México espanhol após a conquista não impede que analise certas questões contemporâneas como a mundialização, a “World Culture” e a influência cada vez mais predominante dos Estados Unidos. Gruzinski, por exemplo, analisa em seu livro os filmes de Peter Greenaway “Prospero´s Books” e “The Pillow Book”, e o cinema do diretor Wong Kar-wai procedente de Hong Kong. Um dos filmes de Wong Kar-wai, “Happy Together”, que narra as peripécias de dois chineses em Buenos Aires, dá título a sua conclusão. Ao analisar este filme, Gruzinski, através do olhar do diretor, expõe a força das mestiçagens num mundo onde imperam os fluxos de informação e poder do capitalismo em nível mundial.
Gruzinski está atento à complexidade do tema na medida em que realça os limites que uma mistura pode alcançar, uma vez que pode se transformar em uma nova realidade ou adquirir uma autonomia imprevista. Portanto, o autor sugere que o estudo destes limites com suas conseqüências para o fenômeno da mestiçagem está sendo reservado para um livro futuro. Nele, talvez o autor possa nos mostrar algo que ainda não foi abordado neste livro. Qual será o lugar da cultura mestiça neste processo de mundialização engendrado em escala planetária pelo capitalismo? Gruzinski já demonstrou a impossibilidade do retorno ao passado, do despertar das culturas submetidas. Resta-nos indagar se a cultura mestiça se manterá refém dentro dos limites da tradição ocidental ou se permitirá o surgimento de algo novo que romperá com a lógica do sistema de dominação atualmente vigente.
Certamente o leitor que se dispuser a ler “O Pensamento Mestiço” de Serge Gruzinski, não se decepcionará e poderá se deixar levar pelo prazer de descobrir uma outra América.
Antonio Carlos Amador Gil – Universidade Federal do Espírito Santo.
[IF]Raízes do Riso. A representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos primeiros tempos do rádio – SALIBA (RBH)
SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso. A representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 366p. Resenha de: DE LUCA, Tania Regina. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.44, 2002.
O período denominado de pré-moderno tem sido objeto, especialmente a partir da década de 1980, de profunda reavaliação histórica. A própria terminologia consagrada para nomeá-lo já denuncia o anátema que tem pesado sobre a produção literária das primeiras décadas republicanas, que esteve longe de contar com o entusiasmo de alguns dos nossos principais críticos. A idéia de negatividade acabou por se espraiar para o ambiente intelectual e cultural como um todo e mesmo quando se tenta atribuir ao pré-modernismo um sentido forte, ou seja, de antecipação temática e formal do que estaria por vir, a interpretação ainda permanece atada a parâmetros externos, uma vez que o período é avaliado em função de quanto é capaz de anunciar o futuro, numa assunção implícita de que o mesmo carece de essência e sentido próprios.
O peso simbólico de 1922 é de tal ordem que não apenas se impôs enquanto marco periodizador da cultura brasileira, como também homogeneizou os antecessores sob rótulos genéricos, subtraindo-lhes a identidade. A coerência e o equilíbrio desse quadro, construído em larga medida pelo discurso dos modernistas, cujas opiniões, testemunhos e análises foram incorporados de forma pouco crítica pela historiografia, vêm sendo perturbados em mais de um sentido.
O trabalho de Elias Thomé Saliba constitui-se numa significativa contribuição para o premente esforço de releitura das décadas iniciais do século XX. O autor propõe-se a estudar a representação humorística brasileira durante a Belle Époque e nos primeiros tempos do rádio e, para tanto, apresenta os resultados da sua pesquisa em quatro capítulos, precedidos por um prólogo.
No texto de abertura merece particular destaque a discussão a respeito da crise e desarticulação das definições clássicas do humor, ancoradas na procura da essência do risível, e as análises, produzidas justamente no período estudado, das reflexões de Bergson, Freud e Pirandello que, a partir de perspectivas diferentes, enfatizaram o caráter histórico do humor e do cômico. Elias Saliba bem assinala o lugar central então ocupado pelas narrativas sobre a nação, temática que já possuía considerável tradição, mas que se revestiu de novos significados e conteúdos na passagem do século XIX para o XX. As representações humorísticas, assinala o historiador, desempenharam papel de relevo no processo de invenção das imaginações nacionais, e se fomentaram estereótipos, também contribuíram para modificá-los e desmistificá-los. Nessa perspectiva, cabe questionar: O que significaria, então, ser brasileiro num momento de aceleradas mudanças, marcado pela Abolição, República e pelo irromper dos substratos materiais da modernidade? Já éramos uma nação? O que nos faltava para atingir a completude ou, num tom mais pessimista, seria possível realizar tal proeza algum dia? Dilemas que também foram enfrentados pelos humoristas, como demonstra a primorosa pesquisa realizada.
Explicitados os fundamentos e objetivos da obra, o capítulo 1, Preparando o espírito para a Belle Époque, fornece ao leitor um rico panorama da produção humorística brasileira ao longo do século XIX, abarcando desde os folhetos cômicos do período regencial, pasquins, rodapés dos pequenos jornais até o surgimento das primeiras revistas ilustradas, que começaram a proliferar graças ao desenvolvimento da impressão e reprodução. A questão, porém, está longe de haver sido circunscrita aos seus aspectos técnicos. Como alerta o autor, nos decênios finais do Império,
(…) o recurso cômico era não apenas pouco difundido devido à inexistência dos próprios meios de difusão, mas também havia um mal disfarçado desprezo da cultura em geral pela produção humorística, a não ser quando esta se mostrava suscetível de ser incluída — ou classificada — nos moldes estéticos consagrados do romance, do drama ou da epopéia (p.43).
O que se admitia, no máximo, era o bom riso, que não destilasse rancor e tampouco atacasse frontalmente algo ou alguém em especial, postura exemplificada na maior parte da Enciclopédia do riso e da galhofa (1863), de um tal Pafúncio Semicúpio Pechincha, cognome Patusco Jubilado, pseudônimo adotado por Eduardo Laemmert. Quando não era esse o caso, e a narrativa continha (ou era lida como se contivesse) lances forte, com conotação degradante, obscena, grotesca ou marcada pelo rancor pessoal, rixas políticas, ressentimento social, a produção satírica acabava por ser cuidadosamente alocada nas margens da obra do escritor, como ocorreu com Bernardo de Guimarães e Olavo Bilac, por exemplo. Outros, que não adentraram o circuito da produção culta, acabaram esquecidos e proscritos do próprio mundo da escrita, caso de José Joaquim de Campos Leão, Hippolyto da Silva e Pedro Antonio Gomes Júnior.
Se a representação cômica da vida nacional não se iniciou na República, como o autor bem demonstra, parece assente que foi a partir dessa época que ela se intensificou e ganhou novas dimensões. No segundo capítulo, relativo à cidade do Rio de Janeiro, Saliba explicita quem eram os humoristas, sob que circunstâncias atuavam, de que forma se inseriam no campo intelectual, a auto-imagem que cultivavam. Num primeiro momento, a desilusão com o regime republicano congregou homens como Pardal Mallet, Lúcio de Mendonça, Paula Nei, Arthur Azevedo e José do Patrocínio que expunham, valendo-se das armas do humor, as contradições e paradoxos do regime recém instalado.
A esse grupo sucedeu outro, formado por Bastos Tigre, Emílio de Menezes, José do Patrocínio Filho, Raul Pederneiras, K. Lixto, J. Carlos, Storni, Yantok, que seguiu na trilha das críticas ao regime. É interessante notar que essa geração encontrava-se comprimida entre a alta cultura, representada, sobretudo, pelos parnasianos e simbolistas, e a atuação numa miríade de atividades que incluía artigos para jornais e revista, confecção de textos e desenhos para a nascente indústria do reclame, legendas e cartazes para filmes mudos, produção para teatro de revista, seja escrevendo roteiros, criando cenários e/ou figurinos, o que os obrigava a interagir com músicos, cantores, dançarinos, atores, diretores, encenadores, cenógrafos, enfim, todos os envolvidos nesse gênero misto destinado a atingir um público diversificado. As agruras que enfrentavam, a posição subalterna diante das fórmulas consagradas, que os instava a elaborar paródias e anúncios de acordo com os postulados da boa métrica, mas também a premência de agradar o público, atender às demandas dos meios de comunicação modernos e do mercado de bens culturais, que exigiam rapidez, concisão e versatilidade, os aproximava da oralidade, da fala coloquial, tornando-os uma espécie de ponte entre dois mundos. Além de explorar, com riqueza de detalhes, os aspectos mencionados, Saliba não deixa de perguntar como essa produção foi recebida pela elite letrada e de apontar a força do estigma por ela instituído, capaz de constranger esses homens, sintomaticamente denominados de ratés, a admitirem, implícita ou explicitamente, que não faziam literatura.
Questões de natureza semelhante são desenvolvidas no capítulo 3, consagrado aos humoristas radicados em São Paulo que, de forma ainda mais contundente, foram varridos da memória da cidade, possivelmente em função do conteúdo antiprogramático da sua produção, além de não se poder desprezar o fato de eles terem ficado ao largo do movimento de 1922. Os nomes de maior destaque foram: José Agudo (José da Costa Sampaio), Voltolino (Lemmo Lemmi), Cornélio Pires, Raul de Freitas, Juó Bananéri (Alexandre Ribeiro Marcondes Machado), Oduvaldo Vianna, Victor Caruso, Belmonte (Benedito Carneiro Bastos Barreto), Moacyr Piza, Hilário Tácito (José Maria de Toledo Malta) e, assim como ocorreu com os humoristas radicados na capital federal, muitos deles também transitaram por diferentes práticas culturais, ainda que as oportunidades oferecidas em São Paulo fossem bem mais restritas.
Saliba nos conduz à alta sociedade paulistana da Belle Époque por meio dos romances de José Agudo, ao universo caipira com Cornélio Pires, à babel moderna com o falar macarrônico, que atingiu seu melhor estilo em Juó Bananéri. Consegue, desta forma, dotar de materialidade a ebulição que caracterizava a cidade, com suas levas de desenraizados: ex-escravos, caipiras, imigrantes de origens variadas, que tanto preocupavam os detentores do poder e da ordem. A irreverência, porém, lhes custaria caro, pois:
(…) parece claro, afinal, que Bananéri e seus confrades, com seu hibridismo sintático, sua mestiçagem idiomática e seu anarquismo macarrônico, tinham se tornado um pouco inconvenientes naquela fábrica de certezas que era o clima mental vigente na São Paulo dos anos 20 (p. 212).
As polêmicas nas quais se envolveram Alexandre Marcondes, sempre protagonizadas pelo personagem que criou, e vários de seus confrades humoristas, foram objeto de detida análise, descortinando perspectivas instigantes para compreender as linhas de força que estruturavam o campo intelectual do período, atravessado por antagonismos, adesões, fidelidades, amizades e desafetos.
Por fim, no capítulo 4, questiona-se a respeito das relações que se estabeleceram entre o humor típico da Belle Époque e as novas mídias que se tornavam realidade a partir dos anos 30: o disco, o cinema sonoro, o rádio. O autor demonstra, de forma inequívoca, que os humoristas não tiveram dificuldades em se adaptar aos meios que então surgiam, graças à experiência que haviam acumulado:
(…) a mistura lingüística, a incorporação anárquica de ditos e refrões conhecidos por ampla maioria da população, a concisão, a rapidez, a habilidade dos trocadilhos e jogos de palavras, a facilidade na criação de versos prontamente adaptáveis à música, aos ritmos rápidos da dança e aos anúncios publicitários (p. 228).
As oportunidades abertas pela indústria fonográfica são exemplificadas com Cornélio Pires, pioneiro que, em 1929, já ostentava uma série inteira gravada com suas anedotas e crônicas, baseada na fala caipira, e Juó Bananére, que não chegou ao rádio em função de sua morte precoce. Saliba envereda, ainda, pelas relações entre humorismo e música, reconstruindo especialmente os diálogos entre Lamartine Babo e Bastos Tigre:
(…) espécie de último elo nessa tendência de intermediação cultural que praticamente constituirá a base para o humor radiofônico nos anos 30 e 40, com a geração do Capitão Furtado, Nho Totico (Vital Fernandes da Silva), Adoniram Barbosa, Ademar Casé, Renato Murce, Lauro Borges, Castro Barbosa, Gino Cortapassi e tantos outros(p. 283).
Ao lado da cuidadosa pesquisa, rigor e perspicácia analítica, na melhor tradição dos estudos culturais, Raízes do Riso distingue-se pela riqueza do material iconográfico, apuro editorial e estilo elegante do autor, que não se furta a brindar o leitor com excelentes tiradas de humor, fazendo jus a uma de suas epígrafes: “O humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo” (p. 15).
Tania Regina de Luca – UNESP/Assis.
[IF]O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra | Antônio Pedro Tota || Guerra sem guerra: a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial | Roney Cytrynowicz
Os trabalhos de Roney Cytrynowicz e Antônio Pedro Tota têm em comum o fato de analisarem a história brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, suas abordagens e enfoques são bastante diversos, refletindo também preocupações temáticas e conceituais e, naturalmente, escolha de fontes e bibliografia.
O livro de Antônio Tota aborda um tema fascinante e, ao mesmo tempo, pouco estudado pelos historiadores nacionais: a ofensiva cultural realizada pelo governo americano no Brasil, dentro do espírito da ‘política da boa vizinhança’. São poucos os trabalhos sobre o tema — a começar pelo já clássico livro de Gerson Moura Tio Sam chega ao Brasil (1984). Este fato torna-se ainda mais evidente quando comparamos a produção nacional com o grande número de trabalhos americanos sobre o tema: basta conferirmos a própria bibliografia utilizada por Tota. O autor, além de trabalhar com uma vasta bibliografia norte-americana sobre seu tema, utilizou fontes textuais, sonoras e iconográficas, tiradas de arquivos norte-americanos e brasileiros. Suas fontes são, principalmente, governamentais, o que naturalmente reflete o recorte de seu objeto: a ação do Office of Coordinatior of Inter-American Affairs (OCIIA) no Brasil, com o objetivo de “seduzir” os brasileiros para uma aliança com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da inexistência de referências explícitas, a linguagem e a estrutura do livro nos fazem acreditar que se trata originalmente de uma tese de doutoramento. Leia Mais
A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850) | Mary Karasch
Desde o século XIX, o tema da escravidão tem sido central nos estudos sociológicos e históricos sobre a formação do Brasil. Como objeto de investigação, teve um percurso variado. A produção intelectual brasileira voltou-se para o tema a partir de diversas perspectivas e, logicamente, chegou a diferentes conclusões. Sem dúvida, a obra de Gilberto Freyre, da década de 1930, destaca-se pelo êxito em termos de apresentação e circulação de suas idéias (Pinheiro, 1999). Na década de 1950, também sobressaíram vários estudos,1 que, procurando ir contra a idéia de uma escravidão branda, acabavam por considerar os escravos como vítimas passivas do sistema — abordagem já bastante criticada pela historiografia brasileira da década de 1980 (Chalhoub, 1990).
Um esforço no sentido de resgatar os grupos subalternos, inclusive os escravos, como agentes de sua própria história (Machado, 1988; Slenes, 1999), pode ser identificado nas historiografias européia e norte-americana entre o final da década de 1960 e o início da de 1970. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850), de Mary Karasch, originou-se da tese de doutorado defendida pela autora em 1972, estando inserida nesse período de renovação. Leia Mais
História da Vida Privada no Brasil: Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa – SOUZA (VH)
MELLO e SOUZA, Laura de Mello e (Org.). História da Vida Privada no Brasil: Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997 (História da Vida Privada no Brasil, 1). Resenha de: RODRIGUES, André Figueiredo. Varia História, Belo Horizonte, v.16, n.22, p. 211-214, jan., 2000.
” … verdadeiramente que nesta terra andam as coisas trocadas. porque toda ela não é república, sendo-o cada casa”. Esta é uma frase da epígrafe do primeiro capítulo da publicação História da Vida Privada no Brasil: Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa, livro organizado por Laura de Mello e Souza, primeiro volume da coleção História da Vida Privada no Brasil, dirigida por Fernando Novais. A frase, extraída da obra História do Brasil (1500- 1627), escrita por nosso primeiro historiador, frei Vicente do Salvador, anuncia o primeiro problema encarado pelos autores do livro e que constitui motivo central da reflexão de Fernando Novais: o desenvolvimento do espaço privado sem que a vida privada estivesse totalmente consolidada. Os níveis de público e privado estão enredados. A noção de privado está associada à formação da nacionalidade, como nos alerta Novais. Assim, a rigor, não existiria uma “vida privada” durante o período colonial, mas só a partir do século XIX, momento da formação de um Estado Nacional.
Guiando-se pelos passos de Philippe Ariês e Georges Duby, que coordenaram a edição de uma História da Vida Privada para a Europa ocidental [Histoire de la Vie Privée. Paris: Seuil, 1985], os historiadores que escreveram a versão brasileira alargaram o conceito de vida privada, considerando as especificidades da América portuguesa e particularizando-o ao abordarem cada um dos temas tratados.
A forma de trabalho adotada para a elaboração de nossa história da vida privada inspirou-se na Nova História e, de resto, nos Annales. Desde 1929, com a criação da revista francesa Anais de História Econômica e Social por Marc Bloch e Lucien Febvre, as observações sobre o cotidiano de um determinado momento, de uma localidade ou de uma personagem, assim como as suas crenças, as suas atividades e valores sociais, políticos e econômicos são retratados, além de serem auxiliados pelo intercâmbio com as outras ciências humanas, como a antropologia e a sociologia. Optou-se por uma história narrativa como forma de expressão do pensamento, da linguagem, dos hábitos, de gestos, de amores e das sensibilidades. A obra em questão procurou combinar e articular diversas propostas temáticas da história da cultura, do cotidiano e das representações sociais, advindas de uma historiografia não só francesa, mas inglesa e italiana. É preciso ressaltar, ademais, que o livro é tributário de dois marcos nas ciências humanas no Brasil: Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre. Por fim, o livro prossegue o esforço inaugurado pelo pioneiro Vida Privada e Quotidiano no Brasil na Época de d. Maria I e de d. João VI, de Maria Beatriz Nizza da Silva, obra que já havia retratado aspectos dessa temática entre nós historiadores.
A influência antropológica e sociológica de Gilberto Freyre, um dos pioneiros nos estudos sobre a sexualidade e a religiosidade do “brasileiro”, é observada nos capítulos da obra. Freyre mostrou que a sexualidade poderia ser apreendida em manifestações cotidianas e, por outro lado, que o cotidiano da América portuguesa impunha a preocupação acentuada com as questões sexuais: na vastíssima colônia, portugueses, ameríndios e, depois, também os negros, mergulharam de corpo e alma em deleites sexuais; além disso, atribuíram aos santos um papel intermediário entre os amores, ou conceberam-nos como entidade propiciadora de fertilidade e vantagens amorosas1 . Na medida em que eram atribuídos papéis aos santos, estes eram envolvidos numa forte carga afetiva. O amaciamento entre senhores e escravos levou a miscigenação e a relações de intimidade entre ambos; aspectos levantados por Freyre, também, destaques nesses capítulos. Todos esses assuntos desenvolvidos na obra já haviam sido tratados em Casa Grande & Senzala e Sobrados e Mucambos, obras freyrianas, fundadoras dos estudos sobre a vida privada no Brasil.
A obra História da Vida Privada no Brasil procura compor a pré-história de nossa vida privada. Articulada em 8 capítulos interligados entre si, apresentando como eixo temático questões como a escravidão (que medeia todos os capítulos), privacidade e relações familiares. Em seu capítulo inicial, “Condições de privacidade na colônia”, o historiador Fernando Novais desenvolve questões teóricas sobre as condições para a existência de vida privada na América portuguesa. No capítulo 2º: “Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações”, a historiadora Laura de Mello e Souza estuda as expedições de bandeirantes e viandantes que adentraram no território, defrontando-se com mosquitos, animais de diversos portes, a falta de comodidade e desconforto das pousadas e as andanças realizados no outro lado da fronteira- o sertão, em detrimento da vida do litoral.
A partir do capítulo escrito por Leila Mezan Algranti (“Família e vida doméstica”), seguindo-se os de Luiz Mott (“Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu”), Ronaldo Vainfas (“Moralidades brasílicas: deleites sexuais e linguagem erótica na sociedade escravista”) e Mary del Priore (“Ritos da vida privada”), a questão da privacidade colonial começa a ganhar contornos mais claros, em assuntos como a sexualidade, a família e a religiosidade.
Através dos capítulos de Lei la Algranti e Ronaldo Vainfas, percebemos que as relações de privacidade estavam longe de serem desvendadas, devido à escassez de fontes. Essa ausência talvez se explique pela falta de cadernos, cartas ou diários dedicados ao relato das intimidades. Como bem observa Algranti, a ausência desse tipo de exposição deve-se à própria estrutura da sociedade colonial: a intimidade era mantida na esfera do privado, não se escrevendo sobre recordações e intimidades. O alto índice de analfabetos é um outro dado a ser destacado. As famílias convivem em casas sem um mínimo de privacidade, onde os cômodos têm múltiplos usos, onde os móveis- aí enquadram-se as camas – são montados e desmontados de acordo com as necessidades do dia. Havia, além disso, pouca distinção entre o público e o privado, ocorrendo, muitas vezes, a inversão entre esses dois espaços: o que é público torna-se privado e vice-versa. Vainfas esclarece: um espaço por assim dizer, público, como era o mato ou a beira do rio, podia ser mais apto à privacidade exigida por intimidades secretas do que as próprias casas de parede-meia ou cheias de frestas” (p. 257).
No nosso entender, entre os 8 capítulos que compõe o livro, 2 sobressaem-se aos demais. O primeiro deles, o do antropólogo Luiz Mott, sobre a religiosidade e, o segundo, o da historiadora Mary del Priore sobre os ritos da vida privada. As práticas supersticiosas constantes na sociedade colonial mesclavam-se às vivências da religião oficial do império português – o catolicismo. O isolamento geográfico possibilitou aos habitantes do interior da América portuguesa o aparecimento de práticas religiosas privadas como o eremitismo, chegando-se a encontros sabáticos. Através do diário (borrador) do senhor de engenho falido Antônio Gomes Ferrão Castelo Branco, uma peça documental inédita pertencente à coleção particular do bibliófilo José Mindlin, Mary dei Priore perfaz os caminhos desse senhor, demonstrando que a relação entre o público e o privado estava, mais do que nunca, interligadas. Demonstra, ainda, que a privacidade misturava-se com o cotidiano na vivência de certos ritos como o casamento, a morte e o nascimento.
O sétimo capítulo (“O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura”) foi escrito pelo historiador Luiz Carlos Villalta e trata das práticas de leitura, da educação e da língua na América portuguesa. No último capítulo (“A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no final do século XVIII “), o historiador lstván Jancsó analisa as revoltas ocorridas no final do setecentos. Em ambos ensaios, nota-se o aparecimento do intelectual do século XVIII: o libertino de idéias afrancesadas, influenciado pelo pensamento iluminista. Ambos os autores observam uma questão: aonde começa e aonde termina a vida privada? Através das sílabas F de fé, L de lei e R de rei , Villalta conclui que a identidade privada e a pública confundem-se. Estudando as bibliotecas e o teor de algumas obras nelas existentes, dá gancho para o capítulo seguinte, o de lstván. Este, através da análise dos movimentos sediciosos ocorridos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia, investiga as categorias de privacidade entre os que se envolveram nas práticas conspiratórias ocorridas no final do setecentos.
Enfim, acho que a amostra é suficiente para os que não conhecem o livro. Os leitores não se arrependerão de travar com ele uma discussão fecunda sobre a nossa pré-história da vida privada.
Nota
1 Laura de Mello e Souza. Sexualidade e religiosidade popular no Brasil colonial. In: Suzel Ana Reily & Sheila M. Doula (orgs.). Do Folclore à Cultura Popular. São Paulo: FFLCH/USP, 1990, p. 87.
André Figueiredo Rodrigues – Mestrando em História/ USP.
[DR]As barbas do imperador: dom Pedro II, um monarca nos trópicos | Lília Moritz Schwarcz
O novo livro de Lilia Moritz Schwarcz, intitulado As barbas do imperador: dom Pedro II, um monarca nos trópicos, busca fazer uma reconstrução da figura e do papel simbólico ocupado pelo imperador Pedro II durante esse momento fulcral da história brasileira que foi o século XIX.
Entre a herança colonial e o país moderno, o tempo do império foi aquele em que as contradições da passagem do estatuto de colônia ao de país soberano solidificaram-se em instituições que até hoje marcam a vida brasileira: o favor, o beletrismo, as dúbias fronteiras entre as esferas do público e do privado são algumas das heranças que nos legou o império. Leia Mais
Os Carrascos Voluntários de Hitler. O povo alemão e o Holocausto – GOLDHAGEN (RBH)
GOLDHAGEN, Daniel Jonah. Os Carrascos Voluntários de Hitler. O povo alemão e o Holocausto. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Resenha de: BERTONHA, João Fábio. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.19 n.37 sept. 1999.
Em 1996, o livro de um jovem professor de Harvard provocou um verdadeiro terremoto no meio universitário europeu e americano, além de uma verdadeira crise de consciência na Alemanha, onde o texto foi lido, relido e provocou imenso debate. Sua tese central: os alemães, como povo, foram ativos e voluntários carrascos dos judeus durante o Holocausto nazista.
Goldhagen refuta categoricamente a idéia de que os carrascos nazistas assassinaram os judeus por coerção, por uma disciplina tipicamente alemã que os levava a cumprir mesmo as ordens que consideravam indignas, por pressão psicológica, ou ainda, numa recusa clara das teses de Hannah Arendt1, por serem burocratas cumprindo suas obrigações, sem se importar com mais nada. Para ele, os alemães massacraram os judeus porque acreditavam realmente que assassinar o povo hebreu era algo necessário e correto, e a base para essa crença seria o anti-semitismo, desenvolvido em séculos de história alemã.
Trabalhando em torno dessa tese, o autor vai procurar demonstrar as origens do anti-semitismo em torno do cristianismo e a sua lenta evolução de um padrão “religioso” onde havia aversão e discriminação (mas onde não se pregava o extermínio e se abriam as portas, ao menos teóricas, da conversão) para um outro “nacional” e cada vez mais “racial”, onde o problema judeu só poderia ser realmente resolvido com a sua eliminação do corpo nacional e racial alemão.
Para ele, o modelo anti-semita alemão, com ênfase na periculosidade e na necessidade de eliminar os judeus, já estava plenamente desenvolvido na Alemanha do século XIX e início do XX. O regime nazista não teria criado, assim, o ódio aos judeus, mas se aproveitado de um sentimento antigo e disseminado pela sociedade alemã como um todo. Tanto seria assim que as leis anti-semitas e o próprio Holocausto teriam sido integralmente apoiados pela sociedade alemã, mesmo entre os grupos (católicos, conservadores etc.) que, por outros motivos, opunham-se ao menos parcialmente, ao Reich.
Hitler e o nazismo sempre teriam tido, sempre segundo Goldhagen, a intenção de efetivar o genocídio. Apenas as condições objetivas teriam retardado o processo até o momento adequado, quando então o massacre dos judeus se tornou a prioridade número um do regime.
O texto procura ressaltar à exaustão que os alemães foram cruéis até o último segundo. Que não eram burocratas executando ordens. Odiavam. Que não foram enganados. Tinham consciência e apreciavam o que faziam. Que não foram coagidos. Eram voluntários. E que, especialmente, os carrascos não eram simplesmente os SS, mas militares, policiais, alemães comuns, os “carrascos voluntários” de Hitler.
A abordagem de Goldhagen é muito interessante em vários aspectos. Em primeiro lugar, a idéia de interromper o estudo da máquina de morte alemã na voz passiva, como se ela fosse apenas uma estrutura mecânica, sem homens de carne e osso que a faziam funcionar e estudar as motivações desses homens é muito importante ao recuperar o seu papel (e a sua culpa) num processo em que eles não eram, sem dúvida, cem por cento passivos.
O livro também cresce ao ressaltar o papel das idéias e das mentalidades no fazer-se histórico. De fato, é uma realidade que o extermínio dos judeus foi realizado contra toda a lógica das necessidades militares e econômicas, e é possível até imaginar que o uso racional da mão de obra judia na economia e nas forças armadas poderia ter levado a Alemanha à vitória na guerra. Em nome da necessidade de eliminar o grande inimigo (cem por cento imaginário, sem dúvida) da raça alemã e de atender o leitmotiv de sua ideologia e uma das bases de sua estrutura mental (o “perigo judeu”), os nazistas podem, paradoxalmente, ter destruído as suas próprias chances de vitória. Nesse sentido, os carrascos não eram, certamente, totalmente passivos e a grande maioria devia considerar que fazia o correto e o justo, por mais repugnante que isso possa parecer.
Pensando nesse sentido, a idéia assustadora levantada pelo autor de que os nazistas foram, talvez, os maiores revolucionários modernos, não deve ser descartada. Eles não pensavam, realmente, em apenas resolver questões de classe e poder, mas em reverter a moral européia, arrasar a herança do moralismo cristão e do humanismo iluminista e criar um novo mundo baseado na biologia, na raça, na dominação e no ódio.
Apesar de tudo, porém, várias das teses de Goldhagen podem ser questionadas. Que havia uma base cultural de séculos que facilitou e muito o trabalho dos nazistas e que eles não criaram e impuseram o anti-semitismo, é algo evidente, mas é grandemente duvidoso que esse anti-semitismo tenha sido tão generalizado e genocida como ele propõe.
De fato, suas provas de que o anti-semitismo era absoluto e incontestável na Alemanha; de que o povo alemão estava total e completamente consciente do que ocorria, que aprovava tudo sem hesitação2 e de que toda pessoa que compartilhasse algum traço de anti-semitismo (por mais sutil que fosse) era um genocida pronto a atuar quando as condições fossem propícias, são muito falhas e não refletem a realidade histórica.
Não sejamos ingênuos. É verdade que a idéia, correta para muitas pessoas, de que os judeus deviam morrer, colaborou para o Holocausto e que, muito provavelmente, as resistências teriam sido muito maiores se, para usar o exemplo do autor, tivesse sido o povo dinamarquês o escolhido para vítima. Esse anti-semitismo, porém, era comum à grande parte da Europa e o autor não consegue provar que o alemão era tão particularmente genocida como ele deseja demonstrar.
Diferenças nacionais frente ao anti-semitismo certamente existiram e determinaram reações diferentes frente ao desejo nazista de exterminar o judaísmo europeu (ver o colaboracionismo báltico ou romeno e a resistência italiana e dinamarquesa), mas não há nada que indique realmente que apenas o alemão, apesar de fortíssimo e com suas peculiariedades3, tinha o ethos cultural que levaria inevitavelmente ao genocídio.
A particularidade da Alemanha nazista, na realidade, é que um grupo particularmente radical e disposto a implantar seus ideais (e dentro destes a eliminação do “perigo judeu” atingia uma importância única), assumiu o poder (fazendo-o não apenas pelo seu anti-semitismo, ao contrário do que propõe o autor) e não só permitiu, como estimulou ao extremo a criação de uma máquina de morte que foi dirigida com especial ênfase e crueldade aos judeus, mas que podia ser transferida (e o foi) contra outros povos e até mesmo contra os próprios alemães, se isso fosse necessário para a manutenção do poder e a criação do “mundo novo” nazista4. Goldhagen apenas consegue isolar o elemento que explica o “tratamento especial” dado aos judeus5 e não aquele capaz de nos fazer compreender a “máquina da morte” nazista como um todo.
Nesse sentido, parece-nos que, apesar das objeções de Goldhagen, as informações e reflexões de Hannah Arendt e Cristopher Browning6 sobre como muitos dos mentores e agentes do extermínio não eram necessariamente anti-semitas extremados, mas principalmente fiéis funcionários da Alemanha e do Reich que cumpririam quaisquer funções – com maior ou menor entusiasmo – para os quais fossem designados, continuam válidas. Sendo assim, o extermínio dos dinamarqueses, por exemplo, teria suscitado muito menos entusiasmo e muito mais resistências do que o dos judeus, sem dúvida, mas, se fosse esse o interesse dos dirigentes do Reich, teria sido certamente realizado.
Também é bastante questionável a sua convicção (compreensível dentro do seu esforço para mostrar o massacre dos judeus como efeito natural do anti-semitismo alemão) de que o Holocausto figurava permanentemente nas mentes de todos os alemães desde sempre. Que muitos alemães, desde o século XIX, e, especialmente, muitos nazistas (incluindo Hitler), pensavam com freqüência na idéia de exterminar os judeus e esperaram o momento propício para isso, é perfeitamente aceitável. É difícil acreditar, porém, que essa idéia tenha estado sempre tão presente na mente de todos os alemães e mesmo na de todos os nazistas e que soluções outras não tenham sido cogitadas. Mais provável é que a evolução das condições históricas tenha feito a cúpula nazista decidir pela “solução final” e não que eles tenham simplesmente esperado essas condições para implementar um plano decidido desde sempre7.
A incapacidade (ou falta de vontade) do autor em fazer distinção entre, por exemplo, os iluministas alemães do XIX interessados em assimilar pacificamente os judeus e ferozes anti-semitas realmente genocidas como, por exemplo, Streicher, também é frustrante. Ao reunir, de fato, numa categoria única (determinada pela cultura alemã) todas as pessoas que tenham tido algum tipo de pensamento ou ação anti-semita, isolá-las de seus contextos e ignorar o anti-semitismo fora das fronteiras da Alemanha, ele acaba negligenciando o próprio papel e a própria culpa das elites nazistas e dos genocidas verdadeiros, pois, se levarmos o seu raciocínio ao extremo, o Holocausto não teria sido mais do que a expressão da essência da alma alemã. Voltamos à “voz passiva” de onde tínhamos tentado sair.
O livro também tem inconsistências metodológicas evidentes e é irritantemente repetitivo, como que desejando convencer o leitor pelo cansaço da validade de suas teses. Entre essas inconsistências, as mais gritantes são a generalização, as simplificações, a colocação de fatos fora do contexto e a ignorância de dados que poderiam contradizer a tese principal.
De fato, a partir de alguns exemplos de anti-semitismo dos carrascos (certamente verdadeiros), ele generaliza para todo o povo alemão, sem dar virtualmente nenhum indício consistente de que essa generalização era possível8 e recusando fontes que fornecem indícios em contrário9. No decorrer do próprio livro, além disso, são contínuos os momentos em que, para demonstrar o anti-semitismo generalizado e absoluto dos alemães, ele cita exemplos que acabam por contradizê-lo10. São problemas que afetam, sem dúvida, a credibilidade do trabalho11.
O livro, além disso, procura mostrar-se como totalmente inovador ao trabalhar as motivações dos carrascos e a resposta definitiva ao problema do Holocausto, o que na verdade não é12. Em grande parte, realmente, ele não passa de uma “reescritura” de velhos textos, o que nos impede de aceitar que ele seja o “supra-sumo” da historiografia que o autor considera. Ele é útil ao isolar, ainda que de forma problemática, um elemento (o anti-semitismo) que fez dos judeus a grande vítima da “máquina da morte” nazista, mas é incapaz de trabalhar com o conjunto que fez dessa máquina um perigo para todo o mundo, incluindo judeus, não judeus e até alemães.
Notas
1 ARENDT, Hannah. Eichmann in Jerusalém. Um retrato sobre a banalidade do mal. Rio de Janeiro, Diagrama e Texto, 1983.
2 Que não havia total ignorância, é evidente até pela própria magnitude do evento. Ver LAQUEUR, Walter. O Terrível Segredo – A verdade sobre a manipulação de informações na “solução final” de Hitler. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.
3 Ver TUCCI CARNEIRO, Maria Luiza. O Anti-semitismo na era Vargas (1930-1945). São Paulo, Brasiliense, 1988, parte 1; POLIAKOV, León. A Europa Suicida. São Paulo, Perspectiva, 1985 e SORLIN, Pierre. O anti-semitismo alemão. São Paulo, Perspectiva, 1974.
4 O caso do extermínio dos doentes mentais alemães é, nesse sentido, exemplar. Goldhagen tem razão, porém, em recordar como o massacre dos alemães levantou muito mais protestos na Alemanha do que o dos judeus. Ver CYTRYCNOWICZ, Roney. Memória da Barbárie – A história do genocídio dos judeus na II Guerra Mundial. São Paulo, EDUSP/Nova Stella, 1990, pp. 47-56 e BURLEIGH, Michael. Euthanasia in Germany, 1900-1945. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
5 Ele demonstra com razoável eficiência (ainda que ignorando a brutal violência e crueldade nazista contra os eslavos e ciganos, por exemplo, e subestimando o fato, sobre o qual ele é plenamente consciente, de que a crueldade nos campos não era, muitas vezes, derivada apenas de motivações cognitivas, mas também de uma estratégia cuidadosamente pensada para instituir a dominação e a submissão) que realmente os judeus foram o povo escolhido não para o trabalho escravo e a morte e a violência ocasionais, mas para o extermínio e a crueldade totais. Ainda assim, e ainda que os séculos de anti-semitismo tenham influência clara nessa situação, esquecer o papel da “pirâmide racial nazista” na determinação dos níveis “aceitáveis” de violência e extermínio em relação a cada grupo é problemático.
6 ARENDT, Hannah. op. cit. e BROWNING, Cristopher R. Ordinary Men – Reserve Police Batallion 101 and the final solution in Poland. New York, Harper Collins, 1992.
7 Ver CYTRYNOWICZ, Roney. op. cit. e BURRIN, Philip. Hitler e os judeus – Gênese de um genocídio. Porto Alegre, L & PM, 1990.
8 Ainda assim, sua demonstração de que os agentes do Holocausto não eram apenas os membros da SS e que incluíram muitos alemães comuns é convincente e merece ser destacada como lembrança do nível de envolvimento do povo alemão com o nazismo. Só nesse sentido é que a “culpa geral do povo alemão” poderia, no nosso entender, ser aceita.
9 Ver o diário do judeu alemão Viktor Klemperer, onde há vários exemplos de alemães solidários com os judeus (subutilizado no livro) ou, para ficar em exemplos mais conhecidos da mídia, os casos de Edward Schultze e Oskar Schindler. Ver KLEMPERER, Viktor. I will bear witness – A Diary of the Nazi years, 1933-45. Random House, 1998; LAQUEUR, Walter e BREITMAN, Richard. O herói solitário. São Paulo, Best Seller, 1987 e o filme A lista de Schindler, de Steven Spielberg.
10 O mais gritante é o das páginas 371-372, onde ele mostra prisioneiras judias em plena “marcha da morte” sendo impedidas de receber alimentos ofertados pela população das pequenas aldeias alemãs por onde elas passavam. Um bom exemplo de como os guardas, muitos deles “alemães comuns”, não apreciavam (para dizer o mínimo) os judeus e desejavam puní-los, mas dificilmente um bom indício de que o anti-semitismo era tão absoluto como o que ele propõe.
11 Para uma análise detalhada dos problemas metodológicos do livro de Goldhagen, ver FINKELSTEIN, Norman e BIRN, Ruth. A Nation on trial. New York, Metropolitan, 1998.
12 Cristopher Browning e Raul Hilberg, por exemplo, já haviam trabalhado a questão das motivações dos carrascos, mas se concentrado nas circunstâncias que haviam feito bons pais de família alemães virarem genocidas, incluindo preocupações anti-semitas, mas não propondo um anti-semitismo absoluto como motivação única. Ver BROWNING, Cristopher. op. cit. e HILBERG, Raul. The Destruction of the European Jews. New York, New Viewsport, 1973.
João Fábio Bertonha – Universidade Estadual de Maringá.
[IF]A descoberta do homem e do mundo | Adauto Novaes
A descoberta do homem e do mundo é o resultado do primeiro ciclo de conferências promovido pela Funarte sobre os quinhentos anos do descobrimento do Brasil. Segundo o organizador do evento e do livro, Adauto Novaes, até o ano 2000 três outros ciclos completarão a série de palestras sobre o mesmo tema.
A partir do título, pode-se já perceber que a descoberta em questão constitui não apenas a do Novo Mundo e de seus habitantes, conseqüência imediata das grandes navegações, mas igualmente a descoberta de um homem novo a habitar o mundo velho. Dizendo de outra forma: os descobrimentos e o nascimento da modernidade são facetas de um mesmo tempo de passagem, quando o homem europeu descobre-se — ao desvelar a América —, e inventa-se civilizado — ao construir o discurso sobre a diferença, concretizada no selvagem. O ponto de partida da coletânea e de todo o projeto parece então ser o de reforçar claramente a relação existente entre modernidade e descobrimentos, ao ponto de tomá-la quase como natural, suficiente e necessária. Leia Mais
Uma história da leitura – MANGEL (VH)
MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Resenha de: GOMES, Leonardo José Magalhães. Varia História, Belo Horizonte, v.15, n.20, p. 178-181, mar., 1999.
Em uma conferência ditada na Universidade de Belgrano e publicada em seu livro “BORGES ORAL”, o mestre portenho chama a atenção do papel do livro como extensão da memória e da imaginação, qualificando-o como o mais assombroso dos diversos objetos humanos, cuja função principal é a recordação do passado e dos sonhos. Mais adiante, manifesta o desejo de escrever uma história das diversas valorizações que o livro recebeu ao longo do tempo, tarefa que nunca chegou a realizar. Também no pequeno ensaio “DEL CULTO DE LOS LIBROS”, parte de “OTRAS INQUISICIONES”, estão já presentes muitas das idéias mais tarde expostas na conferência. Se considerarmos as quase três décadas existentes entre um e outro texto fica clara a constância destas idéias em sua Obra.
Se Borges não chegou a escrever seu estudo, nos privando assim de mais uma de suas fascinantes contribuições, a idéia não se perdeu, já que agora nos chega esta “UMA HISTÓRIA DA LEITURA”, do argentino naturalizado canadense Alberto Manguei, que ao longo de suas 408 páginas traça um interessante painel das diversas valorizações que a leitura, e conseqüentemente seu continente, o livro, vêm recebendo ao longo dos tempos.
Começo este texto lembrando a figura de Jorge Luis Borges, porque embora Manguei não o admita explicitamente, talvez por ser desnecessário de tão óbvio, sua obra está impregnada pelo universo simbólico e pelas idéias do velho mestre, inspirador evidente da concepção e de muitas das passagens capitais desta “UMA HISTÓRIA DA LEITURA”. Basta uma leitura de cada uma das obras citadas (no caso de Borges, a conferência “EL LIBRO” em “BORGES ORAL”) para que seja comprovada esta afirmação. Além da influência natural de um grande autor sobre um seu conteporâneo e conterrâneo mais jovem, há nesse caso um elo mais forte, já que Manguei, como ele mesmo conta, foi leitor para Borges, tendo assim, ao substituir os olhos do outro, a oportunidade de uma convivência muito mais íntima e cúmplice do que a de um mero leitor com um autor distante.
Não vai aí nenhum demérito, não estou dizendo que Manguei copia Borges, longe disso, acho apenas que ele desenvolve, e de maneira brilhante, idéias que foram adquiridas pela convivência e/ou leitura de seu antecessor. Nada de mais lisonjeiro para um leitor que ampliar, melhorar e desenvolver o texto lido, num verdadeiro trabalho de recriação, transferindo-o para um novo universo, ainda mais quando a fonte de inspiração é um autor do porte de Jorge Luis Borges. Além disso, e podemos dizer sem problemas, já que ele próprio o alardeava, um dos traços mais característicos da obra de Borges é exatamente este, a releitura, recriação e inserção em nova realidade de obras e conceitos de autores do passado, proporcionando assim uma nova vida a criações que de outra forma desapareceriam no vai-e-vem das modas, criando com isso uma meta-literatura.
Histórias da escrita, da imprensa, das bibliotecas, da indústria gráfica, ou seja, do objeto-livro em suas mais diversas formas e conjuntos, e até mesmo manuais de editoração, produção, aquisição e de cuidados com os livros há muitos. Exemplos recentes, escritos em ou traduzidos para o português, que ainda se acham nas livrarias e sebos da cidade, são: “O LIVRO” de Douglas C. McMurtrie, “O APARECIMENTO DO LIVRO” de Lucien Febvre e Henry-Jean Martin, ‘SÍNTESE HISTÓRICA DO LIVRO”, de José Barboza de Mello, “A PALAVRA ESCRITA”, de Wilson Martins, “A CONSTRUÇÃO DO LIVRO”, de Emanuel Araújo e os “ELEMENTOS DE BIBLIOLOGIA”, de Antônio Houaiss, além do há muito esgotado “O BIBLIÓFILO APRENDIZ” de Rubens Borba De Moraes. Mas histórias da leitura ou como disse Borges, das diversas valorizações que o livro tem recebido ao longo do tempo, têm sido raras.
É claro que quando se fala de livros há que se falar de leitura, e que em diversos momentos este tema é tratado nestas obras. Mas parece interessar aos seus autores mais o objeto material, cobiçado pelos bibliófilos antes pelo aspecto e raridade do que propriamente pelo conteúdo, que a íntima relação entre o leitor e o autor através da obra, da qual o livro é apenas o necessário, indispensável e, é bom que se diga nestes tempos de computador em que muitos apressadinhos tentam declará-lo em extinção, eterno suporte físico.
Obras que tratam deste assunto sob esta ótica da leitura, em português, só me vêm à lembrança no momento, os belos e indispensáveis “OS LIVROS NOSSOS AMIGOS” e “O DIABO NA LIVRARIA DO CÔNEGO”, de nosso mestre Eduardo Frieira, que juntamente com seus diversos ensaios merecem uma divulgação muito mais ampla do que têm, tal a sua qualidade e perene contribuição. É bom lembrarmos que Frieira, que por coincidência morreu cego como Borges, não só escreveu livros, como também os fabricou, pois começou sua vida profissional como impressor e tipógrafo, adquirindo assim um conhecimento dos dois lados da produção dos livros talvez único entre intelectuais de seu porte, o que dá um sabor especial às suas obras sobre o tema. Mas como santo de casa não faz milagre …
Esta “UMA HISTÓRIA DA LEITURA” chega em boa hora, no momento em que a própria sobrevivência do livro como suporte material está sendo contestada. Há aqueles que, provavelmente porque ou não gostam da leitura como prazer, fora das atividades profissionais, ou nem chegam a imaginar a existência deste hábito, acham estar o livro com seus dias contados, sendo substituído pelos computadores. Isso é grande bobagem. A tela da máquina pode substituir as obras de referência, tais como enciclopédias e dicionários, e os periódicos. Mas quem vai ler “GUERRA E PAZ”, um conto qualquer de Rubem Fonseca ou um exemplar de Asterix numa tela?
Por enquanto não há melhor suporte para leitura que o nosso bom e velho “códice”, um dos mais geniais objetos de “design” criados pelo Homem, que, como já foi amplamente dito, é leve, portátil, permite acesso quase imediato às informações nele contidas, sua leitura não cansa como a da tela do computador, além de ser extremamente durável.
A teia, por outro lado, como o próprio Manguei diz em sua obra, é uma versão moderna, eletrônica, dos antigos rolos de papiro ou de pergaminho e velino, que tinham de ser desenrolados à medida que iam sendo lidos, dificultando assim o acesso ao seu conteúdo, além de ser de difícil armazenagem e transporte. Experimente ler na cama, ou mesmo em uma poltrona com um computador, mesmo daqueles pequenos, portáteis. E quando acabar a luz, qual vela iluminará a tela?
O livro de Manguei está dividido em quatro partes, organizadas como um livro às avessas começando com “A ÚLTIMA PÁGINA” e terminando com as “PÁGINAS DE GUARDA”, com os “ATOS DE LEITURA” e “OS PODERES DO LEITOR” pelo meio. Nestes capítulos é traçado um vasto painel do surgimento, desenvolvimento e variação da atividade da leitura nas diversas fases e situações por que passou o Homem ao longo de sua trajetória.
Neles aprendemos sobre a solidão e a discriminação sofridas pelo leitor, sobre as suspeitas que a leitura gera em épocas de totalitarismo, o que leva estes regimes a combater com vigor, desde o início, esta atividade para melhor controlar a sociedade e reprimir a oposição. Aprendemos também, como era vista a leitura na Antigüidade Clássica e nos primórdios da Idade Média, em que o importante era a palavra dita e não a escrita, sendo os livros vistos como verdadeiros túmulos das ide ias, e destruidores desta outra arte quase perdida para nós, a da Memória, diluída hoje no infinito mar de informação que nos afoga, espalhado que está em seus suportes eletrônicos, e não como achavam Sócrates e Platão dentro do cérebro, ou coração de cada um, trazendo assim a necessária sabedoria como fruto da aprendizagem, e não apenas a repetição mecânica.
Discute-se também o espanto de Agostinho ao ver Ambrósio lendo silenciosamente, o que nos leva a crer que esta era a prática incomum nos primeiros séculos· da leitura, o que deveria causar um verdadeiro tumulto nas bibliotecas e locais públicos, além da inevitável indiscrição em relação ao texto lido. Fala-se da lenta evolução para uma leitura silenciosa, que foi possibilitada pela invenção dos sinais de pontuação no início da Idade Média.
Temos, também, um painel do aparecimento das heresias causadas pela leitura silenciosa, que deixava o leitor divagar pelo texto lido, imaginar teorias e chegar a conclusões não ortodoxas, fato impossível quando da leitura em voz alta. Por aí o autor vai, até chegar aos nosso dias, passando pelos mais variados aspectos da arte e do prazer de ler em suas mais diversas formas, situações e conseqüências, como o roubo de livros, a leitura do futuro através dos textos consagrados. o futuro da leitura como atividade, a leitura do mundo e dos códigos não escritos, a aprendizagem da leitura, a relação entre estas duas e muito mais. Tudo isto é exposto em linguagem clara, de maneira extremamente agradável, que aliada a uma boa tradução e ótima apresentação gráfica torna este livro indispensável para quem se interessa pelo assunto, e inevitável para quem gosta de ler.
Leonardo José Magalhães Gomes – Licenciado em História pela UFMG.
[DR]
O fim da ciência: uma discussão sobre os limites do conhecimento científico | John Horgan
Temos atribuído principalmente a Comte, nas terras tropicais, a idéia de que a ciência pode ser fechada e finita. Há autores brasileiros, como Antônio Paim, que visualizaram o começo de nossa ciência na rejeição da idéia comtiana que, até a visita de Einstein ao Brasil, ainda seria dominante em nossa Academia (Lovisolo, 1991, pp. 55-65). John Horgan retoma o tema dos limites com outros argumentos, pois física, biologia ou cosmologia não são as mesmas da época da elaboração positivista. Estaríamos diante de indicadores de fechamento e finitude? Diante de limites físicos, sociais, políticos e intelectuais para o desenvolvimento da ciência pura? Os limites seriam produto da própria eficácia do passado da produção científica? Poder-se-ia temer uma queda da produção científica significativa, daquela que surpreende, emociona e faz sentido? A produção significativa no campo da ciência pura teria alcançado fronteiras ou barreiras de difícil, senão impossível, superação? Ao longo de mais de trezentas páginas, Horgan procura responder questões desse tipo sobre as quais começou a pensar a partir de entrevista com Roger Penrose, no verão de 1989.
Um currículo significativo de divulgação científica, a realização de um número importante de entrevistas com cientistas de ponta, alguns dos quais estiveram às voltas com os limites do conhecimento, e o cargo de editor da Scientific American ocupado pelo autor parecem estímulos mais que suficientes para uma leitura atenta de seu livro.1
Horgan não pretende apenas apresentar os argumentos contrapostos de reconhecidos filósofos, poucos, e de cientistas norte-americanos e europeus que trabalham dominantemente nos Estados Unidos, sobre os limites da ciência. Não pretende fazer um inquérito ‘objetivo’, situando-se como um observador fora do campo que contrapõe opiniões alheias guiado pelo valor da equanimidade. Ele entra no ringue, manifesta sentimentos, opiniões e desejos, estabelece um compromisso pessoal com suas questões. Desafia para a luta. Procura, no entanto, não confundir seu próprio wishful thinking com a realidade.
Por vezes bate pesado. Sobretudo, quando as “verrugas” físicas, psicológicas e morais dos cientistas são expostas. Os ‘perfis’ que deles traça são econômicos e vivos. Persegue as contradições de pensamento. Mas talvez, goste mesmo de fotografar as que existem entre crenças — talvez fosse melhor dizer declarações — e atos. Assim, por exemplo, Feyerabend, crítico implacável da medicina, quando doente, depositou toda sua confiança nos médicos que o atendiam. Popper, defensor da liberdade, é apresentado como um autoritário de vanguarda que teria escrito A sociedade aberta por um de seus inimigos. Tudo demasiadamente humano. Contudo, essas inconfidências que podem tornar o livro mais atraente para aqueles que gostam de se divertir com fofocas, uma especialidade de homens e mulheres, não são centrais para a lógica da argumentação. Podem, decerto, soar como inconvenientes e até agressivas para o leitor que confunde dinâmica científica com ideal de relacionamento e o produtor de conhecimentos com o herói moral. É bem possível que os entrevistados de Horgan, adulados para dedicar tempo a suas perguntas, tenham se sentido chicoteados pela irreverência de suas afirmações, nem sempre registradas no gravador por serem impressões visuais ou psicológicas do entrevistador. Por vezes, Horgan brande o chicote sobre si mesmo, embora de modo bem mais suave. Talvez porque partilhe da velha fraqueza, também demasiadamente humana, de revelar mais autocompaixão do que compaixão pelos outros. Contudo, a “verrugografia” de Horgan não é razão suficiente para jogar seus argumentos fora, sobretudo se levamos em consideração alguns de seus contrapesos:
Descobri que os cientistas raramente são tão humanos como quando se confrontam com os limites do conhecimento. … Também acreditam, como eu, que a busca do conhecimento é, sem dúvida, a mais nobre e significativa de todas as atividades humanas. Os cientistas que nutrem essa crença são freqüentemente acusados de arrogância. Alguns são arrogantes, em alto grau. Mas descobri que muitos outros são menos arrogantes que ansiosos (p. 16).
Horgan não cai nos arquiconhecidos discursos contra a ciência nem contra a intelectualidade. Manifesta imensa estima pelo conhecimento científico já gerado e pelo seu modo, empírico, de produzi-lo. Acredita que grande parte dele é verdadeiro, que os relatos construídos na física, na biologia e na cosmologia não terão variações significativas no futuro. Acredita na ciência e valoriza a finalidade de descobrirmos por que estamos no mundo, o conhecer pelo conhecer. Defende a visão clássica da ciência pura, empírica e preditiva, no teste, como um modo de conhecimento especial e hierarquicamente superior. Está preocupado com a ciência pura, não com a ciência aplicada, que parece andar muito bem graças ao interesse do público. Assim, o cientista otimista ou o amigo da ciência, que pensa que não há limites para seu progresso, não deverá jogar o livro fora como mais uma manifestação do retrógrado espírito anticiência. E, mais ainda, se é um cientista que desconfia da ciência meramente especulativa, desligada da prova empírica, e das modas do anti-reducionismo, do holismo e, especialmente, da “caocomplexidade”, à qual Horgan dedica porções consideráveis de sua voracidade crítica.
Não acredito que a constatação de haver existido, em outros momentos históricos, sentimentos semelhantes sobre os limites seja razão suficiente para jogar fora os argumentos de Horgan como mera reiteração do passado. Horgan procura demonstrar que, nos casos mais citados na literatura, tais afirmações sobre os limites não se teriam comprovado. Tenho reservas sobre seus argumentos. Santiago Ramón y Cajal, por exemplo, dizia, antes de se encerrar o século passado, que há momentos da ciência nos quais é dominante o sentimento de que tudo o que é importante já foi feito. Acrescentava, no entanto, que novas técnicas possibilitam que especulações sejam testadas, abrindo-se então um novo período de entusiasmo científico que gera boa ciência, ciência verdadeira, e acaba contribuindo poderosamente para a solução de problemas práticos (Lovisolo, 1994). Estamos diante de uma hipótese sobre a história da ciência e, portanto, o que não ocorreu no passado pode ocorrer no presente e a ocorrência do passado deixar de ser ocorrência presente. O argumento histórico não parece ser fundamental.
Formado em inglês, embora com estudos de ciências ou matemática em todos os semestres — os currículos norte-americanos não sofrem do fechamento dos nossos, que promovem uma especialização prematura de duvidosa qualidade —, Horgan confessa que se desencantou com a crítica literária e tomou a direção da ciência, do jornalismo científico. Segundo o ponto de vista adotado, pode-se considerar que está dentro ou fora da ciência. Na melhor das hipóteses, podemos crer que a trajetória específica de Horgan o habilita a entrar e sair, a pertencer e se distanciar da ciência com maior facilidade.
Retomou Horgan, no entanto, as elaborações do crítico literário Harold Bloom (1992) sobre a ansiedade de influência e as utilizou como instrumentos para uma tipologia dos cientistas.2 Bloom vê os poetas sempre constrangidos pela ansiedade provocada pela impossibilidade de igualar, e menos ainda de superar, os poetas do passado, em especial Shakespeare. Os cientistas, para Horgan, seriam figuras igualmente retardatárias e trágicas, que devem carregar o peso, ainda maior, de belas e verdadeiras teorias associadas aos nomes de Newton, Darwin e Einstein.
Diante da ansiedade do peso do passado produzir-se-iam três tipos de reação. A maior parte dos cientistas admite sua incapacidade de superar uma tradição “rica para precisar de algo mais” e dedica-se a solucionar “charadas”, fortalecendo os paradigmas vigentes, refinando conceitos e medições. Outros tornam-se rebeldes que “denigrem” as teorias dominantes da ciência, considerando-as fabricações ou invenções sociais inconsistentes, e não descrições rigorosamente testadas da natureza. Por último, os “poetas fortes” ou “cientistas fortes” aceitam a perfeição dos antecessores e lutam para transcendê-los, embora para isso devam se valer de recursos de interpretação errônea das teorias herdadas.
“Roger Penrose é um cientista forte. Em geral, ele e os outros de sua espécie só têm uma opção: explorar a ciência de modo especulativo e pós-empírico, o que eu chamo de ciência irônica. Essa ciência irônica se assemelha à crítica literária por oferecer pontos de vista, opiniões que são, na melhor das hipóteses, interessantes, provocando outros comentários. Mas elas não convergem para a verdade. Não pode realizar surpresas empiricamente verificáveis que forcem os cientistas a fazer revisões substanciais na sua descrição básica da realidade” (p. 18).
Horgan tenta ao longo de seus capítulos, que tomam por objeto um campo científico, mostrar a ciência irônica em funcionamento, seu modo especulativo e pós-empírico de operar. Se a ciência de fato está operando dessa forma, ironicamente, em diversos campos de conhecimento, seria esse modus resultado ou reação dos limites? A questão não pode ser ignorada, dizendo-se apenas que ela é perigosa. Que leva água para o moinho dos que pretendem cortar os recursos destinados à ciência pura ou vento para o ventilador dos reacionários que reiteram seus conhecidos argumentos contra a ciência. Apontar as conseqüências negativas e imaginadas do argumento de Horgan é meramente uma atitude defensiva e, talvez, uma renúncia especulativa, irônica, ao valor da verdade. Acredito que seria mais adequado, dentro da tradição científica empírica, que os cientistas de cada campo de conhecimento analisado por Horgan discutissem conceitual e empiricamente seus argumentos. E estou esperando que nossos físicos, biólogos ou cientistas sociais apresentem seus argumentos contrários ou em apoio de Horgan, sobretudo os que ainda apostam em ser “fortes”. Horgan jogou a luva, quantos aceitarão o desafio? Assim, a teoria das “supercordas” ou a “caocomplexidade” é ciência irônica ou não? A unificação da física seria tão surpreendente como as teorias da relatividade e a quântica? A simulação computacional é ciência irônica ou não? A descrição das diferenças, biológicas e culturais, apenas completa o mapa ou gera conhecimentos surpreendentes, significativos, que aumentam nossa compreensão do universo e de nós mesmos?
Caso o argumento de Horgan seja válido, emergem outras interrogações importantes. Estaríamos diante de uma reunificação das duas culturas, a científica e a humanista, que Charles Snow tinha considerado em termos de suas conseqüências para a unidade da cultura? Estaríamos presenciando nas ciências da natureza, e talvez nas ciências sociais, um processo semelhante ao que ocorreu na arte de vanguarda e que levaria na direção de uma produção que apenas pode ser degustada por um pequeno grupo de produtores que são ao mesmo tempo seus degustadores? É comum escutarmos de um colega cientista que não considera como arte uma obra que não faz sentido para ele. Mas os outros — políticos, artistas e leitores — deveriam continuar a considerar como ciência um conhecimento que não faça sentido para eles? A avaliação deverá ser produto apenas da perspectiva dos de dentro? Somente físicos deverão julgar a física, pintores a pintura, cientista sociais a ciência social, médicos a medicina e assim por diante? Isso não seria como moldar a dinâmica social no modelo dos comitês avaliadores da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes) ou do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e impor ao social uma solução gerada para o encaminhamento de problemas internos? Devo reconhecer que um mundo de arquipélagos absolutamente autônomos não me parece uma boa perspectiva de vida.
Horgan está dizendo: a ciência irônica pode ser um bom divertimento para os cientistas irônicos, porém seus esforços não convergem, cada um atribui sentidos diferenciados, e o jogo apenas faz sentido para os de dentro. Por que deveriam os de fora financiar um jogo que apenas faz sentido para os de dentro? A falta de convergência e a multiplicidade dos sentidos atribuídos às teorizações irônicas pode se tornar um limite social e político para a ciência. (E não apenas entre os neoliberais. Lula, recentemente, declarou que as universidades gastam muito.)
Horgan elabora algumas hipóteses mais manejáveis a partir das posições de Gunther Stent: a ciência poderia estar no fim porque funcionava muito bem — este é o núcleo do argumento de Stent, que atribuía sua prioridade ao historiador Henry Adams. A lei de aceleração do progresso científico, que estaria se movendo a velocidade sem precedentes, teria como corolário a possibilidade de a ciência defrontar-se com barreiras para seu progresso (uma hipótese paradoxal e, por isso, estética): a própria limitação de certos campos de conhecimento (anatomia humana, geografia e química, como exemplos) ou as questões reduzidas que faltaria responder na biologia; a limitação social que resultaria da queda dos resultados práticos da nova pesquisa pura e, portanto, do interesse em seu financiamento; ou mesmo a disponibilidade de conhecimentos de ciência pura suficiente para se realizar pesquisa aplicada durante muito tempo, respondendo às demandas sociais de modo satisfatório, poderia justificar uma diminuição de investimentos na investigação científica. Uma sociedade mais rica e satisfeita, aponta Stent, poderia levar os jovens a escolher caminhos mais leves que aqueles em que se torna cada vez mais difícil transitar, como o das ciências e o das artes. Assim, o domínio sobre a natureza levar-nos-ia a uma perda de vontade de poder. Para Stent, as ciências físicas parecem ser abertas. Porém, sempre que os físicos pretendam colher dados de sistemas mais remotos, enfrentarão limites físicos, econômicos e até cognitivos.
As considerações de Stent levam Horgan à conclusão de que “a ciência pura, a busca de conhecimento sobre o que somos e de onde viemos, já entrou numa era de resultados decrescentes. A maior barreira para o progresso futuro é, sem dúvida, o seu sucesso passado” (p. 29). Esta afirmação de Horgan é empírica ou irônica? O acompanhamento numérico da ciência em termos de cientistas, publicações e patentes, ao longo do século, indica seu crescimento acelerado. Porém, em termos mais qualitativos, pode-se dizer que estamos obtendo resultados que superem em significado os da teoria da relatividade, da teoria quântica ou da genética? Ou são essas teorias marcos que podem ser aperfeiçoados, mas não superados? Encontrar partículas cada vez ‘menores’, e talvez menos previsíveis, causaria surpresa semelhante ou maior aos que foram gerados pelos resultados hoje clássicos? Parece que uma avaliação qualitativa se faz necessária, uma vez que nem políticos nem público em geral, nem os possíveis candidatos à ciência deixar-se-iam afetar pelos resultados meramente quantitativos. O público, pelo menos, parece estar concentrado nos resultados aplicados e, em especial, nos que se referem a saúde e longevidade.
Horgan dedica um de seus capítulos — o sexto, ‘O fim da ciência social’— às ciências sociais, focalizando as contribuições de Wilson, Chomsky e Geertz. É consensual que a tradição das ciências sociais formou-se na tensão entre um modelo literário e um modelo científico e entre redução universalista e defesa da singularidade. A oposição entre elaborações empíricas e irônicas esteve presente em sua história, tanto como a coexistência de teorizações de difícil, ou mesmo impossível, convergência. Kuhn consagrou as ciências sociais como pré-paradigmáticas. Assim, para o cientista social é mais fácil assimilar os argumentos de Horgan. A seleção dos três autores parece orientar-se na direção de representar essas tensões e também diferenças políticas entre os entrevistados.
Edward Wilson luta pela conservação da diversidade na Terra. Uma formiga deixa Wilson deslumbrado diante do universo. Este deslumbramento apresenta-nos apenas um dos Wilson, o poeta dos insetos sociais e o defensor apaixonado da biodiversidade. O outro, o lado escuro, seria, para Horgan, o do homem ambicioso e competitivo em luta com o sentimento de ser um retardatário num campo de estudos que estaria mais ou menos completo. Wilson, em confronto com a ansiedade de influência, em vez de reagir ao darwinismo, argumentando sobre suas limitações, optou por fazer a teoria explicar bem mais do que os outros haviam sonhado. A sociobiologia foi o resultado: normas de acasalamento e a divisão do trabalho podiam ser explicadas como respostas adaptativas à pressão evolutiva. Wilson procurou as regras de condutas que regeriam todos os animais sociais. Os que conhecem o debate sabem que as críticas foram duras e, por vezes, além das palavras. Horgan afirma que Wilson teria reconhecido as críticas e também que uma teoria da natureza humana, aquela que vai resolver todas as perguntas sobre nós mesmos, é impossível. Há, portanto, limites cognitivos. Sobre a própria biologia, Wilson manifesta a opinião de que, no campo da teoria da biologia, não existirão mudanças revolucionárias. Assim, os êxitos do passado tornam-se limites no presente, e a tarefa que resta é a de ajustar as constantes para o próximo ponto decimal.
Noam Chomsky foi um crítico intransigente da sócio-biologia e continua sendo radical em suas críticas à sociedade norte-americana e aos sistemas autoritários. A crítica social e política é um dever moral para Chomsky. Desempenha, na argumentação de Horgan, o lugar do superlativo do contestatário. Ninguém, em seu juízo, poderá argumentar que as opiniões de Chomsky sobre a ciência derivam de ser um reacionário. Chomsky, por outro lado, não comunga com as explicações darwinianas do comportamento humano e, portanto, com uma visão da ciência como resultado adaptativo a pressões evolutivas. Entretanto, ele acredita que a estrutura inata de nossa mente impõe limites ao nosso entendimento. Haveria problemas solucionáveis, e também mistérios, e os físicos apenas poderiam criar teorias do que eles sabem como formular. Há campos, para Chomsky, nos quais é quase impossível afirmar que há progresso. O sucesso da ciência dependeria de uma convergência casual entre a verdade sobre o mundo e a estrutura de nosso espaço cognitivo. Porém, diante da pergunta direta de Horgan sobre os limites, retrocede e acusa o establishment de roubar a curiosidade e criatividade das crianças. Horgan apresenta-nos um Chomsky que leva água à idéia geral de que existem limites cognitivos e sociais. Contudo, não consegue extrair dele argumentos fortes no sentido de que os limites já estariam em ação de modo particular no presente, embora fique no ar a interrogação sobre a possibilidade de o cérebro explicar o cérebro.
Clifford Geertz seria o exemplo do cientista irônico sofisticado, que não espera estar descobrindo verdades sobre a natureza. Sua obra, que se tornou modelo de antropologia interpretativa, teria contribuído para a profecia de Stent, no sentido de levar a disciplina das ciências sociais para o terreno do impressionismo e da ambigüidade, da ironia. Os textos de Geertz teceriam um longo comentário sobre si mesmos, e a antropologia interpretativa que desenvolve encontraria seu ‘progresso’ mais no refinamento do debate do que na obtenção do consenso. Assim, Geertz, de pronto, afirma a não convergência. Geertz aceita a atração do modelo da literatura e, também, que resulta difícil traçar a distinção com a antropologia interpretativa. A opção de Geertz pelo modelo da arte estaria sendo determinada pelas dificuldades de uma ciência social empírica? Ou antes, pelos limites para o conhecimento científico do social e do cultural no modelo da ciência empírica? Horgan exalta o talento literário de Geertz e seu refinamento conceitual, especialmente quando se situa na leitura de seus textos que considera marcados por um estilo intermitente, com afirmações arrojadas, pontuadas por inúmeras ressalvas e impregnadas de uma autoconsciência hipertrófica. Contudo, na entrevista, Horgan mostra um Geertz disposto a corrigir a impressão de ser um cético universal. Geertz teria declarado que alguns campos, sobretudo a física, têm capacidade de alcançar a verdade. Teria também enfatizado que a antropologia não seria uma simples forma de arte, vazia de conteúdo empírico: sua teorização responderia à evidência empírica e poderia conseguir um certo tipo de progresso. Nada, porém, em antropologia teria o status dos ramos rigorosos das ciências duras. Na verdade, as coisas estar-se-iam tornando mais complicadas, as receitas perderam seu valor, não haveria convergência. Assim, o progresso de Geertz seria uma espécie de antiprogresso, onde as crenças firmes perdem força e as dúvidas se multiplicam.
A antropologia não é o único campo em luta com suas limitações, e a autoconfiança na ciência não parece a Geertz tão difundida como no passado. Contudo, a ciência social irônica pode continuar a produzir interpretações do mundo que já caminhou adiante, inescrutável como sempre. Ela não levará a lugar nenhum, diz Horgan, interpretando Geertz, mas pelo menos dará o que fazer, se quisermos, para sempre.
A ciência legitimou-se pela afirmação do valor do progresso na esfera da verdade e da utilidade. A ciência pura, enquanto boa, produziria aplicações úteis para os seres humanos enfrentarem as dores da vida, superarem a pobreza, a humilhação, a crueldade e a servidão. Enfim, a aplicação das ciências ajuda os humanos a progredir em suas condições de vida. O argumento utilitário foi o núcleo poderoso da linguagem política em favor da ciência. A construção da prova empírica, em suas relações com a especulação, foi o mecanismo central para assegurar a convergência ou consenso intersubjetivo. O esquema funcionou eficientemente durante quase cinco séculos, talvez com alguns percalços. A ciência aplicada continua ainda potente em seu papel de produzir utilidades a partir de verdades já enunciadas, mesmo que o faça, em muitos casos, com base no conhecimento de uma relação empírica que se funda no desconhecimento da verdade dos mecanismos. Todavia, ela pode continuar funcionando bastante bem a partir do já sabido. Assim, não está em questão o horizonte da aplicabilidade, da utilidade.
As questões situam-se em relação aos valores do conhecer e a seus mecanismos. Se o esquema, o mecanismo central e a esperança estão sendo abandonados em graus significativos, se estamos diante da substituição da ciência empírica por uma ‘ciência irônica’, se não acreditamos em mudanças profundas em termos das verdades já conhecidas, se pensamos que há campos que não oferecem problemas significativos e outros que são apenas mistérios, se algumas destas razões estão em nossas mentes, isoladas ou em conjunto, é mais ou menos natural que se coloque a questão dos limites da ciência. Podemos discordar de Horgan quanto ao encaminhamento de algumas de suas questões específicas, quanto ao modo de tratar os limites em campos particulares de conhecimento e quanto à metodologia de construção de seus argumentos. Contudo, não se pode deixar de observar que sua pedra caiu sobre o telhado, que há valor em suas questões. Fechar os olhos não é uma solução, e talvez, se o telhado não pode ser fortalecido, seja melhor caminhar na direção aberta e clara de uma ‘autoconsciência sofisticada’, e pagando o preço da especulação ironista.
Notas
1Nos‘ Agradecimentos’, pp. 327-8, Horgan indica as datas de publicação da entrevista.
2Tradutora de Horgan, Rosaura Eichember preferiu “angústia e a ansiedade” na tradução da expressão “anxiety of influence”. Marcos Santarrita, tradutor da obra de Bloom, O cânone ocidental (Rio de Janeiro, Objetiva, 1995), optou por ‘ansiedade’. Não tendo em mãos o original inglês de Horgan, inclino-me, a partir de Bloom, a acompanhar a opção de Santarrita.
Referências
LOVISOLO, H. Einstein 1994 ‘A legitimação da ciência na fronteira’. Dados, vol. 37, no 2, pp. 161-78.
LOVISOLO, H. Einstein 1991 ‘Uma viagem, duas visitas’. Estudos Históricos, no 7.
BLOOM, Harold 1992 The anxiety of influence: a theory of poetry. Nova York, Oxford University Press
Resenhista
Hugo Lovisolo – Doutor em antropologia social, professor da universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: [email protected]
Referências desta Resenha
HORGAN, John. O fim da ciência: uma discussão sobre os limites do conhecimento científicoSão Paulo: Companhia das Letras, 1998. Resenha de: LOVISOLO, Hugo. Da empiria à ironia. História, Ciência, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.6, n.1, mar./jun. 1999. Acessar publicação original [DR]
Coroas de Gloria, Lagrimas de Sangue — A rebelião em Demerara em 1823 – COSTA (VH)
COSTA, Emilia Viotti da. Coroas de Gloria, Lagrimas de Sangue — A rebelião em Demerara em 1823. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. Resenha de: SÁ, Cristina Isabel Abreu Campolina. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 212, nov., 1998.
Este livro e um fino exemplo de um trabalho de pesquisa de primeira classe sobre urna das maiores revoltas de escravo do Novo Mundo. A revolta ocorreu no ano de 1823 na Colônia de Demerara na Guiana, ex-Guiana Inglesa. A autora se propõe a contar a história do missionário evangélico John Smith que, proveniente da Grã-Bretanha para Demerara em 1817, foi acusado de ser o mentor e instigador da referida rebelião.
A região onde o conflito se deu é conhecida corno Costa Leste ocupando urna imensa área de cultivo de açúcar que se estende ao longo do mar por quase 40 Kms a leste da foz do rio Dernerara. Atingindo quase 60 fazendas a partir da fazenda Success pertencente a Jonh Gladstone, a rebelião contou com a participação de 10 a 12 mil escravos que se sublevara, em nome de seus “dreitos”.
O dado que confere singularidade ao conflito foi a interferência do missionários evangélicos que jogaram luz nos desmandos do sistema escravista vigente, em confronto com os senhores (fazendeiros locais) e, as autoridades coloniais que os acusavam simultaneamente de traidores e fanáticos. Outro dado importante no conflito foi que contrariando a esperada atitude de apoio por parte da Metrópole, nos inúmeros atritos entre missionários/colonos, colonos/escravos, as autoridades britânicas nunca se posicionaram radicalmente a favor dos fazendeiros.
A autora justifica a importância de tal pesquisa pelo valor universal do terna da escravidão e, considera o trágico destino do Reverendo Smith emblemático no que concerne a atuação de indivíduos que se distinguem na história corno paladinos da justiça e da igualdade.
Cristina Isabel Abreu Campolina Sá.
[DR]OBS: Resenha incompleta só consta essa página.
Cocanha: A história de um país imaginário – FRANCO JÚNIOR (VH)
FRANCO JUNIOR, Hilário. Cocanha: A história de um país imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. Resenha de: PAIS, Marco Antonio de Oliveira. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 205- 208, nov., 1998.
No início da presente década o Prof. Hilário passou a dedicar-se a uma linha de pesquisa direcionada para o estudo da mitologia medieval e cujos resultados podem ser encontrados nos seus livros As utopias medievais, A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval e Cocanha: lianas faces de uma utopia. Mas é com a presente obra que o autor mais avança nos seus estudos, na qual aborda um tema de grande interesse para os estudiosos da civilização medieval. 0 livro coloca ponto final numa discussão que ocorre nos meios acadêmicos nacionais e Órgãos financiadores de pesquisa sobre a possibilidade, ou não, de ocorrer avanços na historiografia medieval conduzida por um pesquisador brasileiro, trabalhando no Brasil. Seu trabalho serve de estimulo para o professor que diante das dificuldades colocadas pela pratica da pesquisa nesta área aqui no Brasil muitas vezes deixa-se vencer pelo desanimo. Penso que com este livro a historiografia medieval brasileira atinge a maturidade, abrindo perspectivas para a realização de novos trabalhos.
A excelência da obra e reconhecida inclusive por um dos maiores medievalista contemporâneo, o professor francês Jacques Le Goff, que no prefacio, entre outros temas, agradece ao autor pela seu trabalho sobre o pais de Cocanha, pois mesmo apesar de atrair a atenção de diversos historiadores, nunca tinha sido tratado de forma abrangente e sistemática. A partir de agora o livro deverá tornar-se citação obrigatória na bibliografia sobre o assunto.
A utopia de um país maravilhoso, de uma terra de abundancia e felicidade, da eterna juventude pode ser encontrada em diversas formações sociais pré-industriais, ocidentais e orientais, sejam elas letradas ou iletradas, tanto no mundo antigo quanto no contemporâneo. Estes sonhos que povoam o imaginário de inúmeros povos vão aos poucos sendo desvendados pela pesquisa histórica, ampliando nosso conhecimento sobre as sociedades onde surgiram. E partindo do pressuposto de Duby — de que para conhecer a ordenação das sociedades humanas o historiador deve prestar a atenção tanto nos aspectos econômicos quanto mentais que o Prof. Hilário desenvolve seu trabalho.
Movimentando-se numa área onde são muitas as imprecisões conceituais, aquela do imaginário e da intersecção cultura popular/erudita, o autor consegue se locomover com habilidade, discutindo e esclarecendo os pressupostos teóricos que utiliza, apresentando hipóteses precisas e bem elaboradas. Demonstrando ser um discípulo da história social, o autor abre-se a interdisciplinaridade movimentando-se com desenvoltura na área da história, literatura, semiótica, etimologia, filosofia, antropologia, sociologia, e mesmo algumas escapadas pela psicanalise.
O livro demonstra uma grande erudição e acesso a uma vasta bibliografia, mas nem por isto deixa de ser urna leitura agradável. O autor evita as citações em idiomas estrangeiros, tediosas e incompreensíveis para muitos, e com isto favorece a leitura a um público mais amplo do que aquele restrito ao interessados pela história medieval. A tradução completa do fabliau da Cocanha nas primeiras páginas presta um auxilio inestimável ao leitor e favorece a compreensão das idéias do autor no decorrer da obra.
No primeiro capítulo, O Fabliau de Cocagne, mosaico textual, localiza o texto manuscrito cronológica e geograficamente e faz algumas incursões pela área do maravilhoso em várias culturas do mundo antigo, concluindo que o “fabliau da Cocanha pode ser considerado um exemplo típico da utilização de lugares-comuns, de imitação, de empréstimos, de compilação enfim, pratica muito difundida nas elaborações literárias medievais.” (p. 50) Quanto ao público alvo do fabliau não há acordo entre os especialistas, e o autor prefere sustentar a hipótese de que o mito de Cocanha funciona como uma compensação imaginaria para os principais grupos sociais urbanos dos séculos XII e XIII, período muito agitado na Europa em consequências das transformações oriundas do crescimento comercial e urbano ocorridas naquela época. Mas Cocanha não e só uma terra de sonho, pois representa também urna crítica social, além de urna sátira ou paródia da cultura oficial.
No segundo capitulo A terra da abundância parte do princípio de que a fome representava um dos piores inimigos da população da Europa medieval, daí o surgimento de várias utopias que poderiam dar cabo daquela desgraça de uma forma imaginaria. Ao que tudo indica nem mesmo o nome do país — Cocanha estaria livre de associações com o terna dos alimentos. A dieta dos cocanianos e alvo então de interessante analise e comentário, e nos dá uma visão panorâmica dos hábitos alimentares da civilização medieval.
No capitulo terceiro A terra da ociosidade, a partir do verso de que “La, quem mais dorme mais ganha” (FC v.28), aborda-se um dos tragos marcantes dos cocanianos, herança talvez dos preconceitos contra o trabalho oriundos da civilização greco-romana, da cultura germana e do cristianismo. E o interessante foi a valorização da ociosidade num momento em que o trabalho começava a ser reconhecido, refletindo talvez unia postura aristocrática contra as atividades dos burgueses. Neste capitulo o autor defende a tese de que “a natureza cocaniana e divina.” (p. 90), o que leva ao panteismo, isto e, doutrina na qual a idéia de Deus e do mundo representa urna (mica realidade. Dedica também algumas páginas na análise do carnaval e outras festas populares, pois “A terra maravilhosa com seus excessos alimentares, alcoólicos e sexuais é um carnaval ininterrupto.” (p. 97/98.)
No quarto capitulo, A terra da juventude aborda-se este tema tão sonhado pelas sociedades pré-industriais, mas que permanece obcecando o mundo pós-moderno. As condições econômicas, médico-sanitárias e alimentares da sociedade medieval conspiravam para que os indivíduos tivessem uma vida reduzida, daí a ênfase dada ao assunto pelo autor do fabliau, que inicia e fecha seu texto fazendo referências a Fonte da Juventude. Ser jovem era urna condição sine qua non para desfrutar das delicias e maravilhas de Cocanha. O próprio autor do fabliau era um jovem, corno ele mesmo afirma no texto, e que o imaginário transposto para país maravilhoso seria aquele da juventude aristocrática feudal. Mas para o Prof. Hilário o público alvo do fabliau não seria exclusivamente esta jovem aristocracia, pois atenderia também aos anseios e sonhos dos grupos urbanos burgueses.
No capitulo quinto, A terra da liberdade, discute-se as restrições que ela passou a sofrer no início da baixa idade média quando passou a ser cerceada pelo grande conjunto de normas imposto pelas monarquias centralizadas, pelos núcleos urbanos e pela igreja. Estas medidas deram origem a um clima de intolerância inexistente até então e que gerou a segregação de diversos segmentos da sociedades como enfermos, prostitutas, homossexuais, pobres de urna maneira geral, estudantes itinerantes, por exemplo. A ênfase na liberdade cocaniana seria urna compensação da liberdade real negada pelas realidade histórica daquele momento. Num momento de conflitos entre os partidários da ortodoxia da igreja e os diversos grupos heréticos que surgiram por várias partes da Europa, Cocanha desfruta de urna liberdade religiosa, e, melhor ainda, e um país não sacerdotal, conforme afirma o autor na página 139. Com uma igreja obcecada em impedir os prazeres oriundos do sexo, os cocanianos contra-atacam estabelecendo urna liberdade sexual que atinge a violência, pois os homens e a mulheres poderiam tornar a iniciativa de “pegar” os parceiros que quisessem, independente do seu consentimento, sem que isto gerasse algum descontentamento. O apelo da natureza era a única motivação a orientar a vida sexual dos cocanianos. No capitulo busca-se urna vez mais as possíveis origens do autor do fabliau e o Prof. Hilário enfatiza a hipótese de que vários indícios apontam para um goliardo que se investe contra a corrupta e avarenta estrutura papal e eclesiástica.
No sexto capitulo o autor aborda urna versão medieval inglesa do fabliau, cuja tradução e apresentada. Diferententemente da versão francesa, esta é bem mais limitada, concentrando-se na paródia de uma instituição monástica, ao que tudo indica a poderosa ordem de Cister, e seu autor seria um poeta franciscano, adepto da pobreza e simplicidade. 0 texto teria sua gênese então nos conflitos enfrentados pelas ordens monásticas a respeito dos valores e funções que as mesmas deveriam manter.
O sétimo e último capítulo trata de versões tardias que por surgirem num contexto histórico diferente do medieval incluem alguns elementos novos, apesar de manter constante o sonho de urna terra maravilhosa. Como o autor afirma, houve urna certa popularização do país da Cocanha e muitas versões representam críticas sociais as condições de vida levadas pelas classes mais pobres da sociedade, principalmente os camponeses. Algumas versões marcadas pela ideologia burguesa voltaram-se contra o clima de ociosidade e descontração da antiga Coconha. Por outro lado o realismo, o racionalismo e o iluminismo cuidaram de dar um cunho mais realista e sóbrio a algumas versões. Muito interessante para os leitores brasileiros são as páginas dedicadas a adaptação dos ideais cocanianos para o Novo Mundo a partir do final do século XV, funcionando como incentivo para o deslocamento de grandes contingentes de europeus para a América. A vegetação exuberante, a fauna variada, as aves coloridas, os rios caudalosos, a abundância de metais preciosos, a nudez indígena, levaram a transferir para a América a realidade da Cocanha. E para encerrar o livro o autor, como medievalista e brasileiro, não poderia ser mais feliz ao abordar uma interessante e cômica versão nacional do fabliau, o livreto de cordel intitulado o País de Sa -o Saruê, cujo autor transpôs para a realidade nordestina as maravilhas do país de Cocanha.
Na análise de um recorrente sonho da civilização ocidental — a utopia de uma terra maravilhosa o Prof. Hilário faz uma grande viagem pelo tempo, pois inicia seu livro abordando o famoso Poema de Gilgamech escrito por volta de 2500 a.C. no Oriente Media, e o conclui com um texto brasileiro de meados do século vinte.
Finalizando só resta-me recomendar a leitura do livro não só para os interessados pela cultura medieval, mas para todos aqueles dedicados aos temas relacionados ao imaginário, ideologia e cultura popular/erudita. E como aprofunda o tema referente ao carnaval deve ser leitura obrigatória para todos interessados pela cultura brasileira, pois afinal, para muitos, o Brasil e o país do carnaval.
Marco Antonio de Oliveira Pais – Professor do Departamento de História da UFMG.
[DR]
Vita Brevis: a carta de Flória Emília para Aurélio Agostinho | Jostein Gaarder
Resenhista
Monique Cittadino
Referências desta Resenha
GAARDER, Jostein. Vita Brevis: a carta de Flória Emília para Aurélio Agostinho. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Resenha de: CITTADINO, Monique. “Vita Brevis”: uma visão feminina do pensamento agostiniano. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 4/5, p. 327-335, jul./dez. 1998/1999.
Cidade febril: cortiços epidemias na corte imperial | Sidney Chalhoub || Salud/ cultura y sociedad en America Latina: nuevas, perspectivas históricas | Marcos Cueto
O interesse pela história da medicina tropical tem crescido muito, em virtude de numerosas injunções políticas e acadêmicas. O imperialismo, por exemplo, voltou a ser objeto de estudos acadêmicos, levando-nos a indagar sobre a importância que os impérios tiveram para a ciência e a medicina, e vice-versa, seguido do estímulo fornecido pelos estudos sobre o período pós-colonial, dos quais derivam questões acerca do papel crítico desempenhado pelas colônias na constituição ou genealogia da ciência e medicina nos centros metropolitanos. Problemas contemporâneos também contribuem para o crescente interesse pela história da medicina tropical. A persistência de doenças como a malária, o retorno de ‘antigas’ doenças, outrora consideradas quase vencidas, como o cólera, assim como o surgimento de novas enfermidades letais, como a causada pelo vírus Ebola, levam-nos a investigar a geografia e economia política das doenças, bem como os estilos que a medicina tropical ganhou nesses diversos cenários. O cólera e a malária já foram, é claro, doenças comuns na Europa, mas, no início do século XX, tinham sido requalificadas como essencialmente “tropicais”. Tal redefinição nos leva a indagar: em que consiste a tropicalidade das doenças tropicais? Leia Mais
O cultivo do ódio | Peter Gay
Elio Chaves Flores
Referências desta Resenha
GAY, Peter. O cultivo do ódio. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Resenha de: FLORES, Elio Chaves. Nós, os bárbaros. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 3, p. 189-195, jan./dez. 1997.
A formação das almas: o imaginário da República no Brasil | José Murilo de Carvalho
Ao ler A formação das almas: o imaginário da república no Brasil, de José Murilo de Carvalho – oportunamente relançado no final de 1995 -, tem-se a impressão de que a obra merece um subtítulo mais extenso, uma vez que não nos fala sobre um (ou “o”) imaginário da República, porém sobre o embate dinâmico para a construção de imaginários e seus respectivos símbolos. Esse sentido, aliás, é fundamental no desenrolar do texto, que procura mostrar sempre as mediações e os conflitos existentes na criação e consolidação dos principais símbolos republicanos.
O livro, mesmo sendo composto por alguns ensaios já publicados, ao lado de artigos inéditos, apresenta uma ótima coerência interna, explorando muito bem o objeto proposto. Inicia a análise pelos modelos políticos e filosóficos norteadores do positivismo, esmiuçando tanto a aplicação prática destes no Brasil, como a adaptação sofrida neste processo. Em seguida, o autor discute as diversas proclamações da República e o conseqüente impasse simbólico – proveniente das lutas pela criação de um imaginário social entre as diferentes vertentes político-filosóficas – externado nas figuras-símbolo de Deodoro, Floriano Peixoto e Benjamim Constant. Depois de abordar o imaginário do “fato” (a proclamação), José Murilo explora a construção de um mito de origem da República brasileira – Tiradentes – e suas diversas apropriações por diferentes (e até mesmo antagônicos) grupos sociais. A etapa seguinte, apresentada pelo livro, é a tentativa (frustrada) da criação de uma simbologia para a própria República, capaz de aproximar Estado e Nação, República e Brasil: a transposição do modelo francês “Marianne”, muitas vezes travestido da musa comtiana Clotilde de Vaux. O autor aborda, então, a criação (ou reciclagem) dos símbolos formais da bandeira do hino nacional, exigidos para qualquer Estado, os quais acabaram por tornar-se muito mais representativos da Nação (Brasil) do que do Estado (República). A obra se encerra com a retomada das questões anteriores, principalmente a aplicação dos modelos filosóficos comtianos no Brasil, visando promover uma reflexão sobre a construção de um imaginário da República capaz amalgamar o Brasil enquanto Nação, isto é: enquanto comunidade de sentido, segundo Bazco (1985), ou comunidade imaginada, segundo Anderson (1989). Leia Mais
Mauá, empresário do Império – CALDEIRA (RBH)
CALDEIRA, Jorge. Mauá, empresário do Império. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 550p. Resenha de LEAL, Marília Helena Paulos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.17, n.33, 1997.
Marília Helena Paulos Leal – Doutoranda pela Universidade de São Paulo.
Santa Evita | Tomás Eloy
Resenhista
Regina Maria Rodrigues Behar
Referências desta Resenha
MARTÍNEZ, Tomáz Eloy. Santa Evita. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Resenha de: BEHAR, Regina Maria Rodrigues. Não chores por mim, Argentina. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 3, p. 197-202, jan./dez. 1997.
A paixão transformada: história da medicina na literatura | Moacyr Scliar
Se a doença é o lado reversível do amor, segundo Thomas Mann, então, como paixão transformada, ela manifesta elevados níveis de sensibilidade e transcendência que freqüentemente conduzem o ser humano a realizar obras inesperadas. Seja ela transformada num estado espiritual transcendente, numa descoberta profissional ou numa obra literária, a doença tem sido uma musa inspiradora para a arte e a ciência. E é o ofício do literato que tem beneficiado significativamente a simbiose doença/amor, numa perspectiva romântica, porém, ainda em voga nestes tempos pós-modernos se levarmos em conta a manifestação cada vez mais crescente de escritas e escritores inspirados pela “paixão transformada”.
Nesta linha, temos uma obra histórico-literária do médico-escritor Moacyr Scliar» sobre os momentos-chave da medicina mundial. Lendo o livro dos dois pontos de vista — literário e científico —, o leitor apercebe-se das qualidades e vantagens do duplo ofício de que o próprio autor vem se constituindo há tempos num exemplo vivo. A partir de citações extraídas de textos literários, memórias, diários, ensaios e aforismos escritos por médicos, escritores e médicos-escritores como Miguel Torga, William Carlos Williams e Oliver Sacks, Moacyr Scliar apresenta, através de comentários e interpretações que geralmente não excedem duas a três páginas, um vasto panorama da medicina e da sua história, sobretudo esta sendo uma história de vozes — as vozes misteriosas do corpo, da alma, da doença, do médico e do escritor. Como numa consulta médica, estas vozes nos falam de tal forma que cada leitor pode se identificar com o drama pessoal de cada enfermidade. Aliás, o livro consola o leitor contemporâneo pelo seu retrato íntimo da medicina visto através das suas múltiplas descobertas, errâncias e incertezas, desde a Antigüidade até nossos dias. É a abordagem honesta do perfil da medicina com seus altos e baixos que torna a leitura deste livro tão reveladora, pois demonstra como esta ciência é decididamente humana e que os caminhos para descobrir uma cura passam por um processo longo e árduo. Leia Mais
A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial – VAINFAS (VH)
VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Resenha de: MATA, Sérgio da. Varia História, Belo Horizonte, v.12, n.16, p. 171-174, set., 1996.
O novo livro de Ronaldo Vainfas é uma grata surpresa. Finalmente a historiografia se volta para um objeto que a maior parte dos pesquisadores tem simplesmente ignorado: a história das práticas religiosas indígenas no Brasil. Infelizmente, perdura ainda em nosso meio acadêmico a opinião, inconfessa, de que o estudo das sociedades ditas primitivas “não é assunto de historiador”. Vainfas tem ainda o mérito de agregar à análise historiográfica as contribuições importantíssimas de autores como Florestan Fernandes, Maria lsaura Pereira de Oueiróz, Pierre Clastres, Hélêne Clastres e Mircea Eliade. Sua narrativa leve, bem articulada, e, antes de tudo. seu objeto e sua opção metodológica interdisciplinar, tornam esta obra tremendamente oportuna. Uma história religiosa científica e de caráter não-confessional ainda está por ser feita no Brasil. A Heresia dos Índios constitui-se, desde Já, num dos marcos deste esforço.
O tema do livro é o estudo da Santidade de Jaguaripe, formada e destruída na década de 80 do século XVI no Recôncavo baiano. As santidades eram “movimentos” religiosos orginalmente indígenas. Lideradas por xamãs denominados caraíbas, as santidades representavam a promessa e a possível materialização daquilo que o imaginário tupi pretendia ser a “Terra sem Mal”: a terra mítica onde os índios não precisariam trabalhar para comer, onde não haveria nem sofrimento e nem a própria morte.
Mas, vistos como heréticos pela Igreja e como fomentadores da desordem pelos fazendeiros, 1mpnmiu-se uma perseguição sem tréguas aos seus adeptos e líderes espirituais. O que há de surpreendente na Santidade de Jaguaripe é que ela teve Justamente num dos mais ricos senhores de engenho da Bahia, Fernão Cabral, o seu maior patrocinador Por que um membro da voraz elite latifundiária sessentista se arriscaria a tanto? Para desvendar este enigma, Vainfas empreende uma pesquisa de fôlego, a partir da qual entrevê-se não o mero estudo de caso, mas também um esforço de visualizar a interpenetração das culturas, bem como das relações de força às quais estão inevitavelmente conectadas.
Há duas questões de fundo perpassando A Heresia dos Índios: (a) o enorme preço pago pelos indígenas ao iniciar-se o processo colonizador -escravidão, epidemias, aculturação imposta, genocídio-teria ou não desempenhado papel decisivo na eclosão do “milenarismo tupi”; e (b) as Santidades seriam – e até que ponto – ou não fruto de um sincretismo cristão/xamanista? Minhas discordâncias em relação a Vainfas giram em torno das respostas que ele apresenta a estas perguntas.
Com relação à primeira questão, o autor advoga que o impacto da colonização sobre as populações indígenas foi o fator decisivo no surgimento das santidades (p. 45-46, 65). A maioria dos deslocamentos de índios, tendo à frente os caraíbas, dava-se em direção ao interior, justifica ele. O que pareceria comprovar que se havia uma “Terra sem Mal”, esta estaria por certo longe da costa, onde estabelecera-se o europeu. O problema desta tese, ao meu ver, reside no próprio caso da Santidade de Jaguaripe. Se fosse tão decisivo o peso da exploração colonial, como entender que Fernão Cabral tenha convencido boa parte da santidade original a migrar rumo à sua fazenda- ou seja, rumo ao litoral? Vainfas subestima a força social do mito, pois, ao que tudo indica, a direção das migrações não interfere diretamente na estrutura deste mito. O que era essencial: chegar à “Terra sem Mal”, mesmo porque (e precisamente porque) isso significaria ignorar riscos enormes.
As santidades, sublinha Vainfas, teriam um nítido caráter “anti-colonialista”. Contudo, em 1586, quando da destruição de Jaguaripe, o autor revela-nos que os índios assistem a tudo “sem esboçar reação alguma” (p. 1 00). Teria sido tão grande o peso da “exortação à guerra” feita pelos caraíbas?
A análise seguinte, do sincretismo entre elementos da religiosidade cristã e tupi, também revela problemas. Vainfas dá provas de “hibridismo”: similitudes entre a “Terra sem Mal” e o paraíso cristão, a santidade por alguns chamada “Nova Jerusalém”, o caraíba Antônio a quem se referiam outros tantos por “papa” ou “Noé”, o “rebatismo” dos novos adeptos, cruzes e rosários, etc. A partir destas homologias, entretanto, Vainfas sente-se autorizado a concluir que a maior parte das crenças de Jaguaripe “foi gerada( … ) nos aldeamentos da Companhia de Jesus” (p. 117), e mesmo que o “ídolo” venerado pelo índios era, “por origem, uma invenção cristã” (p. 132, grifo meu).
Desta vez o historiador fluminense superestima o peso da tradição cristã nas crenças que moviam as santidades. Seria mais sensato ver no esforço dos jesuítas uma prática aculturadora relativamente limitada: no Brasil colônia, como aliás na China deste mesmo período, os jesuítas só puderam introduzir com algum sucesso suas representações religiosas na medida em que elas tivessem algum homólogo, por distante que fosse, nas culturas autócones. Assim, o Tupanaçu dos jesuítas devia tanto ao Tupã indígena quanto a doutrina do Senhor do Céu de Matteo Ricci devia à noção de “Soberano do Alto” herdada da tradição chinesa. As (re)formulações jesuíticas não constituíam realidade inteiramente nova, como parece crer Vainfas. Estavam, para usarmos os termos de Johan Huizinga, ainda “impregnadas de passado”. O modus agendi jesuíta parece ter sido basicamente este em situações históricas ou contextos nos quais a “conversão” não pôde ser garantida, antecipadamente, (de fora para dentro) pela força ou (de cima para baixo) pela adesão da chefia em sociedades de tipo “heróico” (Sahlins).
Ademais, não convém esquecer que determinados aspectos-chave do ritual das santidades pouco ou nada tinham de cristãs. Tinham, isso sim, origens distantes. Juan Schobinger mostra-nos que as sociedades Diaguitas do noroeste da Argentina utilizavam-se do fumo como alucinógeno religioso seis séculos antes da chegada do europeu. Da mesma maneira, o tugipar (“templo” da santidade) tupi, as estacas fincadas no seu centro e os “ídolos” de pedra também Já existiam entre os Diaguitas. Como ver, então, nas práticas religiosas das santidades uma “invenção cristã”?
Problemática é, igualmente, a hipótese de que teria havido sincretismo religioso ao nível dos adeptos indígenas da santidade, mas nem tanto por parte dos vários mamelucos e mesmo brancos que, segundo a Inquisição, a eles teriam se juntado (p. 158). De fato, muitos destes últimos apenas simularam crer nos caraíbas para atraí-los ao litoral, ansiosos pela mão-de-obra proporcionada pelos “bugres” de Jaguaripe. A existência de tal diferenciação interna seria perfeitamente possível de sustentar, mas somente na condição de confundirmos nível de adesão (ou de conformidade) religiosa com sincretismo propriamente d1to. O ser “mais” adepto ou “menos” adepto não interfere na natureza das crenças e representações em questão.
Duas últimas observações. Vamfas utiliza, ao longo de todo seu livro, a categoria “seita” para se referir às santidades. Não foi uma boa escolha. Revela, neste particular, absorção acrítica (em que pesem todos os cuidados tomados) da linguagem inquisitorial. Nesta, como nos meios cristãos em geral, “seita” assume um significado diverso do sociológico. Onde o senso comum eclesiástico vê “heresia”, “desvio”, “erro” (e daí a sua repressão), a soc1olog1a da religião vê um tipo de comunidade religiosa com um padrão configuracional próprio. Vale d1zer: a inflexibilidade e ngorismo das seitas (Wach), sua ênfase na “obediência literal e no radicalismo” em relação a uma dada tradição religiosa (Troeltsch) são, em certo sentido, pouco compatíveis com quaisquer sincretismos (ou hibridismos). O que permite concluir que as santidades, muito provavelmente, não eram seitas.
Creio ainda que não tenha sido devidamente formulada ou explicitada a noção de “juízo etnodemonológico” (p. 53). Em que tal manifestação constitui um caso à parte de etnocentrismo, é algo que não se chega a compreender claramente.
Sérgio da Mata – Professor de Antropologia Cultural Fundação Educacional Monsenhor Messias- Sete Lagoas.
[DR]
A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial | Ronaldo Vainfas
VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Resenha de: BUENO, Clod0aldo. Anos 90, Porto Alegre, v.4, n.5, p.207-211, 1996.
José Rivair Macedo – Departamento de História – UFRGS Acesso apenas pelo link original
[IF]
O Estado Monárquico. França 1460-1610 – LE ROY LADURIE (RBH)
LE ROY LADURIE, Emmanuel. O Estado Monárquico. França 1460-1610. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 355p. Resenha de: FLORENZANO, Modesto. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.15, n.29, p.221-231, 1995.
Modesto Florenzano – Professor da Universidade de São Paulo.
Acesso ao texto integral apenas pelo link original
[IF]
O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930 | Lília Mouritz Schwarcz
Raça pertence àquela classe de conceitos que muitos gostariam que fosse definitivamente abandonado devido a sua generalidade, mas que, não com pouca freqüência, retoma ao centro das discussões. Sua longevidade impressiona: questões ligadas a raça eram centrais em debates acadêmicos do século XIX (e mesmo bem antes). Os debates persistem em uma época em que a ênfase volta-se para o seqüenciamento do genoma humano, um projeto que catalisa os interesses da biologia moderna.
Obviamente, o tópico ‘raça’ não se esgota no domínio das ciências biológicas, possivelmente daí derivando sua persistência e dos significados a ele associados através dos tempos. Não é nosso objetivo aqui aprofundar certas questões, mas é preciso mencionar que raça, em sua vertente biológica, social ou mais freqüentemente no intercruzamento de ambas, tem reiteradamente influenciado ideologias de perseguição e exclusão de segmentos sociais específicos em todo o mundo. Leia Mais
Trajetória política do Brasil. 1500-1964 – IGLÉSIAS (VH)
IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil. 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. Resenha de: ANASTASIA, Carla Maria Junho. Varia História, Belo Horizonte, v.9, n.12, p. 156-157, dez., 1993.
Aqueles que têm o privilégio de conhecer a intimidade compartilhada com a História pelo Prof. Francisco lglésias; seu trânsito, com singular competência, pelas ciências sociais; sua fina ironia, não se surpreenderam com as qualidades de Trajetória política do Brasil, livro que vem reiterar a posição do autor, considerado um dos maiores historiadores do pais.
Trajetória política do Brasil é obra da mais refinada tradição historiográfica e, embora recentemente publicada, já se coloca ao lado dos clássicos da História do Brasil. A identificação do trabalho do Prof. Francisco lglésias com as obras de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., e com o magistral Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, é imediata.
Na introdução, o autor explícita a necessidade do trato rigoroso das questões metodológicas. Enfatiza as imprescindíveis conexões da história política com a sociologia, economia e cultura. Pelo caráter abrangente de seu texto, ressalta somente as invocar para caracterizar o sentido geral da obra. Tratando dos cortes temporal e temático – que permitem o estudo da história por partes afirma fazer “dupla história especial; no espaço e no assunto”. História especial no espaço ao tratar especificamente do Brasil; história especial nos “aspectos do real”, ao privilegiar o político.
Com rara habilidade, o autor desenha a trajetória política do Brasil do período colonial à fase imediatamente anterior ao golpe político militar de 1964. A luz dos ensinamentos de Marc Bloch, explica essa trajetória do lugar onde ela se torna inteligível – como parte de uma totalidade – a história geral. Reitera o autor que o pleno sentido da história política do Brasil” … só se esclarece no relacionamento das partes, com as quais se forma um sistema, configurador de várias fisionomias'”.
Assim, ao analisar o período colonial, compara a política administrativa implementada no Brasil por Portugal com o quadro político delineado nas colônias espanholas e ressalta as relações que se estabelecem entre os estados europeus. Emerge, nessa primeira parte da obra, o Brasil inserido em um sistema mais amplo, que se convencionou denominar Antigo Sistema Colonial.
O mesmo procedimento é adotado na Parte 11 na qual o autor examina a transição do mundo colonial para o Brasil independente. Novamente aparece o un1verso europeu do Iluminismo, do Racionalismo, das políticas agressivas das potências do além-mar, o papel desempenhado por Portugal e Espanha. Situa-se nesta intrincada rede de relações políticas a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil e o final da transição para a Monarquia.
Na terceira parte, o autor apresenta as singularidades do regime monárquico brasileiro em uma América Latina republicana. A análise se torna mais complexa à medida em que avança o processo de nacionalização da independência. Apesar da maior complexidade do texto, é a questão da dicotomia centralização versus descentralização, decisiva no período colonial, que continua a informar o exame do processo político pelo autor. E assim terá seu próprio lugar na análise do federalismo na República.
Na Parte IV, ao examinar o período republicano, surgem, com mais força as especificidades da trajetória política brasileira. Sem dúvida, a preocupação central do texto e o ponto mais alto do trabalho.
Deve ser ressaltado como o cuidadoso trato do autor com as palavras consegue transmitir ao leitor fortes impressões. Não há como não antecipar àqueles que ainda não tiveram o livro nas mãos. a presença, na obra, de vigorosos perfis de homens públicos da República e a densidade da análise de momentos cruciais deste período. A fundação da República e Floriano, homem que se deixou tomar pela paixão política; Juscelino Kubitschek e suas realizações, pelos quais o autor deixa transparecer grande admiração; Jânio Quadros, sua estranha personalidade e seu ambíguo comportamento político são exemplos de virtudes, circunstâncias e acasos, cuja descrição impressiona vivamente o leitor.
O trabalho do Prof. Francisco lglésias, ao contrário dos pesados textos acadêmicos, é de leitura saborosa. Não sem razão, em número alentado de páginas constam apenas vinte e sete notas.
Ao final, o autor apresenta, além de uma cronologia, bibliografia selecionada e comentada. E é sem surpresa que se encontra, com algumas poucas exceções, as obras clássicas da historiografia brasileira nesta síntese da história do Brasil que já nasce clássica.
O autor afirma que seu livro é um ” … texto a ser lido por qualquer pessoa culta'”. Essas pessoas e, em especial, os estudiosos da história do Brasil certamente terão um enorme prazer ao ler Trajetória política do Brasil.
Carla Maria Junho Anastasia – Professora do Departamento de História- UFMG.
[DR]
Visões da liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte | Sidney Chalhoub
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. Resenha de: MONTEIRO, Marília Pessoa. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.14, n.1, p.245-246, jan./dez. 1993.