HISTÓRIA
Historia de las Prisiones | IIHLP | 2015
El surgimiento de una nueva publicación constituye una invitación propicia para realizar algunas reflexiones que expliquen las razones de la iniciativa.
La política criminal de un Estado se integra con distintas instituciones de control social formal: cárceles, policía, correccional de menores, hospitales psiquiátricos para pacientes judicializados, constituyen distintas agencias en las que se concentra el poder penal estatal. La indagación historiográfica sobre el pasado de estas instituciones ha venido conformando, desde hace varias décadas, las agendas tanto de la iushistoriografía como de la historia social.
Desde la historiografía del derecho iberoamericana, salvo algunas pocas excepciones, los principales aportes relativos a la historia de las prisiones se vinculan con períodos cronológicos que se refieren a los siglos XVIII y XIX, siendo más bien escasas las investigaciones que se ocupan del último cuarto del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado. Por su parte, en el caso de la historia social, aun cuando sus estudios se han dilatado más en los períodos temporales señalados, se visualiza, en algunos sectores, cierto apego a determinados modelos teóricos, especialmente influenciados por Michael Foucault. Sin embargo, desde la publicación, en 1975, de Vigilar y castigar, obra de singular importancia para el estudio de la historia de las prisiones, han trascurrido cuarenta años. Y sería un error pensar que después de aquel aporte trascendental nada más se pueda decir al respecto. Por el contrario, el escenario de la historiografía sobre las prisiones desde los albores de este siglo está evidenciando signos saludables de cambio.
Estos cambios son sintomáticos de una renovación, producto de una creciente problematización sobre nuevas cuestiones o cuestiones más tradicionales pero que son revisitadas a partir de la utilización intensiva de fuentes diversas.
La Revista de Historia de las Prisiones (San Miguel de Tucumán, 2015-) pretende dar cuenta de este horizonte, en curso de renovación. La Revista cuenta con el aval y es editada por el Instituto de Investigaciones Históricas Leoni Pinto (INIHLEP) de la Universidad Nacional de Tucumán. Es un proyecto federal, cuya dirección se sitúa en las provincias de Córdoba y Buenos Aires y cuyo sello editorial y parte del equipo de redacción se radica en la provincia de Tucumán.
Todo proceso de renovación supone la confluencia generacional: figuras consagradas, juntamente con nóveles investigadores, confluyen en este horizonte y nuestra publicación aspira a dar cuenta y fomentar estos contactos, cuyos productos historiográficos desembocarán en un mejor conocimiento del área a investigar.
¿Cómo se construye esta tradición historiográfica?
Con distintas perspectivas, que se entrelazan.
El espacio carcelario, especialmente a partir del proceso modernizador del castigo penal que tuvo sus inicios en el último cuarto del siglo XIX, constituyó un territorio complejo. En sus pliegues han coexistido (y aún lo hacen) agentes penitenciarios, personal técnico e internos; en una cotidianeidad enmarcada por los perfiles sociológicos que caracterizan a una institución total. Pero, al mismo tiempo, aquella dinámica institucional estuvo (y todavía lo está), orientada por reglas jurídicas, de las más variadas jerarquías, inspiradas -al menos desde lo discursivo- en la consecución de cierto ideal rehabilitador. La historiografía jurídica tradicional, más preocupada por la descripción de aquellos contextos normativos, resulta insuficiente para dar cuenta de las innegables tensiones que se experimentan en aquel espacio institucional, tensiones que, en muchos casos, por el desenvolvimiento de las subculturas carcelarias y sus peculiaridades, esterilizan aquellas finalidades legisladas. A ello debe sumarse que cada cárcel es un microcosmos y que las finalidades legislativas muchas veces se han pensado en función de una determinada realidad, pero sin percatarse de la tremenda diversidad que caracteriza a aquélla. Esto exige una metodología microhistórica, que permita problematizar cada situación, a partir de una explotación intensiva de las más diversas fuentes, en escalas más reducidas. Lo dicho hasta aquí exige orientar la heurística de las fuentes hacia aspectos tan variados como la existencia o no de ofrecimientos de tratamiento (trabajo, educación, etcétera) y, en su caso, sus características; la infraestructura carcelaria; los perfiles de la población de los internos y su cantidad; la dieta; la sanidad; los regímenes disciplinarios; la cuestión religiosa; la formación del personal de prisiones; sus formas de reclutamiento; el control ejercido sobre la institución carcelaria; etcétera.
Desde luego que no renunciamos a una historia total de las prisiones. Todo lo contrario, esta historia es posible a partir del comparatismo; pero un comparatismo coordinado, que no sea la mera yuxtaposición de casos puntuales, sino que se esfuerce por la reconstrucción articulada de los distintos espacios que caracterizan las variadas realidades nacionales y regionales.
Por otra parte también deberá atenderse a la circulación de ideas: las reformas penitenciarias pueden ser tributarias de climas intelectuales que provienen de centros diversos de aquellos en las que se producen. La historia de las prisiones deberá ser muy sensible a estas cuestiones, no sólo reparando en los artefactos culturales que fueron conformando al Derecho penitenciario como disciplina científica (libros y revistas especializadas) sino, también, analizando los procesos de comunicación entre los diversos actores sociales (intelectuales, viajeros, etcétera), la conformación de élites (locales o regionales), de redes intelectuales, de nuevos espacios de sociabilidad científica (congresos penitenciarios) y la posible incidencia de todos éstos en aquellos procesos de reforma.
Aún cuando el egreso de la institución penitenciaria supone la desvinculación del penado con la cárcel, esto no significa que la reconstrucción historiográfica cese, justamente, en aquel punto. Por el contrario, desde antiguo se conocen institutos jurídicos (por ejemplo, la libertad condicional) que permiten el retorno del interno al medio social, aún cuando bajo el control del Estado. En tal caso, cobra también relevancia la indagación respecto de la asistencia postpenitenciaria, forma de ayuda que, por lo demás, puede tener incidencia en situaciones en que la liberación sea el producto del agotamiento de la condena. En cualquiera de estas hipótesis, hace la completitud del análisis de nuestra temática, detenerse en la existencia, y en su caso las características, de la ayuda del Estado o de otras organizaciones sociales intermedias para con este colectivo.
Finalmente, tanto los productos normativos como las políticas penitenciarias suelen ser receptivas de las sensibilidades y sensaciones sociales sobre el castigo. En la formación de estas sensibilidades y sensaciones suelen desempeñar un papel gravitante los discursos de la prensa. De allí también que tal cuestión deba merecer un lugar destacado en todo proceso de reconstrucción historiográfica.
Estas ideas con las que concebimos la historia de las prisiones -y que hemos tratado de sintetizar- sólo pueden concretarse a través de un programa interdisciplinario; una interdisciplinariedad que, paradójicamente, debería funcionar en un doble sentido: hacia adentro de la perspectiva historiográfica, a través de la confluencia entre historiadores sociales, del derecho y de las ideas; con los más variados enfoques metodológicos (microhistoria, comparatismo, etcétera) y en su interrelación con otros saberes disciplinares, cual sucede con la sociología del castigo, la criminología, el análisis del discurso (para mencionar unos pocos); cuyas categorías, en atención a los contextos espacio-temporales que caracterizan nuestra propuesta (1880/1950) permitirían una enriquecedora aplicación.
Con estos alcances y tales propósitos, damos inicio a esta publicación de periodicidad bianual, de artículos originales y sometidos a evaluación externa (external peer review) bajo el sistema de arbitraje doble ciego. Invitamos a la comunidad científica a colaborar en esta tarea de reconstrucción historiográfica de las prisiones de América y Europa (1880 /1950)
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2451-6473
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Em Perspectiva | UFC | 2015
A revista eletrônica Em Perspectiva (Fortaleza, 2015-) é um periódico gratuíto, de publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará (UFC). A Revista tem por objetivo estimular a produção intelectual no âmbito da História Social, campo da pesquisa em História, cujas abordagens apreciam análises em torno das experiências dos sujeitos históricos, a partir da qual a problematização das noções de história, sujeito e sociedade emergem enquanto vias fundamentais para a compreensão do passado e de suas representações.
Pretende-se publicar artigos que, em diálogo com outras áreas do conhecimento, discutam categorias temáticas atreladas as relações entre: memória e temporalidade, cultura e poder, migração e trabalho, bem como outras abordagens.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2448-0789
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Didactica Historica | GDH/DGGD | 2015
Didactica Historica. Revue suisse pour l’enseignement de l’histoire (2015-) est une revue accordant une place importante aux pratiques et aux ressources consacrées à l’enseignement de l’histoire. Elle a été créée par le Groupe d’étude de didactique de l’histoire de la Suisse romande et italienne (GDH) et par la Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtdidaktik (DGGD).
Elle succède au Cartable de Clio, publié depuis 2001. Le changement de nom correspond à un changement de formule : depuis 2015, Didactica Historica se lit dans un grand format illustré et en couleur, avec une édition en ligne prolongeant l’édition papier. La parution est annuelle
Vous trouverez sur le site les contributions de tous les numéros précédents (à l’exception du numéro de l’année en cours) avec les contributions en ligne (suppléments). Le site fournit également des informations sur la manière de soumettre des contributions (feuille de style, délais et processus de publication et de révision) ainsi que sur la politique de commande et de libre accès.
Pour plus d’informations, nous vous renvoyons au site de notre partenaire, la maison d’édition Alphil: www.alphil.ch/
[Periodicidade anual]ISSN : 2297-7465
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Civilização: etnocentrismo, evolucionismo e conceitos em História / Boletim do Tempo Presente / 2015
O conceito de civilização, desde o momento de seu surgimento com os filósofos iluministas defensores da ideia de progresso, estabeleceu-se na historiografia ocidental como uma das mais arraigadas noções, apesar de suas claras alusões etnocêntricas. Mas cada vez se torna mais claro, à luz das críticas e percepções atuais, o quanto a ideia de civilização expõe o ‘outro’, identificando-o inevitavelmente como ‘bárbaro’, ‘selvagem’, ‘inculto’, e por isso, pelo menos desde a segunda metade do século XX, essas palavras e as concepções nelas envolvidas têm sofrido um verdadeiro bombardeamento teórico, originário de frentes tais como a Sociologia, a Linguística e a Antropologia. No entanto, apesar disso, muitos ainda são os historiadores que continuam a cultivar os princípios evolucionistas envolvidos na definição de civilização. Princípios sempre associados, de forma mais ou menos implícita, a noções de progresso, evolução social, ‘altas culturas’ (que por sua vez alude à existência de ‘baixas culturas’); tudo isso remetendo a uma crença na existência dos civilizados e dos ‘outros’, aqueles considerados carentes de cultura, de Estado, de história.
Entretanto, nem todos aceitam essa situação de forma acrítica, e muitos são os historiadores e cientistas sociais que atualmente tentam fugir dos tradicionais etnocentrismos através de um investimento na historicização de conceitos. Ou seja, na consideração de que as palavras têm história e que, na medida em que colocamos cada uma em seu devido contexto de produção, podemos começar a entender melhor seus significados e desconstruir aquelas noções que os naturalizam. Dessa forma, civilização e progresso perdem seu status de fenômenos inevitáveis nas sociedades humanas, da mesma forma que uma sociedade estatal deixa de ser entendida como naturalmente ‘melhor’ que uma tribal. Assim, partindo dessas premissas, elaboramos o presente dossiê, procurando reler o conceito de civilização a partir de diferentes temas, sempre almejando, em última instância, derrubar evolucionismos e etnocentrismos arraigados.
Nosso primeiro artigo faz isso se debruçando sobre o conceito de civilização no Direito Internacional. Nele, Laura Bono e Daniela Rebullida, ambas da Universidad Nacional de la Plata, visitam fontes do Direito Internacional para questionar os significados que o mesmo atribui à expressão ‘nações civilizadas’: uma fórmula basilar nas relações internacionais, visto que todo o conjunto de princípios gerais do Direito Internacional apenas é aplicável a esse conjunto de países, excluindo de sua proteção e jurisdição quaisquer territórios considerados ‘incivilizados’. Dando prosseguimento, mergulhamos na observação de atores sociais classicamente associados aos ‘selvagens’, os índios. E é procurando desconstruir essa associação que Edson Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, retraça a trajetória das ideias de evolução e progresso no Ocidente, desde o século XIX, analisando como as mesmas influenciaram a construção de uma certa imagem de ‘índio’, ainda hegemônica entre o senso comum e o Estado brasileiro, e influente mesmo sobre cientistas sociais de renome, como Darcy Ribeiro. Mas, indo além, ele dialoga com as aquelas perspectivas históricas e antropológicas, iniciadas na transição do século XX para o XXI, que não se preocupam em definir o lugar do índio na civilização, mas sim em desconstruir essa oposição entre ‘civilizados’ e incivilizados. Enfatizando assim a percepção de que é inútil discutir quem é e quem não é civilizado, pois a própria palavra é excludente e sempre vai pressupor a definição de alguém ‘inferior’.
Realmente, os diversos povos nativos americanos, sempre generalizados baixo o conceito de índio, forneceram alguns dos elementos fundamentais para a definição clássica de selvagens. Razão pela qual se torna tão importante entendermos tanto suas sociedades, quanto a construção dos discursos históricos oitocentistas e novecentistas sobre elas. Com isso em mente é que Karl Arenz e Frederik Matos, da Universidade Federal do Pará, voltam seu olhar para o século XVII, para inquirir sobre as ações de uma das mais influentes instituições da colonização da América portuguesa, a Companhia de Jesus, analisando especificamente as práticas jesuítas que objetivavam ‘tirar os índios da selva’, ou seja, práticas consideradas civilizatórias pela historiografia. Mas os autores não querem simplesmente fazer uma narrativa da história jesuíta, e sim pesar suas práticas em conjunção com a própria historiografia, a verdadeira responsável por analisá-las enquanto civilizatórias. Isso porque, segundo os autores, o conceito de civilização não foi usado pelos jesuítas no século XVII, e se suas ações colonizadoras são entendidas hoje como civilizatórias isso ocorre porque elas assim foram definidas pela própria historiografia. Por outro lado, eles não esquecem que outras noções, que nos séculos posteriores iriam integrar os discursos civilizatórios, já perpassavam os discursos e ações das missões jesuíticas amazônicas, instituições de fronteira que se contrapunham aos ‘sertões’ habitados por índios, vistos como espaços caóticos de gente ‘bárbara’. E é ainda pensando o mundo colonial que Suely Almeida, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, discute os problemas conceituais em torno das mestiçagens coloniais. Em seu texto, a autora critica o discurso clássico segundo o qual africanos e indígenas estiveram passivos nas ações colonizadoras. Um discurso que apresenta negros e índios apenas como vítimas, e como tal sem força ou atitude no processo histórico. Ao mesmo tempo, a autora discute também as possibilidades que os estudos das mestiçagens oferecem a uma história crítica, entendendo essas mestiçagens como fenômenos construtores das sociedades da Idade Moderna, sempre considerando as diferentes negociações e estratégias promovidas pelos distintos atores sociais, inclusive escravos e forros durante os séculos XVII e XVIII. Uma abordagem que tem o mérito de retirar dos europeus a autoria absoluta da colonização.
Assim, entre Direito Internacional, história indígena, colonização e mestiçagens, procuramos despertar algumas inquietações mais do que necessárias para os estudos dos processos históricos ocidentais. Inquietações muito influenciadas pelo pensamento crítico de historiadores e antropólogos como Serge Gruzinski, John Manuel Monteiro, e do desabrido e controverso Pierre Clastres.
Esse antropólogo francês, cuja obra principal foi escrita nas décadas de 1960 e 1970, causou celeuma com suas ideias, baseadas em estudos etnográficos realizados junto a grupos indígenas sul-americanos, nas quais criticava continuamente as noções ocidentais acerca da inevitabilidade do Estado enquanto fenômeno social e histórico. Muito debatidas em seu tempo, essas teses caíram em um ostracismo a partir da década de 1980, principalmente por estarem fundamentadas no que muitos consideravam ser a visão idealista e romântica de seu autor.[2] Mas com a virada para o século XXI, as conjunturas políticas internacionais começaram a mudar, fazendo com que o até então inatacável modelo de Estado começasse a esmorecer, e despertando um renovado interesse de antropólogos e cientistas sociais na obra de Clastres, justamente por aquelas mesmas ideias que antes o fizeram parecer romântico e idealista. Um idealismo encarnado principalmente na defesa de que o Estado não representava, ao contrário do que muitos gostariam de pensar, a etapa mais evoluída da humanidade, e nem mesmo era inevitável. Uma defesa que hoje entra em sintonia com a preocupação cada vez maior com os destinos do Estado enquanto modelo liberal, e com a possível existência de modelos alternativos ao Estado, modelos de ‘contra-Estado’,[3] nas sociedades ocidentais.
Por outro lado, se as teses de Clastres falam muito acerca de nossas sociedades contemporâneas, elas também criticam de forma veemente a postura hegemônica nas Ciências Sociais acerca das sociedades indígenas, sempre descritas como sociedades ‘da falta’: sociedades sem escrita, sem Estado e sem história.[4] Foi contra isso que ele escreveu toda sua obra – cuja pedra basilar é a coletânea A Sociedade contra o Estado, cuja primeira edição data de 1974 – descrevendo, por exemplo, as ferramentas usadas pelos tupinambás, nos séculos que precederam à conquista europeia, para evitar o surgimento do Estado; ou como muitas culturas consideradas ‘de subsistência’, e que são sempre associadas à pobreza e escassez, de fato produziam mais do que o necessário para viver, e aproveitavam muito tempo livre.[5] Dessa forma, ao mesmo tempo que suas descrições etnográficas e análises teóricas procuram descortinar estruturas e fenômenos sociais em diferentes sociedades indígenas, elas vão deixando dolorosamente claros os preconceitos existentes nas Ciências Sociais modernas, para as quais, a despeito de todas as reiteradas afirmações de objetividade, o modelo da sociedade estatal industrial e pós-industrial de origem europeia é o máximo alcançado pela humanidade, e deve servir de base para todas as outras, a serem julgadas a partir do quão parecidas ou não elas são a esse modelo.
Mas apesar do interesse renovado na obra de Clastres, assim como outras posturas críticas defendidas por autores como Serge Gruzinski e John Manuel Monteiro, as noções civilizatórias continuam fortes e hegemônicas hoje, presentes em discursos historiográficos, antropológicos e muito constantes na mídia e no ensino de História.
Assim é que ainda convivemos com discursos sobre a descoberta da América por Colombo, e do Brasil por Cabral; ainda consideramos que os ‘índios’ desapareceram da história; que os escravos foram apenas vítimas passivas da colonização; e ainda usamos a história europeia como parâmetro para a história mundial. E assim vão se reproduzindo os mesmos discursos etnocêntrico, pois como já dizia Marc Ferro as imagens que temos de outros povos dependem muito da história que nos é contada quando crianças.[6] Então, enquanto continuarmos ensinando sobre sobre culturas ‘mais desenvolvidas’, estaremos relegando às outras, ditas ‘menos desenvolvidas’, aos status perpétuo de bárbaros, de atrasados, de ignorantes.
Em tudo isso, o entendimento do processo de colonização das Américas assume um lugar central, podendo contribuir para a desconstrução desses discursos etnocêntricos. Pois se, de um lado estão as teses tradicionais que afirmam que as sociedades indígenas foram facilmente conquistadas pela superioridade cultural europeia traduzida em armamentos, de outro estão aqueles estudos mais recentes, como os de Mathew Restall, que trazem à tona velhos documentos que mostram que os responsáveis pela derrocada de impérios indígenas no México pré-colonial foram outros estados indígenas, e não os espanhóis. [7] Por sua vez, contra aquela visão de vitimização para a qual africanos, afro-americanos e descendentes nas Américas foram sempre subservientes vítimas trágicas de processos e agentes históricos europeus, a ponto de terem sido libertados por esses últimos, estão os trabalhos de autores como Eduardo França Paiva e João José Reis, que mostram o quanto esses personagens interagiam com as estruturas coloniais e escravistas, o quando negociavam e reagiam, estabelecendo seus próprios processos históricos.[8]
Hoje vivemos uma situação paradoxal, no que diz respeito a nossas interpretações da história do Ocidente, especialmente das américas: por um lado, temos um crescente número de cientistas sociais que olham para o passado e veem mais do que descobertas europeias, índios desaparecidos e escravos submissos. Por outro, continuamos a ensinar sobre a ‘descoberta’ do Brasil, a abolição da escravidão pela Princesa Isabel, a conquista do México por Cortez, sobre as ‘altas culturas’ e as sociedades ‘mais desenvolvidas’ – em geral europeias ou muito similares às europeias – sempre tentando ignorar os outros. Mas o que realmente aprendemos ao tentar estudar tupinambás, aymarás, cherokees e bantos a partir de conceitos construídos para a análise do império romano? E quanto da nossa própria identidade nacional podemos estabelecer, ou compreender, enquanto toda nossa história é medida a partir da Europa ocidental? A verdade é que, por mais que queiramos, os padrões e medidas clássicos da Civilização não nos abarcam – se é que de fato abarcam alguém. E assim, enquanto insistirmos neles, teremos que admitir o fato de que somos, de fato, todos selvagens.
Notas
- SZTUTMAN, Renato. Introdução: Pensar com Pierre Clastres ou da atualidade do contra-Estado. Revista de Antropologia, V. 54, N. 2 (2011), USP. pp. 557-576.
- Em artigo publicado em dossiê acerca da obra de Clastres, por exemplo, Márcio Goldman afirma que “não há nenhuma razão para imaginar que os mecanismos “contra-Estado” descobertos por Pierre Clastres nas sociedades indígenas ameríndias tenham sua existência limitada a esse “tipo” de sociedade”, o que ilustra bem as preocupações dos novos comentaristas com a obra de Clastres. GOLDMAN, Marcio Pierre Clastres ou uma Antropologia contra o Estado.Revista de Antropologia, V. 54, N. 2 (2011), USP. pp. 578-599.
- Cf. CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado – Pesquisas de Antropologia Política. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. P. 208.
- Idem, p. 211.
- FERRO, Marc. A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação. São Paulo: IBRASA. 1983.
- RESTALL Matthew. Sete mitos da Conquista Espanhola. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
- PAIVA. Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colônia. Minas Gerais, 1716-1789.Belo Horizonte, Ed. UFMG. 2001; REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociaçãoe conflito – a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras. 1999.
Kalina Vanderlei Silva – Professora da Universidade de Pernambuco.
Experiencias de tiempo en los siglos XVIII y XIX iberoamericanos. Un abordaje desde la historia conceptual / Almanack / 2015
Los estudios sobre las formas de experimentar, representar y conceptualizar el paso del tiempo, así como los cambiantes vínculos entre pasado, presente y futuro y el valor que se les otorga a cada una de estas dimensiones, ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda de las ciencias humanas y sociales. Las preguntas que orientan a estas indagaciones obedecen tanto a innovaciones promovidas por disciplinas como la filosofía, la sociología, la antropología, la estética y la teoría de la historia, como a las mutaciones en las formas de experimentar la temporalidad que se están produciendo en los últimos años.1 Esto permite explicar el creciente uso de categorías metahistóricas o antropológicas que procuran examinar con un mismo lente a diversas sociedades del pasado y del presente, como “espacio de experiencia” y “horizonte de expectativas” tal como las concibió Reinhart Koselleck; o herramientas heurísticas como “régimen de historicidad”, que François Hartog forjó para dar cuenta de los momentos en los que se producen “crisis del tiempo” al ponerse en cuestión las relaciones entre pasado, presente y futuro”2.
El dossier presenta los primeros resultados de una indagación colectiva realizada por miembros del equipo sobre Historicidad que integra la red de investigación de historia conceptual Iberconceptos.3 Nuestro propósito es analizar desde una perspectiva conceptual las experiencias de tiempo en el mundo iberoamericano durante los siglos XVIII y XIX. Dado que se trata de una temática novedosa para la historiografía iberoamericana, quisiéramos realizar algunas precisiones sobre nuestro enfoque.4 La primera es que no se trata de una indagación filosófica o teórica sobre el tiempo, la temporalidad o la historicidad, por lo que no se partió de una definición a priori, sino que se procuró examinar empíricamente cómo conceptualizaron las experiencias de tiempo los actores del período. La segunda es que a diferencia de la tradicional historia de las ideas, e incluso de enfoques más atentos a los contextos y a la historicidad como la historia de los lenguajes políticos, no se centra en los grandes nombres del pensamiento político, filosófico y social. Es por ello, y por el carácter polisémico y controversial que tienen los conceptos, que buena parte del corpus está integrado por debates parlamentarios y por la prensa en los que se pusieron en juego y se disputaron sus significados. La tercera es que si bien en ese período se produjeron transformaciones decisivas de orden social, cultural, económico, científico y tecnológico, decidimos privilegiar los cambios políticos como mirador para explorar las experiencias de tiempo y su conceptualización. En ese sentido, los trabajos analizan cómo estas experiencias se entrelazaron con los principales fenómenos y procesos ocurridos en esa centuria: las reformas imperiales, las crisis de las monarquías, los procesos revolucionarios e independentistas y la emergencia de nuevas unidades políticas soberanas.
El dossier se inicia con un trabajo en el que Ana Isabel González Manso traza algunas coordenadas teóricas y metodológicas generales, para luego detenerse en el examen de los cambios producidos en España en las formas de percibir el tiempo desde fines del siglo XVIII, y sus consecuencias en el campo historiográfico y político en la siguiente centuria. A continuación, Victor Samuel Rivera, analiza la recepción que tuvo la Revolución Francesa en la ciudad de Lima entre 1794 y 1812, llamando la atención sobre una de las formas en las que se procesó la aceleración del tiempo a uno y otro lado del Atlántico: la apocalíptica. Fabio Wasserman propone, por su parte, un minucioso recorrido en el que indaga cómo las elites rioplatenses conceptualizaron esa nueva experiencia de tiempo inaugurada por la revolución y cómo se entrelazó con su vida política hasta la década de 1830. Esa misma década es analizada por Luisa Rauter Pereira en un trabajo sobre los debates parlamentarios en Brasil que muestra algunos cambios fundamentales en la forma en la que el tiempo fue vivido e interpretado en el marco de disputas por la organización política de la monarquía independiente. El trabajo de Christian Lynch continúa de cierto modo el análisis de Rauter, pues toma como objeto el discurso parlamentario de Bernardo Pereira de Vasconcelos, quien a finales de la década de 1830 planteaba la necesidad de regular el ritmo de los cambios, llegando a la conclusión de que el “Regresso” es el verdadero progreso. De ese modo distinguía al conservadurismo de la reacción ya que en modo alguno se trataba de un retorno al Antiguo Régimen tal como se proponía en Europa. El trabajo de Francisco Ortega, por su parte, desarrolla una indagación sobre el “tiempo precario de la república” en Nueva Granada-Colombia durante las primeras décadas del siglo XIX, haciendo foco en las propuestas realizadas por el político y escritor conservador José Eusebio Caro que reivindicaba al movimiento constante como un componente esencial de las sociedades modernas. El dossier se cierra con un estudio de Miguel Hernández sobre la prensa conservadora mexicana en dos coyunturas, la de las revoluciones europeas de 1848 y la del Imperio de Maximiliano. Su trabajo le permite concluir que los conservadores compartían una misma concepción del tiempo con los liberales, pero procuraban atenuar el ritmo y ofrecían otra mirada sobre el pasado.
Como ya advertimos, las formas de experimentar y de conceptualizar la temporalidad en los siglos XVIII y XIX iberoamericanos es una temática que recién está comenzando a explorarse, por lo que aún no estamos en condiciones de ofrecer un panorama general a modo de síntesis. Confiamos sin embargo en que la riqueza de los estudios presentados en este dossier lo constituye en un punto de partida valioso para poder profundizar en el análisis sobre las experiencias de tiempo en ese convulsionado período, así como también para interrogarnos por los cambios que se están operando en nuestro presente.
Notas
1. CHARLE, Christophe. Discordance des temps. Brève histoire de la modernité. París: Armand Colin, 2011; GUMBRECHT, Hans Ulrich. Lento presente. Sintomatología del Nuevo tiempo histórico. Madrid: escolar y mayo, 2010; KOSELLECK, Reinhart. Estratos do Tempo.Estudos sobre História. Rio de Janeiro: Contraponto : Editora PUC Rio, 2014; LORENZ, Chris; BEVERNAGE, Berber (eds.). Breaking up Time.Negotiating the Borders between Present, Past and Future. Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013; ROSA, Hartmut. Social Acceleration:A New Theory of Modernity (New Directions in Critical Theory). New York: Columbia University Press, 2013.
2.KOSELLECK, Reinhart. Futuro pasado.Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, 1993; HARTOG, François. Régimes d´historicité.Présentisme et expériences du temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003.
3. El proyecto en http: / / www.iberconceptos.net / grupos / grupo-historicidad. Éstos y otros trabajos del grupo fueron presentados y discutidos en el Colóquio Internacional Experiencias de Tempo nos Século XVIII y XIXrealizado en la Universidade de São Paulo en abril de 2014.
4. Esta afirmación no implica desconocer la existencia de aportes significativos sobre los cambios en las concepciones de la temporalidad producidos en Iberoamérica durante ese período, comenzando por los realizados en el marco del proyecto Iberconceptos como el análisis del concepto Historiacoordinado por Guillermo Zermeño para el primer tomo del DiccionarioIberconceptos(http: / / www.iberconceptos.net / wp-content / uploads / 2012 / 10 / DPSMI-I-bloque-HISTORIA.pdf) o una publicación reciente del director general del proyecto, FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. Cabalgando el corcel del diablo. Conceptos políticos y aceleración histórica en las revoluciones hispánicas. In:_______; CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo (eds.). Conceptos políticos, tiempo e historia. Santander: Universidad de Cantabria McGraw-Hill Interamericana de España, 2013. También resultan de gran valor algunos trabajos que utilizan otros enfoques, como los estudios sobre lenguajes políticos realizados por E. Palti, o los estudios sobre historia cultural como el trabajo de V. Goldgel sobre prensa, literatura y moda: PALTI, Elías. El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado.Buenos Aires: Siglo XXI, 2007; GOLDGEL, Victor. Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa, moda y literatura en el siglo XIX. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013. Cabe señalar por último la destacada producción sobre Teoría e Historia de la Historiografía realizada en Brasil, como el trabajo de ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008.
Fabio Wasserman – Instituto Ravignani – Conicet. E-mail: fwasserm@gmail.com
João Paulo Pimenta – Universidade de São Paulo. E-mail: jgarrido@usp.br
PIMENTA, João Paulo; WASSERMAN, Fabio. Apresentação. Almanack, Guarulhos, n.10, maio / agosto, 2015. Acessar publicação original [DR]
Claves | UR | 2015
CLAVES. Revista de Historia (Montevideo, 2015-) es una publicación semestral académica adherida a los principios de acceso abierto y normas de rigor científico de sus contenidos, impulsada desde el Grupo de Investigación “Crisis revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río de la Plata”, radicado institucionalmente en el Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Uruguay.
Su propósito es la publicación de artículos académicos de Historia y disciplinas afines buscando ofrecer un espacio de encuentro entre investigadores que abordan temáticas, períodos y espacios geográficos diversos y que contribuyan desde su trabajo al desarrollo científico de la disciplina, tanto en sus aspectos teóricos y metodológicos como en los abordajes empíricos.
Entre las temáticas prioritarias que trata la revista podemos destacar la constitución de identidades colectivas, los conflictos sociales, las formas y los espacios de la política, los procesos de construcción estatal, las definiciones de fronteras y territorios, y la revisión de los relatos historiográficos tradicionales.
La revista contendrá artículos, notas y comentarios, reseñas bibliográficas, noticias de eventos y entrevistas. Una parte de los artículos de cada número corresponderá a un tema central, para el cual se hará una convocatoria específica. El idioma de la revista es el español, aunque se recibirán trabajos en portugués.
Periodicidade semestral.
Acesso livre
ISSN 2393-6584
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
O movimento queremista e a democratização de 1945: Trabalhadores na luta por direitos – MACEDO (AN)
MACEDO, Michelle Reis de. O movimento queremista e a democratização de 1945: Trabalhadores na luta por direitos. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. Resenha de: COUTINHO, Renato Soares. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 553-558, dez. 2014.
Boas perguntas, por vezes, costumam gerar boas respostas.
É muito raro uma pesquisa consistente, com hipóteses originais e abordagem coerente partir de uma questão de menor relevância. Nas últimas décadas, as pesquisas na área de história e o pensamento social brasileiro vêm se debruçando sobre um debate gerado por uma indagação inquietante. Como Getúlio Vargas, presidente que governou durante período ditatorial, especialmente entre 1937 e 1945, conseguiu estabelecer suas bases de apoio eleitoral entre os trabalhadores brasileiros, com o Partido Trabalhista Brasileiro, no período democrático, entre 1946 e 1964? Indo direto ao problema, podemos sintetizar a pergunta da seguinte maneira: como explicar a popularidade de Vargas e de seu projeto político, o trabalhismo, entre os trabalhadores? Em linhas gerais, podemos identificar a existência de duas vertentes analíticas que percorrem caminhos bastante distintos para explicar o mesmo fenômeno. A mais antiga delas destaca as ações dos agentes estatais. Censura, repressão policial e propaganda política são os objetos mais investigados da perspectiva que busca, em última análise, entender a popularidade de Getúlio Vargas como resultado das bem-sucedidas estratégias de dominação social. Interpretações mais recentes preocupam-se com as relações mantidas entre o Estado e os setores populares, elevando os trabalhadores à condição de ator político. Projetos e crenças políticas, demandas sociais e organizações sindicais, ideias e valores culturais dos trabalhadores tornam-se objeto de estudo dos historiadores. Ou seja, temos duas correntes interpretativas que formularam variáveis independentes que se situam em polos distintos: para uma delas, as ações do Estado explicam o comportamento dos trabalhadores; para outra, as interações entre eles e o Estado se tornam a chave explicativa.
Para os leitores que estão familiarizados com o tema, não é difícil decifrar quais são as perspectivas apontadas acima. A primeira delas, a mais antiga, acabou por produzir e consolidar o conceito de populismo como ferramenta conceitual capaz de explicar a popularidade de líderes como Vargas – valorizado pelo seu carisma.
Segundo essa perspectiva, a estrutura social construída pelo processo de modernização capitalista tardia acabou conferindo ao Estado-Nacional uma condição privilegiada de dominação sobre os trabalhadores, por conta da ausência de um histórico de lutas capaz de gerar, entre essa camada da população, uma consciência de classe autônoma.
A segunda perspectiva delineada anteriormente vem cumprindo a tarefa de dialogar e enfrentar proposições que há décadas estão enraizadas não só no campo acadêmico, mas também no senso comum. Tendo como base trabalhos inovadores, como a A invenção do trabalhismo (GOMES, 2005), o suposto problema da falta de organização e consciência de classe dos trabalhadores brasileiros foi substituído por vasta pesquisa documental que visava a dar conta da construção da cultura política do operariado brasileiro a partir das suas próprias experiências de luta. A premissa de que a repressão e a propaganda foram capazes de gerar satisfação ou persuadir os trabalhadores foi abandonada. Pesquisas recentes, baseadas em fontes documentais, comprovam que o operário brasileiro interagiu com o Estado, resultando em trocas materiais e simbólicas que, em muitos aspectos, respondiam aos anseios e às reivindicações dos próprios trabalhadores. Vale destacar que não se trata de mudar os nomes, simplesmente trocando o termo populismo por trabalhismo. Não se trata da substituição de conceitos.
Trabalhismo é compreendido como um projeto político resultante das relações entre Estado e classe trabalhadora, em que ambos foram protagonistas na construção do projeto político.
O livro O movimento queremista e a democratização de 1945, da historiadora Michelle Reis de Macedo (Rio de Janeiro, 7 Letras, 2013), oferece sólida resposta para a pergunta que mobiliza diversos historiadores brasileiros. Nas palavras da autora: “[…] por que vários setores sociais, especialmente a maioria dos trabalhadores e setores populares, apoiavam o ditador?” (p. 17). Sem se perder nos intermináveis debates conceituais que envolvem a temática escolhida, a autora não se furta de destacar com clareza a sua filiação teórica e metodológica. Porém, o faz sem os andaimes das citações bibliográficas que, quando exageradas, tornam o texto enfadonho até mesmo para o especialista. O livro de Michelle de Macedo é uma obra sustentada por uma edificação conceitual rica e clara, mas com as estruturas teóricas cobertas pelo refinado acabamento documental. A utilização de uma vasta documentação e a análise das fontes são os maiores méritos do trabalho da historiadora, e, para a satisfação do leitor, as polêmicas conceituais são discorridas em meio aos problemas postos pela pesquisa.
O livro é o primeiro publicado sobre o movimento queremista no Brasil. Inspirados pela frase “Queremos Getúlio”, os queremistas organizaram comícios, produziram panfletos e pressionaram diretamente o presidente Getúlio Vargas a lançar sua própria candidatura para as eleições que colocaram fim ao regime ditatorial do Estado Novo, em dezembro de 1945. O movimento acabou não conseguindo sucesso na sua principal empreitada – a candidatura de Vargas –, mas teve influência determinante no resultado eleitoral das eleições presidenciais de 1946, além de ter contribuído decisivamente para a organização das bases programáticas e para a composição social do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Dividido em quatro capítulos, a obra destaca inicialmente a conjuntura internacional gerada pela vitória dos países aliados sobre os regimes fascistas ditatoriais na Segunda Guerra Mundial.
A autora mostra como o discurso de oposição ao Estado Novo buscou associar a imagem de Vargas aos líderes fascistas europeus.
A União Democrática Nacional (UDN), partido que inicialmente arregimentou um leque de oposicionistas a Vargas, iniciou a campanha eleitoral motivada pela certeza de que a imagem do ditador não poderia resistir ao contexto de ampla mobilização e exaltação dos valores liberais democráticos que ressurgiam prestigiados ao final da guerra. A campanha para a presidência, articulada em torno do brigadeiro Eduardo Gomes, começou contagiada pelo otimismo da certeza da vitória.
Nem mesmo o avanço das organizações queremistas a partir do segundo semestre de 1945 foi capaz de conter o ânimo da campanha udenista. Mesmo nos casos em que a mobilização queremista se mostravam coordenada e em crescimento, a resposta dos líderes udenistas era marcada pelo descrédito daqueles que julgavam os atos dos trabalhadores como “desvios” gerados pela propaganda estadonovista.
No segundo capítulo, Michelle de Macedo vai ao encontro do seu objeto de estudo. Ao analisar as ações coletivas dos queremistas, a autora mostra para o leitor os significados que norteavam as escolhas políticas dos trabalhadores que apoiavam Getúlio Vargas. Através de matérias veiculadas em jornais e de cartas enviadas para o presidente, a autora desvenda valores e anseios que orientavam os trabalhadores que defendiam a candidatura de Vargas. As divergências entre o pensamento liberal udenista e a cultura política dos trabalhadores entravam em conflito especialmente em torno da compreensão de “qual” democracia estava em jogo. Para os queremistas os avanços materiais promovidos pela legislação trabalhista conquistada nos anos anteriores eram mais importantes do que um sistema político baseado em regras formais de competição partidária. A cultura política popular mostrava-se alheia ao discurso liberal da campanha udenista, que tinha como princípio o fortalecimento das instituições da democracia representativa. Investigando quais eram as demandas populares em 1945, a autora mostrou como a questão da representatividade nos parâmetros da democracia liberal estava em segundo plano para o trabalhador brasileiro. Naquela ocasião, mesmo com a vitória das democracias liberais no conflito mundial, o interesse do trabalhador brasileiro era assegurar os benefícios trabalhistas que foram distribuídos durante o governo do presidente Vargas. Nesse contexto, a saída de Vargas representava uma ameaça aos ganhos materiais conquistados no regime que encerrava. E a ameaça era real. Afinal, a campanha udenista desqualificava a legislação social, acusando-a de “fascista”. Aliás, foi nessa época que surgiu a famosa expressão de que “a CLT era cópia da Carta del Lavoro”. Arroubos eleitorais udenistas, certamente, mas que assustaram os trabalhadores.
No capítulo seguinte, a análise do apoio dos comunistas ao queremismo é um dos pontos mais interessantes e elucidativos na disputa entre udenistas e queremistas. Os udenistas tinham como certo a oposição do líder comunista Luiz Carlos Prestes a Getúlio Vargas. Não foi o que ocorreu. Ao contrário, Prestes apoiou Vargas.
A partir daí, os liberais udenistas reforçaram a crítica aos partidários de Vargas e Prestes associando suas crenças aos regimes totalitários europeus. No discurso da UDN, o fascismo de Vargas e o comunismo de Prestes representavam a mais terrível ameaça aos valores democráticos. A participação do Partido Comunista do Brasil (PCB) foi um complicador a mais na campanha eleitoral udenista. Como também da imprensa, toda ela alinhada com a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes e com a UDN. Ainda no terceiro capítulo, a autora apresenta uma série de matérias publicadas nos jornais que visavam a ensinar a história do Brasil para o trabalhador brasileiro.
Nesses textos, o povo brasileiro sempre aparecia atuando em busca dos seus direitos sociais.
Por fim, Michelle de Macedo analisa o processo de institucionalização do movimento após a desistência de Getúlio Vargas de participar das eleições presidenciais. O queremismo é entendido nesse momento como um primeiro esboço das principais demandas dos trabalhadores que apoiariam, nos anos seguintes, o PTB.
Outro ponto de grande relevância do capítulo que conclui o livro é a pressão feita por facções do queremismo para que Getúlio Vargas declarasse seu apoio à candidatura de Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD. Isso realça o grau de autonomia que os defensores da candidatura de Vargas tinham em relação ao líder político. Durante toda a campanha eleitoral de Dutra, Vargas não pronunciou uma única palavra de apoio ao candidato do PSD. Apenas às vésperas da votação é que Vargas decidiu pedir o voto a Dutra, fato que, muito certamente, contribuiu para a derrota da UDN nas eleições de 1946.
A autora mostra como a pressão dos queremistas contribuiu para a decisão de Vargas, e esse evento comprova como as interações entre a liderança política e os agentes sociais são marcadas por pressões – mesmo que desiguais – vindas de ambos os lados.
Como já escrevi anteriormente, o livro de Michelle de Macedo é mais uma valiosa resposta a um problema que intriga muitos historiadores: a popularidade de Getúlio Vargas entre os trabalhadores.
Resposta que agrega mais substância ainda aos pesquisadores que se dedicam a compreender o fenômeno Vargas não apenas como o resultado de ações manipuladoras por parte do Estado, mas como o resultado da materialização de demandas sociais produzidas por agentes conscientes e organizados.
Referências
FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
MACEDO, Michelle Reis de. O movimento queremista e a democratização de 1945: Trabalhadores na luta por direitos. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013.
Renato Soares Coutinho – Doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense e Professor de História do Brasil da Universidade Castelo Branco. Contato: rscoutinho@hotmail.com.
História das Sociedades africanas: temas, questões e perspectivas de estudo / Anos 90 / 2014
Desde pelo menos meados do século XX, pode-se falar da existência de uma área acadêmica denominada estudos africanos ou africanologia, integrada por profissionais de diferentes disciplinas (antropologia, arqueologia, arte, direito, filosofia, história, literatura, música, sociologia, entre outras), que têm em comum o interesse pela análise de aspectos relativos aos povos, às sociedades, instituições, atividades econômicas, aos sistemas simbólicos, discursos e às interpretações sobre a África e os africanos.
Esta área tem sido desenvolvida a partir de pelo menos três diferentes tendências gerais de abordagem. A primeira ganhou forma na Europa ocidental, desde o período da colonização na África, e evoluiu de uma perspectiva racializada e eurocêntrica para outra mais diversificada, em que as particularidades africanas passaram gradualmente a ser consideradas (DIALLO, 2001; GOERG, 1991; VYDRINE, 1995; MAINO, 2005). A segunda emergiu nos Estados Unidos nos anos 1950-1960 e teve a origem ligada em parte às demandas de conhecimento das universidades estadunidenses sobre as jovens nações africanas no momento em que elas eram inseridas no complexo jogo das relações internacionais do período da Guerra Fria; vincula-se também à emergência dos movimentos de reivindicação de direitos civis protagonizados por afro- estadunidenses, desejosos de ver seus laços históricos fortalecidos com o seu continente de origem (FERREIRA, 2010). A terceira é constituída por intelectuais nativos da África, de variada formação, e suas interpretações valorizam as referências locais, bem como a experiência dos próprios africanos, fundando-se em conhecimento erudito articulado a saberes tradicionais, endógenos (NZIEM, 1986; LOPES, 1995; KAKOMBO, 2005; BARBOSA, 2012).
No Brasil, a área ganhou força na última década, embora exista há mais de meio século em núcleos de pesquisa pioneiros, como o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), na Universidade Federal da Bahia, fundado em 1959; o Centro de Estudos Africanos (CEA), da Universidade de São Paulo, criado em 1965, e o Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA), da Universidade Cândido Mendes, em 1973. Fora desses, não obstante iniciativas isoladas, somente no início do século XXI assiste-se a um movimento no sentido da institucionalização dos estudos africanos, através de atividades em diversas disciplinas – sobretudo história e literatura, e em menor proporção antropologia e sociologia (MARQUES; JARDIM, 2012).
Esta alteração corresponde a uma resposta da comunidade acadêmica diante das exigências colocadas pela obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio após a promulgação da lei federal nº 10.639 / 2003, ampliada pela lei federal nº 11.645 / 2008. É a partir deste momento que ocorre, ao que parece, uma progressiva inserção curricular de temas africanos, com a criação de disciplinas nos cursos de história de 34 universidades públicas. É também desse momento em diante que se pode observar uma tendência à ampliação do interesse pela África, para além da docência, com pesquisa acadêmica formal incipiente (PEREIRA, 2013).
Tal movimento implica, em certa medida, uma tomada de posição em relação aos referenciais de estudo, aos métodos e instrumentos conceituais e analíticos empregados nas análises, bem como uma definição mais clara deles quanto à sua aplicabilidade aos temas e problemas específicos das sociedades africanas em sua experiência social, cultural e histórica. Implica igualmente a definição mais precisa de fronteiras entre os estudos africanos e estudos afro-brasileiros, em especial aqueles vinculados ao tráfico atlântico e à diáspora que, embora próximos em certos pontos, não são necessariamente equivalentes (PIAULT, 1997; SANSONE, 2002; ZOUNGBO, 2012). As condições para que isso venha a ocorrer de modo cada vez mais consistente foram ampliadas com a criação de uma rede nacional de NEABs (Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros) e, em 2011, com a criação do GT Nacional de História da África, vinculada à Associação Nacional de História (ANPUH).
O presente dossiê tem a finalidade de contribuir neste processo de afirmação institucional. Dele participam especialistas em estudos africanos provenientes de diversas regiões brasileiras, da África ocidental, Estados Unidos e Europa, com experiência em distintos temas de investigação, em sua maior parte colaboradores da Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos do Instituto Latino de Estudos Avançados da UFRGS (http: / / grupodeestudosafricanos.blogspot. com.br / 2014 / 06 / tendencias-de-estudo.html), criada em 2014, sob nossa coordenação e do jovem pesquisador guineense Frederico Matos Alves Cabral.
No que diz respeito ao enfoque do dossiê, maior atenção veio a ser dada aos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), devido muito provavelmente às afinidades culturais que nos unem a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, mas também comparecem textos sobre outros espaços africanos, na Costa do Marfim e na Namíbia, com o desenvolvimento de questões políticas e sociais que lhe são próprias. Quanto ao espectro da análise, abrange os modos de organização social, instituições e tipos de exercício do poder, relações de dominação e resistência, processos identitários, elaborações discursivas, formas de representação e preservação da memória coletiva em diferentes áreas geográficas e contextos, no lapso temporal compreendido entre o século XV e o início do século XXI.
Neste amplo quadro geográfico e histórico, cumpre identificar em primeiro lugar o papel diferencial das dinâmicas sociais e a grande capacidade de adaptação e interação das sociedades africanas ou de indivíduos provenientes delas em situações de contato dentro e fora do continente. Do que se pode depreender dos trabalhos iniciais do dossiê, relativos à alta Guiné e ao litoral centro-ocidental durante os séculos XV-XIX, no período de formação do “mundo atlântico”, os africanos não se fecharam em costumes e instituições imutáveis, mas abriram-se a diferentes inovações. Não se trata, muito longe disso, de assimilação, nem mesmo de processos de mestiçagem ou crioulização pura e simples, mas de transformações decorrentes da ampliação de suas possibilidades históricas ou de alterações que afetaram suas estruturas sociais originais.
É o que indica o estudo do africanista português José da Silva Horta, da Universidade de Lisboa, ao examinar a tessitura das primeiras redes de contato intracontinentais de que participaram africanos livres. Delas tomaram parte indivíduos de diferentes grupos de origem, entre a Senegâmbia, o arquipélago de Cabo Verde, os rios da Guiné e Serra Leoa, de onde sua diferencial participação na formação de aristocracias africanas e luso-africanas nas elites locais. Neste trânsito também circularam conceitos, práticas e experiências religiosas de origem africana em paralelo aos elementos do sagrado cristão, produzindo o que o autor designa de imaginários comunicantes – optando desse modo pela ideia da coexistência, ou no máximo de justaposição de elementos das diferentes cosmologias postas em contato, em vez das sínteses ou mesclas sugeridas pela ideia de imaginários mestiços.
Noutra área geográfica, mas com sentido parecido, verifica-se o processo de reconfiguração desencadeado pela cristianização do Congo na primeira metade do século XVI, quando foi decisiva a atuação de sacerdotes e catequistas congueses na estruturação de novas práticas religiosas. Ao aliar elementos cristãos aos elementos tradicionais de sua sociedade, estes serviram de destacados mediadores culturais, algo posto em evidência pela pesquisadora Marina de Mello e Souza, da Universidade de São Paulo.
Por razões diferentes, mas relacionadas com as alterações impostas pela gradual importância do porto de Luanda no tráfico transatlântico, surgiram desde o século XVII comunidades de escravos fugitivos, conhecidas pelos nomes de mutolos ou quilombos, que funcionavam como foco de resistência em áreas sob controle português. Em detalhado estudo, o brasileiro Roquinaldo Ferreira, que atua há anos na Universidade de Brown, examina os fatores associados a esta questão – que ganhou maior projeção no século XIX, no contexto da crise do tráfico internacional de escravos.
Outro aspecto a ser sublinhado tem a ver com a alta capacidade de resiliência daquelas sociedades, que souberam resistir a pressões e determinações exteriores, mantendo vivos seus traços essenciais, sobretudo em face da situação colonial – para usar a conhecida expressão cunhada por Georges Balandier. Nesse sentido, o trabalho de Regiane Augusto de Mattos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, desenvolve uma questão pouquíssimo explorada no estudo da institucionalização da conquista colonial europeia ao fim do século XIX: o protagonismo das mulheres anciãs chefes de linhagens do norte de Moçambique, chamadas pia-mwene – com quem as autoridades portuguesas, para garantir sua influência local, foram forçadas a se relacionar, e inclusive a negociar.
Por sua vez, as contradições inerentes às relações desequilibradas entre a metrópole lusa e as colonias de Angola e Moçambique são evidenciadas na interpretação do significado da proclamação da república portuguesa, em 1910, feita por Valdemir Zamparoni, da Universidade Federal da Bahia. O autor examina o contraste entre o ideal universalista do conceito político de república, sua efetiva manifestação conservadora em Portugal e as espectativas frustradas das camadas dirigentes coloniais em face do pragmatismo administrativo de cariz racista inerente ao projeto imperial transplantado para a África.
A busca da complexidade das estratégias africanas norteia por sua vez o texto de Marçal de Menezes Paredes, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no estudo sobre a formação nacional em Moçambique no período posterior à independência. A atenção recai especificamente no projeto político e ideológico da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), que se baseia na ideia de um homem novo, em consonância com uma noção particular de moçambicanidade.
Saindo da comunidade linguística oficial lusófona, a proposta de análise do brasileiro Acácio de Almeida Santos, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e do marfinês Aghi Bahi, da Universidade Félix Houphouët-Boigny, recoloca em outros termos as categorias e os conceitos retirados da literatura sociólogica e da ciência política para entender as relações entre sociedade civil e participação política na Costa do Marfim. Trata-se de pensar os componentes e as variáveis da ação política de diferentes segmentos sociais, desde o período colonial até o momento presente, o que põe em causa a ideia corriqueira de um suposto apolitismo ou de uma suposta passividade da sociedade civil diante das elites que controlam o Estado.
Os três últimos artigos privilegiam os discursos e as representações nas sociedades africanas do século XX, pondo acento nas dinâmicas culturais que dão sentido à história e à memória e orientam a ação social e política no período contemporâneo.
O circuito em que transitaram teorias e ideias políticas e a maneira criativa como foram lidas, apropriadas e reinterpretadas pelos intelectuais africanos em diferentes locais, condições e contextos é o que confere grande originalidade ao pensamento social africano, tal como demonstra o artigo de Leila Leite Hernandez, da Universidade de São Paulo.
A maneira pela qual a produção didática em livros de história escritos no período posterior à independência de Angola tem retratado os portugueses, examinada por Anderson Ribeiro Oliva, da Universidade de Brasília, permite entrever o quanto a relação especular com o antigo colonizador continua a conferir sentido a uma identidade nacional em construção.
Por fim, a disputa pela preservação da memória de determinados atores envolvidos em acontecimentos traumáticos do período colonial do sudoeste africano, em especial o caso do massacre dos Herero e dos Nama pelos alemães, entre 1904-1908, sugere leituras multifacetadas e divergentes das relações euro-africanas ou afro- europeias na Alemanha e na Namíbia. As diferentes formas de celebração dos acontecimentos na memória coletiva dos grupos envolvidos e as interpretações fornecidas pela história levantam a questão da descolonização do passado, como bem aponta o estudo de Silvio Marcus Correa, da Universidade Federal de Santa Catarina, que encerra o dossiê. Para concluir, resta agradecer aos colaboradores que gentilmente enviaram seus textos, acreditando e confiando no dossiê temático aqui publicado. Os resultados alcançados, vistos em conjunto, provam a qualidade dos estudos africanos produzidos no Brasil, vislumbrando caminhos, perspectivas de análise e grandes possibilidades de um futuro promissor.
Referências
BARBOSA, Muryatan Santana. A África por ela mesma: a perspectiva africana na História Geral da África (UNESCO). Tese (Doutorado). São Paulo: Programa de Pós-Graduação em História – USP, 2012.
DIALLO, Youssouf. L’Africanisme en Allemagne, hier et aujourd’hui. Cahiers des Études Africaines (Paris), n. 161, tome XLI-1, 2001, p. 13-43.
FERREIRA, Roquinaldo. A institucionalização dos estudos africanos nos Estados Unidos: advento, consolidação e transformações. Revista Brasileira de História (ANPUH), v. 30. n. 59, 2010, p. 73-90
GOERG, Odile. L’historiographie de l’Afrique de l’Ouest: tendances actuelles. Gêneses (Paris), n. 6, 1991, p. 68-78.
KAKOMBO, Jean-Marie Mutamba. L’histoire de l’Afrique vue par les africains. In: MANDÉ, Issiaka; STEFANSON, Blandine (Orgs.). Les historiens africains et la mondialisation. Actes du 3º congrès international des historiens africains, Bamako, 2001. Paris: Bamako: Éditions Karthala; AHA / ASHIMA, 2005. p. 237-251.
LOPES, Carlos. A pirâmide invertida: historiografia africana feita por africanos. In: VVAA. A Construção e ensino da História de África. Colóquio de Lisboa, 7-9 de junho de 1994. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. p. 12-32.
MAINO, Elisabetta. Pour une genealogie de l’africanisme portugais. Cahiers des Études Africaines, n. 177, tome XLV-1, 2005, p. 165-215.
MARQUES, Diego Ferreira; JARDIM, Marta da Rosa. O que é isto: a África e sua história? In: TRAJANO FILHO, Wilson (Org.). Travessias antropológicas: estudos em contextos africanos. Brasília: Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 2012. p. 31-61.
NZIEM, Ndaywel. African historians and africanist historians. In: JEWSIEWICKI, Bogumil; NEWBURY, David (Eds). African historiographies. What history for which Africa?. Beverly Hills; London; New Delhi: Sage Publications, 1986. p. 20-27.
PEREIRA, Márcia Guerra. A pesquisa em história da África nas universidades brasileiras: um panorama. In: XXVII Simpósio Nacional de História – Conhecimento histórico e diálogo social. Disponível em: http: / / www.snh2013.anpuh. org / resources / anais / 27 / 1364762337_ARQUIVO_ApesquisaemHistoriadaAfrica. pdf. Acesso em: 12 jul. 2014. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 13-20, dez. 2014
PIAULT, Marc H. Images de l’Afrique, Afrique imaginaire ou question d’identité brésilienne. Journal des Africanistes (Paris), tome 67-1, p. 9-25, 1997.
SANSONE, Lívio. Da África ao afro: uso e abuso da África entre os intelectuais e na cultura popular brasileira durante o século XX. Afro-Ásia (UFBA), v. 27, 2002. p. 249-269.
VYDRINE, Valentin. A propos des études africains en Russie. Journal des Africanistes (Paris), tome 65-2, 1995. p. 235-238.
ZOUNGBO, Victorien Lavou. Idas e vindas: Áfricas, Américas. Trajetórias imaginárias e políticas. Projeto História (PUCSP), n. 44, p. 9-22, 2012. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 13-20, dez. 2014
José Rivair Macedo – Departamento de História e PPG de História – UFRGS; Pesquisador do CNPq; Sócio-correspondente da Academia Portuguesa da História; Coordenador do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, Indígenas e Africanos – UFRGS; Coordenador da Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos – UFRGS.
MACEDO, José Rivair. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, dez., 2014. Acessar publicação original [DR]
A invenção de África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento – MUDIMBE (AN)
MUDIMBE, Valentin Yves. A invenção de África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Mangualde (Portugal), Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2013. Resenha de: WEBER, Priscila Maria. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 563-568, dez. 2014.
“O mito é um texto que se pode dividir em partes e revelar a experiência humana e a ordem social” (MUDIMBE, 2013, p. 180).
A obra A invenção da África: Gnose, Filosofia e a Ordem do conhecimento1, de Valentin Yves Mudimbe2, caracteriza-se por abranger uma perspectiva historicista que problematiza os conceitos e discursos do que conhecemos como uma África mitificada. As verdades veiculadas por filósofos, antropólogos, missionários religiosos e ideólogos, bem como imagens ocidentalizadas e/ou eurocêntricas, inerentes aos processos de transformações dos vários tipos de conhecimentos, são desconstruídas por Mudimbe pari passu aos padrões imperiais ou coloniais. Para tal empreitada, vale ressaltar as inúmeras referências que compõem um sólido corpus documental utilizado pelo autor em sua investigação, ou seja, estas transitam da filosofia romana ao romantismo alemão. Ou ainda, o questionar e investigar através do termo gnose, cunhado com o intuito de erguer uma arqueologia do(s) sentido(s) do Pensamento Africano.
Para o autor, o sentido, assim como os usos de um conhecimento “africanizado” e a forma como foi orquestrado, ou seja, um sistema de pensamento que emergiu estritamente de questões filosóficas, pode ser observado através dos conteúdos veiculados pelos pensadores que o forjam, ou ainda, através dos sistemas de pensamento que são rotulados como tradicionais e as possíveis relações destes com o conhecimento normativo sobre África. Logo, uma sucessão de epistemes, assim como os procedimentos e as disciplinas possibilitados por elas são responsáveis por atividades históricas que legitimam uma “evolução social” no qual o conhecimento funciona como uma forma de poder. As africanidades seriam um fait, um acontecimento e a sua (re)interpretação crítica abrange uma desmistificação que se calca na argumentação de uma história africana inventada a partir de sua exterioridade.
Essa exterioridade que veste a África de roupagens exóticas é problematizada com as inúmeras missões e alianças que arranjavam um forte compromisso com os interesses religiosos e a política imperial. No entanto, o cerne da problematização presente no texto de Mudimbe concentra-se na análise da experiência colonial, um período ainda contestado e controverso, visto que propiciou novas configurações históricas e possibilidades de novos ícones discursivos acerca das tradições e culturas africanas. Sobre a estruturação colonizadora, o autor a coloca como um sistema dicotômico, com um grande número de oposições paradigmáticas significadas. São elas: as políticas para domesticar nativos; os procedimentos de aquisição, distribuição e exploração de terras nas colônias; e a forma como organizações e os modos de produção foram geridos.
Assim, emergem hipóteses e ações complementares, como o domínio do espaço físico, a reforma das mentes nativas e a integração de histórias econômicas locais segundo uma perspectiva ocidental.
Os conceitos de tradicional versus moderno, oral versus escrito e impresso, ou os sistemas de comunidades agrárias e consuetudinárias versus civilização urbana e industrializada, economias de subsistências versus economias altamente produtivas, podem ser citados para que exemplifiquemos o modo como o discurso colonizador pregava um salto de uma extremidade considerada subdesenvolvida para outra, considerada desenvolvida. Queremos com isso dizer que houve um lugar epistemológico de invenção de uma África. O colonialismo torna-se um projeto e pode ser pensado como uma duplicação dos discursos ocidentais sobre verdades humanas.
Para que seja possível obter a história de discursos africanos, é importante observar que alterações no interior dos símbolos dominantes não modificaram substancialmente o sentido de conversão da África, mas apenas as políticas para sua expressão ideológica e etnocêntrica. É como se houvesse uma negritude, uma personalidade negra inerente à “civilização africana” que possui símbolos próprios, como a experiência da escravidão e da colonização como sinais dos sofrimentos dos escolhidos por Deus.3 Contudo, à medida que compreendemos o percurso dos discursos e rompemos epistemologicamente com posições essencializadas, podemos questionar, como sugere Mudimbe, quem fala nestes discursos? A partir de que contexto e em que sentido são questões pertinentes? Talvez consigamos responder essas questões com uma reescrita das relações entre etnografia africana e as políticas de conversão.
Desse modo, o texto de A invenção da África traz com pertinência o refletir sobre alguns autores como E. W. Blyden,4 que rejeitava opiniões racistas ou conclusões “científicas” como os estudos de frenologia populares nos oitocentos. Frequentemente cognominado como fundador do nacionalismo africano e do pan-africanismo, Blyden em alguma medida comporta esse papel, visto que descreveu o peso e os inconvenientes das dependências e explorações, apresentando “teses” para a libertação e ressaltando a importância da indigenização do cristianismo e apoio ao Islã. Para Mudimbe, essas propostas políticas, apesar de algum romantismo e inconsistências, fazem parte dos primeiros movimentos esboçados por um homem negro, que aprofundava vantagens de uma estrutura política independente e moderna para o continente.
A obra segue com reflexões que esboçam embates a respeito da legitimação da filosofia africana enquanto um sistema de conhecimento, visto que algumas críticas expõem esse pensée como incapaz de produzir algo que sensatamente seja considerado como filosofia.
A história do conhecimento na África é por vezes desfigurada e dispersa em virtude da sua composição, ou seja, o acessar de documentações para sua constituição por vezes não apenas oferece as respostas, mas as ditam. Além disso, o próprio conjunto do que se considera por conhecimento advém de modelos gregos e romanos, que mesmo ricos paradoxalmente são como todo e qualquer modelo, incompletos. Muitos dos discursos que testemunham o conhecimento sobre a África ainda são aqueles que colocam estas sociedades enquanto incompetentes e não produtoras de seus próprios textos, pois estes não necessariamente se ocupam de uma lógica do escrito (DIAGNE, 2014).
A gnose africana testemunha o valor de um conhecimento que é africano em virtude dos seus promotores, mas que se estende a um território epistemológico ocidental. O que a gnose confirma é uma questão dramática, mas comum, que reflete a sua própria existência ou, como uma questão pode permanecer pertinente? É interessante lembrar que o conhecimento dito africano, na sua variedade e multiplicidade, comporta modalidades africanas expressas em línguas não africanas, ou ainda categorias filosóficas e antropológicas usadas por especialistas europeus veiculadas em línguas africanas. Isso quer dizer que as formas protagonizadas pela antropologia ou pelo estruturalismo marxista onde havia uma lógica original do pensamento trans-histórico inexistem.
As ciências, ou a filosofia, história e antropologia são discursos de conhecimento, logo, discursos de poder e possuem o “[…] projeto de conduzir a consciência do homem à sua condição real, de restituí-la aos conteúdos e formas que lhe conferiram a existência e que nos iludiram nela” (FOUCAULT, 1973, p. 364). Sucintamente, a obra de Mudimbe comporta a análise de algumas teorias e problematizações, como a escrita africana na literatura e na política, propositora de novos horizontes que salientam a alteridade do sujeito e a importância do lugar arqueológico. Ou ainda podemos salientar a negritude, a personalidade negra, e os movimentos pan-africanistas como conhecidas estratégias que postulam lugares.
Contribuições de escolas antropológicas, o nascimento da etnofilosofia, a preocupação com a hermenêutica, ou o repensar do primitivo e da teologia cristã, dividem as ortodoxias que podem ser visibilizadas, por exemplo, com a discussão sobre a Filosofia Bantu, de Tempels ou ainda com as revelações de Marcel Griaule acerca da cosmologia Dogon. A antropologia que descreve “organizações primitivas”, e também programas de controle advindos das estratégias colonialistas, produziu um conhecimento que demandava aprofundamento nas sincronias dessas dinâmicas. Com isso, é plausível considerarmos que os discursos históricos que interpretam uma África mítica são apenas um momento, porém significativo, de uma fase que se caracteriza por uma reinvenção do passado africano, uma necessidade que advém desde a década de 1920.
Notas
1 Editada recentemente no ano de 2013 pelas edições Pedago em parceria com as Edições Mulemba, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, o volume é uma tradução do original em inglês publicado em 1988 pela Indiana University Press.
2 Nascido em Jadotville no ano de 1941, antigo Congo Belga e atualmente República Democrática do Congo, Valentim Yves Mudimbe posicionou seus interesses de pesquisa no campo da fenomenologia e do estruturalismo, com foco nas práticas de linguagens cotidianas. O autor doutorou-se em filosofia pela Catholic University of Louvain em 1970, tornando-se um notável pensador, seja através de suas obras que problematizam o que se conhece como história e cultura africana, ou ainda pela oportunidade de trabalhar em instituições de Paris-Nanterre, Zaire, Stanford, e ainda no Havard College. Mudimbe ocupou cargos como a coordenação do Board of African Philosophy (EUA) e do International African Institute na University of London (Inglaterra), e atualmente é professor da Duke University (EUA). Disponível em: <https://literature.duke.edu/people?Gurl=& Uil=1464&subpage=profile>. Acesso em: 16 jun. 2014 3 “A negritude é o entusiasmo de ser, viver e participar de uma harmonia natural, social e espiritual. Também implica assumir algumas posições políticas básicas: que o colonialismo desprezou os africanos e que, portanto, o fim do colonialismo devia promover a auto-realização dos africanos. (MUDIMBE, 2013, p. 123). “A negritude destaca-se como resultado de múltiplas influências: a Bíblia, livros de antropólogos e escolas intelectuais francesas (simbolismos, romantismo, surrealismo, etc.) legados literários e modelos literários (Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Claudel, St. John Perse, Apolinaire, etc.). Hauser apresenta várias provas das fontes ocidentais da negritude e duvida seriamente da sua autenticidade africana. HAUSER, M. Essai sur la poétique de la négritude. Lille: Université de Lille III, 1982, p. 533.” (MUDIMBE, 2013, p. 116) 4 Para informações mais precisas sobre Edward Wilmot Blyden, sugere-se A Virtual Museum of the Life and Work of Blyden. Disponível em: <http://www.columbia.edu/~hcb8/EWB_Museum/Dedication.html>. Acesso em: 30 jun. 2014.
Referências
DIAGNE, Mamoussé. Lógica do Escrito, lógica do Oral: conflicto no centro do arquivo. In: HOUNTONDJI, Paulin J. (Org.). O antigo e o moderno: a produção do saber na África contemporânea. Mangualde; Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2014.
FOUCAULT, Michel. Les Mots et les Choses. Paris: Gallimard, 1973.
HAUSER, Michel. Essai sur la poétique de la négritude. Lille: Université de Lille III, 1982.
MUDIMBE, Valentin Yves. A invenção da África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Mangualde, Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2013.
Priscila Maria Weber – Doutoranda em História PUCRS – Bolsista CAPES. E-mail: priscilamariaweber @yahoo.com.br.
Sortir de la grande nuit: essai sur l’Afrique décolonisée – MBEMBE (AN)
MBEMBE, Achille. Sortir de la grande nuit: essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: Éditions La Découvert, 2010, 246p. Resenha de: MIGLIAVACCA, Adriano Moraes. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 559-562, dez. 2014.
Desde as descolonizações e retiradas de seus países dos antigos poderes coloniais europeus, a situação do continente africano vem sendo assunto frequente e polêmico entre intelectuais, políticos e formadores de opinião no próprio continente e fora dele. Os diversos problemas econômicos e sociais, a instabilidade política e os conflitos internos fazem com que a metáfora da “caixa sem chave”, usada como epígrafe de um dos capítulos do livro Sortir de la grande nuit: essai sur l’Afrique décolonisée, do cientista político camaronês Achille Mbembe, pareça se justificar. O hermetismo presente nessa metáfora amplifica-se com a imagem que o leitor encontra logo no título do livro: a da “grande noite”.
A obra de Mbembe apresenta um exame complexo da natureza desse fechamento em que se encontram o continente e os fenômenos que o compõem. Obra de teor político, Sortir de la grande nuit, além de se valer de imagens poéticas, parte de um relato pessoal de memórias do próprio autor, camaronês com formação acadêmica na França e longa passagem pelos Estados Unidos, que vive atualmente na África do Sul, onde leciona na Universidade de Witwatersrand. O percurso intelectual da obra reflete, portanto, a trajetória do próprio autor: tendo importante foco na África francófona e seu relacionamento ambíguo e tenso com os poderes coloniais franceses, não deixa de considerar as possibilidades e visões que advêm desses diversos países que perfaz a experiência do autor.
Em seu ecletismo literário, o ensaio inicia-se com uma narrativa dos anos de infância, no Camarões, estabelecendo a África, incontroversamente, como núcleo de onde o pensamento do autor se organiza e a partir do qual se articulam as influências de fora. De sua infância em Camarões, Mbembe destaca e elabora seu convívio inicial com os dois elementos que, articulados, dão o teor do livro: a noite e a morte. O autor recorda como o impressionaram, quando criança, os cadáveres ao relento, revolvidos por escavadeiras; relembra também os revolucionários tornados terroristas pelo discurso do poder colonial, mortos aos quais foi negado o reconhecimento de uma sepultura. Acima de tudo, o autor lembra como buscava simbolizar e entender essa realidade que o cercava, e é aí que a metáfora central do livro aparece em sentido denotativo e conotativo: era à noite que o jovem Achille Mbembe buscava construir um discurso sobre a morte. Não é negado o papel que teve o encontro com o cristianismo nessa busca por entendimento: a religião que veio de fora aparecia tanto como discurso de insubmissão quanto como possibilidade de haver, após o escuro da morte e da noite, algo de vida.
Mbembe deixa evidente, no decorrer da obra, o ceticismo com que encara a cultura do colonizador em seus anos de estudante na França. Lá, ele se depara com um povo orgulhoso de sua tradição republicana humanista e universalista, de sua língua como uma “língua humana, universal”. Mbembe não deixa de apontar e elaborar uma contradição entre esse humanismo universalista e o racismo que vê no bojo da própria sociedade francesa e na forma como esta se impusera em seu país natal. A obra do autor antilhano Frantz Fanon abre para ele novas perspectivas sobre o tema da raça, o faz ver o confinamento em uma raça como algo que pode ser superado, bem distante da rigidez dos postulados raciais com que as tradições francesas formaram narrativas de cidadania e pertença a uma humanidade; postulados nos quais o estatuto de “cidadão” é barrado àqueles que, embora admitidos na grande esfera da “humanidade”, o são com certas limitações: são seres humanos “primitivos”, limitados em sua humanidade última. O pensamento de Fanon o coloca à frente com o desafio de romper tal clausura identitária e fazer ver que o homem negro, longe de ser um “primitivo”, é um “homem”, ao qual não faltam quaisquer predicados que definem essa categoria.
Para além da França, Mbembe articula as oportunidades de entendimento que se lhe apresentaram suas experiências nos Estados Unidos e na África do Sul. Uma história de luta por direitos civis, a presença de personalidades negras altamente influentes e a capacidade, mais pronunciada que a da França, de captar para suas universidades as elites africanas, fazendo dos Estados Unidos um destino mais atraente do que a França, cuja influência Mbembe vê declinar. A África do Sul não consegue esconder os vestígios de seu passado discriminatório, que faz o autor ver nela “o signo da besta”; no entanto, o trânsito étnico, nacional e cultural do país dá a ele um cosmopolitismo que é incorporado pelo autor em seu pensamento.
Acima de tudo, é enfatizada a necessidade de uma descolonização, mais que política ou econômica, subjetiva, interior; ou, para usar as palavras do autor, é necessária uma “reconstituição do sujeito”, no qual se desmontem as estruturas coloniais e o possível seja reabilitado. Mbembe é inequívoco em afirmar que esta não é uma tarefa meramente prática-política: um trabalho epistemológico e estético deve ser efetuado, por meio do qual um novo conhecer-se a si mesmo pode emergir. Em particular, a importância da literatura e da crítica literária é enfatizada nesse movimento de descolonização.
A exclusão da África enquanto realidade surge no discurso ocidental primeiramente como uma operação da linguagem. A literatura africana surge como uma reação contra a falta de realidade que reveste o signo africano, enquanto a crítica literária busca operar a desconstrução da prosa colonial, sua montagem mental, suas representações e formas simbólicas que serviram de infraestrutura ao projeto imperial.
Em quaisquer áreas disciplinares, Mbembe identifica no discurso africano três paradigmas político intelectuais, não necessariamente autoexcludentes: o nacionalismo anticolonial, o marxismo e o pan- -africanismo. O primeiro teve uma influência importante na esfera da cultura, da política e economia; o segundo foi fundamental na formação do que veio a ser conhecido como “socialismo africano”; e o terceiro enfatizou a solidariedade racial e transnacional. Para Mbembe, parece, tais paradigmas tendem a ser excessivamente fixos, não dando conta da complexidade e do dinamismo que caracterizam o continente africano. O autor lembra como a África não compreende apenas os negros, mas também as diversas etnias que vieram lançar raízes em seu solo; não compreende apenas os que lá ficam, mas os que de lá saíram, mas continuam sendo, não obstante, africanos.
A África de Mbembe constitui-se, então, não como fonte estática, mas como intervalo de modificações e passagens; seu é o discurso, não mais das origens, mas do movimento, de uma “circulação de mundos”, como conceitua o próprio autor. A esse novo paradigma, Mbembe dá o nome de “afropolitanismo” – movimento no qual a África relativiza suas raízes e busca se reconhecer no distante e o distante no próximo, o próprio no outro. Esse novo paradigma, Mbembe enfatiza, torna insustentável mesmo a “solidariedade negra” proposta pelo pan-africanismo; a raça, afinal, resulta do discurso colonial e externo, exatamente aquele que se busca superar.
Talvez não seja coincidência o fato de o livro se iniciar com as palavras “Il y a um demi-siécle” (há meio século) e terminar com “temps nouveaux” (novos tempos). No título mesmo, já se insinua a inclinação do pensamento do autor para o que há de vir, ao qual todo o trabalho histórico, biográfico e crítico, estendendo-se ao longo da obra. A saída da grande noite a que o autor insta seu leitor é uma busca de vida, uma vontade de comunidade; a noite e a morte englobam as heranças do passado colonial – o confinamento racial, a dependência política e econômica, a subordinação psíquica e intelectual. A vida que busca o empreendimento do autor passa pela negação mesma dessas heranças, mas se dirige a uma nova identidade, um novo centro, que não negue, mas celebre sua multiplicidade.
Notas
1 O livro acaba de ser publicado em língua portuguesa, com o título Sair da grande noite: ensaio sobre a África descolonizada. Mangualde; Luanda: Edições Pedagô; Edições Mulemba, 2014. 204p.
Adriano Moraes Migliavacca – Formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; doutorando em Literaturas Estrangeiras Modernas pela mesma universidade. E-mail: adrianomigglia@gmail.com.
Ensino de história e história da educação: caminhos de pesquisa (Parte II) / História e Diversidade / 2014
O dossiê temático “Ensino de história e história da educação: caminhos de pesquisa” (Parte II) apresenta textos que compõem uma diversidade de investigações relativas ao ensino de história e da história da educação. Essas pesquisas são marcadas pela multiplicidade de perspectivas que estruturam a historicidade dos processos educativos no Brasil. Assim como o dossiê “Ensino de história e história da educação: caminhos de pesquisa” (1), o presente é uma continuação organizada por artigos de investigadores de diferentes regiões do país, em momentos distintos da formação acadêmica: são professores doutores, pós-graduandos, professores da educação básica e estudantes de graduação.
Em “Inventariando caminhos de pesquisa: a imprensa periódica como fonte para a escrita da historia da educação de / em Mato Grosso”, Adriana Aparecida Pinto investigou periódicos em circulação em Mato Grosso, (São Luiz de Cáceres, Corumbá e Cuiabá), entre os anos de 1880 a 1910, cujo levantamento, mapeamento, catalogação e análise orientaram-se a partir da abordagem teórico metodológica da História Cultural.
O artigo “A Guerra do Paraguai nas edições do livro didático História do Brasil, de Nelson Piletti”, de autoria de André Mendes Salles, buscou compreender como este autor de manuais didáticos incorporou ou não novas interpretações historiográficas quando abordava as causas desse conflito.
Por seu turno, André Wagner Rodrigues, no ensaio intitulado “O ensino de história em busca de novas referências: considerações sobre o pensamento de Edgar Morin” reflete sobre os resultados de uma pesquisa bibliográfica que objetiva investigar possíveis contribuições do pensamento transdisciplinar de Edgar Morin para as ciências históricas a partir de análises de problemas sociais, políticos, econômicos, culturais, ecológicos, éticos e estéticos que irrompem na vida prática contemporânea.
André Luis Ramos Soares, Andrielli Matos da Rosa, Carolina Bevilacqua Vedoin e Thaise Vanise Corrêa, no artigo “Dinamicidade no ensino formal: resgate histórico através de maquetes”, buscam trabalhar a história através de maquetes como Navio Negreiro, Casa Grande & Senzala e O Cortiço, cada uma representando conceitos referentes ao processo histórico que constituiu a cultura afro-brasileira.
Analisar comparativamente as versões sobre a Guerra do Paraguai presentes nos livros didáticos produzidos durante duas ditaduras é o horizonte do texto “Usos políticos da memória: a história da Guerra do Paraguai nos manuais didáticos durante o regime militar no Brasil e Stroessner no Paraguai”, de Bruna Reis Afonso.
Em “O ensino de história em Mato Grosso: Uma análise das Orientações Curriculares”, Carlos Edinei de Oliveira propõe uma reflexão teórica sobre a interface entre o currículo formal e o currículo real que acontece nas escolas públicas de Mato Grosso.
Já o artigo “Grupos escolares e escolas reunidas: similaridades e diferenças em Mato Grosso (1910-1940)”, de autoria de Elton Castro Rodrigues dos Santos, aborda por meio de fontes documentais como relatórios de presidentes do estado, inspetores de ensino e diretores da instrução pública, disponíveis nos principais acervos de Mato Grosso, expressam as diferenças e semelhanças entre os grupos escolares e escolas reunidas, como modalidades educacionais destinadas na instrução primária neste estado.
“Escola, ensino e historia local: Lei Municipal 283 / 09 na cidade de João Câmara– RN” é o título do ensaio de Iranilson Pereira de Melo, que investiga a perspectiva memorialista presente na disciplina Cultura do Rio Grande do Norte.
Em “Aportes teórico-metodológicos para a seleção de edificações urbanas como fontes históricas primárias: uma proposta pedagógica para a pesquisa em história”, Ivan Ducatti discute como o patrimônio histórico urbano pode ser abordado não apenas pelo seu caráter estético e cultural, mas como resultados de obras humanas, trabalhos concretos, em um conjunto de relações sociais passíveis de serem analisadas pelo historiador.
Por sua vez, José Antonio Gabriel Neto apresenta um balanço da produção acadêmica a partir principais temáticas tratadas sobre o ensino de história nos encontros da Associação Nacional de História (ANPUH) no estado do Ceará, em “Pesquisando sobre ensino de história: a produção historiográfica no Ceará (2006-2012)”.
A autora Josiane Alves da Silveira, em “História da formação de professoras que atuaram no ensino superior da cidade do Rio Grande / RS a partir da década de 1960”, indica importância da História Oral, como apoio teórico-metodológico, e de temas como a memória nas atuais pesquisas em História da Educação.
“Anúncios e educação no jornal A União da Paraíba (1900 – 1930)” é o título do artigo de Kalyne Barbosa Arruda. A autora propõe uma análise investigativa sobre os anúncios que tratam de questões relativas à educação, tendo sido um recurso de divulgação e consolidação das identidades escolares, em que os professores eram apresentados como um elemento de qualidade, constatando, muitas vezes, o sucesso de instituições educacionais e profissionais.
Já Mairon Escorsi Valério, Marciano Bonatti, Vinicius Fruscalso Maciel de Oliveira e Waleska Walesca Beatriz Miola Freitas, no texto intitulado “Projetos Interdisciplinares: espetáculo, resignação e aparência”, questionam o papel dos projetos interdisciplinares nas escolas públicas ao perceberem que necessitam de um repensar dos temas que são repetidamente trabalhados de forma conservadora como uma política de reparo de danos educacionais.
Por sua vez, Marineide de Oliveira da Silva, em “A expansão das escolas isoladas no Estado de Mato Grosso (1910 – 1930)”, analisa a criação e expansão das escolas isoladas mato-grossenses, considerando a legislação educacional oficial da época, as peculiaridades do Estado, bem como a relevância dessa instituição para o cenário educacional mato-grossense.
Em “A disciplina Prática Pedagógica no curso de Pedagogia da UFPR: perspectiva histórica (1980-2010)”, Sandra Guimarães Sagatio, Leilah Santiago Bufrem e Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt propõem, por meio da análise documental das resoluções relativas à estrutura curricular do referido curso, entender como as disciplinas escolares representam determinações históricas e sociais.
Por fim, o artigo “A educação da infância paraense a partir dos discursos de propagandas de colégios do início do século XX”, de Welington da Costa Pinheiro e Laura Maria da Silva Araújo Alves, procura desenvolver algumas reflexões sobre os discursos materializados em propagandas de colégios procurando evidenciar a história da educação da infância no Estado do Pará, deste recorte temporal.
Esse segundo volume do dossiê “Ensino de história e história da educação: caminhos de pesquisa” é resultado da alta quantidade e qualidade de artigos encaminhados pelos colaboradores de diferentes partes do país, respondendo a chama da de artigos iniciada em meados de 2013. Agradecemos a generosidade e o empenho dos autores no envio dos textos para o dossiê. É uma satisfação tê-los conosco nessa empreitada.
Bom proveito!
Alexandra Lima da Silva– Professora doutora (UFMT.)
Marcelo Fronza – Professor doutor (UFMT).
Renilson Rosa Ribeiro – Professor doutor (UFMT).
Os organizadores
SILVA, Alexandra Lima da; FRONZA, Marcelo; RIBEIRO, Renilson Rosa. Apresentação. História e Diversidade. Cáceres, v.5, n.2, 2014. Acessar publicação original [DR]
A historicidade da fronteira nos tempos passados e presentes / Cantareira / 2014
Pensar a constituição dos chamados Estados Nacionais têm sido uma preocupação constante nas análises historiográficas. A nação foi, enquanto produto do século XIX, uma construção orientada por traços comuns que a sustentavam, tais como a constituição de uma memória comum, de uma trajetória comum e de um porvir comum. Nesse sentido, estabelecer fronteiras entre o “nós” e o “eles” permitiu a consolidação de “comunidades imaginadas” – ainda que em graus variados para cada lugar -, seguindo a expressão usada no livro de Benedict Anderson para pensar o Estado Nação [2´]. Em um período onde as nacionalidades vêm sendo cada vez mais reivindicadas e os limites dos países ocidentais reafirmados, é interessante perceber o lugar destinado às fronteiras e sua ligação com a sociedade que as envolve.
A preparação deste número para a Revista Cantareira dedicado a um estudo que vislumbrasse uma história social das fronteiras tinha por objetivos trazer à cena os agentes sociais que viviam nesses espaços fluidos, indeterminados e por vezes confusos para os que nela transitavam. Nosso maior desafio foi pensar a historicidade do tema na medida em que, cada vez mais, a ideia de fronteira entre Estados Nação distintos têm se fortalecido diante de outras demandas sociais e econômicas como as ondas de imigração no continente europeu e as diferentes ações dos Estados para contê-las. As tentativas de impedir a entrada de imigrantes somadas à uma série de ações de proteção ás fronteiras nacionais têm sido noticiadas na imprensa nacional e internacional. Na era da Internet e do imediatismo das informações, os contornos mundiais vêm ganhando outras dimensões que podem atender a perspectivas e interesses variados, os quais muitas vezes estão associados a ideia de soberania – conceito formulado ao longo do século XVIII para abarcar a defesa dos interesses dos Estados Modernos, onde é possível destacar uma polarização entre a moral e a política para a constituição desta ideia [3]. Nesse sentido, é importante sublinhar que a constituição de espaços de soberania podem, ainda hoje, ser referendados como norteador fundamental para os Estados Nação; embora haja certo paradoxo com a integração e a união, destacadamente econômica.
Muitos jornais têm noticiado o impacto da entrada de estrangeiros na Europa. Esta, por sua vez, vem sendo interpretada como a maior crise de imigração ocorrida desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Países como Áustria, Hungria, Grécia, Espanha, Sérvia, Itália, Alemanha, França e Reino Unido se veem recebendo um número elevado de refugiados oriundos da Síria, de países africanos, da Turquia, entre outros lugares. Isso têm fomentado reações as mais diversas das autoridades e também da sociedade, dentre as quais podemos destacar: 1) a intensificação da segurança nas fronteiras, como no Canal da Mancha, e o uso de linhas de arame farpado numa cerca definitiva que separaria países como Sérvia e Hungria; 2) o aumento da força nas ações policiais e, por conseguinte, de ações de xenofobia nos mais variados estratos sociais e; 3) uma série de pedidos da Organização das Nações Unidas (ONU) em prol de uma postura mais branda por parte das autoridades europeias em relação a estes refugiados [4].
A partir destas linhas de raciocínio, como podemos dar conta de uma realidade tão variada e distinta presente nos espaços fronteiriços? É importante frisar que não falamos apenas das fronteiras coloniais, reflexo do processo de colonização; mas também a constituição destes espaços na contemporaneidade e seus reflexos no que tange as políticas públicas e de assistência social. É nítido que os primeiros debates sobre o tema tiveram sua importância ao perceber a singularidade da fronteira, a qual não pode ser vista apenas enquanto uma linha imaginária que dividia o domínio de duas (ou mais) jurisdições distintas; mas também como um espaço de múltiplos significados cuja experiência precisava ser melhor interpretada e construída. O pensar a vida na fronteira recaía em, pelo menos, dois pólos: um sinalizava o papel do Estado diante das interações sociais, pensando o viés das instituições coloniais para melhor compreendê-las. Já o outro polo sinalizava a ação dos indivíduos frente a um mundo que lhes era hostil, onde predominava o desconhecido, o bárbaro – locus ideal aos chamados excluídos da sociedade [5].
Optamos por pensar este espaço de múltiplos significados através de análises interdisciplinares, na busca da apreensão de diversos elementos para a configuração deste espaço, contemplando questões políticas, culturais, econômicas, tanto dos tempos passados quanto dos tempos atuais. O primeiro artigo, intitulado “O nervo mais forte das fronteiras: dinâmicas sociais dos índios no Paraguai [séculos XVI e XVII]”, de Bruno Castelo Branco, busca mostrar a participação ativa dos povos indígenas da América Meridional nos processos de constituição destes territórios; destacando a ação dos mesmos enquanto força de trabalho através da mita e da encomienda, reiterando a importância de se abordar a “agência histórica indígena” numa perspectiva de negociação, e não somente dentro de uma leitura assimétrica da dominação no decorrer do processo de conquista e de colonização da América.
O segundo artigo, “As fronteiras sociais do nacionalismo alemão: Identidade nacional, etnicidade e os paradoxos da democracia alemã nos dias atuais” já nos remete a questões do tempo presente a partir da discussão sobre os paradoxos da identidade nacional alemã; a qual teve, ao longo de sua história, uma construção baseada num passado de glórias e de guerras. Num país atualmente multiétnico, “ser alemão” têm sido cada vez mais questionado por conta de questões econômicas, sociais e culturais que perpassam a realidade de outros países europeus – tais como a França e o Reino Unido – onde a presença de imigrantes, sobretudo muçulmanos, vem sendo polemizada e questionada.
Já no texto de autoria de Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior aparecem as complexidades das relações diplomáticas entre o Brasil e Guiana Francesa dentre fins do século XIX e inícios do século XX, tomando o espaço do Amapá como local de análise. A partir de publicações do jornal norte-americano Times, o então território do Amapá “surgia” num veículo de comunicação que objetivava retratar uma determinada visão dos fatos e que, por outro lado, acabou por contemplar experiências de outros agentes sociais que viviam naquelas regiões; estabelecendo conexões entre o Brasil, a Guiana Francesa e os Estados Unidos. A ideia de consolidar pesquisas que tratem de temáticas transnacionais nos coloca o desafio de se pensar a multiplicidade das ações e das reações na fronteira no gerenciamento de conflitos e no quanto os mesmos podem impactar a política e a diplomacia tanto no passado quanto em tempos recentes.
Por fim, o artigo intitulado “Vivendo na Bolívia, contudo trabalhando do Brasil: uma discussão acerca de convivência(s) e migrações na Zona de Fronteira Brasil / Bolívia”, envereda por uma questão fundamental nos espaços de fronteira: a relação das pessoas com o trabalho. Num espaço onde uma das principais atividades econômicas é o comércio, constituir determinadas interações sociais poderia fomentar conflitos em torno do que os agentes locais interpretam como uma noção de territorialidade. Nesse ínterim, o diálogo entre as pessoas e o espaço é fundamental a apreensão de um significado econômico da fronteira, de modo que os habitantes de cidades do Mato Grosso confluentes com a Bolívia irão se ater a suas lógicas de apropriação e significação do território.
Ainda na busca por problematizar os temas relativos ao universo das fronteiras, temos uma entrevista com a Profª Drª Keila Grinberg (UNIRIO), que tratou de temas mais recentes de sua pesquisa sobre o papel da escravidão nestas regiões e o peso que ela possuía no relacionamento diplomático do Império Brasileiro com as recém formadas repúblicas do Uruguai, da Argentina e do Peru. Além disso, a historiadora ressaltou as possibilidades de pesquisa dentro de uma perspectiva atlântica, a importância da comparação enquanto método de pesquisa para compreender semelhanças a diferenças nos processos históricos e o papel das chamadas histórias regionais à compreensão de realidades locais e, por que não ousar dizer, nacionais?
Por fim, contamos com uma sessão de artigos livres, onde é possível ver contribuições interessantes ao estudo de histórias regionais e a importância de instituições para garantir o atendimento demandas sociais. Além disso, outros artigos destacam o papel que determinadas fontes têm para o trabalho do historiador e a importância das experiências conectadas no mundo colonial em campos como a cultura e a religiosidade.
Agradecemos aos pareceristas e desejamos, desde já, uma boa leitura!
Notas
- ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Também são obras importantes deste debate os livros de Eric Hobsbawm. Nações e nacionalismos desde 1780. Programa, mito e realidade. 5ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. Do mesmo autor, com organização junto com Terence Ranger. A invenção das tradições. 6ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.
- KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Ed. Uerj / Contraponto, 1999. p. 55-56.
- Ver, dentre outras notícias sobre o tema: Jornal O Globo, 25 / 08 / 2015. Europa militariza fronteiras frente à crise migratória. Disponível em: http: / / oglobo.globo.com / mundo / europa-militariza-fronteiras-frente-crisemigratoria-3-17303595. Folha de São Paulo, 26 / 08 / 2015. Polícia húngara usa gás lacrimogêneo em centro para migrantes. Disponível em: http: / / www1.folha.uol.com.br / mundo / 2015 / 08 / 1673716-policia-hungara-usagas-lacrimogeneo-em-centro-para-migrantes.shtml. RFI Brasil, 27 / 08 / 2015. Áustria e Hungria, em dia fúnebre para os migrantes. Disponível em: http: / / www.portugues.rfi.fr / mundo / 20150827-austria-e-hungria-em-diafunebre-para-os-migrantes.
- TURNER, Frederick Jackson. “O significado da fronteira no Oeste Americano”. KNAUSS, Paulo (org). Oeste Americano: 4 ensaios de História dos Estados Unidos da América de Frederick Jackson Turner. Niterói: EDUFF, 2004. BOLTON, Herbert E. “La misión como institución de la frontera en el septentrion de Nueva España”. Francisco de Solano e Salvador Bernabeu (orgs): Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la frontera. Madri: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991. p. 45 – 60. HOLLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 31. RUSSELL-WOOD, John. Histórias do Atlântico português. São Paulo: Editora UNESP, 2014.
Hevelly Ferreira Acruche – Doutoranda pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes).
ACRUCHE, Hevelly Ferreira. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n. 21, jul / dez, 2014. Acessar publicação original [DR]
Os Vândalos do Apocalipse e outras histórias: arte e literatura no Pará dos anos 20 – FIGUEIREDO (AN)
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Os Vândalos do Apocalipse e outras histórias: arte e literatura no Pará dos anos 20. Belém: IAP, 2012. 148p. Resenha de: SILVEIRA, Flávio Leonel A. da. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, p. 401-406, jul. 2014.
Acredito que o ofício da leitura é sempre uma dádiva compartilhada com o autor que torna público o seu trabalho. Ao oferecer aos leitores os seus devaneios acerca de determinado tema (sobre o qual se debruçou ao longo de um período de sua vida), por certo, o artífice desvela parte da aventura intelectual que envolve a imersão meditativa e o investimento em pesquisas, leituras e diálogos com fontes diversas, possibilitando a outrem que mergulhe no universo ético-estético da obra que traz em suas mãos sobre a qual também, seguindo a inspiração bachelardiana, se lança em devaneios fecundos.
Todavia, a leitura é igualmente troca, por tratar-se de um diálogo silencioso, de um cruzamento de horizontes hermenêuticos que tensiona/aproxima os anseios do autor aos do leitor, num processo criativo capaz de instaurar certo jogo interpretativo que impulsiona a construção do saber para além das intenções primeiras de quem escreve, passando a compor um repertório compartilhado pelo qual a leitura do Outro avança em direção às sutilezas do tema abordado. A obra, se pensarmos com Deleuze (1991), desdobra-se em devires possíveis na leitura, porque os devaneios imaginativos do leitor, ao encontrarem os do autor, se não o alcançam totamente, cercam-no, perscrutam-no e abrem-se à reflexão, seguindo caminhos insuspeitados e próprios.
-O autor, portanto, diante de sua “vontade de saber” (FOUCAULT, 1982), complementaria o anseio de conhecer alheio e, assim, supriria temporariamente a falta que, paradoxalmente, nos preenche sobre dado tema e desde aí nos instiga a querer compreender melhor o tema debatido. Ele nos lança às descobertas e às reflexões, mediante a consciência do que seria, de alguma forma, a dimensão saudável de nossa ignorância, a “vontade de saber” sobre as questões que aborda em seu texto. O encontro de ambos, uma espécie de leitmotiv de ideias articuladas e abertas, insiste em nos conduzir ao encontro das tensões e convergências presentes em diversas leituras e temas, quiçá entre regiões que o texto expõe como panorama possível.
É nesse sentido que o livro de Aldrin Moura de Figueiredo intitulado Os Vândalos do Apocalipse e outras histórias: arte e literatura no Pará dos anos 20 – excerto de sua tese de doutorado em História, laureada com o prêmio IAP de Literatura em 2011 –, é o exemplo de uma obra que, ao explorar a diversidade cultural brasileira a partir da experiência intelectual modernista dos anos 20 do século passado no norte do país, força-nos a pensar as possibilidades de expressões regionais acerca de um modo de ser moderno, refletindo o ethos de uma determinada sociedade.
Aldrin Figueiredo oferece ao leitor um livro saboroso, de leitura fluida e interessante. A sua proposta de produzir um texto de caráter acadêmico – mas diria que de maneira ensaística – cuja preocupação é a de contribuir para a “ruptura com a história linear” (p. 16) revela uma obra com 148 páginas de instigante leitura, principalmente para aqueles que desejam conhecer melhor o universo literário e histórico amazônico, com as suas vicissitudes políticas e extensões estéticas, que o historiador aborda com maestria.
Nesse sentido, ao deslocar a perspectiva de pensar o Modernismo através do sudeste do país e, mesmo, colocando-nos na situação de termos que relativizar certas noções de unidade nacional mediante um caminho que nos conduz à “polissemia dos regionalismos” (p. 12), Aldrin Figueiredo permite que pensemos a pluralidade cultural brasileira de maneira atenta às peculiaridades regionais, sem com isso cair em bairrismos quanto à análise que propõe. Se “o modernismo amazônico” significou mais uma forma de expressão dos modernismos brasileiros que tomaram assento em diferentes porções do país, desde os seus conteúdos estéticos e políticos, é porque as imagens que moveram os intelectuais à época, em sua dialética criativa, ao emergirem de uma espécie de fundo comum de arquétipos e de símbolos nacionais que também fervilhavam noutros cantos do país, assumiram na Amazônia fei‑ções próprias, mestiçando o regional ao nacional, sem com isso perder de vista a amplitude do fenômeno, porque ele estava inserido no que representava a globalização cultural como decorrência do fausto da borracha, com a sua “bela época”, mas, também, com suas mazelas socioeconômicas e políticas.
Ao voltar-se para as idiossincrasias do “movimento” ocorrido no norte do Brasil e, mais especificamente, no Pará, o autor demonstra a existência dos outros modernismos que ocorreram no cenário intelectual brasileiro. Portanto, para além do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, havia cenários de efervescência estética que produziram formas sociais, leituras do contexto nacional e do mundo pela óptica regional. Sendo assim, a importância do livro está em evidenciar a presença de pensamentos inquietos e dissonantes com os paradigmas intelectuais e estéticos da época, que se espraiavam pelas várias porções do território nacional. A Amazônia não foi exceção.
O espaço amazônico enquanto receptáculo de imagens mítico-fantásticas e de encantarias diversas; de saberes, fazeres e dizeres distintos; de mesclas complexas de Belle Époque, com seus teatros suntuosos e óperas europeias, com florestas e rios selváticos e exuberantes – quando figuras caboclas evocariam o imaginário em torno da rede de dormir, de bois-bumbás e de comidas com temperos singulares – carreava uma simbólica de imagens ressignificadas pelo modernismo paulista. Ora, na visão da intelectualidade local, a Amazônia – e, neste caso, o Pará – estava situada para além desse reservatório imagético de “coisas” exóticas, pois ela mesma nutria uma produção que trazia consigo a potência revolucionária desde uma estética que buscava romper com os cânones presentes no seu vasto território, onde Belém e Manaus figuravam como ambiências para as “letras amazônicas”, a partir dos jovens pensadores que deambulavam pelas suas ruas, galerias e cafés atentos às diversas dimensões do que representariam as formas de ser amazônida.
Longe de existir uma unidade de grupo, havia pessoas interessadas em debater acerca do lugar da Amazônia na história brasileira, sem com isso legitimar os símbolos veiculados por uma “comunidade imaginária” (ANDERSON, 1993), que evocavam imagens icônicas da Amazônia, manauara ou belenense, centradas em algumas datas, iconografias e episódios. Não se tratava, dessa forma, de reificar imagens autoritárias de certa história da Amazônia nem de servir de mero manancial de imaginários para modernismos outros. Era preciso desconfiar de tais boas intenções históricas e estéticas, mas, acima de tudo, era preciso rir de si e dos outros desde o seu lugar, que provocativamente denomino de “descentrado”.
A leitura do livro lança boas pistas para pensarmos as tensões entre o que chamarei aqui, por falta de oposição mais caricata, de centro e de periferia, bem como acerca das formas engenhosas que se buscou para revertê-las, quiçá suprimi-las. Talvez a consciência de que a dita periferia é também um centro de evocação das diferenças estimulasse a reação de alguns intelectuais aos manifestos que surgiam à época, longe dos labirintos amazônicos de florestas e de rios com as suas boiunas hediondas. Era preciso produzir os manifestos, sim, mas estando situados na paisagem-matriz (BERQUE, 1998).
O que parece ficar claro é que a Amazônia, na visão dos literatos locais, não poderia ser percebida como simples elaboradora de imagens para outras porções do país e, desta forma, alguns deles se insurgiram contra tal figuração. Ela, pelo contrário, mostrava-se autônoma, no sentido de ser produtora de um pensamento prenhe de riquezas e, por isso, capaz de engendrar transformações sensíveis, considerando-se o seu lugar no cenário nacional. Ao mesmo tempo, mantinha-se integrada ao pensamento nacional desde o seu afã de diferença, pois tinha uma voz, uma agência que os intelectuais tomavam para si como representantes deste devir estético amazônico no contexto nacional.
Portanto, os modernistas do Norte desdenhavam do parnasianismo enfadonho, dos europeísmos miméticos de forma ambígua, e não faziam por menos em relação aos paulistas, pois se por um lado dialogavam com parcela deste pensamento, não deixavam de devorá-lo, exatamente pela insurgência em relação ao centro e pela consciência de não serem apenas fornecedores de imagens, buscando subvertê-las desde o seu lugar. É possível que naquele momento os intelectuais amazônidas, à sua maneira, descentrassem o centro, a fim de reverterem à periferia, revelando os “aspectos diversos do modernismo literário” (p. 11).
Os ímpetos revolucionários dos Novos Paraenses diante de seu projeto de nação, em que a Amazônia teria um lugar central, indicavam a força e a dinâmica tensional que o regionalismo assumia naquela década, especialmente em torno das revistas A Semana (1918) e Belém Nova (1923), loci de emanação da rebeldia dos jovens literatos nortistas. Se Bruno de Menezes era a figura de proa nas plagas paraenses, no contexto amazônico acreano essa figura parece ter sido Abguar Bastos, não menos rebelde e crítico às formas canônicas de pensar e, mesmo, ao modernismo dos paulistas. De qualquer forma, a Amazônia seria, também, lugar de deambulação criativa de duas figuras interessantíssimas, que à sua forma dialogaram com o universo sensível e intelectual da região: Raul Bopp e Mário de Andrade. Sua contribuição ao modernismo excedeu os limites da “Pauliceia” e, para o primeiro, dos Pampas, mas esta já é outra história.
Referências
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Econômica, 1993.
BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
BERQUE, Augustin. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (Org.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. p. 84-91.
CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
DAOU, Ana M. A belle époque amazônica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas: Papirus, 1991.
DURAND, Gilbert. Science de l’Homme et Tradition. Paris: Berg International, 1979.
FIGUEIREDO, Aldrin M. de. Eternos modernos: uma história social da arte e da literatura na Amazônia, 1908-1929. 2001. 316 p. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: I. A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
GALVÃO, Eduardo. Santos e visagens: Um estudo da vida religiosa de Ita, Baixo Amazonas. São Paulo: Ed. Nacional; Brasília: INL, 1976.
MAFFESOLI, Michel. O poder dos espaços de celebração. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 116, p. 59-70, jan./mar. 1994.
SARGES, Maria de N. Belém: Riquezas produzindo a Belle-Époque (1870-1912). Belém: Paka-Tatu, 2002.
Flávio Leonel A. da Silveira – Professor Adjunto do Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo – Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutor em Antropologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFPA. E-mail: flabreu@ufpa.br.
Historicités | Christian Delacroix, François Dosse e Patrick Garcia
“Il faut attendre que le sucre fonde” H. Bergson
Na década de 1980, as ciências humanas na França passaram por movimento de renovações epistemológicas e metodológicas. A substituição do paradigma estruturalista, dominante nos anos 1960 e 1970, cedeu lugar a novas abordagens. O “giro reflexivo” da disciplina histórica, em especial, tendo em vista recuperar sua identidade específica, reabilitou noções fundamentais antes obliteradas, como o “acontecimento” e a “temporalidade”. Tal redimensionamento funcionaria como alternativa diante do enfraquecimento da corrente dos Annales. Desde então, a preocupação com a epistemologia faz a história atualmente se reaproximar da filosofia e de autores como Paul Ricoeur (1913-2005), responsável por uma reflexão filosófica sobre a história – seu estatuto de verdade, caráter narrativo e dimensões temporais, entre outros (SILVA, 2002: 39-45).
Essa virada é análoga a uma tentativa de compreensão da temporalidade em sua diversidade nesses tempos de história global. Notável exemplo disso – e da atualidade da categoria da historicidade em diversas áreas do conhecimento – pode ser encontrado em Historicités, obra coletiva publicada na França em 2009, organizada por Christian Delacroix, François Dosse e Patrick Garcia. O trabalho resulta das discussões que tiveram lugar no seminário “Regimes de historicidade e modelos temporais em história”, organizado entre 2000-2002, sob a égide do Instituto de História do Tempo Presente (IHTP–CNRS) e do Centro de História Cultural das Sociedades Contemporâneas (CHCSC).
O livro trata a noção de historicidade (ou as historicidades, conforme o título) de forma plural e interdisciplinar. Colocando em teste “a hipótese da virada histórica, que está na origem da obra” (DELACROIX; DOSSE; GARCIA, 2009: 7), a perspectiva pluridisciplinar convoca contribuições da filosofia, da antropologia, da psicanálise, da linguística e da geografia, que seriam capazes de mensurar a complexidade da noção de historicidade – “uma maneira, para nós, de não colocar somente a história no centro da circularidade da compreensão entre nossa condição histórica e nossa necessidade de historicizá-la” (DELACROIX; DOSSE; GARCIA, 2009: 9). Na expressão dos organizadores, há uma “revolta das temporalidades”, que consiste, basicamente, em considerar a diversidade temporal de que é feita a espessura da história. Mais precisamente, o objeto de investigação do livro é a historicização dos fenômenos em diversas áreas (filosofia, antropologia, psicanálise, linguística e geografia, além da história), diante da “maré memorial” que se impôs desde os anos 1980, em consequência da crise das expectativas de futuro mais correntes.
A coletânea é dividida em quatro partes, que somam um total de dezessete textos: (1) Genealogias; (2) O momento Koselleck; (3) Um novo regime de historicidade?; (4) Transversalidades disciplinares. As duas primeiras partes trazem textos até então inéditos em língua francesa. De Paul Ricoeur, pode-se ler “A distância temporal e a morte na história”, comunicação apresentada pelo autor em Heidelberg, no evento de comemoração dos cem anos de Hans-Georg Gadamer, no ano 2000. Ricoeur procura expandir a discussão do conceito gadameriano da “distância temporal” interagindo, para isso, com os historiadores, que em seu discurso recobrem os “ausentes da história”, segundo a expressão de Michel de Certeau (RICOEUR, 2009: 14). De Koselleck, encontra-se “A desagregação da “casa” como entidade de dominação: algumas observações sobre a evolução das normas de direito de família, casa e servos na Prússia entre a Revolução Francesa e 1848”. Jochen Hoock escreve pequena “nota preliminar” ao texto de Koselleck, esclarecendo que se trata de um trabalho de história social, que escapa do simples desenvolvimento da história familiar, tão ao gosto do novecentos, tanto quanto representa um trabalho que coloca à prova, de forma bem sucedida, o modelo teórico do autor (HOOCK, 2009: 84). Na terceira parte, encontra-se publicada uma entrevista com François Hartog.
É em torno destes três autores, Ricoeur, Koselleck e Hartog, e de suas contribuições para a compreensão das relações sociais com o tempo, portanto, que giram as reflexões do livro. Principalmente, a aplicabilidade heurística da noção de historicidade é avaliada e defendida a partir de suas respectivas reflexões. Tal aplicabilidade aparece, sobretudo, na quarta parte da obra, que faz uma travessia pelas disciplinas que se utilizam das noções temporais como parte de sua epistemologia. Assim, a leitura parte de um pressuposto claro, o da centralidade para as ciências humanas da “virada histórica”; depois, define um núcleo mais ou menos original em torno dos autores que se concentraram no estudo do “tempo histórico”; recua no tempo, em busca da genealogia da historicidade: da antiguidade, passando pelo novecentos, até percorrer boa parte do pensamento histórico do século XX; por fim, abre o leque para as demais ciências, tornando explícita a consciência da transversalidade do tema, além de preconizar que há muito a ser desenvolvido em torno da “historicidade”, em áreas diversas.
Na primeira parte, além do texto de Ricoeur, destaque-se o trabalho de Christian Delacroix, “Genealogia de uma noção” – um texto crítico sobre as possibilidades e limites dos “regimes de historicidade” de Hartog. A principal objeção parece recair sobre seu uso heurístico: tal noção, dadas as dificuldades no cruzamento entre ontologia e metodologia, poderia ser assimilada a um instrumento universal de conhecimento, o que escaparia às determinações eminentemente históricas (DELACROIX, 2009: 32-3). Cumpre somente lembrar que Hartog prosseguiu em suas reflexões, respondendo a esta e outras dificuldades (HARTOG, 2010: 768-769). Outro trabalho muito significativo é o de Daniel Creutz, sobre o historiador e teórico alemão Johan Gustav Droysen (1808-1884) e a historicidade no século XIX, quando foi concebida. Autor do primeiro tratado de teoria da história, a Historik (1882), Droysen colocava em posição de centralidade a historicidade do historiador, ou seja, a premissa da interpretação do passado a partir das condições do tempo presente. Ele fora buscar na hermenêutica os critérios para a crítica e interpretação das fontes, segundo o lema da “compreensão mediante pesquisa” (CREUTZ, 2009: 56).
O segundo segmento concentra a atenção na obra de Koselleck (falecido em 2006, o livro também cuida de homenageá-lo). Além do texto do próprio Koselleck, há os estudos de Jochen Hook, “A contribuição de Reinhart Koselleck à teoria da história”, e de François Dosse, “Reinhart Koselleck entre semântica histórica e hermenêutica crítica”. Dosse pondera sobre a impossibilidade de se pensar a dinâmica histórica, depois de Koselleck, sem levar em consideração as categorias meta-históricas “experiência” e “expectativa”. Isso conduz, por exemplo, a um “elogio controlado do anacronismo”, na expressão do autor, devido ao cruzamento ou sobreposição de múltiplas temporalidades, que formam camadas, se cruzam, se chocam ou se sobrepõem. (DOSSE, 2009: 121).
O movimento seguinte, a terceira parte, concentra o foco sobre as reflexões de Hartog. Além da entrevista com este autor, há os textos de Yanick Bosc, “Thomas Paine, nosso contemporâneo?”, e de Stéphane Van Dammme, “Uma historicidade tênue à distância”, sobre historicidade da história da filosofia. De Patrick Garcia, “Era uma vez a França: O presidente e a história da França (1958-2007)” trata dos usos políticos da historicidade pelo poder público, notadamente nos discursos presidenciais. Henri Rousso, em “Os dilemas de uma memória europeia”, indaga as dificuldades de equilíbrio, em tempos de “europeização”, entre uma memória artificial, tábula rasa do passado comum europeu, e o ranço de um passado traumático de paixões nacionalistas (ROUSSO, 2009: 220). Por fim, na entrevista com Hartog, os organizadores Delacroix, Dosse e Garcia o instigam com diversos questionamentos. Hartog defende que, hoje, como elaboração de experiências individuais e coletivas do tempo, se historicizaria a historicidade ela mesma. Para ele, “logo haverá uma história possível da historicidade” (HARTOG, 2009: 142).
A seção final abre a discussão para o enfoque da temporalidade em outras áreas de investigação (psicanálise, linguística, antropologia, geografia). Marie-Odile Godard, no texto “Acontecimento e psicanálise”, estuda os impactos do acontecimento sobre a vida psíquica do inconsciente, sobretudo os sintomas de repetição nos casos de traumas de guerra. Ela aponta que historiadores e psicanalistas trabalham com o mesmo pressuposto de reconstrução do passado, individual ou coletivo, embora para o historiador a prova documental seja mais valiosa que o testemunho oral e os lapsos de linguagem (GODARD, 2009: 236). Enquanto isso, Philippe Simay, em “O tempo das tradições: antropologia e historicidade”, reflete sobre as transformações da antropologia social, que nos últimos anos vem questionando internamente a noção corriqueira de tradição e movimentando as suas próprias fronteiras, não só entre sociedades ditas tradicionais ou modernas, mas também entre os saberes etnológico e histórico (SIMAY, 2009: 273).
Sem perder de vista a dimensão memorial, à base mesmo de toda relação social com o (s) tempo(s), o livro conta com contribuição relevante (e polêmica, fora de dúvida) de Enzo Traverso sobre trauma e historicização do nazismo. Ele a analisa a partir da troca epistolar entre Martin Broszat e Saul Friedländer nos anos 1980. Estes dois historiadores, da mesma geração, tinham posições opostas no tocante às discussões da historiografia relativa ao período do nacional-socialismo. Muito simplificadamente, os contornos gerais do debate são: Broszat, em 1985, publicou artigo sobre a historicização do nazismo, em favor de uma normalização da consciência histórica alemã (TRAVERSO, 2009: 261). Friedländer, em resposta, adverte que suas consequências, ao contrário das intenções do autor, se traduziam em “procedimento empático de identificação com os atores do passado” (TRAVERSO, 2009: 266), podendo beneficiar os algozes, ao humanizá-los. Ao mesmo tempo, implodia – só então – na sociedade alemã a controvérsia em torno do holocausto. Para E. Traverso, mesmo hoje, como diria Friedländer a Broszat em 1987, “uma fusão de horizontes [integradora dos pontos de vista opostos] ainda não está em vista” (TRAVERSO, 2009: 270).
“Comentários sobre a geograficidade”, por Jean-Marc Besse, é um texto que desperta muito interesse, em função das transferências explícitas de saberes entre disciplinas. Com base em Hartog e os régimes d’historicité, Besse propõe conceito similar para a geografia, de um ponto de vista meta-geográfico. Ele procura “universais” equivalentes, no caso dos regimes de historicidade, à tríade passado-presente-futuro. Sugere, como tais, para a consciência geográfica, a “separação” (a experiência da diferença dos lugares), a “orientação” (espacial), a “inclusão” (ser ou estar em) e a “dimensão” (do espaço). Estes seriam dados meta-geográficos a serem verificados nos diferentes regimes histórico-culturais de “geograficidade” (BESSE, 2009: 296). Este conceito não estaria confinado somente às especialidades dos geógrafos, senão implicado – sobretudo hoje na unidade global – em um certo “sentido do mundo e de sua dimensão”. Pressuposto vizinho à historicidade, o regime de geograficidade encontra na dimensão do mundo terrestre análogo à finitude da existência humana (BESSE, 2009: 299).
O grande mérito da obra coletiva é a multiplicidade de abordagens e busca por aplicação da noção de historicidade a pesquisas empíricas de áreas diversas, como a geografia e a psicanálise. O livro conduz – porque propositivo, e não sintético – um estimulante balanço da atualidade da temporalidade nas ciências humanas e sociais. Dado seu caráter compreensivo, a obra suscita inúmeras reflexões. É chegada então a hora, como sugere Hartog, de uma história da historicidade? Ou ela representa, ao final, um indício de nossa atual incapacidade de romper com o eterno retorno do mesmo e projetar novamente um futuro razoável? É este o momento de fremir o domínio obsedante do presente e investir em cenários menos pessimistas? Certamente, não há resposta em via exclusiva. Segue que se deva acompanhar os debates e torcer pelo aparecimento de novas propostas que avancem sobre ulteriores questões.
Daniel Creutz, em insight brilhante, chama a atenção para a importância de uma “categoria de humanidade” presente em Droysen, que pode ainda servir de referência ao pensamento histórico contemporâneo e à história global (CREUTZ, 2009: 59). A noção de historicidade, depreende-se, poderia ser mobilizada a fundamentar um futuro mais aberto e plural, de defesa incondicionada dos direitos humanos e do meio ambiente. Nos dizeres da filósofa da ciência Isabelle Stengers e do físico-químico Ilya Prigogine, afinal, é tempo de “pensar a solidariedade entre os tempos múltiplos que compõem o nosso universo, entre os processos que partilham o mesmo futuro, e talvez mesmo entre esses próprios universos […]” (PRIGOGINE; STENGERS, 1990: 228).
Referências
HARTOG, François. Historicité/Régimes d’historicité. In: DELACROIX, C.: GARCIA, P.; OFFENSTADT, N. (Dir.) Historiographies, II: concepts et débats. Paris: Éditions Gallimard, 2010, pp. 776-771.
SILVA, Helenice Rodrigues da. Fragmentos da história intelectual: entre questionamentos e perspectivas. Campinas: Papirus, 2002.
PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle. Entre o tempo e a eternidade. Lisboa: Gradiva, 1990.
Raphael Guilherme de Carvalho – Mestre em História (UFPR). Doutorando em História (UFPR).
DELACROIX, Christian; DOSSE, François; GARCIA, Patrick (Orgs.) Historicités. Paris: La Découverte, 2009. Resenha de: CARVALHO, Raphael Guilherme de. Aedos. Porto Alegre, v.6, n.15, p.181-186, jul./dez., 2014. Acessar publicação original [DR]
O desafio historiográfico – REIS (AN)
REIS, José C. O desafio historiográfico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 160p. (Coleção FGV de bolso. Série História). Resenha de: SALGUEIRO, Eduardo de Melo. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, p. 407-415, jul. 2014.
José Carlos Reis, autor de diversas obras sobre teoria e filosofia da história, apresenta, em O desafio historiográfico, uma porção de temas que vem inquietando os historiadores, sobretudo em relação às crises que a ciência da história tem enfrentado desde os meados do século XX. Neste sentido, logo na introdução, o autor lança diversas questões sobre o “fazer” a história e o “ser” historiador. Conforme ressalta, seu livro “[…] tem a pretensão de propor uma reflexão ao mesmo tempo fácil e densa, rápida e profunda […] sobre o ‘desafio historiográfico’” (p. 7).
Qual seria esse desafio? Ou seriam desafios? No decorrer dos seis capítulos do livro (alguns inéditos, outros reorganizados a partir da sua vasta publicação), Reis intentará mostrá-lo[s]. No primeiro deles – homônimo ao título do livro –, o autor inicia a discussão evidenciando algumas das questões que mais têm importunado os historiadores ao longo das últimas décadas. Com “irônico sadismo”, Reis pretende com isso provocar, ou melhor, “irritar” os profissionais da história, expondo uma porção de críticas que a área tem sofrido, pois, na sua visão, “[…] o ganho com isso é enorme! É o fim do dogmatismo, da solene e hipócrita confiança no ‘ofício’”, uma vez que promove “o enfraquecimento dos sérios e pedantes tência de fontes; o esquecimento de reserva, isto é, aquele que é reversível, um tesouro profundo que pode ser recuperado; e o esquecimento manifesto, aquele que é conscientemente manipulado, apagando-se situações “constrangedoras” da história de um país, por exemplo.3 Como controlar tais abusos e vencer os esquecimentos? Seria a historiografia capaz de proteger a memória? Na leitura de Reis, Ricoeur acredita que sim, pois uma memória […] instruída, esclarecida pela historiografia, e uma historiografia capaz de reanimar a memória declinante, que a reatualiza, que reefetua o passado, podem ser uteis à vida […] na busca do reconhecimento de si dos indivíduos em seus grupos, dos grupos em relação aos outros e da humanidade como união universal dos grupos e indivíduos (p. 45).
Ainda no segundo capítulo, o autor apresenta-nos as três fases da operação historiográfica elaboradas por Ricoeur. A fase documentária, momento em que o historiador procura coletar dados exteriores, a partir dos problemas e das hipóteses por ele lançados; a fase da explicação/compreensão, momento em que o pesquisador organiza a massa documental na tentativa de compreendê-la e interpretá-la; e a terceira fase, que é a da representação narrativa, isto é, o fechamento da operação historiográfica – sem nos esquecermos, claro, da recepção e apropriação dos leitores.
No fechamento do capítulo, José C. Reis afirma mais uma vez que Ricoeur procura reunir memória e historiografia, pacificar a sua “relação difícil”, demonstrando que o objetivo de ambas é o mesmo: vencer o esquecimento. O objetivo maior da memória-historiografia é a “reconciliação com a vida”, que se realiza “no perdão”, por meio de um trabalho de luto, de “psicologia coletiva” que a historiografia acaba exercendo (p. 61). Tal concepção, no entanto, pode ser criticada se levarmos em consideração os perigos que existem com a perspectiva apaziguante ricoeuriana, pois é muito mais fácil para o opressor esquecer-se das atrocidades que cometeu do que para o oprimido se esquecer das que sofreu, e temas como o Holocausto e o Golpe Militar estão aí para nos mostrar como não é fácil achar uma justa medida entre o perdão e a justiça.
No terceiro capítulo, o autor retoma algumas das discussões feitas no início do livro e se dedica a nos mostrar o debate em torno da narrativa histórica, evidenciando especialmente as críticas feitas por Hayden White, que provocaram diversas crises na historiografia. O historiador norte-americano é categórico ao sinalizar que o discurso historiográfico não seria realista, pois os historiadores fazem apenas a construção de versões por meio de um “artefato verbal em prosa”, e que a “[…] história é uma representação narrativa das representações-fontes”, não havendo oposição entre história e ficção (p. 64); “o passado como tal” é inacessível e o passado ao qual os historiadores podem ter acesso – seus traços ou restos documentais – é constituído por textos (discursos), e não por uma realidade extradiscursiva – um referente externo ao discurso (FALCON, 2011, p. 170). Em resumo: não há cientificidade na operação historiográfica.
Para fazer tal análise, Reis abordará principalmente a obra Tempo e narrativa4, de Ricoeur, que faz uma profunda discussão acerca dessas indigestas questões apontadas por White. Segundo nosso autor, Ricoeur defende o realismo histórico, pois “[…] o tempo vivido não é inenarrável”, “[…] as narrativas históricas são ‘variações interpretativas’ do passado […] mas [são] realistas”, uma vez que “[…] as intrigas variam, mas as datas, os documentos, os personagens, os eventos, os locais, são os mesmos”. Exemplificando, Reis ressalta que existem várias configurações narrativas sobre a Revolução Francesa ou o Golpe de 64, “[…] mas elas não podem alterar [seus] dados exteriores” (p. 69-76). No decorrer do capítulo, entretanto, ele nos mostrará que, para Ricoeur, apesar de inicialmente heterogêneas e opostas, as narrativas histórica e ficcional também se entrecruzam, porém sem se confundir.
Como exemplo de tal afirmação, no último tópico do capítulo, há uma análise do debate feito por Ricoeur acerca da obra O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico à época de Felipe II, de Braudel, que “[…] seria um exemplo revelador do caráter produtivo do entrecruzamento entre narrativa histórica e ficcional” (p. 83) e que evidencia o fato de que não há um “retorno à narrativa” – na prática, nunca houve “nem partida nem abandono”, pois mesmo as primeiras gerações dos Annales nunca abandonaram a narrativa, uma vez que “sociedades”, “classes”, “mentalidades” e inclusive o “Mediterrâneo” são “quase-personagens” de uma narrativa, já que “mesmo a mais estrutural é construída a partir das fórmulas que governam a produção das narrativas (CHARTIER, 2002, p. 86-87), o que, claro, não invalida o discurso histórico.
No quarto capítulo, o autor faz uma descrição geral das princi‑pais características dos Annales, mostrando aquilo que houve de inovador na sua prática historiográfica, em oposição à historiografia tradicional oitocentista. Segundo Reis, os primeiros Annales são partidários de uma “história-problema”, que se opunha à historiografia tradicional, acusada de ser meramente narrativa, descritiva e desproblematizada, pois pretendia apenas “[…] narrar os eventos políticos, recolhidos nos próprios documentos, em sua ordem cronológica, em sua evolução linear e irreversível, ‘tal como se passaram’”. Na “história-problema”, o historiador escolhe seus objetos no passado a partir de interrogações do presente (p. 93). Para obter tal êxito, os Annales inovaram de várias maneiras: a noção de “fato histórico” como construção, em oposição ao “fato dado” nos documentos (escola metódica); a ampliação e a variedade do uso das fontes históricas; e a ambição de uma história total e global. Unindo-se a tais propostas, os annalistes propuseram o uso da interdisciplinaridade.
Ainda que breve, tal discussão servirá como uma antessala para o debate feito no capítulo seguinte, Annales versus marxismos: os paradigmas históricos do século XX. Nesse capítulo, o autor faz inicialmente uma abordagem acerca das principais diferenças entre a modernidade iluminista e a pós-modernidade para poder, posteriormente, situar os Annales e o marxismo. No primeiro caso, o projeto moderno iluminista é eminentemente racional e constrói um sujeito singular-coletivo absoluto e consciente, e a história é um processo inteligível com um final claro, isto é, “[…] a vitória da razão, que governa o mundo” (p. 105). Para tanto, segundo Reis, a modernidade desprezava o presente e o passado, lançando seu olhar para o futuro e provocando, assim, uma “aceleração da história”. Esse é um dos pontos em que recaem as críticas a tal projeto, pois a “intervenção radical da realidade histórica” acabou por produzir um nível de agressão que não trouxe progresso e felicidade. Daí emerge uma visão anti-iluminista, que pretende pôr fim ao “projeto moderno” em favor de um “pós-moderno”.
O pós-modernismo é dividido em duas fases: a primeira delas é ligada ao estruturalismo, que criticava a noção de “sujeito-universal”, uma vez que, para os estruturalistas, “[…] o homem não é só sujeito, mas também objeto” (p. 108). Entretanto, ali ainda havia uma tentativa de “[…] produzir uma inteligibilidade ampliada da história”, “um discurso da razão” (p. 110) – não mais centrada no sujeito absoluto, pois “sua verdade é oculta” e fica além da ilusória, falsa e aparente razão. Na segunda fase, mais conhecida como pós-estruturalista, radicalizavam-se algumas posições, incluindo-se até mesmo os primeiros estruturalistas nas críticas, por ainda manterem um discurso racionalizante. Nas palavras de Reis, a pós-modernidade desconstrói, deslegitima, deslembra, desmemoriza o discurso da ‘razão que governa o mundo’ […], aborda um mundo humano parcial, limitado, descentrado, em migalhas […], assistemático, antiestrutural, antiglobal” (p. 111), e “o conhecimento histórico é múltiplo e não definitivo: são interpretações de interpretações (p. 112).
“Onde situar os Annales e os marxismos?”, nos pergunta Reis. Em primeiro lugar, é difícil situá-los, pois ambos não são homogêneos e talvez isso seja até um componente positivo, conforme ressalta, talvez “[…] a heterogeneidade interna dos dois grupos permita alguma aproximação e colaboração” (p. 114). Neste sentido, o autor divide sua discussão em três leituras, enfatizando especialmente as diferenças entre o marxismo-soviético e os Annales: uma primeira que valoriza aquilo que é comum; a segunda, que nos mostra sua oposição; e uma terceira que os considera simplesmente diferentes, isto é, nem complementares nem opostos, apenas “[…] vistos como teorias, hipóteses de trabalhos que só têm valor e só podem dialogar porque são ‘diferentes’” (p. 115), e só assim é possível obter elementos para a escrita de uma história plural, e não totalitária. A respeito da sobrevivência ou não de ambas as correntes – Annales e marxismo –, tudo dependerá do resultado do embate entre “o projeto moderno” versus “pós-modernidade”, uma vez que ainda não há total abandono do iluminismo.
O último capítulo da obra pareceu um tipo de apêndice, que teve como intenção inserir a historiografia brasileira em um debate teórico até então eminentemente norte-americano-eurocêntrico. A discussão ali feita é válida e importante, mas seria mais apropriada em outra ocasião, pois é curioso que uma abordagem tão rica tenha sido feita em um capítulo tão curto. Cremos que o ideal seria dedicar uma obra de mesmo perfil (isto é, versão de bolso) somente às contribuições de Freyre, já que tal investida nos pareceu solta e sem conexão direta com os demais capítulos. De qualquer modo, é importante frisar que Reis intentou abrir uma discussão sobre “ser historiador do/no Brasil” no sexto capítulo. No entanto, como tal tarefa seria impossível de ser realizada em tão pouco espaço, o autor apresenta apenas a contribuição de Gilberto Freyre, sobretudo no que tange ao seu talento como narrador e como precursor de uma porção de temas inovadores na historiografia, uma vez que “[…] descobriu, ao mesmo tempo que os franceses dos Annales, a história do cotidiano […] das mentalidades coletivas, a renovação das fontes da pesquisa histórica” (p. 144) etc. Isso significa dizer que, apesar de toda a contradição e a polêmica que cercam a obra e a figura de Gilberto Freyre, ele também foi um inovador, e não somente um reprodutor de tendências europeias, não desconsiderando, é claro, que boa parte de sua formação acadêmica foi feita nos Estados Unidos, sob forte influência alemã. O desafio historiográfico é uma importante contribuição, especialmente para historiadores mais jovens, pois José Carlos Reis consegue fazer um debate extremamente complexo muito didaticamente, e isto é louvável. Não podemos deixar de dizer, entretanto, que algumas questões são tão resumidas que podem dificultar a compreensão de um leitor iniciante, exigindo, de certo modo, uma leitura prévia de alguns temas ou uma busca em outra bibliografia, como o próprio autor avisa na introdução da obra.
Ademais, além de advertir contra um dos maiores males da escrita da história e de seus profissionais, isto é, a tendência “parricida” em relação aos nossos mestres e às correntes historiográficas anteriores a nós, o que ficou subentendido é o fato de que Reis inclina-se a aceitar a proposta ricoeuriana, isto é, a via do diálogo e da “não dogmatização” do saber histórico. O ideal, na visão do autor, é caminharmos sempre pela via da compreensão, ainda que os embates sejam inevitáveis. Neste sentido, faz-se necessário aproveitarmos o que há de importante nas mais diversas vertentes historiográficas, sem incorrermos no erro de ficarmos cegos e per‑didos em uma só visão.
Notas
1 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
2 Ricoeur – diz Reis – pondera, entretanto, que em algumas profissões, como o teatro, por exemplo, a “memória artificial” é uma poderosa arma contra o esquecimento (p. 37).
3 Helenice Rodrigues da Silva dá um exemplo típico em relação ao esquecimento mani‑festo. Diz ela que, nas comemorações dos “500 anos do Brasil”, foram “esque‑cidos” “os massacres indígenas, a escravidão negra, as violências da história”, em prol dos “mitos fundadores e das utopias nacionais (o ‘paraíso tropical’ e o ‘país do futuro’)” (2002, p. 432).
4 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF/Martins Fontes, 2010.
Referências
CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.
FALCON, Francisco J. C. Estudos de teoria e historiografia, volume I: teoria da história. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração”/comemoração: as utilizações sociais da memória. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002.
Cláudia Regina Bovo – Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Mato Grosso, doutoranda em História/Unicamp. Endereço Eletrônico: claubovo@yahoo.com
O parlamento mineiro e a construção do Estado nacional / Revista do Arquivo Público Mineiro / 2014
Ao aproximar-se a data em que se comemoram 180 anos da instalação da primeira Assembleia Provincial de Minas Gerais (1835-1837), a RAPM dedica este Dossiê à análise dos embates que marcaram a atividade parlamentar em torno da construção do Estado nacional brasileiro.
A formação dos Estados nacionais modernos foi um fenômeno que teve na Revolução Francesa um dos seus principais marcos. A luta pela superação do Antigo Regime na Europa foi inseparável da crise dos sistemas imperiais, como o luso-brasileiro, e, com ele, do estatuto colonial, sobretudo nas Américas. Leia Mais
História e cultura histórica no alvorecer da época moderna (séculos XIV-XVII) / Anos 90 / 2014
A história da historiografia já dispõe, no Brasil, de uma considerável e consistente produção bibliográfica, a qual segue concomitante ao desenvolvimento e à consolidação de uma agenda de investigação organizada em linhas e grupos de pesquisa, em periódicos de reconhecimento internacional e em eventos acadêmicos de notável importância entre os historiadores. Como não poderia deixar de ser, preponderam entre os estudos aqui realizados aqueles voltados para a escrita da história produzida sobre temas brasileiros e por pesquisadores nacionais. Do ponto de vista temporal, é considerável a ênfase nos trabalhos sobre o século XIX, compreendendo ainda, e de forma cada vez mais intensa, pesquisas cujo foco são as primeiras décadas do período republicano, já na passagem para o século seguinte. Embora ainda em número bastante reduzido, encontram-se importantes investigações preocupadas em compreender o momento anterior a este recorte, sobretudo aquele do desenvolvimento de uma historiografia luso-brasileira no século XVIII.
Menos evidente, contudo, parece ser a produção ocupada com contextos anteriores a tais recortes, os quais, obviamente, fogem necessariamente da chave explicativa amparada na nação ou na cultura brasileira. A discussão das razões para isso não cabe nesta breve apresentação, sendo importante ressaltar apenas dois pontos. Em primeiro lugar, levando em consideração o atual contexto da pesquisa histórica no Brasil, ainda que compreensível, tal situação, não mais se justifica por questões puramente práticas, dada a relativa facilidade de acesso ao corpus documental e ao material bibliográfico de qualidade, bem como as possibilidades de circulação de pesquisadores brasileiros fora dos trópicos e de investigadores estrangeiros aqui por estas paragens. Em segundo lugar, o diagnóstico mencionado não desconhece um fato marcante: ainda que quantitativamente poucos, uma parte considerável dos estudos produzidos no Brasil voltados para estes outros ambientes historiográficos é de reconhecida qualidade, os quais se ocupam, por exemplo, com as formas de escrita da história na antiguidade, como o jogo sempre proveitoso entre antigos e modernos, com as relações do saber histórico com outros campos de saber, com o papel da história na definição do pensamento político moderno, entre outras distintas abordagens. Não seria o caso aqui de indicá-las nominalmente.
A proposta do dossiê que ora se apresenta tem por intenção portar-se diante desta situação, oferecendo alguns estudos que podem ser situados no que aqui se define como “alvorecer da época moderna”, na falta de uma terminologia mais adequada, considerando o período compreendido, grosso modo, entre os séculos XIV e XVII, ou seja, entre a florescência do chamado humanismo renascentista e os primeiros clarões das Luzes setecentistas. Não se trata de assumir um suposto tom heroico, justificando a empreitada no sentido de se “suprir uma lacuna”. Lacunas há e sempre hão de existir, sobretudo no que diz respeito à tradução para a língua portuguesa de fontes e obras de referência. Trata-se, sim, todavia, de contribuir para o desenvolvimento de um campo de investigação em franco crescimento no contexto historiográfico brasileiro, cujos estudos têm se empenhado em revelar – através do diálogo com a ampla bibliografia estrangeira sobre o tema – a pluralidade de abordagens possíveis.
Partindo da consideração, que pode funcionar como hipótese de trabalho, de que o saber histórico assumia neste momento uma feição bastante singular, a qual, embora marcada pela constante referência à antiguidade, não era mais uma história antiga e que, ainda que tenha definido certas condições para a emergência dos procedimentos modernos de escrita da história, não era ainda uma história propriamente moderna, o objetivo é indagar a respeito da singularidade desta cultura histórica ou, sugerindo uma terminologia que me parece proveitosa, deste regime historiográfico, em suas múltiplas feições, ressaltando, como ver-se-á, os princípios da erudição histórica, a relação com outras práticas de saber, as formas de compreensão dos sentidos variados assumidos pela história e pelo papel do historiador, as modalidades de figuração deste personagem e sua dimensão política, entre outros temas.
O dossiê é aberto com a tradução do texto clássico de Arnaldo Momigliano sobre a prática antiquária na época moderna, ressaltando seus fundamentos antigos e o papel central por ela desempenhada na conformação do método histórico na modernidade. É reconhecida a importância deste estudo, que já tem mais de meio século de idade, na definição de um leque bastante amplo de perspectivas historiográficas, assim como já são conhecidas as perspectivas críticas elaboradas nos últimos anos em relação às inferências ali feitas pelo historiador italiano. Não obstante, dada a relevância desse texto e a carência de traduções para a língua portuguesa deste que, sem dúvida, foi um dos principais estudiosos da história da historiografia no século XX, voltar ainda hoje a este debate me parece bastante salutar.
Em seguida, outra tradução de um texto inédito no Brasil, escrito pela historiadora francesa Chantal Grell, no qual a autora traça um panorama compreensivo sobre a cultura histórica francesa entre os séculos XV e XVII, discutindo as diferentes formas de se escrever história no período, bem como os diferentes papéis assumidos tanto pelo saber histórico quanto por aquele que o praticava. Na sequência, o leitor encontrará o artigo de Francisco Murari Pires, em que são analisadas as “figurações heroicas do historiador” nos princípios da época moderna, as quais se dão, em autores variados como Jean Bodin e Thomas Hobbes, segundo uma matriz antiga notória, a saber, Tucídides, constituindo um precedente importante para os usos do autor antigo no século XIX.
Complementando o dossiê, Cássio da Silva Fernandes oferece um estudo sobre o humanista italiano Enea Silvio Piccolomini, situando-o na fronteira entre os gêneros da cosmografia, da história e do relato de viagem. Por fim, Rubens Leonardo Panegassi discute o tema da expansão marítima lusitana a partir das questões envolvidas no embate entre antigos e modernos na obra de João de Barros, notório expoente do humanismo português.
A expectativa é que esse dossiê possa ser útil para pesquisadores voltados aos temas aqui propostos, aos estudantes interessados por esses temas, bem como aos curiosos em relação às diferentes formas pelas quais o conhecimento histórico foi apreendido e a história escrita ao longo de nossa modernidade. Ao leitor resta desejar, enfim, uma ótima leitura.
Porto Alegre, maio de 2014.
Fernando Nicolazzi – Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS. Bolsista do CNPq. A organização deste dossiê insere-se dentro das atividades do projeto de pesquisa Erudição, ceticismo, historiografia: a cultura histórica francesa no século XVI (Bodin, Montaigne, La Popelinière), que conta com financiamento do CNPq.
NICOLAZZI, Fernando. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
A conquista das almas do oriente: franciscanos, catolicismo e poder colonial português em Goa (1540-1740) – FARIA (A)
FARIA, Patricia Souza de. A conquista das almas do oriente: franciscanos, catolicismo e poder colonial português em Goa (1540-1740). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. Resenha de: PANEGASSIL, Rubens Leonardo. Missionários franciscanos em Goa. Antítese, v. 7, n. 14, p. 521-525, jul. – dez. 2014.
Patricia Souza de Faria é uma jovem historiadora que tem se dedicado ao estudo da presença de missionários católicos nas conquistas portuguesas do Oriente. Patricia é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (2008), tendo realizado estágio de pesquisa no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em Portugal. Com mais de uma dezena de artigos publicados, pode-se dizer que a autora é uma referência importante a todos os investigadores que pretendem se dedicar às questões relativas ao Oriente Português na Época Moderna.
Tradicionalmente, o tema da presença portuguesa no Oriente ao longo da Época Moderna apresenta-se associado a grandes nomes da historiografia, tais como Charles R. Boxer, Luís Filipe F. R. Thomaz e Sanjay Subrahmanyam. Entretanto, vale notar que o vigor e a capacidade de renovação desse campo é notável, sobretudo na produção historiográfica de nomes que tem alcançado visibilidade, tais como Ana Paula M. Avelar e Ines G. Zupanov. Por sua vez, no Brasil, o assunto ganhou aderência como objeto de estudo, evidente nos trabalhos de pesquisadoras como Célia Cristina da Silva Tavares e Andréa Carla Doré. Com efeito, Patricia Souza traz efetiva contribuição à consolidação deste campo entre os investigadores brasileiros, além de sanar uma grande lacuna no âmbito dos estudos sobre o tema das missões na primeira modernidade, tendo em vista que a autora se debruça sobre o papel dos franciscanos neste processo, uma ordem ainda pouco estudada, a despeito dos esforços de Alan Strathern e Ângela B. Xavier.
Apresentado originalmente como tese de doutorado, o livro traz substanciais modificações em relação ao trabalho original, visíveis no acréscimo de todo um capítulo, bem como na relevância dada aos franciscanos em sua relação com o Arcebispado de Goa. Além, evidentemente, da dilação do recorte temporal do estudo, notável nas modificações adicionadas ao segundo capítulo, que enfocam o início do século XVIII, ao passo que a pesquisa documental mais sistemática, objeto da tese, contemplava os séculos XVI e XVII. De todo modo, vale notar que tais modificações se mostram fundamentais para a contextualização da pesquisa nos quadros do Império Português e da História da Igreja.
Parte dos acréscimos feitos pela autora é o resultado natural dos avanços de sua investigação após o término de sua tese, mas também, de seu esforço em proporcionar um texto de leitura mais fluida, cujo intuito é atingir um público leitor mais amplo, para além dos especialistas acadêmicos. Ambição louvável, sobretudo por colocar à disposição dos leitores o resultado de sólida pesquisa documental, visto que Patricia lança mão de amplo material; sejam impressos, pesquisados em bibliotecas do Brasil e de Portugal; sejam manuscritos, pesquisados fundamentalmente em arquivos portugueses. Além, vale observar, da ampla bibliografia arrolada pela autora, que pode servir de guia a novos investigadores, mas também a todos os interessados no assunto.
O intuito do livro de Patricia Souza de Faria é inquirir sobre o papel dos franciscanos na cristianização de Goa e, certamente, é esta sua maior contribuição historiográfica. Com efeito, para alcançar seu intento, a autora parte da premissa de que foram as articulações existentes entre o poder temporal e as instituições religiosas que definiram as circunstâncias mais propícias para a difusão do catolicismo em Goa. De modo que a conversão dos nativos goenses atende ao interesse da Cora portuguesa em garantir a fidelidade política desses novos súditos, compulsoriamente integrados ao reino católico. Sem dúvida, são estas articulações e os procedimentos adotados em face da necessidade da inclusão destes súditos, naturalmente diversos em termos religiosos, que estruturam os cinco capítulos de seu livro.
É possível traçar um percurso geral do livro, tendo em vista que ele nos remete à gênese da presença lusa na Índia, bem como ao papel desempenhado por Goa nesse amplo espaço, marcadamente heterogêneo. A partir disso, podemos acompanhar a estruturação dos poderes na região e a decorrente centralidade de Goa, onde a presença franciscana é mapeada pela autora em sua especificidade, tendo em vista as profundas divergências internas da Ordem. Por fim, o livro encerra-se com uma reflexão muito original e relevante a respeito dos sentidos atribuídos pelos frades franciscanos às suas missões. Proposição inovadora, uma vez que dissona das intepretações mais clássicas a respeito do papel histórico da Ordem na Época Moderna.
Assim, o que Patricia nos apresenta, é um eficiente histórico da consolidação da presença portuguesa em Goa, a primeira conquista lusa no Oriente. Com efeito, atenta para o caráter predominantemente mercantil que caracterizou o império asiático de Portugal, bem como a imprecisão dos limites do Estado da Índia até o momento em que a cidade passou a ser sede do poder civil e eclesiástico. Em suma, a autora evidencia o fato de que foi ali, primeiramente, o lugar onde a soberania lusa se firmou no Oriente. Tendo sido sede do vice-reinado e do arcebispado, Goa foi o centro do poder civil e eclesiástico, lugar onde funcionou o único tribunal inquisitorial em espaço ultramarino.
É nesta perspectiva que ao longo de todo o primeiro capítulo Patricia Faria sustenta ter a conquista espiritual amparado a expansão do Império Português, enquanto o poder secular favorecia a difusão do Evangelho. Daí que a presença de ordens religiosas como a Companhia de Jesus, a Ordem de São Domingos, a Ordem de Santo Agostinho e a Ordem de São Francisco sejam compreendidas como importante complemento da arquitetura dos poderes civil e eclesiástico estabelecidos na região. Enfim, é esse o contexto apresentado pela autora em sua exposição sobre as estratégias dos grupos sociais locais na manutenção de suas identidades de casta entre os convertidos, bem como a continuidade de crenças e relações sociais preexistentes.
Definido o pano de fundo de seu trabalho, o livro se detém nas ações adotadas pelo Arcebispado de Goa em face da necessidade de cristianizar as populações locais. Com efeito, tais procedimentos variam de acordo com o contexto. Ou seja, se num primeiro momento, ainda sob o cetro de D. Manuel, houve maior tolerância religiosa por parte do pequeno número de frades e clérigos que acompanhavam as embarcações que aportavam na cidade, a política religiosa tornou-se mais pragmática ao longo do reinado de D. João III, sobretudo a partir de 1540, quando tem inicio a destruição perpetrada por Miguel Vaz e Diogo da Borba aos pagodes brâmanes. Em suma, na perspectiva de Patricia Faria, paralelamente à tentativa de promoção sistemática do catolicismo em Goa, o que se verificou foi a intolerância e o afastamento progressivo dos nativos das altas esferas de poder no Estado da Índia, bem como dos cargos eclesiásticos de maior dignidade.
Nesse ponto, o livro estende sua análise e atravessa o período da União Ibérica. Com isso Patricia Souza de Faria não perde a oportunidade de nos apresentar o impacto da Monarquia Dual sobre a gestão dos assuntos eclesiásticos nas possessões portuguesas, período que foi marcado pela condução das populações cristianizadas à obediência da Igreja Romana. Todavia, com a União Ibérica, e principalmente após a ascensão de D. João IV, a Coroa portuguesa perderia espaço na região, notavelmente a partir da revisão das tradicionais concessões papais do Padroado levadas a efeito pela Propaganda Fide, o que definiu um novo contexto missionário na região.
Com efeito, estes diferentes contextos ganham contornos bem definidos quando Patricia Souza de Faria se atém especificamente ao papel dos franciscanos na conversão dos indianos ao catolicismo, notavelmente a partir da estabilização de uma rede paroquial nas Velhas Conquistas. Em suma, é rico o trabalho despendido pela autora na recuperação do rigoroso espírito de renuncia que tradicionalmente caracteriza os franciscanos, bem como seu impacto no interior da própria Ordem de São Francisco, com a estruturação de movimentos como o da Observância e seu êmulo da mais Estreita Observância. Por sua vez, tais movimentos, que traduzem divergências internas sobre o que seria o “verdadeiro franciscanismo”, encontraram reverberação na Índia, onde se associam a outras controvérsias, como a luta pela condução institucional das custódias e províncias, ou a situação de conflito que se desenhou entre os franciscanos e os moradores de Goa, que acusavam os primeiros de infringirem lhes castigos corporais e prisões.
Definitivamente, é sua percepção do significado atribuído pelos próprios franciscanos à missão na Índia a maior contribuição do livro de Patricia Souza. A autora não apenas se debruça sobre uma ordem ainda pouco estudada, mas também procura superar algumas interpretações estereotipadas, que definem as missões franciscanas no Oriente como herdeiras de uma cosmovisão medieval, que impunha limites à compreensão de tradições e crenças locais, e teria comprometido o êxito missionário da Ordem. O esforço de superação desses estereótipos conduz Patricia à percepção do horizonte de expectativa dos próprios franciscanos, em que noções como “êxito” e “fracasso” perdem sentido em face de suas concepções no que tange aos métodos de adaptação missionária, que é o elemento estruturante do sentido de missão partilhado pelos frades.
Com efeito, para alcançar este horizonte e acessar o sentido contextual destas missões, Faria se atém à escrita de sua história. Ou melhor, à quase total ausência deste gênero entre os frades franciscanos. De fato, a autora reconhece que, muito embora a Ordem de São Francisco tenha legado aos historiadores e pesquisadores uma profusão de escritos de cunho apologético e hagiográfico, elaborados principalmente ao longo da Idade Média, a ação da Ordem na Índia não ganhou espaço na produção historiográfica dos frades em um primeiro momento. A primeira crônica franciscana, de autoria de frei Francisco Negrão, foi escrita quase cem anos após a fixação da Ordem na Índia, contudo, esta obra se perdeu. Por sua vez, esta escassez de escritos torna-se mais marcante quando comparada à abundância da produção jesuíta, bem como as reconhecidas implicações de seu uso na confecção da propaganda inaciana. Na perspectiva da autora, esta característica circunscreve a especificidade do apostolado franciscano, que privilegiava as formas orais para o testemunho de seu ministério. Um ministério cujo sentido apoiava-se na graça e no fervor religioso, mas que, todavia, estava destinado à obsolescência, tal como sugere a autora.
De todo modo, o livro enfrenta a questão da construção da memória franciscana e nos apresenta um rico debate a respeito deste assunto. Para isso, Patricia Souza de Faria recupera os escritos de três autores que se detiveram sobre a Ordem: frei Paulo da Trindade, que exalta os feitos dos frades da Regular Observância; frei Jacinto de Deus, que registra a história dos franciscanos da mais Estreita Observância; e frei Miguel da Purificação, que por sua vez reclama o direito dos religiosos filhos de portugueses nascidos na Índia ocuparem cargos eclesiásticos. A despeito da especificidade de cada um dos autores, todos estes frades procuram reabilitar e exaltar os feitos dos franciscanos, sobretudo a partir da ratificação do pioneirismo e da vocação missionária da Ordem. Com efeito, na perspectiva de Patricia, a existência desta literatura, produzida a partir da primeira metade do século XVII, é um indício seguro da necessidade de se evidenciar a capacidade de atuação da Ordem de São Francisco Índia.
Entretanto, para além das narrativas, Patricia Faria atenta para as diferentes trajetórias de vida de seus autores, tendo em vista questões relevantes, referentes aos sentidos da pureza de sangue e distinção social, que se desdobram dos embates polêmicos a respeito da origem dos clérigos, apresentados nas obras de autoria dos franciscanos, notavelmente na de Miguel da Purificação. Em suma, vale lembrar que todos estes religiosos são luso-descendentes e apresentam uma perspectiva depreciativa do Oriente, sendo que Trindade concebia a si mesmo tão português quanto qualquer outro nascido no reino, ao passo que Jacinto de Deus e Miguel da Purificação enfrentaram com maior vigor o fato de terem nascido na Ásia, e por isso compartilhavam a preocupação de reforçar sua distinção em relação aos demais grupos de nativos.
Em conclusão, o que se nota é a lenta estruturação de uma duradoura marginalização do clero nativo, uma vez que somente em 1927 um goense viria ocupar o arcebispado. Por fim, é imprescindível assinalar que Patricia Souza de Faria nos apresenta uma obra de fôlego, resultante de inquietações epistemológicas originais, bem como da leitura, análise e confrontação de fontes. Daí que o livro nos chega em bom momento.
Rubens Leonardo Panegassil – É graduado em História pela Universidade de São Paulo (2004) e graduado em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado (1999). É mestre (2008) e doutor (2013) em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de História Moderna e Contemporânea do Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa.
Los muchachos peronistas. Orígenes olvidados de la Juventud Peronista (1945-1955) – ACHA (A)
ACHA, Omar. Los muchachos peronistas. Orígenes olvidados de la Juventud Peronista (1945-1955). Buenos Aires: Planeta, 2011. Resenha de: SILVA, Maria Luz. Peronismo y Juventud. Volviendo a los orígenes. Antítese, v. 7, n. 14, p. 516- 520, jul. – dez. 2014.
El peronismo es un tema siempre presente en Argentina. Por lo mismo ha sido abordado desde múltiples perspectivas políticas e ideológicas y desde innumerables registros y disciplinas, las cuales comprenden desde el arte y el psicoanálisis hasta la historiografía, la antropología o la ciencia política. En ese inmenso campo de estudios, la Juventud Peronista ha sido enmarcada haciendo foco en los las décadas de 1960 y 1970, asimilándola al transcurso político vivido por las juventudes en proceso de radicalización del cono sur y el mundo. Dentro de este contexto de ideas, el libro de Omar Acha, joven historiador y docente argentino que ya detenta una prolífica producción en lo concerniente al peronismo, representa un aporte fundamental en dos sentidos. Por un lado, constituye una investigación histórica sobre un fragmento muy poco analizado sistemáticamente de la historia del peronismo: el desarrollo de la Juventud Peronista durante los años de la primer y segunda presidencia de Perón (período 1946-1955). En segundo lugar, y profundamente imbricado con el primer punto, se plantea reflexionar sobre núcleos significativos de carácter político-culturales, que dan cuenta de las peculiaridades del devenir histórico del peronismo. Para esto, busca cuestionar y explicar lo que conceptualiza como la construcción de un relato mítico. “La Juventud Peronista es un mito argentino” enuncia inicialmente, como una bofetada al lector desprevenido. Mito asociado al “compromiso político” y, como él mismo destaca, “a la añorada o temida Argentina del ‘setentismo’. Mito que evoca imágenes de conflictos nacionales, ya que no se recuerda aquella Juventud Peronista sin recordar la polémica. Mito que también registra el surgimiento de la Juventud Peronista en el año 1957, como respuesta organizativa generacional al golpe cívico-militar que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón en el año 1955. Mediante un riguroso relevamiento documental el autor espera dar cuenta de la existencia de una Juventud previa, olvidada y/o negada por los militantes peronistas de las décadas posteriores. Entre los numerosos méritos adjudicables al texto resaltamos el carácter federal en la indagación de fuentes documentales. Como abordaje metodológico de la problemática, fortalece sus hipótesis y dan cuenta de la diversidad de los desarrollos locales y regionales, a la par que supone romper con una tradición de estudios de este período anclados en la provincia de Buenos Aires.
Es dable señalar también que por momentos el texto trasciende las barreras de la historiografía en sentido estricto y se interna en controversias políticas vigentes en la actualidad en Argentina. Relativizando los planteos que reafirman “la vuelta de la juventud a la política” a partir del proceso abierto por los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Acha asevera que luego de ser devastada por la dictadura militar y hasta la actualidad, la juventud del peronismo no ha podido reconstituirse como una fuerza política fuerte, con capacidad de acción estratégica y proyecto político propio.
Indagando y revalorizando lo que denomina como un proceso de crecimiento molecular y contradictorio que vivió la Juventud Peronista a partir de 1951, Acha se plantea un objetivo tan afanoso como contemporáneo en la Argentina. El mismo reside en poner en jaque la perspectiva que asevera que la Juventud Peronista durante los años de gobierno de Perón fue solamente una herramienta institucional creada “desde arriba”. Y se arriesga aún más. Alega que esta mirada responde a una mirada del peronismo y del Partido como monolítico y vertical, dando lugar a un proceso más complejo en el que también tienen injerencia las pujas internas dentro del propio movimiento.
Para el autor, el olvido de la primera Juventud Peronista da cuenta de rasgos perdurables en la cultura política peronista en particular, y en la cultura política argentina en general, respecto de la juventud en el marco de partidos políticos. Ahonda en las peculiaridades de la definición política de la juventud en el ideario “peroniano”, sobrevolando el complejo vínculo entre juventud y política. Por esto, el texto aunque según indica su título se ancla en una década específica, se desliza reflexivamente, yendo y viniendo por el siglo XX argentino.
Tal como afirma, existen dificultades para el estudio de una originaria Juventud Peronista. Las mismas responden a varios factores entre los que subraya: la imagen del niño peronista, construida durante el gobierno de Perón que negaba a los jóvenes del momento su potencial político relegándolos para “el futuro”; la imagen negativa construida en torno de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y, tal como adelantara, la construcción de un relato mítico que la omite. Acha concluye que efectivamente hubo una Juventud Peronista previa a la que surgió en los albores del golpe militar que derrocara a Perón, de tiempo breve pero no por eso menos importante. Surgida en los meses que rodearon la reelección de Perón en noviembre de 1951, durante la campaña del Almirante Teisaire para llegar a la vicepresidencia, tuvo su fin junto al gobierno peronista.
Un factor importante de su negación fue la traba interna en el propio peronismo que dificultaría el surgimiento de la Juventud Peronista como actor político, aunque ya en occidente se estuviera dando la estructuración de la juventud como sujeto social diferenciado en tanto etapa específica de la vida. Se establece allí una segunda hipótesis: es en el seno del peronismo en el poder donde se niega el carácter de sujeto político a la juventud, subsumiéndola a las actividades deportivas y asociativas. Cuando el escenario político cambia a mediados de la década del cincuenta, y la caída del peronismo era inminente, ya era tarde para ello. Probar esta idea mediante el relevamiento de fuentes periodísticas, de los órganos de funcionamiento del Partido y de los discursos de Perón, estructura gran parte del desarrollo siguiente del texto.
Apela además aquí a un breve recorrido del siglo para afirmar que la noción de juventud política precede al tiempo peronista retrotrayéndose prácticamente a principios de siglo. Para las décadas de 1930 contaban ya las juventudes ligadas al socialismo, el anarquismo, el radicalismo, el comunismo, a sectores de la derecha y el catolicismo, con un desarrollo dispar pero considerable y con una presencia real en las calles en los momentos de surgimientos del peronismo. A esta altura, la juventud ya era percibida como problema social y en Argentina comenzaría a ser catalogada en términos de clase y cultura. Distinción particularmente aplicada a los jóvenes de las clases populares que se integrarían al peronismo desde las jornadas de 1945, mientras que los jóvenes universitarios serían abiertamente antiperonistas. En este punto Acha nos entrega una piedra de Rossetta del siglo XX argentino: con la salida de los jóvenes a las calles durante el primer peronismo, comienza a imponerse una distinción en la juventud, que traccionará hacia el peronismo la descalificación de lo juvenil de corte popular: ya no serán considerados “jóvenes” sino “muchachones”. Constituye ésta una clave interpretativa que el autor anuncia y que invita a ser profundizada aún más, no sólo para entender un período histórico específico, sino porque nos otorga indicios de un modo de comprender la compleja trama social tejida a partir del derrotero peronista, muchas veces teñido de preconceptos y prejuicios académicos y políticos.
En lo que refiere a la puesta en práctica del ideario de Perón en torno a la juventud, Acha afirma que Perón y sus equipos técnicos tuvieron como proyecto la creación de una nueva infancia y juventud a través de modificaciones en el ámbito educativo, que trasladaría inmediatamente a la juventud como actor del futuro, no de aquel presente. Con ese marco, el proyecto peronista de integración social esperaba integrar a los jóvenes a partir de un triple enfoque de: incorporación al mercado laboral, educación moral y actividad deportiva. Como el peronismo se asumía a sí mismo como el fundador de un nuevo orden social futuro, superador de partidos políticos, a la infancia y la juventud le depararían la organización corporativa o asociativista, claramente no política.
Aquí el texto pone luz de alerta en ciertos sentidos comunes académicos sobre el peronismo. Para el autor, el asociacionismo favorecido por el peronismo no respondió a un uso meramente manipulatorio o totalitario, sino que responde a la lógica principal del poder peronista por el cual Perón esperaba obtener una estructura piramidal que permitiera la conciliación del conjunto de la sociedad a los fines de la armonía social. Este era el espíritu de su “comunidad organizada” en la que la juventud tendría su lugar predestinado como “nueva generación” renovadora de la Argentina. Con este cuadro de situación, durante los años de Perón en el gobierno, la Juventud Peronista navegaría entre lo político y lo apolítico. Proceso organizativo en el que el autor identifica dos fases sucesivas.
1951 sería el año de su conformación pero aún como un proceso débil y múltiple. Como viéramos, en su argumentación Acha destaca ciertas dificultades políticas, históricas y culturales que presenta la Juventud Peronista para traducirse en una matriz de organización política clara. En este sentido, afirma que los procesos electorales de ese año funcionaron como factor fundamental para el nucleamiento y expansión de la organización de los jóvenes, con la creación del Movimiento Juvenil Peronista (MJP) con ambiciones de alcance nacional. Allí tiene lugar la primera fase de la Juventud, que no era considerada aún una organización política propiamente dicha, con capacidad estratégica propia dentro del movimiento, sino subsumida a los actores políticos mayores. Para 1952 surge el nombre alternativo de Movimiento de la Juventud Peronista, que marca con su redefinición conceptual, lo que el autor denomina “la fundación subjetiva” de una Juventud políticamente relevante, dando pie al comienzo del proceso organizativo, que contó con las resistencias de propios y ajenos. Como tal no estaba integrada al esquema del Partido Peronista. Para 1954, dado el alcance nacional que había alcanzado, ya era evidente la necesidad de autonomización y acumulación política. Siendo esto contrario al ideario “peroniano” y a los hábitos del Partido es desarticulada. A partir de allí tuvo lugar la segunda fase, en un momento en que crecía la conflictividad entre el peronismo y sus opositores. Estos últimos meses de peronismo en el poder estarían marcados por el crecimiento y visibilidad de un nuevo activismo juvenil necesario para atemperar las circunstancias políticas en defensa de un gobierno cada vez más violentado. Surgirían allí los gérmenes del uso de la violencia en la acción directa dentro del peronismo y la presencia en los espacios públicos, que luego se multiplicarían en los años de la resistencia peronista a la dictadura militar. Siendo estos aportes originales de la Juventud, comenzaba a ser vista por algunos sectores como potencial rama del movimiento lo que generaría fricciones internas.
El advenimiento del golpe militar en septiembre de 1955 dio por tierra con estas fricciones y el reconocimiento debería esperar quince años para efectivizarse. A partir de allí comenzaría un tiempo político muy diferente. Frente a la dictadura militar y el exilio del líder, surge una nueva Juventud revolucionaria e insurreccional. Ésta comenzaría a plantearse como protagonista, partiendo de diferenciarse de su predecesora e instalándose como fundadora de un nuevo tiempo y de una nueva política peronista, pero esta vez con verdaderas y visibles pretensiones de autonomía. Con el tiempo sería asociada a un relevamiento generacional, lo que sería llamado por el propio líder el “trasvasamiento generacional”. Tanto la historia académica como aquella constituida por las memorias de los militantes ligados a esta nueva Juventud confinarían así al olvido, la negación o la invisibilización de la primigenia Juventud.
Vuelve Acha nuevamente aquí a una de sus argumentaciones iniciales. Fue fundante para los nuevos militantes erigirse como actores autónomos tanto política como simbólicamente, desconociendo o repudiando los procesos de organización previos de la otra Juventud. También, por qué no, cuestionando subrepticiamente o explícitamente la autoridad de Perón. Se instituirían así como nueva “generación política” y darían cuerpo a lo que con el tiempo sería el mito masivamente aceptado sobre la historia del peronismo. Este relato mítico fue eficaz y funcionó como herramienta de legitimación política dentro del propio peronismo, transmitido como memoria de una generación y devenido relato de orígenes. Para Acha el mito, en tanto narrativa, supone una operación política y por ende, un instrumento de disputa en un campo de fuerzas en competencia. Acha sintetiza el mito desde su carácter instrumental, y he aquí un argumento de su obra que podría ser revisado. Como diversas disciplinas han propuesto ya, los mitos no sólo refieren a la legitimación de una posición en una disputa, en este caso política, aunque este pueda ser sin dudas un núcleo constitutivo de los mismos. También se entrelazan con aspectos valorativos, afectivos, cognitivos, de cualquier colectivo social, que son especialmente sobresalientes en el peronismo, al que sus propios militantes consideran más que una identidad política una identidad cultural. Para el autor, a través del mito sobresalen los rasgos de la nueva Juventud: nacimiento en el “desierto”, inocencia revolucionaria y mística antiinstitucional. Diferenciándose sobre todo moralmente de la experiencia juvenil anterior considerada traidora y burocrátizada, establece una matriz de refundación del peronismo. Esta nueva juventud formaría parte de la emergencia de pequeños y diferentes grupos, lento proceso de convergencia de diferentes núcleos juveniles que conformó en 1959 una Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista y que lograría finalmente plasmarse generacionalmente dada una aspiración de acumular poder propio. La negación de la precedente juventud jugó a favor de este proyecto generacional dando forma al relato identitario que suprimía una historia originaria propia del período 1945-1955. Como cierre es importante señalar que, tal como esperamos dar cuenta aquí, el texto no sólo indaga en la caracterización política de la inicial Juventud Peronista, sino que también aporta argumentaciones en clave histórico-cultural sobre su confinación al olvido como indicios para pensar procesos históricos y conflictos nacionales más amplios.
Maria Luz Silva – Antropóloga. Profesora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Doctoranda en Humanidades y Artes con mención en Antropología de la Universidad Nacional de Rosario. Becaria CONICET.
Inconfidência no Império: Goa de 1787 e Rio de Janeiro de 1794 | Anita Correia Lima de Almeida
Publicado em 2011, Inconfidência no Império é fruto da tese de doutorado de Anita Correia Lima de Almeida defendida em 2001 na UFRJ. A obra é um exercício de história comparada que aborda duas Devassas ocorridas em duas colônias geograficamente distantes do Império Português: a prisão dos padres em Goa, no ano de 1787, e a devassa contra os membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, em 1794. Sobre a primeira, existem pouquíssimos estudos publicados no Brasil, enquanto a respeito da Devassa contra os letrados cariocas há uma quantidade considerável de estudos publicados ao longo das últimas décadas.
A divisão do livro em três partes é embasada na noção do século XVIII “de que a máquina política deveria amparar-se nos prêmios e nos castigos” (p.22), sendo a primeira “Os Castigos” (capítulos 1 e 2), a segunda “Os Prêmios” (capítulos 3 a 7) e a terceira, “O louco desejo da liberdade” (capítulos 8, 9 e conclusão). Na introdução da obra, a autora denota que o estudo não seguirá um aporte historiográfico tradicional sobre o tema das “Inconfidências”, distanciando-se da categoria de “Revolução Atlântica”, de Jacques Godechot e buscando a semelhança de ambos os eventos “pelo fato de tanto os letrados naturais de Goa como os fluminenses terem sido alvos da mesma política pombalina que se espraiou de Lisboa para todo o Império na segunda metade do século XVIII” (p.19-20). Parte a autora, portanto, da “relação entre os letrados do ultramar e o pombalismo”. (p.20) A escolha em trabalhar esses dois episódios se deveu não só à interação entre os letrados e a coroa, mas ao fato de que entre os acusados em ambas as Devassas não estão arrolados homens de grandes posses ou endividados com a coroa portuguesa (caso, por exemplo da Inconfidência Mineira). Aqui, no tocante à Devassa do Rio de Janeiro, a autora segue em grande parte o caminho interpretativo de No rascunho da nação: Inconfidência no Rio de Janeiro (1992), de Afonso Carlos Marques dos Santos, realizando boas considerações acerca do quadro, redigido por A. Santos, de composição social dos acusados e testemunhas no processo, e conclui que “a maior parte deles é constituída, certamente, por homens em cujas vidas o estudo formal ocupara um papel importante. (…) E mesmo quando os acusados são oriundos de extratos menos favorecidos, a possibilidade de participar dos ‘conventículos’ está dada pela instrução que possuíam.” (p.67)
Ponto fulcral para o trabalho é a desilusão que os letrados residentes em Goa e na América Portuguesa tiveram com a política imperial e que, no primeiro caso, resultou em um plano de sublevação e, no segundo, em conversas sobre temas proibidos. Ademais, a escolha do uso do vocábulo Inconfidência se deve ao sentido de traição que esta palavra acarreta, “a traição contida na atitude de homens que – aliciados – deveriam ter sido fiéis até o fim, e não o foram”. (p.23)
Outro aspecto relevante está na percepção do caráter exemplar que assumiu a Revolução Americana de 1776 para os letrados luso americanos, o que A. Almeida evidencia ao analisar o episódio das cartas assinadas “por um brasileiro” (p.67), com o pseudônimo de Vendek, a Thomas Jefferson. Na continuação deste excerto, a autora afirma existir um grande descontentamento entre os nascidos na América Portuguesa (aos quais insistentemente utiliza a denominação de “brasileiros”), sendo “os homens de letras” (p.68) responsáveis por liderar a fila de descontentes com o Império.
Cabe atenção também à relevância que a autora dá a uma suposta dicotomia entre reinóis e nascidos na colônia, tendo por base argumentativa a interpretação de Charles Boxer de que “preconceitos raciais” explicariam a grande diferença no número de condenados à morte na Inconfidência de Goa, quinze, e na Inconfidência Mineira, um. Para ratificar essa observação, a autora considera que a conjuntura política teria se modificado nos dois anos que separam ambos os movimentos, considerando que “as notícias da Revolução Francesa chegaram a Lisboa junto com as notícias do frustrado levante em Minas” (p.70). Assim, a maior radicalização na conjuntura europeia teria levado a um “processo de acomodamento” e um “estreitar dos compromissos entre os colonos e a Coroa” (p.70) que ajudariam a explicar a punição menos severa aos inconfidentes de Minas. Tal explicação parece contestável se levarmos em conta a severidade com a qual foi levada a perquirição sobre o suposto plano de levante no qual estavam envolvidos os presos da Devassa de 1794. Foram mais de dois anos de cárcere para esses acusados, sendo que a situação só foi resolvida devido à pressão dos réus junto ao Ministro do Ultramar, D. Rodrigo de Souza Coutinho, que ordenou ao Vice-Rei Conde de Resende decidir-se entre soltá-los ou enviá-los a Portugal. Portanto, percebe-se aqui que a busca por enquadrar as “Inconfidências” dentro de um processo maior, europeu, e de um modelo historiográfico que procurou enquadrar esses movimentos como “reflexos” da Revolução Francesa e de suas ideias, em primeiro lugar e, em menor escala, da influência da Revolução Americana. Tal perspectiva acaba por reduzir as especificidades do pensamento dos envolvidos nas devassas pesquisadas. Poderia ser proveitosa a inclusão, no livro, de mais trabalhos de István Jancsó, sobretudo seu capítulo na História da Vida Privada no Brasil, bem como da tese de Gustavo Tuna sobre o episódio de 1794, defendida na USP em 2009.
Uma arguta observação feita pela autora sobre os documentos de ambas as Devassas, Goa e Rio de Janeiro, e que tem por base dois artigos de David Higgs, é a coexistência de certas críticas à religião e à monarquia de longa data (por exemplo ao refutarem a veracidade da Sagrada Escritura), com críticas relacionadas a conjuntura das Devassas, como no deboche ao reinado de D. João V e ao fanatismo do príncipe D. João VI.
Na segunda parte do livro, No capítulo “O alvará pombalino contra a discriminação dos naturais de Goa”, a autora se vale do argumento novamente de Charles Boxer sobre a “aproximação entre os letrados de várias regiões do ultramar, alvos dos mesmos projetos pedagógicos” e da “política de não discriminação dos naturais” (p.92) para realizar a comparação entre os nascidos na América e os nascidos em Goa (inclusive apontando semelhanças entre a legislação do norte da América Portuguesa com a aplicada em Goa). Inicia o capítulo com apontamentos de Matias Aires sobre a necessidade de se valorizar uma “nobreza de espírito” (letrada) em contraposição à “nobreza de sangue” (p.75) e à tentativa de Pombal levar em conta essa diferenciação, inclusive pelo fato do ministro ser um “novo rico” (p.76). A autora associa essa problemática à discriminação que setores mais conservadores, sobretudo os padres responsáveis pelo ensino, tinham perante os nascidos em Goa e no Rio de Janeiro, pois para a autora ambos “foram alvos de políticas que conservavam algo em comum” (p.92). Políticas estas que, segundo Almeida, buscavam tornar “os naturais habilitados para todas as honras, dignidades, empregos e postos” (p.84). Essa valorização está explicita na análise que a autora faz da Instrução Quatro de 1774 na qual a decadência de Portugal só seria revertida se os portugueses conseguissem “atrair e aliciar a afeição dos naturais” (p.89). Uma dificuldade enfrentada por estas medidas era a concepção por parte de certos atores políticos do período de uma suposta superioridade na cultura portuguesa e europeia em relação às indígenas, bem como a intolerância com os costumes destes demonstrada na atividade de órgãos como o Tribunal da Inquisição de Goa e da parte dos jesuítas, que em seus aldeamentos tutelavam a população local e atrasariam a incorporação desses grupos como súditos do Império. A autora cita o caso dos brâmanes, que na sociedade de castas eram associados a postos de maior prestígio, ligados à religião e à educação, enquanto na “sociedade indo-portuguesa” (p.91) perderam postos na hierarquia social.
No capítulo “O Projeto de reedificação da cidade de Goa”, é feita uma análise dos projetos urbanísticos empreendidos pela coroa portuguesa desde D. João V, e aprimorados por Pombal. O texto trata da reconstrução de Lisboa após o terremoto, momento em que se traça um projeto sistemático que, segundo A. Almeida, seria a expressão de uma “nova mentalidade urbana” (p.96). Na América Portuguesa, existiria um planejamento urbanístico (em cidades do Norte da colônia como Belém, Macapá e Mazagão) associado, segundo a historiadora, a um “‘projeto civilizacional’, criado a partir da necessidade de mediar os conflitos entre colonos e índios” (p.97). Nessa interpretação, salta aos olhos o bom uso de bibliografia de pesquisadores da arquitetura colonial, como Roberta Marx Delson e sua proposta de planificação das cidades coloniais brasileiras; ao aproveitar esse argumento para tratar do caso de Goa, A. Almeida faz um interessante aporte sobre a situação insalubre da “Goa Velha”, atingida por constantes epidemias de cólera, tifo e malária. Aborda o projeto pombalino de reedificação da vila, decretado em 1774, ponto a ponto, bem como a atuação do governador D. Pedro José da Câmara. O projeto não avançou, e para a autora é justamente a expectativa imbuída neste plano que importa: “o que terá significado para esses letrados naturais as tentativas pombalinas de reforma da Índia Portuguesa (…) numa espécie de utopia regressiva e ao mesmo tempo voltada para o novo e, por outro lado, na possibilidade de absorção dos naturais, através do fim da discriminação, que se espraiava o projeto civilizacional pombalino para o oriente português” (p.105).
Ao abordar a Reforma dos Estudos Menores, reforma esta atrelada à reformulação dos currículos da Universidade de Coimbra em 1772, é feito um esboço sobre o cenário existente antes da implementação das Aulas Régias, bem como do pensamento educacional português de meados do século XVIII (principalmente de Ribeiro Sanches e Verney) e a vontade política de Pombal e seus ministros em reduzir o controle jesuítico perante a educação, sobretudo no ambiente colonial, procurando modernizar o sistema e acabar com os métodos empregados pelos religiosos.
A criação das Aulas Régias de Latim, Grego, Retórica e Filosofia Racional e Moral em 1772 propiciou, segundo a autora, a profissionalização do magistério e retirou o vínculo dos professores da esfera eclesiástica, ao mesmo tempo em que valorizou os mestres outorgando-os títulos de nobreza. Entretanto, na prática, muitos problemas surgiram, como a falta de pagamento dos professores régios e a disputa por alunos com os padres.
A figura do padre Caetano Vitorino e suas requisições na Corte pela ordenação de goeses a cargos eclesiásticos e administrativos tem aspecto central para construir a justificativa da autora em comparar os anseios dos letrados da América Portuguesa e de Goa. A autora compara o padre Vitorino a Silva Alvarenga no tocante à confiança de ambos nos “novos tempos” (p.155) trazidos pelo governo de Pombal, e na possibilidade de obterem reconhecimento social por seus serviços prestados à coroa.
No capítulo “a Sociedade Literária, Silva Alvarenga e a Arte Poética”, há o aprofundamento na questão das Academias e de como estas se tornavam espaço de desenvolvimento de estudos sobre a viabilidade econômica de plantas e outros produtos coloniais. No caso do Rio de Janeiro, é abordada a Academia Científica de 1772, fundada com apoio do Vice-Rei Marques de Lavradio com o intuito de aprimorar a produção e utilização de produtos coloniais, como o linho do cânhamo ou a guaxima, além de investirem na descoberta de plantas de uso comercial e/ou medicinal. Assim, esta associação, estava inexoravelmente ligada ao projeto pombalino, assim como a Sociedade Literária esteve, e a atividade do seu membro e professor régio, João Manso Pereira, mineralogista que pesquisou diversos assuntos, comprova. É bastante contundente a observação de como os textos dos agremiados debatiam renomados autores europeus como Buffon, refutando inclusive argumentos deste a respeito da “formação do universo” (p.172).
A autora correlaciona o fato de Manuel Inácio da Silva Alvarenga pertencer a academia à sua preocupação em justificar a utilidade didática de sua poesia, concatenando o “discurso literário” a uma “obrigação cívica” (p.181). Para A. Almeida, esse tipo de preocupação expressaria a “função” do letrado de ser uma espécie de ponte entre a “civilização europeia e sua terra natal” (p.183). É a partir desse excerto que a autora desemboca em um dos principais argumentos de sua tese, de que a frustração dos letrados com o insucesso de seus planos em ascenderem dentro da burocracia imperial, atrelados a um objetivo maior da Coroa Portuguesa, seriam a base, ou justificativa, para o movimento revoltoso de Goa e os acalorados debates sobre temas escusos que levou a prisão dos letrados no Rio de Janeiro. Assim, o fracasso das aulas régias, a não equiparação prática entre reinóis e nascidos em Goa, a insatisfação com o governo do Conde de Resende seriam parte dos “planos abandonados pelo meio, de promessas que o futuro não cumpriu, na qual, acredita-se, encontram-se as raízes do descontentamento dos homens de letras do ultramar” (p.194).
No último capítulo da obra intitulado “O precipício”, a autora considera que o aprendizado da Retórica teria uma “função heurística, de descoberta” (p.204). Ou seja, foi o principal instrumento disponível para os letrados no ambiente colonial poderem questionar as atitudes da metrópole. Assim, aponta-se uma contradição da política pombalina que, segundo a autora, Antônio Nunes Ribeiro Sanches já havia demonstrado em seus escritos a respeito das aulas régias nas colônias, sendo que estas “tinham ajudado a criar entre os súditos naturais o desejo de adquirirem honras (…) e, facilitado certo aprendizado político” (p.204). Portanto, para a autora, “como se quer sugerir, a transformação dos letrados reformistas em inconfidentes tenha sido auxiliada pelo próprio pombalismo, que ofereceu alguns caminhos, como o da retórica” (p.204). Influenciados pela conjuntura internacional, os letrados ressignificavam as obras de Mably e Reynal a partir de sua insatisfação e de seus desejos em se rebelarem contra a metrópole, assim como os revolucionários das Treze Colônias fizeram. A autora reafirma, ao fim do capítulo, a sua proposição de que foi do desejo frustrado em se tornarem vassalos úteis do Império Português que esses letrados “abraçaram ideias – que lhes eram então oferecidas com fartura – contrárias à autoridade da metrópole e, por fim, ao próprio estatuto colonial”.
Ao analisar minuciosamente duas Devassas ocorridas em colônias espacialmente distantes e, em um plano maior, as políticas do Império Português na segunda metade do século XVIII o livro traz as semelhanças que a trajetória dos padres inconfidentes de Goa e os letrados devassados do Rio de Janeiro tinham dentro do projeto pombalino, e as suas decepções ao perceberem o insucesso deste. Inconfidência no Império é uma obra que alia a exaustiva pesquisa documental a uma leitura fluida e agradável, e é de suma importância para os estudiosos da história do Império Português em fins do século XVIII, no ministério de Pombal e no impacto de suas políticas pombalinas no ultramar e aos que buscam compreender a conjuntura das colônias neste fin-de-siècle politicamente agitado.
Lucas Gallo Otto – Graduando no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP – São Paulo/ Brasil) e bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: lucasotto@msn.com
ALMEIDA, Anita Correia Lima de. Inconfidência no Império: Goa de 1787 e Rio de Janeiro de 1794. Rio de Janeiro: 7 letras, 2011. Resenha de: OTTO, Lucas Gallo. Frustração, retórica e sublevação: uma leitura sobre as “Inconfidências” de Goa (1787) e do Rio de Janeiro (1794). Almanack, Guarulhos, n.8, p. 157-161, jul./dez., 2014.
El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española | Broberto Breña
O novo livro do historiador mexicano Roberto Breña merece destaque tanto por seu empenho em abordar, de forma bastante sugestiva, diversos aspectos da história política do mundo revolucionário hispânico, como por seu esforço em produzir um texto destinado também a um público mais geral interessado no assunto. El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española, composto por oito capítulos que contemplam cenários espanhóis e hispano-americanos de inícios do século XIX, representa uma continuidade de outros trabalhos do autor sobre o chamado “primeiro liberalismo” espanhol, as revoluções hispânicas e questões de cunho mais acentuadamente historiográfico.
Logo nas primeiras páginas, Breña anuncia duas ideias centrais de seu texto: “império das circunstâncias” e “ciclo revolucionário hispânico”. Referente à primeira, o autor afirma que centrou seu interesse na vida e obra de certos personagens, convencionalmente conhecidos como precursores dos processos emancipatórios hispano-americanos, e como as diferentes circunstâncias que os rodeavam teriam desempenhado papel decisivo em suas ações. Breña constrói e defende, ao longo do livro, a ideia de que tais circunstâncias (sociais, políticas, econômicas) não teriam permitido, com frequência, que esses personagens atuassem como desejavam. Sobre a segunda, ao inserir os processos de independência da América hispânica e a revolução liberal espanhola em um denominado “ciclo revolucionário hispânico”, o autor propõe uma leitura, numa perspectiva eminentemente política-intelectual, que privilegia a ligação direta entre acontecimentos peninsulares e americanos. A exemplo do que vem fazendo grande parte da historiografia a respeito, Breña destaca que foram alguns episódios metropolitanos e seus desdobramentos que provocaram uma série de respostas das colônias a precipitarem o início da história enfocada. Partindo, então, de uma abordagem que enfatiza a dimensão hispânica das revoluções tratadas no livro, o autor mostra cautela diante do chamado enfoque “atlântico”, o qual insere tais processos revolucionários num cenário mais amplo de movimentos político-ideológicos, a partir de uma série de pressupostos com os quais não está inteiramente de acordo.
A maneira como as informações e ideias são apresentadas e trabalhadas no livro evidencia o esforço do autor em construir e relacionar elementos diversificados de um mesmo contexto histórico. Dentre os oitos capítulos, o primeiro e o sexto, sobretudo, abordam o cenário metropolitano. O primeiro capítulo enfatiza a crise provocada pela orfandade da monarquia espanhola, as soluções políticas peninsulares adotadas após a invasão napoleônica e seus impactos e repercussões na América hispânica. O capítulo 6 trata da Constituição de Cádiz de 1812 e das formas de representação nela implicadas como marcos iniciais de uma vida política moderna no mundo hispânico. Neste apartado, Breña comenta sobre a importância do “primeiro liberalismo” espanhol e a efervescência constitucional vivida nos territórios hispano-americanos, enfatizando como esta Constituição amparou, em diferentes localidades, os primeiros processos eleitorais, influenciou aspectos jurídicos, debates ideológicos e a própria cultura política como um todo. Diretamente sobre as ideias liberais espanholas e sua influência no que agora se poderia denominar de “primeiro liberalismo hispano-americano”, o autor afirma que “el liberalismo que empieza a manifestarse en los diversos territorios americanos tuvo connotaciones distintas respecto al metropolitano” (p.197), demonstrando que no decorrer dos processos de independência da América hispânica aspectos centrais da ideologia e de práticas liberais sofreram modificações consideráveis. Finalmente, Breña aborda as ambiguidades e tensões que caracterizaram esses princípios políticos em ambos os lados do Atlântico, mostrando como o tema do republicanismo manteve estreita vinculação com o liberalismo neste contexto revolucionário.
Os capítulos 2, 3, 4 e 5 apresentam personagens, seus escritos e ideias entre o final do século XVIII e o início do XIX. Ao analisar, dentre outros, Francisco de Miranda, Simon Bolívar, San Martín, Bernardo Monteagudo e Servando Teresa de Mier, o autor trata de seus pensamentos, projetos e anseios, trilhando uma espécie de caminho no qual introduz o leitor a realidades políticas, sociais e ideológicas de diferentes partes da América hispânica, em especial durante seus processos de independência. Retomando uma das ideias centrais do livro, Breña faz uma reflexão sobre esses homens e seus supostos “fracassos” (ideia antiga na historiografia, mas aqui baseada na obra do historiador alemão Stefan Rinke, Las revoluciones en América: las vías a la independencia 1760-1830. México, El Colegio de México, 2011), para tentar demonstrar como as circunstâncias teriam se imposto sobre o pensamento e a ação de tais personagens. Sua argumentação é sustentada na ideia de que elementos como o caráter “prematuro” de alguns movimentos independentistas, a impossibilidade de algumas capitais imporem suas autoridades e legitimidades, e a adoção da forma republicana de governo em sociedades sem experiência alguma com instituições representativas teriam conformado um “império de circunstâncias” que, de modo distinto em cada caso, resultaria ser mais poderoso que a vontade de líderes.
Assim, para Breña, esses protagonistas exibiriam uma capacidade muito limitada para exercerem influxos sobre acontecimentos políticos, salvo em situações mais imediatas, como ele próprio afirma:
[…] los procesos emancipadores americanos se caracterizan, entre otras muchas cosas, porque casi todos los grandes líderes que participaron en ellos fracasaron en los proyectos políticos que se propusieron y porque en la mayoría de los casos (tratándose, insistimos, de líderes de primer nivel) no pudieron pasar de la fase bélica a la fase de estabilización o de construcción y, cuando lograron hacerlo, muchos de ellos fracasaron políticamente” (p.136).
No entanto, quando se concebe a inexistência de qualquer história de sociedades que seja totalmente movida por vontades individuais, a constatação de que os “próceres” das independências eram capazes de incidir sobre suas realidades apenas de forma muito limitada, submetidos que estavam a condicionamentos impostos pela realidade que lhes dava significado, as ideias de “fracasso” e “império das circunstâncias” parecem necessitar menor ênfase do que Breña a elas concede. Mesmo assim, é de inegável valor a tentativa do autor em expor vinculações entre acontecimentos peninsulares e americanos, bem como apresentar sustentos doutrinais e ideológicos, instabilidades e ambiguidades políticas como sendo compartilhados nestes espaços pari passu a particularidades de cada território.
Outro aspecto a chamar a atenção é o fato do processo independentista mexicano ser apresentado como um caso distinto. Breña argumenta, por exemplo, que características como a magnitude da revolução social iniciada por Miguel Hidalgo, ou o fato da independência mexicana ter se consumado por meio de um acordo “não violento” entre elites políticas e militares o distinguiram dos demais abordados no livro, afirmando que:
[…] las características señaladas dan al Virreinato de la Nueva España un lugar distinto, que acrecienta su carácter distintivo por el hecho de que, como es sabido, se trataba del territorio más rico, más poblado y cuya capital, la Ciudad de México, no tenía parangón en el contexto hispanoamericano (p.148).
Por certo, o autor não deve desconsiderar especificidades como essas, aliás presentes em toda parte e em todo tempo no processo geral que analisa; porém, ao colocar a Nova Espanha nesse lugar, sendo ele próprio um historiador mexicano, o livro de Breña parece recomendar ao leitor a sensação de cautela quanto à adequação de considerar-se esse um caso verdadeiramente peculiar. Caso contrário, não se perderia aí um dos elementos mais ricos que ele mesmo nos mostra, isto é, o caráter geral de um contexto e de um processo cravado de particularidades?
Os últimos dois capítulos, 7 e 8, apresentam, respectivamente, discussões de caráter metodológico e historiográfico. No 7, é possível acompanhar um profícuo debate metodológico que nos leva à posição do autor frente a imersão dos processos revolucionários hispânicos no denominado “ciclo revolucionário atlântico”. Breña reconhece que a adoção do enfoque atlântico pode trazer contribuições importantes, mas também postula que tal perspectiva tende, de maneira geral, a realçar semelhanças e continuidades entre processos específicos, pouco considerados como tais. Para o autor, a falta de similitudes entre, por exemplo, as revoluções norte-americana, francesa e as hispano-americanas, e o fato destas últimas terem sido majoritariamente conformadas por guerras civis a envolverem diversos grupos étnicos, realçariam diferenças pouco ou nada valorizadas por aquele enfoque. Aqui, Breña não nega denominadores comuns ou influências recíprocas entre tais revoluções, mas ressalta a inconveniência de interpretar as hispânicas como resultado de um suposto contagio ideológico-doutrinal proveniente dos Estados Unidos ou da França, postura reveladora de uma forte carga anglo-saxã contida em muitos dos adeptos do enfoque atlântico.
Por fim, o capítulo 8 apresenta posições e um compromisso de Breña frente à questão das comemorações dos bicentenários das revoluções hispânicas. Para ele, as mesmas deveriam favorecer a abertura de espaço para publicações, seminários, congressos, etc., que elaborassem, incentivassem e promovessem, além de uma revisão historiográfica crítica, uma visão mais complexa e abrangente dos acontecimentos do mundo hispânico entre 1808 a 1830. O autor manifesta que essas comemorações poderiam representar inclusive uma excelente oportunidade para a expansão do tema para além dos circuitos acadêmicos (o que não necessariamente implica o abandono do rigor metodológico), o que evoca novamente um dos objetivos bem cumpridos deste livro.
Permeado por notas explicativas e comentadas que ajudam a situar o leitor em debates mais amplos, e encerrado com um apêndice a oferecer “una bibliografía mínima de literatura secundaria sobre las revoluciones hispánicas desde la perspectiva, sobre todo, de la historia política e intelectual”, El império de las circunstancias, com seu forte teor crítico e amplo repertório de conhecimentos da matéria, representa indubitável contribuição positiva a uma historiografia que não para de crescer ao passo que – felizmente – não cessa de se renovar (p.299).
Priscila Ferrer Caraponale – Doutoranda em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil). E-mail: priscilaferrer@usp.br
BREÑA, ROBERTO. El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española. México, D.F.: EL Colegio de México; Centro de Estudios Internacionales, 2013. Resenha de: Priscila Ferrer Caraponale. O ciclo revolucionário hispânico e suas “circunstâncias”. Almanack, Guarulhos, n.8, p. 162-165, jul./dez., 2014.
As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América | Keila Grinberg
O livro “As Fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, compilado pela professora e historiadora Keila Grinberg é resultado de um seminário organizado pela mesma autora, e que foi realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em junho de 2011. Pode-se dizer que o seminário foi fruto do que diversos historiadores têm produzido nos últimos anos sobre o tema da escravidão e da liberdade nas fronteiras platinas. A nova historiografia da escravidão – como assim tem sido chamada – permitiu que novos assuntos entrassem em pauta, ampliando as facetas da organização da sociedade escravista e complexificando as relações entre senhores e escravos.
Em todos os textos que compõem este livro é possível perceber os novos debates realizados no seio da ciência histórica e que consequentemente afetaram também a temática da escravidão e da liberdade no sul da América. Novas narrativas, novos personagens, novas fontes. Parece que o célebre livro Nouvelle Histoire, organizado por Jacques Le Goff e Pierre Nora ainda dão eco em nosso tempo. O leitor verá também que cada artigo traz importantes contribuições de pesquisas desenvolvidas por especialistas na área. Não há dúvida que Keila Grinberg conseguiu unir em seu seminário os principais historiadores da atualidade que se debruçam sobre os temas da fronteira, escravidão e liberdade.
O texto introdutório de Keila Grinberg não busca ser somente um apanhado do que o leitor encontrará no livro, mas apresenta algumas questões que a autora considera pertinentes para entender a história da escravidão e liberdade no sul da América. A primeira delas é que o livro apresenta histórias de “pessoas escravizadas”. Ou seja, um olhar microscópico, em que as experiências dos indivíduos são ricas para se entender o intricado processo de formação dos estados nacionais. Lembramos aqui da própria tese da professora Keila, que buscou investigar a trajetória do mulato Antônio Rebouças e usou sua história como porta de entrada para entender questões de direito, justiça e cidadania no século XIX (O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002).
Sobre essa questão é importante recordar dos trabalhos de Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes (São Paulo: Companhia das Letras, 1989), e o de Giovanni Levi, A Herança Imaterial (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000). Ambos utilizavam a trajetória de um indivíduo para analisar os costumes de toda uma sociedade. Ginzburg usou o moleiro Menóquio para mostrar como um indivíduo excêntrico, que sabia ler e escrever num tempo onde isso era raro, tencionou com os dogmas da Igreja Católica. E Levi utilizou o pároco Chiesa para evidenciar a importância do nome e da influência de seu pai na vila de Piemonte. Estes trabalhos foram os grande ícones da Micro-História italiana e inspiraram toda uma geração de historiadores. Jacques Revel, já na década de 1990, trazia o conceito de jogos de escalas, em que a estrutura social e os indivíduos não eram antagônicos, mas eram visões diferentes que podiam ser somadas e complementadas. O leitor verá nesta resenha histórias de escravos e libertos enquanto sujeitos históricos, conscientes de sua vida e de seus limites.
Keila Grinberg também destaca o conceito de fronteira que os autores do livro utilizam. Não como uma barreira, um limite político que separam nações, mas como uma construção histórica. Afinal, a fronteira é também o que os atores fazem dela. É pertinente lembrar também do conceito de fronteira manejada, aplicada por uma das autoras deste livro, Mariana Thompson Flores, em sua tese recentemente publicada (Crimes de fronteira. A criminalidade na fronteira meridional do Brasil, 1845-1889. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014). Mariana faz uma excelente revisão historiográfica sobre este conceito, mostrando que os historiadores mais tradicionais buscavam uma fronteira que o ajudassem a justificar a condição brasileira original. Ou seja, transformar o Rio Grande do Sul integrado mais ao Brasil do que às colônias platinas. A partir da década de 1990 a fronteira passa a ser vista menos como um limite e mais com um espaço de trocas e embates. Esta visão, mais conciliatória, foi defendida por historiadores brasileiros (Helga Piccolo, César Guazzelli, Helen Osório, Enrique Padrós), mas também por estudiosos uruguaios e argentinos. Posteriormente, historiadores como Mariana Thompson Flores e Luís Augusto Farinatti, muito envolvidos em fontes primárias, perceberam que a fronteira era mais dinâmica do que as polarizações defendidas anteriormente. A fronteira manejada, ou seja, construída, era uma mutação que se alterava em virtude da ação humana e também dos conflitos políticos e sociais existentes no local. Este último conceito será bem percebido nos textos aqui resenhados.
Um dos temas mais frequentes que o leitor verá neste livro são as chamadas fugas para o além-fronteira, conceito cunhado pelo historiador Silmei Petiz. Keila mostrará que a fuga era coisa antiga, que desde a Colônia de Sacramento, em 1762, havia decretos que davam a liberdade aos escravos que fugissem. O mesmo acontecerá ao longo do século XIX, nas colônias espanholas de Jamaica, Cuba e Santo Domingo. Ou seja, as fugas traziam tensões e problemas diplomáticos, pois havia, em toda América, nações abolicionistas e escravistas que faziam fronteiras entre si. É o caso, por exemplo, de Brasil e Uruguai.
Hevelly Ferreira Acruche será a única historiadora a tratar do século XVIII e, mais especificamente, do caso de Buenos Aires, Argentina. Seu artigo apresenta duas histórias e três personagens: o primeiro, Joaquim Acosta, desertor de Rio Pardo, que fugiu em 1772 e obteve do vice-rei de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, a possibilidade de estabelecer-se em terras hispânicas como pessoa livre; e os pardos Jerônimo e Francisco, que vieram do Brasil para serem vendidos como escravos em Buenos Aires, porém, mesmo afirmando serem de condição livre foram devolvidos ao comerciante Domingos Peres, por não apresentarem provas suficientes de suas liberdades. Acruche aponta para uma questão importante: as histórias de Joaquim e de Jerônimo e Francisco tiveram resultados distintos, o que evidencia que as questões de escravidão e liberdade que chegavam a Buenos Aires eram complexas e precisam ser analisadas particularmente, dentro de contextos específicos.
O texto seguinte é da historiadora uruguaia Natalia Stalla, que apresenta dados interessantes sobre o peso demográfico da população africana no litoral e na fronteira do Uruguai. Seu artigo, a partir de uma análise mais quantitativa, analisou a população dos departamentos de Colônia e Soriano, regiões litorâneas, buscando comparar com dados anteriores sobre escravidão na fronteira com o Brasil. Em ambos os departamentos, a população masculina era mais numerosa do que a feminina, e tratava-se de uma escravaria jovem, contando com cativos em idade produtiva. No entanto, os números de escravos foram baixos. Em Colônia, 8% e Soriano, 7% dos habitantes. Principalmente, comparando com os dados de Cerro Largo (25%), Tacuarembó (29%), Rocha, (26%). A contribuição de Stalla está em evidenciar a população negra no Uruguai a partir de dados quantitativos, que permitem comparar com as populações afrodescendentes do Brasil e da Argentina.
O artigo de Rachel Caé trata da produção de discursos abolicionistas no Uruguai no ano de 1842, estudando principalmente como a imprensa percebeu o tema da liberdade e da cidadania dos negros, escravos e libertos. O jornal El Nacional defendia a abolição total da escravidão, já o El Constitucional rechaçava tal decisão. A imprensa em Montevidéu estava dividida. Não havia consenso. A contribuição de Caé está em mostrar que as questões de abolição no Uruguai não estavam, somente, atreladas a guerra, mas sim a um conjunto de discursos de liberdade que foram suscitados e eram anteriores ao conflito.
Em seguida temos o ensaio de Carla Menegat, que aborda a presença de proprietários brasileiros estabelecidos no Uruguai entre os anos de 1845 e 1864. A partir de um interessante conjunto de listas, Carla busca mostrar a importância da presença brasileira em solo uruguaio e utiliza a família Brum da Silveira para evidenciar as suas estratégias no que tange os negócios e sua cidadania. Seu trabalho também aponta para como os uruguaios trataram o processo de abolição da escravatura em virtude da presença brasileira em seu solo. Segundo Menegat, com o passar dos anos surgem campanhas de “orientalização” em busca de uma homogeneização da língua e do abandono do uso do português. Em outras palavras, se queria tornar o Uruguai mais unido e com uma identidade nacional própria.
O tema das fugas cativas volta em cena com o texto de Daniela Vallandro de Carvalho. Especificamente, Daniela trabalha com as fugas em tempos de guerra, usando como mote a Guerra dos Farrapos e a Guerra Grande. A autora utiliza também algumas trajetórias para dar vida e sentido para os planos dos escravos. Para Carvalho, a guerra era um excelente momento para que os escravos obtivessem a liberdade: ou por servirem em fileiras de guerra, ou para serem leais e conseguirem mais prestígio com seus senhores. Uma de suas importantes contribuições está em demonstrar que os cativos usavam o Exército para sua maior mobilidade e posterior liberdade.
O artigo de Marcelo Santos Matheus foca em um município fronteiriço específico, o de Alegrete. Sua questão-problema levantada foi como a fronteira influenciou diferentes agentes históricos, tanto os cativos como seus senhores. Alguns casos mostraram como os escravos utilizavam estratégias para chegarem à liberdade e ao mesmo tempo como os senhores manejavam a fronteira ao seu favor. Um dos destaques de seu texto está em mostrar como os escravos usavam a Justiça para conseguirem sua alforria, usando para isso uma interpretação das leis de abolicionistas uruguaias que servisse aos seus interesses. Foi o caso dos cativos que pediam alforria por terem trabalhado no Uruguai após a lei abolicionista de 1842.
Seguindo pelo pagos de Alegrete, o texto de Mariana Thompson Flores nos brinda novamente com o tema das fugas, mas deixa claro de que mesmo que tal assunto tenha sido abordado com frequência, ainda existem aspectos que merecem ser melhor explorados. É o caso do papel dos sedutores que ajudavam e convenciam os escravos a fugirem. Nos processos criminais analisados, Mariana encontrou cinco casos onde os escravos fugiam por conta própria e catorze situações onde houve a participação do sedutor, que os persuadia a uma vida melhor do outro lado da fronteira. A Justiça bem que tentou incriminar os sedutores de escravos e, em muitos casos, conseguiu. Porém, Mariana apresenta diversos casos empíricos que mostram como escravos e sedutores (homens livres ou libertos) aproveitaram deste contexto fronteiriço e se beneficiaram disso.
Continuando com o tema das fugas de escravos para o além-fronteira, Thiago Araujo apresenta o assunto em outra perspectiva, focando nas dificuldades do percurso e na difícil tarefa dos escravos romperem com o mundo da escravidão. Seu objetivo foi mostrar quais eram os mecanismos de controle e vigilância que os senhores acionavam num universo de escravidão na pecuária. A partir do caso de fuga de José, Leopoldino e Adão, Araújo mostra como os senhores de escravos precisavam pensar em políticas de domínio para evitar a fuga de seus cativos. Araújo evidencia que em alguns casos nem a família escrava impedia que os cativos fugissem.
Se Thiago Araújo investigou a fuga de escravos para o Uruguai, o texto de Rafael Peter de Lima aborda outra faceta da escravidão em regiões de fronteira: os sequestros e raptos de negros uruguaios que eram vendidos como escravos no Império do Brasil. Rafael mostra como era difícil definir a condição de afrodescendentes em áreas de fronteira. E mais do que isso. Os problemas diplomáticos e internacionais que surgiam devido a questão do fim ou da permanência da escravidão. Lima também apresenta dados muito interessantes como, por exemplo, o sexo e a idade das vítimas dos sequestros. As mulheres em idade produtiva eram as mais raptadas neste cenário. Por fim, Rafael também nos brinda com dados que apontam que os cônsules uruguaios tiveram sucesso na defesa dos negros orientais na Justiça. Em pouquíssimos casos eles permaneciam na escravidão.
E para finalizar temos o artigo da historiadora uruguaia Karla Chagas que, dos textos apresentados aqui, é o que mais se diferencia em termos de tema e delimitação temporal. Karla avança os marcos da escravidão e apresenta uma entrevista realizada a uma afrodescendente, Cecília, nascida em Rivera em 1904. Seu ensaio pretendeu analisar as linhas de ruptura e de continuidade que houve nas condições de vida da população afro-uruguaia na virada do século XIX para XX. Destacam-se as diferentes estratégias que Cecília utilizou para melhorar suas condições de vida como a fuga de uma casa onde a maltratavam.
O conjunto de textos ora apresentados mostra o avanço das pesquisas sobre a escravidão no espaço platino nos últimos anos. Infelizmente historiadores argentinos não escreveram textos para este livro. Mas muito se tem pesquisado sobre a influência e o impacto da fronteira na vida de senhores e escravos. Também a importância que as leis abolicionistas uruguaias de 1842 e 1846 tiveram para a (des)organização do sistema escravista brasileiro, principalmente, no Rio Grande do Sul. Este livro é o resultado deste cenário. Mostra, entre outras coisas, como as especificidades regionais precisam ser levadas em conta, mas sem perder de vista que os sujeitos históricos possuíam planos próprios que, por vezes, desafiavam o contexto que os mesmos estavam inseridos. Quem for ler o livro “As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, organizado pela professora e historiadora Keila Grinberg verá histórias individuais amalgamadas em um contexto mais amplo de disputa e consolidação dos Estados Nacionais. A riqueza está na coletividade e no diálogo que gerou este livro.
Jônatas Marques Caratti – Doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – Porto Alegre/Brasil). E-mail: jonatastascaratti@gmail.com
GRINBERG, Keila (org.). As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. CARATTI, Jônatas Marques. Escravidão e Liberdade nas fronteiras platinas. Almanack, Guarulhos, n.8, p. 166-169, jul./dez., 2014.
A fascinação weberiana: As origens da obra de Max Weber – MATA (AN)
MATA, Sérgio da. A fascinação weberiana: As origens da obra de Max Weber. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. 236p. Resenha de: CUNHA, Marcelo Durão Rodrigues. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, p. 417-426, jul. 2014.
Na linha de estudos atuais no campo da história intelectual e das ideias, o professor Sérgio da Mata realiza em A fascinação weberiana: as origens da obra de Max Weber um trabalho que, dentre outros objetivos, busca elucidar as bases do encantamento intelectual, da sedução que a obra de Max Weber suscita na comunidade acadêmica em todo o mundo.
A “fascinação” – termo cunhado na década de 1950 por Nelson Werneck Sodré – denota, segundo o historiador mineiro, um tipo de tentação intelectual que, de forma ambivalente, poderia levar ao mesmo tempo à obliteração da autonomia da obra de um autor, bem como à sua consequente abnegação no campo das ideias.
Na contramão deste caminho entre fascinação e sacrifício do intelecto, Sérgio da Mata traz um instigante estudo acerca do legado weberiano, desde a dívida do intelectual para com a Escola Histórica Alemã até os caminhos e as fronteiras da recepção de sua obra em terras brasileiras.
Ancorados num extenso trabalho de pesquisa em arquivos e bibliotecas alemãs, os estudos reunidos pelo Weberforscher brasileiro baseiam-se em uma melhor compreensão dos chamados “anos de aprendizagem”, de formação histórico-jurídica do intelectual alemão, antes do seu tardio sociological turn, ao fim da primeira década do século vinte.
Com o princípio metodológico básico de analisar apenas o que antecede esse marco, preocupando-se com o “início” e o desenvolvimento progressivo da vida intelectual weberiana, o autor evita a tendência a panoramas retrospectivos ou a um tipo de teleologismo muito comum em abordagens sobre obra de Weber, ainda perceptível em trabalhos recentes, como os de Francisco Teixeira e Celso Frederico (TEIXEIRA; FREDERICO, 2011), ou no artigo de Gerhard Dilcher (DILCHER, 2012).
Tendo como pressuposto a elevação feita pelo próprio Weber da ciência histórica à categoria de Grundwissenschaft, o pesquisador enxerga na formação intelectual do autor de A ética protestante uma perspectiva que seria sempre e decididamente histórica. Essa ideia de um approach weberiano às ciências históricas – que há alguns anos causaria estranhamento a leitores desatentos – é a base do argumento de Mata em boa parte de sua obra.
Em um exercício de história contrafatual, o autor chega mesmo a sustentar que, caso a carreira de Weber tivesse se encerrado em 1909, este dificilmente estaria situado entre os fundadores da moderna sociologia alemã.
É em tal provocação que reside a tentativa por parte do historiador de reconstrução da trajetória de Weber dentro daquilo que denomina a “era de ouro do historicismo”. Discordando de interlocutores que tendem a observar na virada do oitocentos ao século vinte o germe de uma crise da ciência histórica, Mata vê, pelo contrário, na fundamentação epistemológica do historicismo – realizada por Dilthey, Schmoller, Bernheim, Windelband e Rickert no período – uma indissociável gênese da obra e da metodologia weberianas.
É justamente fugindo da sombra da sociologia de Max Weber que o autor inicia todo um capítulo acerca daqueles anos de aprendizagem em Heidelberg, Göttingen e Berlim – “três templos da ciência histórica oitocentista” (MATA, 2013, p. 35) –, quando o jovem “jurista” formar-se-ia em um ambiente intelectual amplamente influenciado pela Weltanschaung histórica.
Mata busca aqui identificar algumas das figuras que mar‑caram o início da trajetória intelectual do estudante oriundo de Erfurt para concluir que Weber foi, nem mais nem menos que qualquer contemporâneo seu, o resultado dos estilos de pensamento histórico
419.
Anos 90, Porto Alegre, eentão vigentes. Seus laços familiares com o eminente historiador Hermann Baumgarten, a simpatia inicial pelo trabalho de Heinrich von Treitschke, além do convívio do jovem Max com o círculo de Theodore Mommsen, são alguns dos muitos indícios que corroboram a tese do autor.
Desconstruindo a ideia de que Weber teria rejeitado, ou mesmo se oposto à ciência histórica de seu tempo, o historiador nos prova o contrário a partir de um olhar atento sobre a pouco estudada primeira fase da carreira do intelectual germânico. Considerando a perspectiva trazida por Mata nesse primeiro capítulo, torna-se fácil concordar com sua assertiva, segundo a qual “Max Weber começou a tornar-se o Max Weber que conhecemos no berço esplêndido do historicismo alemão” (MATA, 2013, p. 35).
Mas, longe de limitar a ascendência intelectual do jovem autor aos domínios da Ciência Histórica, Mata fornece-nos o panorama de toda uma constelação de ideias e relações intelectuais que teriam influenciado a formação do economista e historiador do direito Max Weber.
A partir da leitura sincrônica de alguns dos mais importantes estudos históricos e econômicos publicados pelo autor até 1905, Mata é capaz de identificar um padrão metódico comum na obra do então professor de Heidelberg. Ao tratar em especial da concepção plural das relações de causalidade e, ao mesmo tempo, da tendência de Weber a enfatizar determinadas macrodeterminações em função do problema específico elucidado, o pesquisador contesta aquelas leituras que tendem a exagerar a perspectiva “idealista” do autor alemão.
É este apurado exame dos primeiros trabalhos de Weber que permite ao historiador chegar a duas conclusões gerais: primeiro, que Weber (ao menos na primeira fase de sua carreira) não teria proposto nem se tornado refém de uma “teoria” histórico-social abrangente. Segundo, que somente o desconhecimento em relação à obra weberiana explicaria por que se chegou a ver no autor de Erfurt uma versão idealista de Marx. E são justamente as preocupações práticas que permitem ao historiador identificar uma “clavis weberiana” – especialmente nos vinte primeiros anos da trajetória intelectual do autor. Por trás da inteligência teórica, Weber falaria sempre em uma intenção prática.
Na trilha do que persegue nas digressões teóricas de um Weber prematuro, Mata procurará, entretanto, nas publicações tardias do intelectual turíngio, sinais de uma possível concepção filosófica da história. Principalmente no que tange à sua percepção do processo de racionalização ocidental e no caráter inexorável que atribui ao conceito de Rationalizierung, o autor brasileiro irá buscar no resultado das investigações empíricas weberianas possíveis ligações com a obra do historiador escocês Thomas Carlyle.
Por sua “extraordinária força ética” e pelo ideal de reforma social em harmonia com a recusa a toda alternativa que implicasse a subversão violenta da ordem, Carlyle tornara-se bastante sedutor aos olhos da intelectualidade alemã do fin-de-siècle. Do autor de Past and Present, Weber herdara, por exemplo, aquela ampla dimensão atribuída ao trabalho na modernidade e as idiossincrasias da noção de “heroís‑mo carismático” no cerne do processo de burocratização ocidental.
Exercício semelhante é feito pelo autor no que diz respeito à dívida weberiana ao pensamento do filósofo neokantiano Heinrich Rickert. Distanciando-se da apressada leitura de Ivan Domingues (DOMINGUES, 2004) e dos equívocos cometidos por Fritz Ringer (RINGER, 2004) na análise de tal relação, Mata insiste na necessidade de entendimento dos pressupostos rickertianos para melhor compreensão dos fundamentos do pensamento histórico de Weber. Do autor de Os limites da formação de conceitos nas ciências naturais, Weber extraíra a ideia de que as pré-condições à caracterização de um trabalho de história como científico seriam: objetividade, contextualização e imputação causal. Weber teria expressado bem esta preocupação de Rickert ao observar que o historiador que abre mão dessas pré-condições comporia “um romance histórico, não uma verificação científica”.
Além disso, do filósofo prussiano, teria sido importante para o economista político aquele abrangente conceito de cultura – segundo o qual o cultural seria qualquer realidade investida não apenas de sentido, mas de valor – e o seu ideal de “verdade” como um valor do qual a ciência jamais poderia abrir mão. Longe de expressar um relativismo, o perspectivismo histórico weberiano, como exposto por Mata, estaria muito mais próximo daquele modesto ideal de verdade defendido por Rickert. 420 Marcelo Durão Rodrigues da Cunha.
Abertas tais perspectivas críticas quanto à análise das origens do pensamento histórico weberiano, Sérgio da Mata amplia o debate no quarto capítulo, ao tratar da discussão em torno da “teoria” dos tipos ideais, desenvolvida por Weber. É realizando uma história do próprio conceito em tela que o autor relativiza a originalidade da tal aspecto do pensamento teórico-metodológico do intelectual alemão.
Expressando uma tentativa de fundamentar a perspectiva tipologizante nas ciências naturais, o autor alerta que a noção de “tipo” havia se tornado um jargão na Alemanha entre fins do século dezenove e início do vinte. Como reverberação da Methodenstreit entre economistas alemães e austríacos – envolvendo nomes como Gustav von Schmoller e Carl Menger (RINGER, 2000) – e do debate, igualmente intenso, que contrapôs historiadores políticos a historiadores culturais (ELIAS, 1997, p. 117), Mata verifica a percepção de alguns daqueles limites do historicismo que contribuíram para a reformulação epistemológica da disciplina histórica na Alemanha guilhermina. Nas discussões entre Eberhard Gothein, Dietrich Schäfer e Ernst Troeltsch, seria perceptível o embate acerca da utilidade de categorias tipológicas que visassem a extrapolar os limites do singular na representação de fenômenos históricos.
É também na ciência jurídica e na ligação de Weber com o jurista Georg Jellinek que Mata identifica como o autor do artigo sobre a “Objetividade”, de 1904, teria feito uso dos “tipos empíricos” de Jellinek, invertendo seus polos – os denominando “tipos ideais” – de modo a se distanciar de seu elemento propriamente normativo, – aproximando-os do que classificava como “ciências da realidade”.
A dívida de Weber para com a teologia – e aqui destacam-se as formulações de Ernst Troeltsch – é ressaltada como igualmente importante naquilo que se tornaria tão central em sua obra. Como uma espécie de conceito jurídico “desnormativizado”, o tipo ideal weberiano representaria uma forma de compromisso entre o abandono e a conservação da filosofia da história, sendo, nesse sentido, uma “forma resignada da filosofia da história”. Mais do que simples‑mente comprovar que não há originalidade na “teoria” weberiana dos tipos ideais, Mata é capaz de trazer novamente à tona uma série de debates entre eruditos que outrora padeciam em um longo período de esquecimento.
Ao tratar de outro controverso aspecto da obra de Weber, a “isenção de valor” ou “neutralidade axiológica” (Wertfreiheit) do conhecimento histórico social, o autor opta por reconstruir a evolução de tal sentido na obra de Weber, contrapondo a posição do intelectual às de alguns de seus contemporâneos. Em trabalhos como o ensaio sobre a “Objetividade” ou em A ética protestante, além do diálogo com as obras de Rickert e Schmoller, o historiador evidencia, em um primeiro momento, que há na obra de Weber uma preocupação com o “dever ser” (Sollen) do erudito que extrapola o campo propriamente epistemológico, estendendo-se também à ética da prática pedagógica.
Mata conclui que Weber sustenta a opinião segundo a qual o historiador, o jurista e o sociólogo podem e devem ter sua própria visão de mundo, sua ética e suas convicções políticas, mas não a ciência histórica, o direito e a sociologia enquanto tais. Weber afirmaria querer se afastar dos adeptos de uma neutralidade axiológica “radical”, para quem a historicidade dos postulados éticos deporia contra a importância histórica destes. Ao mesmo tempo, julgaria que não cabe à ciência empírica valorar positivamente uma ética só por ela ter dado forma a épocas e culturas inteiras. Nesse sentido, a neutralidade axiológica weberiana residiria, em última análise, numa transposição da ética da convicção para o campo gnosiológico.
Apontando o caráter estritamente formal da solução weberiana para o problema dos valores, além de sua posição pouco consequente do ponto de vista filosófico, Mata joga luz sobre o tão atual debate acerca das relações entre ciência e consciência moral.
Dando prosseguimento ao debate acerca da influência do pensamento weberiano na ciência histórica, o pesquisador ambiciona, no sexto capítulo, compreender os motivos do amplo desconhecimento a respeito da obra de Weber – tanto no Brasil quanto no exterior – e do seu legado para o ofício dos historiadores.
Dedicando-se ao entendimento de alguns importantes aspectos da visão de Weber sobre a ciência histórica, Mata analisa a opinião do intelectual frente aos escritos de três relevantes historiadores – Leopold von Ranke, Karl Lamprecht e Eduard Meyer – de modo a melhor aproximar-se de sua própria visão a respeito do tema.
Em tal exercício, o historiador conclui que tudo parece afastar as posições de Weber, sobretudo, do segundo desses autores. Os argumentos apresentados na polêmica com Meyer levam-no, toda‑via, a concluir que entre a história “positivista” de Lamprecht e a história compreendida como “ciência cultural” de Weber existiam evidentes afinidades eletivas. Mata percebe que ambos se reconheciam como representantes de uma história cultural que desafiava abertamente os rígidos cânones historiográficos vigentes.
A aproximação com o trabalho do Weber historiador no atual momento do que classifica como “crises de sentido intersubjetivas” seria, segundo Mata, profícua na medida em que – distanciando-se de uma perspectiva de exagero do ficcional – este versaria sobre uma ciência preocupada com os desdobramentos do real.
Nos capítulos seguintes, o autor reitera tal posição referente à relevância da Weberforschung no presente, ao analisar o uso do conceito de “despotismo oriental” e o debate acerca da existência de uma posição religiosa e de uma teologia política na obra de Max Weber.
No primeiro caso, em um pequeno excurso complementar, Mata empreende uma elucidativa avaliação dos escritos weberianos acerca da situação política na Rússia do início do século vinte. Em sua análise, o autor conclui que Weber surpreendentemente mantém sua opinião a respeito do suposto imobilismo russo – de forma coerente com o que era pensado pelos fundadores do materialismo histórico em sua noção de “despotismo oriental”.
No segundo, Mata reserva dois capítulos inteiros para debater a complexa relação do autor em tela com a teologia e a prática religiosa. A partir de uma perspectiva própria à história das ideias, o historiador enaltece a importância do homo religiosus Max Weber para o “estudioso da religião Max Weber”. Em uma minuciosa análise da trajetória dos estudos teológicos de sua família, além das relações do jovem jurista com seu primo Otto Baumgarten, o autor percebe que, longe do que era pregado por Friedrich Schleiermacher, Weber entendia que vida religiosa interior e ação transformadora no mundo não deveriam nem poderiam se contradizer.
Mais adiante, ao discutir a existência de uma teologia política por trás da Ética protestante, o autor traz – em recurso a elementos sociopolíticos, acadêmicos e biográficos do contexto de produção da obra – uma surpreendente interpretação do mais conhecido trabalho do intelectual alemão. Levando em consideração elementos biográficos, além da posição do autor diante da política de seu tempo, Mata é capaz de perceber no estudo de história cultural weberiano tanto a expressão tardia do Kulturkampf1 quanto um tratado de teologia política.
Tratando ainda do clássico estudo de Weber, o historiador irá desconstruir no capítulo seguinte o que considera a formulação do mito de A ética protestante e o espírito do capitalismo como obra de sociologia. Considerando a forma pela qual o autor emprega as categorias de “tipos ideais” – “uma construção mental destinada à medição e caracterização sistemática de conexões individuais, isto é, importantes devido à sua especificidade” (WEBER apud MATA, 2013, p. 180) –, Mata percebe em tal recurso heurístico a tentativa por parte do autor de facilitar a identificação e a análise de realidades percebidas como singulares, que seriam, em última instância, históricas. Além disso, declarações do próprio Max Weber e uma análise do contexto de produção historiográfica do período corroboram a tese do historiador mineiro, segundo a qual A ética protestante teria sido concebida, antes de tudo, como um estudo de história cultural.
Uma última e relevante preocupação de Mata em seu traba‑lho diz respeito à recepção da obra de Max Weber entre historiadores brasileiros desde o início da difusão de seus escritos em território nacional ao longo do último século. De uma favorável leitura de suas ideias durante as décadas de 1930 e 1940 – em interlocutores como Sérgio Buarque de Holanda e José Honório Rodrigues – à crítica e incompreensão de sua “interpretação espiritualista da História” Mata busca em nossa historiografia aquele “elo perdido” entre a obra weberiana e sua interpretação por interlocutores locais.
Neste caminho de reconstrução de itinerários e desmistificação de noções há muito atreladas à herança weberiana, o autor brasileiro erige novas perspectivas úteis à apreciação do “mito de Heidelberg” e de sua obra. Como alternativa a uma ótica demasiado contextualista, Mata opta por trabalhar com a noção de constelações intelectuais e suas delimitações (HEINRICH, 2005, p. 15-30) – ou “espaços de pensamento”. Tal esforço metodológico, conforme buscou-se demonstrar no curto espaço desta resenha, é coroado pelo sucesso da análise do autor em combinar contextos e insights biográficos, fornecendo-nos um panorama das principais conquistas da obra histórico-sociológica de Max Weber.
Se um dos objetivos de Sérgio da Mata – conforme exposto em suas últimas digressões – estava associado à compreensão de um autor dedicado à história como ciência da realidade, pode-se considerar que seu trabalho cumpre à risca a intenção de trazer à tona tal debate. De posse daquela “coragem diante do real” e diante da recente tendência à “ficcionalização de tudo”, Mata é capaz de perceber em seu estudo o quanto o legado de Max Weber se mostra cada vez mais relevante ao entendimento do real enquanto vocação e profissão também no mundo contemporâneo.
Notas
1 Política implementada pelo chanceler Otto von Bismarck entre 1871 e 1878 com o objetivo de secularizar o Estado alemão e eliminar a influência da Igreja Católica Romana sobre a cultura e a sociedade germânica do período.
Referências
DIEHL, Astor Antônio. Max Weber e a história. Passo Fundo: Ediupf, 2004.
DILCHER, Gerhard. As raízes jurídicas de Max Weber. Tempo social, v. 24, n. 1, p. 85-98, 2012.
DOMINGUES, Ivan. Epistemologia das ciências humanas. São Paulo: Loyola, 2004.
ELIAS, Norbert. “História da cultura” e “história política”. In:______. Os alemães: A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
HEINRICH, Dieter. Konstellationsforschung zur klassischen deutschen Philosophie. In: MUSLOW, Martin; STAMM, Marcelo (Hrsg.). Konstellationsforschung. Frankfurt am Main: C.H. Beck, 2005.
HÜBINGER, Gangolf. Max Weber e a história cultural da modernidade.
RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins alemães: a Comunidade Acadêmica Alemã, 1890-1933. São Paulo: Edusp, 2000.
______. A metodologia de Max Weber. São Paulo: Edusp, 2004.
TEIXEIRA, Francisco José Soares; FREDERICO, Celso. Marx, Weber e o marxismo weberiano. São Paulo: Cortez, 2011.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1968.
______. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Marcelo Durão Rodrigues da Cunha – Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista Fapes. E-mail: marceloduraocunha@gmail.com.
Revisitando o Caribe: antigos e novos temas sobre sua história / Revista Brasileira do Caribe / 2014
El presente número de la Revista Brasileira do Caribe (REBRASCA) contiene varios artículos en un dossier dedicado al Caribe que fue organizado y especialmente comenta el profesor Pedro San Miguel y otra sección de artículos con textos comparativos entre Caribe y Brasil de varios autores que actuan en Brasil. El dossier recoge diversos trabajos elaborados por académicos que, de una u otra forma, están vinculados con la Universidad de Puerto Rico (UPR), que es el principal centro docente en esa isla antillana. Dejemos a Pedro San Miguel el análisis de los artículos del dossier.
Durante décadas, la UPR ha establecido nexos con el resto del Caribe, los que han fructifi cado de variadas maneras. Por ejemplo, en el campus de Río Piedras de la UPR —que es el más importante de sus recintos— se encuentra el Instituto de Estudios del Caribe (IEC), que cuenta con una distinguida trayectoria desde su fundación en 1958. Con el IEC estuvieron vinculadas muchas de las principales fi guras de los estudios caribeños durante las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado.
Incluso, uno de sus inspiradores fue Eric Williams, uno de los grandes historiadores del Caribe. Durante los años más recientes, el IEC ha conocido un renovado esplendor gracias al impulso que le ha impartido su actual director, el doctor Humberto García- Muñiz, que es el más destacado caribeñista de la isla de Puerto Rico y cuya obra es ampliamente reconocida. Bajo la dirección del doctor García-Muñiz, el IEC ha promocionado un ciclo de Conferencias Caribeñas que abarcan una extensa temática y que ya supera las 200 conferencias. A esta labor de difusión se suma la revista Caribbean Studies, publicada desde el IEC y que se remonta al año 1961.
Y no es el IEC el único organismo de la UPR que tiene vínculos con el Caribe o cuyas gestiones han tenido reverberaciones en el. El Departamento de Historia, ubicado en la Facultad de Humanidades de la UPR, también ha tenido proyecciones y nexos con la región caribeña. Por ejemplo, una de las obras clásicas de la historiografía puertorriqueña, Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean: A Study in the Decline of Spanish Exclusivism (1952), de Arturo Morales Carrión — quien estuviera adscrito a dicho Departamento—, traza las interacciones de la sociedad local con su entorno caribeño durante los tres primeros siglos de dominación española. Al día de hoy, ésta es una de las obras fundacionales del caribeñismo académico puertorriqueño. Con el devenir de los años, otros profesores del Departamento de Historia de la UPR entablaron lazos estrechos con el resto del Caribe, efectuando investigaciones en torno a la región, intercambiando con caribeñistas de diversas latitudes, y participando y colaborando en variados proyectos académicos.
Entre esas personas se distinguen Andrés Ramos Mattei, Fernando Picó, Blanca Silvestrini, Javier Figueroa, Francisco Moscoso y Teresita Martínez-Vergne. Amén de la presencia de estos destacados historiadores, en el Programa Graduado del Departamento de Historia se ofrecen regularmente cursos acerca del Caribe, razón por la cual en los últimos años se han efectuado varias investigaciones por parte de los estudiantes que han culminado en tesis de maestría y de doctorado; algunos de estos trabajos se han publicado como libros y otros más han dado lugar a la aparición de artículos en revistas y en obras colectivas. Por todo ello, se puede afirmar que el Departamento de Historia de la UPR es un importante centro de investigación y difusión acerca del Caribe.
Así que al solicitarme la Revista del Caribe Brasileña que actuara como editor invitado en este número, me pareció apropiado ofrecer a los lectores una muestra del tipo de investigación y de refl exión que se ha venido realizando en el Departamento de Historia de la UPR. El dossier: Revisitando el Caribe: antiguos y nuevos temas sobre su historia, se inicia con una investigación de Juan Giusti-Cordero titulada Sugar and Livestock: Contraband Networks in Hispaniola and the Continental Caribbean in the Eighteenth Century. Su autor, un acucioso y puntilloso investigador que se desempeña como profesor en el Departamento, revisita uno de los temas clásicos de la historiografía caribeña, el contrabando. Tomando como eje central de su inquisición la Isla Española y siguiendo el rastro del comercio ilegal de reses y mulas, Giusti-Cordero nos ofrece un perfi l más complejo del Caribe, uno en el cual el azúcar no resulta omnipresente ni totalmente dominante. El Caribe, en fi n, no eran únicamente sus zonas cañeras, sino también sus áreas ganaderas, sus regiones de bosques, sus hinterlands, y, por supuesto, aquellos espacios donde predominaba la producción campesina.
Las articulaciones espaciales han constituido durante décadas una de las principales líneas de investigación de Giusti-Cordero. En ello no se encuentra solo, como evidencia el siguiente texto del dossier, en el cual Carlos D. Altagracia Espada elabora una interesante comparación entre cómo dos destacados intelectuales —haitiano uno, brasileño el otro— imaginaron a África. “Geografía africana e identidad en Jean Price Mars y Gilberto Freyre” representa una continuación de una línea de investigación cuyo autor viene desarrollando desde que elaboró su tesis doctoral en el Departamento de Historia de la UPR y que desembocó en la publicación del libro El cuerpo de la patria: Intelectuales, imaginación geográfi ca y paisaje de la frontera en la República Dominicana durante la Era de Trujillo (2010). Siguiendo el modelo de este trabajo previo, ahora Altagracia Espada —quien se desempeña como profesor en el recinto de Arecibo de la UPR— se aboca a rastrear cómo esos dos destacados intelectuales representaron la geografía y el espacio africanos. Conceptuado tradicionalmente el continente africano como el lugar por excelencia de la barbarie y hasta del salvajismo, el autor de este artículo sugiere que en los imaginarios caribeños y latinoamericanos África podía adquirir variados sentidos. Como región imaginaria, ese continente ha tenido un papel signifi cativo tanto en las discursivas letradas como en las populares, constituyendo una pieza clave en determinadas construcciones identitarias.
De los espacios y las geografías pasamos en el siguiente ensayo, de César Augusto Salcedo Chirinos, a los arcanos de la Iglesia católica, a sus (aparentemente) rigurosos procedimientos disciplinarios, y a sus pretensiones de controlar los cuerpos, de regir las voluntades y de domeñar a sus fi eles y sus servidores. Lo que nos brinda el autor de Sin delitos ni pecados: La negociación de la justicia eclesiástica en Puerto Rico (1795-1857) es un puntual análisis de las infracciones y las transgresiones del clero —en particular las de tipo sexual—, del funcionamiento de la justicia eclesiástica, así como de sus entresijos, subterfugios y argucias. De más está decir que la minuciosa investigación de Salcedo Chirinos —parte de su tesis doctoral en el Departamento de Historia de la UPR—, pese a referirse una época remota, es de una gran actualidad debido a los debates públicos que en la época contemporánea se han suscitado en torno a situaciones muy similares a las examinadas por él en su investigación. La misma constituye una muestra ejemplar de la pertinencia de la investigación histórica para comprender los problemas y los dilemas del presente.
Mas la vida no es sólo angustia y condena: también es gozo y fruición. Así que Nora Rodríguez Vallés —historiadora graduada del programa doctoral en Historia de la UPR, profesora en su recinto de Bayamón y, como si fuera poco, una destacada pintora— nos cautiva con un pionero estudio sobre el turismo en Puerto Rico, la dizque “Isla del encanto”. Citando en su título una popular canción que destaca el carácter edénico de la Isla, Seguro sueñas que estás en Puerto Rico, o sobre la historia del turismo en la Isla indaga los orígenes de esos imaginarios que fueron construyendo a este país caribeño como un lugar paradisiaco, capaz de seducir a quienes arribaran a sus playas. En esta investigación, la autora recurrió a las imágenes visuales como fuente primaria, razón por la cual su trabajo brinda elementos novedosos desde una perspectiva metodológica.
En torno a las representaciones de Puerto Rico trabaja, asimismo, Pablo Samuel Torres en Los cronistas del 98: Americanización y discurso colonial según la vanguardia capitalista. Sus fuentes son una serie de libros escritos y publicados a poco de haber tomado Estados Unidos posesión de la Isla de Puerto Rico como secuela de la Guerra Hispano-Cubano- Americana. El artículo que aquí se incluye es, igualmente, producto de una tesis doctoral recientemente aprobada. Con ella Torres se ha sumado a varios investigadores —Lanny Thompson, Mario Cancel y José Anasagazty, entre otros— que se han dado a la tarea de rastrear las formas en que los estadounidenses concibieron y representaron a Puerto Rico y a los puertorriqueños durante las primeras décadas del siglo XX. El trabajo de Torres abona este campo de investigación, atendiendo en particular los discursos de quienes él denomina la “vanguardia capitalista”, que llegó a Puerto Rico con la intención de sondear las posibilidades que para el capital estadounidense tenía la Isla, recién arrebatada a España.
El dossier se cierra con el sexto artículo, Una «mirada imperial» a la historia de Cuba: Our Cuban Colony de Leland Jenks, de mi autoría. Este texto escruta también las representaciones que desde Estados Unidos se elaboraron sobre el Caribe; en esta ocasión, es la isla de Cuba el objeto de examen.
El artículo se centra en el afamado libro Our Cuban Colony, obra publicada en 1928, el que marcó un hito importante en la historiografía cubana. Constituye, pues, un lugar apropiado para escrutar los imaginarios estadounidenses sobre Cuba e, incluso, en torno a las políticas del Coloso del Norte respecto del Caribe.
De más está decir que el conjunto de artículos que componen el dossier que he coordinado son sólo unos pocos ejemplos de las investigaciones que se han venido realizando en el Departamento de Historia de la UPR. Las que se incluyen aquí pretenden mostrar algunas de las vertientes de esa labor.
En nombre de los participantes en el dossier y en el mío propio, agradezco a la RBC y, en especial, a Olga Cabrera la oportunidad de poder presentarles esta pequeña muestra.
En relación a los artículos que componen la sección de textos comparados de Brasil con el Caribe lo integran, el séptimo, de Alexandre Araujo Martins, Lugares de Xangô, em Trinidad e no Brasil: contemporaneidade e diferença colonial, el cual revela algunas de las contradicciones que se derivan de las ideologías africanistas nacidas en América. El octavo, Diálogos transnacionais e interdisciplinares: Brasil/Caribe de Olga Cabrera e Isabel Ibarra, las autoras orientan seguir el camino del estudio de los procesos de formación de identidades, focalizando los grupos humanos simultáneos en el tempo…
[Original incompleto]Pedro San Miguel
SAN MIGUEL, Pedro. Revisitando o Caribe: antigos e novos temas sobre sua história. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.15, n.29, jul./dez., 2014. Acessar publicação original. [IF].
Ensino de história e história da educação: caminhos de pesquisa (Parte I) / História e Diversidade / 2014
O objetivo do dossiê temático “Ensino de história e história da educação: caminhos de pesquisa” (1) é compor um painel de diferentes experiências de investigação em torno das preocupações do ensino de história e da história da educação. A diversidade nos estudos evidencia intensa produção, indicando múltiplos caminhos, tendo como foco a educação, numa perspectiva histórica e o ensino de história. O presente dossiê apresenta textos de pesquisadores de diferentes regiões do país, em momentos distintos da formação acadêmica: são professores doutores, pós-graduandos, professores da educação básica e estudantes de graduação.
O artigo “Diretrizes para o ensino de história e a prática voltada à diversidade: um olhar multicultural”, de autoria de Aldieris Braz Amorim Caprini, propõe explorar como as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino da História Afro-Brasileira e Africana” podem ser pensadas no ensino de História, no sentido de promover a diversidade.
Em “Da resistência docente e discente para com projetos como o PIBID: um estudo do caso através de atividade com maquetes”, os autores André Haiske, André Luís Ramos Soares, Letícia Genron Schio e Luciano Nunes Viçosa de Souza, partem de um ano de experiência do PIBID Historia 2011 UFSM, e a resistência de alguns professores em trabalhar certos temas e questões em sala de aula.
Por seu turno, Astrogildo Fernandes da Silva Júnior e José Josberto Montenegro Sousa, no artigo intitulado “Didática da História: mediadora entre teoria e ensino de História”, refletem sobre a teoria, o ensino e a didática da história enquanto subsídios teórico-metodológicos de um projeto de pesquisa desenvolvido em colaboração com professores e jovens estudantes do ensino médio de uma escola pública estadual localizada na cidade de Ituiutaba, MG, Brasil.
Apresentar algumas reflexões realizadas na pesquisa de mestrado Currículo e Exame Nacional do Ensino Médio: rupturas e permanências na conformação dos saberes históricos escolares, é o horizonte do artigo “Saberes históricos escolares entre o currículo e o Exame Nacional do Ensino Médio (1998-2011)”, de Fabíola Matte Bergamin.
Igor Antonio Marques de Paiva, no artigo intitulado “Sobre provas objetivas e a interpretação da História”, discute o paradoxo posto pela critica epistemológica que afirma a legitimidade da pluralidade de leituras e interpretações nos processos históricos, e o fato das Ciências Humanas lidarem – por opção ou força do mercado educacional – com provas de questões de tipo objetiva em concursos e vestibulares.
Já o artigo “Ensino de História e currículo nos anos iniciais: reflexões sobre as concepções do ensino de História no curso de Pedagogia”, de autoria de Jaqueline Zarbato, aborda as discussões realizadas no curso de pedagogia do Centro Universitário Municipal de São José-USJ, sobre o ensino de História e sua representação, repercussão e importância no percurso do currículo de pedagogia.
Em “Histórias conectadas: apontamentos sobre teorias e metodologias de estudos comparados em educação”, Juliana Pirola da Conceição propõe uma reflexão sobre as opções teóricas e metodológicas que se colocam à investigação comparada de temas educacionais na América Latina, visando esclarecer as distinções entre Educação Comparada, História Comparada e História Comparada da Educação.
Por sua vez, Kênia Hilda Moreira,Eglem de Oliveira Passone e Samara Grativol Neves, apresentam um balanço da produção acadêmica em história da educação no Centro-Oeste, a partir dos trabalhos que utilizaram o livro didático como fonte de pesquisa, em “O livro didático como fonte de pesquisas em História da Educação no Centro-Oeste: entre temas, períodos e métodos”.
“Joaquim Manuel de Macedo e suas Lições de História Geral para o Brasil Império” é o título do artigo de Luís César Castrillon Mendes, que analisa as Lições de História do Brasil de Macedo, manual escrito a partir de anotações de sala de aula e serviram para formar inúmeras gerações de jovens da “boa sociedade”.
Em “A colônia indígena Teresa Cristina e suas fronteiras: uma possibilidade de aplicabilidade da Lei 11.645 / 08”, Marli Auxiliadora de Almeida apresenta fontes de pesquisa sobre a História Indígena de Mato Grosso aos profissionais de História e de áreas afins, que atuam na educação básica, para utilizarem como ferramenta de trabalho, e colocar em prática a Lei 11.645 / 08, de 10 / 03 / 2008.
Já Osvaldo Rodrigues Junior apresenta o estado da arte das pesquisas em manuais de Didática da História destinados a professores no Brasil, em seu artigo intitulado “O estado da arte das pesquisas em manuais de didática da História destinados aos professores no Brasil”.
“Pancrácio no Rio das Cobras: um uso da Literatura no ensino de História” é o título do artigo de Ronyere Ferreira, Francisco Oliveira e Vilmar Aires dos Santos. Os autores realizam uma análise reflexiva sobre o uso da literatura no ensino de História da Educação Básica, a partir de experiências propiciadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID / UFPI com estudantes da rede pública de ensino, na realização de projeto de intervenção pedagógica com texto literário (crônicas) em sala de aula.
As autoras Stefânia Rosa Santos e Ronaldo Cardoso Alves, em “História oral, memória e representações sociais: diálogos com a educação de pessoas adultas”, indicam os possíveis diálogos sobre educação e diversidade, por meio da articulação entre memória, história oral e representações sociais e os desdobramentos no processo de alfabetização e letramento de pessoas adultas.
Por fim, o artigo “Protonarrativas e possibilidades de intervenção: práxis e educação histórica em um estudo no IFPR (Campus Curitiba)”, de Thiago Augusto Divardim de Oliveira Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, procura desenvolver algumas reflexões sobre uma forma específica de se pensar a relação ensino e aprendizagem na didática da História, a educação histórica na perspectiva da práxis. Proponho a partir desse estudo algumas considerações referentes ao campo da epistemologia da práxis do ensinar e aprender História.
Boa Leitura!
Alexandra Lima da Silva– Professora doutora (UFMT.)
Marcelo Fronza – Professor doutor (UFMT).
Renilson Rosa Ribeiro – Professor doutor (UFMT).
Os organizadores
SILVA, Alexandra Lima da; FRONZA, Marcelo; RIBEIRO, Renilson Rosa. Apresentação. História e Diversidade. Cáceres, v.4, n.1, 2014. Acessar publicação original [DR]
TransVersos | UERJ | 2014
A Revista TransVersos de História (Rio de Janeiro, 2014-), publicação do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais (LEDDES/2001), vinculada ao Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, espelha a plataforma ética sobre a qual devem estar assentadas as pesquisas históricas de intervenção no social.
Privilegia reflexões que respeitem as diferenças sem eliminar o direito à igualdade.
Toma como linha editorial as linhas de pesquisa do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais, Vulnerabilidades, Escritas da História e Áfricas, a partir de um olhar interdisciplinar incorporado às pesquisas históricas contemporâneas, assim como o respeito às narrativas produtoras de sentido organizadas por sujeitos sociais não acadêmicos, mas que dialogam com o sentido de organização e orientação do tempo.
Periodicidade quadrimestral.
Acesso livre.
ISSN 2179-7528 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
O legado das ditaduras civis-militares / Cantareira / 2014
O que o recente ciclo de ditaduras latino-americanas legou às nossas democracias?
Na esteira das comemorações dos 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, a Cantareira, revista discente de História da Universidade Federal Fluminense, optou por preparar um número que contribuísse para aprofundar os debates que ocorreram ao longo deste ano. Escolhemos um viés que ajuda compreender a herança da ditadura no Brasil, em perspectiva comparada com outros países da América Latina, que passaram por experiências semelhantes. Nossa questão aqui é pensar sobre o que o recente ciclo de ditaduras latino-americanas legou às nossas incipientes democracias.
Há que se ponderar que parte considerável dos legados deixados pelas ditaduras civis –militares na América Latina estão intrinsecamente ligados à forma como ocorreram os processos de transição e como se construíram as relações entre civis e militares após o fim destes regimes. Há uma vasta literatura que trata deste tema e quem vem sendo revisitada, principalmente para que se possa tratar de outro tema: a Justiça de transição, campo de estudo interdisciplinar, cujo número de pesquisadores aumenta no Brasil.
Existem várias especificidades que diferenciam o modo como estas transições ocorreram em cada um destes países. Na perspectiva de uma literatura clássica sobre as transições, na Argentina, o processo de transição teria se dado “por colapso”, ou seja, o regime passava por um processo de desgaste por crise econômica, divergências internas dentro das três Forças Armadas e o ápice da crise, que levou ao fim do regime, foi a derrota para a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Dentro deste quadro, a saída dos militares se deu sem uma organização ou tutela das próprias Forças Armadas. Por outro lado, os civis não assumiram de imediato esta situação de crise e se dividiram sobre como deveria ser tratado o poder militar e como seriam tratados os crimes cometidos pelo regime.
Alguns pesquisadores questionam esta visão clássica do “colapso”, e consideram a transição como “contingencial”, tendo em vista que o governo permaneceu por mais 13 meses no poder, tempo suficiente para definir uma agenda política para o país, assegurando os rumos da transição e as eleições em 1983, evitando uma saída do poder desqualificada [2].
O governo Alfonsinista limitou-se, de acordo com Marcelo Saín, à revisão judicial das violações aos direitos humanos, sem que se reformasse e democratizasse as Forças Armadas. A lógica presidencial era de punição dos militares de alta patente envolvidos em violações de direitos humanos e de livrar a maioria dos outros participantes, dentro da lógica da obediência devida. O governo seguinte, de Carlos Menen, caracterizou-se, neste campo, por haver sucateado as Forças Armadas, tirando a obrigatoriedade do alistamento e cortando os investimentos. Com a transição, desenha-se um novo tipo de relação civil-militar: o histórico protagonismo militar cedeu espaço a um outro papel, do militar subordinado, passivo e perdido dentro da burocracia do Estado[3].
O caso uruguaio se configura como uma transição tutelada pelos militares. Tutela esta, exercida em vários âmbitos da vida política: os partidos políticos foram proscritos, e antigos desafetos do regime continuavam proibidos de voltar ao país. A censura não foi desarticulada e as prisões continuavam com presos políticos. Das peculiaridades deste processo, estão a falta de influências externas, ou seja, não houve, como no caso argentino, uma “aventura militar” internacional, tampouco houve grande pressão internacional para o fim da ditadura [4]. Há três hipóteses levantadas acerca do processo de transição uruguaio:
a)As forças armadas eram permeáveis à cultura democrática precedente, pelo que a posição oficial não aceitou um discurso autoritário e continuísta. b) O processo autoritário não foi capaz de dar soluções aos problemas estruturais do país e teve cada vez mais dificuldades de conduzir o Estado e a sociedade. c) As forças armadas foram perdendo seu poder de distribuição, na medida em que sua política econômica foi revelando seu fracasso [5].
Mesmo assim, no apagar das luzes do governo civil-militar, foi aprovada a Lei de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que propunha a não punição dos delitos cometidos por militares e policiais até março de 1985 por mando do governo. Somente em 2011 o Congresso aprovou uma lei que considera delito de lesa-humanidade os crimes ocorridos na ditadura, viabilizando a punição dos agentes do sistema repressivo.
Já no caso brasileiro, tivemos a “transição por transação”, ou transação compactuada. Como muito bem apontou Maria Celina D´Araújo, um dos legados da ditadura civil-militar brasileira, que a distingue de outras ditaduras como a Argentina foi, sem dúvida, a não punição de agentes do Estado que cometeram crimes contra a humanidade, devido à lei de Anistia de 1979, que contemplou tanto os crimes cometidos pelos opositores do regime, mas também os agentes torturadores e envolvidos em desaparecimentos. A forma em que a Lei de Anistia foi cuidadosamente articulada pelos setores governistas, criou uma outra situação também atípica nos demais países do Cone Sul: o Brasil é o país em que estes mesmos agentes de Estados que cometeram crimes de lesa-humanidade tiveram mais sucesso como veto players, quando o assunto em questão se relacionava à revisão do passado. Isto pode ser comprovado pelo fato de até o corrente ano sermos o único país da região que não julgou algum policial ou militar envolvido neste tipo de crime. Segundo a autora, isto se deve à existência de uma autonomia militar que vem de antes da ditadura e se mantem até os dias atuais, aliada à baixa cultura de respeito aos direitos humanos na sociedade brasileira e ainda ao desinteresse dos governos, em geral, pelo tema das Forças Armadas.
Parte-se da premissa de que desde 1979 as Forças Armadas fizeram da Lei da Anistia um assunto tabu e atuaram com poder de veto sempre que o tema entrou na agenda política. Contaram para tanto, com o apoio velado ou explícito do Poder Executivo, com a morosidade da Justiça, a inapetência do Legislativo para com os temas dos militares e dos direitos humanos. Tiveram a seu favor, especialmente, o fato de que a sociedade brasileira nunca se mobilizou em defesa de uma política de direitos [6].
Este protagonismo dos militares como veto players pode ser percebido sensivelmente se observarmos a nossa Comissão Nacional da Verdade. Criada em 2012, após uma série de negociações, estabeleceu-se que não teria caráter punitivo. Mesmo uma vez identificados os crimes e seus autores, eles não seriam passíveis de punição. Em toda demanda por justiça dentro desta perspectiva de crimes cometidos por militares, a autonomia castrense veta qualquer avanço.
Mas o problema não se restringe à atuação dos militares. Maria Celina D´Araujo e Sue Ellen Souza realizaram um balanço da posição da imprensa em relação à CNV, quando da sua criação [7]. Entre 2011 e 2012, o argumento mais forte era o da conciliação. De certa forma, como conclui D´Araújo, evidenciava-se um temor de risco do processo democrático e “não raro a Comissão é tratada como ação extemporânea, desprovida de sentido prático, e movida por ação raivosa”. Já a ação militar no combate à violência é vista positivamente. Ou seja, uma baixa cultura de direitos humanos aliada a esta visão “nos colocam num patamar vergonhoso nos rankings internacionais” [8]
Às vésperas do encerramento do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que será realizado em dezembro próximo, foi noticiado que a Comissão defenderá a responsabilização criminal de agentes da ditadura acusados de tortura e morte de militantes de esquerda. Falta decidir se pedirão abertamente a revogação da Lei de Anistia, que protege os acusados, ou se deixará esta tarefa para os partidos e movimentos sociais [9].
Tendo em vista estas considerações sobre relações civis-militares pós-ditaduras e as consequências das transições no modo como se trata este passado presente, buscamos uma leitura dos artigos aqui reunidos, desenhando um panorama da questão: Quais os legados das ditaduras no Brasil e na América Latina?
Optamos pela interdisciplinaridade, para termos uma amostra de como determinados temas são tratados em outras áreas que dialogam com a História. Assim sendo, o artigo que abre nosso dossiê é: “O que resta das ditaduras e o que havia de nós: história e memória nos mecanismos de justiça de transição no Brasil”, de Pedro Ivo Teixeirense. O autor faz algumas reflexões sobre História e Memória quando se trata da temática da justiça de transição no Brasil, bem como apresenta algumas reflexões acerca dos limites que a configuração de dado gênero narrativo impõe a quem produz narrativa inserida nesse contexto. Ainda, Teixeirense apresenta o processo de configuração do gênero narrativo mencionado, que surge por meio da definição de um modelo para a apresentação das demandas de justiça, história e memória no Brasil, em análise restrita ao modelo adotado pela Comissão de Anistia criada no ano de 2001.
O segundo artigo, “Ditadura militar brasileira e produção ideológica: Um estudo de caso com militares que atuaram no período ditatorial”, de Thiago Vieira Pires, analisa a produção ideológica da ditadura civil-militar brasileira, a partir de um estudo de caso. O autor busca compreender como os militares produzem e reproduzem uma determinada ideologia – a da segurança nacional –, que de modo algum os exime das responsabilidades dos crimes por eles cometidos em nome do Estado. Por meio de depoimentos, o autor evidencia a atualidade deste pensamento em determinados setores militares e como persiste uma cultura de desconfiança e monitoramento da sociedade.
O terceiro texto traz novamente a perspectiva comparada. “Fuerzas Armadas y gobierno en Argentina y Brasil: Tres décadas en perspectiva comparada”, de Gregorio J. Dolce Battistessa e María Delicia Zurita problematizam o papel delegado / assumido pelos militares após o fim das ditaduras. Passaram a ser convocados não para ir contra a população, ao contrário, passaram a ser convocados em momentos de tragédias, trabalhos de assistência, desenvolvimento tecnológico e luta contra o tráfico de drogas. Claro que esta mudança no papel das Forças Armadas não ocorreu sem tensões, sobretudo no que diz respeito ao passado ditatorial.
Na sequência, “Do banimento à luta pela Anistia: a Associação dos Anistiados Políticos e Militares da Aeronáutica– GEUAr”, de Esther Itaborahy Costa, traz outro estudo de caso, dos integrantes que lutam por direitos políticos suspensos, por terem perdido suas funções militares na instituição que serviram, perda esta que se deu a partir de uma portaria de 12 de outubro de 1964. Esses ex-militares alegam em seus processos, enviados à Comissão de Anistia, que essa portaria teve caráter exclusivamente político, já que com dez anos de serviço o militar alcançava estabilidade e poderia progredir na carreira chegando a postos superiores. O artigo mostra uma batalha pela memória e por direitos e os limites da justiça para casos como estes.
Por fim, Maria Soledad Lastra contribuiu com o artigo: “Semillas de la recepción a los retornados del exilio argentino y uruguayo”, que analisa as formas de criação de redes de solidariedade e auxílio aos exilados retornados à Argentina e Uruguai. O artigo evidencia as distintas formas de recepção em ambos países, as distintas formas de atuação dos organismos de direitos humanos em torno das agendas criadas no pós-ditadura. A análise comparada mostrou como os processos de transição e o tema do retorno foram inscritas de forma diferente em cada caso: no Uruguai se tornou um dos pilares políticos centrais, que permitiram que se confluísse em partidos políticos e movimentos de direitos humanos, já na Argentina, esta questão foi atendida por organizações muito próximas às de direitos humanos, mas apesar disto, esta questão se tornou politicamente isolada. Ou seja, houve maior integração dos exilados à política no Uruguai e maior exclusão na Argentina.
Ainda visando aprofundar a questão da luta por direitos humanos e exílio, temos: “Explorando las redes transnacionales de derechos humanos en América Latina: los orígenes de la Federación de Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una entrevista con Patrick Rice”. Mario Ayala apresenta o primeiro secretário da Federacion Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1981-1985), localizada na Venezuela.
Agradecemos aos pareceristas que ajudaram a viabilizar este trabalho e desejamos uma boa leitura!
Notas
- Cf. BRANDÃO, Priscila. Argentina, Brasil e Chile e o desafio da reconstrução das agências nacionais civis de inteligencia no contexto no contexto de democratização. Tese de Doutorado. Ciências Sociais. UNICAMP. 2005.
- Cf. SAIN, Marcelo. Democracia e Forças Armadas: entre a subordinação militar e os “defeitos civis”. In: D´ARAUJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro. FGV, 2000. P.21-55; D´ARAUJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Apresentação. In: D´ARAUJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro. FGV, 2000.
- CABRAL, João Pedro. A recuperação democrática uruguaia, 1982-1984: Transição via concertação tutelada. http: / / www.historia.uff.br / estadoepoder / 7snep / docs / 026.pdf . Acesso em 21 / 10 / 2014.
- AGUIAR, Cesar citado por CABRAL. op.cit. p.2.
- D´ARAÚJO, Maria Celina. O estável poder de veto Forças Armadas sobre o tema da anistia política no Brasil. In: Varia História. Vol.28 no.48. UFMG. Belo Horizonte. Jul / Dez 2012. Retirado de: http: / / www.scielo.br / scielo. php?pid=S0104-87752012000200006&script=sci_arttext .Acesso em 25 / 10 / 2014
- SOUZA, Sue Ellen. Forças Armadas, Transição e “Verdade”: Brasil e Cone Sul. Departamento de Ciências Sociais. PUC / RJ. 2012. http: / / www.puc-rio.br / pibic / relatorio_resumo2013 / relatorios_pdf / ccs / SOC / CSOCSue%20Ellen%20de%20Souza.pdf . Acesso em 20 / 10 / 2014.
- D´ARAUJO. op. cit. 2012.
- Comissão defenderá responsabilização criminal de agentes da ditadura. Painel. Folha de São Paulo. 02 / 11 / 2014
Isabel Cristina Leite – Doutoranda em História Social pela UFRJ. Bolsista FAPERJ nota 10. Co-organizadora dos livros: À sombra das ditaduras: Brasil e América Latina. (Mauad, 2014) e Questões da América Latina contemporânea. (Fino Traço. No prelo.)
LEITE, Isabel Cristina. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n. 20, jan / jun, 2014. Acessar publicação original [DR]
A redenção de Deus: sobre o Diabo e a inocência | Alexandre M. Cabral e Jonas N. Rezende
O tema do paraíso fascina o ser humano desde longa data. Para muitos, o mais célebre jardim da história foi o Éden e sua representação bíblica goza até hoje de uma grande força figurativa. O relato bíblico apresenta o deus hebraico como um ser repleto de poderes agrícolas, pois foi ele quem criou a terra, a água, a vegetação e o homem (feito de barro). Não só isso. Para além da descrição idílica, o mito do paraíso também deixa vir a lume um conflito que não tem fim: a “guerra entre Deus e o Diabo”, da qual o homem não pode escapar. É com esse pano de fundo que os filósofos Alexandre Marques Cabral e Jonas Neves Rezende buscam explicar de que maneira essa lógica binária faz-se presente no imaginário social cristão ocidental. Trata-se de uma tarefa hercúlea, contudo os autores conseguem atingir os fins a que se propõem. A obra seduz do início ao fim o leitor por meio de linguagem e estilo de ensaístas literários que buscam destacar tanto as imagens simbólicas quanto as discussões filosófico-teológicas em torno dessa narrativa.
O livro divide-se em duas partes: um ensaio filosófico-teológico de Alexandre Marques Cabral e, em seguida, um poema de Jonas Rezende. Juntos, os autores visam desconstruir a oposição que se petrificou e que ainda faz-se sentir na cultura ocidental cristã: Deus e Diabo. Do primeiro, reteve-se o bom, o justo, a glória; do segundo, o pecado, a rebelião, a inveja. Como é sabido, esse pensamento um tanto maniqueísta gerou inúmeras contestações na história e é exatamente esse aspecto que os autores buscam desvendar ao longo da obra.
Já na introdução, denominada Mito, verdade e existência, Resende não entra na discussão de explicitar se o mito (mythos) é incompatível com a ciência. É verdade que, para o homem contemporâneo preso ao pensamento lógico (logos), cartesiano e racional, os mitos são geralmente considerados ilusórios, fantasiosos e mentirosos. Todavia, segundo o autor, é preciso empatia nessa discussão para se compreender que também o mito contém realidades profundas, ocultando um tipo específico de verdade. Por conseguinte, se o mito do paraíso possui suas mais puras e coerentes representações de cunho religioso, isso não é razão para o cientista social descartá-lo como mera construção fantasiosa. Essa postura poderia levar o historiador a negar falaciosamente, por exemplo, que a literatura ou a poesia, só para citar dois exemplos, tenham qualquer aspecto válido a ensinar acerca da realidade. Logo, não é porque o Éden não existiu no plano concreto que esse espaço tenha deixado de ser sonhado e buscado. Sua verdade e sua lógica não são teóricas. Ao contrário. Por isso, os autores concebem “o mito como uma metanarrativa que fala metaforicamente de um universo atemporal” (CABRAL, 2012, p.78). Nesse sentido, à luz das discussões de Rudolf Karl Bultmann (1884-1976), perfila-se, ao longo da obra, pensar o real por intermédio do mito, admitindo que também o mito produz uma espécie de cosmovisão específica.
O primeiro capítulo, A lógica do paraíso, analisa os relatos presentes no Gênesis, explicando seu universo semântico, mas sem apresentar qualquer fórmula hermenêutica que encontre no relato uma “verdade absoluta”. O que mais interessa aos autores é compreender de que maneira o mito do paraíso perdido pôde ser apropriado criativamente pelos homens ao longo do tempo e quais elementos simbólicos foram perdidos após a “queda”; é esse aspecto que pode auxiliar pesquisadores das mais diversas áreas a entender a eterna “guerra entre Deus e o Diabo”. Enfatizando a primeira parte do mito do paraíso perdido, a obra auxilia o leitor a perceber de que maneira a representação do jardim paradisíaco foi sendo associada quase sempre a uma região verdejante impregnada de enorme beleza cênica que exprime conforto, alegria, paz. Por ser um santuário, era como um espaço em que o deus hebraico representativamente andava e se comunicava com o primeiro casal humano. Assim, o mito hebraico da criação instituiu no imaginário social uma divindade onipotente e perfeita em oposição ao diabo, sempre identificado como adversário, corruptor, enganador. A obra lembra, todavia, que satanás e o deus hebraico estavam juntos no jardim e que ambos pertenciam, cada um à sua maneira, à plenitude desse espaço. Para o autor, essa harmonia conflitiva entre um e outro compunha os traços do próprio jardim e exibia esses personagens como adversários, mas não inimigos.
O segundo capítulo, O fim do paraíso: a genealogia do mal, busca explicar como a “queda” deu origem ao que os autores denominam “teatro de horrores”, que engendrou e justificou ao longo da história ocidental uma pluralidade de sofrimentos. Explana que nada externo destruíra o paraíso. A rebelião, a bem da verdade, começou por dentro. Simbolicamente, a perda da região paradisíaca demonstrou que ali não era um espaço de necessidade, mas de liberdade. A tentação, o desejo que possuiu o fruto proibido, a possibilidade de “ser como Deus”, constituem características dessa parte do mito. Mas, com a expulsão do homem do jardim, confusão e pecado se introduziram no mundo. A natureza passou a assumir um aspecto de inimigo caótico e violento contra o qual teria o homem de lutar. Assim, “Fora do paraíso, Deus tornou-se um forasteiro e Satanás transformou-se em eterno companheiro” (CABRAL, 2012, p.174). A partir da “queda”, os humanos serão encarados como seres em eterna disputa entre o seu criador e o diabo. A dualidade entre o centro (paraíso) e a periferia (ermo), tão perfeitamente ancorada na organização concreta dos espaços vividos, é um aspecto interessante a se notar nesse mito, supondo outra dualidade que opõe interior e exterior. Disso resulta, segundo o autor, a valorização do centro positivo e sacralizado (por oposição à periferia) e uma interioridade vigorosa e protetora (por oposição ao exterior). A “expulsão” ou “a queda”, enquanto deslocamento para o exterior, significa, no nível simbólico, uma espécie de confrontação com um mundo diferente, outro espaço, “um vale de lágrimas”. A travessia reforça tão somente a perda de ligação com o lugar protetor conhecido (o ecúmeno), e por isso a realidade também passará a ser dividida entre dois reinos no cristianismo: Céu (alto, superior, bom) e Inferno (baixo, inferior, mal). Esse sistema binário ajuda a explicar em parte o porquê de o Cristianismo valorizar sobremaneira o futuro, o post-mortem, exigindo dos homens um eterno processo de purificação.
Esse é o momento em que surge a “geografia espiritual” para a consciência judaica. Deus, que fugira da Terra após a queda do paraíso, habita os “Céus”. Satanás, que caíra dos céus levando uma miríade de demônios, entrou na terra e passou a comandar o inferno. Alguns anjos perseveraram ao lado de Deus. Já Satanás e seus demônios passaram a marionetizar a Terra, manipulando seres humanos à perdição (…). A divisão Céu/Inferno foi acompanhada de uma imagem ambígua da Terra. Se Deus está para além da vida terrena, estar com ele é um evento post-mortem. Se o diabo está dentro da Terra, também para estar integralmente com ele é necessário morrer. Por isso, a terra tornou-se um campo minado: ora explodem as bombas dos demônios e ora aparecem as espadas e escudos dos anjos. Aqui se decidem o céu e o inferno, pois é aqui a bilheteria onde compramos a entrada para o Céu ou para o Inferno (CABRAL, 2012, p.181-2).
O terceiro capítulo, Ocidente e ascese: a falência da oposição entre Deus e Diabo, questiona se o paraíso é de fato o paradigma fundamental do Ocidente. Para tanto, os autores abordam a questão sob a ótica dos estudos do biblista alemão Julius Wellhausen e dos escritos de Platão. Os efeitos colaterais na busca de uma ascese são evidentes no Ocidente cristão: agir moralmente, ser autovigilante, subjugar os prazeres carnais, controlar as tentações. Disso depende a salvação individual. A partir desse férreo controle, existe a possibilidade de o cristão ser digno de “entrar no céu”. Todavia, longe de significar fidelidade para com os preceitos divinos, esse autocontrole denota que o homem ocidental tem, na verdade, temor de sua perdição. As consequências desse paradigma são bem conhecidas dos historiadores: ao longo da história os cristãos mataram, difamaram, perseguiram, destruíram e anularam os “elementos tentadores” (ateus, bruxas, homossexuais, etc.). Tudo isso em nome de um ideal maior. Por isso, cristianismo e terrorismo são irmãos siameses. Olhar para um sem ver a presença do outro é praticamente impossível: “Os fundamentalismos de toda espécie, a homofobia, a misoginia, etc. sempre estiveram a serviço de um ideal de bem supremo, que funcionaliza toda realidade, posicionando-a a seu serviço” (CABRAL, 2012, p.261, grifos do autor).
O último capítulo, denominado A redenção de Deus ou o desamaldiçoamento do Diabo, busca ressignificar os personagens principais da narrativa paradisíaca do Gênesis (o deus hebraico e o diabo), dando-lhes novos sentidos. Para tanto, os autores destacam o pensamento de Willian Blake, artista londrino que se notabilizou por suas pinturas e poemas. A “lógica do jardim” deveria ser analisada à luz da supressão da dicotomia Bem/Mal e da integração Deus/Diabo, uma vez que existe uma funcionalidade do diabo que o cristianismo tende a abafar.
São, dessa maneira, demasiadas as áreas de sombra que, provavelmente, emergirão dessa obra, o que recomenda doses de tolerância aos leitores mais exigentes. Afinal, sendo a Filosofia um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua totalidade, ela guarda óbvias afinidades com a racionalização e as demais operações de que faz uso para compreender o homem. Eis uma obra ricamente erudita e repleta de informações filosóficas. É contundente a profundidade das colocações dos autores e, consequentemente, notável seu valor, bem como o prazer que se extrai do texto. Obra vigorosa que elucida o mito do paraíso e a oposição entre Deus e o Diabo e que age sobre as mais variadas concepções. Não é a esperança do paraíso celeste um desejo de retorno à felicidade perdida no Gênesis? De fato, como interpretar as utopias e seu singular adendo que é o tão aclamado paraíso? Simples fantasia literária? Talvez aqui, considerada em sua ampla dimensão histórica, a primeira hipótese comece a revelar-se mais interessante. E mais complicada.
Wallas Jefferson de Lima – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do CentroOeste (PPGH/Unicentro). E-mail: wallasjefferson@hotmail.com
CABRAL, Alexandre Marques; REZENDE, Jonas Neves. A redenção de Deus: sobre o Diabo e a inocência. Rio de Janeiro: Via Verita, 2012. Resenha de: LIMA, Wallas Jefferson de. Aedos. Porto Alegre, v.6, n.14, p.155-158, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
Expansión de la frontera y ocupación del nuevo sur. Los partidos de Arenales y Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, 1820-1900 | Valeria D’Agostino
Expansión de la frontera y ocupación del nuevo sur… es un aporte al conocimiento de las formas de ocupación del territorio bonaerense una vez abierto el camino hacia el sur del Río Salado. Valeria D´Agostino nos propone hacer un recorrido por el proceso de poblamiento y ocupación de las tierras de los partidos de Arenales y Ayacucho (actual partido de Ayacucho) de la provincia de Buenos Aires, en el período que acontece desde 1820 a 1890, ampliando la perspectiva de análisis sobre esta temática que ya ha sido abordada para otros territorios bonaerenses como Chivilcoy, Dolores, Lobería, Tandil, entre otros.
Como indica la hipótesis principal de este trabajo, en el transcurso del siglo XIX, se dio en esta zona de nueva ocupación un proceso paulatino de consolidación de los derechos de la propiedad sobre la tierra, del cual resultó el afianzamiento de un sector de grandes propietarios, que sin embargo, no dejo exenta la conformación de pequeñas y medianas propiedades.
Dos ejes articularan su análisis: la diferencia entre la historia de la propiedad y la historia de la ocupación de las tierras. Para entender esta diferencia, en la investigación se abordan las características del proceso de cesión, por parte del Estado provincial bonaerense, de las tierras públicas del “nuevo sur” y su apropiación por particulares en el transcurso del siglo XIX.
La historia de la propiedad de la tierra y de la conformación de un sector de propietarios han sido dos de las problemáticas que más han acaparado la atención de los historiadores según la autora. Desde los estudios institucionalistas que criticaban al latifundio y el acaparamiento de tierras, hasta los estudios más recientes de la década del ochenta que se orientaron en la caracterización del sector hacendado terrateniente, su relación con la estructura económica y su influencia en la política provincial y nacional, la propiedad de la tierra ha sido objeto de discusión. En este sentido, D´Agostino ha venido examinando en estudios anteriores las características de la conformación de la propiedad, el mercado y la ocupación de tierras en los territorios de Ayacucho y Arenales. En el trabajo aquí reseñado, la propiedad es pensada como una relación social, abriendo nuevas puertas de análisis que permiten observar el entramado social de la época, a partir de los regímenes de ocupación de la tierra, de las relaciones de poder, de los vínculos entre los poseedores de las tierras, las relaciones familiares, el rol del Estado, entre otras. Entendida de esta forma, la propiedad está sujeta a la dinámica social que conlleva a la transformación, mutación y creación de nuevas especies de derecho de la misma, y esto es de alguna manera lo que enriquece esta perspectiva.
La autora se introduce en las diferentes decisiones tomadas por los gobiernos provinciales respeto a qué hacer con las tierras públicas, identificando distintos momentos de relevancia que permiten diferenciar el rol particular del Estado en cada uno de los mismos. El sistema de enfiteusis instalado en la década del veinte, la ley de venta de las tierras públicas sancionadas en 1836, la compra de boletos de premios durante el gobierno de Rosas caracterizó esta incipiente ocupación de los territorios en el Nuevo Sur. La mayor ruptura en la historia de la apropiación de estas tierras la observa en los embargos desencadenados, luego de la Revolución de los Libres del Sud, por el gobierno de Rosas.
La legislación posterior a la caída de Rosas, significó el comienzo del fin de la ocupación sin títulos de los terrenos fiscales y el intento de organizar las tenencias de las tierras, a partir de la sanción de la ley de arrendamientos de las tierras públicas. En la zona de Arenales y Ayacucho, D´Agostino observa que las cesiones por parte del Estado y la aparición de los primeros propietarios se dieron en forma paralela a las negociaciones entre los particulares ya sea por ventas o por herencia lo que conllevó a la división de las tenencias y la aparición de nuevos propietarios.
Estos cambios que se dictaminaban a partir de las medidas de un Estado que buscaba organizar el territorio, originaron ciertos conflictos generados principalmente por las disputas sobre los terrenos públicos, la posesión y propiedad de poblaciones y la fijación de límites de las propiedades o tenencias. La mayor parte de estos conflictos los visualiza en la segunda mitad del siglo XIX. La autora aclara que si bien la mayoría de los conflictos se resolvían apelando a la costumbre y antigüedad en la posesión, existe un caso particular que apela a la ley como fuente de derecho para reclamar sobre esas propiedades, y que de alguna manera representa una nueva forma de percibir los derechos de propiedad. “Los argumentos invocados en las situaciones de litigio que se produjeron a fines de la década de 1850 se referían a derechos sustentados en la antigüedad de la ocupación y en la posesión continua y pacífica. La propiedad aparecía digitada en la posesión, era el derecho de ocupación. Pero hacia fines de la década siguiente (…) se hace referencia a la ley como fuente de derecho a la propiedad, y al estado como garante de su ejercicio” (pág. 294).
Otra de las temáticas que aborda a la hora de pensar las transformaciones en la ocupación de las tierras, son los diversos mecanismos utilizados por los interesados para hacerse de las mismas. La ocupación sin títulos, la presencia de los “agregados”, la contratación rural, basada en contratos de arrendamientos, de sociedad y compañías (explotación directa a cargo de los enfiteutas-propietarios), la aparcería, constituyen algunos de ellos.
Finalmente, D´Agostino presenta tres casos particulares en los que se pueden ver las diferentes características que asumió el proceso de acceso a la propiedad: Félix de Álzaga, Francisco Cuelli y Simón Ezcurra. En estos casos, se visualiza, por un lado, la importancia de los vínculos políticos, económicos y sociales a la hora de hacerse de las tierras. Por otro, cada uno de ellos nos dice mucho sobre las políticas del estado provincial con respeto a las tierras y las transformaciones ocurridas en el modo de reglamentar la entrega de las mismas: la enfiteusis, los boletos de premios, el sistema de arrendamientos, la compra en el mercado público o privado. Cabe aclarar el rol fundamental de los vínculos familiares y las relaciones entre ellos que contribuyeron o no a mantener las propiedades; tal es el caso de Félix de Alzaga y las disputas por la herencia de sus propiedades por parte de sus hijos luego de su muerte. La propiedad, sostiene D´Agostino, “en tanto construcción histórica, es producto de un momento histórico dado y de la imposición de determinados intereses; como tal la propiedad es relación social” (Pág.294) y es eso lo que se deja entrever a lo largo de los seis capítulos en los que se estructura el libro, los cuales echan luz sobre un territorio en plena transformación, una sociedad en crecimiento y un Estado buscando legitimarse como tal.
Silvana Villanueva – Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
D`AGOSTINO, Valeria. Expansión de la frontera y ocupación del nuevo sur. Los partidos de Arenales y Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, 1820-1900. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2012. Resenha de: VILLANUEVA, Silvana. Aedos. Porto Alegre, v.6, n.14, p.148-150, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
Um patrimônio em contendas: os bens jesuíticos e a magna questão dos dízimos no estado do Maranhão e Grão-Pará (1650-1750) | Raimundo M. Neves Neto
No centro histórico de Belém (PA), situa-se ainda hoje o imponente complexo arquitetônico de Santo Alexandre, obra paulatinamente erigida entre os séculos XVII e XVIII pelos padres da Companhia de Jesus. Em dissertação recentemente defendida (LOPES, 2013), analisei a forma com esses prédios (colégio e igreja) foi conscientemente incorporado à paisagem de poder do bairro que, à época colonial, era o mais destacado politicamente na cidade. Localizado entre os edifícios síntese do poderio instituído, essas construções jesuíticas tornaram-se, elas mesmas, um conjunto discursivo de afirmação da presença inaciana na Amazônia. Foram, e são, nesse sentido, a síntese material da ação missionária, incorporada em termos espaciais, volumétricos e decorativos.
A opulência da arquitetura dos discípulos de Santo Inácio de Loyola, todavia, mantém relação imediata todo o articulado mecanismo econômico da Missão do Maranhão, essencial para manutenção dos colégios e residências desses padres. É justamente essa dinâmica de produção e gerenciamento do patrimônio jesuítico o alvo de estudo do livro de Raimundo Moreira das Neves Neto, “Um patrimônio em contendas: os bens jesuíticos e a magna questão dos dízimos no estado do Maranhão e Grão-Pará (1650-1750)”, fruto de sua dissertação de mestrado no Programa de PósGraduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará.
Produto de pesquisa acadêmica iniciada ainda em sua graduação em História, o livro se insere no necessário debate acerca das práticas econômicas dos jesuítas, tema que há tempos carece de investigações sistematizadas, tal como já indicava Serafim Leite (1953), um dos estudiosos com maior domínio na documentação histórica relativa aos padres inacianos. Preocupação historiográfica, por certo, adivinha das repetidas alusões presentes nesses documentos, nos quais colonos e autoridades coloniais reclamavam do poderio financeiro dos filhos de Loyola em terras amazônicas e, quiçá, do estado do Brasil.
Dividido em três capítulos, a obra de Neves Neto dá conta de pormenores da articulação administrativa e política dos jesuítas para construírem seu patrimônio no Maranhão e Grão-Pará, entre os anos de 1650 e 1750. No primeiro desses capítulos, o autor estabelece os parâmetros do modo jesuítico de acúmulo de bens materiais, ainda no século XVII. Trata de evidenciar as medidas iniciais dos padres para aquisição e aumento das fazendas – os núcleos de produção na Missão –, doações de terras, criação de animais, plantações, tanto na capitania do Maranhão, quanto na do Grão-Pará. Nessa seção do trabalho, essas fazendas, bem como os engenhos, são detidamente descritos em seu aparato material e organizacional. Mais do que isso, Neves Neto nos informa da estrutura hierarquizada da organização administrativa jesuítica, na qual havia padres com cargos específicos ao gerenciamento do patrimônio, os procuradores e os reitores dos colégios. Eram esses agentes os conhecedores da legislação colonial e dos potenciais benfeitores da Ordem, notadamente os moradores abastados da Colônia.
No capítulo 2, o debate recai sobre as atividades temporais dos padres da Companhia de Jesus. Essencialmente, essa questão se liga às práticas produtivas e de comércio desenvolvidas com os itens produzidos nas fazendas ou advindos das coletas das drogas do sertão. Essas atividades, por outro lado, possuíam privilégios, espécies de subsídios traduzidos em controle da mão-de-obra indígena e isenção de impostos, então denominados dízimos. Neves Neto explicita os números brutos dos produtos saídos dos portos de Belém, fornecendo dados quantitativos da circulação de mercadorias dentro do império português. Singular neste capítulo é observar o alcance da produção inaciana no mundo colonial, não apenas do ponto de vista da articulação dentro do Maranhão e Grão-Pará com as trocas entre os Colégios de São Luis e de Belém, mas também do que era exportado. Vislumbra-se, desse modo, a imperiosa necessidade de observar a relação local-global que enseja a ação jesuítica no mundo colonial, como já indicou Dauril Alden (1996).
Na última parte do livro, o historiador discute um ponto chave em estudos da economia jesuítica: os dízimos. Uma “grave questão”, como reitera Neves Neto, que diz respeito à relação da Ordem com a Coroa portuguesa, necessariamente ligadas pelo padroado régio. Para além de localizar o leitor em todas as dimensões que essa política esteve envolvida, o autor lança olhar sobre as filigranas das argumentações inacianas para exercer seus privilégios, principalmente diante das constantes oposições dos colonos. Se no capítulo anterior Neves Neto consegue dá conta do exercício produtivo da Companhia de Jesus, mostrando como ela executava suas atividades econômicas, nessa seção é desvelada a articulação efetuada pelos padres no manejo da legislação, imprescindível à legitimação de suas atividades temporais. Tais argumentos focalizavam no imperativo dessas práticas para o desenvolvimento efetivo do cotidiano missionário, ou seja, da evangelização. Do mesmo modo, é relevante a inserção dos discursos dos outros agentes, não religiosos, acerca do império econômico jesuítico, o que garante ao leitor a percepção da complexidade das relações no mundo colonial. Devo mencionar que as menções a essa rede de interpretações legais por parte dos jesuítas e colonos é presente em todo o texto de Neves Neto.
O livro aqui resenhado já é leitura obrigatória a quem deseja conhecer uma das dimensões do mundo jesuítico, a do seu patrimônio, lacuna que gradativamente vem sendo preenchida por obras de referência como esta, inedita para a Amazônia colonial. A rica documentação, associada com o excelente diálogo com a historiografia, fornece voz ao emudecimento apontado por Paulo de Assunção (2004) quanto se refere às análises sobre as práticas econômicas jesuíticas, provadas, em verdade, pela dispersão das fontes pertinentes ao assunto. Além disso, a pesquisa de Neves Neto permite o debate de período ainda pouco visitado pela historiografia amazônica, o século XVII e primeira metade do XVIII.
A leitura do trabalho aqui resenhado, ainda em seu formato de dissertação, também propiciou à minha pesquisa de mestrado a observação das particularidades da produção dos bens materiais jesuíticos. O meu foco na conformação de suas edificações, analisadas em conjunto, no bairro central da Belém colonial, não poderia estar desvinculada do entendimento da dinâmica própria a essa Ordem religiosa no que diz respeito à conformação de seu patrimônio. A gama de cultura material produzida pelos inacianos, considerando o contexto apontado por Neves Neto, é inteligível dentro da perspectiva da relação ativa que há entre sociedade e objetos (LIMA, 2011). Sinteticamente, um dos esforços dos jesuítas estava na conformação de bases materiais para consolidação da ação expansionista de fé católica, associada à política mercantil, nesse caso portuguesa. Desse modo, as paredes do Colégio e Igreja dos inacianos em Belém, tal como em outras partes do mundo, são a dimensão concreta das relações sociais do mundo colonial (LIMA, 2011; LOPES, 2013).
Referências
ALDEN, Dauril. The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750. Stanford: Stanford University Press, 1996.
ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
LEITE, Serafim. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil: 15000 a 1552. Lisboa/Rio de Janeiro: Edições Brotéria/Civilização Brasileira, 1953.
LIMA, Tânia Andade de. Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas, v.6(1), p.11-23, 2011.
LOPES, Rhuan Carlos dos Santos. “Melhor sítio da terra”: Colégio e Igreja dos jesuítas e a paisagem da Belém do Grão-Pará, Um estudo de arqueologia da arquitetura. 2013. Dissertação de Mestrado (Antropologia) – Universidade Federal do Pará.
Rhuan Carlos dos Santos Lopes – Discente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGA/UFPA). E-mail: rhuan.c.lopes@gmail.com
NEVES NETO, Raimundo Moreira das. Um patrimônio em contendas: os bens jesuíticos e a magna questão dos dízimos no estado do Maranhão e Grão-Pará (1650-1750). Jundiaí: Paco Editorial, 2013. Resenha de: LOPES, Rhuan Carlos dos Santos. Aedos. Porto Alegre, v.6, n.14, p.151-154, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
Conspirações e sedições nas Minas Gerais / Revista do Arquivo Público Mineiro / 2014
Este Dossiê nasce sob o signo da afinidade. Poucos são os temas que se confundem de maneira tão perfeita com a história de uma instituição de memória como o das revoltas e o Arquivo Público Mineiro.
Minas Gerais, desde sua fundação, foi embalada por lutas políticas que brotaram em todas as escalas possíveis, das pequenas resistências cotidianas às rebeliões mais devastadoras, dos conflitos aparentemente comezinhos entre autoridades locais às utopias inconfidentes. Todo esse passado, por si só, já seria capaz de assegurar um acervo histórico monumental. Arquivos não ficam, porém, estacionados no tempo, como uma espécie de depósito silencioso em que os documentos esperam guardados a chegada dos leitores iluminados. Leia Mais
Tempo presente e usos do passado / F. F. Varella, H. M. Mollo, M. H. F. Pereira e S. Mata
A profusão de acontecimentos e velozes transformações que marcaram “o breve século XX” provocaram nos historiadores, especialmente após a Segunda Grande Guerra, o interesse por investigar as questões de seu próprio tempo. Enfrentando preconceitos historiográficos estabelecidos no século XIX, quanto à (im)possibilidade de historicização do presente, os que se dedicaram a essa empreitada atravessaram décadas de questionamentos acerca da legitimidade científica de seus estudos. Nessa trajetória de enfrentamentos, que resultou na institucionalização da chamada história do tempo presente, a criação de institutos em vários países europeus voltados para a abordagem do pós-guerra e as demandas sociais pelo conhecimento da história próxima – muitas vezes, guiadas pela ideia de justiça e “preservação” da memória, a “aceleração” do tempo e o contexto de renovação historiográfica, a partir dos anos 1970 – exerceram importante papel, no terço final do século passado.
No Brasil, especificamente, a preocupação com problemas relacionados ao tempo presente começou a ganhar fôlego na historiografia nos anos 1990, como atesta, por exemplo, a tradução e publicação de importantes obras de historiadores europeus dedicados à análise do presente e luta por sua legitimação como objeto de investigação histórica. O surgimento de revistas especializadas, a instituição de laboratórios, grupos de pesquisa e a promoção de eventos com foco na temática demonstram o crescente espaço que o tempo presente vem conquistando na constelação das preocupações historiadoras em nosso país. Leia Mais
Os caminhos (da escrita) da História e os descaminhos de seu ensino: a instituição do ensino universitário de História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1934-1968) – ROIZ (RBHE)
ROIZ, Diogo da Silva. Os caminhos (da escrita) da História e os descaminhos de seu ensino: a instituição do ensino universitário de História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1934-1968). Curitiba-PR: Editora Appris, 2012. Resenha de: ROIZ, Simone Toneli Oliveira. A institucionalização do ensino universitário de História no Brasil. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 14, n. 1 (34), p. 281-284, jan./abr. 2014.
A história do ensino universitário brasileiro de História ainda é um tema muito pouco investigado em nossa historiografia, inclusive, a de cunho educacional. Temos procurado escrever mais a história de nossas universidades, sem, contudo, atentarmo-nos para o fato de que nossos cursos universitários não têm sido historiados com a mesma preocupação e regularidade, de modo a conhecermos como foram fundados, de que maneira ocorreu seu desenvolvimento, e que diálogos (ou não) se estabeleceriam entre eles. Ao que tudo indica, esse quadro está sendo revisto, como mostram estudos, a exemplo do que aqui está sendo resenhado.
O trabalho de Diogo Roiz, publicado em 2012, teve origem em sua dissertação de mestrado defendida em 2004. Tal como indica o autor, desde aquele período, o trabalho foi ganhando maior envergadura, sendo publicado em revistas especializadas e complementado com outras pesquisas, que o autor procedeu entre 2005 e 2008. Seu texto é precedido por um Prólogo, escrito por Teresa Maria Malatian, no qual a autora destaca os méritos do livro e da trajetória do autor; por uma Apresentação, escrita por Marieta de Moraes Ferreira, que mostra a importância do ensino de história, em contraponto com a ainda lamentável escassez de estudos no que se refere à institucionalização d ensino universitário de História no país; e por um Prefácio, escrito por Ivan Manoel, em que são estabelecidas relações interessantes entre a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Colégio Pedro II, em 1838, e a criação da Universidade de São Paulo, de sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e seu curso de Geografia e História em 1934, com vistas a apresentar como se pensou, ensinou e escreveu a história entre esses dois períodos, e como foi pensado o ofício de historiador no país.
No conjunto, esses textos introdutórios demarcam a importância de estudos como esse, que visam explorar o aparecimento do ofício de historiador no país, de modo a inquirir como foi pensado o trabalho do historiador profissional, o que seria definido como obra histórica e como se faria a pesquisa nesse campo de estudos. Além disso, alertam para a escassez de estudos e as poucas, ou remotas, relações que se procurou estabelecer entre a história do ensino de história no Brasil e a criação dos cursos universitários de História, a partir dos anos 1930.
Note-se que, nesse período, foram criados os seguintes cursos: em 1934, o curso de Geografia e História da Universidade de São Paulo (USP); em 1935, o curso de História da Universidade do Distrito Federal (extinto no início de 1939, em função da criação da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil); em 1938, o curso de Geografia e História da Universidade do Paraná; e, em 1939, o curso de Geografia e História da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil (UB), que teria por função (no âmbito do projeto de centralização do ‘Estado Novo’) a organização e a padronização dos currículos dos cursos das Faculdades de Filosofia no país. Mas, como indica esse estudo, nem por isso teria ocorrido uma total padronização curricular nos cursos das Faculdades de Filosofia, ao comparar as mudanças curriculares do curso de Geografia e História da USP com o da UnB.
É tendo em vista questões como essa que o estudo de Diogo Roiz se propôs a demonstrar como se estabeleceu um conjunto de regras para o funcionamento dos cursos das Faculdades de Filosofia; de que maneira foram ocorrendo mudanças curriculares no curso de Geografia e História, de modo a torná-los cursos independentes em meados dos anos 1950; por fim, quais as experiências de ensino e pesquisa que se procurou colocar em prática no curso durante os anos de 1930 a meados de 1950. Com base nesse painel, o autor fez, na segunda parte de seu estudo, uma análise sobre as tentativas de escrita da história das civilizações em geral e da brasileira em particular, por meio de estudos pormenorizados das trajetórias de Alfredo Ellis Júnior (que foi professor na cadeira de História da Civilização Brasileira do curso de Geografia e História, durante o período de 1938 a 1956), de Sérgio Buarque de Holanda (que substituiu esse docente a partir daquele ano, e lá permaneceu até 1968) e de Eduardo d’Oliveira França (que foi professor na cadeira de História da Civilização Moderna e Contemporânea entre 1942 e 1968). O autor justifica esse recorte, tendo em vista o período em que durou o regime de cátedras na instituição.
Ao lado desse problema, percebe-se uma nítida tentativa de verificar como foram estabelecidas certas relações de gênero na instituição e no interior do curso nesse período. Para tanto, ao destacar como ocorreu o processo de institucionalização do curso de Geografia e História, fundamentando-se no modelo de legislação que foi posto em prática no período, o autor evidencia as disputas que se firmavam em torno dos concursos para as cátedras do curso, nas quais as mulheres eram preteridas, em função de uma corporação masculina que se implantou no curso, desde o início de seu funcionamento nos anos 1930. Nesse aspecto, a leitura desse primeiro capítulo se enriquece, ao ser feita junto com o apêndice número um do livro, onde o autor faz um exaustivo levantamento dos alunos matriculados e formados nos vários cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paul entre 1930 e 1950, para mostrar que o número médio de mulheres formadas era sempre maior que o de homens. Ao adentrar o curso de Geografia e História no primeiro capítulo, ele mostra que, nas defesas das teses, os números não eram muito diferentes. O grande fosso estava justamente na disputa pelas cátedras. Ao se referir a elas, o autor dá o exemplo da disputa que se abateu em relação à cadeira de História da Civilização Americana, pela qual disputaram o concurso dois homens e uma mulher (Alice Canabrava). Mesmo tendo ela tirado as médias maiores, foi preterida no concurso e a vaga ocupada pelo professor interino da cadeira cujas notas foram menores que as dela.
Foi a partir desses pontos que o autor se propôs a estudar as mudanças curriculares do curso entre os anos de 1930 e meados de 1950, quando estes viriam a se tornar independentes, em função da aprovação de lei federal em 1955. No capítulo, o autor destaca as mudanças curriculares de 1938, 1942, 1946 e de 1956 no curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Sua chave interpretativa está em destacar e comparar o período anterior e o posterior a 1939, quando então se estabelece a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, com seu curso de Geografia e História, de modo a verificar como se deu o processo de centralização curricular no período. Para além dessa problemática, o capítulo ainda dá indícios de como a pesquisa era colocada em prática no período, tema que recupera e desenvolve no terceiro capítulo, para mostrar que as mulheres se não eram preteridas durante esse processo inicial, em que eram assistentes das cadeiras, o eram quando tentavam disputar as cátedras nos concursos.
Com esse contexto traçado, o autor procurou inventariar as obras e as tentativas de escrita da história que ocorreram com Alfredo Ellis Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Eduardo d’Oliveira França, quando foram catedráticos no curso de Geografia e História. Mesmo nesse ponto, o autor não deixa de lado a referência às disputas e as relações de gênero, inquirindo e demonstrando como esses docentes viam as mulheres e sua participação nas disciplinas e nas cadeiras do curso.
Portanto, ao destacar como ocorreu o processo de institucionalização do ensino universitário de História, esse estudo contribui para que possamos conhecer melhor a história de nossos cursos universitários, sugerindo caminhos teóricos e metodológicos para a investigação da história de um curso universitário, além de contar um pouco da história dos cursos de Geografia e História no país.
Simone Toneli Oliveira Roiz – Professora do curso de Pedagogia na FIAMA, unidade de Amambai/MS. Mestre em Educação pela PUC/PR. Participa dos grupos de pesquisa: Cultura e Instituições educacionais (Unesp) e Teoria, metodologia e interpretações na história da historiografia no Brasil. E-mail: simoneoliveir@yahoo.com.br
Cultura maritíma / Antíteses / 2014
Quando propusemos o tema Cultura Marítima compreendida como a articulação dos conceitos de História, Cultura e Mar não imaginávamos que a temática apresentasse tão grande inserção no mundo acadêmico como a profusão de artigos recebidos demonstrou. Isto, por um lado, foi fator de enorme satisfação para os organizadores do dossiê como para a editoria da Antíteses, mas, por outro, representou também um enorme trabalho de seleção dos textos que comporiam o dossiê.
Assim, o leitor se depara neste número com uma amostra do que vem sendo feito na academia brasileira acerca dos temas relativos às relações culturais, econômicas e políticas que os homens e mulheres constroem em relação ao mar, que se configuram, conforme as circunstâncias, como elementos de afastamentos, distanciamentos, proximidades, espaçamentos e estriamentos. A compreensão destas diferentes significações e ressignificações é necessariamente histórica, mas não prescinde de conceitos de outros campos, como o das Relações Internacionais, da Ciência Política, da Ciência Militar, da Literatura, da Filosofia, dentre outros que são trazidos à esta mesa de profícua discussão que se tornou este número da Antíteses.
Abrindo nossos trabalhos Silvia Capanema, da Universidade de Paris 13-Nord, revisita a Revolta da Chibata, buscando compreender as apropriações dos símbolos republicanos, feitas pelos Marinheiros Nacionais. Um destes momentos de apropriação e de ressignificação teria ocorrido quando da visita do presidente eleito do Brasil, Hermes da Fonseca, a Portugal em outubro de 1910. Esta viagem realizada pelo Dreadnought São Paulo propiciou aos marinheiros brasileiros presenciar a proclamação da República naquele país, movimento que contou com a expressiva participação dos quadros da Marinha Portuguesa, desde oficiais a marujos. Além desta experiência, Silvia Capanema ainda destaca a vivência de um grupo de marinheiros na Inglaterra durante a construção da nova esquadra brasileira e a percepção dos movimentos trabalhistas. A partir daí, a autora procura demonstra como se deu a apropriação da ideia republicana e da de cidadania por um grupo popular e majoritariamente composto por negros, pardos e mestiços, pouco depois da abolição da escravidão no Brasil.
Francisco Eduardo Alves de Almeida, da Escola de Guerra Naval, em interessante texto aborda a trajetória de Cecil Scott Forester como autor de livros de História, biografias e romances históricos, sempre voltados para seu tema preferido – a guerra no mar.
Todos sabem da importância do mar na vida do Reino Unido. C.S. Forester faz parte de uma tradição que constitui o romance histórico naval, gênero literário de grande sucesso que ensejou versões cinematográficas e televisivas. É o caso da série de vinte um livros de Patrick O´Brian, nos quais o autor criou o comandante Jack Aubrey que foi, em 2003, representado no cinema por Russell Crowe em O Mestre dos Mares. Cecil Forester antecede O’Brian, e também tem várias de suas obras vertidas para o cinema como o Afundem o Bismarck de 1954 e o Captain Horatio Hornblower de 1951, que teve o título no Brasil de O Falcão dos Mares.
Forester criou Horatio Hornblower na década de 1930, como modelo do oficial da marinha britânica, inspirado na figura de Horatio Nelson, herói que derrotou as forças hispano francesas na batalha de Trafalgar, em 1805, no contexto das guerras napoleônicas. Aliás, tanto Hornblower como Aubrey são representantes de um passado inglês que é idealizado frente às agruras das duas guerras mundiais, nas quais os antigos valores como o heroísmo, o cavalheirismo haviam desaparecido, assim como declinara a hegemonia britânica em termos globais.
Francisco Eduardo na primeira parte do texto percorre a trajetória de C.S. Forester e, na segunda, demonstra como este realizou a construção de Horátio Hornblower através da análise dos livros da série deste herói que transita entre a ficção e a realidade. Um excelente texto que nos permite compreender a cultura marítima inglesa.
José Miguel Arias Neto, professor das Universidades Estadual de Londrina e da do Centro Oeste do Paraná, especialista em História Naval brasileira, apresentou interessante pesquisa que levou o título de A Marinha do Brasil no início do século XX: tecnologia e política. Nele, o professor José Miguel analisou a literatura de caráter civilista que não só criticava as intervenções militares na política, mas igualmente propunha uma redefinição do papel das Forças Armadas, propugnando a necessidade de reformas nessas organizações, tanto no aspecto material como na formação e aperfeiçoamento de seus quadros. Para abordar essas questões, o autor inicialmente discutiu as conseqüências dessa literatura civilista na Marinha, baseando-se nos escritos de Eduardo Prado, de Afonso Celso de Assis Figueiredo e de outros personagens destacados do período como, por exemplo, Rui Barbosa. Como fontes de pesquisa, o autor também utilizou os Relatórios Ministeriais, além das necessárias edições da Revista Marítima Brasileira do final do século XIX e início do XX. Em seguida José Miguel passou a discutir as perspectivas de reformas no âmbito do Estado, em especial as propostas de programas de construção naval no início do século XX, que pretendiam modernizar a Esquadra. Em sua conclusão, o autor afirmou que a implantação do regime republicano provocou reformas para transformar a Marinha em uma organização mais profissional e moderna; no entanto, fatores exógenos e endógenos provocaram reformas legislativas que reforçaram as relações hierárquicas sociais na Marinha. A Revolta da Armada provocou uma cisão na Marinha que de certa maneira afetou os programas de construção naval. O programa Alexandrino pareceu para José Miguel o resultado da recriação de velhas idéias de estadistas do Império. Os canhões desses navios recém adquiridos se voltariam para as autoridades constituídas em 22 de novembro de 1910, no que ficou conhecido como Revolta da Chibata. Trata-se assim de importante texto para se compreender o que foi a Marinha no início do século XX.
Carlos André Lopes da Silva, historiador ligado à Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, discutiu a formação, constituição e a organização da Biblioteca da Real Academia dos Guardas-Marinha em 1802. O propósito principal dessa biblioteca era prover saberes diversos relacionados com a atividade marítima aos alunos e docentes da Real Academia ainda em Portugal, dessa forma antes da transferência da família real desse país para o Brasil em 1807. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, essa biblioteca tornou-se a primeira do gênero a funcionar no Rio de Janeiro. Carlos Lopes discute em seu artigo o entrelaçamento entre os conteúdos científicos e as artes mecânicas sintetizadas no acervo bibliográfico da biblioteca, local fundamental para a formação dos futuros oficiais de marinha no período joanino. Este artigo torna-se fundamental para a discussão da alvorada da formação da Marinha Imperial Brasileira e de seu corpo de oficialato, que se refletiria certamente no desempenho profissional da força nas primeiras questões militares no recém criado Império.
Um dos temas de marcada influência na história da Marinha brasileira nos primeiros anos da República foi a Revolta da Armada. Com o título de Entre barcos e telegramas: a crise do asilo diplomático depois do fim da Revolta da Armada, o professor João Júlio Gomes dos Santos Júnior, que desenvolve pós-doutorado na Universidade Federal de Pelotas, investigou detalhadamente um dos aspectos poucos discutidos dessa revolta, que foi a troca de telegramas entre os governos brasileiro e português quando, após o término da revolta em 1894, mais de 500 combatentes brasileiros solicitaram asilo diplomático em duas corvetas da Armada de Portugal. Esse episódio desencadeou uma disputa jurídica entre Brasil e Portugal quanto à interpretação do direito de asilo político. Em meio a negociações, as duas corvetas suspenderam do Rio de Janeiro e rumaram para Buenos Aires, de onde os asilados seriam transferidos para uma embarcação fretada que os levariam a Portugal. Por questões políticas, esses revoltosos brasileiros foram impedidos de desembarcar, o que provocou ampla insatisfação com a superpopulação dos navios e o temor de uma epidemia a bordo. João Júlio discutiu em detalhes essa troca de correspondência entre os dois países, que culminou na interrupção das relações diplomáticas entre eles, só reatadas no ano seguinte com a mediação inglesa. Trata-se assim de um texto fundamental para se compreender os bastidores da Revolta da Armada.
Elizabeth Espíndola Halpern, psicóloga e oficial da Marinha, e Ligia Maria Costa Leite, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentam o interessante texto Marinha do Brasil: uma trajetória de enfardamento, a partir de um exame das fundações dessa instituição, por meio de uma análise sócio-histórica, tomando como hipótese central que a Marinha e seu componente humano têm uma trajetória histórica e uma origem e base sociais. Tanto a organização como seus profissionais são efeitos da racionalidade científica moderna, de acordo com as autoras. Para isso, as duas pesquisadoras discutem a invenção do Estado Moderno, do exército nacional e do soldado cidadão, passando em seguida a abordar o seu objeto de análise, a Marinha do Brasil, sua construção e o papel do recrutamento nessa organização. Em item subseqüente as autoras se debruçam sobre o que chamaram de “invenção do profissional militar naval” e a trajetória de enfardamento, concluindo que “os valores e preceitos militares concebidos como sínteses assumem um caráter dogmático, justificando-se por si mesmos, sem serem problematizados. De fato, eles são efeitos de uma construção cujas regras e objetivos precisam ser conhecidos”. Trata-se assim de uma interessante abordagem sobre o papel da Marinha na sociedade.
Instigante é o texto de Renato Amado Peixoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, analisando as origens, as transformações e a função do curso de História da Cartografia, de Jaime Cortesão, no Ministério das Relações Exteriores e no Instituto Rio Branco, descortinando o surgimento da Geopolítica brasileira: o trabalho nestas instituições terminou por “produzir e disseminar um saber acerca do espaço, cuja linguagem e seus usos foram enfeixados numa disciplina, a Geopolítica Brasileira, que ascenderia em importância por conta das tensões que acompanharam a separação dos cursos de Geografia e de História na década de 1940”.
Neste processo construtivo ou de fabricação, como quer o autor, uma série de ressignificações e novas identificações foram sendo cunhadas de modo a produzir um “sentido de continuidade” na história e na política do Brasil com a finalidade de dirigir a ação do Estadista e do Diplomata: a formação territorial, o pan-americanismo, a imagem de Alexandre de Gusmão e do Barão do Rio Branco, a criação do Instituto. “Jaime Cortesão, elabora a imagem da ‘Ossatura do Gigante’ para dizer da Formação Territorial do Brasil; do ‘Protótipo’ para ressaltar a figura do Barão do Rio Branco; da ‘Flecha’ para dizer de seu próprio esforço e de como os diplomatas poderiam dele se valer para acertar no ‘Alvo’”.
Já Alexandre Fiúza, da Universidade do Oeste do Paraná, no texto Uma ponte sobre o Atlântico: os exilados e as relações entre as polícias políticas brasileira e portuguesa (1950-1970) analisa brilhantemente as relações entre os órgãos de repressão portugueses a partir de extensa e significativa documentação da PIDE / DGS – Polícia Internacional de Defesa do Estado / Direcção-Geral de Segurança de Portugal e do DOPS – Delegacia de Ordem Política e Social dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba no Brasil. O autor demonstra que antes mesmo do golpe civil militar de 1964, os órgãos de segurança dos dois países mantinham estreita colaboração e que esta se aprofundou a partir da instalação do regime militar no Brasil. A partir daí, até a Revolução dos Cravos, constituiu-se uma vasta rede de comunicações que produziu informações que serviram “de parâmetro para ações práticas, como prisões, proibições e abertura de processos, no enquadramento dos setores observados, e, provavelmente, numa própria autojustificativa para a existência destes serviços e seus respectivos cargos públicos, com as comissões e extras recebidos pelos agentes quando da sua atividade rotineira ou nas `diligências` ”. Esta indústria da comunicação “construiu também uma ponte para a circulação de informações entre os dois países, bem como produziu e reforçou o convencimento dos ideais destes regimes autoritários nas próprias fileiras da repressão, seja do lado de cá ou de lá do Atlântico”.
O professor Marcos Valle Machado da Silva, da Escola de Guerra Naval, apresentou interessante artigo sobre um assunto pouco discutido na literatura naval que é a questão do Oceano Ártico como uma nova fronteira marítima. Em seu artigo O Oceano Ártico: oportunidades de nova fronteira marítima, o professor Marcos Valle argumenta que as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global não terão apenas efeitos negativos. No caso do comércio marítimo, o aumento de temperatura global poderá apresentar algumas oportunidades, principalmente a abertura de rotas marítimas ligando o Pacífico e o Atlântico pelo Oceano Ártico. Marcos Valle apresenta as projeções de acessibilidade à navegação no Oceano Ártico e as potenciais rotas marítimas que se apresentam para o comércio marítimo, para em seguida discutir como os Estados com territórios no Ártico estão articulando instituições para incrementar o comércio marítimo nessa região e, por fim, porque a China tem conseguido implementar estratégias bem sucedidas em defesa de seus interesses nesse oceano, embora seja um Estado exógeno ao Ártico. Trata-se assim de um texto importante para se compreender o potencial comercial do Oceano Ártico no século XXI em um típico exemplo de história do tempo presente.
Em um interessante texto, o professor Gabriel Passetti da Universidade Federal Fluminense, em O Estreito de Magalhães redescoberto: ciência política e comércio nas expedições de exploração nas décadas de 1820 e 1830, a partir da leitura crítica de relatos de dois comandantes exploradores britânicos, Phillip Parker King e Robert FitzRoy, discute os motivos que levaram as principais potências a se interessar pela região do Estreito de Magalhães, conciliando interesses científicos, estratégicos e comerciais, estabelecendo também relações com os indígenas locais. Esses dois exploradores realizaram serviços de exploração e mapeamento nesse estreito, porém não foram os únicos. Mais de uma dezena de embarcações não militares de diversas bandeiras cruzaram a região, sendo aquela rota de navegação intensa, o que trouxe o interesse de muitas potências ocidentais. Gabriel analisou os relatos desses dois exploradores ingleses e concluiu que a relação entre ocidentais e indígenas no sul da Patagônia e na Terra do Fogo, nas primeiras décadas do século XIX, foi marcada pelo comércio, mas não pela amizade. O Estreito de Magalhães e a Terra do Fogo eram estratégicos para o Reino Unido e esses dois exploradores procuraram identificar potencialidades econômicas e oportunidades estratégicas, tendo sempre a certeza de sua superioridade e razão. Trata-se assim de um texto importante para se desvendar o modo de pensar britânico naquele início de século XIX.
Marília Arantes Silva Moreira, mestranda na área de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, analisa a narrativa de viagem La Plata, The Argentine Confederation and Paraguay (1853 – 1860), feita pelo comandante Thomas Jefferson Page da US Navy no Water Witch. Esta viagem visava forçar a livre navegação da bacia do Prata, mapear a região e descobrir a suposta conexão entre o Prata e o Amazonas, idéia, como todos sabem, proveniente das representações sobre a Ilha Brasil do imaginário cartográfico desde pelo menos o século XVI. Em parte os objetivos foram alcançados, pela imposição ao Paraguai de acordo liberando a navegação dos rios, o mapeamento da região, mas a tão desejada ligação entre as bacias meridional e setentrional não foi encontrada. Ao longo deste processo, o Water Witch foi alvejado por forças paraguaias o que ensejou a retaliação e a imposição dos acordos de navegação com o Paraguai. A narrativa, construída a posteriori, visa legitimar as ações do comandante Jefferson apoiando-se no discurso imperial dos EUA, que por esta época fundava-se já na idéia de “Destino Manifesto”. Desta suposta superioridade dos EUA provêm as representações negativas sobre o primeiro Lopez, devido à sua política protecionista, e uma visão positivada sobre Urquiza, para o militar estadunidense, mais liberal, portanto, mais civilizado. Tanto uma representação quanto a outra são mediadas pelo desejo do avanço dos EUA na América do Sul. Importante notar que a viagem se inicia exatamente no mesmo ano de 1853, quando os EUA iniciam um contencioso com o Brasil acerca da navegação do Amazonas, tema já explorado pela historiografia.
Finalmente, Fernando Ribas De Martini, mestrando em História Social, também da Universidade de São Paulo, desenvolve um tema – Toneladas de Diplomacia num mar sem fronteiras: discussões sobre os poderes navais de Argentina, Brasil e Chile, no início do século XX -, que tangencia e dialoga com os textos de Silvia Capanema e José Miguel Arias Neto. Trata-se da corrida armamentista que se estabeleceu na América do Sul, no contexto do desenvolvimento dos Impérios em final do século XIX e que resultou em uma disputa pela hegemonía militar, o que no período implicava em possuir o maior Exército e a maior Marinha. Não é ao acaso que os grandes empreendimentos capitalistas do período eram as indústrias química e metalúrgica. Mas Fernando De Martini aborda a corrida armamentista, no caso naval, dentro de uma perspectiva interesantísima, que é a busca de articular as relações internacionais no grupo ABC – Argentina, Brasil e Chile no contexto do Pan-Americanismo e da influencia dos EUA; o estado do desenvolvimento tecnológico que, rápidamente impõe oscilações aos frágeis compromisos políticos e diplomáticos conquistados, e, finalmente, ao fato de que boa parte da intelectualidade latino americana discutía os programas de reaparelhamento naval dos três países a partir de uma perspectiva anti-americana.
Esperamos que o leitor aprecie os textos que compõem este dossiê, cuja organização foi muito prazerosa.
Francisco Eduardo Alves de Almeida – Escola de Guerra Naval
José Miguel Arias Neto – UEL / UNICENTRO
Rio de Janeiro / Londrina, inverno de 2014.
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
História e Diversidade | UNEMAT | [2014]-2018
A revista eletrônica História e Diversidade (Cáceres, [2014]-), do Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, vinculada a Linha de Pesquisa “Ensino de História, Educação Escolar Indígena e Diversidade Cultural” é uma revista destinada à publicação de trabalhos oriundos de estudos, pesquisas, experiências didático-pedagógicas e/ou de extensão sobre as temáticas relacionadas à História e Historiografia; Ensino de História; Formação de Professores; Diversidade Cultural e temáticas afins.
A revista, de publicação semestral, se propõe a ser um canal de divulgação da produção de professores e pesquisadores da UNEMAT e demais universidades.
A veiculação gratuita e integral dos textos via internet possibilita maior circulação e visibilidade para os estudos publicados, permitindo fácil acesso a professores, pesquisadores, alunos e demais interessados com os rumos e inovações do conhecimento cientifico produzido na atualidade.
A revista História e Diversidade possui como objetivo principal a divulgação de trabalhos científicos que contribuam para o progresso e inovação na área de História, Ensino de História, Educação, Diversidade Cultural e Formação de Professores, constituindo-se como um lócus privilegiado de encontro e intercambio de diferentes tendências teóricas e um espaço para a apresentação de discussões sobre a produção do conhecimento nas diferentes áreas das ciências humanas.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Magallánica | UNLP | 2014
Magallánica, Revista de Historia Moderna (Mar del Plata, 2014-) es una publicación de acceso abierto editada por el Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata-Argentina.
Magallánica…publica trabajos originales e inéditos, resultado de investigaciones científicas procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas, sobre el período definido como Modernidad Clásica (siglos XVI-XVIII). Los artículos son evaluados por especialistas, locales y extranjeros, externos al Comité editorial, en las diversas temáticas a través del sistema de doble par ciego (peer review). Por este medio, se garantiza que los trabajos cumplan con los requisitos fundamentales de rigurosidad y objetividad científica al momento de que éstos sean presentados a los lectores, sean académicos o cientistas especializados como público en general.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2422-779X
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
LHISTE | UFRGS | 2014
A Revista do LHISTE – Laboratório de Ensino de História e Educação da UFRGS (Porto Alegre, 2014) – é uma publicação semestral especializada em trabalhos acadêmicos sobre o ensino de história, em todos os níveis e etapas educativas, além de sua intersecção com outras áreas do conhecimento.
Constitui-se, portanto, em espaço para a comunicação de pesquisas e reflexões sobre a prática docente, os processos de aprendizagem, a construção de currículos em história, a formação de professores, a memória e a educação patrimonial e o ensino de história e a interdisciplinaridade, entre outros temas caros ao campo.
Também visa à divulgação e registro de novas estratégias, metodologias e objetos, formando um banco de dados especializado em boas práticas pedagógicas de professores em formação inicial, nos estágios e no PIBID/História, assim como de professores da educação básica.
É formada por um Conselho Editorial vinculado ao LHISTE e um Conselho Consultivo mais amplo, composto por professores-pesquisadores de diversas instituições universitárias do país e do exterior, com reconhecida atuação no ensino de história e áreas afins.
É dividida em quatro seções, como descritas abaixo, Artigos, Relatos, Resenhas e Entrevistas. Os trabalhos que se enquadram nas três primeiras categorias são recebidos em fluxo contínuo e avaliados por pares. Podem ser submetidos textos de graduandos, pós-graduandos e profissionais formados em licenciaturas, mestrados e doutorados em História e áreas afins.
Além dos trabalhos recebidos continuamente pelo SEER (Sistema de Editoração Eletrônica da UFRGS), a revista pode publicar dossiês temáticos, com chamadas regulares. Também são previstos números especiais extraordinários, com temas específicos e registros de eventos organizados pelo LHISTE e/ou de relevância para o ensino de história.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2359-5973
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
A morte de Luigi Trastulli e outros ensaios: Ética, memória e acontecimento na história oral | Alessandro Portelli
O livro “A morte de Luigi Trastulli e outros ensaios: ética, memória e acontecimento na história oral” proposto para análise é de autoria de Alessandro Portelli, que o dividiu em duas partes: “Oralidade, ética e metodologia” e “Acontecimentos, memórias e significados”, respectivamente.
Alessandro Portelli é um dos autores mais importantes no cenário mundial no que se refere ao tema da História Oral. Professor de literatura norte-americana na Universidade de Roma, Portelli fez inúmeros trabalhos de campo nos Estados Unidos e na Itália, resultando na publicação de obras que são referências na História Oral, entre elas “Biografia di una città. Storia e racconto: Terni, 1830-1985”, “Storie Orali. Racconto, immaginazione, dialogo” e “Ensaios de História Oral”. O autor fundou o “Circolo Gianni Bosio” – espaço para pesquisa de memória, música e culturas populares – onde desenvolve, comunica e expande seus trabalhos. Leia Mais
História militar do Mundo Antigo: guerras e representações | Pedro Paulo A. Funari et. al
A obra História Militar do Mundo Antigo, lançada em 2012 pela editora Annablume, é dividida em três volumes: I – Guerras e Identidades, II – Guerras e Representações e III – Guerras e Culturas. A série é organizada pelos estudiosos Pedro Paulo Abreu Funari, professor da Universidade Estadual de Campinas, Margarida Maria de Carvalho, da Universidade Estadual Paulista (campus de Franca), Claudio Umpierre Carlan, docente de Unifal, e Érica Cristhyane Morais da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesta resenha, será analisado o segundo volume, que objetiva mostrar como distintas culturas do Mundo Antigo se representavam nos conflitos bélicos.
O livro se inicia com uma apresentação dos organizadores que recapitula o estudo da História Militar e defende como ele tem sido renovado graças à incorporação de temas relacionados à vida sexual, às identidades sociais, ao colonialismo, às relações de gênero, às subjetividades e ao abastecimento militar. O primeiro artigo do tomo é de Katia Maria Paim Pozzer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de título “Guerra e Arte no Mundo Antigo: Representação Imagética Assíria”. Nele, Pozzer investiga os baixo-relevos de palácios assírios, advogando-os como fundamentais na organização social daquela sociedade, em particular na guerra. Isto porque os relevos apresentam, muitas vezes, as vitórias assírias obtidas no campo de batalha, em especial a crueldade empregada contra seus atacantes. Além disso, mostravam o monarca como campeão militar, aspecto de primeira grandeza em sua legitimidade.
O segundo artigo do volume é “Marchando ao som de auloí e trompetes: a música e o lógos hoplítico na Grécia Antiga”, do docente da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Vergara Cerqueira. O autor defende que a música encontrava-se no âmago na sociedade grega Antiga, se fazendo presente até nas mais ígneas batalhas, conforme encontrado em autores clássicos e na iconografia de vasos de cerâmica. Também é destacado o pioneirismo espartano no uso de instrumentos em campos de guerra, facilitando a comunicação entre os combatentes. Maria Regina Candido, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Alair Figueiredo Duarte, doutorando da mesma instituição, assinam o texto “Atenas entre a Guerra e a Paz na Região de Anfípolis”. Analisando como região de Anfípolis era de grande importância estratégia devido a seus recursos naturais e questões relativas ao abastecimento militar, os estudiosos relatam toda a série de escaramuças que ocorrem por seu controle. Já Ana Teresa Marques Gonçalves, professora da Universidade Federal de Goiás, e Henrique Modanez de Sant’Anna, docente da Universidade de Brasília, põem sua rubrica no texto “As Mandíbulas de Aníbal: os Barca e as Táticas Helenísticas na Batalha de Canas (216 a.C.)”. O artigo desvenda as estratégias do célebre general cartaginês durante as Guerras Púnicas, alegando que a vitória avassaladora das forças de Cartago na batalha de Canas teria promovido uma profunda reorganização das tropas romanas, que voltaram a pautar seu contingente pelo apelo aos “soldados-cidadãos”.
O escrito “Aquisição de inteligência militar entre Alexandre e César: dois estudos de caso” é de lavra de Vicente Dobroruka, também da Universidade de Brasília. Nele, define-se aquisição de inteligência militar como a obtenção de informações acerca do inimigo, aspecto explorado na análise das trajetórias dos conquistadores supracitados. Valendo-se de trechos de autores como Plutarco, Arriano e do próprio César, Dobroruka objetiva demonstrar como a obtenção de dados sobre os adversários é um prática que data de há muito, embora com notáveis diferenças em relação ao mundo hodierno. Claudia Beltrão da Rosa, professora da Unirio, contribui com “Guerra, Direito e religião na Roma tardo-republicana: o ius fetiale”. Os ius fetiale, mencionados no título, eram sacerdotes romanos responsáveis por uma declaração formal de guerra, por meio de uma série de rituais, o que os colocaria como personagens de relevo numa sociedade marcada pela interseção entre o direito, a guerra e a religião. Fundamental mencionar que estes rituais sofreram mudanças ao longo do tempo, em particular durante o período imperial, no qual as batalhas eram travadas a distâncias cada vez maiores da Península Itálica.
O professor Fábio Joly, da Universidade Federal de Ouro Preto, é responsável pelo capítulo “Guerra e escravidão no Mundo Romano”. Nele, o que mais chama a atenção é o relato das ressignificações que a figura do escravo rebelde Espártaco teve no correr dos séculos, de ícone da luta proletária marxista a baluarte da disputa por liberdade política na Europa do Antigo Regime. A docente da UFPR, Renata Garraffoni, assina “Exército romano na Bretanha: o caso de Vindolanda”. Garraffoni revisita as formas por meios das quais a História e a Arqueologia abordaram as relações culturais no Mundo Antigo, primeiro com modelos normativos rígidos e depois com abordagens mais multifacetas e fluidas. No caso de Vindola, região da Bretanha Romana, mostra-se como inscrições encontradas em cultura material podem advogar em favor de uma sociedade na qual as mulheres também possuíam certa voz ativa. Lourdes Feitosa, da Universidade Sagrado Coração, e Maximiliano Martin Vicente, da Unesp/Bauru, também analisam as questões de gênero em “Masculinidade do soldado romano: uma representação midiática”. O estudo de caso dos autores é o seriado “Roma”, exibido nos canais HBO e BBC. De acordo com os estudiosos, a série reforça os estereótipos de Roma com uma sociedade violenta e libidinosa. Neste particular, as personagens masculinas, como legionários e centuriões, são, amiúde, representadas como beberrões, mulherengos e impetuosos.
“O Poder romano por Flávio Josefo: uma compreensão política e religiosa da submissão” é o título do texto de Ivan Esperança Rocha, da Unesp/Assis. Ao aquilatar os escritos de Josefo, o autor pondera sobre os seus aspectos dúbios, uma vez que eles, ao mesmo tempo, são elogiosos tanto a romanos quanto a judeus. Regina Maria da Cunha Bustamante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, emprega sua pena em “Bellum Iustum e a Revolta de Tacfarinas”. O conceito romano de Bellum Iustum liga-se à noção “guerra defensiva”, ou seja, um conflito militar que tem sua origem numa infâmia provocada pelo inimigo. Já a Revolta de Tacfarinas foi um levante que insurgiu contra o jugo romano no norte da África no princípio do século I. Andrea Rossi, da Unesp/Assis, é a autora de “As guerras dádicas: uma leitura da fontes textuais e da Coluna de Trajano (101 d.C – 113 d.C.)”. Visando a uma diálogo entre as fontes materiais e textuais, o artigo analisa a expansão territorial promovida pelo Imperador supracitado tanto à luz dos autores clássicos como das imagens de seu triunfo estampadas na famosa coluna. “Exército, Igreja e migrações bárbaras no Império Romano: João Crisóstomo e a Revolta de Gainas”, de Gilvan Ventura da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo) é o último artigo do volume. O autor versa a respeito de toda a série de conflitos ocorridos no período final do Império romano em virtude das migrações bárbaras e suas relações com os imperadores e as práticas religiosas.
Diante do que foi exposto, fica patente que História Militar do Mundo Antigo: guerras e representações é uma obra de grande valor. Trata-se de um volume com artigos de alto grau de sofisticação e com reflexões que, decerto, irão interessar não somente aos aficionados pelos combates travados na Antiguidade, mas a todos que têm em mente a máxima de Heráclito: “a guerra é o pai de todas as coisas”.
Thiago do Amaral Biazotto – Graduado em História pela Unicamp. Mestrando em História pela mesma instituição.
FUNARI, P. P. A.; CARVALHO, M. M.; CARLAN, C.; SILVA, E. C. M. (Orgs.). “História militar do Mundo Antigo: guerras e representações”. São Paulo: Annablume, 2012. Resenha de: BIAZOTTO, Thiago do Amaral. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.160-163, 2014.
Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel | Bernard M. Levinson
É com entusiasmo que recebemos em língua portuguesa uma obra de Bernard M. Levinson.2 Temos em mãos uma pesquisa multidisciplinar seminal, cujo objetivo do autor é “abrir o diálogo entre os Estudos Bíblicos e as ciências humanas” (p. 33). As abordagens científicas são dos documentos legais da Bíblia hebraica, mas não se restringem a eles, tendo como cenário o Sitz im Leben siro-palestino no contexto das transições sociais envolvendo a população judaíta entre os séculos VIII-V a.C. Diante das quase restritivas especializações acadêmicas o objetivo é digno de nota, por isso o livro traz já em seu primeiro capítulo, “Os estudos bíblicos como o ponto de encontro das ciências humanas”, a argumentação conceitual sobre o “cânon” como uma possível ponte entre disciplinas que trabalham a reavaliação das forças intelectuais e históricas, as ideologias e códigos definidores do cânon bíblico e de outros cânones.[3]Para o autor, a “ausência de diálogo com os Estudos Bíblicos empobrece a teoria contemporânea em disciplinas nas ciências humanas e a priva de modelos intelectuais que de fato favoreceriam o seu intento” (p. 28), mormente em seu emprego crítico das teorias das suposições ideológicas que objeta a noção de um cânon por ser a mesma uma entidade autossuficiente, um fóssil literário imutável.
É por este pressuposto que os estudos em história, arqueologia, filosofia, filologia e antropologia – acrescentaríamos a psicologia –, mesmo como disciplinas, podem contribuir conjuntamente com os Estudos Bíblicos quanto ao exame das construções teóricas e processos metodológicos com base histórica, pois o próprio cânon sanciona a centralidade da teoria crítica. Nesse sentido, “a interpretação é constitutiva do cânon” (p. 39). As camadas literárias, particularmente, e os livros da Bíblia hebraica não devem ser vistos somente como “teologia”, mas mormente como obra intelectual. Desse modo, a teoria cultural, por exemplo, atingiria maior fundamentação em diálogo com a pesquisa cujo foco é o rigor filológico. Aqui está realmente um dos temas em que o livro se encaixa nos debates contemporâneos, problematizado por várias abordagens.
Em princípio, a eliminação dos códigos legais do corpus bíblico da noção de lex ex nihilo. A cultura material do antigo Oriente-Próximo tem comprovado que as leis cuneiformes, originadas na Suméria no final do terceiro milênio a.C. e descobertas em escrita suméria, acadiana e hitita, ao espalhar-se pelo Mediterrâneo influenciaram inclusive os escribas israelitas, que passaram a copiá-las (como o modelo de tratado neoassírio pressuposto como modelo no livro do Deuteronômio, capítulo 28). “Usando as categorias da crítica literária, pode-se dizer que uma voz textual era dada a essas coleções legais por meio de tal moldura, que as coloca na boca de um monarca reinante. Não é que o divino esteja desconectado da lei no material cuneiforme” (p. 46). De fato, as chamadas leis humanitárias israelitas são expressão revelada do divino, de forma que inexiste atribuição autoral, mas um mediador venerável.
Nessa reorganização de textos, surge a necessidade por parte dos revisores de evitar o questionamento à infalibilidade de Deus e o conceito de revelação divina, resolver o acaso de injustiça de Deus e manter a perpetuidade das leis. Estas questões estão arguidas e pesquisadas exemplarmente do capítulo dois ao quatro no livro e com suas implicações melhor elaboradas no capítulo cinco – intitulado “O cânon como patrocinador de inovação”. Entretanto, resta a constatação, não vista por Levinson, de que o Deus do antigo Israel nunca refere a sua palavra (dabar) como “lei” (dat), mas como “instrução” (torah). Estes problemas são elucidados pelo autor à medida que identifica as técnicas literárias israelitas, mormente nas composições sacerdotais do período pós-exílico (após 538 a.C.) com evidências na Antiguidade Clássica, nomeadamente a subversão textual estruturada como “lema”, “retórica de encobrimento”, “exegese harmonística”, modelos e terminologias dos tratados de Estado hititas, neoassírios e aramitas, o straw man (técnica retórica de superar a proposição original), o tertium quid (presente no Targum), a paráfrase homilética, retroprojeção, adição editorial, pseudepigrafia, glosa. Todo o trabalho hermenêutico intracanônico, literariamente revisionista, ocorre tendo como tempo narrado o ambiente político das ameaças neoassíria e, em seguida, neobabilônica aos grupos populacionais israelitas na faixa leste-oeste da região do Jordão, cujo tempo presente dos escribas são os períodos arqueológicos persa e grego.
Decerto, a apresentação de uma obra ou biblioteca autorizada como obra aberta não é novidade, mas não a tarefa de repensá-la a partir da sua “fórmula de cânon” em relação à exegese e à hermenêutica intracanônicas,[4] histórica e filologicamente apropriadas como instrumentos de renovação cultural. Bernard M. Levinson empreende tal pesquisa com as camadas literárias legais tendo como fontes as coleções legais reais do Oriente-Próximo e a sua noção de um vínculo jurídico obrigatório, compreendidas como sendo feitas em perpetuidade. A fórmula nos textos do antigo Oriente tem a intenção de impedir inovações literárias, preservar o texto fixado originalmente. Com isso, as gerações posteriores têm o desafio de ampliar um corpus delimitado, suficiente e autorizado através da incorporação das suas vidas, adaptando-o às realidades em suas amplas esferas não contempladas na época de sua composição. Destarte, esses procedimentos etnográficos, não raros no antigo Oriente-Próximo, estão presentes na literatura do antigo Israel.
A originalidade da historiografia bíblica [5] é explorada na pesquisa sobre a revisão legal para demonstrar a própria ideia de história legal em que o tempo narrativo serve como um tropo literário em apoio à probabilidade jurídica. Quanto a isso, Bernard M. Levinson apresenta uma interpretação metodologicamente complexa e inovadora do livro de Rute da Bíblia hebraica, apresentando-o como oposição revisionista e talvez subversiva das “leis mosaicas” operadas pelo escriba judeu Esdras no final do século V a.C. Assim, ele introduz o debate sobre as identidades étnica e social no âmbito das questões jurídicas e sua transferência para o domínio teológico.
Fundamentando-se em sólido trabalho documental (chamamos a atenção para as notas de rodapé!), a pesquisa da revisão legal no antigo Israel apresenta como seu ponto alto da multidisciplinaridade os textos do livro do profeta Ezequiel da Bíblia hebraica (profeta ativo de c. 593-573 a.C.).[6] Aqui o debate profético dá-se com o Decálogo e a sua doutrina do “pecado geracional”. O profeta revisa a doutrina, minuciosamente historicizada por Levinson apreendendo a técnica do straw man: o profeta lança mão de uma estratégia para absolvição por rejeição popular da torah divina através de institucionalização de sabedoria popular, o que extrapola como história social os limites da teologia. De forma adequada para prosseguir na abordagem da interpretação e revisão da “lei” no livro do Deuteronômio e nos Targumim, [7] Levinson demonstra que o livro do profeta Ezequiel ao rejeitar por completo a doutrina do pecado geracional está argumentando “que o futuro não está hermeticamente fechado” (p. 78), o que para a sua época soaria como uma pedagogia da esperança. O argumento é de que “a despeito da sua terminologia religiosa, ela [a formulação da liberdade elaborada pelo profeta] é essencialmente moderna em sua estrutura conceitual” (p. 79), comparável na história da filosofia ao conceito de liberdade moral de Immanuel Kant (1724-1804).
Tanto quanto Ezequiel fez, Kant prepara uma crítica pungente da ideia de que o passado determina as ações de uma pessoa no presente. Ele desafia qualquer colocação que reduza uma pessoa ao seu passado e impeça o exercício do livre arbítrio ou a possibilidade de mudança. Ele sustenta que as pessoas são livres a cada momento para fazerem novas escolhas morais. Sua concepção de liberdade é dialética: embora não exista na natureza nenhuma liberdade proveniente da causalidade (de uma causa imediatamente precedente), a liberdade de escolha existe para os seres humanos com base na perspectiva da ética e da religião (p. 79).
Assim como o filósofo Immanuel Kant rejeita filosofias coetâneas (Thomas Hobbes, o determinismo associado ao “espinosismo”, Gottfried Leibniz), o profeta Ezequiel rejeita o determinismo pactual templar do período da monarquia israelita, tendo a seu favor o caráter dialético do conceito de autoridade textual presente no antigo Israel. Portanto, não é difícil desfazer o ponto cego filosófico entre razão e revelação. E, ao contrário do que comumente se pensa, a revisão do cânon é intrínseca ao próprio cânon, pois “a revelação não é anterior nem externa ao texto; a revelação é no texto e do texto” (p. 95); daí a pseudepigrafia mosaica, que contribui teórica e metodologicamente para uma história da recepção e interpretação dos textos.
Em adição, um terço do livro, isto é, o sexto capítulo, dedica-se ao pesquisador, a nosso ver, sem prejuízo dos demais leitores; o autor o chama de “genealogia intelectual” ou história da pesquisa por meio de pequenos ensaios bibliográficos de várias das mais importantes obras científicas sobre a literatura e a sociedade do antigo Israel, desde a produção do final do século dezenove até a mais recente. Por fim, saliente-se que o autor do livro não esboçou alguma tentativa de conceituar “etnicidade e identidade” – assim mesmo enunciado, como fundações construcionistas isoladas [8] – e a sua aplicação aos grupos populacionais da Antiguidade, omissão que não compromete a importância e a qualidade científica do livro, que certamente interessará aos estudiosos da grande área de Ciências Humanas.
Notas
3. Com relação à literatura clássica ocidental, basta consultar as últimas obras de Harold Bloom (Yale University) para perceber que ele dedicou-se a esta tarefa; com relação à literatura hebraica, mencionamos a importante produção de Robert Alter (University of California). Sem embargo, é sempre pertinente voltarmos à obra-prima fundante de Eric Auerbach, Mimesis (publicada no Brasil pela editora Perspectiva).
4. Para Levinson, exegese ou hermenêutica é o conjunto de estratégias interpretativas destinado a estender a aplicação de um cânon à vida e suas circunstâncias não contempladas. Para conceito e abordagem diferentes sugerimos a opus magnum em três volumes de Jorn Rüsen, publicada pela editora da Universidade de Brasília, Teoria da história I (2001), Teoria da história II (2007) e Teoria da história III (2010).
5. Este domínio da História há muito tem sido tema de importantes pesquisas de historiadores, arqueólogos, antropólogos e filólogos, das quais arrolamos algumas não citadas por Levinson: CHÂTELET, François. La naissance de l’histoire. Tomes 1 et 2. Paris: Éditions de Minuit, 1996; MOMIGLIANO, Arnaldo. Problèmes d’historiographie ancienne et moderne. Paris: Gallimard, 1983; SETERS, John van. Em busca da história: historiografia no mundo antigo e as origens da história bíblica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008; ASSMANN, Jan. La mémoire culturelle: écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques. Paris: Éditions Flammarion, 2010; PRATO, Gian Luigi. Identità e memoria nell’Israele antico: storiografia e confronto culturale negli scritti biblici e giudaici. Brescia: Paideia Editrici, 2010; LIVERANI, Mario. Oltre la Bibbia: storia antica di Israele. 9. ed. Roma, Editori Laterza, 2012 [1. ed., 2003].
6. John Baines em importante investigação sobre a realeza egípcia (BAINES, John. “A realeza egípcia antiga: formas oficiais, retórica, contexto”. In: DAY, John (org.). Rei e messias em Israel e no antigo Oriente Próximo. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 48-49), ao referir-se à religião e crenças egípcias oferece uma informação relevante sobre a Bíblia hebraica: “Assmann [Jan] considera a evocação pelo rei da ordem geral parte do caráter de ‘religião primordial’ das crenças egípcias: a ‘religião’ egípcia é de uma sociedade ou civilização única e não pode ser separada da ordem social dessa sociedade. O mundo da Bíblia Hebraica era um mundo de fé declarada e de compromisso com uma divindade e um sistema religioso determinados por grupos principalmente de elite em uma sociedade organizada relativamente pequena que se insurgiu contra outras sociedades circundantes, mas também tinha aspirações universalizantes; suas crenças normativas também eram objeto de intensa discussão interna”. Em adição, a nosso ver, por uma forte corrente religiosa posicionar-se em favor do “povo da terra” e contra a monarquia, que mantinha o templo como uma espécie de anexo legitimador do palácio, a religião do antigo Israel pré-exílico manteve características suprassociais e maior atenção aos movimentos vitais.
7. Apenas como informação geral, a grafia para expressar uma determinada quantidade de Targum ou o seu plural não é “targuns”, como traduzido no livro (p. 92), mas Targumim.
8. Em contrário, “identidade” é um termo autoexplicativo usado de diferentes maneiras, não é algo estático, mas um processo contínuo e interativo; portanto, construímos identidades étnica, religosa, de gênero etc. Sobre isto, à época da sua pesquisa Bernard M. Levinson teria provavelmente acesso à importante obra: DÍAZ-ANDREU, Margarita et al. The archaeology of identity: approaches to gender, age, status, ethnicity and religion. London: Routledge, 2005. Em adição, recomendamos ao leitor: CARDOSO, Ciro Flamarion S. “Etnia, nação e a Antiguidade: um debate”. In: NOBRE, Chimene Kuhn; CERQUEIRA, Fabio Vergara; POZZER, Katia Maria Paim (eds.). Fronteiras e etnicidade no mundo antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Pelotas, 15-19 de setembro de 2003. Pelotas: Editora e Gráfica da Universidade Federal de Pelotas; Canoas: Editora da Universidade Luterana do Brasil, 2005, p. 87-104. Recentemente publicamos uma pesquisa com esta temática: SANTOS, João Batista Ribeiro. “Os povos da terra. Abordagem historiográfica de grandezas sociais do antigo Oriente-Próximo no segundo milênio a.C.: uma apresentação comparativa”, Revista Caminhando, v. 18, n. 1, p. 125-136, 2013.
João Batista Ribeiro Santos – Mestre em Ciências da Religião, com pesquisa na Bíblia hebraica, pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e mestre em História, com pesquisa em história antiga, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
LEVINSON, Bernard M. Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel. Tradução de Elizangela A. Soares. São Paulo: Paulus, 2011. Resenha de: SANTOS, João Batista Ribeiro. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.164-169, 2014.
Acessar publicação original [DR]
História | Anpuh-PB | 2014-2016
O foco da Revista Paraibana de História (João Pessoa, 2014-2016) é promover a divulgação de produções originais (artigos, resenhas e entrevistas) elaborados em consonância com a produção historiográfica contemporânea, buscando se constituir como um espaço de veiculação de práticas de pesquisa, extensão e ensino da história, bem como reflexões acerca de sua escrita.
Objetivos específicos
- Incentivar a interlocução entre os profissionais que atuam nos diversos segmentos que compõem o ofício do historiador ou que tomem a história como objeto de suas produções;
- Contribuir para a aproximação entre a produção desenvolvida nos espaços acadêmicos e escolares, possibilitando interações entre os conhecimentos históricos produzidos nesses dois âmbitos;
- Originar um espaço de publicação que embora procure se basear em diretrizes científicas não esteja predominantemente voltado para índices quantitativos de avaliação.
Periodicidade semestral.
Imigração, memória e identidade / Ágora / 2014
Neste dossiê, intitulado Imigração, memória e identidade, pretende-se discutir a imigração, a memória e a identidade a partir de perspectivas múltiplas. Neste sentido, Beatriz Vitar traz para o debate a importância das recordações e das vivências familiares e coletivas como elementos forjadores da identidade de um grupo. Para tal, utiliza o testemunho de um descendente de granadino assentado na Argentina. Leslie Nancy Hernández Nova analisa os sentimentos de pertencimento de diferentes gerações peruanas na Europa, com recorte nos mais jovens. Menara Lube Guizardi e Alejandro Garces propõem um estudo que vise compreender a migração nas nações andinas – Peru, Bolívia e Chile – numa dimensão macrossocial, económica e política. Maria Catarina C. Zanini reflete sobre alguns aspectos de cidadãos brasileiros, descendentes de imigrantes italianos, cuja cidadania italiana é legitimada pelo Estado italiano e a complexidade e os distanciamentos existentes entre o reconhecimento de direito e a cidadania de fato na Itália. Luis Fernando Beneduzi, partindo da trajetória de um brasileiro descendente de trentinos, residente na cidade de Trento (Itália), analisa este percurso ponderando sobre a interligação entre a realidade presente e a memória do passado vivido. Filipo Carpi Girão e Maria Cristina Dadalto partem de testemunhos de jovens integrantes de um grupo de dança folclórica italiana no estado do Espírito Santo, para buscar entender como se dá o aprendizado e a reconstrução das tradições a partir da dança. Edenize Ponzo Peres apresenta os resultados de um estudo de sociolinguística com descendentes de imigrantes vênetos residentes na comunidade de Araguaia, zona rural do município de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo. Assim, avalia que, se a identidade do falante para com os seus antepassados é importante para a manutenção de uma língua minoritária, o fator identidade não conseguiu superar a pressão da cultura majoritária, culminando no desaparecimento do vêneto.
Maria Cristina Dadalto – Organizadora.
[DR]Perspectivas da História Regional / Ágora / 2014
Apresentamos, neste número da Revista Ágora, o dossiê “Perspectivas da História Regional”. Trata-se de um esforço editorial pela reunião de estudiosos dessa abordagem historiográfica que, utilizando de instrumental teórico-metodológico e de escolhas de fontes muito particulares, privilegiam temas ligados a questões e problemas circunscritos, em geral, a locais e territórios específicos que, via de regra, são insuficientemente abordados na “grande” história.
A resposta que tivemos foi amplamente satisfatória, tanto porque o número de trabalhos versando sobre temas do Espírito Santo coloca a Ágora à proa de publicações que, fazendo jus pertencer ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, consegue atrair o interesse de autores que efetivamente se debruçaram sobre a história dessa parte do Brasil. E porque alinha no mesmo dossiê temas pouco ou nada dominados e nisso cumpre sua função divulgadora da história regional que aqui se produz. Trata-se, portanto, essa edição, de um dossiê capixaba.
A ordem dos trabalhos já demonstra nosso interesse também em pesquisas que extrapolam os liames temporais para os povos primitivos do território brasileiro e suas formas de vida pré-colonial. Em “Vasilhas duplas Aratu (macro-jê) em Sítio Tupiguarani: evidência de contato?” os arqueólogos e historiadores Neide Barrocá Faccio, Henrique Antônio Valadares Costa, Juliana Aparecida Rocha Luz, Diego Barrocá e Eduardo Pereira Matheus ali reunidos atualizam as pesquisas em sítios arqueológicos do norte do estado de São Paulo e apontam para a existência de contato entre os povos indígenas da tradição Aratu-Sapucaí e os da tradição Tupiguarani. A evidenciação de vasilhas duplas, características da Tradição Aratu-Sapucaí, em sítios Guarani, no vale do Rio Paranapanema paulista, reforça a hipótese dos autores de ter havido contato entre indígenas dessas distintas tradições, o que traz luz a pesquisas em arqueologia histórica, também realizadas em outras regiões brasileiras, inclusive no Espírito Santo, onde ocorrem ambas as tradições.
Adentrando diretamente o terreno da história colonial capixaba, a portuguesa Maria José dos Santos Cunha brinda-nos com o artigo “Maracaiaguaçu, O Gato Grande, aliás, Vasco Fernandes, ou o elogio do discurso evangelizador”, originado de seus estudos inéditos sobre patrimônio e riqueza dos jesuítas na capitania do Espírito Santo. A autora destaca, através da versão dos jesuítas que o conheceram, a figura pouco conhecida de Maracaiaguaçu, o chefe temiminó refugiado com a sua tribo, em 1555, na ilha de Santo Antonio. Da leitura dos textos jesuíticos despontam, paralelamente, a figura desse chefe, as alianças políticas, a visão edificante da conquista espiritual que justificava a evangelização. Seu trabalho permite-nos aceder ao espaço negocial entre conquistadores e indígenas, entremeado de mal entendidos e compromissos, cujo final era a integração dos indígenas no mundo colonial.
Na mesma linha elucidativa do mundo colonial, Anna Karoline da S. Fernandes e Luiz Cláudio M. Ribeiro, em “Poderes inferiores e política fiscal na capitania do Espírito Santo no período da monarquia dual (1580-1640)” circulam a contrapé do senso histórico comum que pensa a Monarquia Dual (1580-1640) como um período sem alterações administrativas em Portugal e buscam compreender a influência das formas de poder expressas nos novos órgãos de controle fiscal e da justiça daquele período Filipino na capitania do Espírito Santo. Tais órgãos, inseridos pelas reformas Habsburgo nos domínios portugueses durante a União Ibérica (1581-1640), visavam coibir o descaminho de mercadorias, controlar a arrecadação e aumentar os rendimentos régios. No Espírito Santo, a ação dos agentes desses órgãos de controle acabou por devassar as ilicitudes do provedor e do almoxarife da Alfândega e mercadores da capitania. Todavia, o artigo demonstra que, malgrado o endurecimento do controle, ocorreram alianças que resultaram no fortalecimento dos poderes locais na capitania. Tais alianças de poder econômico e político dividiam, na prática, o poder real que não dispunha de mecanismos para confrontar as ilicitudes cotidianas.
Fechando o período colonial, Helmo Balarini e Luiz Cláudio M. Ribeiro apresentam em “Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e a economia de mercês nas práticas administrativas da Capitania do Espírito Santo” uma análise da concessão de hábitos de Cristo, relacionando a prática do pedido e concessão de mercês régias à transição da administração de donatários “presentes” para donatários “ausentes”, fator determinante para a consolidação de uma “economia de mercês” na capitania, regendo a contratação de “servidores” para os postos da burocracia nas franjas do Império Português.
Em seguida, Leandro do Carmo Quintão, em “Estrada de ferro e territorialidade no Espírito Santo da Primeira República” enfoca no papel ferrovias construídas no estado do Espírito Santo durante a Primeira República para a configuração de uma territorialidade estruturada no fortalecimento da capital, Vitória, e de seu porto, em relação aos demais terminais portuários do estado. Utilizando-se de conceitos da geografia política, associados à análise histórica, o autor problematiza o papel das vias férreas em sua relação com a economia do café e sua inserção política dentro de um projeto de desenvolvimento regional vitorioso.
Já o artigo “Lutando com “Ordem e Disciplina”: o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (1934-1953)”, produzido por André Ricardo V. V. Pereira, foca as entidades classistas de trabalhadores e a fase inicial da organização sindical no Espírito Santo. Trata do Sindicato dos Bancários entre 1934 e 1953, quando se deu uma transição no comando político para um grupo hegemônico da entidade. Nesse momento, a principal liderança do Sindicato se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e se elegeu vereador na capital capixaba. O estudo de caso serviu como ilustração para que o autor discutisse as tensões e contradições reveladas naquela fase chamada de “modo de regulação populista sob condições do pós-fordismo periférico” ocorrido em entidades sindicais capixabas.
E para fechar o dossiê proposto, Diones Augusto Ribeiro apresentou seu estudo “Uma perspectiva conservadora do desenvolvimento econômico capixaba no pós-1964: o governo Arthur Gehardt e os Grandes Projetos de Impacto (1971-1975)”. Nele, o autor mergulha na sempre polêmica questão do desenvolvimento regional capixaba através da inserção da economia local no contexto do capitalista monopolista do século XX, em que diversas políticas públicas foram criadas com o objetivo de superar a dependência da cafeicultura através da industrialização e da diversificação da infraestrutura. Os Grandes Projetos de Impacto gestados no governo de Arthur Carlos Gehardt Santos (1971-1974) visavam adequar a economia regional à dinâmica oligopolista internacional, através da associação do capital público com o privado. O autor conclui que o desenvolvimento proposto pelas elites do estado naquele contexto não foram acompanhadas de reformas sociais e estruturais significativas, cujos efeitos atuais são principalmente a miséria e a violência endêmica, o que valida sua tese sobre a perspectiva conservadora do crescimento econômico ocorrido.
Na sessão de artigos livres, publicamos a contribuição de João Carlos Furlani, autor de “Usos do gênero biográfico na Antiguidade Tardia: educação e moral cristã em Vita Olympiadis” em que discute as possibilidades investigativas do gênero biográfico, com enfoque nos estudos da Antiguidade Tardia. O autor aborda a apropriação dos gêneros literários por autores cristãos e a sua produção textual, majoritariamente voltada para a disseminação das crenças cristãs mediante exaltação dos feitos de homens e mulheres. Para tanto, analisa as formas literárias de Vita Olympiadis, e aponta nesse documento o intuito educativo dos gêneros textuais apropriados ou transformados pelos cristãos.
Logo após, o artigo “O espiritismo em julgamento na Primeira República: análise de processo criminal enquadrado no artigo 157”, de Adriana Gomes, remete a uma importante discussão jurídica sobre a liberdade religiosa na Primeira República. Debruçando-se sobre um caso real de tipificação do espiritismo como crime contra a saúde pública, baseada no artigo 157 do Código Penal brasileiro de 1890, a historiadora analisa o julgamento do suposto crime, praticado no Rio de Janeiro, por Francisco José Viveiros de Castro, um dos mais notáveis magistrados brasileiros, que se apropriou de princípios da Nova Escola Penal para absolver os réus. A análise do discurso feito pela autora das argumentações sobre premissas jurídicas com características retóricas do juiz nesse processo criminal nos leva a compreender as motivações da criminalização do espiritismo e o posicionamento do magistrado na defesa da liberdade religiosa e de consciência no Brasil.
O último artigo apresentado é “O Programa Bolsa Família e suas condicionalidades: o que mudou na legislação?”, enviado por Roberta Rezende Oliveira e André Augusto Pereira Brandão, que fazem um interessante mapeamento das mudanças dos programas de transferência de renda que culminaram no Programa Bolsa Família, e focam na formulação de suas condicionalidades. Os autores apreciam a legislação federal que dá concretude ao PBF, entre 2004 e 2013, e verificam, com amplo domínio de dados empíricos, as mudanças na concepção das condicionalidades de acesso ao PBF. Verificam ainda se as condicionalidades impostas pela legislação para as famílias mais necessitadas acessarem os benefícios oferecidos tem caminhado de acordo com a provisão de serviços públicos básicos pelo Estado.
Também incluímos nesta edição uma resenha preparada por Fábio Luiz de Arruda Herrig para o livro Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970), de Jocimar Lomba Albanez, editado em 2013 pela Universidade Federal da Grande Dourados/MS. Em “A erva mate e a historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul” Herrig demonstra como o autor da obra em tela analisa o processo de ocupação das terras e o contexto do mundo do trabalho na agropecuária no antigo sul de Mato Grosso e, mais especificamente, o movimento das frentes pioneiras, caracterizadas pelo alto investimento de capital e pela industrialização do campo, o que, em última instância, ocasionou o declínio da produção da erva-mate naquela região.
À conclusão, Júlio Bernardo Machinski traduziu com maestria o segundo capítulo do livro “Modernolatria” et “Simultaneità”: recherches sur deux tendences dans l’avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la première guerre mondial (Uppsala: Svenska Bökforlaget/Bonniers, 1962), do historiador e tradutor sueco Pär Bergman que, em português, recebeu do tradutor o título “Breve panorama do movimento futurista (desde sua fundação até a Grande Guerra)”. Nessa passagem da obra, Bergman detalha as circunstâncias do surgimento do movimento futurista, investigando a gênese do manifesto publicado no Le Figaro em fevereiro de 1909, além do sentido político e social do termo “futurismo” e o papel das revistas Poesia e Lacerba na divulgação das ações futuristas. O autor aborda também a sujeição dos futuristas à ironia dos jornalistas da época em virtude da aposta desmedida no futuro, as polêmicas que envolveram a fundação do movimento de vanguarda e o caráter militar das iniciativas de recrutamento de novos adeptos. Por fim, Bergman destaca o papel de figuras-chave do movimento e a aproximação do futurismo ao fascismo.
Agradecemos a participação dos autores, a colaboração dos alunos, e também aos colegas professores do Núcleo de Pesquisa e Informação Histórica do PPGHis-Ufes a oportunidade para a organização deste “dossiê capixaba” de história regional. Esperamos que os artigos apresentados nesta edição da Revista Ágora cheguem ao público acadêmico e aos professores de ensino fundamental e médio, e que as amplas possibilidades da história regional se façam cada vez mais atrativas aos jovens pesquisadores brasileiros.
Luiz Cláudio M. Ribeiro – Organizador.
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]Dossiê: História Intelectual, Ética e Política /Ágora/2015
[DR]Memória e história: diálogos, narrativas e ensino / Aedos / 2014
Embora relativamente recente (em termos de história da historiografia), a questão da memória e sua relação com a narrativa histórica carrega consigo certa urgência. No século XX, frequentemente a questão da memória foi associada ao Holocausto, e o que se seguiu disso foi uma espécie de sensação de estranheza, incompreensão ou perplexidade por conta dos historiadores. Isso se deveu em parte à natureza dos eventos sucedidos – em virtude de suas particularidades –, em parte à mentalidade de uma historiografia tradicional que percebia a memória como avessa ao caráter “científico” da narrativa historiográfica. No Brasil, o ano de 2014 foi marcado pelo cinquentenário do golpe militar que instaurou um período de ditadura civil-militar no país, onde a memória – ou a ausência dela – também faz deste evento um desafio em termos não só teóricos, mas também metodológicos para a possibilidade de representação desse período. Desse modo, convidamos os pesquisadores a debaterem neste número a – essencial – relação entre memória e história, as implicações dessa relação para a narrativa historiográfica, pensadas como fator de possibilidade e / ou de limite para a representação histórica.
O título de nosso dossiê é composto por duas partes que devem direcionar os trabalhos que prtendemos incentivar nesta edição. O termo central é “memória”. Formulada e debatida a partir dos limites da representação histórica, sobretudo quando envolvendo eventos traumáticos, esta questão já teve muitas formas de interpretação. Por vezes, foi vista como indigna ou incompatível – espécie de subjetivismo indesejado. Em outras interpretações, como condição de possibilidade ou mesmo base fundamental para a formulação de qualquer narrativa histórica.
Dentre os tópicos que sugerimos estão: a relação teórica entre a história e a memória; os imperativos da memória para a narrativa historiográfica e sua relação com a imaginação e a retórica; as implicações da memória para o diálogo entre historiadores e / ou público; os desafios para incluir e tratar a questão da memória no ensino de história.
Conselho Editorial. Editorial. Aedos, Porto Alegre, v.6, n.14, julho, 2014. Acessar publicação original [DR]
Tempo presente: usos na produção e no ensino de história / Aedos / 2014
A História do Tempo Presente tem sido centro de debates na produção historiográfica do século XX. Inicialmente, no momento da construção da História enquanto disciplina científica no século XIX, os acontecimentos recentes foram marginalizados como objeto de uma produção que restringia-se a análise e a narração dos fatos em períodos distantes, a partir de uma documentação escrita oficial, sem riscos de sofrerem influências de testemunhos vivos, que não viesse a ferir o objetivismo pretendido pelos historiadores daquela época.
Os Annales, nos anos 30 do século XX, no interior de uma série de outras modificações, alteraram o estatuto das fontes primárias ampliaram as possibilidades de pesquisa e instituíam a história-problema; no entanto, ainda manteve-se o receio quanto ao presente. Era temeroso enfrentar a fronteira entre a história e a memória, entre o estudo de um passado afastado e silencioso e um presente vivo e ativo.
Os fatos pós-II Guerra Mundial e a intensidade daquilo que Nora (1979) chamou de “produção do acontecimento” proporcionada pelos meios de comunicação de massas levaram a necessidade de rever a questão do presente como objeto entre os historiadores. Ainda que enfrente algumas resistências e não haja consenso quanto a uma definição conceitual, a produção historiográfica que contempla a análise dos fatos recentes e a utilização de testemunhos vivos como método para o estudo da história tem crescido e se legitimado perante os profissionais da história.
Desta forma, convidamos os pesquisadores a estabelecerem neste número um profícuo debate sobre os usos do tempo presente nos trabalhos históricos como objeto e como método de análise histórica, bem como dialogar sobre as possibilidades e limitações da mesma para o ensino de história na educação básica. Portanto, o Tempo Presente – suas questões, suas interpretações e seus usos – é o foco deste dossiê.
Sugerimos como tópicos para este número: o debate historiográfico com relação as possibilidades do tempo presente; usos do tempo presente como método e objeto de pesquisa; história do tempo presente e ensino de história: os desafios e as potencialidades em sala de aula.
Conselho Editorial. Editorial. Aedos, Porto Alegre, v.6, n.15, 2014. Acessar publicação original [DR]
Faces da História | UNESP | 2014
A Revista Faces da História (Assis, 2014-), exclusivamente eletrônica, tem por finalidade publicar artigos originais e inéditos, traduções, resenhas e entrevistas relacionadas aos estudos na área da História e das Ciências Humanas e Sociais. A revista aceita trabalhos submetidos por alunos de mestrado e de doutorado, bem como doutores e professores. Os trabalhos poderão ser redigidos em português, espanhol, inglês e francês. A qualquer tempo, a critério do Conselho Editorial, a revista poderá publicar números especiais. As diretrizes para autores encontram-se no campo que trata das submissões (clique em sobre e depois em submissões).
A revista não possui fonte de financiamento e é produzida a partir do trabalho voluntário dos discentes do programa de Pós-Graduação em História da UNESP de Assis.
Periodicidade semestral (junho e dezembro).
Acesso livre
ISSN 2358-3878
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
O Golpe de 1964: Reflexos, Desdobramentos e Olhares Cinquenta Anos Depois / Albuquerque: Revista de História / 2014
O ano de 1964 mal havia se iniciado e, no seu horizonte, já se avistavam nuvens pouco alvissareiras. No ocaso de um mês de Março especialmente conturbado, um Golpe de Estado abalou a jovem república brasileira. Seus autores e mentores, militares e civis, representavam um vasto espectro das forças da direita no Brasil, desde os setores mais conservadores das forças armadas, da igreja e do latifúndio, até os grupos empresariais mais modernos e dinâmicos, da indústria, comércio ou mídia, frequentemente vinculados a interesses e capitais estrangeiros.
O Golpe, produto final de uma longa gestação conspiratória, mesmo que desordenada, e, cuja justificação era dada em termos de “defesa” da democracia contra o comunismo, foi desferido, paradoxalmente, contra um governo democraticamente eleito, mas cujo projeto econômico, político e social de cunho nacionalista, moderado e reformista não mais correspondiam aos anseios e interesses das elites dominantes.
Mais do que isso, o Golpe no Brasil também sinalizava aos países vizinhos que os modelos de desenvolvimento pautados na participação do Estado na economia, na substituição de importações e baseados no pacto social se encontravam à beira do colapso. No particular contexto histórico da Guerra Fria, tais governos se encontraram assimetricamente imprensados: pelo alto, sob a agressiva investida dos imperialismos, especialmente o estadunidense, no marco de ascensão de um novo regime de acumulação integral de capital; e, pela base, com a radicalização dos movimentos sociais contestatários inspirados nas recentes experiências revolucionárias, anti-imperialistas e de libertação nacional do mundo periférico. E conviria destacar, em especial, o caso de Cuba que, destarte o seu reduzido espaço geográfico e limitado poder ofensivo real, foi superdimensionada como uma ameaça ao poderio econômico-militar de Washington em todo o continente por tornar-se um exemplo de ousadia e resistência frente aos Estados Unidos e, cuja experiência revolucionária poderia ser, em tese, emulada em qualquer país latino-americano, desde a fronteira do Rio Grande, ao norte, até os confins patagônicos.
Neste ano de 2014, completa-se exatamente cinquenta anos do Golpe de Estado de 31 de Março / 01 de Abril de 1964. Os remanescentes e herdeiros ideológicos da ditadura ainda continuam a bradara desgastada cantilena de que o Golpe de 1964 foi uma “ação democrática” para “salvar o país” de uma pretensa ameaça do comunismo. Porém, tais acepções sobre o ocorrido em 1964 não recebem, nos dias de hoje, um eco similar ao que eles outrora receberam da sociedade em geral. Durante o seu longo período de duração, a ditadura brasileira (em especial) conseguiu forjar uma representação bastante positiva no imaginário social e político, apesar do emprego sistemático da violência institucional e das repetidas violações aos direitos humanos cometidos ao longo desses vinte e um anos (com intensidade variada, conforme necessidades conjunturais). Evidentemente que tal percepção “benévola” encontrava arraigo nos setores favorecidos com o regime, especialmente nas classes alta e média, mas não somente.
Apesar de suas particularidades nacionais, as Ditaduras de Segurança Nacional do Cone Sul utilizaram (em graus distintos) a lógica binária da “mão que bate é a mão que afaga” e empregaram o terror Estatal buscando combinar medo generalizado e terror pontual com recompensa material para ampliar uma base de apoio em determinados grupos sociais. Assim, os governos equacionaram o Terrorismo de Estado (simultaneamente seletivo e indiscriminado, o que lhe garante um efeito de irradiação social) com mecanismos de criação de consenso social. Consenso este que seria obtido, em parte, mediante concessões de benefícios materiais a setores da população. Mas, além disso, não podemos esquecer o peso exercido pela propaganda maciça exercida desde e para o Estado, por seus agentes, mas também por seus colaboradores (mídia, personalidades artísticas, lideranças civis, etc.), em combinação com instrumentos tais como a censura, a repressão, a desqualificação, a criminalização, a demonização e, em alguns casos, até o extermínio físico daqueles tidos como opositores mais perigosos.
A combinação e interação desses fatores não somente possibilitou a hegemonia do poder, como também delineou o nível de sucesso ou aceitação dos regimes ditatoriais do Cone Sul que aplicaram o terror de Estado, moldando o teor positivo ou negativo da sua imagem e garantindo a permanência desta construção tanto no plano subjetivo quanto na memória coletiva. Especificamente no caso brasileiro, não era incomum ouvirmos (e até ouvimos ainda!) em expressões orais e escritas do senso comum (ecoa até mesmo em meios acadêmicos), a percepção de que, apesar da violência, dos abusos e da corrupção da ditadura, o saldo do regime militar foi positivo, seja porque possuía um projeto de desenvolvimento que deixou um “legado” ao país, ou porque teve um relativo sucesso em matéria econômica, ou porque havia mais “ordem e segurança”…
Em outras palavras, pode se dizer que, em determinados grupos sociais se exerceu (e se exerce ainda) uma clara relativização do emprego sistemático do terror, das arbitrariedades e dos crimes cometidos pela ditadura, e nessa relativização (que ora beira a banalização, de tão grosseira), que se traduz em um mero “balanço” entre os crimes e as benesses do regime, os segundos terminam geralmente ofuscando os primeiros, de modo a gerar uma hierarquização um tanto inversa. Aqui no Brasil, o terror e o “milagre econômico” foram instrumentos de dominação e cooptação, em tese opostos, mas utilizados de modo complementar. Todavia, ao contrário de outros países vizinhos, o terror foi administrado de forma mais especifica e aplicado com precisão quase cirúrgica, principalmente se comparado com a extensão e a profundidade do terror estatal aplicado na Argentina.
Ao contrário da ditadura argentina, a ditadura brasileira soube focalizar precisamente na sua mira os sujeitos considerados alvos da repressão e, assim, direcionar verticalmente a aplicação dos mecanismos do terror. Entretanto, esse caráter pontual da violência repressiva no Brasil não significa que o regime tenha sido “brando”, se comparado aos outros regimes ditatoriais e, por extensão, “melhor” que eles. Se a ditadura brasileira torturou, assassinou e ocultou os cadáveres de seus oponentes em menor proporção do que a ditadura vizinha foi porque considerou que não havia necessidade concreta de fazê-lo em grande escala.
Assim sendo, independente das comparações “estatísticas” de contagem de mortos e / ou desaparecidos que possam ser efetuadas entre as ditaduras de Segurança Nacional para medir um suposto grau de brutalidade de tal ou qual regime, o que deve ser observado, em tais regimes, são características estruturais, tais como a sistematização e aplicação da tortura em grande escala, a racionalidade da repressão, a metodologia “científica” do terror, suas justificativas políticas e o arcabouço ideológico empregado foram muito similares em todas as ditaduras do Cone Sul.
Passados cinquenta anos, não se pode negar que o nosso país (em similar sintonia com o nosso subcontinente) passou por consideráveis mudanças históricas e que estas contribuíram para modificar a percepção da atual sociedade brasileira sobre aqueles tempos passados. No plano político-institucional, e especialmente nos últimos anos, com a assunção de governos mais identificados com as questões sociais e historicamente vinculados àqueles setores progressistas ou de esquerda e que participaram ativamente do polarizado cenário político dos anos 1960 e 1970 se reacendeu o debate sobre o incômodo passado recente, um debate postergado e ofuscado no imediato pós-ditadura. Em novembro de 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade (CNV)1 , após anos de embates políticos entre militares e civis para definir alcances e limites de atuação que essa Comissão teria. Tal iniciativa, mesmo que tardia, exemplifica esse olhar atual do Poder Executivo com relação a medidas vinculadas à questão da memória e a busca da verdade histórica, em nome de uma reconciliação nacional efetiva.
No entanto, em função da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no final de 2010, as ações do Estado brasileiro nesse sentido deveriam ser mais aprofundadas. No entendimento da CIDH, não basta apenas à criação da CNV ou facilitar o acesso à documentação repressiva pelas vítimas, seus familiares e também a pesquisadores em busca de informação antes proibida. O que é fundamental é que o Estado brasileiro remova todos os obstáculos jurídicos para poder “conduzir eficazmente a investigação penal dos fatos do presente caso, a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei disponha”2. E isto significa, segundo especialistas da área jurídica, começar pela anulação da Lei de Anistia de 1979 3.
Cabe recordar que, ao longo da década de 1980, o Estado brasileiro advindo “democrático” procurou colocar uma “pedra” sobre os crimes da ditadura. Certamente que a assimétrica Lei de Anistia, duramente negociada entre a ditadura (ainda na posse das rédeas do poder) e alguns setores da “elite” da oposição, no marco de um progressivo descontentamento geral da população com o regime (especialmente após evidenciar os limites do “milagre”) não deixava margem de manobra para tais discussões, o que redundou em “perdão incondicional” aos agentes da repressão e uma incontestável vitória dos setores da “linha dura” militar, que permaneceram impunes.
Por outro lado, deve se apontar que, sob a justificativa de não atravancar o processo de transição para um Estado democrático de direito, os governos civis evitaram enfrentar o poderio militar, bem como tocar no problema da sujeição das Forças Armadas às regras do jogo democrático. Por fim, não se pode obliterar que parte considerável da elite (em especial os políticos e empresários) e da classe média brasileira era também comprometida, direta ou indiretamente, e em maior ou menor grau, com o regime ditatorial pregresso, o que explicaria seu interesse em “esquecer” determinadas ações e alianças do passado que não lhe seriam adequadas nem favoráveis naquele ambiente de devir “democrático”. Nesse sentido, a “amnésia histórica” converteu-se em prática oportuna e corrente de distintos setores sociais.
Nos dias atuais, é possível evidenciar que o Estado brasileiro, pelo menos na figura do poder executivo, efetuou “um passo a frente” no sentido de responder às históricas demandas pelo direito à memória e à verdade. Mas, haverá por parte das outras instâncias do Estado um “segundo passo”? Isto é, como enfrentar a demanda por justiça? Esta questão primordial ainda carece de resposta efetiva. O poder judiciário, até o momento, tem recuado diante desta problemática, especialmente no que tange a revisão da Lei de Anistia, pois o Superior Tribunal Federal continua a ratificá-la, à revelia de instância jurídica internacional e em claro desrespeito aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário.
Neste sentido, porém, a demanda por justiça tem lugar na pauta da atual agenda das novas gerações que participam dos movimentos sociais. Se durante décadas as reclamações pelos crimes da ditadura se restringiram a círculos de vítimas e seus familiares, ex-presos políticos, militantes ou a organizações de direitos humanos, esta questão agora transcende este núcleo inicial, impregnando e polarizando o debate nos distintos âmbitos do tecido social. E neste contexto favorável à memória, não estranhamente, surgem as outrora silenciadas “memórias subterrâneas” dos sobreviventes desse passado traumático e que hoje encontram eco, tanto com a juventude, interessada em conhecer um passado que lhes foi “negado”, quanto com os historiadores (e outros pesquisadores das áreas humanas) interessados em produzir conhecimento sobre esses temas em meio a esse processo de emergência de antigas questões e revalorização das experiências daquele tempo passado. Ou seja, preocupados em compreender por que esse passado não elaborado “teima em passar”, aflorando em determinados contextos e nos relembrando permanentemente da sua vigência.
Ao encontro deste momento histórico tão significativo, a Revista Albuquerque dedica este Número 11 a temática das Ditaduras de Segurança Nacional no Brasil e Cone Sul, com o Dossiê intitulado: O Golpe de 1964: Reflexos, Desdobramentos e Olhares Cinquenta Anos Depois. Embora inicialmente focado na experiência ditatorial brasileira, em virtude da data a ser rememorada, este Dossiê pretende abordar a temática desde uma perspectiva mais abrangente. Não somente em termos de expressar a diversidade de olhares e enfoques possíveis sobre as ditaduras partindo de prismas teóricos e metodológicos distintos. Mas especialmente em termos de ampliar o recorte geográfico ao incluir pesquisas históricas sobre / ou os “nossos vizinhos” da região, por entender que existem interconexões, elementos em comum que, independente de particularidades, vinculam as distintas experiências ditatoriais do Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980.
O presente Dossiê inicia com o texto de Carlos Artur Gallo “Comissões da Verdade em Perspectiva: notas sobre a experiência uruguaia, chilena e argentina”, em que o autor, após historicizar sobre o período autoritário na Argentina (1976-1983), no Chile (1973-1990) e no Uruguai (1973-1985) nos estabelece, em escala comparativa, uma análise concisa sobre as distintas formas que os países do Cone Sul enfrentaram a problemática que encerra a trinômia memória, verdade e justiça, nos seus respectivos processos de democratização, na tentativa de fazer face aos problemas do “legado” do passado ditatorial.
O artigo de Jefferson Gomes Nogueira, “História, imprensa e a construção da realidade durante o regime militar no Brasil (1964 / 1985)”, aproxima-nos mediante o estudo da produção histórica sobre a imprensa e o regime militar no Brasil, dos mecanismos e agentes utilizados (censura, propaganda, censores, jornalistas, etc.) tanto pelo aparato estatal repressor, quanto pelos seus colaboradores privados para construir uma “realidade” parcial e conveniente que lhe possibilitasse atingir a hegemonia e o controle social pretendido. Desde uma perspectiva estadual, Cristina Medianeira Ávila Dias, discorre sobre “O terrorismo de Estado (TDE) no Rio Grande do Sul: perseguição, prisãoe tortura de militantes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR)”, utilizando como ponto de partida, o surgimento de um grupo armado de esquerda, no extremo sul do Brasil, e estabelecendo a relação deste com o desenvolvimento e a consolidação da estrutura repressiva montada pelos órgãos de segurança para combater as atividades das forças que resistiam ao regime, bem como aborda a metodologia empregada pelo aparato repressivo.
Já Enrique Serra Padrós nos apresenta, em seu artigo, uma reflexão sobre um tema delicado e pouco abordado, aqui no Brasil em particular: “A guerra contra as crianças: práticas de sequestro, desaparecimento e apropriação de identidade no século XX”. Nesse artigo, focaliza as experiências do sequestro de crianças durante as ditaduras de Segurança Nacional da Argentina e do Uruguai, ocorridas entre as décadas de 1970 e 1980, uma das mais brutais práticas do Terrorismo de Estado platino inserido na lógica da captura do “butim de guerra” e vinculado aos projetos de “refundação” social trazidas no bojo ideológico de tais ditaduras. Além disso, Padrós contextualiza e estabelece uma relação desta prática criminosa com outras experiências correlatas (na Europa ocupada pelo nazismo, na Espanha de Franco e nos recentes conflitos armados da África), no transcorrer do século XX e início do XXI, apontando a persistência destes mecanismos de opressão social, os profundos traumas por eles gerados e como tais crimes se projetam ao longo do tempo, incidindo sobre diversas gerações.
O artigo de Ananda Simões Fernandes e Silvia Simões, “Apontamentos acerca da conexão repressiva entre as ditaduras brasileira e chilena”, perscruta a multifacetada e complexa rede de conexão repressiva entre as ditaduras brasileira e chilena, chancelada após a vitória do golpe de Estado chileno, em 11 de setembro de 1973. A pesquisa das autoras, baseada em fontes primárias, centra sua análise na atuação combinada de organismos brasileiros e chilenos nos mais diversos âmbitos (policiais, diplomáticos, etc.) em sua colaboração na luta contra a “subversão”, e como essa conexão se consolidou em direção à formalização de uma rede orgânica e transnacional de repressão extraterritorial, que envolveria o conjunto das ditaduras do Cone Sul, e que passaria para a história da região como a “Operação Condor”.
A autora Caroline Silveira Bauer, no texto “Um passado que não passa: a persistência do crime de tortura na democracia brasileira”, disseca uma das ferramentas mais amplas e intensamente utilizadas pelo Estado terrorista brasileiro, a tortura. No entanto, o trabalho não se restringe sua análise ao período ditatorial somente, pois a autora excede os limites temporais da ditadura e incursiona sobre a permanência de tal prática abjeta até os dias de hoje. Um tema que nos leva a refletir duplamente. Por um lado, sobre as continuidades das práticas dos regimes ditatoriais sob o manto democrático e, por outro, sobre o próprio caráter e o alcance da nossa democracia.
Seguindo na dinâmica dos processos de transição das ditaduras para os regimes democráticos, Claudia Wasserman nos apresenta “Democracia e ditadura no Brasil e na Argentina: o papel dos Intelectuais”. A autora, cuja densa narrativa nos transporta até a década de 1980, foca seu olhar nos intelectuais brasileiros e argentinos, comparando e analisando o papel representado por estes, enquanto sujeitos políticos, sociais e históricos, no contexto da chamada redemocratização. Um período promissor em termos de efervescência social e cultural permeado pela retomada da discussão política e pela possibilidade de retorno daqueles que haviam padecido o exílio; mas que também foi uma era impregnada pela “cultura do medo”, pela desconfiança mútua entre os que haviam permanecido e aqueles que haviam partido ou obrigados a partir, bem como profundamente marcada pelas então recentes cicatrizes provocadas pelas experiências autoritárias.
Mario Hugo Ayala, em “Los exiliados argentinos en Venezuela ante el inicio de latransición a la democracia en la Argentina”, também efetua seu recorte temporal no período da transição, porém, desde outra interrelação geográfica e transnacional: Argentina e Venezuela. Ele aborda especificamente o fenômeno do exílio dos argentinos (um dos mais numerosos exílios da região) perante às questões surgidas com a volta da democracia e os dilemas que esta apresentava, por exemplo, a possibilidade do regresso ao país, mas também o leque de problemas políticos, grupais e subjetivos que o “retorno” (ou desexilio) paradoxalmente gerava. O artigo de Ayala está embasado em ampla documentação, utilizando-se de testemunhos publicados e, principalmente, de materiais inéditos oriundos de fontes orais.
Encerra o nosso Dossiê a obra de Monica Piccolo Almeida, “Agentes e Agências no Ocaso da Ditadura Empresarial Militar e a Reedição do ‘Milagre’”. Nesse texto, a autora propôs-se a analisar as diretrizes que guiaram a política econômica da ditadura brasileira em sua derradeira etapa, o governo de João B. Figueiredo, utilizando como hipótese central que os intentos aplicados em matéria de política econômica pretendiam recuperar os níveis de crescimento da década anterior, buscando o ressurgimento do “milagre econômico”. No entanto, tais tentativas estiveram perpassadas por contradições inerentes ao próprio sistema capitalista e pelas formas que este adquiriu nas regiões periféricas e dependentes, bem como por disputas, em virtude de interesses diversos, dentre os grupos da classe dominante mediante a ação de agentes específicos, públicos e privados, inseridos diretamente ou não no seio do aparato estatal.
Desse modo, e seguindo uma perspectiva acadêmica plural e democrática, bem representada por esta diversidade e riqueza temática, assim como pelas distintas aproximações e análises do passado apresentadas pelos autores neste Dossiê (cada um partindo de abordagens teóricas e metodológicas diferenciadas), procuramos contribuir com a reflexão crítica e o debate histórico sobre o nosso passado recente e compartilhado aqui na região sul da América do Sul, promovendo o avanço do saber (dentro e fora da academia), bem como da produção historiográfica. Esperamos que o resultado final, este Dossiê Número 11 da Revista Albuquerque, agrade aos nossos leitores exigentes.
Notas
1. lei 12.528 / 2011. a cnv iniciou os seus trabalhos em maio de 2012.
2. cidh, caso gomes lund e outros (“guerrilha do araguaia”) vs. brasil, exceções preliminares, mérito, reparações e custas, sentença de 24 de novembro de 2010, série c, nº 219, parágrafo 256. citado por gomes, luis f. disponível em: http: / / www.conjur.com. br / 2011-mar-10 / coluna-lfg-lei-anistia-viola-convencoes-direitos-humanos
3. lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979.
Jorge Christian Fernández – Doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Professor de História da América do Curso de História (Campus Campo Grande / MS) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). E-mail: intbrig@yahoo.com.br
FERNÁNDEZ, Jorge Christian. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.6, n.11, 2014. Acessar publicação original [DR]
Las Independencias Hispanoamericanas. Um objeto de Historia | Véronique Hébrard e Geneviève Verdo
O livro Las Independencias Hispanoamericanas, organizado por Verónique Hébrard e Geneviève Verdo (ambas professoras da Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), reúne trabalhos de historiadores europeus, latino-americanos e norte-americanos apresentados em um colóquio internacional ocorrido em junho de 2011, na Sorbonne. A obra, dividida em cinco partes e reunindo vinte artigos, abrange campos e temas que vêm sendo valorizados pela produção historiográfica concernente às revoluções de independência no mundo ibero-americano, dialogando com estudos referenciais sobre as sociedades coloniais e as transformações sociopolíticas do primeiro quartel do Oitocentos, bem como com novas interpretações historiográficas sobre a América ibérica. Os estudos que compõem o livro abordam questões como conceitos e linguagens políticos, interpretações e participação políticas dos setores subalternos das sociedades americanas, transformações institucionais e jurídicas ao longo dos processos de independência, formação dos Estados Nacionais e leituras transnacionais sobre as experiências revolucionárias. Com relação à cronologia apreendida pela obra, seus estudos iniciais abordam a segunda metade do século XVIII, ao passo que outros artigos abarcam até a primeira metade do XIX. Muitos dos artigos adotam recortes cronológicos curtos, valorizando as profundas e rápidas transformações vivenciadas em um período de revoluções.
A primeira seção da coletânea, intitulada “Relatos de los Orígenes,” é composta por três artigos. O primeiro, “El patriotismo americano en el siglo XVIII: ambigüedades de un discurso político hispánico,” de Gabriel Entim, discute a vigência de um discurso de identidade americana nas colônias hispano-americanas no século XVIII. Partindo da crítica ao conceito de “patriotismo criollo”, a discussão de Entim sublinha a operacionalidade da identidade americana dentro de um quadro que contemplava outras formas identitárias, sem que a americanidad necessariamente significasse uma crítica à Monarquia e à unidade entre os espanhóis. Alejandro E. Gómez, por sua vez, em seu artigo “La Caribeanidad Revolucionaria de la ‘Costa de Caracas.’ Una visión prospectiva (1793-1815),” contempla os movimentos de sublevação ocorridos na costa caribenha da Venezuela em fins do XVIII, assim como os primeiros anos do processo revolucionário de independência na região. Em sua análise, Gómez rejeita a ideia de continuidades entre esses dois momentos, como se as contestações políticas da década de 1790 fossem movimentos “precursores” das lutas dos anos de 1810. Além disso, o autor enfatiza as conexões da costa venezuelana com o mundo caribenho, viabilizando o que Gómez define como “interação supra-regional,” importante para compreender as lutas políticas (destacando-se a presença dos pardos nesses movimentos). Já Georges Lomné (“Aux Origines du Républicanisme Quiténién (1809-1812): La liberté des Romains”) analisa o ambiente cultural da Audiência de Quito na segunda metade do Setecentos, permeado pela valorização do neoclassicismo e do jansenismo, bem como pelo surgimento de novos espaços de sociabilidade, gestando os referenciais e os ambiente para críticas ao Absolutismo. Em seu texto, Lomné critica a construção historiográfica que aponta a continuidade intelectual entre ideais iluministas vigentes na Audiência do XVIII e as bases intelectuais dos movimentos dos anos de 1809-1812.
A segunda parte da coletânea (“Los Lenguajes Políticos”) apresenta como texto inicial o artigo de Marta Lorente Sariñema, “De las leyes fundamentales de la monarquía católica a las constituiciones hispánicas, también católicas.” A autora investiga os textos constitucionais que vieram à luz no mundo hispânico nos anos seguintes à crise de 1808, colocando no mesmo patamar de importância a Constituição de Cádiz e as concebidas no continente americano. Atentando para as ressignificações das leis fundamentais da Monarquia espanhola nas constituições pós-1808, Lorente destaca a presença da defesa do catolicismo como um elemento comum em todos os textos constitucionais hispânicos, bem como os mecanismos constitucionais voltados para o controle das autoridades públicas. Jordana Dym, no texto “Declarar la Independencia: proclamaciones, actos, decretos y tratados en el mundo iberoamericano (1804-1830),” estuda um corpo documental formado de textos declaratórios de independência, analisando os principais pontos de seus conteúdos e os contextos nos quais foram engendrados esses documentos fundamentais para redefinir o conceito de soberania em uma conjuntura de crise política da Monarquia. María Luisa Soux (autora do artigo “Legalidad, legitimidade y lealtad: apuntes sobre la compleja posición política en Charcas, 1808-1811”) enfatiza o papel da cultura jurídica na tomada de posições e decisões políticas na sociedade charqueña durante a crise monárquica. Como observa Soux, a defesa da legitimidade das proposições políticas dos grupos em luta passava por considerações de ordem jurídica, buscando-se definir as bases legais das novas noções de soberania. Por fim, Víctor Peralta Ruiz (“Sermones y pastorales frente a un nuevo linguaje político. La Iglesia y el liberalismo hispánico en el Perú, 1810-1814”) analisa os discursos políticos do clero no Vice-Reino do Peru. Tradicionalmente considerados anti-liberais e defensores do absolutismo, os membros do clero católico, segundo Peralta Ruiz, de fato, eram mais heterogêneos, sendo possível identificar por meio dos sermões a presença de religiosos (principalmente do baixo clero) favoráveis ao liberalismo, às Cortes de Cádiz e à Constituição de 1812.
A terceira parte do livro (“Actores y Prácticas”) traz quatro trabalhos. O primeiro (“Chaquetas, insurgentes y callejistas. Voces e imaginarios políticos en la independencia de México”), de Moisés Guzmán Pérez, enfoca o surgimento das nomenclaturas dos grupos políticos ao longo da crise da monarquia espanhola e dos conflitos militares ocorridos na Nova Espanha entre 1808-1821. As nomenclaturas que vieram à tona eram representativas dos imaginários, dos projetos e das ideias dos grupos políticos naquele momento. O trabalho seguinte, de Andréa Slemian (“La organización constitucional de las instituciones de justicia en los inicios del Imperio del Brasil: algunas consideraciones históricas y metodológicas”), enfoca os debates e as propostas de organização jurídica no Império do Brasil nas décadas de 1820-1830, marcados pela presença dos ideais liberais. Slemian enfatiza a dimensão institucional jurídica de construção do Estado Nacional, valorizando a compreensão dos conflitos em torno de expectativas e projetos de futuro formulados pelos sujeitos que vivenciavam os primeiros anos do Brasil independente. Já Gabriel Di Meglio (no artigo “Los ‘sans-culottes despiadados.’ El protagonismo político del bajo pueblo en la ciudad de Buenos Aires a partir de la Revolución”) destaca a participação popular (formada principalmente por negros, pardos e brancos pobres) na cena política bonaerense. A crescente presença dos segmentos populares nas reivindicações políticas, a politização das discussões no espaço público e as redes do clientelismo ligando lideranças políticas da elite e segmentos populares caracterizaram a vida política de Buenos Aires nas décadas 1810- 1830. Finalizando essa unidade, Aline Helg (“De Castas à Pardos. Pureté de sang et égalité constitutionnelle dans le processos indépendantiste de la Colombie caraïbe”) estuda o processo de independência e de construção do Estado a partir da cidade de Cartagena entre 1810-1828, enfatizando a participação política dos pardos, os alcances e limites de suas reivindicações políticas. Para tanto, Helg toma como fio condutor da análise a trajetória de dois pardos que se destacaram como lideranças políticas e militares, Pedro Romero e José Padilla, e as transformações sociais, econômicas e políticas vivenciadas pela população parda.
“Los Espacios de Soberanía”, a quarta unidade do livro, traz primeiramente o trabalho de Carole Leal Curiel. Intitulado “Entre la división y la confederación, la independencia absoluta: problemas para confederarse en Venezuela (1811-1812),” o texto discute a formulação de propostas de independência e confederação, sublinhando o entrelaçamento, nos intensos debates teórico-políticos, das ideias de reconfiguração da soberania e de novos pactos políticos para as províncias venezuelanas. No trabalho seguinte, Marta Irurozqui (“Las metamorfosis del Pueblo. Sujetos políticos y soberanías en Charcas a través de la acción social, 1808-1810”) dedica-se ao estudo das ações políticas populares (através de procissões religiosas a favor do monarca e de protestos dirigidos às autoridades locais). Nessas manifestações, destacava-se a presença dos referenciais políticos de fidelidade à Monarquia espanhola no momento de sua crise, bem como o exercício da soberania pelo povo charqueño. Juan Ortiz Escamilla (“De lo particular a lo universal. La guerra civil de 1810 en México”), por sua vez, enfatiza a guerra e a Constituição como as duas variáveis fundamentais para compreender as transformações dos atores, vocabulários e espaços políticos na Nova Espanha no início da década de 1810. No decorrer dos conflitos armados, insurgentes e realistas implementaram novas organizações políticas, ao passo que os ayuntamientos instituídos pelo texto constitucional gaditano criaram novas bases institucionais de exercício do poder. Finalizando essa unidade, Clément Thibaud (“Le trois républiques de la Terre Ferme”) analisa os conceitos de república vigentes na Venezuela e Nova Granada. Ao não entender o republicanismo como consequência direta das proclamações de independência, Thibaud põe ênfase nos sentidos diferentes, e por vezes contraditórios, de república, e como tais sentidos eram apropriados pelos atores políticos da região tendo em vista, também, os desafios práticos de administração daquele território.
A última unidade da obra (“Las Revoluciones y sus Reflejos”) reúne quatro textos. O primeiro, de autoria de Marcela Ternavasio (“La princesa negada. Debates y disputas en torno a la Regencia, 1808-1810), volta-se para o tema do carlotismo, analisando o projeto de regência da infanta Carlota Joaquina como uma alternativa de superação da crise política iniciada em 1808. Atentando para as rápidas mudanças conjunturais e as modificações nas estratégias de Carlota Joaquina e seus colaboradores, Ternavasio articula em sua análise as tramas, leituras e posicionamentos políticos que o carlotismo ativou na Península e na América. Anthony McFarlane, no artigo seguinte (“La crisis imperial en el Río de la Plata. Una perspectiva realista desde Montevideo, 1810-1811”), parte do conjunto de cartas do oficial espanhol José María Salazar para entender a política contra-revolucionária no Rio da Prata. A crítica à revolução de Buenos Aires, a denúncia das disputas internas em Montevidéu e as desconfianças com relação à presença de portugueses e britânicos são alguns dos temas das cartas de Salazar, e que merecem a análise de McFarlane a fim de compreender as interpretações e expectativas dos realistas. O terceiro trabalho da unidade, de Monica Henry (“Un champ d’observation pour les ÉtatsUnis. La révolution au Río de la Plata”), explora a missão norte-americana enviada pela administração do presidente James Monroe às Províncias Unidas do Rio da Prata no ano de 1817. Essa missão (sob a incumbência de coletar informações militares, políticas e econômicas) desempenhou um papel importante para a definição da agenda diplomática dos Estados Unidos com relação à América espanhola, tendo em vista os debates nos meios políticos e na opinião pública sobre as experiências revolucionárias no continente e o reconhecimento (ou não) dos novos Estados. Encerrando a unidade, o texto de Daniel Gutiérrez Ardila (“La République de Colombie face à la cause des Grecs”) aborda os esforços da diplomacia colombiana entre as potências internacionais para obter o reconhecimento internacional do novo país. Nesse empreendimento diplomático, o paradigma da independência grega (conquistada nos anos de 1820) é ressaltado pelos representantes diplomáticos da Colômbia, na medida em que a causa grega usufruía de prestígio nos altos círculos políticos e intelectuais europeus, enquanto que a independência da República da Colômbia (e a hispano-americana em geral) ainda carecia de apoio.
A obra é finalizada por um epílogo (intitulado “Las independencias y sus consecuencias. Problemas por resolver”) de Brian Hamnett. Recorrendo aos exemplos do Rio da Prata, México, Peru, Alto Peru, Colômbia, Venezuela e Brasil, Hamnett aponta algumas das questões que marcaram a trajetória dos novos Estados Nacionais nos anos imediatamente posteriores às suas independências. A distribuição dos poderes e as representações políticas regionais, a legitimidade do modelo constitucionalista frente às guerras civis, as restrições aos sufrágios e o fortalecimento do poder executivo, assim como a própria construção das identidades nacionais, constituíram desafios consideráveis para as sociedades ibero-americanas ao longo do século XIX.
A volumosa produção sobre as independências (em parte alimentada pelas comemorações de bicentenários que vêm ocorrendo desde a década passada) tem sido beneficiada pela heterogeneidade de aportes e interpretações, bem como pelo diálogo internacional. O livro organizado por Hébrard e Verdo é representativo desse ambiente historiográfico, e a qualidade e pertinência dos trabalhos reunidos nessa obra atestam a renovação e vitalidade de um tema fundamental para os dois lados do Atlântico.
Carlos Augusto de Castro Bastos – Professor no Departamento de História da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP – Macapá/Brasil). E-mail: castrobastos@hotmail.com
HÉBRARD, Véronique; VERDO, Geneviève (Ed.). Las Independencias Hispanoamericanas. Um objeto de Historia. Madrid: Casa de Velázquez, 2013. Resenha de: BASTOS, Carlos Augusto de Castro. O mundo hispânico em revolução: abordagens sobre as independências na América. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 161-164, jan./jun., 2014.
Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado | Ricardo Salles
Publicado pela primeira vez em 1996 e reeditado em 2013, o livro Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado, do historiador Ricardo Salles, apresenta uma consistente reflexão intelectual, de matriz marxista, sobre o Estado imperial no século XIX. Encarando a história como práxis, o autor privilegia os conceitos gramscianos de bloco histórico e hegemonia para produzir uma história total capaz de ressaltar as articulações entre as esferas política, econômica e cultural. O resultado é um belo livro que reflete sobre a construção da nação brasileira no século XIX a partir de 3 fatores principais: o recrudescimento da escravidão, a formação de uma cultura nacional de caráter oficialista, e as inter-relações entre capitalismo, liberalismo e escravidão.
A partir da experiência vivenciada com a aprovação do plebiscito sobre o sistema de governo a ser empregado no Brasil (monarquia ou república) no início dos anos 1990, Ricardo Salles constata a existência de uma “nostalgia imperial” na consciência coletiva dos brasileiros. Tal sentimento, difuso entre as camadas populares e acentuado nas elites intelectuais, se basearia na percepção de que “houve um tempo [o Império] em que o Brasil era mais respeitável, mais honesto, mais poderoso”(p. 18). Como este sentimento foi construído no imaginário social brasileiro? Quais circunstâncias históricas atuaram neste processo? Por que com mais de cem anos de existência a república não foi capaz de reverter esta imagem?
Estas perguntas guiam o autor ao longo dos cinco capítulos que compõem o livro. Como fios condutores, são uma escolha inteligente para tratar das múltiplas partes – cultura e imaginário social; política e formação da classe senhorial; liberalismo, escravidão e capitalismo – que compõem o todo, o edifício imperial, sem abrir mão de sua complexidade. O resultado é uma narrativa de grande erudição, que discute com as historiografias sobre a formação do estado nacional, escravidão, capitalismo, ao mesmo tempo em que é capaz de transitar entre os universos micro e macro para apresentar uma interpretação geral do Império.
A chave explicativa apresentada por Ricardo Salles para o sentimento nostálgico em relação ao Império é, ela própria, um fenômeno complexo. Na visão do historiador, a limitação das oligarquias tradicionais em consolidarem a obra republicana, até pelo menos os anos 1930, não explica a força da monarquia na “esfera mítica da história nacional”. Ao contrário, a imagem positiva do Império se deveu a três aspectos fundamentais. Primeiro, após o 15 de novembro, políticos, intelectuais e historiadores ligados à monarquia – a exemplo de Capistrano de Abreu, visconde do Rio Branco, Pedro Calmon, Oliveira Vianna e outros – combateram a república com um discurso que reforçava seu caráter excludente e exaltava os progressos do Império, como estratégia de crítica ao novo regime. Segundo, o próprio estado imperial foi bastante eficiente ao produzir uma dada imagem de si mesmo que dialogasse com o passado, o presente e o futuro da nação. Desta forma, a “nostalgia imperial” não se resumiria à obra destes historiadores, políticos e ensaístas. Ela seria fruto do investimento do estado em setores estratégicos a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Belas Artes e artistas ligados ao movimento romântico. Terceiro, o ideal de civilização imperial que, durante a vigência da monarquia, tinha a escravidão como base, não foi desarticulado com a República. A crítica moral à escravidão, efetivada internamente pelo movimento abolicionista e externamente por diversos setores internacionais, não trouxe a superação das mazelas da escravidão. Mesmo tendo impedido a reprodução do regime escravocrata no Brasil, a abolição não conseguiu remover a noções de diferença e hierarquia da base de nosso edifício social. Como resultado, em pouco tempo, foi possível aos grandes proprietários rurais recomporem suas forças garantindo mão de obra barata e primazia na ocupação dos poderes locais. Assim, a espoliação da cidadania e a exclusão econômico-social se mantiveram no tempo e nos anos de 1990 permaneciam na base do sentimento de “nostalgia imperial”.
No que compete às discussões sobre a construção do estado, o projeto político e a cultura imperial, o livro de Ricardo Salles retoma a interpretação de Ilmar Mattos em “Tempo Saquarema” (1987) e concebe os processos de construção e consolidação do Estado imperial como elementos interligados e concomitantes à constituição de uma hegemonia de classe: a dos senhores de escravos. Segundo ele, este grupo era formado por grandes proprietários de escravos e terras, principalmente da região sul-fluminense, cujos interesses se viram representados pela política conservadora a partir dos anos de 1840. Neste contexto, coube à chamada classe dirigente expandir os ideais de “manutenção da ordem” escravocrata e “expansão da civilização” (baseada em ideais europeizantes) de modo a transformá-los em valores e práticas inerentes ao próprio Estado Imperial.
Este projeto vitorioso foi conduzido e produzido por intelectuais vinculados tanto à fração dirigente da classe dos senhores, os grandes proprietários fluminenses, quanto ao próprio aparelho estatal. Contudo, na análise apresentada, o autor ressalta os diversos interesses políticos, econômicos e sociais em jogo. Afinal, para que a sociedade escravista imperial se efetivasse foi necessário “o deslocamento crescente do nível de realização dos interesses da classe dominante escravista do plano imediato da produção e manutenção direta das relações de produção” (p. 39) para o âmbito do estado. A política implementada pelos políticos conservadores a partir do Regresso conseguiu realizar uma acomodação entre as diferentes forças políticas e sociais em torno dos projetos de preservação da escravidão e de fortalecimento do aparato estatal (p. 52). Atuando como importante amálgama dos interesses das classes dirigentes, a escravidão se desenvolveu de forma original e plena no Brasil oitocentista, além de favorecer a expansão do capitalismo no mundo. Todavia, para além dos aspectos políticos e econômicos, o projeto escravista imperial foi capaz de criar um conjunto de valores próprios, uma base cultural, um modo de vida em particular a que Ricardo Salles denominou de “civilização imperial”.
Pensadas por este prisma, as noções de civilização imperial e cultura nacional se interpenetram. No que compete à cultura nacional em formação, dois aspectos são ressaltados pelo autor: a valorização de elementos ligados à herança colonial (tais como língua, cultura, influências africana e indígena) e a produção de singularidades através da cultura letrada com destaque para o romantismo e o indianismo (p. 65). Como resultado, verificou-se uma produção cultural obstinada em desenhar “a cor local”, “o que nos era próprio”, resultando num discurso que valorizava as heranças rural, africana, indígena e portuguesa (p. 91), respaldadas num forte caráter oficialista. Todavia, neste processo, também foi importante manter um diálogo com a modernidade, horizonte de civilização e progresso, que tinha Europa como o modelo a ser seguido. Portanto, no plano discursivo, o Império se pretendia “uma civilização europeia transplantada para a América”. A cultura imperial que daí emergiu foi fruto desta expectativa somada à prática cotidiana da escravidão.
Embora a interpretação gramsciana da dinâmica política e social do Império aproxime as análises de Ricardo Salles e Ilmar Mattos, é importante apontar que o peso dado pelo primeiro às relações escravistas e ao papel dos escravos como agentes fundamentais no entendimento da sociedade oitocentista (a exemplo de seu papel nos diversos abolicionismos, nos movimentos nativistas, e em suas próprias rebeliões) os diferencia. Além da forma de exploração, símbolo de poder e status social, para Ricardo Salles a escravidão negra é constituidora das formas de agir, sentir e pensar da sociedade imperial. Sua manutenção era o ponto de interseção entre os membros da classe senhorial, cujos interesses serviram de base para a consolidação de uma hegemonia de classe forjada no próprio processo de construção das instituições políticas e do estado imperial, mas também a força material do Império.
Mais do que um aspecto interno, “a escravidão estava na raiz do mundo moderno” (p. 95) e colocava o Brasil na rede de relações comerciais vigentes. Na posição de países exportadores, Brasil e sul dos Estados Unidos desenvolveram organizações políticas complexas para garantirem a manutenção do regime escravista em seus territórios. Os produtos primários ali gerados (café, açúcar, algodão e outras commodities) a baixos preços representavam grandes negócios, envolviam imensas somas de capital e investimentos em tecnologias com o intuito de aumentarem a produção e manterem as áreas de produção integradas ao sistema capitalista. Tais aspectos permitiram o florescimento de civilizações em que o liberalismo e os valores a ele ligados (indivíduo, cidadania, direitos políticos e direito de propriedade) puderam se desenvolver de modo específico, na maior parte das vezes, atendendo aos propósitos da classe dominante.
A escravidão era, portanto, a matriz fundadora e estabilizadora da sociedade imperial. Quando, a partir dos anos de 1870, a mesma passou a sofrer forte crítica no cenário internacional e sua contestação se expandiu no âmbito interno através da fuga de escravos e do movimento abolicionista, instaurou-se uma crise de hegemonia. Ricardo Salles explica este processo como decorrente de dois fatores principais. Em primeiro lugar, o fim do tráfico no Brasil possibilitou a composição de uma “escravidão madura” em torno da década de 1860. Ou seja, o número de escravos crioulos era maior do que de africanos, proporcionando uma maior integração dos mesmos ao extrato cultural vigente. Em segundo lugar, a elevação do preço dos escravos ocorrida após 1850 causou uma concentração desta mão de obra fazendo com que, a defesa da escravidão deixasse de ser um interesse da maioria dos brasileiros para se tornar um privilégio de alguns poucos grandes proprietários fluminenses. Neste ambiente, o Império se mostrou incapaz de atender às necessidades de uma sociedade em modernização econômica, expansão demográfica e com um leque ampliado de demandas sociais. Em pouco tempo, a crise de hegemonia encontraria a crise política. O fim do regime monárquico estava próximo.
O livro em tela é por tudo o que foi dito, uma instigante leitura onde narrativa, teoria e práxis ocupam espaços privilegiados na construção de um modelo explicativo para a formação e consolidação da nação no Brasil. Trata-se de uma obra obrigatória para os estudiosos do Oitocentos e para todos aqueles que se interessam pelas questões referentes à construção do estado. Mas, não somente isso. “Nostalgia Imperial” também instiga a pensar sobre como a exclusão é constitutiva de nossa sociedade atual. Aponta como a matriz escravista produziu afastamentos históricos entre povo e cidadania, entre povo e estado/nação, até hoje presentes. Para os interessados, fica o convite à reflexão.
Mariana de Aguiar Ferreira Muaze – Professora adjunta III no Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio – Rio de Janeiro/Brasil). E-mail: mamuaze@gmail.com
SALLES, Ricardo. Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de Janeiro: Editora Ponteio, 2013. Resenha de: MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. As partes e o todo: uma leitura de “Nostalgia Imperial”. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 165-168, jan./jun., 2014.
é, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898) | Patrício Teixeira Santos
A obra Fé, Guerra e Escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898), recém editada pela Editora FAP-UNIFESP, trata de um tema atual, instigante e ainda pouco explorado pela academia brasileira, seja pela dificuldade do acesso às fontes, seja pelo tardio interesse pelos estudos periféricos, como podem ser considerados os estudos africanos e asiáticos.
Este é um duplo desafio que a autora aceita magistralmente: vai em busca das fontes e traz a público e para a academia a premência da dedicação aos estudos ainda pouco abordados, o que significa também dizer da necessidade de criar um campo conceitual e teórico específico, que não seja uma mera transposição dos estudos realizados na Europa ou nos EUA, para tratar do continente africano.
O tema é instigante e atualíssimo, se considerarmos todas as veiculações da mídia acerca dos acontecimentos da chamada Primavera Árabe e seus desdobramentos e explicações que passam pela simplicidade de rótulos: fanatismo, intolerância, ignorância, fundamentalismo ou, simplesmente, islamismo. Há ainda um aspecto contundente desta história recente: a criação, em 2011, do 195° país do mundo: o Sudão do Sul, de maioria cristã, desmembrado do Sudão, de maioria muçulmana.
Notadamente, o ponto de partida da obra são as relações entre cristãos e muçulmanos no Sudão no período compreendido entre 1881 e 1898, correspondendo à experiência da instauração de um Estado Islâmico em decorrência do movimento mahdista, liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi.
Partindo de sua pesquisa de doutorado, a autora revisitou sua obra com a realização de pesquisa de pós-doutoramento que a levou a recolher documentos, pesquisar em diferentes acervos e bibliotecas e ainda refletir com colegas de universidades internacionais para chegar ao formato final de sua pesquisa, que ora se publica em formato de livro.
A originalidade está não só na escolha do tema como na seleção das fontes e suas interpretações, abrindo caminho para a construção e consolidação do campo de estudos de História da África no Brasil, indo além das questões, não menos importantes, dos temas diaspóricos ou relacionados à história do Brasil.
As fontes são ricas e variadas: relatos e cartas de missionários, depoimentos e discursos das fontes missionárias, manuscritos, periódicos e outras publicações missionárias, fonte oral, além da documentação produzida por militares e comerciantes europeus, documentação produzida pelos muçulmanos no Sudão e importantes obras bibliográficas de referência e de cunho geral.
Tais documentos permitem tratar das formas de pensar, do juízo de valores, das percepções e das formas de convivência com o outro, ou dito de outra forma, de como ver o outro. É tratar ainda das representações recíprocas de cristãos e muçulmanos, não apenas a partir da história destas relações, mas como esta história foi construída, elaborada e apropriada. E, logicamente, há uma discussão historiografia sobre as formas de escrita desta história.
Ainda que o tema central seja o surgimento da Mahdiyya e do Estado Mahdista liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi, há uma pluralidade de temas interrelacionados, interligados, intricados e que, pelas mãos da autora, dialogam, no melhor exemplo do que se espera da disciplina histórica. Trata-se da História do Sudão no século XIX, mas também da história do Império Turco-Otomano e de sua crise ensejada pela disputa com a Áustria e a França (esta vista como a protetora dos cristãos do Oriente); da história do colonialismo europeu dos séculos XIX e XX, marcado pelas disputas francesa e inglesa, mas também do “subimperialismo” egípcio na tentativa de dominação do território sudanês; da história da Igreja e de seu papel na corroboração do projeto imperialista europeu, seja nas tentativas de evangelização da África, seja na forma de encontrar seu novo papel no momento da formação e consolidação dos laicos Estados nacionais; da disputa pela expansão da fé pelas missões católicas em concorrência com os cristãos orientais (coptas e ortodoxos) e com os protestantes ingleses; da expansão islâmica pela vertente do sufismo e do mahdismo; das interpretações da história sobre a história do Sudão, do sufismo e do mahdismo, num contexto de fé, guerra e escravidão.
O objetivo da obra é analisar as visões construídas sobre o mahdi e o Estado Islâmico criado no Sudão, a partir das interações dos missionários com essa experiência histórica. A partir daí, discute-se o papel da religião na formação da nação sudanesa, como reação ao poderio colonial anglo-egípcio, cujo caminho escolhido será o do messianismo e do poder estatal. É neste contexto que se insere o papel do catolicismo e das ações missionárias como “mediador espiritual do laico projeto colonial britânico e do novo estado religioso”. Trata-se então de compreender os valores civilizacionais cristãos na implementação do Estado sudanês.
A obra está estruturada em quatro capítulos, cada um deles subdivididos na exploração de temas que, num crescendo, vão descortinando a complexidade e pluralidade desta história: imperialismo e subimperialismo; sufismo, misticismo, mahdismo e messianismo; cristianismo, ação missionária e colonização; a trajetória do mahdi e o processo de criação do Estado Islâmico, assim como de seu significado histórico e religioso e as interpretações historiográficas sobre esse significado. Entre os temas abordados e analisados, alguns aspectos instigantes podem orientar a leitura, que ora apresentadas não estão por ordem de importância nem seguem à risca a construção feita pela autora.
O primeiro aspecto trata do papel das missões católicas europeias no Sudão, não voltadas apenas às ações proselitistas, mas como necessidade e garantia da própria sobrevivência institucional da Igreja fora da Europa, em decorrência da separação da Igreja e do Estado e dos processos de laicização. Dessa forma, África e Ásia serão campos de disputa para a expansão da fé católica, sendo necessária a conquista de almas, para isso concorrendo não só com os muçulmanos, mas com outras formas cismáticas de cristianismo (o oriental, como os ortodoxos e os coptas, e o protestante), como também para a perpetuação institucional e ideológica da Igreja Católica. Nesse sentido, o discurso do branco-europeu-civilizador foi incorporado também pela Igreja num processo interativo entre missão-colonização, cujo papel se traduziu na ação civilizatória católica entre povos não-brancos e pela propagação do “fim da maldição de Cam” com a redenção de todos os povos, africanos inclusive, pelo sangue de Cristo.
Para a efetivação desse projeto era necessário desqualificar o outro, construindo uma visão do muçulmano na lógica do estereótipo do oriental: indolentes, maliciosos, perversos, imersos na preguiça oriental, invejosos, competitivos, violadores das liberdades, do direito e do progresso, traficantes, brigões, ladrões, fracos, supersticiosos, entre outras adjetivações que corroboram a construção da imagem do outro na Europa branca-civilizada. A ridicularização, a violência, a fraqueza e a ignorância também eram modos de desqualificar o outro. Era necessário ainda desqualificar o islã, o profeta e seus crentes: “Maomé não era outra coisa senão um profeta do diabo, o seu livro um acúmulo de erros, e os amuletos uma vã superstição” (p. 153). Sobre as mulheres também pesava a degradação pela barbárie, pela sedução da magia e do encantamento, pela superstição e pela religião, como na seguinte passagem: “Perguntei se porventura aquela mulher era louca, e me respondeu que era muçulmana” (p. 153).
Assim, o campo de ação missionária deveria ser justamente onde esses males pudessem ser combatidos por meio da conversão à fé católica, unindo projeto evangelizador com projeto civilizador no Sudão: os resgatados da escravidão, as mulheres e as crianças. A conversão missionária se daria pela salvação dos escravizados, longe do jugo de seus senhores; das mulheres, libertas da escravidão, do concubinato, da prostituição; das crianças abandonadas como resultado do “abuso e da não consciência do homem branco”. Estes seres degradados poderiam ser regenerados pela ação missionária, por meio do controle do corpo e da sexualidade como formadores de virtudes, seja pelo casamento católico, seja pela inserção na vida monástica e, sobretudo, seriam agentes propagadores da fé e moral católica como forma de expressar sua gratidão, docilidade e submissão.
Nesse sentido, a ação do mahdi e sua construção de um Estado Nacional Sudanês baseado na fé islâmica só poderia ser compreendida como desvario, farsa, delírio, messianismo de um líder inconformado com “a presença europeia, avesso às inovações modernas e às contribuições científicas e religiosas do Ocidente” (p. 164)
Ainda que possa parecer paradoxal, do ponto de vista religioso há uma convergência entre os objetivos da missões católicas e do Estado mahdista no tocante à obra civilizatória sobre as “populações negras africanas” e “não árabes” empreendida pelo mahdi, que iam ao encontro da moralidade cristã no que se refere à disciplinarização dos corpos, controle da sexualidade, amor ao trabalho, combate ao adultério e ao roubo, com uma eficiência pedagógica e disciplinadora, baseadas na punição e nos castigos físicos.
Da mesma forma, o Estado mahdista se utilizou do mesmo expediente da conversão dos missionários católicos por meio da combinação da sedução e da coerção, do amplo conhecimento da fé católica, de aventar a possibilidade de participação no Estado, mas também por meio da força física, da conversão forçada, da imposição dos casamentos, da disciplinarização dos corpos, entremeando sensações e experiências de repulsa e admiração. A inserção na moralidade islâmica dos povos subjugados e dos missionários católicos por meio da conversão forçada ou não ajuda a compreender como se deu o processo de construção de linhagens fundadoras do Estado mahdista, como aponta a autora.
O êxito da mahdiyya foi decorrente uma conjunção de fatores ligados à mística sufi, da inserção e incorporação de povos não árabes em seus domínios, da apropriação de expedientes e vocabulários das práticas missionárias cristãs, da manutenção do tráfico de escravos, bem como da apropriação de estruturas militares e administrativas otomanas-egípcias e inglesas, num processo de incorporação de diversos elementos previamente existentes na criação do novo Estado singular e que conseguiu sobreviver até 1898, mesmo depois da morte do mahdi.
Nesse sentido, e ironicamente, é possível concluir que nas relações dos missionários católicos com o Estado mahdista o que a autora observa é que “a experiência mahdista, sobretudo a dos primeiros religiosos, abalou certezas sobre o que se conhecia no campo intelectual europeu a respeito da ‘limitações do oriental” (p. 178), sua ignorância e ingenuidade, e numa perspectiva historiográfica mais recente de avaliar o Estado Mahdista como “a primeira experiência sudanesa de Estado independente” (p. 175).
Samira Adel Osman – Professora no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: samira.osman@unifesp.br
SANTOS, Patrício Teixeira. Fé, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898). São Paulo: FAP/UNIFESP, 2013. Resenha de: OSMAN, Samira Adel. Cristãos e Muçulmanos no Sudão: a experiência da Mahdiyya muito além da intolerância e do fanatismo religioso. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 169-172, jan./jun., 2014.
Monções | UFMS | 2014-2018
Monções – Revista do Curso de História da UFMS/CPCX (Coxim, 2014-) Trabalhos na áreas de humanidade que pensem os acontecimentos históricos de forma inter e multidisciplinar. Desta forma a revista procura compreender os múltiplos aspectos que envolvem o acontecimento histórico.
A universidade brasileira em tempos recentes vive um processo de franca expansão e interiorização. Este é o resultado dos ventos democráticos que sopram na sociedade brasileira atual.
A expansão da UFMS proporcionou o acesso a Universidade Pública ao povo coxinense e de sua região formada por cidades como Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.
A Revista Acadêmica de História Monções representa um novo momento do curso de História da UFMS – campus de Coxim. Esse é o momento em que o curso de História recomeça um ciclo de produções acadêmicas que o projetará nacionalmente.
[Periodicidade semestral].Acesso livre.
ISSN 2358 6524
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970) | Jocimar L. Albanez
A historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul tem a história da erva mate como um tema caro às suas pesquisas. Alguns a veem como tema esgotado, outros nem tanto. Albanez sinaliza valorizar a temática quando, malgrado atentar para o processo de ocupação do antigo sul de Mato Grosso, entre 1940-1970,[1] intitula sua obra como Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970). O objetivo do autor é “explicar o processo de ocupação e o contexto do mundo do trabalho na agropecuária” (p.22) no antigo sul de Mato Grosso, mais especificamente, o movimento das frente pioneiras, caracterizadas pelo alto investimento da capital e pela industrialização do campo. Nestes termos, o que justificaria o título?
Albanez não restringe sua pesquisa ao período de 1940-1970. Somente consegue coerência em sua explicação por retroceder ao fim do século XIX e início do XX, quando a conhecida Companhia Matte Larangeira era responsável pelo arrendamento de vasto território no antigo sul de Mato Grosso, região que o autor definiu como Amambai histórico. Segundo ele, a ocupação, nesse período, estava restrita a indígenas e paraguaios, a mão de obra da Companhia. O interesse da Companhia, assim como o seu poderio político, conseguia fazer a manutenção das áreas em poder desta empresa a tal ponto que protelavam pedidos de emancipação de municípios, como no caso de Ponta Porã e outros. Nesse sentido, o título da obra, que é fruto da dissertação de mestrado do autor, defendida em 2004 na Universidade Federal da Grande Dourados, é coerente, pois salienta a importância do momento histórico precedente à ocupação das frentes pioneiras.
Deixando de lado o título e adentrando à obra em si, é possível notar que Albanez, apesar da originalidade do tema, que desloca o interesse nos processos de ocupação deflagrados pela política estadonovista, responsável pela formação da CAND,[2] para o território do Amambai histórico [3] e a análise do impacto das frentes pioneiras na formação dos municípios, o trabalho de Albanez se enquadra em uma linha historiográfica que ainda valoriza sobremaneira, no campo teórico, as características de uma teoria moderna [4] onde há uma valorização de uma história total, haja vista que o autor consegue fazer um diálogo entre o local e o global, assim como de uma relação interdisciplinar, chamando, constantemente, a geografia. [5]
Facilmente, poder-se-ia inserir o trabalho do autor no âmbito de uma análise marxista, não apenas pela epígrafe retirada da Ideologia Alemã, de Marx, mas também pelo interesse em pontuar a desproporção entre o poder do capital, nas chamadas frentes pioneiras, que tal como a Revolução industrial destruiu o espaço do artesão, essa grande propriedade, cercada de maquinário tecnológico desenvolvido, deslocou o pequeno proprietário das chamadas frentes de expansão, que tinham como característica a subsistência para uma condição de dependência do grande latifundiário.
Contudo, também poder-se-ia observar uma influência dos Annales na medida em que valoriza o econômico e o social, assim como o método de pesquisa que atenta para os dados estatísticos e censitários como importante fonte de análise no processo de mutação da região do antigo sul de Mato Grosso. Mas, nem por isso o autor abandona outros tipos de fontes, como as orais e bibliográficas. Albanez parece se aproximar um pouco de Braudel quando utiliza a geografia para justificar determinadas relações do homem com o território, como por exemplo, o interesse nos Campos de Vacaria, que são mais propícios à criação de gado e a caracterização fisiográfica da região.
Historiograficamente, o trabalho de Albanez se insere em uma linha tradicional que ainda é forte: a história econômica, política e social que tem como fontes principais os arquivos públicos, dados censitários e documentos oficiais. As referências bibliográficas também são condizentes a esta linha, baseando-se em autores referenciais para este tipo de análise, como Paulo Roberto Cimó Queiroz, Alcir Lenharo, Isabel Guillen, Lucia Salsa Corrêa, entre outros.
Em relação ao conteúdo, note-se que o livro divide-se em três capítulos, fora a apresentação, feita por Paulo Roberto Cimó Queiroz, a introdução, a bibliografia e a lista de outras fontes. No primeiro capítulo, o autor apresenta, de forma genérica, como se deu o processo de ocupação não índia na região, observando algumas características gerais, como a Lei de Terras de 1850, e outras específicas, como a independência do Paraguai, os problemas da fronteira, a domínio da questão fundiária pelas oligarquias regionais e, no fim, um quadro do panorama urbano do estado. O objetivo do capítulo é preparar o terreno para a discussão principal do autor, que já foi apresentada acima.
Já o segundo capítulo se dedica ao efetivo objetivo do texto: a ocupação do antigo sul de Mato Grosso entre 1940 a 1970, intitulado “Quando predomina o econômico…: a ocupação recente do ESMT (1940-1970)”, demonstra que dos fins do século XIX a meados do século XX, é possível notar uma variação da relação do homem/mulher para com o espaço, visto que no primeiro momento há uma característica de subsistência onde o ecológico sobrepuja; ao passo que no segundo observa-se uma sobreposição do econômico ao ecológico. Na primeira fase, observa-se a característica extrativista, principalmente a erva mate e a borracha, ao passo que na segunda, observa-se a produção agropecuária “destruidora das riquezas naturais” (p. 67).
Além desse fator, que justifica o título, mais quatro pontos podem ser observados como resultados importantes encontrados pelo autor: i) a constatação de um crescimento populacional no ESMT de 1950 para 1970, sendo que deste contingente o rural predominou sobre o urbano; ii) a política de colonização valorizou a concentração fundiária ao invés da equitativa distribuição de terras; iii) havia grandes propriedades na mão de poucos proprietários (acima de 1000 ha.), voltados para uma pecuária extensiva e muitas pequenas propriedades nas mãos de pequenos proprietários, voltados para a produção de subsistência e de manutenção do mercado local, lavouras que produziam arroz, feijão, milho, algodão, café, mandioca, entre outros; iv) a partir de 1970 a produção se tornou preponderantemente agropecuária e passou a visar a exportação e, não mais, o mercado nacional.
O terceiro capítulo, ainda relacionado ao objetivo central do livro, pretende fazer uma análise dos trabalhadores e das relações de trabalho no ESMT. O objetivo foi analisar como o processo ocupacional, explicado no capitulo dois alterou, ou não, o trabalho e as relações de trabalho na região. Em relação à metodologia, pode-se dizer que segue a mesma linha do segundo capítulo, a análise dos dados censitários no curso dos anos de 1950 a 1970.
No que diz respeito aos resultados, pode-se depreender seis pontos principais: i) com o fim da Matte Larangeira, o destino dos trabalhadores foi trabalhar em desmatamentos, formação de fazendas e na abertura de picadas e estradas. Essa mão de obra era de origem paraguaia, indígena e nordestina; ii) a desconstrução da ideia de que as relações de trabalho, na região, eram feudais ou semifeudais, defendendo, com base nas teorias de Caio Prado Júnior, que essas relações eram fruto das reminiscências escravocratas do século XIX (p. 154-155); iii) há uma variação no regime de trabalho entre 1950 a 1970, onde de uma maioria de trabalhadores temporários passa-se a uma maioria de trabalhadores permanentes (p. 171); iv) entre os anos citados acima, cresce o número “de participação de emprego do trabalho feminino nas propriedades rurais” (p. 176). Contudo, esse trabalho restringia-se a categoria de não remunerado; v) no ESMT prevaleceu o trabalho familiar, devido ao aumento de propriedades com menos de 10 ha e as parcerias em propriedades entre 10 e 35 ha, daí a baixa contratação de mão de obra assalariada, evidenciada pelos dados censitários. Outro fator que justifica essa baixa parcela de mão de obra assalariada são os membros não remunerados da família, o fator especulativo da terra, assim como o fato de muitas propriedades estarem sob o regime de arrendamento; vi) com o grande número de propriedades multiplica-se o número da mão de obra a disposição da grande propriedade, pois há um aumento demográfico.
Para finalizar, o autor apresenta algumas constatações gerais: como o fato do sistema de ocupação ter valorizado a concentração fundiária, pois era visivelmente um grande negócio para o Estado; houve um processo de realocação do “contingente humano disperso após a estagnação da atividade ervateira, principalmente no que diz respeito à limpeza das propriedades” (p. 187-188); a exploração da mão de obra, estendida ao ambiente familiar, onde o responsável era contratado, de forma assalariada, mas toda a família trabalhava pela remuneração de apenas um; o predomínio das atividades rurais no ESMT até o final da década de 1960; e a restrição das atividades ervateiras à região fronteiriça com o Paraguai: “caem os erva, para em seu lugar surgirem algumas culturas agrícolas, mas, principalmente, para forrar o chão com pastagens” (p. 186).
Portanto, a obra de Albanez se apresenta muito relevante para a historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul, na medida em que apresenta um panorama da formação ocupacional da região baseada em referências estatísticas. Nota-se que o campo teórico metodológico estabelecido no início é seguido no decorrer da obra e que os resultados obtidos são coerentes com os dados analisados, assim como é perceptível que as análises locais estão constantemente sendo relacionadas aos âmbitos nacionais, o que dá significativa credibilidade à obra, visto que pontua as linearidades e as cisões estabelecidas com um campo de análise nacional.
Notas
1. Nesse período, a exploração da erva mate já está em declínio devido dois fatores: o processo de nacionalização da fronteira (a mão de obra nos ervais era preponderantemente paraguaia) e autossuficiência argentina, principal mercado consumidor do produto.
2. Colônia Agrícola Nacional de Dourados.
3. É importante salientar que, malgrado o autor focar no território do Amambai histórico, ele estabelece relação entre este, a porção Meridional do Município de Dourados e o restante da Microrregião Campos de Vacaria e Mata de Dourados.
4. Tomando aqui por referência o sentido que Ciro Flamarion Cardoso atribui ao termo na introdução da obra Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia, originalmente publicada em 1997.
5. Utilizou boletins de geografia, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros da área, destacados na bibliografia, assim como é notável, no decorrer do texto, a importância dada à Geografia como importante referência para as análises.
Fábio Luiz de Arruda Herrig – Mestre em Letras pela Universidade Federal da Grande Dourados (2012). Graduado em História pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (2009). É professor da Escola Agrotécnica Lino do Amaral Cardinal e do Centro Educacional Luis Quareli – CELQ.
ALBANEZ, Jocimar Lomba. Ervais em queda. Transformações no campo no extremo sul de Mato Grosso (1940-1970). Dourados: UFGD, 2013. 190p. Resenha de: HERRIG, Fábio Luiz de Arruda. A erva mate e a historiografia de Mato Grosso/Mato Grosso do Sul. Revista Ágora. Vitória, v.20, p.210-214, 2014. Acessar publicação original [IF].
O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história | Francisco Réges Lopes Ramos
O estudo do historiador Francisco Régis Lopes Ramos intitulado de O fato e a Fábula: O Ceará na escrita da História, publicado em 2012, trata da construção de uma determinada visão da História do Ceará, que vai se modificando ao longo do tempo. A partir de um recorte temporal de 1860 até 1970 – o objetivo de Régis Lopes é tomar a História do Ceará como objeto “que foi se legitimando na medida em que foi se constituindo”. O historiador Régis Lopes, atualmente Professor da Universidade Federal do Ceará, pós-doutor pela Universidade Federal Fluminense, tem estudos acerca da religiosidade, memória, ensino e teoria da História. No entanto, neste trabalho deve-se esclarecer que seu interesse não é privilegiar os autores estudados “já feitos”, mas esses autores em seus “fazer-se”, que vão “aperfeiçoando” seus conhecimentos “na medida em que o tempo vai passando”. Esses autores são José de Alencar, Alencar Araripe, Cruz Filho, Raimundo Girão, Filgueira Sampaio, Pedro Théberge, Senador Pompeu, entre outros. Ao se centrar na “cultura letrada” (na ilha dos letrados), analisa o tema da História do Ceará através de autores, livros e obras de História do Ceará, especificamente de autores cearenses, ‘partindo’ de José de Alencar – literato cearense. Iracema, Sertanejo, Troco do Ipê entre outras, são obras (assim como outras de outros escritores) que perpassam boa parte do livro, possibilitando ao historiador pesar historicamente concepção do “passado” do Ceará. Até mesmo a percepção de uma construção da imagem de autores que se deu como fundamental para composição desse “passado” – muitas vezes imaginado – do Ceará. José de Alencar, o “filho ilustre da terra”, não por acaso, entra na obra de Cruz e Souza, História do Ceará – resumo didático (1931), como um cearense de (merecido) destaque. Uma certa interação entre a escrita sobre o Ceará e a escrita de livros didáticos no Estado é perceptível.
No entanto, a análise histórica de Régis não se trata de uma “perspectiva tradicional de história das ideias”, como ele mesmo destaca, como se o passado cearense fosse “algo dado” pela natureza e ao pesquisado resta-lhe “apenas descobri-lo”; trata-se, entretanto, de uma “inexistência do objeto em si mesmo”, de modo que legitime-se a “crença” no passado cearense. Régis Lopes inicia sua análise do ponto que diz respeito “a parte e o todo”. A partir da orientação pioneira, a escrita da História do Brasil não deveria desprezar as singularidades das províncias, pois estas deveriam se manter unidas (fazendo parte do “todo”). Contudo, o norte do trabalho parte da preocupação em como escrever a História do Brasil levando em consideração as particularidades de cada parte (províncias) relevantes e fundamentais para o todo (Brasil); de modo que essa História do Brasil não pareça um aglomerado “de histórias especiais de cada uma das províncias”, como afirma Régis citando Martius. Desse modo, a presente obra direciona-se para o papel de autores cearenses, “na história e na literatura”, que buscaram evidenciar a importância do Ceará para a História do Brasil, no interesse de, no presente, construir a ideia de um Ceará “louvável e correto.”
No estudo de obras como Iracema (1865), de José de Alencar, e História da Província do Ceará (1867), de Alencar Araripe, o autor parte da ideia de que essas obras são exemplos de “escrita militante”, pela qual seus autores buscaram “figurações do passado” na tentativa de imaginar um passado para o Ceará, destacando o intuito de construção de uma “nacionalidade”, pelos intelectuais do século XIX, através da qual procuraria efetivar um passado cearense que seria “transladado ao presente, (…) filtrado, digerido e transformado em força.”Isto está explicito no material didático organizado por Joaquim Nogueira publicado em 1921, no seu livro Ano Escolar. Nesta, Nogueira indicava orientações pedagógicas entre as quais havia o intuito de o trabalho do professor seguir o pressuposto de um tempo linear, pontuando os feitos ilustres na lógica de causa e consequência – precisava-se, portanto, “criar” fundadores para o Ceará. Nessa disputa e trânsito de valores, permeado de escolhas, elaboram-se datas e fatos (célebres) através de uma “narrativa sedutora (…), com uma trama bem urdida para atrair a atenção do leitor e (…) torna-lo cúmplice partícipe da história que ele lê e da qual participa como cearense que procura conhecer o passado para amar o presente.”
Assim, o que s destaca na oba é o interesse de modelar um determinado discurso para a História do Ceará que atendeu às demandas específicas do espaço-tempo em que os intelectuais cearenses estavam inseridos. É importante salientar em O Fato e a Fábula a necessidade que esses intelectuais tinham de legitimar tais considerações para com o passado do Ceará através do ensino, pois se acreditava na importância dos estudantes saberem terma e autores que trataram do Ceará. Dessa forma, tais operações historiográficas se davam no sentido de “civilizar” o povo através do ensino da história, uma verdadeira “missão” que as “ilhas de letrados” detinham. O capítulo XIX “Começo, meio e fim” é destacável para perceber a dimensão do ensino, neste capítulo Régis destaca os quatro livros didáticos mais usados, de algum modo, nas escolas cearenses. Os livros são: História da Província do Ceará (1867) de Alencar Araripe, a já citada de Cruz Filho, uma de Raimundo Girão, Pequena História do Ceará (1953), e História do Ceará de Filgueira de Sampaio; Lopes procura entender na análise dessas obras como se constitui “o enquadramento do tempo para dar conta do espaço delimitado como o Ceará”. O final de cada livro é o presente de cada autor, por isso observam-se temas como o pioneirismo cearense na Abolição, as secas, a migração ao Acre, e mesmo figuras tidas como importante, como Humberto Castello Branco – o “bravo cearense” – no capitulo “O Ceará na Presidência.” é destacável, pois esse se dedicou aos livros didáticos.
Além de destacar a importância que o ensino de História do Ceará teve para tais autores, Régis também ressalta a importância que esses autores deram à escrita da História cearense. De forma geral “estava em jogo a legitimidade tanto da História do Ceará quanto do historiador cearense”. A obra do historiador é pontual quando procura conceber que o passado cearense não é “algo dado” de modo que os autores e as obras vão se constituindo, construindo o conhecimento de acordo como passar do tempo. Por isso, afirma que tal “objeto”: o passado do Ceará em si inexiste, havendo apenas uma “crença” nesse passado, pois “se não fosse o objeto da crença, a própria crença nem poderia sonhar em existir”. Publicado em 2012, quando é evidente o debate atual acerca do trabalho docente, do conhecimento histórico, do conhecimento escolar, dos métodos de exames (ENEM, por exemplo), o livro possibilita uma reflexão acerca do próprio fazer historiográfico e do ser historiador, principalmente quando se percebe a discussão entre o “local” e o “nacional”, o “cearense” e o “brasileiro”.
Raul Victor Vieira Ávila de Agrela.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2012. Resenha de: AGRELA, Raul Victor Vieira Ávila de. Sobre o fato Ceará: acerca da fábula cearense. Cantareira. Niterói, n.20, p. 129- 131, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
Educação e História da Matemática | UECE | 2014
O Boletim Cearense de Educação e História da Matemática -BOCEHM (Fortaleza, 2014-) é uma publicação da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e do Grupo de Pesquisa em Educação e História da Matemática (GPEHM) elaborado por discentes, docentes e pesquisadores que estudam a História da Matemática e sua relação com a Educação Matemática.
O BOCEHM é uma publicação quadrimestral de forma digital e impresso em que está aberto à colaboração de todos aqueles que estão atuando na área de Educação e História da Matemática e desejam participar deste processo de divulgação.
Periodização quadrimestral
Acesso livre
ISSN 2357 8661 (Impresso)
ISSN 2447 8504 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Escrita da História | GME | 2014
A Revista Escrita da História (Formiga – MG, 2014-) é um periódico científico independente [Grupo MultiAtual Educacional], de orientação marxista, organizado por pesquisadores que estão ou já estiveram vinculados a Programas de Pós-Graduação em Ciências Humanas nas condições de discente ou docente. Tem como objetivo publicar trabalhos acadêmicos inéditos no campo das Ciências Humanas, que devem contemplar o uso de fontes primárias e secundárias. [Apresentação Atual].
A Revista Escrita da História (2014-) tem por finalidade a publicação de trabalhos científicos inéditos na área das Ciências Humanas e Sociais, com o objetivo de promover a produção acadêmica, tanto de pesquisadores em início de trajetória quanto de investigações já consolidadas, desde que sejam trabalhos de fôlego analítico. [Apresentação em 2020].
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2359 0238
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
O Caribe como espaço de representações / Revista Brasileira do Caribe / 2014
Desde los viajes de Colón, cuando este intrépido marinero comparó a la región del Caribe con el paraíso, se han formulado varias ideas acerca del conjunto de islas y mares que las rodean, ideas que han alimentado los imaginarios de muchas generaciones de diversas latitudes. En todas ellas la llamada región del Caribe aparece como un espacio que ha sido objeto de innumerables representaciones. Es decir, tras un proceso de percepción e interpretación se han presentado recreaciones de una cierta “realidad”, estructuras de comprensión, a través de las cuales “el sujeto mira el mundo: sus cosmovisiones, su mentalidad, su percepción histórica” (SZURMUK Y MCKEE IRWIN, 2009, p.250).
En el conjunto de trabajos reunidos en este número ofrecemos muestras de algunas representaciones del Caribe que circularon y que formaron parte de un sistema de prácticas sociales y culturales en las que los agentes que realizaron esas representaciones apelaron a referentes, reales o imaginarios.
En primer lugar hablamos de las representaciones cartográfi cas que a lo largo del siglo XX se difundieron mediante grandes mapas a colores que eran distribuidos como suplemento por la revista National Geographic. En ellos se percibe el cambio en el signifi cado de la región como zona de defensa, lugar ideal para la inversión, y ante todo espacio propicio para el turismo. En los diversos mapas vemos cómo se representa también la actuación de Estados Unidos sobre ese espacio. En particular, en el mapa elaborado en 1987, lo que constatamos es la representación de los diversos ciclos de la historia de la zona desde la llegada de Cristóbal Colón y hasta la consolidación del llamado siglo americano.
En el segundo trabajo reunido en este número, el Golfo- Caribe es el espacio de confrontación entre los intereses de la Real Hacienda novohispana y los intereses particulares de los contrabandistas. El mar representa el lugar idóneo para realizar las transacciones que generarán las subastas y con ellas los crecientes ingresos, pero sobre todo, lo que el artículo de Julio Rodríguez describe es el espacio de acción de las redes de poder entre contrabandistas y funcionarios reales.
En su análisis de la dinámica que siguió el partido de Bacalar y su área aledaña, durante el siglo XVII, la autora Gabriela Barke destaca cómo éste forma parte de un complicado proceso en el cual los sujetos que intervinieron en él “crearon un paisaje modifi cado de acuerdo a sus percepciones, acciones, relaciones y usos”. Fue, en primer lugar, contenedor de una enmarañada red de relaciones políticas, económicas y sociales, vinculadas tanto al ámbito local como al internacional, pero también, fue lugar de refugio y aislamiento para los nativos, y zona despoblada y fuera de control para los conquistadores. En la colaboración de Silvia Rábago percibimos cómo las representaciones que los encargados de la diplomacia mexicana construyeron del Caribe marcaron sus decisiones y su actuación en la región en el siglo XIX.
La educación rural en las islas del Caribe, producto de las intervenciones militares de Estados Unidos, es el tema del texto de Juan Alfonseca. Esa educación contribuyó a construir representaciones de las realidades donde se inscribió y, en función de esas representaciones, propuso la inserción del campesinado en el mercado agroexportador de las Antillas mayores.
En el texto de Yoel Cordoví somos testigos de cómo operaron las representaciones de lo que se percibía como la realidad cubana, nos adentramos en las estrategias expedicionarias concebidas y articuladas por las estructuras directivas de la Delegación Plenipotenciaria de la República de Cuba en Armas, constituidas durante la guerra de independencia (1895-1898), y conocemos los pasos seguidos para vencer los obstáculos que impusieron a los revolucionarios cubanos las autoridades de Estados Unidos. Estrategias en las que la astucia, las infl uencias y el dinero tuvieron un papel hasta ahora no sufi cientemente resaltado. Mientras, el artículo escrito por Erik del Ángel presenta a La Habana como el lugar en el que se podía conspirar, pero ante todo se identifi caba como el lugar idóneo para salvar la vida. Hilda Vázquez Medina continúa, en el siglo XX, la refl exión sobre las representaciones y la actuación de la diplomacia mexicana en el Caribe.
Finalmente, dos trabajos sobre música del Caribe son el medio utilizado para analizar otros ámbitos de representación. En el estudio de la salsa propone Alejandro Martínez mostrar la opresión sobre el afrodescendiente y la imagen estereotipada de éste. El rap ofrece, de acuerdo con Allysson Fernandes imágenes de la exclusión del negro en Cuba. Lo que los trabajos aquí publicados muestran es que el Caribe es mucho más que un espacio concreto. Es, más bien, sujeto y objeto de múltiples representaciones. Desde la geografía, la cartografía, la historia, la diplomacia, la educación, la música.
Referencias
SZURMUK, Mónica y MCKEE IRWIN, Robert Coords. Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, México: Instituto Mora/Siglo XXI, 2009.
Laura Muñoz – Instituto Mora/ Mex DF.
MÚÑOZ, Laura. O Caribe como espaço de representações. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.14, n.28, jan./jun., 2014. Acessar publicação original. [IF].
Helikon | PUC-PR | 2014-2016
A Revista de História Helikon (Curitiba, 2014-2016) é uma publicação semestral da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), publicada pela primeira vez em 2014, com o objetivo de constituir-se como um meio de debate e divulgação de temas relativos à História com concentração na área História, Cultura e Relações de Poder e nas linhas de pesquisa Corpo, Alteridade e Identidade; e Política, Instituições e Subjetividade. Tem ainda como objetivo dialogar com pesquisadores nacionais e internacionais sobre as mais recentes pesquisas na área de História.
A revista é complementada por artigos acadêmicos originais e dossiês sobre assuntos de interesse e relevância para a área, com circulação nacional e internacional, o periódico adota o processo de revisão (double blind peer review) entre os membros do Conselho Científico em sistema duplo de revisão anônima, ou seja, tanto os nomes dos pareceristas quanto dos autores permanecerão em sigilo.
A missão da Revista é ser referência na comunidade científica sobre a temática História, Cultura e Relações de Poder e nas linhas de pesquisa Corpo, Alteridade e Identidade bem como Política, Instituições e Subjetividade, socializando a informação com qualidade e buscando contribuir para as discussões na área de História.
O objetivo da Revista é publicar trabalhos originais e inéditos que promovam a difusão de estudos, pesquisas e documentos relativos à área de História, com ênfase em Cultura e Relações de Poder.
Revista de História Helikon deseja se consolidar como referência para a área de História, Cultura e Relações de Poder.
Os temas abordados pela Revista de História Helikon estão vinculados à área História, Cultura e Relações de Poder e nas linhas de pesquisa Corpo, Alteridade e Identidade; e Política, Instituições e Subjetividade.
Acesso livre
Periodicidade semestral
ISSN 2357 9366
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos [Link quebrado desde 2022. https://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/helikon?dd99=actual]
Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780 -1860 – MARSON et al (RIHGB)
MARSON, Isabele; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. (orgs.). Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780 -1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. 348 p. Resenha de: LYRA, Maria de Lourdes Viana. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 175 (462) p.273-280, jan./mar. 2014.
A coletânea organizada pelas professoras/historiadoras Isabel Marson e Cecília Helena de Salles Oliveira e publicada em livro, sob o título “Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860” – reúne textos voltados à reflexão de uma questão central e necessária à ampliação do conhecimento histórico sobre o Brasil imperial, ou seja, o entrelaçamento entre política e negócios no processo de formação do Estado nacional. Escritos com maestria pelas organizadoras – ambas com larga experiência acadêmica e autoras de obras consagradas referentes ao tema – e por jovens pesquisadores – mestres e doutores por elas orientados nos cursos de pós-graduação em História na Unicamp e na USP –, os artigos representam expressivo subsídio à produção historiográfica do Brasil novecentista.
Pela proveitosa retomada da análise crítica sobre o período em pauta e elaborada com o devido rigor acadêmico sobre os paradigmas teóricos e interpretativos ainda persistentes, com o objetivo de demonstrar como ocorreu o processo de afirmação das práticas liberais nos domínios do Estado e da sociedade imperial.
O aprofundamento da análise sobre circunstâncias específicas à estruturação do Estado nacional brasileiro vem, nos últimos tempos, despertando a atenção dos pesquisadores e ocupando espaço destacado nos estudos da História do Brasil. Sobretudo a partir das décadas finais do século XX, com o incremento da pesquisa histórica nos cursos universitários de pós-graduação e o consequente incentivo à abertura de novos ângulos de reflexão sobre o sentido do Estado brasileiro imperial. Caso singular no contexto das independências coloniais da América e ainda pouco explorado quanto à motivação da luta então empreendida para manter a unidade do vasto território colonial e a consequente implantação do único Estado independente monárquico e imperial no Novo Mundo. Ao mesmo tempo em que a necessidade de outras leituras sobre a história política se impunha, com o surgimento de questões histórico-políticas contemporâneas, então colocadas. Além do interesse na retomada da reflexão pontual sobre a transferência da sede da Corte monárquica portuguesa para a colônia Brasil. Acontecimento extraordinário ocorrido no início do século XIX e recolocado como foco de particular atenção, especialmente no contexto das comemorações do bicentenário, em 2008. Ocasião em que o questionamento sobre o sentido político/ideológico do Império edificado no Brasil, que já vinha sendo atentado, estimulou o aprofundamento da análise sobre as questões estruturais envolvidas no processo histórico decorrente e, consequentemente, à elaboração de estudos articulados sobre aspectos de ordem política, social, cultural e econômica.
É nesse quadro renovador de pesquisa e estudos históricos sobre o processo de formação do Estado e da sociedade brasileira que a coletânea aqui enfocada adquire valor e se destaca, pelo significativo avanço empreendido no estudo do tema. Ao centrar a atenção sobre os “princípios e formas de relacionamento que estruturaram e mediaram monarquia constitucional, liberalismo, mercado e escravidão na sociedade imperial”, apoiada em exaustiva exploração de fontes primárias e em expoentes teóricos “que questionaram metodologias e pressupostos liberais e marxistas ortodoxos”. Além do necessário diálogo empreendido com estudos renovadores elaborados nos últimos anos sobre a política e a sociedade imperiais e, sobretudo, pela consistência da reflexão resultante, ao demonstrar que: “princípios políticos liberais de diverso teor orientaram e estruturaram as relações vigentes na sociedade imperial, nela exteriorizando-se de múltiplas formas (…) desde a crise do Antigo Regime até o Segundo Reinado”.
Dividida em duas partes objetivamente demarcadas – a primeira intitulada: (Re)configuração de pactos e negociação na (re)fundação do Império; a segunda sob o título: Revoluções e conciliação: fluidez do jogo político, dos partidos e dos empreendimentos – a coletânea reúne nove alentados artigos interligados pelo objeto comum de análise: o de aprofundar o conhecimento sobre o processo histórico correspondente, através do estudo de ocorrência em locais diversos e em circunstâncias diversificadas, como: relações de dominação e de subordinação estabelecidas, mobilizações urbanas e/ou agrárias, manifestações na imprensa.
Busca realçar os fortes laços existentes entre os interesses da política e o mundo dos negócios e, principalmente, explicitar como “a disputa entre grupos pelo exercício do poder – frequente matriz de revoluções – resguardava os interesses pelos lucrativos negócios gerenciados por aqueles que comandassem o governo”.
Na primeira parte, encontram-se os artigos centrados na análise do período situado entre a conjuntura final do século XVIII e as décadas iniciais do XIX. E, o primeiro artigo, escrito por Ana Paula Medicci, “Arrematações reais na São Paulo setecentista: contrato e mercês”, analisa o sistema de arrematação dos contratos de arrecadação das rendas reais.
Tomando como referência especial o contrato do imposto dos dízimos – o de maior relevância pelo montante das rendas auferidas. Situa o estudo entre 1765, ano em que a capitania de São Paulo se tornou autônoma da principal (Rio de Janeiro) e 1808, quando a instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro alterou as relações de poder no contexto interno da Colônia Brasil. Ressalta a relação desse sistema com a concessão de honrarias e cargos na administração colonial e demonstrando quão forte era o enraizamento de interesses dos negociantes que, ao acumularem o encargo de arrecadadores de impostos, também participavam da administração pública. Resulta na imbricação dos interesses públicos e privados, em face da estreita relação político-administrativa então existente, e propiciando a criação de “vínculos que fortaleciam tanto as instituições administrativas quanto a unidade imperial”.
O texto escrito por Emílio Carlos Rodrigues Lopez sob o título “Festejos públicos, política e comércio: a aclamação de D. João VI”, centra o foco de análise na organização dos festejos públicos realizados no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1822. Dando especial atenção aos preparativos da festa para celebrar a aclamação do rei D. João VI, em fevereiro de 1818, sobretudo examinando o uso de imagens e símbolos utilizados na decoração das ruas da cidade engalanada e ressaltando o esmero na montagem de suntuosos exemplares de arquitetura efêmera: como o arco do triunfo de inspiração romana, com imagens do Tejo e do Rio de Janeiro apoiando as armas reais e sob a inscrição “Ao libertador do comércio”, que marcou a decoração executada pelos artistas franceses Jean Baptiste Debret e Gran-Jean de Montigny e financiada pelos principais negociantes locais, com o propósito de realçar o “projeto civilizador” do rei ilustrado, que “marcava a vitória da civilização sobre o mundo bárbaro”. Todos engajados no esforço de legitimar a Monarquia instalada nos trópicos, graças à “sabedoria do rei, que promovia a prosperidade do Império, expressa nas figuras das artes, da agricultura e do comércio” e fortalecia o recém -criado Reino Unido luso-brasileiro.
Cecília Helena de Salles Oliveira é a autora do artigo, “Imbricações entre política e negócios: os conflitos na Praça do Comércio no Rio de Janeiro”, em 1821, centrado na análise dos conflitos ocorridos na Praça do Comércio do Rio de Janeiro, local de reunião dos eleitores fluminenses para escolha dos representantes da província às Cortes Gerais e Constitucionais, revolucionariamente convocadas para realizar-se em Lisboa.
Apoiada em apurada pesquisa de fontes históricas, examina particularmente o processo judicial então instaurado, para apurar a razão de tais ocorrências, a autora revela “a matização do quadro político na cidade e Corte do Rio de Janeiro, bem como, a indefinição de alternativas às vésperas da partida de D. João para Portugal”. Argumenta que o confronto do dia 21 de abril de 1821, ocorrido no “edifício luxuoso”, que fora financiado pelos negociantes locais e inaugurado no ano anterior, constitui marco de significativa importância na tomada de posição de: “pessoas e grupos diretamente engajados, naquele momento, na defesa das bases constitucionais propostas pelos revolucionários em Portugal e na Espanha”.
Ao contrário do que é usualmente explicado pela historiografia, ou seja, como um simples choque de interesses entre “portugueses” e “brasileiros”.
Além de salientar o quanto “as vinculações entre política e mercado foram redefinidas e adquiriram outras fundamentações e aparências à medida que hierarquias, monopólios, isenções e privilégios coloniais foram sendo esgarçados e/ou reconstruídos por intermédio do movimento complexo de conflitos sociais, do qual a reunião na Praça do Comércio é emblemática exteriorização”.
O artigo escrito por Vera Lúcia Nagib Bittencourt, “Bases territoriais e ganhos compartilhados: articulações políticas e projeto monárquico -constitucional” analisa a conjuntura imediatamente seguinte ao conflito do Rio de Janeiro (1821), enfocando a ação política desenvolvida pelos agentes apoiadores do projeto de permanência da unidade luso-brasileira.
Aponta a aproximação de interesses políticos e financeiros entre os grandes proprietários e negociantes, militares e membros da alta burocracia da Corte, os quais, articulados com figuras oriundas de tradicionais famílias paulistas e proprietários de terra mineiros, desencadearam a ação de defesa das prerrogativas de Reino do Brasil e, portanto, a permanência de um centro de poder monárquico no Rio de Janeiro. Além da consequente “preservação dos diferentes ganhos obtidos pelos articuladores com a fixação da Corte na América portuguesa”.
O texto de João Eduardo Finardi Álvares Scanavini, “Embates e embustes: a teia do tráfico na Câmara do Império (1826-1827)”, encerra a primeira parte do livro, analisando o debate travado na Câmara de Deputados em torno do Tratado anglo-brasileiro para a Abolição do Tráfico de escravos, assinado em novembro de 1826 e ratificado em março de 1827.
Examinando o posicionamento dos parlamentares sobre a validade do trabalho servil e do tráfico de africanos para o País e no encaminhamento da discussão para a ratificação do Tratado, o autor amplia o quadro de análise.
Ao perscrutar o tom e o modo de negociação pleiteada pela representação parlamentar, ligada direta ou indiretamente ao lucrativo comércio de escravos e, portanto, empenhada em conservar a ordem escravocrata ou no mínimo adiar a abolição por prazo indefinido, ressalta a postura de oposição ao governo assumida pelos deputados, utilizando-se da tática de desqualificar o Tratado de 1826, levando à continuidade da prática ilícita do tráfico até 1850. Ao mesmo tempo em que atacavam as atitudes despóticas do governante, encaminhando o movimento que levaria à abdicação do imperador em 1831, fato que encerrava o tempo de vigência do Primeiro Reinado.
Na segunda parte, encontram-se os textos que analisam a conjuntura posterior à abdicação caracterizada pelo confronto “entre súditos-cidadãos por projetos, espaços de atuação bem colocados e oportunidades de negócios (…) guerras civis e conciliações compulsórias”, iniciada com o texto de Erik Hörner, intitulado “Partir, fazer e seguir: apontamentos sobre a formação dos partidos e a participação política no Brasil da primeira metade do século XIX”. Apoiado nas concepções teóricas do cientista político italiano Giovanni Sartori, o autor analisa o momento propiciador do surgimento de associações que dariam origem aos partidos: conservador e liberal. Demonstra o quanto os princípios do liberalismo e do mercado lastrearam o discurso e orientaram a prática dos políticos, nas décadas de 1830 e 1840; discutindo sobre as expressões utilizadas e a problemática dos esquemas traçados. Além da bipolarização partidária “tida como característica da política imperial” sob a argumentação de que “a complexidade do jogo político e do embate de grupos com interesses mais diversos do que poderia ser contido simplesmente em rótulos como liberais e conservadores”.
Isabel Marson é a autora de “Monarquia, empreendimentos e revolução: entre o laissez-faire e a proteção à ‘industria nacional’ – origens da Revolução Praieira (1842-1848)”, no qual desloca o foco de análise do cenário da Corte e circunvizinhança, centrando a atenção na província de Pernambuco, onde o jogo político-partidário era intenso, traduzido na disputa por cargos no governo local e obtenção de cobiçados contratos em obras públicas, desenrolado entre os que pleiteavam protecionismo à indústria nacional e os defensores do livre-cambismo, aqueles que comandavam a administração provincial desde 1837, ou seja, duas orientações de teor liberal que se confrontavam, expondo a complexidade da sociedade “constituída por grupos de interesses e expectativas de diverso matiz liberal”. Esmiuça as circunstâncias específicas daquela província, a autora aprofunda o estudo sobre as relações sócio-político-econômicas ali estabelecidas e de certa forma determinantes nas diretrizes governamentais do Segundo Reinado. Traçando um quadro esclarecedor sobre a sintonia da província com “a teia de negócios e orientações políticas no âmbito do Império e no quadro internacional”, contribuindo à ampliação do conhecimento sobre o confronto entre grupos políticos locais, que levou à “sangrenta guerra civil, celebrizada como Revolução Praieira”, em 1848. Investiga sobre as motivações que levaram os agentes de diversas colorações a fundar, em 1842, o Partido Nacional de Pernambuco – mais conhecido como Partido da Praia ou Praieiro – e pontuar o desdobramento marcado pelo confronto entre forças liberais: os “praieiros”, propondo maior participação dos setores médios da sociedade, preservação dos engenhos banguês, incremento de novas culturas; e forças conservadoras: os “guabirus”, reivindicando apenas melhorias na produção e no fabrico do açúcar. Além de apontar que a derrota dos “praieiros” resultou no longo afastamento dos liberais do centro de poder das decisões políticas imperiais e, consequentemente, na promoção exclusiva das práticas econômicas livre-cambistas pela administração central.
O texto seguinte, “Autobiografia, ´conciliação` e concessões: a companhia do Mucuri e o projeto de colonização de Theophilo Ottoni”, escrito por Maria Cristina Nunes Ferreira Neto, analisa a trajetória do líder da revolução de 1842 em Minas Gerais, confrontando o percurso de vida privada e pública do renomado “político liberal mineiro” com o relato autobiográfico por ele publicado em 1860, a Circular Dedicada aos Srs.
Eleitores de Senadores pela Província de Minas Gerais. A autora questiona as lacunas encontradas na Circular, sobre o empreendimento do Mucuri e a trajetória coerente e linear do ilustre personagem, traçadas por seus biógrafos; registra a sintonia existente entre o caminho seguido desde o início por Ottoni e o projeto de colonização do Mucuri, além de outros empreendimentos, todos dependentes de concessões do Estado e afinados com as propostas do Partido Liberal; apontando que a obtenção de concessões à fundação da Companhia do Mucuri, bem-sucedida até meados de 1858, se deveu à aproximação de Ottoni com os “progressistas”; sendo no contexto correspondente à perda de apoio político e às consequentes dificuldades financeiras, que a Circular fora escrita.
Encerra a coletânea, o texto de Eide Sandra Azevêdo Abreu “Um pensar a vapor”: Tavares Bastos, divergências na Liga Progressista e negócios ianques, que centra o foco de análise nas discussões parlamentares na década de 1860. Investiga o posicionamento do grupo que formou a Liga Progressista – entre “moderados” do partido conservador e do partido liberal –, com a pretensão de fundar um terceiro, o Partido Progressista.
Destaca a atuação dos agentes de maior projeção e a divergência das diretrizes de governo pretendidas: uma favorável ao investimento estrangeiro; outra defendendo proteção à empresa nacional. Tomando como parâmetro, a atuação de Aureliano Cândido Tavares Bastos na Câmara dos Deputados, pertencente à Liga Progressista, e ardoroso defensor da proposta de subvenção à navegação a vapor entre o Brasil e os Estados Unidos, projeto que encontrou forte resistência tanto de “moderados” conservadores, quanto de liberais “históricos” e, em cujo debate, “sobressai a imbricação da política imperial com o vasto mundo dos negócios”.
Não resta dúvida de que esse é um livro de leitura obrigatória, pela significativa contribuição à histografia brasileira, sobretudo pela abrangência da análise sobre cenários variados e circunstâncias diversas que caracterizam o tempo do Brasil imperial e que tem a virtude de instigar o leitor interessado em explorar aspectos e situações ainda pouco exploradas do nosso passado histórico.
Maria de Lourdes Viana Lyra – Doutora em História pela Universidade de Paris X-Nanterre. Sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Coordenadas | UNRC | 2014
Coordenadas – Revista de Historia Local y Regional (Rio Cuarto, 2014-). Este es un espacio editorial autogestionado por los miembros del GIEHR que intenta erigirse como un ámbito de socialización de resultados inéditos de investigación histórica con énfasis en perspectivas locales y regionales.
Su objetivo general es promover el intercambio conceptual, historiográfico y metodológico específicos de la disciplina Histórica y, en particular, del campo de la Historia regional.
La revista se encuentra dirigida a investigadores, docentes y estudiantes en Historia y a aquellos de disciplinas afines que tengan como preocupaciones centrales de sus trabajos la reducción de escala de análisis, contemplando de esta forma el diálogo interdisciplinario.
INSS 2362-4752
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Arquivo Público | APCBH | 2014
A Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – REAPCBH (Belo Horizonte, 2014-) é um periódico científico anual que contempla artigos, resenhas, ensaios e propostas pedagógicas de uso de documentos em sala de aula [Ensino de História] para diferentes níveis de ensino.
O objetivo da revista é estimular a pesquisa e a reflexão científica sobre a cidade de Belo Horizonte, bem como sobre o campo de estudos arquivísticos, além de divulgar acervos documentais de diversas instituições.
Os direitos autorais dos trabalhos publicados no periódico continuarão pertencendo aos respectivos autores, mas estes não receberão nenhuma remuneração, pois a REAPCBH não tem fins lucrativos.
Periodicidade anual.
Acesso livre.
ISSN 2357 8513
ISSN 2357 8513
Acessar dossiês [Indisponíveis para dowload]
Acessar resenhas [Indisponíveis para dowload]
Acessar sumários
Acessar arquivos
Outras Fronteiras | UFMT | 2014
A Revista Outras Fronteiras (Cuiabá, 2014-) é um espaço para divulgação de trabalhos científicos, estabelecimento de trocas e debates entre graduandos, mestrandos e doutorandos em História e áreas afins, de periodicidade semestral. Administrada por um conselho editorial formado por pós-graduandos da Universidade Federal de Mato Grosso, surgiu em virtude da grande demanda pela publicação de trabalhos desenvolvidos por discentes formados ou matriculados no PPGHIS/UFMT, além da necessidade de diálogo com a produção científica desenvolvida noutras universidades.
Outras Fronteiras publica artigos, dossiês temáticos, resenhas e a partir de sua 4ª edição iniciou as seguintes seções: entrevistas, transcrições comentadas, resumos de dissertações e teses e trabalhos de Iniciação Científica (PIBIC e VIC) e Docência (PIBID). As temáticas de interesse são atinentes às Ciências Humanas de maneira geral, mas sobretudo àquelas associadas aos territórios e fronteiras na História, em suas diferentes formas, realidades e dimensões.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2318-5503
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
IHGPA | IHGPA | 2013
A Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (Belém, 2014-) é uma publicação on-line de periodicidade semestral do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que tem por objetivo divulgar estudos e pesquisas no campo da Geografia, História e da Antropologia.
Nela são acolhidos textos sob a forma de artigos, notas de pesquisa, ensaios e resenhas, de todos os que se interessam e participam do conhecimento propiciado pela ciência.
Periodicidade semestral.
Acesso livre
ISSN 2359-0831
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Clepsidra | IDES | 2014
Clepsidra – Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria (Buenos Aires, 2014-) Clepsidra procura ser un espacio de reflexión, intercambio y diálogo entre investigadores/as que trabajan sobre las memorias del pasado reciente en Argentina y América Latina.
Es una iniciativa de los/as investigadoras/es que integran el Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y del Centro de Investigaciones Sociales- CONICET (CIS-CONICET). A partir del 2013 han conformado la Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social (RIEMS).
Inscripta en el marco de esta Red, nuestra Revista tiene como objetivo principal contribuir al crecimiento y consolidación del campo de estudios sobre la memoria social, la historia reciente y los derechos humanos en la Argentina y América Latina, con una proyección internacional de sus discusiones y sus producciones académicas. Esta propuesta de carácter interdisciplinario tiene la particularidad de incluir tanto temáticas ya trabajadas, como nuevos tópicos, producto de investigaciones recientes.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2362-2075
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Historiar | UFS | 2014
A revista eletrônica Boletim Historiar (São Cristóvão, 2014-) é um periódico científico de acesso aberto, editado pelo Grupo de Estudos do Tempo Presente (GET/UFS/CNPq), radicado no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
A revista aceita trabalhos de graduandos, pós-graduandos, professores e pesquisadores da área de História.
Informamos a todos os interessados em apresentar artigos e resenhas para publicação que os mesmos são recebidos em fluxo contínuo. Não cobramos nenhuma taxa de processamento de artigos.
Periodicidade trimestral.
Scriptorium | PUC-AR | 2014
Scriptorium (Buenos Aires, 2014-) [es un boletín electrónico editado por la cátedra de Historia Medieval de la Universidad Católica Argentina]. Tiene como objetivo principal ser un espacio de convergencia para todos aquellos interesados en la historia medieval, desde una perspectiva multidisciplinaria, en la que se congreguen las visiones de la literatura, las artes y la música sobre el Viejo Continente. Esta misma amplitud caracteriza la participación de los colaboradores de cada número, ya que el Boletín está abierto a la contribución no sólo de los profesores y alumnos de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sino también al concurso de estudiosos de otras universidades, de institutos de nivel terciario y de asociaciones dedicadas a esta temática.
Deseamos que este espacio aliente a los alumnos a iniciarse en la exploración del ámbito medieval y pretendemos brindarles, a través de él, información útil y recursos disponibles para el desarrollo de sus inquietudes.
Cada número cuenta con artículos y entrevistas a especialistas, reseñas sobre las novedades bibliográficas, una sección sobre artes, información sobre distintos tipos de recursos sobre los variados aspectos de la historia medieval europea (cine, teatro, documentales de televisión, sitios en la web, recomendaciones de ofertas en librerías) y una agenda con las referencias sobre congresos, jornadas, seminarios, conferencias, conciertos y exposiciones de arte que tengan lugar en el período siguiente a la edición del Boletín.
Periodicidade trimestral.
Acesso livre.
ISSN 1853-760X
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Fontes | UNIFESP | 2014
A Revista de Fontes (Guarulhos, 2014-) um periódico revisado por pares que divulga fontes documentais por meio da transcrição de documentos, da tradução de fontes para o português e da publicação de instrumentos de pesquisa, que desse modo ficarão disponíveis para todo o meio acadêmico, num suporte digital.
A Revista de fontes também tem como missão a publicação de textos autorais sobre tipos ou conjuntos documentais, proporcionando assim subsídios metodológicos para a exploração dessas fontes.
A transcrição e/ou tradução de documentação manuscrita ou mesmo impressa, paleográfica ou epigráfica, de todos os períodos históricos, ganha nessa troca de suporte um público amplo que poderá não só consultar esses textos, mas também fazer buscas por palavras ou expressões a partir das versões disponibilizadas on-line.
A transcrição, assim como a imagem numerizada, ou ainda a tradução nunca substituem completamente o material original. Mas o uso de normas estritas de transcrição permite que os documentos publicados na Revista de fontes realmente sirvam como instrumento de trabalho para historiadores e outros especialistas das ciências humanas e sociais.
A publicação de instrumentos de pesquisa inéditos visa divulgar, através de descrição sumária ou analítica, a composição de acervos, fundos, conjuntos, séries ou coleções documentais.
Esses instrumentos, sejam guias, catálogos, inventários ou índices, publicados na Revista de fontes, permitem que o historiador e o pesquisador de outras áreas das ciências humanas e sociais identifiquem e localizem os mais diversos tipos de documentos.
A Revista de fontes é uma iniciativa do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-Unifesp).
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2359-2648
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Artificios – Revista Colombiana de Estudiantes de Historia | ICANH | 2014
El proyecto Artificios – Revista Colombiana de Estudiantes de Historia (Bogotá, 2014-) surgió en el seno del semillero de historia colonial de la Universidad Nacional, dirigido por el profesor Jorge Gamboa. Margarita Martínez Osorio (Universidad del Rosario) y Juan Sebastián Ariza (Universidad Nacional), con el apoyo de Jesús Córdoba, conformaron el primer equipo editorial de la revista, en el cual también participaron investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH. En sus inicios, la revista se pensó como una publicación estudiantil de historia colonial, de lo cual da cuenta su primer volumen. Sin embargo, a partir del segundo volumen, lanzado en el año 2015, se empezaron a editar trabajos sin restricciones de marcos temporales y así se ha mantenido hasta hoy.
La revista en sus primeros números funcionó como un laboratorio en el que estudiantes de pregrado tuvieron la oportunidad de experimentar y participar en la edición y publicación de trabajos académicos. Hoy, Artificios está pensado como un semillero con dos objetivos principales: i) brindar a estudiantes interesados en procesos editoriales un primer contacto con la edición científica; y ii) servir como plataforma de difusión de investigaciones académicas desarrolladas por estudiantes de humanidades, principalmente en el pregrado.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH ha brindado un apoyo fundamental para la consolidación de la revista como una publicación académica seria y reconocida. Hoy Artificios cuenta con acceso y soporte técnico en la plataforma Open Journal System (OJS), un sitio web en la página principal del ICANH, la asignación de códigos DOI (Digital Object Identifier) para 17 de sus 20 números, entre otros. En general, la revista actualmente cuenta con todo el respaldo institucional, gracias a la labor desempeñada por todos los equipos editoriales.
En el año 2019, la revista se estructuró en cuatro comités: el editorial, el de redacción, el gráfico y el de publicación. Así mismo, logró una acogida nacional e internacional y por el número de artículos allegados se propuso la publicación de tres volúmenes anuales. En este punto cabe destacar que la Revista Artificios ha sido una de las publicaciones estudiantiles que ha logrado reunir a miembros de diferentes universidades del país. Ejemplo de ello es el cambio generacional ocurrido en marzo de 2022, en el que se vincularon estudiantes de centros educativos ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar, sumados los ya existentes de universidades de Bogotá y, por primera vez, uno de los comités cuenta con un ciudadano extranjero (México).
Así, en los últimos dos años, la revista ha recibido el apoyo de reconocidos investigadores, quienes han realizado aportes inéditos a la historiografía colombiana, como sucedió con el dossier sobre Germán Colmenares en enero de 2021. Artificios es la expresión del continuo y renovado esfuerzo del oficio del historiador, centrada en la difusión de distintos problemas históricos a través de las perspectivas estudiantiles, que recibe aportes provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales, así como de un amplio número de países.
Nuestro principal interés es dar a conocer, en el medio digital de acceso abierto, trabajos estudiantiles – con énfasis en Colombia, Iberoamérica y el Caribe, sin marcos temporales que la limiten – que permitan a la comunidad académica comprender las problemáticas y posturas planteadas por la futura generación de científicos sociales, así como servir de plataforma para primeras experiencias en los ámbitos investigativo y editorial.
Periodicidade quadrimestral.
Acesso livre.
ISSN 2422 118c
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
História das mulheres: Poder e cultura política / Canoa do Tempo / 2013-2014
História das mulheres: Poder e cultura política / Canoa do Tempo / 2013-2014
PolHis | PIHP | 2014
PolHis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (Buenos Aires, 2014-) es una publicación de frecuencia semestral que tiene como objetivo ser un espacio para el conocimiento de nuevas perspectivas de análisis y para el debate de la historia política entre comienzos del siglo XIX y la actualidad. Debido a ello, espera y alienta la participación de investigadores en distintas instancias de formación que deseen nutrir sus secciones con contribuciones de diferente tipo.
Publica artículos originales que pueden ser ya el resultado de investigaciones empíricas de la historia política de los dos últimos siglos, de reflexiones teóricas o metodológicas como así también debates historiográficos y estados de la cuestión. Dichos artículos serán publicados en forma individual o bien formando parte de un dossier.
Incluye además reseñas breves, comentarios críticos de libros editados en los últimos dos años, presentaciones de libros, entrevistas a historiadores o cientistas sociales y resúmenes de tesis de posgrado recientemente defendidas.
El arbitraje y la publicación son gratuitos.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 1853-7723
Acessar resenhas
Acessar dossies
Acessar sumários
Acessar arquivos
Tempo Presente e Ensino de História / Boletim do Tempo Presente / 2014
É com grande contentamento que apresentamos um dossiê sobre a relação ensino de história e tempo presente. Não porque seja o primeiro no Brasil e, realmente não é. Nossa co-irmã, a Revista Tempo e Argumento (v. 5, n. 9, 2013), inaugurou a empreitada recentemente, e a História Hoje tem conjunto de artigos aguardando publicação, desde o ano passado. O dossiê também não introduz o tema neste periódico, pois a Revista Eletrônica Tempo Presente já divulgou trabalhos sobre currículos da educação básica no Brasil e nos Estados Unidos, entre outros textos. Nos Cadernos do Tempo Presente, da mesma forma, foram abertos espaços para a análise de conteúdo nos livros didáticos de história, usos da internet na aprendizagem de história medieval. A mesma atitude tomou a História Agora ao publicar, por exemplo, resultados de investigação sobre os usos da vivência indígena e da Rebelião dos Malês em sala de aula. Isso tudo sem falar nas revistas não especializadas que veiculam textos sobre história do tempo presente, hoje pioneiros, desde meados da década passada.
Mesmo assim, entre os mais de 600 artigos publicados nos periódicos que têm como escopo o “tempo presente”, desde 2007, o ensino de história ocupa modestos 3%. Qual então o motivo de tanto regozijo? Ora, o que nos dá maior prazer no anúncio do conjunto de artigos deste volume é a concretização de um projeto incomum: reunir autores que se debruçaram sobre o mesmo conjunto de questões-chave, abordando os usos do presente no ensino de história e não apenas sobre o ensino de história no presente: como se ensina a experiência recente? Quais mecanismos a interditam? Quais as disputas que se apresentam? Que atores a produzem? Como os alunos a percebem? Como essa experiência é organizada de modo a fazer sentido para os não historiadores? Enfim, que presentes são dados a ler nos programas e livros didáticos de história de países de culturas tão diferentes situadas na América do Sul, Europa, Ásia e Oceania?
Os artigos aqui reunidos, portanto, colocam-nos em sintonia com as disputas políticas e de memória sobre o que ensinar às crianças e adolescentes na Argentina, Brasil, França, Austrália e Japão. Paralelamente, provocam reflexões sobre a incorporação e funções de temáticas do presente no ensino e aprendizagem escolar em nossa contemporaneidade, bem como de suas relações com a historiografia acadêmica.
Os textos de Gonzalo de Amézola, de Marina Silva, Luis Cerri e Felipe Soares evidenciam a complexidade do tratamento de acontecimentos traumáticos na produção de prescrições didáticas nas quais se superpõem questões referentes à memória, usos do passado e soberania nacional.
No primeiro caso, o acontecimento destacado é a Guerra das Malvinas, ocorrida em 1982, entre Argentina e Inglaterra. Ao colocar em relação a produção historiográfica das três últimas décadas do século XX e princípio do XXI sobre esse acontecimento, as reformas curriculares e os manuais escolares, Amézola destaca as “dificuldades e contradições” que envolvem o ensino dessa guerra na educação “Polimodal” e “Secundária Superior”. Ele afirma que, apesar dos avanços vivenciados pela historiografia argentina, sobrevive uma abordagem marcadamente patriótica do conflito em que se entrelaçam memória coletiva (gestada, em grande medida, na escola) e interesses governamentais, atravancando a sua ressignificação histórica no âmbito escolar. A partir da experiência argentina, o autor polemiza a relação entre ciência, história e a abordagem do passado recente no ensino histórico e levanta a hipótese de que a função social do ensino de história está, secularmente, conectada à necessidade de “perpetuação do grupo”, resultando em dificuldades para a incorporação de inovações acadêmicas no que se refere a passados traumáticos.
O artigo de Marina Silva, por sua vez, analisa as representações de memórias sobre a Segunda Guerra Mundial, presentes em livros didáticos japoneses, produzidos entre 1993 e 2002. Motivada pelas críticas lançadas ao Japão em 2001 por países como China e Coréia do Sul (sobre a abordagem dos avanços militares a seus territórios), e a partir de alguns acontecimentos-chave dessa polêmica (a tomada da cidade de Nanquim, o ataque a Pearl Harbor, o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki e a rendição japonesa), a autora evidencia a estreita relação entre experiências traumáticas e a produção de uma memória coletiva promovida e sustentada pelo governo. Os livros didáticos de história no Japão, incluindo os mais recentes, não apenas reproduzem uma narrativa cristalizada sobre a guerra como omitem informações, controlando a transmissão de memórias que se expressam pelas ideias de pacifismo e nacionalismo. Como no caso argentino, fica demonstrada a complexidade das relações entre história recente e ensino de história no que se refere a conflitos não apaziguados.
Os autores Luis Cerri e Felipe Soares, por seu turno, colocam em discussão a abordagem da ditadura militar presente no livro didático História do Brasil: Império e República (2006), editado pela Biblioteca do Exército e utilizado nos colégios militares do Brasil. O artigo ressalta e denuncia a contrariedade entre a preocupação governamental em garantir um ensino de qualidade (a partir da elaboração de políticas públicas, como o PNLD) e o consentimento, por parte desse mesmo governo, no uso de um material que se distancia do estado atual da epistemologia da história, das produções acadêmicas sobre o golpe. Essa omissão de informações, temporariamente consensuais, convida-nos também a refletir sobre as disputas memoriais em torno dos acontecimentos recentes e seu ensino escolar. Do mesmo modo, conduz-nos a pensar sobre a importância do engajamento dos historiadores nas discussões que se referem ao ensino da história do tempo presente na educação básica.
Partindo para o contexto europeu, Itamar Freitas aborda a incorporação da história do tempo presente nos programas de história para os colégios franceses, entre os anos 1998 e 2008. Esse trabalho, fruto das primeiras pesquisas que o historiador vem realizando sobre o ensino da história do tempo presente no Brasil, Estados Unidos e França, põe em relevo suas finalidades, a natureza dos conteúdos históricos e sua distribuição/progressão ao longo dos anos escolares daquele país. Dessa maneira, e somando-se aos outros artigos desse dossiê, contribui para a ampliação de questionamentos no que diz respeito às relações entre ensino, ciência história, tempo presente e formação cidadã na educação histórica escolar. Também oferece elementos para pensarmos as demandas sociais e relações de poder na contemporaneidade que perpassam a elaboração de propostas curriculares com esse teor.
Por fim, examinando o currículo nacional de história para a escolarização básica da Austrália, Jane Semeão identifica os diferentes presentes prescritos em um currículo recentemente citado como modelo para o Brasil e, na própria Austrália, acusado de alinhar-se, ao mesmo tempo, às demandas ideológicas de esquerda e de direita. Além disso, descreve as indicações de conteúdos substantivos e as sugestões de finalidades para o ensino da experiência australiana recente. Neste ponto, principalmente, seu artigo estimula-nos a pensar na arbitrariedade dos usos de termos, como “antigo”, “moderno” e “contemporâneo”, bem como das justificativas para a adoção de eventos clássicos como a Segunda Guerra Mundial para como abertura e/ou fechamento de determinados períodos. Ainda, sob a responsabilidade de Jane Semeão, está a resenha da obra Tempo presente e usos do passado (FGV, 2012), organizado por Flávia Varella, Helena Miranda Mollo, Matheus Henrique de Faria Pereira e Sérgio Da Mata.
Convidamos também o leitor a consultar o perfil de um autor que vêm provocando incômodo, por um lado, e euforia, por outro, dado que a sua teoria da história incorpora, inclusive, os usos escolares da história como um dos argumentos para a racionalidade e, por que não dizer, cientificidade da história acadêmica. Jörn Rüsen, o personagem deste número, é apresentado pelo jovem Rodrigo Yuri Gomes Teixeira.
Por fim, sob a responsabilidade de Andreza Maynard, apresentamos a resenha de um velho e conhecido filme – A Onda – comentada sob um novo regime de historicidade, haja vista que a película foi lançada no distante 1981. Que novos elementos essa representação sobre o ensino do autoritarismo no chão da escola pode nos trazer?
Esperamos, então, que a publicação desse número possa contribuir para a discussão, ainda tímida (entre os historiadores), sobre a dimensão escolar da história do tempo presente e, ainda, que estimule os pesquisadores brasileiros a empreenderem estudos em escala transnacional. Velha lição dos bancos da graduação, não é irrelevante repetir, temos muito a aprender sobre “nós”, observando os “outros” aparentemente distantes.
Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Dilton Cândido S. Maynard – Universidade Federal de Sergipe.
1964: documentos para uma história / Boletim do Tempo Presente / 2014
O Golpe de 1964, sua natureza e suas características básicas, começa somente agora, cinquenta anos depois do ocorrido, a ter sua história reconstruída de forma rigorosa e diversificada. Logo após o fim do Regime, entre 1984 e 1985, proclamada a “Nova República” por Tancredo Neves (em 1984), “vencidos” e “vencedores” concordavam em um ponto: “virar a página da História”. Tratava-se, ou ocultava-se, sob tal fórmula, de uma permissão e um desejo de “esquecer” os vinte anos de arbítrio, de autoritarismo e censura, pontuados por torturas, mortes e desaparecimentos. Para os “vencidos” estes vinte anos teriam sido necessários, e um dever patriótico, para o reordenamento do país em face da corrupção, inépcia administrativa e de “comunização” das instituições nacionais. Ao longo do tempo, a ordem destas premissas da “Revolução de 1964”, serão reequilibradas, ora com ênfase na “inépcia” (em especial João Goulart, o presidente deposto em 1964), ora com maior acento na “comunização” do país. Ante a dificuldade de focar com objetividade cada um destes “princípios fundadores” do Regem-me de 1964, muitos dos seus atores buscaram no chamado “clima da Guerra Fria” (como em “O Globo”, em 31 de março de 2014), a explicação plausível para a interrupção de um governo constitucional e eleito democraticamente. Esmiuçar, documentar, testar, criticar tais “hipóteses” seria voltar a 1964, tratar-se-ia de “revanchismo” ou “reescrever” a História, afirmariam seus defensores. Aqui, esqueciam-se exatamente a natureza do procedimento básico do historiador: voltar ao passado, reexaminar os fatos, questionar as razões estabelecidas e criticaras fontes.
Para os “vencedores”, por sua vez, em sua ampla maioria em 1984, “esquecer” o passado recente era um artificio fundamental para garantir a própria continuidade do processo democrático, evitando o risco de ruptura presente na possibilidade de levantar as responsabilidades pela ruptura democrática de 1964, pelas torturas e desaparecimentos e pela inépcia administrativa e corrupção, em especial nos últimos anos do regime (dívida externa, obras superfaturadas, conflitos de interesses, etc.).
Assim, para “vencidos” e “vencedores”, em 1985, o “esquecimento”, expresso de forma lapidar na Lei da Anistia de 1979 e sua reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, construía-se no próprio fundamento da nova democracia. Importava, desta forma, em deixar para trás os fatos característicos e a própria natureza da ditadura, evitando que os bolsões “sinceros, mas radicais” do regime, colocassem em risco a nova e frágil democracia.
Da mesma forma, a composição das elites dirigentes da “Nova República”, em especial a chamada “Aliança Democrática” – formação dos partidos com Frente Liberal, ex-ARENA e ex-PSD, partido, até então, de apoio à Ditadura; PMDB, a liderança de oposição ao Regime de 1964 e sua dissidência, o PSDB, entre outros – impunha necessariamente um limite ao processo de revisão da História e de estabelecimento de responsabilidades. Assim, nomes fundamentais da Ditadura, começando pelo novo presidente, José Sarney (1930), e os condestáveis da Nova República, como Antonio Carlos Magalhães (1927 – 2007), Marco Maciel (1940), entre outros, tinham sido figuras de proa da Ditadura. Como estabelecer responsabilidades de um regime, quando a própria “Nova República”, era uma herança, e sob certa forma – como no protagonismo de vários atores – uma continuidade do regime decaído?
Desta forma, explicar-se-ia a longa, e sempre incompleta, transição do Brasil para a democracia. Um regime de transição tutelado, onde os próprios militares assumiriam papéis fundamentais na direção, ritmo e extensão da democracia – desde Ernesto Geisel (1907 – 1996) e sua abertura “lenta, gradual e segura” até o papel fundamental do general, e ministro, Leônidas Pires Gonçalves (1921), na presidência José Sarney (1985 – 1990). Por tais razões, a democratização do país e de suas instituições (a alta burocracia do Estado, as polícias, o sistema tributário e judicial, entre outros) foi parcial e a continuidade de práticas do tempo da Ditadura – como a tortura, os sequestros e desaparecimentos, o desprezo pelas necessidades populares – mantiveram-se para além de 1984, exemplificando-se numa linha reta entre os casos de sequestro, tortura e desaparecimento de Stuart Angel e Rubens Paiva até o Caso Amarildo.
Uma consequência lateral, mais absolutamente fundamental, da política de “esquecimento” foi a destruição dos documentos sobre o Regime de 1964. Os arquivos militares, e de órgãos de informação, foram aparentemente, destruídos. Contudo, a implantação da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Nacional “Memórias Reveladas”, bem como a atuação do Arquivo Nacional, no governo Dilma Rousseff, resultou, até o momento, na identificação, levantamento e produção – via depoimentos – de milhares de documentos que revelam, largamente, os traços marcantes da natureza do Regime de 1964.
Na oportunidade dos 50 Anos do Golpe de 1964, a pesquisa universitária pode, em fim, produzir um número significativo de novos trabalhos, inéditos, sobre a Ditadura. Assim, novos livros, trataram das instituições do regime, do apoio civil, do papel da Igreja, da mídia, da imprensa, da universidade, da política externa e da economia, dos partidos e o perfil de vários atores do período. Trabalhos de Daniel Aarão Reis Filho, Jorge Ferreira, Marcos Napolitano, Carlos Fico, Rodrigo Patto Sá, Herbert Klein, Angela Castro Gomes, Lilian Schwartz, Marco Antonio Villa, entre outros e em chaves explicativas bastante diversificadas (além de um extenso esforço de reedições), abriu o caminho para uma releitura de 1964.
A Revista de História do Tempo Presente, visando marcar os 50 Anos do Golpe de 1964, decidiu-se pela publicação de alguns documentos significativos sobre o período, demonstrando a relevância da documentação disponível e ampla possibilidade de revisão do fenômeno histórico da última ditadura brasileira.
Francisco Carlos Teixeira Da Silva – Titular de História Moderna e Contemporânea/UFRJ/UCAM. Membro da Comissão Nacional Memórias Reveladas.
Andamio | UCV | 2014-2016
Andamio – Revista de Didáctica de la Historia (Valparaíso, 2014 – ) tiene por finalidad abrir un espacio para la discusión y la presentación de los avances de las investigaciones sobre el tema de la enseñanza y aprendizaje de la Historia en el mundo escolar.
Andamio, revista de Didáctica de la Historia, tiene por finalidad abrir un espacio para la discusión y la presentación de los avances de las investigaciones sobre el tema de la enseñanza y aprendizaje de la Historia en el mundo escolar desarrollado en nuestro país. Esta instancia nace en virtud de la inexistencia de espacio de reflexión científica que trate sobre estos tópicos y de la necesidad de generar una instancia para la discusión entre estudiantes y profesores recién egresados. Esta revista, además, pretende suplir la necesidad de una plataforma de información y desarrollo de las perspectivas didácticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y sobretodo en este último período en nuestro país.
La Didáctica de la Historia como área de conocimiento y de investigación científica busca estudiar los fenómenos de transferencia entre el saber histórico y el saber pedagógico profesional, considerando para ello diferentes enfoques didácticos que pretenden colaborar con competencias docentes apropiadas para el diseño y en la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en Historia.
Instituto de Historia. Facultad de Filosofía y Educación.Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
[Periodicidade semestral]Acesso livre
ISSN: 0719-4080 (Impresso)
ISSN: 0719-4099 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês [Não publicou dossiês]
Acessar sumários
Acessar arquivos
O universo normativo e relações de poder na Idade Média: doutrinas, regras, leis e resoluções de conflitos entre os séculos V e XV / Anos 90 / 2013
O universo normativo e relações de poder na Idade Média: doutrinas, regras, leis e resoluções de conflitos entre os séculos V e XV. No final do ano de 2001, a revista Anos 90 publicou o número intitulado Estudos sobre Idade Média Peninsular. O trabalho de seleção dos textos ali reunidos foi organizado pelo Professor Dr. José Rivair Macedo. Esse número foi a coroação de uma série de ações realizadas na UFRGS sobre história medieval na década de 1990. Sendo assim, foram publicados textos de professores e, então, alunos de pós-graduação e graduação, além de professores de outras instituições. O tema daquele número também refletia a concentração de estudos, na historiografia brasileira sobre Idade Média, que privilegiavam a Península Ibérica nos séculos finais daquele período.
Doze anos depois, podemos afirmar que o presente dossiê sobre normas e relações de poder entre os séculos V e XV é reflexo de uma série de mudanças: desde as relacionadas à avaliação e classificação das revistas acadêmicas, que estimulam a inserção dos Programas de Pós-Graduação em nível nacional e internacional e evitam também a publicação de textos de autores da casa, às abordagens sobre tempos e espaços diversos. Sendo assim, os autores que publicam no presente dossiê, em geral, tem como característica geral, a presença mais constante e sistemática de períodos e projetos de colaboração internacional de pesquisa. Dessa forma, o presente número oferece ao público uma reunião de textos que tem origem em pesquisas realizadas (concluídas ou em andamento) em nove Universidades diferentes e que tratam de tempos e espaços heterogêneos.
Dividimos o dossiê O universo normativo e relações de poder na Idade Média: doutrinas, regras, leis e resoluções de conflitos entre os séculos V e XV em três blocos, não necessariamente fechados em si. O primeiro inclui textos sobre o período inicial da Idade Média que analisam aspectos das relações de poder na região da atual França; o segundo concentra textos sobre a chamada Idade Média Central, mas também abarca os textos sobre Península Ibérica entre os séculos XI e XV; o terceiro reúne textos sobre a Península Itálica, especificamente entre os séculos XIII e XV. O leitor pode perceber, então, que há uma orientação cronológica (da Alta à Baixa Idade Média) e geográfica (França, Portugal, Espanha e Itália), porém, o que fica evidente no conjunto dos textos é a pluralidade de possibilidades: textos que defendem a atuação de um possível Estado e ideias de governo, textos sobre a constituição de normas específicas, como regras de Ordens Religiosas ou processos jurídicos, textos sobre concílios e moralização clerical, além de textos sobre resolução de conflitos.
O primeiro artigo é de autoria de Rossana Pinheiro, da UNIFESP. A autora aborda algumas características do poder episcopal na Gália do século V, com especial destaque para a não separação entre monges e bispos ou, como defende a autora, para a atuação de “monges-bispos” na expansão do cristianismo naquela região. O texto seguinte, de autoria de Marcelo Cândido da Silva (USP), trata de crises de escassez de alimentos e fome entre os séculos VIII e IX, entre os carolíngios. O autor analisa, além de anais, crônicas e inventários, a atuação de combate à fome adotada por governantes, como: Pepino, o Breve († 768), Carlos Magno (†814), Luís, o Piedoso († 840), Carlos, o Calvo (†877) e Carlomano II (†884). Para Cândido da Silva, os indícios encontrados sobre a fome na documentação analisada não necessariamente permitem associar as crises às dificuldades técnicas. Sendo assim, o autor fornece um olhar mais voltado para a história política do que para a história econômica para discutir o assunto.
O segundo bloco de textos inicia-se com a reflexão proposta por Cláudia Regina Bovo, professora de história medieval na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A autora expõe seu problema de pesquisa no título do artigo: O combate à simonia na correspondência de Pedro Damiano: uma retórica reformadora do século XI?. O objetivo é discutir se se pode afirmar a existência de um “programa reformador” no século XI. Em outras palavras, a autora propõe uma revisão sobre a chamada “reforma gregoriana” a partir de uma análise de caso: a simonia. Ao final do texto, ela conclui que não é possível afirmar a existência de uma noção ampla de “reforma”. O texto de Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva (UFRJ) sobre o concílio de Coyanza (século XI) apresenta as características que fazem dessa reunião uma das mais importantes ocorridas na Península Ibérica durante o medievo e, principalmente, como se deu a construção historiográfica sobre essa importância. De acordo com a autora, as duas redações diferentes das atas daquele concílio revelam os interesses políticos que estavam em cena nas disputas no reino de Castela-Leão. O terceiro texto que compõe esse eixo é de autoria de Maria Filomena Coelho (UNB). A autora analisa, a partir do tema da clausura feminina, o processo de instituição e consolidação do braço feminino da Ordem Cisterciense na Península Ibérica, bem como relaciona esse processo às tensões políticas em Castela-Leão no século XIII. Para Coelho, como a clausura era um elemento básico e importantíssimo para a legitimação da vida monacal das mulheres, o tema deve ser analisado a partir da cultura política, entendida como “valores em que se assentam e pelos quais se justifica o poder de exigir a observância da clausura, bem como o de permitir as exceções”. Sendo assim, ao final do texto, a autora defende a necessidade de entender a clausura feminina como um elemento de legitimação institucional de um modelo, no qual as disputas concernentes a essa questão devem ser entendidas no contexto social e político de cada região. Finalizando o segundo bloco, o texto de Beatris dos Santos Gonçalves (UCAM-RJ) aborda a importância da concessão do perdão régio no processo penal português para a afirmação de um reino centralizado e fortalecido no século XV. A autora privilegia a análise das Ordenações do Reino e conclui que o “acesso à benevolência da remissão régia” funcionou como elemento de propagação do argumento que “só o rei poderia garantir a justiça”.
O presente dossiê é finalizado por uma sequência de três textos que tratam de ideias de governo, normas, regras e conflitos na Península Itálica. André Luís Pereira Miatello (UFMG) aborda os usos e significados das ideias de bem comum e utilidade comum nas cidades comunais italianas, como Florença, Siena, Bolonha e Pádua. O autor analisa dois escritos retóricos de Brunetto Latini (1220- c.1294): Rettorica (ca. 1260), e Li Livres dou Tresor (ca.1260-1267). Miatello conclui que é possível afirmar a existência de uma “esfera pública” construída nas cidades italianas a partir da noção de bem comum. No texto de Carolina Coelho Fortes (UFF), sobre a formação da Ordem dos Irmãos Pregadores (dominicanos) no início do século XIII, o leitor encontra alguns aspectos da tese de doutorado da autora, defendida em 2011. Seu principal interesse está em discutir o papel dos estudos na constituição de uma identidade institucional dos frades pregadores. A autora analisa documentos como o Liber Consuetudinum e as atas dos capítulos gerais realizados pela Ordem entre 1220-1260. Fortes conclui que, ao identificar na documentação constantes referências à regulamentação sobre a saída dos frades para atuar como mestres, inclusive, em casas de outras ordens, é possível afirmar que os dominicanos, no século XIII, podem ser associados a uma societas studii, ou “sociedade de estudos”. O texto que encerra o dossiê é de autoria de Didier Lett (Paris VII). O autor apresenta uma microanálise sobre qual consciência homens e mulheres poderiam ter dos estatutos nas cidades italianas da região das Marcas de Ancona. Para isso, apresenta e analisa um processo movido pelo pai de uma criança, em 1458, após um jogo de batalha de pedras em São Severino. No processo, a acusação é de um tipo de traumatismo craniano provocado por Benincasa di Beneamato Corradi em Andrea di Nicola. O pai de Andrea recorre à justiça e o pai de Benincasa é convocado a defender o filho. O que estava em causa: a inimputabilidade penal de Benincasa. Em outras palavras, a defesa foi estruturada a partir do argumento de que o acusado teria menos de dez anos quando do ocorrido e, por isso, não deveria ser aplicada pena. Na movimentação dos dois pais a partir do acionamento e recurso à justiça para a resolução do conflito, Didier Lett desvenda um universo que compreende desde as práticas cotidianas de divertimento de crianças e jovens de uma determinada região, a consciência que os habitantes poderiam ter das leis (pois o pai da vítima reclamou na justiça o direito de indenização) e, também, a atuação de diferentes autoridades no processo de formação e a relação entre práticas e representações nas comunas italianas no final da Idade Média.
Os nove textos aqui reunidos, dessa forma, oferecem ao leitor um espectro diversificado sobre o universo político e social, em diferentes regiões, entre os séculos V e XV. Além desses artigos, apresentamos também uma resenha, de Néri de Almeida Sousa (UNICAMP), do recente livro Guerra Santa, de Jean Flori, publicado em português em outubro de 2013. Sendo assim, o leitor tem acesso a um bom número de reflexões recentemente concluídas e / ou de pesquisas em andamento que já produziram resultados consistentes. Resta aos organizadores o convite à leitura e o estímulo ao debate. Agradecemos aos colaboradores da Anos 90: a comissão editorial 2010-2012, que aceitou a proposta do dossiê, aos pareceristas que colaboraram com a qualidade dos textos aqui publicados e aos autores que privilegiaram a proposta ao enviar seus textos para avaliação.
Boa leitura!
Igor Salomão Teixeira
Cybele Crossetti de Almeida
(Organizadores)
TEIXEIRA, Igor Salomão; ALMEIDA, Cybele Crossetti de. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? – CANGUILHEM (AN)
CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? Tradução de Fábio Ferreira de Almeida. Goiânia: Edições Ricochete, 2012. (Coleção Inominável). Thiago Fernando Sant’Anna. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 443-448, dez. 2013.
Precisas as palavras de Georges Canguilhem sobre Michel Foucault no texto “Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito?”, publicado no número 242 da Revista Critique, em julho de 1967, as quais argumentaram que “[…] o êxito de Foucault pode ser justamente entendido como recompensa pela lucidez que permitiu a ele enxergar este ponto para o qual, diferentemente dele, outros foram cegos” (CANGUILHEM, 2012, p.9). Canguilhem tece, no texto, com palavras afiadas, uma defesa do pensamento edificado por Foucault em seu projeto arqueológico de explorar a rede epistêmica a partir da qual emergiram “certas formas de organização do discurso” (CANGUILHEM, 2012, p.22-23), subvertendo a devoção ao curso progressista da história e interditando “toda ambição de reconsti tuição do passado ultrapassado” (CANGUILHEM, 2012, p. 15). Irônicas, suas palavras desafiavam aos detratores de Foucault: “Humanistas de todos os partidos, uni-vos” (CANGUILHEM, 2012, p. 09)? Profundas teriam sido as relações entre Canguilhem e Foucault.
Nos anos 1960, Canguilhem, no relatório escrito para a avaliação da tese “Loucura e Insânia”, durante o doutoramento de Foucault, declarou ter sentido “um verdadeiro choque” (ERIBON, 1990, p. 130) diante de suas ideias que se inscreviam, indubitavelmente, no espaço da vanguarda acadêmica. Difícil também seria dimensionar a amplitude da inspiração que foi Canguilhem para Foucault quando nos deparamos com as palavras usadas por Eribon (1990, p. 131) para se referir ao reconhecimento do primeiro pelo segundo em seus trabalhos arqueológicos, como lugar onde estaria “gravada a sua marca”.
Conhecido por não publicar “grandes volumes, mas contribuições delimitadas” (ERIBON, 1990, p. 130), Georges Canguilhem, nascido em 1904, no sudoeste da França, e sucessor de Bachelard, na Sorbonne, em 1955, publicou, em 1967, o que Eribon (1990, p. 131) considerou como um “artigo muito vigoroso e muito notado”: um comentário sobre As palavras e as coisas. Canguilhem estaria “irritado com as críticas dos sartrianos contra Foucault” (ERIBON, 1990, p. 131), já que As palavras e as coisas “[…] foi recebida com hostilidade nos meios de esquerda”, acusada pelos comunistas como “um manifesto reacionário” que negava a história, a historicidade e servia aos “interesses da burguesia” (ERIBON, 1996, p. 101).
Esse referido texto, responsável por “[…] tirar Georges Canguilhem da sua tradicional reserva” (ERIBON, 1996, p. 104), é “[…] quase inteiramente consagrado a rebater as críticas que foram feitas a Foucault a propósito da história”, já que o arqueólogo propõe uma analítica que se diferencia das análises dos historiadores da biologia, principalmente no que diz respeito às “relações de continuidade e descontinuidade entre Buffon, Cuvier e Darwin.” (ERIBON, 1996, p. 105). Ao longo do breve e denso texto, objeto desta resenha, dividido em cinco partes, Canguilhem destacou a importância e o alcance da abordagem de Foucault, ao operar ferramentas, ancoradas numa incontornável experiência histórica, que possibilitaram à sua arqueologia perceber “indícios de uma rede epistêmica”, em resumo, descrever uma “episteme” (CANGUILHEM, 2012, p. 19).
Daí, ser inegável, aqui, reconhecer a importância das refl exões realizadas em As palavras e as coisas, onde Foucault entrecruza filosofia e historicidade. Machado (2005, p. 100) destacou bem as palavras de Canguilhem, para quem esse texto, aqui resenhado, significava a “[…] impugnação do fundamento que certos filósofos creem encontrar na essência ou na existência do homem”. Impugnação essa denunciadora da falência da filosofia moderna em “[…] manter a distinção entre o empírico e o transcendental, ao tomar o homem das ciências empíricas, o homem que nasceu com a vida, o trabalho e a linguagem, como o modo de ser do homem da modernidade” (MACHADO, 2005, p. 100). O próprio Canguilhem já havia reconhecido quando de sua relatoria sobre a tese de Foucault, que este “[…] leu e explorou pela primeira vez uma quantidade considerável de arquivos”; que “[…] um historiador profissional não deixaria de ser simpático ao esforço feito pelo jovem filósofo” ao analisar docu mentos em primeira mão; e que “[…] nenhum filósofo poderá censurar a M. Foucault ter alienado a autonomia do juízo filosófico pela submissão às fontes da informação histórica” (ERIBON, 1990, p. 133). Como poderíamos compreender esse fenômeno – Foucault – à luz de suas críticas às perspectivas tradicionais a partir das quais se escreve história e na direção de sinalizar para inversões outrora tão distantes de serem compreendidas por aqueles que o atacavam? Tais afirmações conduzem-nos a reconhecer que emoldurar em um quadro o contexto dos anos 1960/1970, e ali inscrever o pensamento de Michel Foucault, sinalizar-nos-ia equívocos. Impreciso também seria se, nesse enquadramento, optássemos por anunciar a fixação de alguma teoria foucaultiana à propalada crise dos paradigmas, quando, no plano geral, os modelos explicativos, orientados por conceitos de “ordem”, “evolução”, “linearidade”, “racionalidade”, “progresso” e “verdade inquestionável” não respondiam satisfatoriamente às questões colocadas às Ciências Humanas; a mesma coisa se deu em um plano específico, quando se emergiu uma revisão e desestabilização das certezas no interior da disciplina da História, confrontada com a suspeita quanto ao seu estatuto de inteligibilidade diante da ampliação de seu campo temático, de suas abordagens e de seus objetos, enfim, de ruptura com as metanarrativas.
Não seria menos insuficiente dizer que aqueles anos fundaram o pensamento de Foucault em um contexto de dissolução da sociedade burguesa, de crescente uniformização da cultura de massas e de questionamento da posição de “centro” por parte daqueles movimentos sociais como os movimentos feministas, negro, gay etc.
Inegável, por outro lado, seria reconhecer que a transgressão do paradigma iluminista, moderno, racionalista, cartesiano foi possível com as histórias das pessoas inomináveis de Michel Foucault e a contestação da construção discursiva da História na qual os acontecimentos ganhavam sentidos, desconstruindo a ideia de “verdade” impressa nos documentos. Atualmente, o pensamento de Foucault imprimiu, no campo de estudos da História, uma subversão incontornável, o que tornaria qualquer desprezo a essa incursão uma ingenuidade, na mesma direção que seria percebida se tentássemos rotular suas problematizações em qualquer outro tipo de enquadramento. O pensamento de Michel Foucault, ou melhor, o seu estilo de pensamento não é um bloco monolítico a ser apreendido, domesticado dentro dos limites de uma teoria, ou sequer enquadrado em qualquer contexto social, econômico ou cultural a priori.
A esquiva destes aprisionamentos discursivos que contextualizam e tipologizam masmorras do pensamento pode ser percebida na leitura do texto de Georges Canguilhem sobre o livro As palavras e as coisas.
O que Michel Foucault quis dizer com o conceito de episteme quando o escreveu, ao longo do livro, As palavras e as coisas? Trata- -se de problemática que permeia as refl exões de Georges Canguilhem em “Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito?”, traduzido agora para a língua portuguesa pelas Edições Ricochete, inaugurando a Coleção Inominável, coordenada por Marlon Salomon.
Canguilhem assinalou o texto de Foucault com pistas que fizessem surgir “um ponto” de abertura de uma “avenida” (CANGUILHEM, 2012, p. 09), que indicasse uma analítica sobre a constituição do “homem” como objeto de investigação das ciências humanas, distante de uma história social de uma ciência, e próxima, por outro lado, de uma rede de enunciados. O texto decifra os contornos de uma chave, usada e elaborada simultaneamente pelo filósofo francês para abrir sentidos em textos, diga-se de passagem, originais, empoeirados e desprezados por estudiosos. Chave essa da qual o leitor de Foucault pode lançar mão para encontrar não o seu proprietário ou inventor, não para revelar algo ou fenômeno escondido, à espera da iluminação. Mas uma chave a ser forjada no movimento de seu uso, a ser decriptada na direção de sinalizar para “a sucessão descontínua e autônoma das redes de enunciados fundamentais”, sucessão essa que “[…] interdita toda ambição de reconstituição do passado ultrapassado” (CANGUILHEM, 2012, p. 15).
A essa altura, podemos afirmar, conforme o texto de Canguilhem, que já não é mais possível recusar a incontornável presença da historicidade na constituição da cultura, em recusa a qualquer isolamento de Foucault a um tipo de pensamento que sonhasse naturalizar a cultura ou que aspirasse a superar, progressivamente, uma contradição (CANGUILHEM, 2012, p. 11). A analítica deste arqueólogo exuma descontinuidades radicais – fronteiras entre pensamentos possíveis de serem pensados e pensamentos que não podem mais ser pensados – sem receios em retomar pontos já abordados ou suspender o tráfego por questões não apropriadas naquele momento em que tecia As palavras e as coisas. Como a lâmina de uma katana de samurai, Foucault, que “[…] não tinha medo da morte […]” (VEYNE, 2009, p. 149), exercita a perigosa prática de pensar, “[…] correndo o risco de espantar-se e até de aterrorizar- -se consigo mesmo […]” (CANGUILHEM, 2012, p. 29), corta as palavras, decepa evidências, desentranha “condições práticas de possibilidades” (CANGUILHEM, 2012, p. 30) que constituíram o homem como objeto do saber e denuncia, com isso, o “sono antropológico” daqueles que tomavam o homem como um objeto dado para, daí em diante, fazer progredir, uma ciência.
Canguilhem, por sua vez, afia ainda mais a lâmina de Foucault em sua obra traduzida por Fábio Almeida. José Ternes e Marlon Salomon afinam-se, respectivamente, no prefácio e na gestão da coleção inaugurada pela Edições Ricochete. Os cinco estudiosos aqui citados nos permitem abdicar do recurso do contexto como explicador de um fenômeno. Longe disso, possibilitam uma transgressão do pensamento ao percorrer a rede de enunciados proposta pela episteme de Foucault, de forma a recusar as raízes, a origem ou a iden tidade fixa do objeto. Os referidos estudiosos elucidam a percepção de um “ponto”, um caminho, uma “avenida”, para além das estruturas engessadas, para além dos personalismos, mas na direção das descontinuidades, das rupturas, dos entrecruzamentos nos processos que o constituem. Foucault não se inscreve, portanto, em um quadro, mas o analisa no mesmo movimento em que o constitui, através 447 Thiago Fernando Sant’Anna. da sua “técnica de incursão reversível” (CANGUILHEM, 2012, p.19). Ele não lê um mundo previamente dado como um texto, mas o observa como quem observa o quadro inscrito, simultaneamente, em seu processo de pintar. Canguilhem afia o estilo de pensamento de Foucault, enfatizando, como um argumento em contra-ataque, o “sono antropológico” – termo de Michel Foucault – que definia “[…] a segurança tranqüila com a qual os promotores atuais das ciências humanas tomam como objeto dado aí antecipadamente para seus estudos progressivos o que, de início, era apenas seu projeto de constituição” (CANGUILHEM, 2012, p. 29). Em seu artigo, Canguilhem destaca a importância do conceito de episteme no livro As palavras e as coisas, em que o filósofo analisa, constitui, elabora uma “técnica laboriosa e lenta” (CANGUILHEM, 2012, p. 16), que percorre por Borges, Velásquez, passando por Cervantes, na reconstituição de uma rede de saberes que faz emergir as Ciências Humanas e o homem como sujeito e objeto deste saber, anunciando a morte do homem e o esgotamento do Cogito, em um mesmo ataque.
Referências
CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? Tradução de Fábio Ferreira de Almeida. Goiânia: Edições Ricochete, 2012. (Coleção Inominável)
ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
______. Michel Foucault (1926-1984). Lisboa: Livros do Brasil, 1990. (Coleção Vida e Cultura) MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. 3 ed. Rio de Janerio: Zahar, 2005.
VEYNE, Paul. Foucault. O pensamento, a pessoa. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.
Thiago Fernando Sant’Anna – Doutor em História pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Arte e Cultura Visual, pela Universidade Federal de Goiás. Professor do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiás/ Faculdade de Artes Visuais. Docente do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Goiás/ Campus Cidade de Goiás. E-mail: tfsantanna@yahoo.com.br.
Guerra Santa: Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente – FLORI (AN)
FLORI, Jean. Guerra Santa: Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente. 1ª ed. Tradução de Ivone Benedetti. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. Resenha de: ALMEIDA, Néri de Barros. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 449-453, dez. 2013.
As cruzadas foram um acontecimento em seu próprio tempo. Seus testemunhos contam-se entre os mais vastos e diversificados do período. O interesse que despertaram ainda em plena Idade Média, o envolvimento dos grandes personagens de então entre os quais se contam imperadores, papas e príncipes regionais aliados ao reconhecimento pelos historiadores modernos de sua importância na dinâmica histórica lhe garantiram um lugar de destaque na memória coletiva. A esse conjunto provavelmente deve-se o fato de mais de novecentos anos após seu aparecimento, as cruzadas ainda integrarem dimensões da experiência como representação.
As cruzadas inspiraram as artes plásticas, a música e a literatura e atualmente continuam inspirando o cinema, a teledramaturgia, revistas de vulgarização científica, romances gráficos e formas diversas de entretenimento em que se contam simulações lúdicas e jogos virtuais. Ao lado das heresias e da inquisição, elas também constituem um dos pilares em que se apoia a autocrítica ocidental quando observa seu passado medieval. A palavra cruzada tem um lugar importante em nosso vocabulário ora aplicando-se à violência do fanatismo religioso, ora à firme reunião de forças benéficas em torno de uma causa nobre, geralmente ligada a um ideário de salvação.
Podemos assim falar em cruzada pela infância ou cruzada contra a fome. A ambivalência que a ideia de cruzada ainda comporta em suas evocações cotidianas expressa a própria complexidade do fenômeno. Mesmo os historiadores não se sentem capazes de produzir um juízo único e definitivo a respeito do que foram as cruzadas. Discutem se estas se definem por seu caráter de expedição militar ou de peregrinação, se os benefícios espirituais devem ser tomados entre seus dados fundamentais, se as expectativas escatológicas se contam entre suas motivações decisivas, se o componente popular foi significativo e qual a importância de Jerusalém em sua deflagração.
Não há conceito capaz de se impor isoladamente como verdadeiro. Nem mesmo os movimentos que devem ser identificados pelo termo cruzada são reconhecidos de forma unívoca. Estariam as expedições para o oriente no mesmo plano que as lutas contra os muçulmanos na Espanha durante a Reconquista ou aquelas contra os pagãos da Europa Oriental, os hereges albigenses e os imperadores rebeldes ao papado? Afinal, o que constitui o cerne comum das expedições ocorridas entre fins do século XI e fins do século XIII que a partir de meados do século XII vieram a ser conhecidas como cruzadas? Em Guerra Santa. Formação da ideia de cruzada no Ocidente cristão (Campinas: Editora da Unicamp, 2013), temos a oportunidade de acompanhar o percurso de Jean Flori em defesa de um conceito de cruzada. A pergunta da qual parte seu estudo é: como a comunidade cristã, em sua origem pacifista, desenvolveu um pensamento e uma prática em relação à violência bélica que lhe permitiu aderir de forma justificada e legítima a diversas empresas guerreiras a ponto de a Igreja vir a se tornar a deflagradora direta de um conflito com a extensão e repercussão das cruzadas? O propósito da obra consiste em demonstrar que essa mudança não foi repentina.
A tese que guia a obra é aquela de que a cruzada foi o desdobramento de uma ideia cristã antiga, surgida no longínquo século IV – momento em que são dados os passos decisivos para a institucionalização da Igreja – que advogava que certos conflitos militares deveriam ser entendidos como desejados por Deus e, portanto, realizados em seu nome e com sua aprovação. Tratar-se-ia de guerras que, em função de suas motivações e seus fins específicos, seriam sacralizadas, ou santas. Dessa forma, Flori entende a cruzada como uma modalidade de guerra santa. Aqui, é necessário um esclarecimento, uma vez que o autor não identifica a guerra santa ao jihad, esforçando-se por mostrar, ao tratar das relações complexas entre a cristandade e o islã medievais, as diferenças entre os dois tipos de combates sacralizados.
Parte dos estudos dedicados às cruzadas procuraram compreendê-las a partir da observação do evento já em curso ou de seus resultados. Basta lembrarmos das vertentes que viram nelas a resposta à crise de um feudalismo incapaz de reproduzir-se sem a conquista de novos territórios ou um primeiro movimento da mundialização que mais tarde seria completado pelas Grandes Navegações, responsável pela imposição do sistema de valores cristãos fora das fronteiras tradicionais da cristandade. Nesses dois casos, a compreensão do que foram as cruzadas se desloca e o fenômeno que propriamente constituem permanece incompreendido. Jean Flori procura apresentar cada um dos elementos que, de seu ponto de vista, integram a trama que tornou as cruzadas possíveis. Dessa forma, seu livro se estende do século IV a 1096, quando da pregação de Urbano II, feita durante o concílio de Clermont (1095), surge a primeira cruzada. Flori produz sua reconstituição atento tanto a ideias quanto a processos demorados e eventos pontuais. Da trama rica e densa proposta pelo autor, que envolvem considerações a respeito da evolução das relações entre cristãos e muçulmanos, o aparecimento e a consolidação de um forte movimento penitencial e peregrinatório a partir do século XI e a intensificação de expectativas de ordem escatológica no mesmo período, podemos destacar três questões que nos parecem maiores. Em primeiro lugar, a aproximação entre a Igreja e o Império que ainda na Antiguidade Tardia transformou a autoridade pública secular em protetora militar da comunidade de cristãos seja contra inimigos externos seja contra as próprias dissensões internas que ameaçavam sua ordem hierárquica e a paz social. Em segundo lugar, na Idade Média, o prosseguimento dessa política de busca de apoio nas lideranças laicas em ambientes em que a autoridade real ou imperial não se faziam presentes ou não se mostravam particularmente sensíveis a essa ordem de problema, momento em que podemos destacar a situação vulnerável da Sé romana e suas ações para atrair apoio que lhe garantisse proteção armada tanto contra potentados locais quanto contra invasores. Em terceiro lugar, a reforma da Igreja que, entre os séculos XI e XII, alterou de forma significativa o sistema de autoridade eclesiástico perpetrando uma separação mais nítida, inclusive no domínio material, entre o que era ou não consagrado, entre o que estava sob a autoridade eclesiástica e o que estava submetido ao arbítrio laico. Um dos resultados dessa reforma foi a reivindicação papal da liderança direta de Cristo sobre os conflitos de ordem militar de seu interesse. Como lembra o autor, com as cruzadas, o papa, investido da proteção já não apenas do patrimônio de São Pedro mas da própria herança de Cristo “[…] falava como comandante de todos os cristãos, em nome de Cristo”.
Os dez capítulos que constituem a obra conduzem o leitor pelo processo em que se integram ao longo dos séculos medievais até o ano de 1096 os diversos elementos que compõem a cruzada.
Assim, depois de um estudo introdutório a respeito da forma como o tema foi problematizado pela historiografia (Capítulo 1) o autor discute a herança que a tradição imperial de Constantino a Carlos Magno legou das relações entre violência guerreira e sagrado (Capítulo 2). Em seguida, um bloco importante de textos ocupa-se do período capital transcorrido entre os séculos X e XI. O autor trata aí de um problema importante: a Paz de Deus conduziu à cruzada como defendeu a tese lançada por Georges Duby? A resposta negativa dá ensejo a um interessante panorama do que foi a Paz de Deus e da tradição em evidência em sua discussão mobilizada em favor da construção da especificidade da cruzada. Isso se dá sem que seja negado um papel à Paz de Deus, sobretudo por meio da concessão de benefícios espirituais aos defensores de igrejas nela envolvidos (Capítulo 3). Em seguida é analisada a relação entre santidade e violência (Capítulo 4), sobretudo por meio dos santos guerreiros e a sua contribuição no processo de sacralização da violência (Capítulo 5).
Deslocando de forma mais incisiva seu olhar em direção à Santa Sé, Flori mostra a associação de signos militares à autoridade de São Pedro (Capítulo 6) e a forma como a violência militar integrava a ideia que Gregório IX fazia da defesa da liberdade da Igreja (Capítulo 7). O bloco seguinte trata da relação com o “outro”, o elemento externo à cristandade que, embora sempre presente no pensamento bélico cristão, se reveste de profunda materialidade com os destinos orientais (Capítulo 8) e ocidentais (Capítulo 9) da expansão muçulmana. Para encerrar, o autor reafirma seu pressuposto de que as cruzadas têm fundamentos de diferentes ordens (espirituais, teológicos, bélicos, políticos) e temporalidades (do século IV a 1096), mas que o campo fundamental em que a vemos se conformar é aquele do enriquecimento da ideia de guerra santa. É em relação a este conceito diante de suas alterações em 1095 que o autor tece sua definição de cruzada (Capítulo 10).
As opções do autor e seu resultado no campo conceitual, como é de se esperar de todo grande trabalho, certamente resultarão em perplexidade de alguns e em discordância frontal de outros. No entanto, a riqueza de seu percurso, sua coragem num campo antigo e proeminente em que ainda não se atingiu nenhuma unanimidade e, em particular, o fato de chamar nossa atenção para a importância da ideia de guerra santa na tradição política e teológica cristã, resultam em uma aventura pela erudição e pelo pensamento de grande valor para o estudioso de qualquer dos temas e sub temas abordados.
* Este texto faz parte, em sua quase integralidade, da “Apresentação” feita à resenhada.
Néri de Barros Almeida – Livre-docente. Professora junto ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/ UNICAMP). É coordenadora do núcleo UNICAMP do Laboratório de Estudos Medievais (LEME). E-mail:neridebarros@gmail.com.
François Duprat, l’homme qui inventa le Front National | Nicolas Lebourg e Joseph Beauregard
O livro François Duprat, L’homme qui inventa le Front National [2] é parte de um ambicioso projeto desenvolvido por dois autores franceses, o historiador Nicolas Lebourg e o cinegrafista e documentarista Joseph Beauregard. Essa parceria teve como objetivo reconstruir os passos e a história do político francês François Duprat. Em abril de 2011, os autores realizaram, em parceria com o jornal Le Monde, o Institut National de l’audiovisuel (INA) e a 1+1 Production, a produção de um documentário que tentou explicar a trajetória política de Duprat e o papel essencial que ele desempenhou nos grupos de extrema direita. Após a realização do documentário, foi concretizada a elaboração deste livro, escrito apenas por Nicolas Lebourg, que, porém, deu créditos a Beauregard também. A obra foi lançada pela editora francesa Denoel em 2012.
Nicolas Lebourg é um historiador da Universidade de Perpignan, na França. Um dos seus principais campos de pesquisa é sobre a extrema direita europeia, principalmente o partido francês Frente Nacional. Conhecido e estimado pela qualidade do seu trabalho e por outros pesquisadores na História de facções políticas. Lebourg também é conhecido por seu blog Fragments sur les Temps Présents [3] (Fragmentos do Tempo Presente) e por seus artigos em revistas e periódicos especializados. Ele também é autor do livro Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire [4] (O mundo visto da mais extrema direita: Do fascismo ao nacionalismo revolucionário).
No início do livro, a fim de legitimar a importância da pesquisa, os autores fazem uma ressalva demonstrando o porquê de se estudar à “Nova Direita’ e a influência e o papel primordial de Duprat nos movimentos, ressaltando a importância da obra. Personagem misterioso e fundamental da extrema direita francesa, ele atravessou um quarto de século da política francesa e internacional. Sua morte misteriosa antes do primeiro turno das eleições legislativas em 1978, deixou uma imagem de mártir da “causa nacional” nos grupos de extrema direita. Ele foi assassinado aos trinta e oito anos de idade, em um atentado a bomba, que explodiu seu carro em uma pequena estrada na Normandia em março de 1978. Este obscuro militante da extrema direita francesa, segundo os autores, aparece hoje esquecido pela Frente Nacional e por outros grupos radicais que ele ajudou a fundar.
A obra é importante nesse aspecto: Lebourg e Beauregard o tiram do esquecimento e do ostracismo, pois estudar o Nacionalismo Revolucionário desenvolvido por Duprat, pode nos auxiliar a compreender a formação ideológica dos partidos de extrema direita em ascensão hoje na Europa, pois além dele ter sido fundamental no desenvolvimento dessas organizações, os grupos utilizam conceitos desenvolvidos por ele. O livro, que à primeira vista parece, em seu formato, uma biografia do político, elimina essa dúvida em suas primeiras páginas, pois ultrapassa esse conceito, fazendo um importante balanço historiográfico da extrema direita na França, durante a V República (1955 – ).
François Duprat provinha de uma família de classe média do interior. Sua família tradicionalmente possuía vínculo com partidos de esquerda. Em sua adolescência ele se considerava trotskista, porém logo romperia com a esquerda e passaria a militar nos grupos conservadores. Em 1958 Duprat se filiou a um grupo nacionalista, a Jeune Nation (Jovem Nação), e posteriormente sua participação seria crucial na fundação do partido Frente Nacional. Os autores apresentam, como tese central do livro, a ideia de que François Duprat correspondeu ao principal ideólogo da FN, a partir de uma rigorosa pesquisa, baseada em centenas de entrevistas e também de numerosos cruzamentos de fontes e documentos de arquivos públicos e privados. Os autores tiveram uma árdua tarefa de reconstruir o itinerário político e pessoal de Duprat, que contém muitos detalhes e análises políticas. Encontraram todas as testemunhas chaves, como a família de Duprat, seus companheiros, seus adversários, seus inimigos. Toda a informação é verificada, cruzada. Uma obra de investigação que credita o importante papel de François Duprat. Mesmo esquecido pelos companheiros de partido, o livro demonstra como ele teve um papel fundamental no nascimento e na ascensão da Frente Nacional. A obra apresenta detalhadamente todo o contexto do surgimento da FN, a maioria dos fatos são investigados.
Entre os anos de 1958 e1978, Duprat aderiu e militou ativamente em todos os movimentos de extrema direita que se formaram durante a V República, inclusive os de ideologias neonazistas. O primeiro em que ele se alistou foi o já mencionado Jeune Nation, um grupo de extrema direita, conhecido por sua violência, fundado por Pierre Sidos, durante a guerra da Argélia. Por causa do seu enorme interesse e militância, Duprat se envolveu em diversas organizações; Europa Jovem (Jeune Europe), A Organização Luta do Povo (L’Organisation lutte du peuple), Os Grupos Nacionalistas Revolucionários de Base (Les Groupes nationalistes-révolutionnaires de base), o Movimento Nacionalista Revolucionário (Le Mouvement Nationaliste Révolutionnaire), Terceira Via (Troisième Voie), Nova Resistência e Unidade Radical (Nouvelle Résistance et Unité Radicale) e o grupo de ação politica internacional denominado de A Frente Europeia de Libertação (Le Front Européen de Libération).Em cada organização ele procurou imprimir a sua influência teórica, para se tornar o principal intelectual da extrema direita.
Além do extenso conhecimento acerca dos movimentos de extrema direita das décadas de 60 e 70, a obra não se limita a apenas esclarecer a participação de Duprat nesses movimentos. Os autores investigam detalhes sobre a vida privada do personagem, sua dedicação com a militância política, suas relações familiares e as suas amizades com políticos de outros partidos, ainda que tais pontos não constituam o enfoque principal do livro.
François Duprat foi professor de História no Ensino Médio e também aparecia como um intelectual da extrema direita, colaborando com várias revistas e cadernos políticos. Ele foi o primeiro a publicar livros negacionistas na França e a revitalizar o antissemitismo e a negação do Holocausto, combinando negacionismo e antissionismo. Entre suas obras podemos citar: “A História da SS na França”, “História dos fascismos”, “Os fascismos do mundo”, “Manifesto nacionalista revolucionário”, “A Ascensão do MSI (Movimento Socialista italiano)”, “A cruzada Antibolchevique: A Defesa do Ocidente” e entre outros. Foi ele quem conceituou a noção de “nacionalismo revolucionário”, como uma atualização do “movimento fascista”.
Intelectual e militante, Duprat era conhecido por gostar de participar de manifestações violentas; mesmo sua deficiência visual, pois possuía uma forte miopia, não o desencorajavam a fugir de conflitos com a polícia ou partidos de esquerda. Como pesquisador do nacionalismo europeu, ele viajou pelo continente para conhecer outros organismos de extrema direita e criar alianças, devido a esse interesse por grupos nacionalistas. Fascinado pelos serviços de inteligência, foi pessoalmente encarregado pela Central de Inteligência da França, onde informou seu agente sobre as vicissitudes da extrema direita. Foi também para a Nigéria e Congo, em plena descolonização, para ajudar o campo anticomunista.
No decorrer das páginas, se descobre um ecletismo ideológico da extrema direita francesa. Ambos os autores deixam nas entrelinhas a perspectiva de que Duprat evoca um personagem que fascina as pessoas, em um meio político pouco intelectualizado e organizado. Além de detalhar a mentalidade singular do personagem, os autores procuram descrever e desmistificar rumores que rondam sua história de vida, tais como as possíveis relações de Duprat com a espionagem e serviços secretos, com a imprensa, com órgãos do Estado e as fontes de financiamento das suas unidades radicais. Existiam mitos de ele ser policial infiltrado dentro dos grupos da extrema direita. De participar das agências de inteligência da KGB, da CIA e da Mossad.
No início da FN, os grupos de Duprat representavam a ala mais radical do partido. Suas células nacionalistas revolucionários influenciaram fortemente a linha de discurso do partido. O legado de Duprat para a FN compreenderia o antiamericanismo, o antissemitismo, o anticomunismo, o combate à imigração, o discurso contra o multiculturalismo e a globalização. Podemos perceber grande influência da ideologia nacionalista revolucionária no novo discurso da Frente Nacional, hoje presidida por Marine Le Pen. Podemos dizer que o bordão criado por Duprat na década de 70 caberia perfeitamente nos discursos da extrema direita hoje: “um milhão de desempregados, é um milhão de imigrantes também”.
No fim do livro, o assassinato de Duprat é metodicamente estudado, como poderíamos esperar. Um pouco como uma investigação policial, os autores descrevem com força de detalhes as circunstâncias da morte de Duprat. Eles analisam todas as hipóteses sobre seu assassinato, dando a entender, que ela pode estar relacionada a uma disputa interna da extrema direita francesa. Como até hoje não foram encontrados os responsáveis pela sua morte, o livro deixa em aberto a possibilidade de uma nova investigação, de um futuro livro. Considerado como uma personalidade explosiva, os autores fecham o livro dizendo que sua morte reflete sua vida.
Notas
2. “François Duprat o Homem que inventa a Frente Nacional”.
3. http://tempspresents.wordpress.com
Referências
LEBOURG, N. Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. PU PERPIGNAN edition, France, 2010. Resenha de: FRANCO DE ANDRADE, G. O Mundo visto da mais extrema-direita, do fascismo ao nacionalismo revolucionário. Cadernos do Tempo Presente, v.12, n.1, p.1-3, 2013.
LEBOURG, N. Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. PU PERPIGNAN edition, France, 2010.
LEBOURG, N; BEAUREGARD, J. François Duprat, l’homme qui inventa le Front National. DENOEL edition, France. 2012.
Guilherme Ignácio Franco de Andrade1 – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História, Poder e Práticas Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste. Sob orientação do Prof. Dr. Gilberto Grassi Calil.
LEBOURG, N; BEAUREGARD, J. François Duprat, l’homme qui inventa le Front National. France: Denoel edition, 2012. ANDRADE, Guilherme Ignácio Franco de. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.13, p.290-293, ago./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
História e Psicanálise: entre ciência e ficção | Michel de Certeau
“O que fabrica o historiador quando “faz história”? Para quem trabalha? Que produz?”2. Essas são as questões que norteiam a célebre obra de Michel de Certeau A Escrita da História onde aponta as principais características da “operação historiográfica” e os caminhos traçados pela historiografia no século XX. O autor, porém, não se limitou a esse trabalho, produziu uma vasta bibliografia resultante de sua reflexão sobre a elaboração do conhecimento histórico. Por volta de 1982 buscou dar continuidade a esse livro, através de uma coletânea que comporia um segundo tomo que nunca chegou a ser publicado pelo próprio autor3. Nesse volume reuniria vários artigos que tratariam da relação entre a história e a psicanálise. Após sua morte, em 1986, esse projeto foi retomado numa obra póstuma juntamente com outros artigos de sua autoria, todos já publicados, e que tratavam da mesma temática. Assim, em 1987 foi publicado em francês, pela editora Gallimard, a primeira edição de Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Em 2002 foi lançada na França uma nova edição, revista e aumentada, com a introdução de Luce Giard. Essa edição foi traduzida para o português por Guilherme João de Freitas Teixeira sob o título História e Psicanálise: entre ciência e ficção, publicada em 2011 pela Autêntica Editora.
Nessa obra Certeau utiliza-se da literatura, da literatura psicanalítica, da historiografia e de vários estudiosos das mais variadas formações para estruturar seu pensamento. Encontramos nos seus textos estudos das obras de Freud como A ciência dos sonhos (1900), Totem e tabu (1912-1913), Mal-estar na civilização (1930) e Moisés e o monoteísmo (1939), bem como os diversos textos publicados por Jacques Lacan. E várias referencias de pensadores como Pierre Nora, Lévi-Strauss, Nietzsche, K. Popper, Todorov, Paul Veyne, Roland Barthes, Deleuze e especialmente Michel Foucault.
Neste livro, além das notas de rodapé do próprio autor, encontram-se várias notas do organizador da edição em francês, Luce Giard, geralmente para explicar onde foi inicialmente publicado cada texto e para fazer referências cruzadas ou referencias com outras obras do próprio Certeau. Existem também notas do tradutor quando há dificuldade de encontrar equivalentes entre o francês e o português, quando a tradução não garante todo o significado que existia no significante da língua original, ou nas diversas vezes em que o autor faz trocadilhos. No fim da coletânea nos é apresentada toda a bibliografia de Michel de Certeau. Em seguida, referências de estudiosos do pensamento do autor e por fim as referências bibliográficas das obras citadas no decorrer do livro, tanto pelo autor, quanto pelo organizador. Termina-se o livro com um índice onomástico.
A presente coletânea é composta pela introdução de Giard Um caminho não traçado em que percorre a relação de Certeau com o tema – história e psicanálise – bem como considerações acerca das obras e da vida do autor. Em seguida, uma série de dez capítulos, que foram publicados inicialmente de forma isolada e por diferentes meios, correspondendo a artigos científicos, capítulos de livros e conferências. Existe, contudo, unidade e sentido entre os textos, não apenas pela temática comum que os perpassa, mas também pela possibilidade de ponderar sobre a própria metodologia de Michel de Certeau e de perceber como suas ideias se imbricam em uma trama. Cada capítulo contribui para a maior compreensão do pensamento do autor, não de forma progressiva, pois não existe uma hierarquia entre os textos, mas passamos a perceber como os diferentes textos corroboraram na edificação de uma teoria coerente e complexa. Assim, à medida que os textos nos falam sobre a Escrita da História eles mesmos nos servem de modelo dessa escrita.
Os três primeiros capítulos – A história, ciência e ficção; Psicanálise e história; e O “romance” psicanalítico. História e Literatura – mostram a relação construída pelo autor entre a história e a psicanálise. Todavia, Certeau faz isso de modo cauteloso, sem misturar ou confundir as identidades de cada disciplina. Seu lugar de fala é a história, e deixa isso bem claro. Embora fosse membro participante e ativo da École Freudienne de Paris desde sua fundação, por Jacques Lacan, nunca se fez psicanalista profissional. Percorria por ambas as disciplinas, gostava da fronteira, mas não residia fora de sua formação. Não procurou construir uma epistemologia geral. Sua reflexão como epistemólogo origina-se de seu trabalho enquanto historiador da mística dos séculos XVI e XVII. Ao traçar relações entre a história e a psicanálise, não a faz por simples atração, capricho ou fruto de um insight. Certeau atravessava as disciplinas por necessidade, quando um saber não respondia suas inquietações, buscava satisfazê-las em outra, mas sempre orientado pela história. Desse modo tramitava pela filosofia, teologia, linguística, literatura, antropologia e especialmente a psicanálise.
O autor não busca historicizar a psicanálise, nem pretende criar uma explicação social e histórica para a sociedade contemporânea a partir de uma leitura psicanalista. A novidade do trabalho de Certeau reside na reflexão que realiza das empreitadas de Freud como historiador. De até aonde cabe, ou não, de até aonde soma, ou não, a teoria e metodologia da psicanálise aplicada à operação historiográfica.
Volta-se para o antigo debate entre a história e a ficção. Segundo Michel de Certeau ao realizar a crítica documental o historiador consegue diagnosticar o erro/falso nesses documentos. Esse erro é a ficção, que é transferida para o campo do irreal. O que resta acreditam os historiadores ser o real e, portanto, a verdade, que se dá pela denúncia do falso. Mas o discurso histórico utiliza-se da ficção: a econometria histórica (a suposição do que poderia ser); o uso de metáforas; a possibilidade de mais de uma interpretação. Todavia, o discurso do historiador não se torna uma mentira por se utilizar da ficção, nem abandona o status de ciência, mas é real na medida em que se considera uma representação dessa realidade. O problema reside na lógica adotada pelas ciências positivas que relacionam ficção ao irreal e apenas com Freud que essa relação é revista.
Freud não foi um historiador profissional, mas escreve sobre História, e faz isso com um toque de suspense do romance policial e a inquietação do romance fantástico. No seu fazer histórico ele desorganiza tudo o que os historiadores acreditavam estar arrumado. Ele foi o único autor contemporâneo capaz de criar mitos, no sentido de criar romances com funções teóricas. A psicanálise e a história percebem o tempo e a memória de modos distintos. Contudo, os problemas que apresentam são análogos: tornar o presente capaz de explicar o passado, compreender as diferenças e as continuidades entre as organizações antigas e atuais, construir uma narrativa explicativa. Assim, a questão que vem à tona é: qual o impacto do freudismo nas discussões sobre as relações entre história e literatura?
A literatura é para a história o que a matemática é para as ciências exatas – a forma que torna o discurso inteligível. Mas no discurso freudiano é a ficção que fornece a seriedade científica. A narrativa produzida pela psicanálise, o “romance”, deveria combinar os sintomas da doença (a coleta de dados) com a história de vida/sofrimento do paciente (historicizar seu problema). O estudo tradicional, científico, não acrescentava a historicidade do caso clínico à coleta de dados, portanto dentro do discurso dito científico não entrava a história. Essa historicidade vem para superar o modelo teórico vigente. O “romance” então supera a ciência, pois além da coleta de dados (o factual) ele historiciza o caso. Em Freud, torna-se possível pensar história e ficção.
Os capítulos IV-VI: O riso de Michel Foucault; O sol negro da linguagem: Michel Foucault; e Microtécnicas e discurso panóptico: um quiproquó apresentam os problemas levantados por Foucault em diálogo com as teses de Certeau sobre a história e a psicanálise. Não uma ingênua apresentação das ideias de Foucault, nem mais um dos comentários sobre sua obra, mas uma reflexão do próprio Certeau a partir da leitura de Foucault, de quem não era apenas amigo íntimo, mas um admirador de seu trabalho. As obras de Foucault que alicerçam essa parte da obra são fundamentalmente As palavras e as coisas (1966), Arqueologia do saber (1969) e Vigiar e punir (1975).
Envolvido num certo tom de ironia, Foucault descarta as certezas que o evolucionismo pretende, mostrando certo desprezo pelo postulado de um progresso contínuo. Para ele, todo sistema cultural é uma aposta, por ser incerto e não saber precisamente aonde vai chegar, mas mesmo assim, busca dar um sentido, uma ordem à vida, elaborando um modo de enfrentar a morte. Foucault critica essa ideia de progresso porque ela pressupõe que uma cultura caminha sempre para frente, acumulando e superando a anterior, hierarquizando-as. Contudo, cada cultura oferece ao nosso pensamento um mundo de ordem, o exótico de um pensamento é o limite de compreensão do nosso. E nessa relação de alteridade, percebemos as diferenças culturais e transformamos nossa relação com nossa própria cultura. Nosso mundo de certezas desmancha-se, marcando o fim de um sistema cultural e o início de outro. Nesse processo, palavras e ideias são utilizadas para pensar teoricamente esse novo sistema, e embora tais palavras e ideias existissem nos dois sistemas elas podem alterar o significado por estarem inseridas em ordens de pensamento diferentes.
Dessa estrutura do pensamento de Foucault, Certeau detêm-se em algumas questões de ordem metodológica: a análise histórica deve ser estrutural, ou seja, fazer uma adequação entre significante e significado, pois o significado das palavras é construído historicamente; a noção de periodicidade perpassa erroneamente a ideia de continuidade, de progresso, assim, necessitamos confrontar nosso objeto com outras obras contemporâneas ao próprio objeto, não se concentrando demais no pensamento anterior (as “influências”) e no posterior (nossas próprias ideias, teorias).
Os últimos capítulos: História e Estrutura; O ausente da história; A instituição da podridão: Luder; e Lacan: uma ética da fala/palavra [parole] apresentam a perspectiva teórica de Michel de Certeau pensada em seu próprio objeto de pesquisa, a espiritualidade dos séculos XVI e XVII. Não encontraremos nesses artigos um estudo sistemático sobre essa temática tal como o faz em La Fable mystique: XVIe et XVIIe siècle (1982), por exemplo. O que norteia a composição da obra são as questões de ordem teórica e metodológica. Aqui, Certeau se detém a essas questões mostrando como elas se relacionam ao seu tema de pesquisa, é uma intervenção sobre seu próprio fazer historiográfico.
Certeau ao apresentar seu objeto lembra-nos que essa escolha – não apenas a sua, mas a de todos os historiadores – é uma escolha orientada por uma busca de identidade. Olhamos para o passado buscando algo do presente. Nesse primeiro momento encontramos com o outro por meio de nossa imaginação, reconstruímos um mundo que nunca conheceremos de fato, aí existe um erudito e não um historiador. Nossa busca é como a de um catador, que revira o lixo buscando os restos e sonhando com a casa que nunca terá. O pesquisador permanece o mesmo. Em seguida, com o contato maior com a documentação, numa relação de força, há um estranhamento com o outro e um afastamento de seu mundo. Percebemos que esse mundo nos escapa, que não é como imaginávamos ou como sonhávamos. O objeto de pesquisa se torna um outro, um estranho. Mas o que mudou com relação a nosso primeiro olhar não foi o passado, mas sim a maneira como olhamos para ele, uma mudança do próprio pesquisador diante de sua pesquisa, é nessa transformação que o erudito se torna um historiador. Fazer história é mais que produzir narrativas históricas, é ter consciência de que algo se passou, está morto, e é inacessível como vivo.
O trabalho do historiador deve fazer aparecer a alteridade. A história direciona nosso olhar para o passado a fim de se aproximar do estranho, do “selvagem” que habita as origens. O discurso histórico nos revela essa presença ameaçadora, tal qual a psicanálise, embora se utilizando de diferentes procedimentos. Assim, a concepção de história de Freud não é de uma permanência, mas de uma tensão que organiza uma sociedade ou um discurso.
Michel de Certeau é sem dúvidas um grande erudito e historiador do século XX e suas contribuições para as discussões acerca da teoria da história e metodologia da operação historiográfica estão para além do que conseguimos mapear. Encontramos nessa coletânea um compêndio de vários exercícios intelectuais do autor, uma verdadeira lição de como “fabricar” história. Certeau é comedido em sua escrita, mostra-nos como fazer a relação da história com as várias disciplinas que utilizamos como auxiliares. Escreve sobre teoria, mas preocupado em como essa serviria para resolver problemas do fazer historiográfico. Sua abordagem metodológica busca um entremeio [entre-deux] entre os eruditos do século XVII, os tratados de método do século XX e os pensadores pós-modernos. O caminho que traçou não busca responder definitivamente a toda problemática da Escrita da História, antes, porém insere mais questões para refletirmos e tomarmos consciência do que realmente fazemos ao escrever história, tomarmos consciência da nossa própria narrativa, e assim, como na psicanálise, trazer a tona o que está escondido/ ou o que escondemos no nosso ofício.
Notas
2. CERTEAU, Michel de. A escrita da História. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 65.
3. GIARD, Luce. Um caminho não traçado. In: CERTEAU, Michel. História e Psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. p. 37.
Maicon da Silva Camargo – Mestrando em História. Universidade Federal de Goiás. E-mail: maiconcamargo.msc@gmail.com
CERTEAU, Michel de. História e Psicanálise: entre ciência e ficção. Trad. Guilherme J. de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. Resenha de: CAMARGO, Maicon da Silva. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.13, p.294-298, ago./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
Espada, cobiça e fé: as origens do Brasil | Francisco Wffort
É bem conhecido o gosto com que nossos “homens de letras” e intelectuais sugeriram “sínteses” e interpretações da formação histórica do Brasil, construindo as mais variadas avaliações sobre a colonização ibérica e seus desdobramentos na sociedade do Novo Mundo. A chamada “herança ibérica”, afinal, era a possibilidade de intervenção direta nos debates políticos e sociais referentes à formação do Brasil: é justamente nesse sentido que se situa o mais recente livro de Francisco Weffort (“Espada, cobiça e fé: as origens do Brasil”, editora Civilização Brasileira, 2012).
A ênfase da recente obra de Weffort recai sobre os séculos XVI e XVII (momento central para o entendimento das “origens do Brasil”, segundo o autor) – séculos que nos falam de perto: eles não estão suspensos num passado longínquo, como peças para a curiosidade de um antiquário. Afinal, como o autor explicita na célebre epígrafe retirada de Requiem for a nun, de Faulkner: “o passado não está morto e enterrado; na verdade, ele nem mesmo é passado”. Weffort, nesse sentido, apresenta uma discussão, a um só tempo, historiográfica e sociológica, buscando uma intervenção direta no debate político brasileiro: a proposta é refletir sobre a formação histórica da América Portuguesa, já que “nos primeiros tempos deste novo mundo nascido da violência, da cobiça e da fé, o que mais surpreende é o quanto sua história ajuda a compreender os tempos atuais”.[2]
A obra não se ocupa de pesquisas propriamente arquivísticas, de modo que dialoga fundamentalmente com documentos impressos (portanto, já publicados) da América colonial (Antonil, Gandavo, Barléus, Las Casas, Ruiz de Montoya etc.). As reflexões, a bem da verdade, ganham maior densidade com os diálogos estabelecidos entre os “clássicos” do pensamento brasileiro (Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., Afonso Taunay, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Paulo Prado etc.), a historiografia mais recente sobre o período colonial brasileiro (Maria Fernanda Bicalho, Leslie Bethel, João Fragoso, Arno Wehling) e alguns nomes das ciências humanas em geral (Marc Bloch, C. Boxer, R. Blackburn, Norbert Elias, O. Patterson, Lewis Hanke, Q. Skinner, D. Brading). O autor, nesse sentido, empreende um significativo esforço em uma ampla análise preocupada em ressaltar as principais linhas de força (tendências históricas, por assim dizer) da formação sociopolítica brasileira.
A síntese sugerida por Weffort para o entendimento dos séculos XVI e XVII toma como ponto de partida o conceito de “conquista”: “sabemos que o Brasil, como os demais países ibero-americanos e o Novo Mundo em geral, foi conquistado em meio a guerras quase permanentes”.[3] A conquista da América Portuguesa seria um processo de dois séculos, de modo que, alimentada pela violência e pela fé, ela teria sido “um fenômeno geral das Américas, estabelecendo um padrão histórico que se prolongou além do século XVII”.[4] A abordagem sugere um interessante contraponto teórico com a própria historiografia brasileira: ao passo que, por meio do conceito de “colonização”, Fernando Novais destacava, no entendimento da formação colonial brasileira, a ocupação e a valorização das novas terras nas coordenadas socioeconômicas estruturais da Época Moderna (o “Sistema colonial”),[5] a ideia de “conquista” realçada por Weffort circunscreve a própria ocupação lusa das novas terras em um processo demarcado pela posse do território, conquista de riquezas e dominação dos povos indígenas. Além da cobiça pelo enriquecimento, o Brasil de Weffort foi profundamente marcado pela violência.
A conquista da América “nasceu, sobretudo, das memórias de um cruzadismo que, tendo sido um fenômeno geral da Europa nos séculos XI e XII, durou na Ibéria muito mais tempo do que se costuma admitir”.[6] A história da América, para o autor, está profundamente entrelaçada com a própria história Ibérica. Os séculos XVI e XVII de Weffort, portanto, estão tomados do espírito da longa Reconquista ibérica dos séculos VIII-XV: “a América Ibérica surgiu de um medievalismo, talvez já em decadência a partir do século XVI, mas que ainda trazia muito dos entusiasmos da Reconquista”,[7] de modo que a nova sociedade foi construída sobre um “rude medievalismo, agressivo e violento, que estabeleceu os inícios eminentemente rústicos de uma sociedade que tomará muito tempo para sofisticar-se e refinar-se”.[8]
Os ecos “medievais” destacados por Weffort nos primeiros séculos da “conquista”, bem entendido, não implicam necessariamente uma retomada do longo debate sobre as origens feudais, capitalistas ou escravistas do Brasil. Antes de privilegiar a estrutura socioeconômica, o “medievalismo” dos primeiros tempos dizia respeito às formas socioculturais introduzidas no Novo Mundo: é nesse sentido que se situa, por exemplo, o que o autor chama de “personalismo de fundo senhorial” da formação brasileira. Explorando o clássico debate espanhol entre Américo Castro e Sánchez-Albornoz, Weffort extrai da própria Reconquista o sobrepeso cultural e sociológico da pessoa no mundo ibérico, já que os cristãos “[…] acreditavam que sua crença na consciência da dimensão imperativa da pessoa (lhes) permitiria ascender da gleba ao poderio. Para eles, o fundamento da verdade estava em Deus e na pessoa do homem”.[9] Nesse sentido, em entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo, Weffort enfatizaria que “o personalismo é uma dimensão fundamental de nossa identidade”:[10] afinal, “encontra-se aí a raiz fundamental da subvalorização das normas e das leis, típica da cultura brasileira e hispano-americana em geral” (Weffort, aqui, não está tão distante da “cordialidade” magistralmente discutida por Sérgio Buarque de Holanda).[11] O autor, inclusive, assinala algumas implicações políticas desastrosas daquela crença senhorial no valor da pessoa no continente, construindo uma espécie de cultura do “casuísmo” que, contorcendo a lógica impessoal de leis e instituições às circunstâncias e aos interesses pessoais, teria algum peso no sem-número de “caudilhos”, ditadores e golpes que, de alguma forma, ainda assombram a América Latina.
A América de Weffort, no entanto, não se construiu apenas sobre as ruínas do passado ibérico. O dilema da própria “modernidade” americana, por assim dizer, está situado no que o autor chama de “paradoxos das origens”, ou seja, a complexa interação entre as heranças do Velho Mundo e a possibilidade de construção de uma sociedade peculiar, contando com elementos, instituições e processos sociais praticamente desconhecidos na composição social do mundo aquém-Pirineus. Base dessa espécie de “experimento americano” foi o complexo contato cultural entre europeus, indígenas e negros. Nesse sentido, a atuação de dominicanos e jesuítas junto às monarquias católicas ibéricas é central: tratava-se de uma concepção de império na qual “os sacerdotes se tornaram assessores das respectivas Coroas […] Assim, os dois países católicos tomaram trajetórias que os tornaram semelhantes a estados teocráticos”.[12] A visão de Weffort, aqui, parece excessivamente generalista, perdendo de vista, no caso português, por exemplo, as complexas inter-relações entre a Coroa e os jesuítas (relações que, a bem da verdade, nem sempre foram tão amigáveis). No entanto, apesar de perder nas nuanças, o autor ganha na abrangência explicativa: para Weffort, a conquista territorial, além da espada, fundamentou-se na própria “conquista espiritual” dos povos indígenas, sacramentando o domínio ibérico.
Especialmente no caso brasileiro, tratava-se de um domínio, aliás, bastante singular, já que se assentava em uma sociedade escravista, construída sobre um amplo processo de exploração da mão de obra africana. Após analisar as polêmicas e as indisposições de missionários portugueses e espanhóis em relação à escravidão indígena, Weffort assevera que “diferentemente da escravização dos índios, a escravidão dos negros […] tornou-se, de certo modo, invisível”.[13] Para o autor, isso “significa que essa parte fundamental da mentalidade colonial se manteve durante quase todo o primeiro século do país independente e se prolongou no racismo que conhecemos, em formas mitigadas, às vezes apenas disfarçadas, do Brasil contemporâneo.[14]
A própria peculiaridade das raízes ibéricas no Novo Mundo situa a formação do Brasil como um mundo de fronteira. Weffort, nesse sentido, mescla os Capítulos de história colonial, de Capistrano de Abreu, com as reflexões do clássico trabalho de Frederik Turner sobre a fronteira na expansão norte-americana ao Oeste: trata-se de definir a “fronteira”, a princípio, como um conceito de base sociológica, evidenciando o contato entre culturas como processo criador de interações e relações sociais. Weffort adensa o enfoque sociológico ressaltando fundamentalmente sua situação histórica na formação brasileira: “no sentido moderno, esse ponto de encontro entre a barbárie e a civilização é um fenômeno do mundo europeu em expansão. Tipicamente, é um fenômeno da chegada e do avanço dos europeus sobre o Novo Mundo”.[15] É justamente nesse sentido que a mescla entre Capistrano e Turner ganha sentido: ao passo que, nos Estados Unidos, a fronteira define-se na expansão oeste, “o Brasil tornou-se brasileiro” nas várias frentes (norte, sul e oeste) para o interior.
Na porção norte da América Portuguesa (sobretudo com as ocupações de Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará) e nas terras mais ao sul (com as investidas sobre São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Weffort destaca a ação de povoadores e o papel do bandeirismo, entendendo os séculos XVI e XVII como centrais para a definição moderna das fronteiras: “o sentido histórico mais abrangente que se atribui à noção de fronteira é a de um fator determinante da moderna civilização ocidental”.[16] O espaço americano – a um só tempo fronteira da conquista ibérica e fronteira sociológica do contato entre povos diversos – permite, segundo o autor, desdobrar a ideia de que “as sociedades modernas são em geral sociedades de fronteira, nascidas do influxo de centros mais modernos”.[17] Afinal, assevera Weffort, “no caso do Brasil, e talvez de outros países ibero-americanos, a fronteira sociológica criou as bases das fronteiras políticas, firmadas nos séculos XVIII e XIX”.[18]
A própria formação da estrutura política e social do Brasil, nesse sentido, situa-se justamente no entrelaçamento da “conquista” e da “fronteira” nos séculos XVI e XVII: “aqui, o sistema de produção não antecedeu ao sistema de dominação, mas criaram-se juntos”.[19] Portanto, dentro do processo mais amplo da conquista, o autor circunscreve a efetiva construção de uma nova experiência social nas novas terras – experiência fronteiriça que, torneada pela violência na subjugação da mão de obra (indígena e posteriormente africana) e pela cobiça de riquezas, logrou construir um domínio sobre a terra. Do processo sociopolítico mais amplo da conquista, o autor deriva toda uma forma social do “mando” e do “poder”, sintetizando um arco cronológico bastante extenso e complexo da história brasileira: para o autor, essa estrutura social foi projetada, em tempos mais recentes, sobre a “aristocracia” imperial e o “coronelismo” da República Velha. Nessa expansão da perspectiva cronológica, Weffort perde as mediações que marcam o exercício do poder político em diferentes contextos da história brasileira (Império e República, no caso): sacrifica, por assim dizer, a complexidade dos matizes, em prol da ênfase sobre uma forma mais geral do próprio exercício social da política.
De que modo, portanto, a história da própria América Portuguesa traz os dilemas do futuro Brasil? O livro de Weffort ensaia algumas observações sobre esta incômoda pergunta: a nova sociedade não rompeu com o passado, mas foi agregada a ele. “A nova sociedade nasceu da busca do futuro, e persiste até hoje nessa busca. Mas jamais rompeu, pelo menos não inteiramente, seus vínculos mais profundos com a tradição”.20 Escrito em tom ensaístico, extrapolando a formalidade acadêmica na análise dos textos de época e dos autores, o texto não hesita em fazer ousadas conexões com suas preocupações políticas do presente, buscando um entendimento da formação de um país construído sobre a espada, a cobiça e a fé – enfim, sobre uma ampla “conquista” (quase aventureira) militar, econômica e espiritual. Sintomático que, ao lado de Faulkner, o autor tenha colocado junto à epígrafe a conhecida passagem das Teses, de Walter Benjamin: “não existe documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento de barbárie”. O ensaio de Weffort sugere uma necessária reflexão sobre os impasses e os fantasmas da nossa própria “modernidade”.
Notas
2. WEFFORT, Francisco. Espada, cobiça e fé: as origens do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012b. p. 11.
3. Ibid., p.17.
4. Ibid., p.21.
5. NOVAIS, Fernando. Colonização e Sistema Colonial: discussão de conceitos e perspectiva histórica. In: NOVAIS, Fernando. Aproximações: ensaios de história e historiografia. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
6. WEFFORT, 2012b, p.27.
7. Ibid., p.64.
8. Ibid., p.29.
9. Ibid., p.70.
10. WEFFORT, Francisco. A capacidade prática deste país de fazer sem saber é enorme. Folha de S. Paulo, São Paulo, dez. 2012a.
11. WEFFORT, 2012b, p.70.
12. Ibid., p.39.
13. Ibid., p.48.
14. Ibid., p.49.
15. Ibid., p.59.
16. Ibid., p.60.
17. Ibid., p.60.
18. Ibid., p.60.
19. Ibid, p.174.
20. Ibid., p.217.
Felipe Ziotti Narita – Professor Bolsista – Departamento de História – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais / UNESP. Doutorando em História – FCHS / UNESP. E-mail: fznarita@gmail.com
WEFFORT, Francisco. Espada, cobiça e fé: as origens do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. Resenha de: NARITA, Felipe Ziotti. As heranças ibéricas revisitadas. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.13, p.299-303, ago./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
História e psicanálise: entre ciência e ficção | Michel de Certeau
Michel de Certeau (1925-1986) nasceu em Chambéry região camponesa da França. Intelectual de Inteligência brilhante e inconformado com a realidade, Certeau caminhou por vários caminhos de saberes, formou-se em Filosofia, História, Teologia e Letras Clássicas, e ainda caminhou por tantas outras disciplinas, como a Antropologia, a Linguística e Psicanálise. Michel de Certeau comuns de sua época [2]. Sua trajetória intelectual pode ser pensada como uma procura constante da palavra do outro, uma procura pelo outro e suas ações. Sua simplicidade lhe permitia perceber as artes e as criações nas coisas mais simples do cotidiano (o caminhar, o ler, o morar, o cozinhar, etc.), seu olhar nos levou a entender o sujeito como criativo, capaz de subverter a disciplina. Em linhas gerais, podemos identificar que o sujeito é o grande personagem de seus trabalhos [3]. Sua produção mostra enorme erudição, uma produção que vai do inicio dos anos 1960, até 1980. Religioso, foi ordenado sacerdote na Companhia de Jesus em 1950 e, fiel aos princípios de sua ordem, permaneceu padre e assim viveu até a sua morte.
Certeau subverte lugares. Inquieta o leitor, e ao mesmo tempo proporciona um diálogo com ele. A leitura de seus textos nos faz pensar a simplicidade do cotidiano de uma forma diferente, como um espaço de conflitos, de lutas capilares, quase imperceptíveis. Certeau nos mostra através de poucas palavras o barulho da estratégia e o silêncio da tática. Sua preocupação ainda se destaca na problematização no que se diz respeito ao conhecimento histórico e os meandros de sua produção, ao escrever “A escrita da História”, Certeau lançará questões de grande importância para a historiografia, descortinando o que está por traz do texto histórico, as suas limitações, as suas possibilidades e suas interdições. Afinal quem produz e como é produzido o texto do historiador? Quais os limites e as aberturas impostas pela sociedade dos historiadores? Quem julga a qualidade, e a validade do texto histórico. Arrisco em afirmar que A Escrita da História é um texto fundamental para se pensar o oficio, e para ser historiador.
Um dos mais importantes momentos da produção de Michel de Certeau é sua aproximação com a Psicanálise que se dá, sobretudo, por sua participação nos seminários de Lacan, de quem era grande admirador. Tendo tido uma relação direta com os textos de Freud, Certeau chega a destacar a influência do pensamento freudiano na historiografia, intervenções que ele chamará de “cirúrgicas”, essa influência permeará grande parte de seus textos. Participará ainda da Escola Freudiana de Paris, até a sua dissolução nos anos 1980.
Publicado pela primeira vez no Brasil em 2011, pela editora Autêntica, a coletânea de textos, “História e Psicanálise: entre ciência e ficção”, reúne textos que, mais uma vez, trazem à tona a heterogeneidade do pensamento de Michel de Certeau, dez capítulos que tratam desde a relação, muitas vezes conflituosa, entre história e ficção, da relação da própria história com a psicanálise, bem como três belíssimos textos sobre o pensamento e a pessoa de Michel Foucault, a quem Michel de Certeau admirava e reconhecia a força de sua produção e de seu pensamento. Porém, os temas abordados por Certeau vão mais além, abrem um leque de possibilidades para se pensar o conhecimento histórico. Trata-se de um rico material, onde é escancarado o pensamento múltiplo e fecundo de Certeau. Certeau fez de seu percurso “Um caminho não traçado”.
Inspirada na vida de Certeau, em suas práticas de esgrima e montanhismos nos Alpes da Savoia, Luce Giard, abre a coletânea de textos com um belíssimo ensaio sobre a vida e a obra do historiador do cotidiano. Usando uma linguagem metafórica, a autora faz um transcurso entre a vida e a produção historiográfica desse jesuíta, um pensador de passos firmes e inconformado com o seu próprio conhecimento, isso fez com que Certeau, caminhasse, buscasse o conhecimento incessantemente. Giard nos faz ver um Certeau simples, pensante, que estava sempre atento a perceber as artes escondidas no cotidiano, um personagem que mesmo tendo ganhado destaque no ciclo intelectual francês permaneceu sem ostentação, sem méritos. Historiador da espiritualidade e dos textos místicos, Michel de Certeau, sempre relia seus textos, demonstrando insatisfação, reavaliando suas posições e seu pensamento. Talvez seja por isso que os textos de Certeau, passados mais de vinte anos, ainda são de uma atualidade impressionante.
O primeiro capitulo trata da relação entre História e ficção, o texto procura fazer reflexões acerca das possibilidades de pensar essa relação. Nesse sentido, Certeau vai pensar o discurso da história a sua pretensão de realidade. Afirma o autor que, o historiador não fala e nem tem a ambição de falar verdades absolutas. O discurso da história, embora deseje um efeito de real, ele não outorga uma verdade sobre o passado. Assim, Certeau, perpassa questões que norteiam o conhecimento histórico, propondo reflexões de caráter teórico e metodológico sobre essa tríade – história, ciência e ficção – um texto que traz para o cenário das discussões temas que norteiam a produção da história e o lugar da narrativa.
Os capítulos II e III se preocupam em estabelecer considerações sobre a História e a Psicanálise. Questões que possibilitam nomear a obra. Os encontros de Certeau com os textos de Lacan possibilitam o autor ampliar seus conhecimentos e suas reflexões sobre as suas pesquisas, rompendo fronteiras, Certeau, ainda pensa, nesses textos a relação entre a História e a Literatura, nessa relação Freud é a grande inspiração do texto, Certeau caminha pela psicanálise buscando entender as suas possíveis relações com a história.
Como dito anteriormente, Certeau nutria profunda admiração pelo filósofo Michel Foucault, a este dedicará três textos da coletânea aqui discutida – Capítulos IV, V e VI – mais do que textos sobre a produção de Foucault, Certeau escreve textos que revelam a sua admiração pela “revolução” causada pelos escritos foucaultianos, sobretudo, por “Vigiar e Punir” que ele considera como uma obra prima. Vale destacar aqui, que alguns comentadores criam uma oposição entre Certeau e Foucault, criando um grande equivoco. Não são pensadores em conflito, trata-se de pensamentos diferentes. Enquanto Michel Foucault busca entender a disciplina e a sociedade disciplinar, Michel de Certeau preocupa-se em perceber a antidisciplina, os meios e as táticas de fuga, de rompimento com a ordem. O texto, “o riso de Michel Foucault”, é um percurso pela personalidade de Foucault, em quem Certeau identifica um “um riso incontrolável”, dois pensadores que se negaram a ocupar um lugar fixo, estático. Foucault e Certeau ainda falam, suas falas habitam o texto. Vozes que escapam o jazigo que é o texto.
Os capítulos VII e VIII, estão relacionados a relação entre história e a escrita da história. Retomam questões, que de certa forma se fazem presentes em “A escrita da História”, contudo, não se afastam da proposta temática da coletânea, continuam ainda traçando caminhos pela psicanálise. Especificamente, o sétimo é uma discussão acerca do estruturalismo, corrente de pensamento de grande repercussão nos anos oitenta. O oitavo traz o ausente da história, é na verdade um texto sobre a escrita da história, ou, a elaboração do discurso histórico, um discurso que busca vestígios, pistas do outro, do passado, para elaborar um texto inteligível.
Concluindo, o capitulo de conclusão da coletânea é dedicado a Jacques Lacan, fundador da Escola Freudiana, de quem Certeau era membro ativo, nesses textos Michel de Certeau identifica nos seminários de Lacan, uma força criadora, (co) movedora de sentidos, Certeau foca sua análise naquilo que Lacan tanto utilizou. A voz, a voz que produz efeitos, gera experiências.
Mas o que Certeau causa em seu leitor? Não tenho respostas. A dúvida talvez seja mais forte e mais criadora do que a certeza. Duvidar faz criar outras respostas, a certeza me prende, me limita. Os textos de Michel de Certeau são como gravações, como pensa Gilles Deleuze, ao ler, o leitor atento, poderá escutar sua voz, suas pausas, suas entonações, a suavidade de sua voz e a força de seu pensamento. Melhor, o leitor atento poderá vê-lo, seu corpo franzino, seu olhar perspicaz, e a força de seu pensamento.
Os textos apresentados em “História e Psicanálise” revelam a sensibilidade e a potência do pensamento de Michel de Certeau, é um texto rico, profundo e povoado de vozes. Vozes de Certeau, de Lacan, de Foucault, vozes de leitores… Em 09 de Janeiro de 1986, uma triste quinta feira, Michel de Certeau morria, porém, não se calaria. Sua voz resiste ao caráter sepulcral do texto. A voz de Michel de Certeau continua ecoando em meio às instituições que legitimam o trabalho do historiador, mas, o pensamento certeauniano não conhece fronteiras, inquieta pesquisadores de múltiplos campos de saber. Certeau, certamente proporcionou uma revolução no pensar, no fazer. Revolucionou a nossa forma de escrever a história e nossa forma de perceber o cotidiano, o sujeito e a nós mesmos. Pois, a experiência do conhecimento de nada adianta se não modificar a nós mesmos, antes de tudo.
Notas
2. Cf. CHARTIER, Roger. Estratégias e táticas. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002.
3. Em “A invenção do Cotidiano” (Vol. 1 e 2.) Michel de Certeau se preocupa em perceber como as pessoas elaboram práticas cotidianas a partir de uma cultura ordinária, o cotidiano passa a ser inventado pelo sujeito através de suas artes, Certeau vê na invenção do cotidiano uma liberdade gazeteira, sorrateira, que age em micro espaços e micro ações.
Silvano Fidelis de Lira – Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba (2012) e atualmente mestrando em História na Universidade Federal da Paraíba, desenvolve pesquisas sobre memória e sensibilidade. E-mail: silvanohistoria@gmail.com
CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre ciência e ficção. Tradução Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. Resenha de: LIRA, Silvano Fidelis de. Um pensamento inquieto: os caminhos de Michel de Certeau. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.13, p.304-307, ago./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
A Construção Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX | Denise Rollemberg e Samantha V. Quadrat
O século XX foi, talvez, o período histórico mais impactante da História da Humanidade. O nível de progresso social foi gigantesco – mesmo que raras vezes tenha beneficiado aos seres humanos de forma bem distribuída. O século XX foi o século da busca pela igualdade entre homens e mulheres, da conquista dos direitos civis, do reconhecimento dos direitos das minorias. Foi o século das Revoluções que pretenderam concluir o legado da Revolução Francesa: a Revolução Russa, mas também a Revolução Cubana, a Revolução de 1968, a Revolução Sandinista e tantas outras que enfatizavam o caráter da busca pela igualdade. Mas o século XX também o foi século dos horrores das duas Grandes Guerras Mundiais, do Nazismo, dos conflitos típicos da bipolaridade da Guerra Fria. O século XX trouxe flores, como Marc Riboud universalizou por sua célebre foto: algumas flores, no entanto, têm muitos espinhos.
Esses espinhos estão presentes por todo mundo! Não são mazelas de povos subdesenvolvidos, exclusivamente. Esses espinhos se materializaram, quase sempre, na forma de regimes autoritários. África, América, Ásia, Europa, em todos esses continentes houve ditaduras ao longo do século XX. Como as sociedades conviveram com essas ditaduras é a pergunta que articula os textos acadêmicos da coleção A Construção Social dos Regimes Autoritários, editada pela Civilização Brasileira e organizada pelas professoras Denise Rollemberg e Samantha Viz Quadrat, da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Na última década, a editora Civilização Brasileira tem contribuído muito com a divulgação da pesquisa acadêmica em História. Foram editadas as coleções: O século XX (2000),[2] O Brasil Republicano (2003),[3] As Esquerdas no Brasil (2007), [4] O Brasil Imperial (2009).[5] Com a exceção de O Brasil Republicano, organizado em quatro volumes, as outras obras estão dispostas em três volumes e todas tem a organização delegada a professores de Universidades do Rio de Janeiro. Os mesmos moldes são seguidos na coleção organizada pelas professoras da UFF; mas há novidades na política editorial dessa coleção, entre elas, a grande quantidade de contribuições de historiadores e demais cientistas sociais do estrangeiro.
Há uma apresentação comum aos três volumes, assinada pelas professoras Rollemberg e Quadrat e na qual abordam a linha geral da coleção, baseada em dois problemas de pesquisa: “como um regime autoritário/uma ditadura obteve apoio e legitimidade na sociedade; como os valores desse regime autoritário/ditatorial estavam presentes na sociedade e, assim, tal regime foi antes resultado da própria construção social”.[6] Argumentam as autoras que o fio condutor da coleção é baseado em uma perspectiva mais original, haja vista que os estudos sobre as ditaduras, no Brasil por exemplo mas não só, são calcados fundamentalmente na idéia da resistência à implantação e ao desenvolvimento dos regimes autoritários, esquecendo-se que as ditaduras foram construídas e mantidas com o apoio de parcelas da população.
O primeiro volume da coleção aborda a Europa. Composto por 11 artigos, examinase a França colaboracionista do Regime de Vichy em dois artigos – um o ótimo “Sociedades e Regimes Autoriátios” de Marc Olivier Baruch, professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS); a URSS é abordada em três artigos escritos por Marc Ferro, Daniel Aarão Reis e Angelo Segrillo – é de Segrillo a grande contribuição à coleção, em termos teóricos, ao utilizar o conceito de hegemonia elaborado por Antonio Gramsci enfatizando para o leitor leigo que “as hegemonias de classe na história não são apenas uma questão de imposição pela força, mas envolvem também uma criação de consenso em redor de certos valores, o que torna possível e mais estável sua dominação”;[7] o fascismo italiano está presente em dois artigos, um escrito por historiador francês e outro por historiadora italiana; sobre o regime nazista, duas colaborações aparecem na obra, sendo uma delas a interessante, para nós que gostamos do futebol, “O futebol sob o signo da suástica”, na qual o professor Nils Havemann, da Universidade de Mainz, demonstra o uso político do esporte. O primeiro volume ainda conta com textos sobre as ditaduras de Franco e Salazar no ocidente da Europa.
O segundo volume trata da América Latina – dos 17 artigos 8 são dedicados ao Brasil, entre eles: “Estado Novo: ambigüidades e heranças do autoritarismo no Brasil”, de Angela de Castro Gomes (grande influência para esse grupo de historiadores das Universidades do Rio de Janeiro); “Celebrando a ‘Revolução’: as Marchas da Família com Deus pela Liberdade e o Golpe de 1964”, de Aline Presot; e “Simonal, ditadura e memória: do cara que todo mundo queria ser a bode expiatório”, de autoria de Gustavo Alonso. Sobre os demais países da América Latina esse volume – o mais extenso de todos – conta ainda com artigos para Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, México, Perú e Cuba (assim como eu estranho a inclusão de Cuba em uma coleção sobre regimes autoritários, outros analistas certamente estranharão a exclusão da Venezuela).
O terceiro volume analisa os continentes africano e asiático. Entre os 11 textos, chamam muito a atenção dois artigos escritos sobre a Tunísia e que foram escritos antes da Primavera dos Povos Árabes ocorrer: “À sombra da Europa, o autoritarismo no Mediterrâneo: o caso da Tunísia”, do professor Michel Camau, da Universidade de Aix-em-Provence e “Economia Política da Repressão: o caso da Tunísia” escrito por Béatrice Hibou, pesquisadora do Centre d’Études et de Recherches Internationales. O volume traz, ainda, contribuições muito relevantes sobre o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte, demonstrando, historicamente, qual o verdadeiro sentido de terem sido enquadrados por George W. Bush como “Eixo do Mal”, além de artigos sobre a África Ocidental, São Tomé e Príncipe, África Central, China e Filipinas.
Mas a História não é feita apenas de sombras; também é feita luz! E essa luminosidade torna impossível para nós, professores de História, não condenarmos moralmente fenômenos terríveis como as ditaduras civil-militares, os fascismos e o caso incomparável – único regime realmente totalitário que o é – do nazismo. No entanto, parcelas da sociedade apoiaram as torturas, denunciaram opositores aos regimes, colaboraram com os invasores. Quem eram essas parcelas da sociedade? Por que fizeram isso? Quem foram os maiores beneficiados com essas rupturas dos Estados Democráticos de Direito? “A Construção Social dos Regimes Autoritários” fornece boas pistas para essas questões.
Notas
2. REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (orgs.). O Século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 3v.
3. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O Brasil Republicano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 4v.
4. FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (orgs.). As Esquerdas no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 3 v.
5. GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 3v.
6. ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz. Apresentação – Memória, História e Autoritarismos. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A Construção Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.12. V. 1.
7. SEGRILLO, Angelo. URSS: coerção e consenso no estilo soviético. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A Construção Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.123. V. 1.
Charles Sidarta Machado Domingos – Professor de História no IFSUL. Doutorando em História na UFRGS. Autor de O Brasil e a URSS na Guerra Fria. Porto Alegre: Suliani Letra e Vida, 2010.
ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A Construção Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 3v. Resenha de: DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. As sombras do Século XX. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.13, p.308-310, ago./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
História e meio-ambiente / Cantareira / 2013
A partir de uma abordagem interdisciplinar as pesquisas que investigam as relações entre a História e a natureza, em seu sentido mais amplo, ganharam força nos últimos anos. Motivada por esse impulso a Revista Cantareira recebeu contribuições com essa proposta.
Desde o final do século XIX e princípios do século XX, o chamado “determinismo geográfico” era uma corrente científica influente em vários países da Europa, com repercussões também no Brasil. “Os Sertões” (1902) de Euclides da Cunha talvez seja o exemplo mais marcante dessa influência entre os intelectuais brasileiros. Nas primeiras décadas do século XX esse determinismo também começava a ser revisto. Os estudiosos fizeram uma releitura passando a destacar não como o meio determinava o desenvolvimento das sociedades, mas o quanto ele influenciava. A publicação de “O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II” de Fernand Braudel em 1946 foi um passo importante nessa releitura, mas antes dele Marc Bloch e Lucien Febvre já haviam dado contribuições nesse sentido. Mais uma vez, os historiadores brasileiros acompanhariam de perto esse processo ainda que, neste momento, não se possa estabelecer uma relação direta entre a produção intelectual na França e no Brasil. Gilberto Freyre com “Nordeste” (1937) tratava do impacto da cana de açúcar na destruição do meio ambiente e suas implicações sociais, assim como Sérgio Buarque de Holanda alguns anos mais tarde abordaria com “Monções” (1945), como a expansão das bandeiras paulistas também esteve condicionada aos regimes fluviais.
A partir de meados do século XX as investigações sobre o tema ganharam grande sofisticação com os trabalhos de Emmanuel Le Roy Ladurie – “L’Histoire du climat depuis l’na mil” (1967) – na França e de Keith Thomas – “O homem e o mundo natural” (1983) – na Inglaterra. O historiador francês procurou relacionar o surgimento das doenças, como pestes, e as transformações de ordem natural, enquanto Thomas demonstrou o surgimento de novas sensibilidades do homem em relação as plantas e os animais na época moderna.
Ainda relacionada a esta temática é preciso se referir ao livro “A Ferro e Fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira” (1996) de Warren Dean que tratou da história das relações entre o homem e a Mata Atlântica e da devastação desse ecossistema único no mundo.
Todas essas questões foram debatidas com argúcia por uma das principais referências quando se fala em História Ambiental no Brasil atualmente, o professor José Augusto Pádua da UFRJ em entrevista concedida nessa edição. Como se trata de um campo, por essência, interdisciplinar, constituiu um bom exemplo disso o artigo de Ana Marcela França sobre as percepções da natureza na História da Arte, a partir de um olhar da História ambiental. Essa abordagem aparece plural também aparece no artigo de Catarina de Oliveira Buriti, José Otávio Aguiar e de Bread Soares Estevam em análise do clássico “Vidas Secas” (1938) de Graciliano Ramos, em que os autores discutem as imagens atribuídas aos animais presentes na obra, como uma forma de representação do modo de vida dos sertanejos.
Entre os artigos livres, mas de alguma maneira tangenciando o tema do dossiê, Patrícia Govaski investigou o padre português Teodoro de Almeida e a defesa que fez da filosofia Natural Moderna em Portugal na segunda metade do século XVIII que, segundo o religioso, sobressaía a filosofia dos seguidores de Aristóteles.
Nessa edição o leitor ainda irá encontrar o artigo de Maurício Dezordi que discutiu o fluxo migratório em meados do século XX no Paraná baseado na agricultura familiar. A história da historiografia das teorias raciais no Brasil é apresentada por Diego Uchoa de Amorim. Também apresentamos um interessante debate sobre a historiografia relacionada as teorias raciais no Brasil, no artigo de Diego Uchoa de Amorim.
A tradução feita por Luís R. A. Costa do artigo “Mera crônica e história apropriada” do norte americano Arthur Danto, não deixa de ser uma forma de homenagem a esse importante crítico de arte, recentemente desaparecido.
Como de praxe, a revista ainda traz a resenha feita por Douglas de Freitas A. Martins do livro “Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografia” de autoria de André Luís Pereira Miatllo.
Com a expectativa de que esta publicação seja não apenas um meio de divulgação do conhecimento, mas também de debate, colocamos a disposição do público mais uma edição da Cantareira.
Editores. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.19, jul / dez, 2013. Acessar publicação original [DR]
O esporte na imprensa e a imprensa esportiva no Brasil – HOLLANDA; MELO (AN)
HOLLANDA, Bernardo B. B.; MELO, Victor A. O esporte na imprensa e a imprensa esportiva no Brasil. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, 209p. Resenha de: CAPRARO, André Mendes; SOUZA, Jhônatan Uewerton. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 325-330, jul. 2013.
Há algum tempo que, a despeito das desconfianças de alguns historiadores, multiplicam-se as abordagens e os horizontes temáticos da historiografia. No bojo desse processo de expansão das fronteiras disciplinares, as pesquisas em história adentraram em aspectos até então negligenciados da cultura, apuraram o olhar sobre o cotidiano, lançaram luz ao que, a princípio, – mais por descuido que por mérito – parecia frívolo, portanto, desmerecedor de refl exões aprofundadas.
No interior dessas transformações, assistimos à constituição de um campo de estudos sobre a história dos esportes, institucionalizado em núcleos de pesquisa espalhados por diversas universidades em diferentes estados brasileiros, como Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul ou Bahia.
Do ponto de vista da tipologia das fontes, o desenvolvimento do campo de estudos em história dos esportes esteve atrelado, desde o início, à pesquisa em imprensa. Não raro, propiciando um profícuo espaço de trocas entre história, jornalismo e comunicação social.
Contudo – apesar de notáveis exceções –, essas pesquisas tendiam a desprezar, de início, as peculiaridades das fontes jornalísticas. Selecionando textos em separado, pouco atentas às posturas editoriais dos periódicos ou com o cotidiano das redações e suas disputas internas de poder, que, entre outras coisas, delineiam os limites da enunciação de um discurso. As pesquisas terminavam por limitar suas potencialidades, como resultado dos descuidos metodológicos.
Com o amadurecimento do campo de estudos, novas questões estão postas, dentre elas, aquelas respectivas à singularidade das fontes de imprensa. Em especial, quanto ao seu particular estatuto de fonte/ objeto. À luz dessas considerações, recebemos com entusiasmo a coletânea O Esporte na Imprensa e a Imprensa Esportiva no Brasil, que tem como organizadores Victor Andrade de Melo e Bernardo Borges Buarque de Hollanda, dois renomados historiadores do esporte, detentores de obras referenciais no interior desse campo de estudos.
O livro está alojado na Coleção Visão de Campo, da editora 7Letras, que reúne outras obras dedicadas à história do esporte. Sua proposta de resgatar as experiências de alguns dos principais periódicos esportivos brasileiros durante o século XX, surge em boa hora. Tomada como um todo, a obra converte-se em instigante ponto de partida para a reflexão sobre as múltiplas formas de olhar para os impressos enquanto fontes e objeto de estudo, tornando-se, assim, um eficaz convite à pesquisa. Talvez seja esse seu principal mérito, pois, ao iluminar pontos específicos, dá-nos a dimensão da escuridão e das inúmeras possibilidades de pesquisa em história dos esportes.
Já no título do prefácio, escrito por Ronaldo Helal, deparamonos com uma pergunta inquietante: O esporte na imprensa ou a imprensa no esporte? Resgatando um dos questionamentos levantados por Victor Andrade de Melo no primeiro capítulo da coletânea, Helal identifica um dos pontos nevrálgicos da obra, qual seja, a relação dialética en tre esporte e imprensa. De fato, tanto o esporte quanto a imprensa, caminharam de mãos atadas no decorrer do século XX, autonutrindo-se como campos em constante interpenetração.
Pensar a imprensa de “corpo inteiro”, esse seria o objetivo da obra, afirmam Victor Andrade de Melo e Bernardo Borges Buarque de Hollanda na apresentação da coletânea. Para os autores, haveria uma lacuna quanto à imprensa esportiva, no hall de obras dedicadas à história da imprensa brasileira. Isso não seria fortuito, a imagem do leitor de esportes como alguém de baixo poder aquisitivo e estreita capacidade intelectual, teriam corroborado no sentido de rebaixar esse segmento da imprensa como uma vertente de menor valor para o entendimento da sociedade brasileira e das representações acerca da nação. Seria necessário resgatar os periódicos esportivos enquanto atores sociais, objetos de análise em toda sua complexidade, agentes na edificação de imaginários acerca da nação. Eis, em linhas gerais, a proposta do livro.
Em Causa e Consequência: esporte e imprensa no Rio de Janeiro do século XIX e década inicial do século XX, Victor Andrade de Melo debruça-se sobre os primórdios do esporte e sua inserção na imprensa carioca.
Neste capítulo, o autor chama a atenção para as múltiplas relações estabelecidas entre os esportistas e a imprensa, indicando o papel de mediador ocupado por esses periódicos, entre as agremiações e o grande público. Aqui, a imprensa é compreendida enquanto protagonista no processo de construção de sentidos e significados no entorno da prática esportiva. Sendo a construção desses sentidos e significados, o resultado das mediações estabelecidas entre os interesses do periódico, dos jornalistas e do que estes consideravam como “interesse público” (normalmente o interesse de pequenos setores sociais).
Em seguida, Luiz Henrique de Toledo analisa um dos mais importantes periódicos esportivos paulistanos, em: A cidade e o jornal: a Gazeta Esportiva e os sentidos da modernidade na São Paulo da primeira metade do século XX. Enfatizando o período em que Gazeta Esportiva era apenas um suplemento do jornal A Gazeta, Toledo desvela uma série de representações sobre o processo de metropolização de São Paulo e os sentidos atribuídos à cidade nesse suplemento. Com seu libera lismo paulistanista, o periódico desenvolve uma linguagem bairrista, empregando sentidos específicos à prática do futebol em São Paulo, especialmente no que se refere à sua relação com a ética do trabalho, sustentando, assim, no ambiente esportivo, uma série de autorrepresentações difundidas acerca da cidade, na primeira metade do século XX.
Bernardo Buarque de Hollanda, em O cor-de-rosa: ascensão, hegemonia e queda do Jornal dos Sports entre 1930 e 1980, opta por uma visão panorâmica da trajetória do Jornal dos Sports, tomando como eixo cronológico a participação de Mario Filho na publicação. Contudo, o objetivo não é reiterar as mitologias construídas em torno do cronista, ao contrário, Hollanda apresenta um Mario Filho distinto, cercado por diversos outros cronistas que, como ele, frequentavam os círculos do poder, contribuindo para o estreitamento dos víncu los desse periódico com as instâncias políticas e a administração esportiva.
Um dos méritos do artigo é, sem dúvida, apresentar um JS para além de Mario Filho. O periódico esportivo do grupo Bloch Editores é o tema de André Alexandre Guimarães Couto em, O discurso pela imagem: Manchete Esportiva e sua proposta fotojornalística (1955-1959 e 1977-1979).
Abarcando dois períodos distintos de circulação da revista, o autor analisa com cuidado o enfoque que o semanário dava às imagens, inspiração herdade da revista Manchete, carro chefe do grupo Bloch.
Para tanto, Couto adentra às estruturas da revista, percorrendo desde sua equipe de fotógrafos e cronistas até sua estrutura editorial e os enfoques da publicação. O cuidado com a técnica e o protagonismo legado às imagens, encontram-se em sincronia com os discursos sobre “modernização” do país, difundidos naqueles períodos.
Álvaro do Cabo, em Um raio-x da Revista do Esporte, dedica-se à análise panorâmica de diversas colunas deste semanário. Criada nos anos 1960, em meio a um período de grande efervescência no esporte nacional, a Revista do Esporte aposta no sensacionalismo de suas coberturas, dando grande ênfase à vida privada dos atletas – principalmente os futebolistas –, em consonância com a proposta editorial de outro semanário, a Revista do Rádio. Assim como André Couto, Álvaro do Cabo chama-nos a atenção para as trocas estabelecidas entre a imprensa esportiva e outros segmentos da imprensa. Relação fundamental para a compreensão das opções editoriais de alguns periódicos.
Criada em meio às restrições impostas pela censura, a revista Placar é o tema de João Malaia, que foca os primeiros instantes desta publicação em, Placar: 1970. O recorte temporal reduzido possibilitou ao autor verticalizar sua análise, revisitando temas ainda presentes em nossa memória histórica do futebol. É o caso dos posicionamentos da revista a respeito da demissão de João Saldanha, analisada por meio das crônicas de Hamilton de Almeida, das charges de Henfil, das declarações do próprio Saldanha ou das composições imagé ticas do semanário. Compreendendo tanto aspectos de contestação quanto de apoio ao regime, o autor defende a importância de estudar a imprensa esportiva em regimes de exceção. A dupla licença da qual gozavam esses periódicos, a esportiva e a humorística, abria o espaço necessário para a crítica, todavia, essa crítica sempre vinha mesclada às necessidades ou opções de alinhamento, como bem pontua Malaia em sua análise sobre a publicidade nesses periódicos.
Em Juventude em revista: surfe e Fluir, Rafael Fortes segue com as reflexões que desenvolve desde sua tese de doutoramento. Atribuindo grande atenção à cultura jovem na década de 1980, Fortes contextualiza a revista Fluir no interior de uma gama de produtos culturais – novelas, seriados, filmes, programas de rádio, moda etc.
– que passavam a identificar no público jovem um mercado consumidor lucrativo, abrindo, assim, espaço considerável aos esportes radicais, dentre eles o surfe. Com habilidade, Fortes demonstra o papel ativo de Fluir na institucionalização e profissionalização do surfe, seja em suas publicações, enfocando as viagens e os campeonatos em detrimento da prática cotidiana do surfe, seja em sua atuação junto às entidades especializadas ou cobrando dos atletas uma postura “profissional”, afim de dissociar o surfe de imagens depreciativas, como o uso de drogas e o localismo.
Por fim, Mauricio Stycer escreve sobre a trajetória do diário Lance! em, Lance! um jornal do seu tempo. Inspirado em periódicos de outros países, como o espanhol Marca e o argentino Olé, Lance! propunha uma nova forma de jornalismo esportivo, um jornal “pra cima”, escrito na linguagem do torcedor. Fruto das mudanças experimentadas pelo futebol na década de 1980, Lance! é o primeiro projeto de mídia financiado exclusivamente por investidores profissionais. Dando maior importância aos aspectos gráficos que ao conteúdo, o periódico fora idealizado tendo como público alvo o torcedor-consumidor, figura central do futebol-empresa. Com escrita apurada, Stycer reconstitui os embates travados no interior da redação para delimitar os princípios editoriais do novo impresso.
Antes de mais nada, Lance! é tratado aqui como a expressão no jornalismo esportivo, dos novos ares que invadiam o futebol.
O caráter coletivo da obra e a diversidade dos autores – alguns historiadores, outros sociólogos, antropólogos, jornalistas etc. – imprimem no livro uma pluralidade de abordagens e enfoques, ganhando na multiplicidade dos olhares e perdendo quanto à coesão e unidade da coletânea. Todavia, mesmo que com níveis distintos de qualidade e profundidade, os autores dão conta da proposta inicial do livro. Aliás, o próprio sucesso na empreitada dá-nos a condição de identificar lacunas e advoga pelo surgimento de novos projetos como esse.
Uma das principais lacunas diz respeito à espacialidade desses periódicos. Compreendemos a opção por veículos de pretensão e alcance nacional, contudo a repetida seleção de periódicos situados no Rio de Janeiro ou em São Paulo pouco contribui para o conhecimento das distintas formas de apropriação e ação da imprensa no interior do campo esportivo. De fato, ao fazê-lo, corre-se o risco de voltar ao óbvio, mesmo que por caminhos distintos dos traçados pelos antigos memorialistas. Outra lacuna, dessa vez temática, incide sobre a supremacia do futebol masculino profissional nas abordagens. Justiça seja feita, quase todos os autores dão algum espaço para outras modalidades ou diferentes formas de apropriação do futebol. Contudo, excetuando alguns capítulos, o peso das análises é deveras desigual. Compreendemos que o fato está ligado às opções editoriais dos próprios periódicos analisados e que os limites do capítulo exigem recortes. Entretanto, a inclusão de órgão específicos, como feito com Fluir, agregaria na compreensão das relações entre im prensa e esporte no Brasil.
A título de conclusão, O Esporte na Imprensa e a Imprensa Esportiva no Brasil é leitura recomendada para todos os interessados em história dos esportes ou história da imprensa no Brasil. Como dito anteriormente, a qualidade da obra instiga-nos a projetar futuros trabalhos.
Sem dúvida, como demonstraram Bernardo Buarque de Hollanda e Victor Andrade de Melo, é possível pensarmos em coletâneas específicas sobre outras mídias ou produções culturais. Desse modo, o papel dos programas de rádio, televisão, as especificidades da internet, a inserção dos esportes nas telenovelas, as questões respectivas à recepção dessas informações. Enfim, ao cumprirem com louvor sua proposta, os autores terminam por estimular novos estudos, temática e abordagens, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento dos estudos em história dos esportes.
André Mendes Capraro – Professor do Programa de Pós-Graduação em História e do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. E-mail: andrecapraro@onda.com.br.
Jhonatan Uewerton Souza – Mestrando do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná. E-mail: jhonatanusouza@gmail.com.
Contested territory: mapping Peru in the sixteenth and seventeenth centuries – SCOTT (AN)
SCOTT, Heidi V. Contested territory: mapping Peru in the sixteenth and seventeenth centuries. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009. 256p. Resenha de: LA JOUSSELANDIÈRE, Victor Santos Vigneron de. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 339-346, jul. 2013.
Mesmo que recebida com bons olhos pela maior parte dos pesquisadores, a perspectiva interdisciplinar ainda tem um longo caminho até se tornar uma prática recorrente. Por si só, essa consta tação justifica o interesse de Contested territory: mapping Peru in the sixteenth and seventeenth centuries. Nesse livro, Heidi Scott amplia os horizontes da pesquisa peruanista ao trabalhar no limiar entre História e Geografia, tomando por objeto a própria paisagem descrita pelos cronistas. Contudo, deter-se na valia dessa perspectiva em nada ajudaria a ultra passar as generalidades muitas vezes evocadas quando se fala em interdisciplinaridade.
Ora, essa opção engendra na obra em questão uma série de consequências analíticas, não apenas no que toca ao tema específico da colonização, mas ainda no que diz respeito à própria relação entre teoria e História. É certo que o livro de Scott encontra uma imagem mais orgânica, indistinta mesmo, entre tais temas; dividi-los, contudo, permite compreender o alcance de sua aventura por limites acadê micos tão pouco frequentados. Os impasses daí resultantes não deixam de ser uma das riquezas desse gesto.
No primeiro capítulo, Landscape and the Spanish Conquest of Peru, a autora anuncia os delineamentos básicos que darão forma às análises realizadas ao longo do trabalho. Em última instância, são essas considerações que dão coesão a uma obra estruturada por capítulos autônomos em seus temas e recortes. O principal elemento comum emerge em torno do conceito de “paisagem” (SCOTT, 2009, p. 1-15).
Segundo a autora, não se trata de reconstituir os traços dos “espaços reais” atravessados e narrados pelos cronistas, mas de atentar ao processo mesmo de “produção da familiaridade”, que os torna cognoscíveis e passíveis de descrição. A sugestão já foi desenvolvida por autores clássicos, como Edmundo O’Gorman e John Elliott (O’GORMANN, 1992; ELLIOTT, 1984, p. 9-40). Contudo, o que particulariza a análise de Scott é a ênfase dada à agência indígena nesse processo de cons trução simbólica da paisagem. A autora não deixa, aliás, de iniciar seu livro com uma crítica a Elliott, que teria dado um tom excessivamente europeu à produção da familiaridade descritiva (SCOTT, 2009, p. 1-5). A crítica a Elliott pode ser tomada como chave de leitura para o restante da obra, pois o que está em questão não é apenas uma discordância no que toca à participação indígena no processo de construção da paisagem, mas sim o próprio conceito de “colonização”. O tom hispanista adotado por aquele historiador seria apenas a manifestação de um diagnóstico mais fundamental a respeito da própria presença europeia na América. Scott argumenta que o termo se presta a uma definição demasiado uniforme da realidade americana sob a presença europeia. No que diz respeito à discussão com Elliott, procura demonstrar que sua leitura hispanista da produção da paisagem tornaria homogêneas as relações de força que não o são, não apenas no contexto peruano, mas nos variados contextos coloniais americanos na primeira Idade Moderna. O exercício historiográfico empreendido nos cinco capítulos seguintes aten de, em última ins tância, a essa preocupação no que diz respeito aos conceitos e às explicações unificadoras consagradas.
A partir do capítulo dois, Scott parte para a empiria com o fito de atestar o desvalor do conceito de “colonização”. Para tanto, a autora volta sua atenção para os momentos mais decisivos do processo de instituição do domínio castelhano no Peru. O segundo capítulo, Beyond textuality. Landscape, embodiment, and native agency, inicia esse percurso ao tratar da conquista. Perceba-se que o argumento ganha tanto mais força quanto se trata de uma primeira geração de cronistas, cuja relação com os índios peruanos, a princípio, seria superficial quando comparada com a interação existente décadas mais tarde. Esse é, por exemplo, o fundamento da periodização proposta por Franklin Pease para as crônicas andinas (PEASE, 1995, p. 15-63). Ora, acompanhar a narrativa da conquista elaborada por Nicolás de Ribera ou ainda a clássica descrição dos acontecimentos dada por Pedro Cieza de León é um recurso estratégico da autora. Se analisado em perspectiva com documentos produzidos por outras fontes, como as petições feitas ao rei pelos curacas de Jauja, esse discurso da conquista emerge como fruto de uma “experiência paisagística” mediada pelos índios (SCOTT, 2009, p. 26-36). Por um lado, a existência de uma descrição menos “literal” da paisagem por parte dos espanhóis seria fruto da rede de proteção que se interporia entre esses e a “paisagem real”. Por outro lado, esta contaria com elementos compatíveis com o acervo cognitivo europeu tendo em vista as intervenções promovidas no espaço pelos Incas, fato que teria possibilitado a localização da conquista numa “paisagem familiar” (SCOTT, 2009, p. 36-42).
Se de fato essa discussão tem por objetivo deslocar o hispanismo um tanto esquemático de Elliott, trata-se ainda de uma crítica voltada contra outra importante explicação unificadora para o período colonial peruano. Também a “história dos vencidos” é evocada por Scott por conta de seu, digamos, “excesso conceitual”. Para tanto, elege-se como interlocutor Nathan Wachtel, importante referência desse modelo explicativo que adquiriu força em meados do século XX. Se por um lado concorda em investir ao índio um papel central nas suas análises, Scott discorda do caráter “traumático” atribuído por Wachtel à conquista (WACHTEL, 1977, p. 55-64). Ao procurar relativizar a ruptura provocada por esse acontecimento, a autora tende a contrapor o caráter “negociado” da presença espanhola à “desestruturação” por este sustentada. Contrária à concepção negativista embutida no epíteto “vencidos”, Scott propõe compreender o caráter positivo da agência indígena na constituição de uma nova “experiência paisagística” no Novo Mundo.
O último item desse segundo capítulo anuncia uma das tônicas dos capítulos subsequentes. Ao mencionar as transformações ocorridas após o período da conquista, com a emergência de uma “paisagem colonial”, a autora retorna para a discussão acerca da colonização com respeito a outro de seus momentos definidores, inaugurado com a “pacificação” dos vecinos por La Gasca, em 1548 (SCOTT, 2009, p. 42-48). A partir, portanto, do terceiro capítulo, Landscapes of resistance? Peru’s ‘Relaciones geográficas’, o conceito é agora questionado justamente onde ele parecia mais apropriado. Mais especificamente, trata-se de inventariar os limites postos ao projeto de produção de cidades espanholas, isto é, de intervenção colonial na paisagem americana. Note-se que essa proposta analítica se pretende válida para uma década tão significativa quanto a de 1570, em que as incertezas quanto ao futuro da região teriam sido suplantadas pelas reformas centralizadoras do vice-rei Francisco de Toledo, funcionário talhado à imagem e semelhança de Felipe II (LOHMANN VILLENA, 1967). E o campo escolhido para tanto dificilmente poderia ser mais significativo que as Relaciones geográficas.
É nesse conjunto de informes solicitados aos funcionários reais em toda a América que Scott pretende descobrir as marcas da agência local. À primeira vista, seria corroborada aquela visão “tradicional”, notando-se a marca da política de Toledo na redução dos índios dispersos, levando à sua desvinculação da paisagem, ao mesmo tempo em que tinha lugar a “extirpação” de uma toponímia e uma geografia idolátricas. Contudo, esse mesmo tema permite à autora questionar o enquadramento binário, reputado a autores como Wachtel, que divi de as posições possíveis na sociedade colonial a dominantes e vencidos.
À diferença dessa perspectiva, Scott observa a intimidade dessas posições, havendo antes uma interpenetração de elementos culturais na constituição de algo novo. Isso seria corroborado pela Relación enviada pelo corregedor de Jauja, que permitiria observar os vaivéns dos huancas perante as instituições castelhanas, privilegiadamente emblematizadas na figura do ladino Felipe de Guacra Paucar (SCOTT, 2009, p. 60-69). Mas o que o caso particular dos huancas de Jauja sugere são as restrições generalizadas à política de reduções. Aliás, isso não se deveu apenas à obstinada mobilidade indígena, mas também à resistência oposta a esse plano por parte de muitas autoridades espanholas (SCOTT, 2009, p. 69-74). Seu interesse pessoal, imediato e concreto, muitas vezes obstaria qualquer “projeto colonial”, distante e abstrato.
O capítulo seguinte, The mobile landscapes of Huarochirí, deparase com outro contexto fundamental à afirmação da colonização peruana, tendo um papel significativo na política de “extirpação de idolatrias”, ali iniciada por Francisco de Ávila em 1610. Contudo, aquilo que poderia representar a consolidação do projeto evangelizador é lido sob outra perspectiva por Scott. Assim como a política civil de redução não teria deitado raízes, também sua equivalente eclesiástica, a paróquia, não teria impedido a mobilidade indígena (SCOTT, 2009, p. 75-107). Da mesma forma os corregedores estariam entre os principais obstáculos à política colonial, a evangelização seria atravessada pelos mais variados interesses: curas de paróquia, jesuítas, índios e funcionários reais conformariam um panorama impossível de ser reduzido a um núcleo conceitual. É particularmente interessante para a argumentação da autora a contraposição entre a exemplar Relación geográfica produzida pelo corregedor local e as formulações contidas no Manuscrito de Huarochirí (SCOTT, 2009, p. 90-98). Se aquela pode dar a ideia de uma execução zelosa das orientações filipinas, este revelaria a superficialidade da disrupção (do “trauma”) operada pelos espanhóis em seu combate à geografia idolátrica. A própria ação extirpadora é colocada em tela por Scott, que sublinha as contradições nesse processo, tendo em vista os interesses múltiplos representados pelos curas, pelos extirpadores e pelos índios. Essa situação teria dado ensejo mesmo a um estranhamento crescente perante a paisagem, narrada pelos religiosos de modo a tematizar a resistência do terreno ao conhecimento de suas propriedades idolátricas. Nada mais distante, enfim, da progressiva penetração das instituições coloniais, inclusive sob seu braço eclesiástico, no interior peruano.
Os dois últimos capítulos, Negotiating Amazonia e Contested fron tiers and the Amazon/Andes divide, possuem o interesse adicional de versarem sobre regiões pouco analisadas pela historiografia, a fronteira amazônica do vice-reino. O percurso analítico adotado no livro é conhecido: Scott parte da crítica à explicação historiográfica consagrada que associa o tema amazônico às representações edênicas. A esse respeito, o capítulo quinto retoma a significativa trajetória de Juan Recio de León para aferir até que ponto a paisagem da Amazônia boliviana teria sido objeto de uma intricada negociação. Ao analisar essa personagem, percebe-se que o próprio tema edênico é antes um “recurso discursivo” à disposição dos cronistas para defender seus interesses pessoais. Com essa constatação é possível compreender a construção da paisagem local enquanto “espaço de oportunismo”, expressão empregada por Scott em um de seus subtítulos (SCOTT, 2009, p. 111). Nesses quadros, a trajetória turbulenta de Recio de León apresenta as várias estratégias discursivas que esse ator adota, uma a uma, a depender do momento em que se encontra, jogando com as conveniências: a vantagem da conquista, seu papel missionário, a riqueza prometida pela região, os riscos representados por estrangeiros que frequentam o lugar, a possibilidade do transporte de prata pelo Amazonas, de ampliação da mão de obra indígena em Potosi.
Não deixa de ser irônico, ou melhor, significativo, que Madri seja o lugar por excelência onde essa variedade de argumentos poderia ter lugar. O volume de informações que ali chegavam e a impossibilidade de confirmação direta caracterizariam o espaço de onde, supostamente, irradiariam as diretrizes colonizadoras (SCOTT, 2009, p. 124-131). Ao mesmo tempo, trata-se de combater a visão dualista que opõe o espaço andino àquele amazônico, fato que não é indiferente a uma apropriação da própria visão incaica (SCOTT, 2009, p. 133-136). Tal intento é realizado principalmente no capítulo sexto, em que são apresentados os diversos projetos que sublinharam a possibilidade de investir na região. Possibilidade essa, destaque-se, aventada contra as expectativas da administração castelhana.
A essa altura cabe indagar-se sobre a articulação entre o encaminhamento metodológico proposto pela autora e seus resultados historiográficos. É possível perceber que toda a narrativa empreendida por Scott parte de uma posição nominalista com relação às explicações ou conceitos unificadores. Um a um, “colonização”, dualidade entre “vencedores” e “vencidos”, ruptura da conquista ou impermeabilidade da fronteira são questionados por sua incapacidade de dar conta do “real”. Lembre-se a esse respeito, que a autora não deixa de mencionar a “paisagem real” ao lado do “discurso” sobre a paisagem (SCOTT, 2009, p. 1-15). Em certa medida, portanto, o conceito encontrar-se-ia em “excesso” diante da empiria. Pelo contrário, a profusão de interesses pessoais marcaria um cenário que apenas poderia ser definido como “complexo”. Deve estar claro a essa altura que o gesto negativo empregado por Scott com relação à historiografia possui sua contraparte: a complexidade é complementada pela ênfase na ação individual (a “agência” indígena, a busca de interesses pessoais, os “espaços de oportunismo”). Fato que não é estranho ao próprio conceito de “paisagem” empregado pela autora, que recusa o distanciamento entre visão e escrita e enfatiza uma abordagem multissensorial e totaliza a experiência do meio pelo sujeito.
A “negociação” a que o discurso sobre a paisagem está submetido incorpora, por conseguinte, a própria dimensão corpórea.
Sem negar a riqueza de possibilidades assim aberta, há de se questionar a validade intersubjetiva de uma perspectiva que contrapõe as múltiplas experiências sensíveis ao trabalho do conceito.
Este não deveria encontrar sua determinação na empiria, na experiência corpórea? Longe de ser uma questão estritamente teórica, trata-se de uma dúvida que remete a alguns impasses da obra de Scott. Isso porque ao colocar lado a lado “discurso sobre a paisagem” e “paisagem real” (assim como a intervenção indígena correspondente a esses dois campos) a autora afirma a vigência do conceitual, do simbólico. Nesses termos, o conceito de “complexidade” joga um papel estratégico, sem o qual seria impossível à própria autora construir seu discurso historiográfico. Essas questões ajudam a compreender alguns dos limites da crítica feita, por exemplo, ao conceito de “trauma”, em seu uso dado por Wachtel. Se é inquestionável que este autor não aferiu de maneira correta as fundamentais continuidades demonstradas por Scott, esta tampouco considerou o fato de “trauma” supor uma relação (necessariamente prenhe de mediações) entre estrutura e acontecimento. Desse ponto de vista, é possível sustentar, ainda que numa conformação distinta daquela pretendida por Wachtel, uma experiência traumática da conquista. Da necessidade assim constatada de conjugar experiência subjetiva e operação historiográfica intersubjetiva nota-se, por fim, que, ao centrarse excessivamente no polo individual, a autora de Contested territory deu-se com uma definição oportunista do poder, que não é compreendido como relação, e sim como predicado. Nessa redução conceitual reside muito da impugnação avançada contra o conceito de “colonização”.
Referências
ELLIOTT, John H. O Velho Mundo e o Novo: 1492-1650. Lisboa: Querco, 1984.
LOHMANN VILLENA, Guillermo. Étude préliminaire. In: MATIENZO, Juan de. Gobierno del Perú (1567). Lima/Paris: IFEA, 1967. p. I-LXIX.
O’GORMAN, Edmundo. A invenção da América: refl exão a respeito da estrutura histórica do Novo Mundo e do sentido do seu devir. São Paulo: Unesp, 1992.
PEASE G. Y., Franklin. Las crónicas y los Andes. Lima: PUCP/FCE, 1995.
SCOTT, Heidi V. Contested territory: mapping Peru in the sixteenth and seventeenth centuries. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009.
WACHTEL, Nathan. La vision des vaincus: les indiens du Pérou devant la conquête espagnole, 1530-1570. Paris: Gallimard, 1977.
Victor Santos Vigneron de La Jousselandière – Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (2008) e mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo (2012). Atualmente é professor de história da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea. E-mail: victorvig@gmail.com.
Redes Latino-Americanas / Anos 90 / 2013
O dossiê do número 37 da revista Anos 90 está dedicado às Redes Intelectuais Latino-Americanas e Espaços de Fronteira: ultrapassando o âmbito do Estado Nação. Os autores deste volume fazem parte de um convênio entre o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e os Programas de Pós-Graduação em Letras da Universidade Nacional de Cuyo (UNCUYO), em Mendoza, Argentina, Programas de Pós-Graduação em História da Universidade Nacional de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguai, e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), financiado pelo programa CAPES / MERCOSUL.
A rede pode ser definida como “[…] uma estrutura de laços entre atores de um sistema social… Os seus laços podem basear-se na conversação, afeto, amizade, parentesco, autoridade, troca econômica, troca de informação ou qualquer coisa que constitua a base de uma relação” (NOHRIA; ECCLES, 1992, p. 288). Os autores dos textos que foram selecionados para compor este número da revista Anos 90 estão preocupados justamente em definir relações entre atores em determinado sistema social, seja no âmbito do direito das gentes na época das independências sul-americanas, seja em grupos de mulheres vítimas de violência, grupos ecumênicos, seja entre intelectuais e autores de ficção.
Do ponto de vista intelectual e mais especificamente latino-americano, a preocupação deste grupo de investigadores é ultrapassar o âmbito do Estado-nação, sem perder de vista as especificidades de cada caso. Apesar de diferentes inquietações, relativas às questões particulares de cada país ou região, os problemas que absorvem os intelectuais da América Latina são complexos, densos, de difícil diagnóstico e solução – questões relativas aos direitos humanos, aos direitos civis, às necessárias reformas políticas, à educação, aos sistemas de saúde pública, ao desenvolvimento, à dependência e à preservação das culturas e do patrimônio são apenas algumas das angústias dos intelectuais da região.
A complexidade e a heterogeneidade das preocupações e dos temas que afligem o intelectual da América Latina e do Caribe se vinculam ao problema em como converter assuntos que poderiam ter uma análise apenas nacional em uma interpretação cuja abrangência ultrapasse esses limites.
Até o presente momento, os intelectuais que objetivaram articular as preocupações nacionais com uma agenda latino-americanista, procuraram “romper com a singularidade dos casos”, através da história comparada.
Desde o início da década de 1970, algumas instituições que se dedicam à produção do conhecimento histórico tiveram uma preocupação em promover o encontro de historiadores e cientistas sociais de toda a América Latina para debater temas comuns cujas conclusões / publicações pudessem se converter em sínteses desses assuntos para a história subcontinental.
Mesmo assim, apesar desses esforços, claro está que há um déficit no que diz respeito ao estudo de redes. Nossas tradições acadêmicas estão demasiadas centradas nos cenários nacionais e as redes frequentemente ultrapassam este âmbito. As principais perguntas que se colocam são: de que prisma explicar as redes sem cair em uma análise sociológica que privilegie as classes e os grupos sociais? Quais são as especificidades das redes intelectuais? Até que ponto se pode enfatizar o âmbito privado na constituição e manutenção das redes sem cair em uma história do cotidiano desvinculada dos problemas sociais mais amplos? Qual a relação entre os sujeitos que compõem e as instituições que abrigam as redes? Qual o papel das figuras proeminentes na formação das redes e qual a participação dos que orbitam em torno desta figura? Como enfrentar o tema dos “coletivos” que se constroem em torno destes personagens? Como lidar com a relação entre o espaço público e privado no caso das redes? Qual o papel da circulação de ideias, dos intercâmbios de bens culturais, das viagens, dos espaços descontínuos e dos sujeitos mobilizadores nas redes?
A proposta de elaborar estudos históricos das redes intelectuais, políticas e familiares na América Latina pretende sanar um importante vazio. Continuam sendo escassos os estudos de redes intelectuais dentro do campo da história propriamente dito.
Trata-se, portanto, de questionar, afinal, o que é uma rede e porque estudá-la sob uma perspectiva histórica. A rede, enquanto “formação cultural”, está constituída por um conjunto de indivíduos que estabelecem relações entre si através de um interesse particular: intelectual, literário, político, programático etc., mas que não compartilham, permanentemente, um mesmo espaço, e estão a depender de meios técnicos para formar a comunicação. De modo que se pode anotar como uma característica das redes, a existência de um nexo causal entre desenvolvimento tecnológico e características da rede. Deveríamos falar, neste sentido, de um nexo conceitual conformado pelos termos da tecnologia, da sociedade e das transformações históricas.
Por outro lado, dentro do variado leque de motivações, um dos focos de irradiação de uma rede intelectual pode ser rastreado através dos efeitos do exílio. Assim, cabe mencionar a rede de exilados durante a época de Juan Manuel de Rosas nos países limítrofes, bem como a diáspora dos anos 1970 e 1980 do século XX em grande parte da América Latina, que colaborou para um surto de latino-americanistas, tanto no contexto europeu como latino-americano. As lógicas de vínculo existentes nestes agrupamentos podem ser particularmente percebidas através da participação em determinados órgãos de divulgação periódica, tanto como nos epistolários, autobiografias e memórias. O conjunto que integra estes textos resulta em um acervo de extraordinária eficácia para medir o alcance, a dimensão e eficácia de uma formação que opera em rede.
Diante de uma tradição historiográfica nacional, que opera dentro dos marcos do Estado nação, os supostos teóricos do grupo de investigadores que compõem este grupo visam a superar estas abordagens. A ideia de superar estes marcos nacionais constitui um dos pontos de partida deste volume da revista Anos 90. Não se pretende a escritura de uma nova história intelectual, mas que ela seja repensada através das redes. Uma historia das redes intelectuais, políticas, familiares e outras na América Latina e, particularmente nos espaços de fronteira, abre um conjunto de interrogações em torno do objeto a historiar. A história das redes: é fazer uma reconstituição das mesmas? é fazer uma história de suas práticas? é recriar os contextos dos sistemas de vínculo? Parece prudente em uma primeira aproximação reconhecer a conveniência de que rastrear a história dos contatos culturais se realize partindo das sequências ou dos episódios específicos em que as culturas entram em contato por meio de viagens, exílios, congressos, revistas, traduções etc.
Mais ainda, como a natureza mesma das redes transborda as fronteiras do Estado nação, não é possível admitir homogeneidades neste sentido. Em outros termos, os contatos produzem-se não apenas entre culturas nacionais, mas também regionais e nas fronteiras, nas bordas destas nacionalidades, bem ou mal definidas. Ao precisar os episódios e / ou sequências concretas em que se produzem os contatos, uma categoria teórica de grande potencial interpretativo, em articulação com a de rede pode ser a de sociabilidade. Lugares que favorecem o surgimento de laços configuradores de um relacionamento complexo, o desenvolvimento de vínculos específicos. Neste sentido, tanto associações mais formais (academias, sociedades literárias, centros institucionalizados) quanto locais mais espontâneos (grupos de leitura, cafés, publicações periódicas) conformam uma boa porta de abordagem e compreensão dos modos como se constroem as redes, da mesma forma que as solidariedades, tensões ou conflitos que podem atravessá-las.
Na perspectiva das redes, alguns conceitos, como o de influencia, por exemplo, perdem a eficácia tradicional. Em efeito, os sistemas de vínculo parecem mais propensos a produzir fenômenos de transculturação, do que meras recepções ou influências. Assim, ainda que possam existir e que as influências de fato ainda ocorram, elas devem ser pensadas dentro de outros marcos metodológicos.
Entre os artigos que compõem este volume, estão o de Claudio Maíz, professor da Universidade Nacional de Cuyo. Seu artigo, trata-se de um trabalho teórico e de revisão historiográfica sobre as diferentes formas de sociabilidade intelectual. Maíz aborda a historiografia que se debruçou sobre associações, epistolários, revistas para entender até que ponto esta historiografia ajuda a conformar uma metodologia da rede intelectual para o estudo da elaboração das mesmas.
Ramiro Esteban Zó, igualmente professor na UNCUYO, aborda o tema da literatura comparada para analisar a possibilidade de incorporar esta metodologia às teorias de redes intelectuais, tendo em vista que as interpretações em vigor na literatura comparada estão preocupadas com as inter-relações culturais dentro e fora do continente latino-americano.
Miriam N. Di Gerónimo, pesquisadora e docente na Facultad de Filosofía y Letras da Universidade Nacional de Cuyo, procura reconstruir uma rede feminina latino-americana a partir do microrrelato acerca da violência de gênero. Di Gerónimo permite conhecermos uma rede solidária e social que se estende por vários países da América do Sul através desta cruzada editorial. Seu artigo ajuda a incrementar o suporte analítico de redes e constelações para tratar de um fenômeno literário específico.
Amor Hernandez, doutoranda na UNCUYO, apresenta um artigo que discute as redes intelectuais, abordando especificamente os encontros e as reuniões acadêmicas (congressos, jornadas, seminários, colóquios etc.), como espaços onde se estabelece o conhecimento de novos conceitos, informam-se sobre novos métodos de trabalho, trocam-se experiências de investigação etc. Partindo-se desses espaços, segundo a autora, estabelecem-se redes ativas de intelectuais, a partir dos quais se promove e se consolida o conhecimento sobre temas específicos.
O artigo da professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Maria Medianeira Padoin, apresenta uma síntese histórica sobre a evolução do Direito Natural e das Gentes com o fim de demonstrar a relevância de seu estudo para entender a fundamentação teórica que esteve presente nos processos de formação dos estados nacionais na América e nos discursos de defesa de projetos federalistas. Segundo a autora, o Direito Natural e das Gentes faz um percurso histórico tanto na Europa como na América e constitui como exemplo de circulação de ideias no processo de construção e consolidação do Estado Moderno nos dois continentes.
O artigo do professor Carlos Armani, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), propôs-se a pensar a história intelectual e as redes intelectuais a partir da filosofia da desconstrução, sendo seu objetivo estreitar os laços entre a história intelectual e a filosofia.
Alejandro Paredes, professor da UNCUYO, aborda o Encontro Ecumênico Latino-Americano “Mauricio López”, considerado um ponto de consolidação de um subgrupo no interior da rede ecumênica latino-americana. Esse subgrupo reúne integrantes do Equador, da Argentina e do Brasil. No artigo em questão, Paredes analisou tanto a trajetória de militância de Mauricio López como também o Conselho Latino-Americano de Igrejas (CLAI), que foi a entidade que organizou o encontro.
Todos os artigos, portanto, contribuem para um maior conhecimento teórico e histórico sobre as redes intelectuais e procuram ultrapassar o âmbito nacional para compreender o espaço de sociabilidade e de circulação destes personagens que compõem as redes.
Referência
NOHRIA, Nitin; ECCLES, Robert G. (Eds.). Networks and Organizations: Structure, Form, and Action. Boston: Harvard Business School Press, 1992.
Claudia Wasserman
WASSERMAN, Claudia. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 11-16, jul. 2013 .Acessar publicação original [DR]
Declaração de Independência: uma história global | David Armitage
Publicado originalmente em inglês em 2007 e editado no Brasil em 2011, Declaração de Independência: uma história global, de David Armitage, é um livro bastante original, erudito e prenhe de questões importantes, resultado do empenho de um historiador altamente profissional e cheio de razões para se incomodar com uma tradição historiográfica ainda muito em voga em seu país. Qual seja: a que concebe uma história paroquial, provinciana, muitas vezes até mesmo nacionalista, e que insiste em sustentar uma excepcionalidade da trajetória dos Estados Unidos da América que não apenas costuma ser portadora de uma ideia de superioridade civilizacional, mas que também poucas vezes resiste a um exame sério e minimamente historicizante de muitos de seus conteúdos clássicos. Precisamente dentre estes se encontra a Declaração de Independência de 1776, e que neste livro encontra interpretação bastante diversa.
Dividido em três capítulos, aos quais se segue uma coletânea de declarações de independência ou documentos afins – que, segundo seu autor, se inspiraram direta ou indiretamente naquela que aqui se considera simultaneamente modelo paradigmático e evento fundacional –, o livro de Armitage, desde sua primeira linha, procura uma visão abrangente do fenômeno a ele central: a concepção, a instituição e o espraiamento de um documento supostamente capaz de subsidiar concepções e ações políticas mundo afora e desde então.
O primeiro capítulo, “O mundo da Declaração de Independência” (p.27-56), dedica-se a examinar e iluminar o fato de que o documento de 1776 só fazia sentido por estar direcionado a um sistema de relações internacionais que o explica e que o faz, radicalmente, uma peça “internacional”. O segundo, “A Declaração de Independência no Mundo” (p.57-88), examina recepções e leituras que o mundo de sua própria época realizou do documento, configurando um processo capaz de dotá-lo de uma energia vital a convertê-lo em típico protagonista do que o autor pretende “uma história global”. Finalmente, o capítulo 3, “Um Mundo de Declarações” (p.89-117), indica e organiza uma sequência de declarações que, à luz dos capítulos antecedentes e dos próprios preceitos do livro, surgem em um olhar criativo e, sem sombra de qualquer dúvida, fortemente provocador.
O que seria, então, essa “história global”? Armitage não a define, mas a pratica. Trata-se, então, de um olhar de um historiador que escreve “em um período de aguda consciência da globalização” (p.13); igualmente, de um fenômeno constituído a partir de um ponto preciso, perfeitamente bem definido no tempo e no espaço, e que se espraiaria para tempos e espaços que o transcendem. No presente caso, portanto, essa “história” se originaria com a própria criação dos Estados Unidos da América, e seguiria sua trajetória mundo afora como uma espécie de mundo que esses Estados Unidos criaram. Não se confunde, em nada, com uma história de coisas simultâneas, menos ainda com uma história de todo o globo, mas se define como a história de uma influência que, se impossibilita de qualquer indicação de término – posto que, como o autor pretende, essa influência ainda se fazia presente em 2007 – jamais deve perder de vista seu ponto de origem.
Temos, então, uma “história global” a partir de um ponto de vista anglo-americano, ou norteamericano. Não um ponto de vista que se pretenda relativo, mas objetivo: pois é dele que se parte aquilo que construirá – ou construiu – uma “história global”. E não há nenhuma dúvida de que, daqui para frente, a historiografia deve a Armitage uma forte contribuição para o entendimento de documentos e eventos de grande importância que ganham extraordinária clareza quando vistos desse modo. Deve-se, portanto, endossar parcela das mais importantes conclusões do autor.
Porém, e em parte na contramão desse endosso, pode-se destacar um aspecto central e abrangente do livro de Armitage de modo a dele extrair problema de concepção. Um problema que, creio, deve ser enfrentado por todo aquele que, de diferentes modos, se ocupa atualmente de compreender fenômenos políticos inscritos na conjuntura geral que Armitage identifica como de origem do tema que o interessa, ou que vão ao encontro de muitas outras conjunturas que podem ser identificadas como sucedâneas àquela inicial.
Tal problema é de ordem histórica e teórica ao mesmo tempo; e é por isso que pode-se considerar exemplos extraídos do próprio livro de Armitage, bem como acrescentar algum outro a ele alheio. Por isso, que fique bem claro: não proponho um diálogo puramente bilateral, com uma leitura crítica exclusivamente dessa obra; mas sim aproveitar o que Armitage nos traz para discutir um problema mais amplo, já que de seu labor resultou uma elaboração notavelmente paradigmática.
Enuncio o problema em duas questões: como fundamentar a existência de fenômenos históricos que pretensamente se configuram em uma dinâmica de irradiação temporal e espacial? E como interpretar realidades diacrônicas a partir de supostos impactos e conexões de fenômenos capazes de aproximá-las, e de torná-las uma mesma e ampla realidade? Em suma, questiono a base de configuração de uma unidade histórica – a “história global” – por meio de um corte do tipo do realizado por Armitage, isto é: o advento e a reprodução alterada de declarações de independência a partir da dos Estados Unidos da América de 1776.
Devo repetir que não só reconheço aspectos altamente meritórios da análise de Armitage como simpatizo fortemente com a abrangência temporal e espacial de sua proposta, bem como com o esforço dela decorrente de domínio de bibliografias especializadas voltadas a realidades específicas (embora veja como incômoda a devastadora primazia de obras publicadas em inglês). Bibliografias que a maioria dos historiadores, lamentavelmente, ainda continua a tratar isoladamente. É difícil praticar uma escrita da história verdadeiramente não-nacional, não-provinciana, de larga duração e de escopo global; e não há forma mais adequada de entender o mundo de finais do século XVIII, ou o de começos do XXI.
Por isso, pode-se dizer que o problema que acima destaquei é, em parte, inevitável, pois diz respeito à ideia de que fenômenos como as Declarações de Independência – mas também pensamentos e ações políticas em movimento, as modificações substantivas na composição dos Estados europeus, e a formação dos Estados nacionais delas decorrentes inclusive na América, na África e na Ásia – configuram, em escala mundial, realidades comuns, que precisam ser estudadas em conjunto porque só assim podem ser devidamente compreendidas. E é na ocorrência de uma Declaração e na sua trajetória posterior que Armitage vislumbra uma história digna de ser contada.
Se os elementos que fundamentam esse vislumbrar são eloquentes, menos o é a base de estabelecimento dos nexos que nos permitiriam falar de uma “história das declarações de independência”, ou, para nos mantermos fiéis aos termos do autor, de uma história global “da Declaração de Independência” (de 1776); nexos que fariam dessa(s) história(s) cortes válidos para entender o mundo (ou os mundos) atravessados por ela(s), e por ela(s) parcialmente explicados.
Se há, efetivamente, uma irradiação de um paradigma simultaneamente de concepção e de ação política, com todas as variações que tal paradigma comporte, há algo na ordem de uma escala territorial que não apenas possibilita esse trânsito do paradigma – e, portanto, sua existência como tal – mas também sua suposta capacidade de incidir sobre tempos e espaços variados, embora muitas vezes (nem todos) cronologicamente próximos.
Aqui, retomo outro trabalho de Armitage, elaborado em conjunto com Sanjay Subrahmanyam, e que abre uma interessante coletânea de textos dedicados a manifestações de uma chamada “era das revoluções” em diferentes regiões do globo entre os séculos XVIII e XIX: (The Age of Revolutions in Global Context, 1760-1840, de 2009). Aqui, os autores defendem uma chamada “transitive global history”: isto é, uma história concebida a partir de diferentes pontos equivalentes, sem um centro único, mas que partiria da percepção da ocorrência de fenômenos equivalentes ou semelhantes em todos eles (o que não seria o caso, obviamente, da “história global” da Declaração de 1776 proposta em Declaração de Independência, que arrancaria, sim, de um único ponto). Juntos, Armitage e Subrahmanyam encontram, então, ocasião para reaproveitar uma metáfora anteriormente já utilizada pelo último em parceria com Serge Gruzinski, e que concebe o trabalho desse tal historiador “global” com o de um eletricista, cuja tarefa consistiria em conectar os pontos de uma ligação geral, e que se encontrariam indevidamente desligados.
Inegavelmente, tal metáfora é não apenas inusitada, mas também engenhosa: parece dar conta, por exemplo, da irradiação das declarações de independência, portanto das conexões de um circuito que colocaria 1776 no mesmo caminho de 2007, que levaria a eletricidade do disjuntor dos Estados Unidos da América do século XVIII (o centro de tudo) para, por exemplo, Kossovo e Sudão atuais, passando por um grande número de pontos de distribuição. No entanto, a serventia dessa explicação parece depender estritamente de seus próprios pressupostos. Pergunto: como fundamentar a “conexão”, não entre artefatos de natureza semelhante, como são algumas (repitamos, algumas) das declarações de independência – talvez os fios, os circuitos e as tomadas da metáfora do eletricista – mas entre, por exemplo, declarações de independência e guerras; dinâmicas identitárias e formação de Estados nacionais; mutações conceituais e relações mercantis; formas de pensamento/ação políticas e estruturas cotidianas de existência social? Um livro com um governo, uma batalha com um jornal?
Tomo aqui, evidentemente, exemplos de fenômenos que, nos contextos referidos por Armitage, compõem realidades das quais as declarações de independência são parte, mas parte muito parcial. Não se trata, contudo, de antepor à conexão de coisas semelhantes uma história de todas as coisas; mas sim de questionar a legitimidade de uma escolha em termos de sua capacidade de explicar algo mais do que aquilo que nela está já desde seu princípio. O que escapa a essa história de declarações de independência, mas que parece ser essencial na compreensão de uma história da qual essas declarações são parte importante?
Penso em três casos mencionados por Armitage: a “declaração” do Peru, de 28 de julho de 1821; os eventos relativos ao Brasil, de 07 de setembro de 1822; e o que foi chamado de “Declaração de Independência do Uruguai”, de 25 de agosto de 1825. Ora, o que podemos dizer sobre tais exemplos? Em primeiro lugar, que a “declaração” do Peru foi imposta por um San Martín chefe de um exército invasor, e que pouco tempo duraria no poder do antigo Vice Reino que agora ruía; em segundo, que poucos são os atuais historiadores da independência do Brasil que consideram com seriedade o 7 de setembro como um marco do ano de 1822; e finalmente, que a “declaração” de 1825 não criou um “Uruguai”, menos ainda “independente”. Em todos os casos, no entanto e sem dúvida, alguma intenção, algum padrão comum de ação política; mas o que essas “declarações” explicam efetivamente sobre o fim do Vice Reino do Peru e do Reino do Brasil? São elas comparáveis às dos Estados Unidos e da França, ou às dezesseis de Venezuela e Nova Granada entre 1810 e 1816? Talvez devêssemos isentar Armitage da responsabilidade de discutir, com algum pormenor, todos os casos por ele mencionados, não fosse meu entendimento de que tais distorções são decorrentes de sua própria concepção de “história global”. Afinal, segundo ela, tudo que a ela pertence deve, de algum modo, se adequar a um padrão inicial, definido pelo seu marco irradiador: os Estados Unidos da América.
Aprofundemos tal objeção pontualmente. A edição brasileira de Declaração de Independência, em clara sintonia com propósitos mercadológicos perfeitamente explicáveis (ainda que não necessariamente justificáveis), incluiu, em sequência à coletânea de declarações já mencionada, um “Apêndice” relativo ao Brasil (p.201-214). Dele constam quatro peças: o famoso decreto do governo do príncipe regente Pedro de 03 de junho de 1822, convocando uma assembleia constituinte e legislativa para o Brasil; uma carta do mesmo príncipe (que ainda não era, portanto, “Pedro I”, como consta do livro) ao rei João VI, de 22 de setembro de 1822; a ata de aclamação (aí sim) de Pedro I Imperador do Brasil, de 12 de outubro de 1822; e o tratado assinado em 25 de agosto de 1825, pelo qual Portugal reconheceu formalmente a independência do Brasil. Ora, a que servem tais documentos, neste livro? Nas palavras do autor, como o Brasil, “caso particular na América, não teve uma declaração de independência inspirada naquela dos Estados Unidos”, o que supostamente caracterizaria um “processo sui generis”, tais documentos poderiam estimular “o estudo comparado (de acordo com os objetivos do livro) com os outros processos emancipatórios aqui ilustrados” (p.201). E assim, o que não se adequa ao pressuposto do livro – os Estados Unidos como centro irradiador de uma “história global”, é confinado à categoria de aberração. O que coloca Armitage em perfeita sintonia com um dos tópicos mais tradicionais – e hoje mais contestáveis – da suposta singularidade da história do Brasil no panorama não apenas americano, mas também mundial. O que ganhamos reconduzindo à independência do Brasil essa interpretação tão convencional quanto míope?
O problema aqui se converte no da legitimidade do recorte. Se a “história global” da “Declaração de Independência”, bem como da modalidade indicada por tal expressão no plural, realizada por Armitage é legítima, útil e importante, ela parece servir também para obliterar realidades que apenas enganosamente se enquadram no seu padrão. Pouca coisa se explica do Peru, do Brasil e do Rio da Prata oriental por essas “declarações”; e como exceções à suposta regra, o corte adotado corre o sério risco de incentivar a retirada da cena dos contextos doravante considerados excepcionais.
Na minha leitura, os elementos frágeis da concepção de uma “história global” tal qual praticada por Armitage, assim como seus muitos e inegáveis méritos, demandam um escopo teórico que seja capaz de explicar não apenas quais realidades se conectam, mas fundamentalmente porque elas podem se conectar, e como o fazem. Um escopo teórico que nos permita superar os insolúveis problemas decorrentes da reificação de um método ou de uma concepção “global” de história, da qual Armitage é tributário e, ao mesmo tempo, formulador.
É bem verdade que vivemos tempos não apenas de forte consciência de uma “globalização”, mas igualmente de uma persistente crise de paradigmas teóricos, de perene desprestígio da reflexão teórica, sobrepujada por um empiricismo fácil e sedutor, bem como de pesquisas hipertrofiadas e isoladas, incapazes de propor generalizações (sempre elas, perigosas, temerárias, mas imprescindíveis…). Assim, e na contramão de tais atitudes, o que encontramos em Declarações de Independência já é mais do que o bastante para merecer aplauso; no entanto, não parece o suficiente para assegurar saídas para alguns dos impasses desses tempos.
No cenário historiográfico atual, poucos historiadores pareceriam tão capazes como David Armitage de caminhar nessa direção; de preferência, realizando uma avaliação propositiva da serventia ou não de categorias anteriormente usadas (muitas vezes abusadas) pelas ciências sociais – como, por exemplo, “sistema-mundo”, capitalismo” e “longa-duração”– e que desapareceram quase que por completo nas atuais elaborações em torno de uma “história global”. Basta de imputar ao autor, no entanto, objetivos e interesses que não necessariamente são os dele: limitemo-nos, por fim, a reconhecer Declarações de Independência como uma obra forte, por muitos motivos altamente meritória, e certamente encorajadora de tarefas às quais ela pode, simultaneamente, pautar e servir de ponto de partida.
João Paulo Pimenta – Professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP – São Paulo/Brasil). E-mail: jgarrido@usp.br
ARMITAGE, David. Declaração de Independência: uma história global. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 264p. Resenha de: PIMENTA, João Paulo. O que é uma “história global”? A propósito de um livro de David Armitage. Almanack. Guarulhos, n.6, p.153-157, 2º semestre de 2013.
Acessar publicação original [DR]
Foices e Facões. A Batalha do Jenipapo | Bernardo Aurélio e Caio Oliveira; Dois de Julho: a Bahia na Independência do Brasil | Maurício Pestana
A leitura em conjunto e a comparação entre as obras de Bernardo Aurélio e Caio Oliveira e de Maurício Pestana levantam, de forma enfática, a questão da adaptação da historiografia brasileira para uma linguagem ainda pouco convencional na abordagem da história da Independência do Brasil: a das Histórias em Quadrinhos. Ambas possuem propostas semelhantes, ou seja, enaltecer, preservar e trazer à tona episódios de lutas locais ocorridos durante o processo de Independência – o ‘Dois de Julho baiano’ e a piauiense ‘Batalha do Jenipapo’ –, com pouca afirmação no imaginário histórico fora de seus estados de origem. Os governos dos dois estados figuram nas duas produções, tendo a Secretaria da Cultura baiana publicado e editado Dois de Julho: A Bahia na Independência do Brasil, e a Fundação Cultural do Estado Piauí patrocinado Foices e Facões. A Batalha do Jenipapo. Neste último, inclusive, há um prefácio de Wellington Dias, governador do Piauí à época do lançamento. No entanto, enquanto em Dois de Julho percebe-se a intenção de uma leitura rápida e de extremo didatismo, Foices e Facões se destaca como um trabalho mais denso e de liberdade autoral.
Esse tipo de adaptação não é algo novo. Da Colônia ao Império – um Brasil para inglês ver (1983), de Lilia Schwarcz em parceria com o cartunista Miguel Paiva, se tornou obra referencial neste campo. Mais recentemente, Schwarcz voltou a explorar essa linguagem em D. João carioca: a corte portuguesa chega ao Brasil (2008), em colaboração com o ilustrador Spacca, e em História do Brasil em Quadrinhos: chegada da Família Real – Dia do Fico – Independência (2008), roteirizada por Jota Silvestre e Edson Rossato, e ilustrada por Laudo, a Independência foi novamente quadrinizada. Evidente que propostas, formas e conteúdos diferem bastante de uma obra acadêmica para um enredo de HQ. Este último, geralmente, tende a enfocar essencialmente tramas e conflitos entre personagens, situando o seu desenvolvimento em um tempo curto, como o dos eventos. Uma narrativa dramatizada baseada em indivíduos. Algo que na ciência histórica se assemelha a mais tradicional história política em sua roupagem oitocentista. O rigor científico tende a ser muito menor, havendo bastante liberdade criativa na construção de um enredo funcional, compromisso primordial da HQ.
No entanto, essa linguagem, caracteristicamente mais artística e ficcional, não deve ser tida como completamente descompassada e incongruente com a produção acadêmica. É possível constatar, numa aparentemente descompromissada dramatização em quadrinhos, maneiras de expor ou levar o leitor a intuir sobre questões atuais na historiografia, havendo assim um potencial de divulgação considerável nesse tipo de adaptação. Vale a pena, portanto, uma discussão acerca das soluções narrativas utilizadas pelos autores para a adaptação de conteúdos mais frequentemente trabalhados pela historiografia, neste caso, a Independência.
Em Dois de Julho, Maurício Pestana – jornalista e cartunista – desenvolve sua obra em trinta e quatro páginas, o que sugere certa compactação do conteúdo quando comparada com as mais de duzentas páginas de Foices e Facões, produzidas pelo roteirista – e também historiador – Bernardo Aurélio e pelo desenhista Caio Oliveira. A solução narrativa apresentada por Pestana consiste na utilização de uma personagem narradora, a garota Hamalli, como interlocutora entre os eventos passados e o leitor. Dessa maneira, existem duas linhas temporais distintas na obra: o presente, onde a presença e voz de Hamalli norteiam e expõem os acontecimentos que culminam no ‘Dois de Julho’ baiano, sobreposto ao passado mudo das ilustrações, que servem como acessório ao discurso da narradora. Em outras palavras, um passado condensado por um discurso sintético do presente.
Não se trata de um recurso original, podendo ser identificado em outros títulos, como, por exemplo, na obra de Silvestre e Rossato, acima mencionada. O problema desse expediente é afastar o leitor da visão do passado como um processo dinâmico, múltiplo em suas possibilidades e em constante (re)construção. De fato, acaba por apresentar o objeto histórico em quadros fixos e estáticos, cuja única função é ilustrar e confirmar o que a personagem do presente, portanto, extemporânea ao passado histórico, tem a dizer sobre ele.
Logo, na obra de Pestana, o passado é absolutamente imóvel, determinado e obedece a um devir inevitável, encapsulado nesses quadros estáticos, sem maior espaço para apresentar mais e diversas nuances de si mesmo. A própria característica sequencial dos quadrinhos se torna pouco efetiva, pois a única continuidade de ação é a da fala narradora, que ambientada fora das ilustrações do passado histórico, deixam estas últimas como uma espécie de fotografias colocadas em série, mas sem maiores progressões de ação quadro a quadro. Configura-se, assim, um objeto histórico mudo, apresentado em flashes fixos, paralisados, recortados de seu contexto e mais aprisionados pelos enquadramentos do que se utilizando deles para se desenvolver.
De maneira oposta, Aurélio e Oliveira aproveitam as duas centenas de páginas para deixar a trama – o passado – , se construir por si, sem a intervenção e tutela de uma linha temporal do presente. Não há uma diretriz extemporânea para determinar o desenvolvimento da ação, sendo sintomático como essa liberdade concedida ao passado, que se constrói através de um roteiro mais denso, resulta em maior sofisticação tanto no enredo quanto no conteúdo histórico exposto.
Foices e Facões, além de dar voz aos personagens – alguns históricos outros ficcionais –, apresenta tramas que se desenvolvem concomitantemente, em diferentes núcleos, de forma semelhante a uma novela. Isso permite, por exemplo, uma maior aproximação da ‘Batalha do Jenipapo’ com a mais conhecida progressão de eventos do centro-sul, cujo ápice é tradicionalmente visto como sendo o grito de D. Pedro. Os dois eventos são alinhados no início da história, dando uma ideia de complementaridade entre eles. Ao contrário, a rigidez narrativa de Dois de Julho lida de maneira mais conflituosa com os eventos mais próximos à Corte. Não há representação gráfica do grito, cujas menções diretas são reduzidas a passagens textuais. “Um campo de batalha. Mortos, feridos e muita desolação. Bem diferente da cena de um imperador gritando ‘Independência ou morte’…O cenário da guerra foi Salvador. Vésperas do 2 de julho de 1823, quando o Brasil ficou, de fato, independente de Portugal” (p.5). Nota-se na passagem a oposição entre as duas datas, como em uma disputa para determinar qual é a mais exata ou significativa para demarcar a Independência em perspectiva nacional. E não se torna forçoso extrair daí um ufanismo regionalista, deslocando a primazia do cenário do Centro-Sul, mas apenas para substituí-la pelo Nordeste. Se há na historiografia acadêmica obras que privilegiam espacialmente os arredores da Corte, estabelecendo um elo direto entre, por exemplo, a Inconfidência Mineira e o 7 de setembro, que muitos historiadores das últimas décadas vêm evitado explicitamente, de forma análoga aqui temos que, para Pestana,
Lembrar o 2 de julho, dia da Independência da Bahia, de fato, é trazer de volta a maior vitória do povo brasileiro e pouco estudada fora da Bahia, mesmo sendo a data de fato da Independência do Brasil, uma batalha vencida por negros, indígenas e brancos que antes mesmo do início dos conflitos já tinham histórico de luta por liberdade. É só analisarmos rebeliões de negros (escravos, libertos e livres), que em 1798, aliando-se também a brancos liberais inspirados na Revolução Francesa, iniciaram em Salvador uma luta por liberdade conhecida como a Revolta dos Búzios, reprimida violentamente. Alguns anos depois, essa mesma população negra se juntaria a indígenas e brancos com esses ideais libertários e se alistariam maciçamente no exército pacificador que combateria os portugueses em solo baiano (p.6).
De forma mais sutil, Foices e Facões inicia com o convencional grito em 1822, mas logo avança para o Piauí, em 1823, levando o leitor a intuir que tanto a Batalha do Jenipapo quanto os acontecimentos em São Paulo são duas eventuais cristas de uma mesma onda, ou processo. Há, desse modo, uma aproximação com a historiografia da Independência mais atual, pois, ao contrário de Dois de Julho – onde majoritariamente eventos são listados um em seguida do outro, como se obedecessem a uma ordem lógica –, a noção de um processo que se desenvolve para além da ação individual e prenhe de possibilidades se faz presente.
Esse resultado só é possível, novamente, pela maleabilidade do roteiro. Ao comportar subtramas, contendo diferentes núcleos de personagens de diversas origens e estratos sociais, o enredo de Foices e facões tende a dimensionar um halo de ação que ultrapassa o indivíduo, perpassando todas essas subtramas e inserindo-as num conflito numa perspectiva mais conjuntural. A Independência não se torna uma ação sob a regência de alguns personagens, mas pelo contrário, o soldado reinol, a família de camponeses, o latifundiário, membros da elite favorável à Corte do Rio de Janeiro, todos eles estão, em suas ações, em uma relação mais dialética com esse processo. A Independência torna-se uma espécie de personagem oculta, mas imprescindível, que se faz presente como a fonte e linha mestra de todos os conflitos e ações dos indivíduos presentes na trama.
As duas obras simplificam, em determinados momentos e em maior ou menor grau, o sentido dos confrontos que lhes dão os respectivos títulos, apresentando-os como uma simples oposição entre portugueses e brasileiros, sem maiores considerações acerca dessas duas categorias identitárias – muito matizadas pela historiografia na última década – bem como da natureza de suas origens. Nesse ponto, verifica-se em ambas as obras a reiteração de um persistente lugar-comum que assume que, à época, os dois termos estivessem profundamente consolidados, imunes a qualquer questionamento, resultando, portanto, em identidades plenamente distintas. Sobretudo em Dois de Julho, o português não é apenas oposto ao brasileiro, mas frequentemente a outras identidades mais locais. Assim, lemos que “os cachoeiranos venceram e aprisionaram os integrantes das escunas e todo o armamento dos portugueses… É bom lembrar que em matéria de armamento, era brutal a diferença entre brasileiros e portugueses” (p.13).
Em Foices e Facões, a excessiva dicotomização identitária também se faz presente, sobretudo nos diálogos entre as personagens: “prenderam o padre lá na vila…prenderam ele porque era português. Vão acabar prendendo o Januário por causa das besteira que ele anda dizendo” (p.95). O mencionado personagem Januário é um caso em que as fronteiras entre as duas identidades se tornam mais tênues. Trata-se de um latifundiário estabelecido no Piauí, que apoia a manutenção do Reino Unido português e, por conseguinte, os esforços do Major Fidié, governador geral designado por D. João VI para uma campanha de consolidação do poder da Coroa sobre a capitania. Ao leitor, ainda que isso não seja explícito no texto, ele se encaixa como morador tradicional de Campo Maior, não podendo ser chamado de português na conotação de ser um recém-chegado e estranho à terra, apesar de sua origem além-mar. “Sou português, sou cidadão. Quando me casei com você filha desta vila, tive filhos brasileiros. Exijo proteção” (p.97). Algumas páginas antes, um membro da elite piauiense e articulador da adesão da província a Corte do Rio de Janeiro diz:
Deixe-me lhe contar uma coisa Dr. Cândido: este navio acaba de chegar da Inglaterra. Portugal quer a volta do pacto colonial…Meu pai, que era português, me contou com satisfação dos acontecimentos de 1808, quando abriram os portos para as nações amigas depois que a corte portuguesa chegou aqui. Já imaginou os prejuízos desse retrocesso. (p.41)
Ainda que todas as passagens individualmente denotem que o “ser português” provém essencialmente da origem europeia dos indivíduos – concepção já desconstruída pela historiografia –, a leitura delas na sequência fragiliza essa ideia. O local de nascimento passa a dividir importância com a orientação política e interesses no futuro incerto da união entre os dois reinos. O pai português que defende a abertura dos portos e gera um filho separatista contradiz a ideia de uma fidelidade ao território português, supostamente inata aos nascidos na Europa. Por outro lado, um reinol de nascimento, mas plenamente integrado no Piauí, vê-se dividido por uma lógica dualista que suplanta seu pertencimento à província. Por fim, o soldado Luis, português de nascimento, e inicialmente a serviço de Fidié, encerra a história desertando e se estabelecendo junto a uma família de camponeses em Campo Maior. Portanto, é possível ao leitor intuir que o par identitário português/brasileiro não era, à época, estanque, e dependia mais ou igualmente de uma opção política do que o local de nascimento; também não se fazia presente em qualquer situação, mas era evocado, sobretudo, por conjunturas específicas no interior do processo de Independência, podendo ser agregado, entrar em confronto, ou simplesmente coexistir com outras identidades.
Mais uma vez, essa diferença entre as duas obras perpassa a maneira como seus roteiros são desenvolvidos. Em Dois de Julho, o passado mais imobilizado pela voz de uma personagem do presente tende a não ser mostrado como detentor de múltiplas possibilidades, mas apenas como o que teria inevitavelmente ocorrido. E nesse escopo teleológico, a separação entre português e brasileiro cabe aparentemente sem maiores problemas. No entanto, o roteiro de Foices e Facões, que permite a visualização de um passado em construção, através da ótica e da relação entre diversos indivíduos, permite o questionamento dessa distinção de identidades, embora não a sustente explicitamente.
Logo, não é necessariamente a linguagem dos quadrinhos um suporte insuficiente ou contrário à transposição do conteúdo científico da historiografia. O alcance e os limites da narrativa de uma HQ variam de acordo com a inventividade do autor em sua capacidade, claro, de aproveitar inspirações de conteúdos formais, neste caso, advindos da historiografia acadêmica. Cabe a este relacionar as possibilidades de uma história desenvolvida através da progressão quadro a quadro com o tipo de conteúdo a ser adaptado. No caso da historiografia, de maneira semelhante ao já citado Da Colônia ao Imperio – um Brasil para inglês ver, Foices e Facões demonstra ser possível apresentar conjunturas e processos através de um enredo amplo contendo diversas subtramas se desenvolvendo em um mesmo roteiro. No entanto, a utilização do narrador fora do passado de que se fala, como é notado em Dois de Julho, apresenta maior risco de um discurso teleológico. O esforço de fugir de uma transposição mecânica, explorar os limites da composição de um roteiro, é fundamental para a descoberta de novas maneiras de unir de modo mais eficaz HQs e historiografia.
Luis Otávio Vieira – Graduando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil). E-mail: luis_vieira_mail@yahoo.com.br
AURÉLIO, Bernardo; OLIVEIRA, Caio. Foices e Facões. A Batalha do Jenipapo. Teresina: Núcleo de Quadrinhos do Piauí, 2009. PESTANA, Maurício. Dois de Julho: a Bahia na Independência do Brasil. Salvador: FPC/SecultBa, 2013. Resenha de: VIEIRA, Luis Otávio. A Independência em quadrinhos: formas de se contar história (s). Almanack, Guarulhos, n.6, p. 158-162, jul./dez., 2013.
Percursos do Olhar – caminhos da pesquisa nas trilhas da visualidade / Locus – Revista de História / 2013
O historiador de arte crê, amiúde, que o único assunto que o compete é o
dos objetos. Em realidade, as relações organizam esses objetos, lhes dão vida
e significação. Georges Didi-Huberman
Com essa afirmação o filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman inicia seu estudo sobre a arte diante do tempo [1]. Ao fazer a arqueologia dos anacronismos, próprios de uma história da arte em busca de renovação, o autor enfatiza que os objetos de arte talvez não possam ser compreendidos sem a análise de suas eleições teóricas, cuja história e crítica solicitam exame. Sob esta perspectiva, não há como cultivar um pensar profundo sobre os estudos da arte, sem pousar os olhos nos caminhos empreendidos por pesquisadores oriundos do campo artístico e do campo historiográfico, em experiências e encontros que, não raro, ocorreram hibridizados em um mesmo escopo de formação profissional.
Há, por outro lado, complementaridades e mesmo embates entre as áreas que lidam com a temática artística. Somadas ou em confronto, história e artes visuais contribuem para a discussão sobre a epistemologia das linguagens e as inquietações oriundas do campo da investigação artística com marcas na historicidade, que aqui compreendemos como visualidade. A necessidade de favorecer a (auto)reflexão dos caminhos de investigação trilhados por pesquisadores da arte e dar a ler suas experiências, foram os elementos que motivaram a organização deste dossiê. São dez artigos produzidos sob a perspectiva dos percursos do olhar, revelando a maneira como cada pesquisador, de forma disciplinar ou fronteiriça, traçou seu plano de pesquisa.
O dossiê tem, portanto, como objetivo apresentar reflexões sobre os percursos adotados por diversos pesquisadores no trato de vários temas. Com abrangência em distintas expressões artísticas (pintura, desenho, gravura, escultura e arquitetura), pretende promover um mapeamento dos caminhos e opções teórico-metodológicas em experiências de pesquisa. Objetiva favorecer, por meio de seus artigos, a (auto) reflexão do pesquisador sobre trilhas de investigação percorridas, e, ao mesmo tempo, estimular discussões e debates que sirvam de inspiração a estudantes e pesquisadores no campo das artes visuais. No limite entre as oportunidades e as impossibilidades de um conhecimento e de um meio absoluto de leitura e análise no campo artístico, o dossiê pretende estimular a reflexão, inspirar novos pesquisadores, dar a conhecer o jogo de significações em torno de seus temas e, em perspectiva temporal, apresentar contextos significativos de pesquisas realizadas sobre pontos referenciais da história da arte no Brasil em suas múltiplas facetas.
O dossiê é composto por pesquisadores experientes, associados, em sua maioria, a linhas de pesquisa que tratam do campo artístico relacionado à história em diversos programas de pós-graduação nacionais. Assim, comparecem ao dossiê, pesquisadores do Centro, Nordeste e Sudeste do país que em seus textos vão nos apresentar reflexões advindas de suas experiências com a arte colonial, com as expressões artísticas do dezenove e reflexões sobre a arte do século XX. Em abordagens sobrevindas de vários campos de conhecimento, cada pesquisador, a seu modo e segundo seu ângulo de visão e inquietação, elaborou reflexões relativas a temas específicos, sobre os quais se debruçou por anos de trabalho e partilhou as opções teórico-metodológicas assumidas, mesmo de maneira provisória e questionadora.
Com essa aspiração organizamos a série de artigos deste dossiê. Embora houvesse a intenção inicial de apresentar os temas em certa ordem cronológica, fomos interpelados por temas mais teóricos e diálogos com diversos tempos em uma mesma análise. Tal aspecto nos recoloca a problemática incessante da arte em seus diálogos com o tempo e com a história. Walter Benjamin trouxe a metáfora da escavação para o conhecimento associado ao passado. O filósofo e historiador da arte Georges Didi- Huberman recupera a tarefa como um ato da espectralidade do tempo e nos remete a uma arqueologia não somente material, mas também antropológica e política. Nesta arqueologia, somos aqueles que manejam os instrumentos, se esforçam por ler as camadas, mas ao mesmo tempo, admitem a árdua tarefa de levantar vestígios e considerar a substância mesma dos solos em que se encontram os sedimentos revoltos por nossas escolhas [2]. Por este princípio a pergunta organizadora deste dossiê se faz necessária: qual o percurso do olhar prescrutador da arte e do tempo? As respostas elaboradas neste dossiê talvez possam nos ajudar a rememorar trilhas e arriscar renovados caminhos.
Notas
1. DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante El Tiempo. Historia del Arte y Anacronismo de las Imagenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008.
2. DIDI-HUBERMAN, op. cit, p.170.
Heloisa Selma Fernandes Capel – PPGH / UFG
Maraliz de Castro Vieira Christo – PPGH / UFJF
CAPEL, Heloisa Selma Fernandes; CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Apresentação. Locus – Revista de História. Juiz de Fora, v.19, n.2, 2013. Acessar publicação original [DR]
Trecos, Troços e Coisas: Estudos antropológicos sobre a Cultura Material. | Daniel Miller
Nascido no ano de 1954, Daniel Miller é um notável antropólogo e arqueólogo britânico dedicado ao estudo dos vários gêneros de “trecos” que integram o cotidiano sócio- cultural dos indivíduos. Formado pela Universidade de Cambridge, Miller passou grande parte de sua vida profissional no departamento de Antropologia da University College London, onde é professor atualmente. Esta instituição é centro de destaque no que se refere à pesquisa e ao estudo da Cultura Material.
Grande nome da pesquisa deste campo, Miller mostra em suas obras uma constante preocupação em transcender a habitual opinião acerca da interação entre sujeito e objeto, dando atenção ao processo de construção das relações sociais por meio do exercício do consumo e às conseqüências que consumir pode trazer para as sociedades. Leia Mais
Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas | Marco Antonio Pamplona
A Coleção Margens, América Latina – Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas, organizada por Marco A. Pamplona e Maria Elisa Mäder reúne em seus quatro volumes artigos de 19 autores de diversos países com especializações nas áreas de História, Sociologia, Ciência Política e Literatura. O tema fundamental que percorre todos os artigos é o das identidades políticas coletivas e o complexo processo de conversão destas em uma identidade nacional. A diversidade da formação dos autores permite que sejam abordados aspectos da história cultural, política e intelectual de diferentes países da América ibérica durante o período das independências.
A perspectiva histórica que orienta os trabalhos é a preocupação em visitar as margens da América Latina, isto é, revelar possíveis espaços de trocas e intersecções entre os seus diversos territórios – o que os organizadores chamam de “entrelugares”. Tal objetivo não se confunde com a proposição de um modelo interpretativo único para as independências dos países latino-americanos, tampouco reforça a existência de uma identidade latino-americana que seja capaz de resumir a totalidade das muitas identidades existentes na América. Pelo contrário, esta visão permite identificar e explorar as diferenças entre estes espaços coloniais face à crise das monarquias ibéricas e, posteriormente, em seus respectivos processos de construção das nações.
Publicado em 2007, o primeiro volume da coleção coincide com a abertura das comemorações do bicentenário das Independências na América Ibérica. Toma-se como marco o avanço das guerras napoleônicas sobre a Península em 1807 e a consequente criação de novos espaços de exercício de poder na América como resposta à crise nas metrópoles ibéricas. O volume um trata da Região do Prata e Chile em cinco artigos escritos por João Paulo Pimenta, Jorge Myers, Rafael Sagredo Baeza, Fernando Purcell e Bernardo Ricupero. O segundo volume traz estudos de Márcia Regina Berbel, Alfredo Ávila e Gabriel Torres Puga, Roberto Breña e Natividad Gutiérrez a respeito da Nova Espanha (2008). O terceiro volume trata de Nova Granada, Venezuela e Cuba nos textos de Hans-Joachin König, Inés Quintero, Maria Lígia Coelho Prado e Stella Maris Scatena Franco, Rafael de Bivar Marquese (2009). Finalmente, o quarto volume é formado por quatro artigos sobre Peru e Bolívia, elaborados por Natalia Sobrevilla Perea, Marcel Velázquez Castro, Herbert S. Klein e Antonio Mitre (2010). Está previsto um quinto volume com ensaios comparados sobre a América ibérica e uma discussão sobre o surgimento do estado-nação brasileiro, entretanto, este volume não foi publicado até o momento.
Na introdução e em diversos artigos da coleção, reitera-se a insuficiência de abordagens históricas circunscritas aos limites nacionais para a compreensão do período das revoluções de independência, e o risco de incorrer em anacronismo ao considerar a existência de uma nação e um nacionalismo anteriores ao processo de construção dos estados nacionais. Ainda que defenda uma perspectiva atlântica na análise dos processos de independência da América ibérica, bem se vê pela divisão dos capítulos e dos volumes da coleção que os marcos nacionais continuam guiando a forma de se estruturar o pensamento histórico.
A constatação acima apresentada de modo algum indica o demérito das interpretações, mas reforça a necessidade de se revisitar um tema amplamente investigado e revisado. O recurso muitas vezes meramente didático da delimitação do objeto de investigação de acordo com as definições geográficas e políticas atuais – ou ao menos posteriores ao período em questão – não precisa ser necessariamente tratado como anacronismo ou falta de rigor histórico. Reconhecer as dificuldades para o estudo das revoluções de independência no marco mais amplo de uma perspectiva atlântica não deve ser inibidor de novas pesquisas; pelo contrário, deve incentivar historiadores, antropólogos, sociólogos e cientistas políticos a debruçarem-se sobre o tema, propondo novas abordagens, distintas metodologias e, sobretudo, estabelecerem constantes debates que certamente contribuirão para uma melhor compreensão desse processo histórico. Dito de outra maneira, utilizar estas unidades políticas que não estavam claramente definidas à época das independências é um dos pontos de partida possíveis para o estudo das independências, ainda que o objetivo último das interpretações possa ser justamente a desconstrução destas divisões.
A forma de apresentação dos artigos, que são bastante claros e presumem pouco conhecimento prévio do leitor, garantem à coletânea condições de divulgação das discussões historiográficas mais recentes também para um público não especializado. Este grande mérito é identificado sobretudo em face de um mercado editorial escasso de materiais relativos ao tema geral da coleção. Outro mérito da coleção é que ela disponibiliza, ao final da maioria dos artigos, um conjunto de fontes traduzidas, entre elas: periódicos, proclamas, decretos, poemas, trechos de romances, retratos, trechos de debates das Cortes de Cádiz, entre outras. Estas fontes, selecionadas pelos autores dos artigos, relacionam-se diretamente com o tema abordado em cada texto, permitindo um aprofundamento dos assuntos tratados. Entretanto, esse potencial da coleção faz-nos pensar que alguns dos artigos poderiam articular melhor as discussões desenvolvidas e os documentos apresentados. Embora não seja esta a proposta específica da coleção, em alguns casos as fontes poderiam ser melhor problematizadas e exploradas, para evitar que sejam meramente ilustrativas dos temas tratados.
A crítica às historiografias que consideraram a existência de um nacionalismo prévio ao surgimento dos estados nacionais aparece de forma muito consistente já no primeiro artigo da coleção, que discute as dificuldades de se superar este tipo de enfoque ainda hoje. João Paulo Pimenta trata o caso específico da construção do nacionalismo uruguaio, um caso exemplar da complexidade das identidades coletivas no mundo colonial ibérico, resultado da interação dos critérios identitários europeus com as especificidades de cada um dos espaços coloniais. A análise do processo de independência do Uruguai evidencia, mais do que qualquer outro, a existência de pontos de intersecção entre os mundos hispano e luso- americano. O artigo “Província Oriental, Cisplatina, Uruguai: elementos para uma História da identidade Oriental (1808-1828)” está bem colocado como capítulo de abertura da coletânea, uma vez que apresenta uma critica historiográfica fundamental para a compreensão também dos demais espaços coloniais e reforça uma das propostas da coleção, que é a de tratar as independências da América Latina a partir de uma perspectiva comparada.
Outro artigo que indica a necessidade de inserção de seu objeto de análise em uma unidade mais ampla é o de Rafael de Bivar Marquese, “A escravidão caribenha entre dois atlânticos: Cuba nos quadros das independências americanas”, apresentado no quarto volume. A fim de avaliar as relações entre a escravidão e a independência da ilha, ocorrida no final do século XIX, Marquese as insere no panorama geral da crise do colonialismo. O autor aponta, entretanto, a necessidade de se levar em conta a coexistência de duas estruturas temporais distintas a partir da segunda metade do século XVII: a do Sistema Atlântico Ibérico e a do Sistema Atlântico do Noroeste Europeu, sendo que os personagens tinham consciência desta situação e praticavam comparações entre os dois sistemas.
Vários dos artigos apresentam discussões sobre os caminhos que levaram à construção das identidades nacionais e apontam que elas foram o ponto de chegada – não necessariamente imediato – dos processos de independência, não o seu ponto de partida. Os artigos de Jorge Myers (“A revolução de independência no Rio da Prata e as origens da nacionalidade argentina”, vol.1), Alfredo Ávila e Gabriel Torres Puga (“Do francês ao gachupin: a xenofobia no discurso político e religioso da Nova Espanha”, vol.2), Hans-Joachin König (“Independências e nacionalismos em Nova Granada/Colômbia”, vol.3) e Natalia Sobrevilla Perea (“Questionando o significado de Pátria: tornando-se peruano durante a guerra”, vol.4) apresentam as vicissitudes desse processo em algumas das regiões da América ibérica. Sendo assim, a coleção coloca em relevo as particularidades regionais ao mesmo tempo em que permite uma análise panorâmica da América de colonização luso e hispano-americana como parte de uma mesma conjuntura revolucionária, que tem origem na Europa, marcadamente a partir da Revolução Francesa e das Guerras Napoleônicas, mas que desencadeia profundas transformações também nas colônias americanas.
Acompanhar o processo de conversão das identidades políticas coletivas em uma identidade nacional requer a compreensão dos diversos projetos políticos e dos múltiplos sentidos de nacionalidade em disputa pelos vários atores políticos em cada um destes espaços coloniais. São vários os colaboradores da coleção que enfocam a participação dos diversos grupos sociais nas lutas pela independência e procuram destacar o espaço que lhes coube – ou na maioria das vezes, que lhes foi negado – na definição dos critérios de participação política nos recém-criados estados nacionais. No primeiro volume, o texto de Fernando Purcell, “Discurso, práticas e atores na construção do imaginário nacional chileno (1810-1850)”, investiga a participação popular na construção do imaginário nacional no Chile, a despeito desses grupos populares estarem oficialmente excluídos da cidadania política nos anos iniciais da república. Já Inés Quintero revisita o clássico binômio permanências/continuidades a propósito do debate dos resultados e alcances sociais da independência na Venezuela, colocando a questão em um novo e matizado patamar no artigo “A independência da Venezuela: resultados políticos e alcances sociais” (vol.3).
Três dos textos discorrem, sob enfoques diferentes, acerca da participação das mulheres nos movimentos de independência. Natividad Gutierrez (“O nacionalismo no México: em busca das leitoras da comunidade imaginada”, vol.2) trata da relação entre gênero e nacionalismo, indicando que as mulheres, apesar de excluídas da “comunidade imaginada alfabetizada”, tiveram participação ativa na independência da Nova Espanha. Maria Lígia Coelho e Stella Maris Scatena, no artigo “A participação das mulheres na independência da Nova Granada: gênero e construção de memorias nacionais” (vol.3) dedicam-se ao caso específico de duas personagens que atuaram como sujeitos políticos na independência: Manuelita Sáenz e Policarpa Salavarrieta. Neste texto as autoras apresentam a forma como os estereótipos femininos manifestam-se nos escritos sobre estas personagens e levantam a interessante questão da apropriação política da memória dessas mulheres ao longo do tempo, sobretudo nos últimos anos. Finalmente, o artigo de Marcel Velázquez (“Afrodescendentes limenhos: emancipação, gênero e nação 1791-1830”, vol.4) analisa as construções culturais dirigidas à população afrodescendente em Lima no início do século XIX e destaca o posicionamento singular da mulher afrodescendente nesta sociedade.
Questões de base do trabalho de pesquisa histórica são suscitadas por estes textos, que evidenciam a necessidade de se buscar não só novas fontes, como também novas ferramentas metodológicas para dar conta da amplitude social dos envolvidos nesse processo histórico, sobretudo quanto se pensa na grande proporção de analfabetos que estavam excluídos da sociedade letrada, mas que atuaram nas lutas pela independência. Os novos espaços de sociabilidade surgidos no final do século XVIII e início do XIX colaboraram para que estes atores participassem dos debates a respeito das transformações históricas vividas e em torno da construção da nacionalidade.
Em comum entre a maioria dos artigos está a capacidade de transitar entre estudos de casos muito particulares e reflexões teóricas que enriquecem, ampliam e diversificam a análise dos processos de independência de toda a América de colonização ibérica. Um recorte interessante é apresentado por Rafael Sagredo Baeza a respeito das transformações da realidade geográfica da ilha de Chiloé durante o período colonial e após a independência do Chile. Em “Nação, espaço e representação. Chiloé: de ilha imperial a território continental chileno” (vol.1) o autor evidencia que a posição geográfica não se refere somente a uma realidade material, está sujeita também a concepções políticas, que podem se modificar ao longo do tempo.
De maneira semelhante, o texto “Uma reflexão sobre as comemorações dos bicentenários, a questão do liberalismo (espanhol) e a peculiaridade do caso novo-hispânico” proposto por Roberto Breña, extrapola seu objeto específico de análise – um balanço sobre os estudos que tratam do liberalismo espanhol e das particularidades deste na Nova Espanha. O autor enfatiza a questão que pode parecer um tanto quanto óbvia, mas nem por isso de menor importância: o risco de projetarmos uma experiência política, atribuir significados e preocupações inexistentes na época estudada. Tal prática torna-se ainda mais frequente no momento atual devido às comemorações do bicentenário das independências. Em meio a uma imensa produção sobre o assunto nos últimos anos e que pode se prolongar ainda por uma década, o autor alerta que toda comemoração representa um significado e, portanto, atende a interesses e objetivos distintos. Diante desta constatação, Breña indica a responsabilidade dos acadêmicos em evitar estas simplificações e usos dos mais variados – inclusive políticos – da história e dos personagens das independências.
Em sintonia com novos enfoques historiográficos, a coleção também permite o acesso a algumas das contribuições da história dos conceitos e das linguagens políticas nos artigos de Fernando Purcell (“Discursos, práticas e atores na construção do imaginário nacional chileno 1810-1850”, vol.1); de Bernardo Ricupero (“As nações do romantismo argentino”, vol.1) e de Alfredo Ávila e Gabriel Torres Puga (“Do francês ao gachupin: a xenofobia no discurso político e religioso da Nova Espanha, 1760-1821”, vol.2). A compreensão dos múltiplos e conflitantes sentidos de conceitos como, por exemplo, nação, nacionalismo e soberania em um período de rápidas e profundas mudanças nos discursos e nas práticas políticas é uma das contribuições da história intelectual, elaborada a partir de uma contextualização dos debates e das linguagens políticas dos discursos.
Cabe ainda destacar que outro grande valor de vários dos textos apresentados é a preocupação em trazer para a atualidade os temas tratados, seja através da inserção nos debates historiográficos mais recentes, seja pela discussão dos problemas enfrentados atualmente pelos países latino-americanos. As características específicas de cada país, assim como as que lhes são comuns, podem ser vistas como herança não somente do período colonial, mas também da forma de condução das estruturas políticas, sociais e econômicas após as independências.
A coletânea reúne valiosos esforços por atualizar as discussões a respeito dos processos de independência da América Latina, procurando tratar a grande diversidade encontrada entre as respostas dadas à crise das Monarquias ibéricas na Península e nos vários espaços coloniais. Tradicionalmente, a região do Caribe, e em especial Cuba, é tratada como um universo separado da América hispânica continental, uma vez que a sua independência somente ocorre no final do século XIX. A presença de Cuba entre os textos da coleção é um feliz sintoma de que a perspectiva de uma análise mais ampla começa a incorporar regiões que geralmente estiveram excluídas.
É de se lamentar que não tenha sido publicado até a presente data o último volume previsto, que deveria tratar da formação do estado-nacional brasileiro e propor ensaios comparados sobre a América ibérica. A promessa de um quinto volume com estudos sobre o Brasil permite vislumbrar oportunidade de discutir uma interpretação que a historiografia recente tem lutado para recusar: a da absoluta singularidade do caso brasileiro face às demais colônias americanas. Desta forma, espera-se com positiva expectativa o encerramento dessa coleção com a publicação de seu quinto volume.
Maria Júlia Neves – Mestranda em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). E-mail: maria.julia.neves@usp.br
PAMPLONA, Marco Antonio; MÄDER, Maria Elisa Noronha de Sá (orgs.). Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas. Coleção Margens: América Latina. Vol.01 – Região do Prata e Chile (2007, 299p.); Vol.02 – Nova Espanha (2008, 241p.); Vol. 03 – Nova Granada, Venezuela e Cuba (2009, 321p.); Vol.04 – Peru e Bolívia (2010, 274p.). São Paulo: Paz e Terra, 2007-2010. Resenha de: NEVES, Maria Júlia. Entre a unidade e a diversidade: a construção das nações na América Latina. Almanack, Guarulhos, n.6, p. 168-172, jul./dez., 2013.
Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900 – CROSBY (AN)
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Tradução: José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011. Resenha de: VENCATTO, Rudy Nick. .Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 331-338, jul. 2013.
As questões socioambientais ganharam um grande impulso nas discussões acadêmicas, principalmente no final do século XX e início do século XXI. É neste cenário que a obra de Alfred W. Crosby1, Imperialismo Ecológico: a expansão biológica da Europa 900-1900 ressurge, no ano de 2011. Publicado primeiramente no ano de 1986, nos Estados Unidos, o livro foi lançado no Brasil pela Editora Companhia das Letras no ano de 2011, em uma versão de bolso, fruto de uma tradução da primeira reimpressão, que data de 1991.
Cabe aqui uma primeira reflexão plausível de debates. Por que uma obra lançada no século passado ganha evidência no Brasil somente no ano de 2011? Em um panorama no qual as preocupações ambientais auferiram lugar de destaque, editar uma obra com tal magnitude de discussão significa também, para a editora, um mercado de circulação favorável. Além disso, é inegável que a temática abordada por Alfred Crosby é pertinente, não somente neste século, mas sim, em qualquer temporalidade, pois proporciona diferentes olhares sobre os movimentos expansionistas e coloniais, estimulando, assim, a quebra de alguns paradigmas.
De uma forma geral, a obra de Alfred W. Crosby problematiza o processo de expansão das populações europeias, principalmente por volta dos 0 a 1900, porém sem perder de vista um recorte temporal mais longínquo. O foco de sua discussão concentra-se na invasão biológica lançada pelas levas europeias em outras regiões do planeta, as quais constituíram aquilo que denominou-se de “biota portátil”2. Crosby aufere um lugar protagonista à biota portátil, sendo ela responsável por expulsar ou até mesmo eliminar a flora, fauna e os habitantes nativos de distintas regiões do mundo, dando origem às “Neoeuropas”, ou seja, Austrália, Nova Zelândia e América.
Para tal reflexão, sua obra foi dividida em doze capítulos, ao longo dos quais, Crosby passeia da Pangeia, há aproximadamente 180 milhões de anos, até 1900. Segundo ele, neste período, as Neoeuropas já estão constituídas e, por sua vez, são responsáveis pelo abastecimento mundial de alimentos estando todas situadas em latitudes similares, em zonas temperadas dos hemisférios norte e sul, possuindo a grosso modo, o mesmo clima. Como introdução, Crosby lança explicações para delimitar seu tema, partindo de uma preocupação central: entender as razões que levaram os europeus e seus descendentes a estarem distribuídos por toda a extensão do globo.
Segundo Alfred Crosby, o bom desempenho das campanhas imperialistas e expansionistas europeias está ligado a questões ecológicas e biológicas. Porém, ao fazer estas afirmações, o autor acaba por simplificar estas campanhas, e/ou, até mesmo, naturalizálas, diminuindo, assim, a relevância das questões econômicas, políticas e culturais que também foram agentes neste processo. Trata-se de uma afirmação audaciosa que por vez pode direcionar os leitores a caírem na malha discursiva do autor, tomando os movimentos de conquista e extermínio enquanto ações naturais, ligadas apenas a questões biológicas.
É no segundo capítulo intitulado, Revisitando a Pangeia: o Neo lítico Reconsiderado, que Crosby passa a olhar mais atento para o processo de evolução e desenvolvimento de diferentes espécies, tomando como eixo de análise a divisão da Pangeia3. Para Crosby, este movimento definidor dos continentes proporcionou que muitas formas de vida se desenvolvessem de maneira independente e em muitos casos, com exclusividade, o que, segundo o autor, pode explicar as diferenças extremas de fl ora e fauna entre a Europa e as Neoeuropas.
Chama atenção a definição de cultura que Crosby traz para sua análise. É cabível de compreensão que sua concepção adapta-se aos interesses que procura desvendar neste processo de investigação, apresentando de forma limitada uma categoria de análise tomada por tanta complexidade e debatida em várias áreas das ciências humanas.
Para Crosby (2011, p. 25), cultura pode ser entendida enquanto: […] um sistema de armazenamento e alteração de padrões de comportamento, não nas moléculas do código genético, mas nas células do cérebro. Essa mudança tornou os membros do gênero Homo os maiores especialistas em adaptabilidade de toda natureza.
Para o crítico literário Raymond Williams, os conceitos são elementos historicamente constituídos, fixando sentidos, imagens e margens de significações que, muitas vezes, imobilizam o passado no passado. Os conceitos, antes de empregados como verdades ou paradigmas, devem ser vistos e problematizados em seu movimento, levando em consideração o espaço e o tempo em que foram criados.
Só assim será possível aplicar análises que venham a compreender os sentidos cristalizados, vividos em outras temporalidades (WILLIANS, 2001). Neste sentido, para além da proposta de Crosby, cultura deve ser entendida não apenas enquanto manifestações biológicas, mas sim enquanto um complexo de relações que são constitutivas e constituintes dos sujeitos humanos.
A partir da concepção biológica de cultura, Crosby levanta hipóteses sobre o desaparecimento dos grandes mamíferos em localidades onde o gênero Homo fora se estabelecendo. Para o autor, as doenças e o fogo utilizado para efetivar grandes queimadas podem ter alterado o hábitat dos gigantes tornando impossíveis a vida e a reprodução. Segundo Alfred Crosby, este processo foi uma mutação cultural que deu origem à “Revolução do Neolítico”4.
No terceiro capítulo, intitulado Os Escandinavos e os Cruzados, Crosby dá ênfase às primeiras colônias ultramarinas da Europa, sendo elas: a Islândia e a Groenlândia. Estabelecidas por populações escandinavas, estas, por sua vez, contribuíram para a criação de mecanismos necessários para o bom desempenho das navegações no século XV. Segundo o autor, o sucesso nestas colônias esteve relacionado à competência náutica, à capacidade de lidar com atividades da pecuária e à adaptação a uma alimentação a base de leite.
Por outro lado, o fracasso, mais tarde, também está relacionado às questões fisiológicas e estratégicas. Para ele, a ausência de cereais, madeira e ferro nestas localidades, tornava o contato comercial com esse continente inviável, e o resultado por um maior intervalo de tempo sem contato com o continente europeu era o extermínio por surtos de epidemias. Em suas palavras, “[…] as doenças infecciosas davam a impressão de trabalhar não para os escandinavos, mas contra eles.” (CROSBY, 2011, p. 64).
No discurso de Crosby, os agentes patógenes que muitas vezes passam despercebidos na análise dos processos de colonização são cruciais para compreender os sucessos e fracassos das expansões europeias. Entretanto, não se deve perder de vista que agentes culturais como costumes, língua, religião, entre outros, são de suma importância para uma compreensão mais abrangente sobre estas campanhas. Olhar somente para a biota portátil significa dar muito crédito a um único conjunto de fatores. Faz-se necessário somar outros elementos que tiveram papel ativo neste processo de ocupação e colonização.
Por outro lado, a quebra de paradigmas que Crosby possibilita é plausível de elogios. É ainda no terceiro capítulo que, fazendo uso de uma rica documentação baseada em cartas de navegação e diários de navegadores, o autor torna possível quebrar com os mode los explicativos que cristalizam o contato e a ocupação europeia do continente americano, apenas enquanto fruto das navegações do século XV. Problematizando a chegada dos escandinavos na região do atual Canadá, Crosby contribui para perceber a história enquanto movimento e processo, estabelecendo, assim, uma série de novos elementos para esta refl exão.
O quarto capítulo é As Ilhas Afortunadas; o quinto, Ventos; e o sexto, Fácil de alcançar, difícil de agarrar, figuram o processo de expansão marítima empreendido pela Europa entre os séculos XIV e XV.
São nesses capítulos que o autor chama atenção às funções dos arqui pélagos para os navegadores. Passando de sinais de orientação no oceano a lugares de abastecimento, tornaram-se, mais tarde, elos entre as metrópoles e as colônias. Para Crosby, os arquipélagos funcionaram como experimentos no processo de expansão das atividades agrícolas e pecuárias. Transformar ilhas em lugares de abastecimento significava disseminar espécies de animais, muitas das quais, num período longo de tempo, acabaram causando alterações nos elementos da fl ora e fauna. Segundo Crosby, (2011, p. 86) “É possível que plantas nativas tenham desa parecido e animais nativos tenham morrido por falta de alimento e abrigo”.
O autor levanta uma refl exão que impulsiona os leitores a pensar sobre a instabilidade do ambiente natural. Para Crosby, muitas espécies que se julgam nativas de um lugar foram em algum tempo trazidas pelos europeus, espalhando-se e levando a crer que sempre existiram em um determinado espaço. Perceber que espécies dora vante tomadas enquanto nativas foram em outros tempos, introdu zidas consciente ou inconscientemente por migrações humanas, significa perce ber os sujeitos humanos num processo relacional com a natureza.
Penso neste momento no trabalho de Simon Schama, Paisagem e memória (1996), no qual, segundo o autor, antes mesmo de estarmos lidando com uma natureza, estamos lidando com uma paisagem, ou seja, olhares que foram lançados sobre a natureza e que, de alguma manei ra, instituem significados para esses espaços. Schama instiga a perceber a natureza não apenas por olhares da botânica ou dos bió logos, mas sim a partir dos usos e das representações presentes no imaginário dos seres humanos. Para o autor, é necessário redescobrir o que já possuímos, mas que, de alguma forma, escapa-nos ao reconhecimento e à apreciação. Através desta concepção, é possível estar atento à rique za, à antiguidade e à complexidade da tradição paisagística com relação aos modos de ver a natureza.
O sétimo capítulo é Ervas; o oitavo, Animais; e o nono, Doenças, dão ênfase, e Crosby não poupa em exemplos, na expansão da biota portátil que, para o autor, fora o principal agente delimitador do sucesso na constituição das Neoeuropas. São nestes capítulos que, sutilmente, Crosby diminui o peso das ações de extermínio causadas pelo expansionismo europeu. Para ele, as mudanças também fugiram do controle humano quando algumas espécies de animais como o rato embarcaram nos porões dos navios levando consigo um universo de agentes patológicos. Para Crosby (2011, p. 201-202), “Isso parece indicar que os seres humanos raras vezes foram senho res das mudanças biológicas que provocaram nas Neoeuropas.”.
É no nono capítulo que essa abordagem é realizada com maior cautela. Crosby dá grande ênfase às ações modificadoras causadas pelos agentes patógenes, excluindo, assim, de maneira sutil, a responsabilidade europeia pela ação e devastação nas colônias ultramarinas.
Em suas palavras, “Foram os seus germes os principais responsáveis pela devastação dos indígenas e pela abertura das Neoeuropas à dominação demográfica”. (2011, p. 205). De certa forma, cabe pensar que quando a ação das enfermidades fora percebida pelos europeus, a mesma passou a ser utilizada enquanto arma no processo de expansão.
Neste caso, excluir a intenção e dar ênfase somente à biota, significa realizar uma anistia no processo de extermínio e isentar os conquistadores das chacinas realizadas.
No décimo capítulo, Nova Zelândia, o autor preocupa-se em destacar o caráter distinto da formação dessa Neoeuropa. Baseando-se em trabalhos de botânica e analisando o processo de colonização da Nova Zelândia, Crosby aprofunda-se na compreensão das mudanças proporcionadas pela biota portátil. Este capítulo emerge enquanto exemplo mais específico, para dar legitimação à análise proposta pelo autor em ressaltar as interferências europeias nos outros continentes.
É nos capítulos décimo primeiro, Explicações e décimo segun do, Conclusão, que Alfred Crosby procura fechar sua análise, mas sem esgotar as possibilidades de refl exão. Cabe destacar que, ainda no capítulo Explicações, o autor retoma a explicação daquilo que seria a biota portátil tornando, de certa forma, algo maçante em seu texto.
Por outro lado, este balanço final vem enquanto auxílio aos leitores que não se debruçam pelos caminhos de toda a obra. Mais uma vez, Crosby vai insistir no discurso que naturaliza o processo de invasão e extermínio causado pela expansão europeia. Um de seus argumentos concentra-se ao fato de que, por volta do século XV, as modificações e devastações de espécies vivas já faziam parte do processo de evolução destes continentes. Em suas palavras: “Em 1500, o ecossistema dos pampas estava arrasado, desgastado, incompleto – como um brinquedo nas mãos de um colosso pouco cuidadoso.” (CROSBY, 2011, p. 290).
Alfred Crosby estimula a olhar para os movimentos migra tórios, sejam eles no Neolítico ou no século XV, enquanto duas levas de invasores da mesma espécie. Para ele, os primeiros atuaram como tropa de choque abrindo caminho para a segunda leva, a qual, numericamente maior, estava equipada com economias mais complexas.
(CROSBY, 2011, p. 291).
De certa forma, O imperialismo ecológico, de Alfred Crosby, possibilita lançar olhares para outros elementos que também são significativos na compreensão dos processos de expansão e colonização difundidos pelo globo. Porém, faz-se necessário, ao longo do texto, estar atento para não naturalizar estas ações humanas, as quais, no discurso do autor, ganham uma imparcialidade perante os agentes naturais. Olhar para as modificações impulsionadas pelas navegações significa não perder de vista os agentes políticos, econômicos e sociais presentes neste processo.
É significativo pensar no caráter da biota portátil e sua capacidade de modificação dos espaços. Caminhar pelas linhas do Imperialismo Ecológico, de Crosby, permite estar atento a esses agentes.
Entretanto, é de suma importância não cair nas amarras e deixar de lado a bagagem cultural que se desloca com esses movimentos migra tórios, levando consigo, transformações e adaptações. Olhar para ambos os aspectos torna a compreensão das ações humanas mais esclarecedoras e possibilita não perder de vista as ações e decisões humanas, imbricadas em diferentes conjunturas e temporalidades.
Notas
1 Nascido em Boston, em 1931, o autor estadunidense atuou em diversas universidades americanas e se estabeleceu na Universidade do Texas, em Austin, onde aposentou-se, no ano de 1999. Suas pesquisas ao longo de sua carreira contemplaram principalmente questões voltadas para a história biológica, assumindo como maior preocupação as ações e interferências causadas pelos processos evolutivos de diferentes espécies de seres vivos.
2 Conjunto de animais, plantas e doenças que navegaram com os europeus efetivando projetos de colonização e dominação de novas terras.
3 Massa única de terra a qual, após sua divisão, deu origem aos continentes. Este movimento iniciou-se por volta de 200 milhões de anos atrás.
4 Para Crosby, essa revolução ocorreu quando os humanos passaram a triturar e polir. Mais tarde vem o surgimento da agricultura e a domesticação dos animais, a qual vai iniciar primeiramente no Velho Mundo (Europa) e mais tarde nas Neoeuropas. (2011, p. 29).
Referências
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900.
Tradução de José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011.
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
WILLIAMS, Raymond. Cultura y sociedad. 1780-1950. De Colerige a Orwell, Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.
Rudy Nick Vencatto – Docente do Curso de História da Universidade Paranaense – UNIPAR e doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. E-mail: rudy_nick@hotmail.com.
Festas, Cultura e Ambiente no Caribe / Revista Brasileira do Caribe / 2013
O Caribe surpreende pela sua capacidade de mostrar frequentemente ao mundo que a modernidade é um processo contraditório e que as desigualdades e injustiças vêm se perenizando no seu curso, para além do desenvolvimento tecnológico e das possibilidades que este abre em termos de educação, saúde, moradia e outros domínios da existência humana. A inquietude de sua gente diante da dominação colonial que ainda não conheceu o fim, a efervescência cultural verificada em diversas linguagens, os processos migratórios em várias migrações e suas intensas conexões com diversas outras regiões do mundo fazem do Caribe um desafio permanente de pesquisa e reflexão.
Este número se debruça diante da relação entre festa, cultura e ambiente. Seu primeiro artigo, de Giliard da Silva Prado, apresenta a relação entre as comemorações da Revolução Cubana e sua legitimação, a partir da análise dos discursos de seus líderes, focando principalmente as transformações verificadas neste processo ao longo de mais de cinco décadas.
O segundo artigo, de Milton Moura, bem como o terceiro, de Edgar Gutiérrez, abordam as festas populares no Caribe Colombiano, mais precisamente, em Cartagena de Indias. Milton Moura aborda sobretudo as transformações recentes ocorridas na Festa de Independência daquela cidade, enquanto Edgar Gutiérrez tece considerações mais amplas sobre o fazer festivo na Costa e sua importância na história desta porção do Caribe, abrangendo iniciativas de produção cultural neste âmbito. De forma complementar, o quarto texto, de Eduardo Hernández Fuentes, discorre sobre a dimensão festiva da Costa a partir da reflexão sobre o Projeto BordCaribe, relacionando este aspecto da sociedade caribenha a expressões artísticas contemporâneas.
De que é feito o Caribe? De praias e rotas de navegação? De fortalezas e praças de comércio? De tambores, guitarras e ritmos que alcançam sucesso em boa parte do mundo? Em que mesmo consiste esta região de história tão dramática, de natureza tão singular, em que vivem sociedades tão marcadas pelos trânsitos interétnicos e pela violência? O que faz como que esta parte da América atraia tanto os olhares e ouvidos da humanidade como uma região especialmente vigorosa na sua expressão?
Poder-se-ia perguntar, em tantos casos, onde termina a peleja política e onde começa a festa. A esta indagação, em vão se procuraria responder. As sociedades caribenhas, desde o início, têm suas expressões plásticas, musicais e coreográficas no núcleo de sua vitalidade diuturna. Por isso não se poderia pensar autenticamente em um tipo de arte desencarnada, assim como não se poderia falar em um tipo de festa que não tivesse, estampada em suas manifestações, sua dimensão política. Assim como o ambiente, que aparece sempre paradisíaco na propaganda turística e, por outro lado, se constitui como uma arena de conflitos, quando se coloca a perspectiva da escassez dos recursos naturais e a questão ético-biológica da sustentabilidade.
O Caribe surpreende pela sua capacidade de mostrar frequentemente ao mundo que a modernidade é um processo contraditório e que as desigualdades e injustiças vêm se perenizando no seu curso, para além do desenvolvimento tecnológico e das possibilidades que este abre em termos de educação, saúde, moradia e outros domínios da existência humana. A inquietude de sua gente diante da dominação colonial que ainda não conheceu o fim, a efervescência cultural verificada em diversas linguagens, os processos migratórios em várias migrações e suas intensas conexões com diversas outras regiões do mundo fazem do Caribe um desafio permanente de pesquisa e reflexão.
Este número se debruça diante da relação entre festa, cultura e ambiente. Seu primeiro artigo, de Giliard da Silva Prado, apresenta a relação entre as comemorações da Revolução Cubana e sua legitimação, a partir da análise dos discursos de seus líderes, focando principalmente as transformações verificadas neste processo ao longo de mais de cinco décadas.
O segundo artigo, de Milton Moura, bem como o terceiro, de Edgar Gutiérrez, abordam as festas populares no Caribe Colombiano, mais precisamente, em Cartagena de Indias. Milton Moura aborda sobretudo as transformações recentes ocorridas na Festa de Independência daquela cidade, enquanto Edgar Gutiérrez tece considerações mais amplas sobre o fazer festivo na Costa e sua importância na história desta porção do Caribe, abrangendo iniciativas de produção cultural neste âmbito. De forma complementar, o quarto texto, de Eduardo Hernández Fuentes, discorre sobre a dimensão festiva da Costa a partir da reflexão sobre o Projeto BordCaribe, relacionando este aspecto da sociedade caribenha a expressões artísticas contemporâneas.
O quinto artigo, de Joseania Miranda Freitas, coloca a importância dos museus como estratégia de dinamização cultural e de reflexão sobre o patrimônio cultural a partir de pesquisas e intervenções no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, destacando a importância da formação dos estudantes para a percepção do valor das coleções presentes nos museus aos efeitos de uma educação etno-cultural.
O sexto artigo, de Dernival Venâncio Ramos Júnior, toma como problema a construção da nacionalidade moderna na América Latina, enfocando o drama colombiano. O autor sublinha as dificuldades que as elites andinas, que capitanearam o estabelecimento dos estados nacionais ao longo da cordilheira, encontraram no sentido de forjar um projeto propriamente nacional, que pudesse incluir e integrar diferentes territórios e grupos étnicos. Destaca-se o papel dos intelectuais neste processo.
Olga Cabrera e Rickley Leandro Marques construíram o sétimo artigo a partir de pesquisas realizadas em Santana dos Pretos, no Maranhão, Brasil, e no Palenque de San Basílio, em Cartagena de Indias, na perspectiva de uma educação etno-histórico-ambiental. Consideram a importância da percepção da dimensão transnacional manifesta nas culturas negras da Diáspora para uma reflexão sobre os rumos e modelos da educação, justamente em áreas tão empobrecidas em que a dominação colonial perdura de formas renovadas.
O oitavo artigo, de Gilberto Javier Cabrera Trimiño, enfoca as práticas da agricultura urbana em Ciudad Habana, Cuba. Esta estratégia foi estimulada para a produção de alimentos para as populações urbanas, levando em conta os saberes destas populações em termos ambientais como um recurso fundamental para enfrentar o drama da segurança alimentar.
A perspectiva de gênero se mostra cada vez mais relevante na análise das sociedades caribenhas. Sonia Catasús Cervera, no nono artigo, mostra que o modo como se dá o desenvolvimento econômico e social tem influxos sobre o comportamento reprodutivo da população, como se pode verificar pelas modificações na taxa de nupcialidade e na idade média para o enlace matrimonial, bem como na taxa de divórcio. O estudo parte da comparação entre os quadros de Cuba e República Dominicana, destacando a especificidade do Oriente Cubano.
Por fim, o décimo artigo, de Isabel Ibarra, apresenta as transformações na sociedade cubana contemporânea a partir da análise realizada pela autora das cartas de cubanos à ONG Puente Familiar con Cuba.
A partir destas miradas múltiplas, temos mais uma oportunidade de nos voltarmos reflexivamente sobre o Caribe e continuar desdobrando nosso papel de pesquisadores, artistas, pensadores e profissionais envolvidos em políticas públicas, no sentido de buscar estratégias de desenvolvimento que não somente respeitem o legado etno-histórico destas sociedades; mais do que isto, trata-se de pensar estratégias que considerem o próprio patrimônio cultural caribenho como uma base fecunda a partir da qual se possa pensar caminhos de construção da prosperidade, da paz e da liberdade. O Caribe anseia por isto.
Milton Moura – Universidade Federal de Bahia. Salvador de Bahia, Br.
MOURA, Milton. Festas, Cultura e Ambiente no Caribe. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.14, n.27, p.7-10, jul./dez., 2013. Acessar publicação original [IF].
Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860 | Izabel Andrade Marson e Cecília Helena de Salles Oliveira
Durante longo tempo, os estudos de história política, social e econômica do Brasil Imperial foram tomados de forma bastante estanque, como se não houvesse uma continuidade entre o Primeiro Reinado, a Regência e o Segundo Reinado. De certa maneira, era lugar comum tratar as diferentes fases do processo que levou à formação do Estado Imperial apenas como rupturas. Desconsiderava-se a interdependência de temas como cidadania, comércio, escravidão, justiça e política externa, e não havia a preocupação em compor análises que indicassem as contradições do período. Dito de outro modo, não se tomava a formação do Estado Imperial a partir da ideia de processo.
Contudo, nos últimos anos esta visão tem sido alterada pelos inúmeros esforços de historiadores de diversas partes do país, o que pode ser demonstrado pela constituição de grandes projetos coletivos, de associações dedicadas ao estudo daquele período, materializados pela criação de novos laboratórios, grupos de estudo e linhas de pesquisas em importantes programas de pós-graduação brasileiros. Tais esforços ajudaram a romper o isolamento das pesquisas, permitindo que novos enfoques e novas abordagens fomentassem o diálogo entre diferentes autores, sendo possível estabelecer contatos até mesmo com pesquisadores que atuam em instituições internacionais, para pensar o Império do Brasil de forma que articule, equilibradamente, aspectos sociais, econômicos e políticos.
Novos trabalhos cheios de fôlego para romper com antigos paradigmas e propor questionamentos instigantes aos temas correlatos à formação e à consolidação do único Império no Hemisfério Sul estão reunidos em importante coletânea organizada por Izabel Marson e por Cecília Oliveira. Os artigos em foco percorrem temas como escravidão, liberalismo, redes de interesse mercantis, conflitos e competições na cena pública, bem como a opção pela monarquia constitucional representativa. O livro, como um todo, abrange desde a crise do Antigo Regime ao Segundo Reinado, explicitando que o Império do Brasil somente pode estruturar-se como tal porque contou com o suporte, sobretudo financeiro, garantido pelos negociantes de grosso trato, sempre interessados em obter vantagens econômicas e políticas, em momento em que, sob os matizes das práticas liberais, as coisas da vida pública e da vida privada coexistiam sem se confundir.
A coletânea em tela está dividida em duas partes: (Re)configuração de pactos e negociações na (re)fundação do Império e Revoluções e Conciliação: Fluidez do Jogo Político, dos Partidos e dos Empreendimentos. Ao todo, os nove artigos escritos por mestres e doutores demonstram como as redes de favorecimento impulsionaram o enraizamento do Estado português na América, bem como garantiram a consolidação do Estado Imperial do Brasil.
O primeiro momento é inaugurado por Ana Paula Medicci, autora de As arrematações das rendas reais na São Paulo setecentista: contratos e mercês. O estudo abrange o período de 1765, ano em que a capitania tornou- se autônoma ao Rio de Janeiro, a 1808, data da chegada da Corte, quando novos arranjos políticos alterariam o novo centro administrativo e a sua relação com outras localidades da Colônia. Ao discordar da perspectiva de que a capitania atravessava grave crise econômica quando se reorganizava administrativamente, a autora demonstra que a capitania de São Paulo favoreceu o enraizamento de negociantes que participavam da administração pública arrematando impostos, financiando empreendimentos estatais e comandando tropas de segunda linha. Comprova a existência de uma rede de compadrio que permitiu que, mesmo antes do século XIX, São Paulo fulgurasse como uma das mais expressivas províncias do Brasil, dispondo de homens ricos e influentes que, ao mesmo tempo em que intencionavam consolidar seus objetivos particulares de manutenção no poder, também fortaleciam as instituições representativas tão necessárias à unidade imperial.
O político e o econômico também aparecem como faces da mesma moeda no artigo Imbricações entre política e negócios: os conflitos na Praça do Comércio no Rio de Janeiro, 1821, de Cecília Helena de Salles Oliveira. As análises do tumulto, ocorrido durante assembleia de eleitores que indicaria os representantes do Rio de Janeiro em Lisboa, extrapolam as explicações simplistas de que foram apenas manifestações antilusitanas antecedentes à Independência. Possibilitam compreender as vinculações entre a política e o mercado a partir de um reordenamento de hierarquias, privilégios e monopólios disputados por diferentes agentes sociais. São resultados das contradições e dos múltiplos projetos em disputa, em um momento em que muito ainda estava para ser definido.
A fim de compreendê-los, Cecília Oliveira parte da análise de três importantes fontes históricas, escritas por contemporâneos que atribuíram interpretações variadas para os atos na “Bolsa”: a edição de 25 de abril de 1821 do jornal Gazeta do Rio de Janeiro; as impressões de Silvestre Pinheiro Ferreira, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; e os relatos anônimos publicados um mês após os eventos na Praça do Comércio, sob o título de Memórias. As três visões sobre o mesmo fato levaram-na a pensar sobre os projetos conflitantes, bem como a compreender as articulações em torno da figura de D. Pedro I: alternativa viável aos interesses mercantis de determinado grupo que ambicionava participar da redação de um texto constitucional que limitasse os poderes do governo e ainda garantir a preponderância do Rio de Janeiro como centro articulador da política e das negociações mercantis.
O terceiro artigo da coletânea também demonstra como os negociantes se valiam da aproximação com a política para obter vantagens para si. Festejos públicos, política e comércio: a aclamação de D. João VI, foi escrito por Emílio Carlos Rodriguez Lopez, e investiga a montagem e o financiamento das celebrações da monarquia, voltando-se especialmente para o evento de fevereiro de 1818. Revela como as mesmas famílias que estavam por trás do comércio de abastecimento da cidade eram também as principais financiadoras das festas públicas – o que as distinguia socialmente e reforçava ainda mais os laços com o soberano, que as recompensava com honrarias e outras mercês. Além disso, as festas difundiam a ideia de que a civilidade havia chegado aos trópicos. Reproduções do arco do triunfo, do templo grego e do obelisco egípcio eram exibidas próximas ao local da aclamação e ao centro do poder, simbolizando que novos padrões culturais estavam em voga no Brasil desde a vinda da Corte.
Avançando no tempo, Vera Lúcia Nagib Bittencourt escreveu Bases territoriais e ganhos compartilhados: articulações políticas e projeto monárquico-constitucional para entender o apoio a essa forma de governo no período posterior à Independência. Para ela, a emancipação política do Brasil e a adesão à figura de D. Pedro devem ser entendidas como resultantes de um árduo processo de negociações envolvendo interesses multifacetados, num momento em que as interações entre o Rio de Janeiro e as demais províncias se diversificavam frente à redistribuição de poderes. A autora propõe que as relações entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro sejam pensadas para além de suas dimensões territoriais, mas sim pelas dimensões políticas e econômicas estreitadas pelas práticas comerciais, pela expansão da agricultura e principalmente por uma extensa rede familiar de negócios que atuava na área. Podem ser pensados como “espaço com identidade econômica e social, em busca de poder e representação” (p. 156).
Encerrando a primeira parte da coletânea, João Eduardo Finardi Álvares Scanavini apresenta Embates e embustes: a teia do tráfico na Câmara do Império (1826-1827). O autor analisa a repercussão do tratado anglo-brasileiro de 23 de novembro de 1826, que visava pôr fim ao tráfico de escravos em um prazo de três anos, na Câmara dos Deputados. A partir dos debates travados naquela Casa do Legislativo, o autor mapeou o posicionamento dos grupos sobre o tema, procurando aprofundar a ligação entre esses homens e distintos interesses mercantis no Rio de Janeiro. Afirma que os deputados expressaram condutas ambíguas sobre a extinção do comércio de almas no país, defendendo a conservação da ordem escravocrata, a partir de um debate que se centrou, na maioria das vezes, em condutas anglóbofas ou anglófilas visando desqualificar o tratado de 1826.
A segunda parte do livro dedica-se a momento posterior à renúncia de Pedro I em nome do filho. É inaugurada por artigo de Erik Hörner, intitulado Partir, fazer e seguir: apontamentos sobre a formação dos partidos e a participação política no Brasil da primeira metade do século XIX. Valendo-se das concepções teóricas do cientista político Giovanni Sartori, Hörner afirma que ater-se às designações “liberais” e “conservadores” nos anos finais da Regência e no Segundo Reinado pode ser considerado um anacronismo por levar em consideração o bipartidarismo defendido por autores de época, como Justiniano José da Rocha, Theophilo Ottoni, Américo Brasiliense e Joaquim Nabuco. O esquematismo dos autores de época não se aplica às experiências das assembleias e dos governos do Brasil Imperial, sendo preciso levar em consideração as particularidades locais em relação às diversas esferas de poder em altercação.
Em Monarquia, empreendimentos e revolução: entre o laissez-faire e a proteção à “indústria nacional” – origens da Revolução Praieira (1842- 1848), Izabel de Andrade Marson analisa o jogo político partidário em face na Província de Pernambuco. “Guabirus” e “praieiros”, defensores, respectivamente, do “livre-cambismo” e da “indústria nacional”, opunham-se na cena pública, competindo por cargos de poder e por maior inserção nos negócios. Tal concorrência, somada à hostilidade entre conservadores e liberais, foi munição necessária à explosão dos conflitos de 1848. A vitória dos conservadores levou ao enfraquecimento do Partido Nacional de Pernambuco – PNP, afastando, por conseguinte, os liberais do poder por cerca de quinze anos. Tal hegemonia garantiu, segundo Marson, que práticas livre-cambistas encontrassem condições propícias para prosperar, ainda que achassem resistência entre os proprietários menos abastados.
Embora o PNP estivesse desarticulado após a Revolução Praieira, os ideais propalados pelo grupo seriam reavivados por volta de 1870, quando Henrique Augusto de Milet, no Jornal de Recife, buscava compreender as causas da crise das lavouras vividas pelas províncias do norte. Culpava os dirigentes do Império por terem buscado soluções estrangeiras (laissezfaire, alta do câmbio, juros elevados, etc.) para um problema nacional que tinha origem nas disputas sangrentas ocorridas em Pernambuco. A crise nas lavouras propiciou a revolta do “Quebra-Quilos”, expressão do descontentamento de vários setores sociais que, gradativamente, viam os sustentáculos do regime monárquico ruir.
Em Autobiografia, “conciliação” e concessões: a Campanha do Mucuri e o projeto de colonização de Theophilo Ottoni, Maria Cristina Nunes Ferreira Neto analisa as explicações sucintas do tarimbado político em documento dirigido aos eleitores da Província de Minas Gerais. Investiga as lacunas deixadas pelo signatário da Circular, escrita no calor da hora em meio à falência do projeto de colonização dessa rica região do nordeste mineiro, quando Ottoni desejava isentar-se das críticas de oportunismo e incompetência administrativa. Evidencia as relações entre o Estado e a iniciativa privada, demonstrando como Ottoni, inspirado pelos princípios liberais e contando com o auxílio do governo, usufruiu de concessões, privilégios e terras para levar adiante um empreendimento de grande porte. O projeto colonizador do Mucuri foi bem sucedido até 1858, quando Ottoni valeu-se das benesses concedidas pelo “Ministério da Conciliação” para obter empréstimos, garantir a compra de mais terras e a vinda de mais imigrantes para o trabalho braçal. Entretanto, após seus aliados políticos terem sido afastados do poder, a Companhia de Navegação e Comércio do Mucury enfrentou entraves financeiros e políticos. Um deles foi o veto concedido pelo então Ministro da Fazenda, Ângelo Muniz Ferraz, adversário de Ottoni, ao empréstimo que seria concedido pela Inglaterra para quitação de dívidas e de multas, bem como pagamento dos salários dos imigrantes.
Seguindo a mesma linha de argumentação para esmiuçar as relações entre interesses pessoais e as políticas de governo, Eide Sandra Azevêdo Abrêu encerra a coletânea, apresentando o artigo “Um pensar a vapor”: Tavares Bastos, divergências na Liga Progressista e negócios ianques. Mais uma vez o experiente Theophilo Ottoni aparece como um dos articuladores do grupo de políticos, que reunia representantes do partido conservador e do partido liberal, para fazer frente à lei de 22 de agosto de 1860, que criava empecilhos às liberdades de associação e de crédito. Zacarias de Góis e Vasconcelos, Pedro de Araújo Lima (Marquês de Olinda), José Thomaz Nabuco de Araújo, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, Martinho Alvares da Silva Campos, Aureliano Cândido Tavares Bastos foram alguns dos representantes que, ao lado de Ottoni, constituíram a Liga. Novamente, evidenciam-se as dissenções entre os membros dos diferentes partidos políticos, rompendo-se com a ideia de homogeneidade no seio das agremiações. A própria Liga Progressista era rica em contradições, como demonstram os diferentes interesses que vieram à tona em face das argumentações pela subvenção à navegação entre o Brasil e os Estados Unidos.
Tavares Bastos, por exemplo, foi um dos defensores da proposta que favoreceria negociantes norte-americanos e brasileiros ligados à navegação, porque ele mesmo era um dos interessados em lograr vantagens junto ao Estado Imperial para tocar seus projetos econômicos ligados aos investidores estrangeiros. O autor reforça uma máxima que percorre todos os trabalhos do livro – indispensável para todos os interessados em entender a complexidade do Brasil Império: a indissociabilidade entre política e negócios, que devem ser tomadas como dimensões interdependentes, complementares, num momento em que homens alçados aos mais altos postos de governo integravam redes mercantis e estreitavam seus vínculos por meio de estratégias que visavam o fortalecimento dos seus interesses privados.
O livro em tela reforça a necessidade de que os novos estudos dediquem-se à superação de esquemas estanques, que tratam política e negócios a partir de relações antagônicas. Fatos e fontes históricas são revisitados com o frescor e a coragem de novas interpretações, em textos que fluem de maneira coesa e acessível. São apresentadas novas hipóteses que movimentam o debate histográfico e lançam ainda mais questões acerca do passado histórico rememorado e reconstruído sob a luz do presente.
Aline Pinto Pereira – Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF – Niterói/Brasil). E-mail: alineppereira@yahoo.com.br
MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (orgs.). Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Edusp, 2013. Resenha de: PEREIRA, Aline Pinto Interesses públicos e privados nas tramas do Brasil Império. Almanack, Guarulhos, n.6, p. 163-167, jul./dez., 2013.
Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografi | André Luis Pereira Miatello
O universo temático referente à Ordem Minorita [1] é amplo. A importância computada historicamente aos franciscanos como um dos movimentos espirituais, culturais e sociais de maior difusão e transcendência na História da Igreja e da espiritualidade explica a abundancia do material produzido sobre este tema. Como afirma o teólogo Daniel de Pablo Maroto [2]:
Retém como óbvio historicamente que o movimento espiritual dos “frades”, os mendicantes, nas primeiras décadas do século XIII, constitui uma verdadeira revolução religiosa como resposta as necessidades pastorais da Igreja em plenitude de seus poderes, especialmente durante o pontificado de Inocêncio III (1198- 1216).
O livro de André Luís Pereira Miatello insere-se precisamente neste universo. Contudo, as afirmações lançadas pelo autor contradizem boa parte da tradicional historiografia, frequentemente apologética, e que faz das Ordens Mendicantes e de seus fundadores os criadores de uma nova cultura cristã no Ocidente Medieval. Não se trata de contar a história dos santos do período medieval, nem tampouco seus exemplos de virtudes. A perspectiva aqui é outra: a partir da memória póstuma, ou mais precisamente do momento em que as obras hagiográficas fazem propaganda da santidade de seus respectivos fundadores, Miatello procura discutir – e propor – algumas questões fundamentais para a temática em questão.
A experiência religiosa mendicante é abordada a partir de como os acontecimentos da vida de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua eram retratados pelos hagiógrafos dos movimentos. Miatello propõe pensar tanto as palavras e ações dos pregadores, articulando os efeitos imediatos da pregação, quanto aos efeitos que podem ser qualificados como de “longa duração”, reavivados pelo culto a memória.
A relação entre as Ordens Mendicantes e as cidades em que atuavam é também um dos temas mais interessantes do qual os historiadores se debruçaram ao longo dos anos. No entanto, longe das conclusões obtidas pela historiografia, Miatello inverte a equação: os espaços urbanos bem como as redes de sociabilidades e de poder não são derivadas das ações empreendidas pelos frades, mas sim frutos de um contexto conturbado e tenso no qual as comunas italianas estavam se afirmando como entidades autônomas independentes. Em outras palavras, “não é o santo que funda a cidade, é a cidade que, a partir de certos santos, dá novo sentido a sua trajetória, projetando-se em um futuro, incerto, mas promissor” (p. 12). Claro que esta relação não pode ser traduzida em via de mão única. Assim como as cidades se apropriam do corpo e da lembrança de um santo para se promover, os frades minoritas usam as biografias como parte de seu repertório discursivo para atuarem politicamente nas cidades italianas medievais.
Esta relação é possível devido à especificidade da história italiana. Como bem nos lembra Patrick Gilli [3], as cidades da Itália setentrional viviam desde o século XII imersas em um contexto de inconstâncias políticas e tensões envolvendo duas autoridades de vocação universal: o papado e o império. Faltavam a elas modelos de estruturas de governo e de conduta para legitimar sua condição e que servissem de norteadores da vida politica. Tais fundamentos foram tirados em parte das hagiografias que se tornaram “uma espécie de arma ideológica nas mãos dos mendicantes, do papado e das cidades, todos estes envolvidos num projeto de controle das populações e instituições urbanas da Itália centro-setentrional” (p. 18). Devolvendo, desta forma, os frades à dinâmica social. Não trata-los como seres excepcionais significa enxerga-los a partir das relações de poder tecidas pelos diversos grupos.
A pregação e a penitência são elementos centrais para compreender as bases em que se operavam as ações destes agentes históricos. A paz buscada não é entendida em termos sociologizados, mas como resultado de uma realização espiritual e moral e que esta estritamente vinculada com a vida prática, econômica e política. Assim como os pregadores exortavam as multidões para alcançar a pacificação e a coesão das cidades, os hagiógrafos construíram uma memória da obra desses pregadores. Desta forma, reside mais uma contribuição dada pelo autor para renovar as abordagens do tema: as Vitas mendicantes, enquanto obra de edificação e de oratória, não são novidades. Elas dialogam com o passado e são devedoras de uma trajetória que remonta a Gregório Magno.
É este o objetivo do primeiro capítulo: procurando apresentar as engrenagens da oratória do gênero hagiográfico, o autor lança ao estudo dos prólogos das principais Vitas de santos no Ocidente, para de certo modo, “obedecer aos mecanismos do gênero hagiográfico a fim de entender o seu proprium a despeito da almejada facticidade historiográfica” (p. 23). A partir de uma notável erudição, Miatello nos convida a um passeio pelos mecanismos discursivos que forjaram o culto de santos há pelo menos 6 séculos. Segundo o autor, não devemos tomar como parâmetros para investigar tais documentos as modernas concepções de “verdade”, “fato histórico” ou “historicidade”. Os ditames aqui são teológicos-retóricos e não historiográficos. Se não atentarmos para este detalhe, a composição hagiográfica se torna um repositório de “crenças ou de sentimentos religiosos” pertencentes a um comportamento pejorativamente qualificado como sendo pré-lógico.
Entender a hagiografia como retórica nos leva a interpretá-la como sendo parte de um conjunto maior de práticas letradas que, por sua vez, obedecem a cânones precisos de composição, elaborados ao longo de séculos por autoridades consagradas pela arte e pela erudição; tudo isso constituiu uma verdadeira jurisprudência das belas letras segundo a qual os textos eram pensados, escritos e lidos antes do século XIX (p.27).
Já no segundo capítulo o autor se aprofunda no debate citado na introdução sobre as relações causais entre as intenções políticas do papado com relação à Lombardia do século XIII e o empenho dos frades menores em “converter” as cidades. Aqui – indiretamente – Miatello repensa um dos argumentos chaves para a historiografia temática sobre o processo de institucionalização da Ordem. Tradicionalmente concebida como sendo resultado direto da intervenção do papado romano em assuntos internos do movimento, o autor salienta a aproximação que Gregório IX manteve com os Menores, por exemplo. Fato este que condiciona os frades aos intentos pontifícios e, vice-versa, impossibilitando uma análise puramente maniqueísta do processo. A relação é muito mais complexa do que simplesmente reduzi-la a dois polos de poder: um sendo positivo claramente identificado aos minoritas e outro, negativo, associado ao papa.
O terceiro capítulo avança na análise da “retórica religiosa” em suas relações com a “retórica cívica”. Desde Aristóteles, a vida política supõe o uso de palavras como “instrumentos de poder e de ordenamento social”. Ora, a Ordem dos Menores se constitui como uma Ordem pregadora, embora não sejam todos os seus membros que estejam investidos do ofício de pregação. A participação da matéria hagiográfica foi fundamental nas lidas urbanas do século XIII.
O modelo do santo pregador, associado ao modelo do santo taumaturgo, propiciou as frades uma dupla via inserção no tecido urbano e nas políticas cívicas. Tais frades valiam-se do estereótipo da santidade que as populações lhes atribuíam e da santidade que os fundadores e confrades de suas Ordens desfrutavam no interior da fama pública para levarem ás últimas consequências a aplicação dos preceitos espirituais e políticos defendidos por sua instituição. Na ausência de estabilidade sociopolítica, como acontecia na Itália centro-setentrional, os fardes pregadores despontaram como o canal de coesão dos mais variados anseios de paz (p. 132).
O quarto e último capítulo é dedicado a investigar o alcance social do vocabulário empregado pelos hagiógrafos. Em outras palavras, a efetivação concreta dos conteúdos semânticos dos termos empregados. Entender a gramática sociomoral dos hagiógrafos significa transcender os textos e atingir o cerne do pensamento mendicante. As hagiografias oferecem pequenos exemplos, passagens furtivas de exemplos de governo.
Pensando pelo lado moral com que arquitetavam a vida civil, é possível relacionar os preceitos de governança, presentes no costumeiro da ordem, com um suposto preceituário politico mendicante. De imediato, convém ter presente que governar, segundo os textos hagiográficos estudados, é exercer o poder sobre alguém e, mais do que isso, é assegurar ao grupo aquilo que é conveniente para sua manutenção (p. 162).
André Miatello oferece ao longo das páginas de seu livro uma inestimável contribuição para repensar a História Politica e Social de um dos agentes mais conhecidos do Ocidente medieval. As palavras que compõe o livro revelam toda a preocupação de dessacralizar à imagem da Ordem e voltar à atenção para o zelo pastoral e o projeto de moralização das cidades e das politicas urbanas italianas. Para finalizar penso que nada melhor do que as palavras do próprio autor:
No jogo do poder, que acontecia no campo da política cívica , as Vidas de santos e seu respectivo culto ocuparam um lugar de tão grande eminência que todos aqueles que podiam, papa, bispos, frades, cidades, aproveitaram-se deles para sedimentar a própria força politica e, com isso, manterem e expandirem a sua dominação, ideológica ou concreta (p. 177).
Notas
1. A Ordem recebe esta designação em virtude do posicionamento dos frades frente à autoridade papal: em nenhum momento, frei Francisco e seus seguidores se voltaram contra a figura do papa. Mesmo adotando uma postura de “revitalização” da fé cristã, sempre se colocaram hierarquicamente abaixo aos membros da Cúria Romana. Sua postura os define como menores, ou simplesmente, minoritas.
2. MAROTO, Daniel de Pablo. Espiritualidad de la Baja Edad Media: siglos XIII-XV. Madri. Editorial de Espiritualidad, 2000, p. 17-18.
3. GILLI, Patrick. Cidades e sociedades urbanas na Itália Medieval. Campinas: Editora Unicamp, 2011.
Douglas de Freitas Almeida Martins
MIATELLO, André Luis Pereira. Santos e pregadores nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografia. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. Resenha de: MARTINS, Douglas de Freitas Almeida. Cantareira. Niterói, n.19, p. 79- 81, jul./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
Patrimônio Arqueológico e Cultura Indígena – PINHEIRO et al (RIHGB)
PINHEIRO, Áurea; GONÇALVES, Luís Jorge; CALADO, Manuel. (Org). Patrimônio Arqueológico e Cultura Indígena. Teresina: EDUFPI; Lisboa: Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, 2011, 260 p. Resenha de: FALCI, Miridan Britto Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 174 (458) p.321-328, jan./mar. 2013.
Este livro, organizado por Áurea Pinheiro, Luís Jorge Gonçalves e Manuel Calado, recebe a chancela da Universidade Federal do Piauí (Brasil) e da Universidade de Lisboa (Portugal); integra as atividades acadêmico-científicas-culturais do Grupo de Pesquisa/CNPq “Memória, Ensino e Patrimônio Cultural”, Programa de Pós-Graduação em História, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, UFPI, e CIEBA, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes, Faculdade de Belas -Artes, Universidade de Lisboa.
Os organizadores convidaram pesquisadores brasileiros, portugueses e espanhóis, reuniram contribuições que revelam o caráter multidisciplinar das investigações e das ações no campo do patrimônio e da cultura.
A proposta da obra é apresentar as correlações de estudos e ações de arqueólogos, historiadores, sociólogos e museólogos, apresentar cada estudo e intervenção em lócus especial de um contexto temporal e espacial, selecionado por cada um dos autores.
Dir-se-ia que é um trabalho de formato novo, articulado, interpenetrado, comportando estudos de um tempo longo, médio e curto, fugindo, então, das camisas de força teóricas de um método especificamente histórico. Chega-se à conclusão que, articulado como está, passa-nos as conexões do fazer, do ofício das ciências históricas, sociais, da arte e do patrimônio.
Na primeira parte do livro, “Patrimônio e Arqueologia”, Áurea Pinheiro, Cássia Moura e Fátima Alves, no texto “Museus comunitários, Museus Sans Murs”, refletem sobre um projeto em construção, qual seja: a proposição de estudos para futura criação de um Ecomuseu na Ilha das Canárias, no Delta do Parnaíba (Piauí, Brasil). Partem as autoras da concepção de museus de Hugues de Varine. A proposta explicitada no projeto será a construção de um inventário multidisciplinar de bens culturais das Ilha das Canárias. O projeto comportará uma pesquisa interdisciplinar e multidimensional no campo da antropologia, arqueologia, sociologia, história, artes, arquitetura, geografia, meio ambiente, patrimônio e museologia; conhecimentos e documentação produzidos que subsidiarão proposições de ações de conservação e salvaguarda do patrimônio e paisagem cultural do lugar. As autoras pretendem “[…] apresentar uma revisão de literatura sobre a Museologia Social, e algumas notas do trabalho de pesquisa documental e de campo, no contexto do Projeto “Patrimônio Cultural e Museus no Nordeste brasileiro”. Localizam as suas reflexões no campo de estudos interculturais, das Ciências da Informação, das Artes e do Patrimônio, notadamente da História e do Patrimônio Público e da Museologia Social.
No capítulo, “Patrimonio y Nuevas Tecnologías: El Observatorio del Patrimonio Histórico Español [OPHE]”, Juan Manuel Martín García e José Castillo Ruiz nos apresentam o Observatorio del Patrimonio Histórico Español, que surge como uma iniciativa no contexto do projeto de investigação de excelência, “Estudio comparado de las políticas de protección del Patrimonio Histórico en España. Creación del Observatorio sobre el Patrimonio Histórico Español [OPHE]”, concebido em março de 2006, para um períogo de 2006 a 2009, “[…] por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía [España] a un grupo de profesores de la Universidad de Granada, fundamentalmente del Departamento de Historia del Arte y Música”. O projeto consiste na análise de diferentes políticas de proteção na Espanha, por diferentes administrações estatais e autônomas, bem como por instituições privadas relevantes, com competências em matéria de Patrimonio Histórico, para,
[…] a partir de dicho análisis, evaluar, comparar y difundir dichas políticas desde los referentes científicos que definen la protección del Patrimonio Histórico a nivel internacional. Especial interés ha revestido para el proyecto la defensa de la diversidad cultural española entendida tanto en lo referente a la pluralidad o diferenciación local, regional o nacional como en lo relativo a los valores y bienes de interés para el conjunto de la sociedad española, sin olvidar tampoco la dimensión universal de dicho legado cultural.
Luís Jorge Gonçalves escreve sobre o “Patrimonio Histórico e Arqueológico: exemplos de intervenção em Évora, Sesimbra e Idanha-a -Nova”; discute o conceito de patrimônio e suas transformações históricas, nos instiga a conhecer três experiências de atividades museológicas, destacando exemplares de arte. O autor trabalha com saberes e interpretações diversas, mostra-nos o conhecimento dos valores encontrados em Évora, Sesimbra e em Idanha-a-Nova; regiões portuguesas, únicas, que contribuem com os estudos de preservação e documentação, conexões com propostas brasileiras. Em Idanha-a-Velha, situado no interior de Portugal, limitado a leste pela fronteira com Espanha e ao Sul pelo Tejo, cuja história remonta à época romana e à Idade Média, os templários construíram uma rede de castelos, integrando, hoje, o concelho de Idanha-a-Nova.
Em 2009, se concretizou uma exposição liderada pela Câmara Municipal sobre os Castelos Templários nos seguintes temas: “Origens dos Templários e a sua presença em Portugal”, “Rituais Templários” e “Castelos Templários de Idanha”. Segundo Luis Jorge, a memória histórica é muito curta, abismo que se aprofunda para épocas recuadas, o público quando visita os monumentos e museus tem, na generalidade, uma atitude contemplativa; é por isso que novos processos metodológicos procuram dar enquadramentos contextuais ao patrimônio. São as visitas guiadas, os catálogos, os guias, os áudio-guias (agora com versões mais económicas como os “iPod” e “iPad”), das exposições retrospectivas, etc. Nesse caso, tanto os meios tradicionais como as novas tecnologias são recursos para os enquadramentos históricos do património. Para Luis Jorge, podemos considerar que hoje ultrapassamos os modelos de J.J. Winkelmann, porvalorizarmos o contexto em desfavor das obras-primas, não significando isto que vamos “deitar fora essas obras”. O enquadramento geral sobre o (s) momento (s) histórico (s) sobre o qual incidimos, como era a vida quotidiana, como viviam as pessoas, o que comiam, o que pensavam, qual a sua visão do mundo, o que significava (m) aquele (s) elemento (s) do patrimônio cultural sobre o qual incidimos o nosso discurso para as pessoas que investiram muito do seu esforço quotidiano, sendo ainda necessária uma comparação com outras áreas geográficas, a chamada história comparada.
Os ingredientes principais são um bom suporte científico com as exposições temporárias e permanentes, a musealização dos sítios, ou seja, a criação de suportes informativos, as visitas guiadas, as publicações para os diferentes públicos, a imagem em movimento. Nos projetos desenvolvidos em Évora, Sesimbra e Idanha-a-Nova existe sempre um suporte patrimonial. O autor ainda assinala que os vestígios arqueológicos e patrimoniais são um fator importante para compreendermos a vida hoje e que correspondeu ao resultado da vida de pessoas, que, como nós, dormiam, comiam, trabalhavam, tinham as suas crenças, festas e tradições.
Cabe-nos desenvolver um discurso acessível para aproximar os públicos, de modo a sentirem que o patrimônio faz parte deles; e principalmente descobrir o patrimônio a “partir do nosso interior, das nossas vivências e da nossa Paixão por compreendermos o mundo que vivemos”.
No artigo Pensar local….agir local. O museu de arte Pré-histórica de Mação, memória, intuição e expectativa, Luis Osterbeek, Sara Cura e Rossano Lopes Bastos nos remetem às percepções da proposta do livro.
Os autores indagam e se posicionam sobre a preservação, o papel de arqueólogos e da arqueologia através de uma releitura sobre as propostas do que é ser arqueólogo num mundo em transformação. Mostrando a criação do Museu de arte pré-histórica de Mação e as parcerias de um projeto desenvolvido em vários estados do Brasil, incluindo o Piauí, os autores revelam as preocupações de um grupo que entende o valor e a importância do patrimônio de um povo. Lembram que “[…] a prioridade da acção arqueológica permanece, naturalmente, na investigação [sem a qual não há reconhecimento da natureza arqueológica de certas evidências] e na conservação [sem a qual não ocorre a perenização supra geracional das evidências, que é essencial para a sua assimilação social]”; destacam a importância do território e da população local e regional, operando nessa inserção local uma didática da diferença cultural. Finalizando, dizem os autores: “A arqueologia deve promover a exigência de qualidade acreditada e permanentemente avaliada, deixando-se escrutinar pelo juízo crítico de terceiros, fugindo das torres de marfim, e assumindo dessa forma uma eficiente intervenção social, cujo fito social é o de contribuir para a construção de novo conhecimento e sua sucessiva socialização.” Manuel Calado, no texto Arqueologia Pública em Portugal, evidencia o conceito de Arqueologia Pública, considera “[…] um lugar-comum, na América Latina e, em particular, no Brasil; isto, apesar das vidas paralelas que as diferentes perspectivas lhes podem atribuir e, de fato, atribuem”.
Destaca que “Um dos indicadores mais evidentes do desenvolvimento da Arqueologia Pública brasileira prende-se, desde logo, com a prática corrente, exigida pela tutela, de programas de Educação Patrimonial associados a intervenções arqueológicas de resgate.” Para o autor, essa obrigatoriedade na maioria das vezes não se concretiza “[…] no terreno, em acções consistentes e frutuosas”, o que segundo ele cria “[…] um corpus de experiências que, feito o balanço provisório, muito têm contribuído para a criação de uma nova imagem da investigação arqueológica, junto das comunidades e dos poderes públicos”. Em sua análise, a arqueologia e o patrimônio, em sua gênese, revelam um potencial conservador e elitista “[…] muito enraizado que, em certos aspectos, parece contraditório com um mundo dinâmico, empenhado na criação de sociedades mais justas, mais participativas e, em suma, mais democráticas”; contradição que considera ultrapassada.
Em “Arqueologia dos Desaparecidos: identidades vulneráveis memórias partidas. O Registro arqueológico como instrumento de memória social”, Rossano Lopes Bastos trata do registro arqueológico e de sua delimitação legal em diversas normas. “Nas preocupações da Unesco, nas Recomendações de Nova de Delhi (1954) e mais recentemente na Carta de Laussane (1990). As principais definições são quanto a sua amplitude e proteção”. Destaca que no Brasil, “[…] o registro arqueológico tem sua primeira aparição enquanto bem a ser protegido no Decreto-lei nº 25 de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico nacional no Brasil. Entretanto, o patrimônio arqueológico, para ser protegido, deveria, a despeito de como é formulado com todos os outros bens, ser objeto do procedimento de Tombamento, conforme apregoa o Decreto-lei nº 25 de 1937. Com a edição da lei federal nº 3.924/61, ‘que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos’, que ampliou de forma significativa e definitiva a proteção dos sítios arqueológicos em todo território nacional. Destaca-se que a primeira lei de proteção específica do patrimônio arqueológico foi editada no Estado de São Paulo em 1955”.
Na Segunda Parte da obra, Patrimônio e Cultura Indígena, quatro outros capítulos nos remetem às reflexões sobre o que seria o Patrimônio Humano, Cultural deixado pelos antigos habitantes do Nordeste do Brasil: os indígenas. No texto, “A farsa do extermínio: reflexões para uma nova História dos Índios no Piauí”, João Paulo Peixoto Costa nos faz pensar sobre o problema epistemológico e metodológico que acompanha o estudo dos indígenas no Ceará, revelando as atuais preocupações com a urgência da revisão dos conceitos e da política indígena no Brasil. Qual a significação do conceito de extermínio? Como tem sido usada pelos historiadores? O que nos diz a documentação pesquisada e analisada atualmente? No capítulo “Os Senhores das Dunas e os Adventícios d´além mar: a autonomia indígena e o escambo na costa norte brasileira”, Jóina Freitas Borges destaca os conceitos de extermínio e de história negada, mostrando, com base em extenso levantamento historiográfico, a presença indígena no litoral do Nordeste brasileiro; índios enclausurados nas dunas. Esses “senhores” das dunas, como chama a autora, foram responsáveis por um largo comércio com os franceses, de âmbar gris, pau-violeta e ainda foram seguidamente escravizados e vendidos para as Antilhas. Segundo Jóina, se desenvolveu neles, graças a esses contatos com os franceses, uma autonomia única na História dos indígenas brasileiros. Utiliza o conceito de fronteira, desenvolvido por Boccara. O resultado dessa facção isolada e não dominada por mais de um século foi o processo de etnogênese dos tapuias/tremembés.
No capítulo “Um viés da liberdade: a deserção dos janduís e os conflitos no Maranhão e Piauí”, Juliana Lopes Aragão nos revela histórias desconhecidas da capacidade de certas tribos se organizarem e reelaborarem os conflitos com o grupo colonizador e opressor que chegou no Brasil.
Após uma extensa pesquisa de documentação encontrada no Arquivo Histórico Ultramarino, nos revela como os janduís, com seus contatos com os holandeses do Nordeste desenvolveram uma capacidade que chama de “um viés de liberdade”, se organizando em assembleias e exigindo melhores condições de tratamento. No apresenta a questão dos “terços” dos bandeirantes e o “descimento” dos indígenas para o trabalho doméstico ou nas fazendas.
“Menina Moça: cultura material e simbologia do ritual indígena Guajajara, Maranhão, Brasil”, Síria Borges nos apresenta um conjunto de artefatos ligados à dança, música, gastronomia, adornos corporais e afazeres cotidianos do ritual indígena de passagem conhecido como “Menina Moça ou Festa do Moqueado”, comum a vários grupos indígenas brasileiros. A autora destaca que o ritual fortalece “[…] os saberes tradicionais e justificando as relações sociais e de gênero, o ritual de puberdade feminina do povo Guajajara – Maranhão expõe um conjunto de artefatos e técnicas que dentro do cortejo ritualístico assumem significados específicos dos quais serão analisados neste texto”.
Esta obra é reveladora da importância e da multiplicidade de objetos, temas e abordagens que marcam os estudos e as investigações no campo do patrimônio cultural, notadamente no Brasil, Portugal e Espanha.
Miridan Britto Falci – Professora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e Sócia Titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Quirón | UNAL | 2013
Quirón (Medelín, 2013) es la revista digital de estudiantes de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín, sin ánimo de lucro. La revista nace en el 2013 dentro de unas coyunturas académicas y sociales que invitan a preguntarse por el quehacer profesional, por la forma de asumir activamente un rol crítico y por la manera de superar las crisis disciplinares, que lleven a agudizar el conocimiento de la sociedad en general. Por tanto, a partir de una publicación semestral los estudiantes proponen un espacio en el que converjan diferentes formas de estudiar históricamente la complejidad humana, y que comprenda nuevas alternativas, nuevos formatos y nuevas sensibilidades de acuerdo a las exigencias actuales de fomentar, fortalecer y arraigar el debate crítico dentro de distintas áreas del conocimiento y, particularmente, dentro del saber de la historia. Esto significa que Quirón está abierta a todo tipo de escritos y personas de todos los campos del saber humano, desde un enfoque histórico.
La revista se encuentra en permanente convocatoria para la recepción de trabajos y establece fechas exactas como plazo máximo para enviar los textos que son sometidos a evaluación. El Comité editorial se encarga de revisar previamente los artículos que son enviados a pares anónimos, con el fin de certificar que cumplen con los requisitos establecidos por la revista. El dictamen emitido por los evaluadores es notificado al autor en un plazo menor a seis meses. Para la publicación de contenidos la revista no requiere de ningún tipo de compensación económica.
Las observaciones de los evaluadores y el Comité editorial deben ser tomadas en cuenta por los autores, quien debe realizar los ajustes solicitados en el plazo que le sea indicado. Quirón se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo. Los autores pueden ser consultados por el Comité editorial durante el proceso de edición, para resolver eventuales inquietudes.
ISSN:
Periodicidade semestral
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Impressões Rebeldes | UFF | 2013
A Revista Impressões Rebeldes (Niterói, 2013-) divulga, desde 2013, estudos sobre as resistências e os protestos, no Brasil ou em outros lugares. Qualquer tema relacionado ao fenômeno das rebeliões, seja onde for ou em qualquer tempo histórico, desde que fundamentado em pesquisas, será bem recebido.
Essa publicação é dirigida a estudiosos, professores e pesquisadores, mas também a leitores leigos, por isso buscamos empregar uma linguagem fluida e um texto com perfil mais curto e objetivo, prezando sempre por apresentar um conteúdo rigoroso.
A equipe editorial vai cuidar para que seu trabalho contribua da maneira mais ampla para os debates sobre história e ciências sociais.
Em 2022 esse periódico incorporou dezenas de artigos de colaboradores espalhados pelo Brasil e pelo exterior que, desde 2013, vinham sendo publicados na seção “Temas em Debate”, da antiga versão do atual site Impressões Rebeldes.
Periodicidade semestral.
ISSN [?]
Acesso livre
Acessar resenhas [Ainda não publicou resenhas]
Acessar dossiês [Ainda não publicou dossiês]
Acessar sumários
Acessar arquivos
História Econômica: tradições historiográficas e tendências atuais / Cantareira / 2013
The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies | Peter Wilson
As ruínas permanecem em seus lugares. Alguns textos dos tragediógrafos e comediógrafos chegaram até nós, mas o entendimento da dinâmica do teatro grego permanece ainda um mistério. Para os pesquisadores do teatro antigo, principalmente aqueles que se dedicam a entender as relações entre o teatro, a política e a sociedade na Atenas do século V a.C., ou aqueles que investigam a problemática da performance no teatro antigo, nenhum evento é tão importante como os festivais em honra ao deus Dionísio nos quais eram encenadas as tragédias e as comédias.
Compartilhando deste interesse e partindo da necessidade de atualizar as abordagens historiográficas sobre o teatro em seu âmbito material, o helenista e historiador do teatro clássico Peter Wilson editou The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies. O livro é um esforço coletivo de treze pesquisadores do teatro e das festas em homenagem a Dionísio, os quais realizaram em 2003 em Oxford uma conferência para reflexão sobre o tema. Ao abordar este assunto, sempre é preciso retomar os seminais estudos de Sir Arthur Wallace Pickard-Cambridge (1873- 1952): o Dithyramb Tragedy and Comedy (1927) e o The Theatre of Dionysus in Athens (1946). Estas duas obras de Pickard-Cambridge inauguraram em seu tempo a problemática das bases arqueológicas do teatro grego, tendo se tornado durante décadas referências absolutas sobre o tema.
Assim, consciente da dívida em relação às obras de Pickard-Cambridge mas também percebendo a importância de novas descobertas e enfoques sobre o tema, já na introdução Peter Wilson postula o seu objetivo com esses textos: “Introduction: From the Ground Up”, ou seja, rever tudo, reatualizar as premissas, recolocar os problemas. Os textos editados por Wilson desejam abordar o teatro grego de forma renovada, a partir de novas inquietudes historiográficas e trazendo como documentos as coleções de epigramas muitas vezes esquecidas pelos historiadores do teatro. O livro divide-se então em três grandes partes: I. Festivals and Perfomers: Some New Perspecives, II. Festivals of Athens and Attica, III. Beyond Athens.
Os festivais em honra a Dionísio inseriam-se no calendário cívico da cidade, ocorrendo durante o ano ocorriam três festas sua homenagem : as Lenéias, que aconteciam no final de janeiro, para as quais se interrompiam os trabalhos do campo, do comércio e da navegação de forma que os cidadãos se dedicassem exclusivamente às festividades; as Grandes Dionisíacas, que aconteciam no final de março e traziam grande número de viajantes para Atenas; as Dionisíacas rurais, que aconteciam em dezembro em regiões da Ática (CUSSET, 1997, p.12-3). No edifício do teatro consagrado a Dionísio era reservado um lugar para um templo do deus contendo uma imagem sua, no centro da orkhestra havia um altar de pedra em sua homenagem e nas arquibancadas, um trono esculpido era reservado ao sacerdote de Dionísio (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1999). Os festivais em honra ao deus Dionísio tornavam o teatro grego um espetáculo com dia, lugar e público específicos, o qual conciliava problemas internos, contribuindo para a coesão do corpo cívico.
A primeira parte do “The Greek Theatre and Festivals”, “Festivals and Perfomers: Some New Perspecives” (p. 21-84), a qual, nas palavras do próprio autor, “reconhece a necessidade de arriscar amplas inspeções de algumas questões gerais (p. 3)”, sendo formada por três artigos. O primeiro artigo “Deconstructing Festivals”, de William Slater (p. 21-47), ambiciona uma leitura do material epigráfico disponível para a compreensão do teatro grego e propõe que os festivais têm importantes ramificações para a compreensão de questões tradicionais como a política e o poder no Mediterrâneo. Slater adota uma postura crítica em relação aos historiadores do teatro grego que não exploram as possiblidades da numismática ou da epigrafia para a compreensão dos festivais. A “desconstrução dos festivais” revela o tom de desafio aos historiadores do teatro e a urgência de restabelecer bases teóricas e documentais para compreender o fenômeno do teatro grego.
O segundo texto da primeira parte, “Theatre Rituals” de Angelos Chaniotis (p. 48-66), começa a estabelecer a importância do teatro antigo para além da teatralidade e da performance artística, tentando resgatar uma série de atividades ritualísticas ou de caráter cívico que ocorriam ao redor do evento teatral. O espetáculo do teatro, principalmente em Roma, congregava outros eventos que ajudavam a dar uma maior dimensão ao evento, como o anúncio das honras, a coroação dos benfeitores, a entrada dos magistrados, além de concursos de canto e declamações. Para Chaniotis, o teatro antigo é composto por “rituais de comunicação”, os quais podem ser entre os mortais e os imortais, em um nível social entre o “sujeito” e o seu papel dentro da sociedade, ou entre cidadãos e estrangeiros (p. 65).
No terceiro e último texto da primeira parte, com o título bastante descritivo de “The Organization of Music Contests in the Hellenistic Period and Artists’ Participation: An Attempt at Classification” (p. 67-84), Sophia Aneziri procura mostrar como os artistas ligados à música ou “Dionysiac Artists” ajudavam a organizar concursos musicais em homenagem ao deus no período helenístico. A autora classifica os concursos musicais em três categorias em relação à sua organização: (1) concursos organizados pelas associações, (2) concursos co-organizados por elas e (3) concursos dos quais elas apenas participavam. Essa espécie de “guilda” ou associação de músicos mostra uma certa cooperação entre profissionais ligados à arte e a importância desses eventos no contexto helenístico.
A segunda parte do livro, chamada de “Festivals of Athens and Attica” (p. 87-182), pode interessar mais a quem pesquisa relações entre o teatro grego, tanto a tragédia como a comédia, em relação a contextos políticos e sociais. Nas palavras do próprio Wilson, essa parte pode ser definida como “um chamado a revigorar o estudo do material familiar da metropolis do teatro através de novas perguntas, da recombinação dos seus elementos de formas produtivas e inusitadas, e da integração de evidências menos conhecidas na corrente principal da discussão” (p. 3).
O primeiro artigo, “The Men Who Built the Theatres: Theotropolai, Theatronai, and Arkhitektones” (p. 87-121) de Eric Csapo, é um dos principais artigos do livro. Csapo trabalha com epigrafia assim como Slatter, e com os indícios anuais dos festivais. Suas perguntas são dirigidas à administração do teatro em sua monumentalidade, mostrando que havia uma economia que girava em torno dessas apresentações, como os aluguéis de tendas. Assim ele demonstra como termos que aparecem apenas em fontes literárias e que foram sempre tratados como de pouca importância, como “theatrones” (Theatron-buyer) ou “theatropoles” (Theatron-seller), aparecem em relação a outros termos como o “arkhitekton” e podem dar indícios da dinâmica espacial que se desenvolvia nos festivais a Dionísio. As descobertas de Csapo levam a pensar dinâmicas econômicas e certas condições de existência material para o evento em homenagem a Dionísio. Além das fontes literárias citadas pelo autor há no final do capítulo um pequeno apêndice arqueológico escrito por Hans Rupprecht Goette, que mostra uma evolução material do espaço físico do teatro.
O segundo texto, “Choregic Monuments and The Athenian Democracy” (p. 122-49) de Hans Rupprecht Goette, debruça-se sobre os monumentos existentes perto do teatro de Dionísio e a sua representação de poder. Tais monumentos fazem contraste com algumas ideias da democracia grega. Já o último artigo da segunda parte e sexto do livro é escrito pelo editor Peter Wilson, “Performance in the Pythion: Athenian Thargelia” (p. 150-182). O artigo de Wilson desvia o foco do festival de Dionísio para o festival de Apolo, a Targélia. O festival da Targélia durava apenas dois dias e levava esse nome por ser celebrado no período chamado “Thargelion” que corresponde ao final de maio. Para o autor, o festival representava a criação da ordem civil, claramente oposto ao festival a Dionísio. A Targélia era celebrada com coros masculinos semelhantes em certos aspectos ao coro das tragédias. Peter Wilson discute as questões de performance nesse festival, pensando as relações com a música. A importância do artigo reside em trazer à discussão um festival que é pouco lembrado pelos estudantes da performance no mundo antigo, além de mostrar aspectos que circundam a ritualística que envolve o deus Apolo.
A terceira e ultima parte do livro, “Beyond Athens” (p. 184-377), é a maior em contribuições, com sete artigos. Estes artigos exploram um rico material ligado ao teatro e aos festivais menos estudados para além de Atenas. O primeiro artigo, “Dithyramb, Tragedy and Cyrene” (p. 185- 214), escrito por Paola Ceccarelli and Silvia Milanezi, analisa por meio da epigrafia evidências sobre a tragédia na cidade de Cirene (antiga colônia grega na atual Líbia) no século IV a.C. O texto das pesquisadoras trata da dinâmica organizacional em Cirene das apresentações trágicas e dos coros ditirâmbicos, tentando traçar um quadro de como era encenada uma tragédia fora de Atenas.
O segundo artigo, “A Horse from Teos: Epigraphical Notes on the Ionian Hellespontine Association of Dionysiac Artists” (p. 215-45) de John Ma, parte também da epigrafia para demonstrar a singularidade do ditirâmbico na Anatólia no século II a.C. Ma levanta a hipótese de que nesse período helenístico o ditirâmbico era apresentado por um “pseudo-coral” e envolvia também solos virtuosos de instrumentos como a cítara.
O terceiro artigo, “Kraton, Son of Zotichos: Artists Associations and Monarchic Power in the Hellenistic Period” (p. 246-278) de Brigitte Le Guen, analisa a vida de Kraton, um tocador de aulos, uma espécie de flauta também conhecida por tíbia, sobre o qual existem várias referências nos epigramas. A autora analisa o seu percurso tentando desvelar os possíveis caminhos para uma “carreira” de músico no período helenístico.
O quarto artigo, “Theoria and Theatre at Samothrace: The Dardanos by Dymas of Iasos” (p.279- 293) de Ian Rutherford, explica as bases do teatro na Samotrácia no século II, mostrando as relações entre um culto a Dardanos e um poema da série “Poeti Vaganti”.
O quinto artigo, “The Dionysia at Iasos: Its Artists, Patrons, and Audience” (p. 294- 334) de Charles Crowther, também trabalhando com epigrafia, mostra como era o teatro na cidade de Iasos, mostrando pelos documentos que a arte de Dionísio era bem recebida na cidade, tendo uma série de peças sido encenadas. Crowter mostra as listas das inscrições existentes sobre as peças e os possíveis valores pagos ou doados aos artistas de Dionísio.
No sexto artigo, “An Opisthographic Lead Tablet from Sicily with a Financial Document and a Curse Concerning Choregoi” (p. 335-350), David Jordan investiga uma tablete de chumbo de característica opistográfica, ou seja, escrito dos dois lados. O documento traz uma espécie de maldição e uma referência a uma disputa de ordem teatral. O texto de Jordan é principalmente uma apresentação deste raro documento que pode ajudar a traçar algumas ideias sobre a Sicília e as relações entre os Choregoi.
O último capítulo do livro, escrito por Peter Wilson e intitulado “Sicilian Choruses” (p. 351-77), é também dedicado à Sicília no século V. a.C. Wilson tenta mostrar as singularidades desse teatro ligado a cultos locais, em que diferentemente da Grécia as mulheres participavam do coro, e discute novamente questões de performance.
Assim, “The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies” é um livro que ousa em sua proposta e deseja revisar certezas para lançar novos desafios aos pesquisadores do teatro antigo. A leitura do livro é desafiadora e convida o leitor a pensar o teatro antigo por outro ângulo. Tal qualidade não é diferente e nem rara se olharmos para as outras contribuições de Peter Wilson, cujas obras se destacam sempre pelo enriquecimento aos estudos do teatro antigo em relação a dinâmicas de performance e a elementos cênicos na tragédia ou comédia. Entre os seus livros mais importantes está The Athenian Institution of the ‘Khoregia’: the Chorus, the City and the Stage (2000), além do trabalho de sociologia da música na pólis clássica, “Music and the Muses: the Culture of ‘Mousike’ in the Classical Athenian City”, editado conjuntamente com P. Murray . Mais recentemente, em 2008, Wilson editou com Martin Revermann o “Performance, Reception, Iconography: Studies in Honour of Oliver Taplin”. Os livros de Peter Wilson tornaram-se caminho obrigatório para quem deseja reatualizar as abordagens do teatro grego trabalhando com antiguidade e história cultural e atentando para evidências documentais utilizadas com menor frequência.
Referências
CUSSET, Christophe. La tragédie grecque. Paris: Éd. du Seuil, 1997.
VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999.
Mateus Dagios – Mestre em História pela UFRGS com a dissertação “Neoptólemo entre a cicatriz e a chaga: lógos sofístico, peithó e areté na tragédia Filoctetes de Sófocles”. E-mail: mateusdagios@yahoo.com.br.
WILSON, Peter (Ed.). The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies. Oxford Studies in Ancient Documents. Oxford: Oxford University Press, 2007. Resenha de: DAGIOS, Mateus. Redescobrindo o Teatro de Dionísio: novas possibilidades para o teatro antigo. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.12, p.279-283, jan. / jul., 2013. Acessar publicação original [DR]
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Outros olhares acerca da Revolução Francesa [1]
A Revolução Francesa foi abordada, e ainda o é, por diversos trabalhos significativos na historiografia mundial. Lynn Hunt, entretanto, em seu livro Política, cultura e classe na Revolução Francesa nos traz uma nova maneira de abordá-la. A autora se encaixa em uma corrente historiográfica denominada como Nova História Cultural. Esta perspectiva propõe uma maneira diferente de compreendermos as relações entre os significados simbólicos e o mundo social (tanto comportamentos individuais como coletivos) a partir de suas representações, práticas e linguagens. É a partir desta perspectiva, portanto, que Hunt analisa o tema: busca compreender a cultura política da Revolução, isto é, as práticas e representações simbólicas daqueles indivíduos que levaram a uma reconstituição de novas relações sociais e políticas.
A pesquisa acerca do tema iniciou-se na década de 1970 e resultou na publicação do livro em 1984. Inicialmente, a autora buscava demonstrar a validade da interpretação marxista: a Revolução fora liderada pela burguesia capitalista, representada pelos comerciantes e manufatores. Os críticos desta abordagem, entretanto, afirmavam que tais líderes foram os advogados e altos funcionários públicos. Focando-se nestes aspectos, após um levantamento de dados feito a partir da pesquisa documental, Hunt percebeu que os locais mais industrializados, com maiores influências de comerciantes e manufatureiros, não foram, necessariamente, os mais revolucionários. Outros fatores deveriam então ser levados em consideração para explicar tal tendência revolucionária, não somente o da posição social dos revolucionários. Sendo assim, Hunt procurou evitar tal abordagem marxista, que coloca a estrutura econômica como base para as estruturas políticas e culturais. Desta maneira, a partir de uma mudança de olhar, tomou como objeto de estudo a cultura política da Revolução, que segundo a autora, propõe “uma análise dos padrões sociais e suposições culturais que moldaram a política revolucionária” (HUNT, 2007, p.11). Para ela, a cultura, a política e o social devem ser investigados em conjunto, e não um subordinado ou separado do outro.
Tais questões surgidas em sua pesquisa estão dentro de um contexto da década de 1980, quando os historiadores culturais procuravam demonstrar que a sociedade só poderia ser compreendida através de suas representações e práticas culturais. Na introdução de seu livro, a autora nos apresenta três influências principais: François Furet, que entendia a Revolução Francesa como uma luta pelo controle da linguagem e dos símbolos culturais e não somente como um conflito de classes sociais; Maurice Agulhon e Mona Ozouf, que demonstraram em seus estudos que as manifestações culturais moldaram a política revolucionária. Suas fontes foram documentos oficiais, como jornais, relatórios policiais, discursos parlamentares, declarações ficais, entre outros; contudo, a sua abordagem não poderia ignorar outras fontes como relatos biográficos, calendários, imagens, panfletos e estampas, que são produtos de manifestações e linguagens culturais da época.
Partindo de três vertentes interpretativas, a autora procura justificar a proposta de sua análise. Critica as abordagens marxista, revisionista e de Tocqueville por entenderem a Revolução centrando-se em suas origens e resultados, desconsiderando as práticas e intenções dos agentes revolucionários. Para Hunt,
A cultura política revolucionária não pode ser deduzida das estruturas sociais, dos conflitos sociais ou da identidade social dos revolucionários. As práticas políticas não foram simplesmente a expressão de interesses econômicos e sociais “subjacentes”. Por meio de sua linguagem, imagens e atividades políticas diárias, os revolucionários trabalharam para reconstituir a sociedade e as relações sociais. Procuraram conscientemente romper com o passado francês e estabelecer a base para uma nova comunidade nacional. (Ibid, p.33)
Mais do que uma luta de classes, uma mudança de poder ou uma modernização do Estado, Hunt enxerga como a principal realização da Revolução Francesa a instituição de uma nova relação do pensamento social com a ação política, uma vez que tal relação era uma problemática percebida pelos revolucionários e já posta por Rousseau no Contrato Social.
A partir de tais considerações, Hunt estruturou seu texto em dois capítulos: no primeiro, A poética do poder, a autora analisa como a ação política se manifestou simbolicamente, através de imagens e gestos; no segundo, A sociologia da política, apresenta o contexto social da Revolução e as possíveis divergências presentes nas experiências revolucionárias. Em todo o texto, a autora nos traz um debate historiográfico acerca de termos, conceitos e concepções das três perspectivas anteriormente citadas.
Hunt destaca a importância da linguagem na Revolução. A linguagem política passou a carregar significado emocional, uma vez que os revolucionários precisavam encontrar algo que substituísse o carisma simbólico do rei. A linguagem tornou-se, portanto, um instrumento de mudança política e social. Através da retórica, os revolucionários expressavam seus interesses e ideologias em nome do povo: “a linguagem do ritual e a linguagem ritualizada tinham a função de integrar a nação” (Ibid, p.46). Contudo, este instrumento deveria inovar nas palavras e atribuir diferentes significados a elas, já que se buscava romper com o passado de dominação aristocrática. Não é a toa que a denominação Ancien Régime foi inventada nesta época.
Nesta tentativa de se quebrar com um governo anterior dito tradicional foi que as imagens do radicalismo jacobino ficaram mais evidentes, afirma Hunt. O ato de representar-se através de uma ritualística foi questionado, descentralizando assim a figura do monarca e a base em que ele estava firmemente assentado: a ordem hierárquica católica. A imagem do rei sumiu do selo oficial do Estado; nele agora estava presente uma figura feminina que representava a Liberdade. Os símbolos da monarquia foram destruídos: o cetro, a coroa. Por fim, em 1793, os revolucionários eliminaram o maior símbolo da monarquia: Luís XVI foi guilhotinado.
Há outro aspecto da linguagem evidenciado pela autora: a comunicação entre os cidadãos. Influenciados por Rousseau, os revolucionários acreditavam que uma sociedade ideal era aquela na qual o indivíduo deixaria de lado os seus interesses particulares pelo geral. Entretanto, para que isto fosse possível, era necessário uma “transparência” entre os cidadãos, isto é uma livre comunicação, na qual todos pudessem deliberar publicamente sobre a política. A partir deste pensamento e da necessidade de se romper com as simbologias, rituais e linguagens do Ancien Régime, os revolucionários precisavam educar e, de certa maneira, colocar o povo em um molde republicano. Houve, portanto, uma “politização do dia-a-dia” (Ibid, p.81), no qual as práticas políticas dos revolucionários deveriam ser didáticas, com a finalidade de educar o povo. O âmbito político expandiu-se, portanto, para o cotidiano e, segundo a autora, multiplicaram-se as estratégias e formas de se exercer o poder. E o exercício deste poder demandava práticas e rituais simbólicos: a maneira de se vestir, cerimônias, festivais, debates, o uso de alegorias e, principalmente, uma reformulação dos hábitos cotidianos.
No livro Origens Culturais da Revolução Francesa, Roger Chartier busca compreender algumas práticas que contribuíram para a emergência da Revolução Francesa. Apesar do que sugere o título, o autor não está preocupado em estabelecer uma história linear e teleológica do século XVIII partindo de uma origem específica e fechada; mas em entender as dinâmicas de sociabilidade, de comunicação, de processos educacionais e de práticas de leitura que contribuíram para um universo mental, político e cultural dos franceses naquele período. Dentre os vários capítulos de sua obra, trago aqui algumas ideias principais do capítulo Será que livros fazem revoluções? para complementar a perspectiva de Hunt, visto que os dois autores bebem de uma mesma perspectiva.
Assim como Hunt, Chartier também desenvolve em sua introdução um debate historiográfico com os escritos de Tocqueville, Taine e Mornet. No capítulo especifico citado anteriormente, Chartier afirma que estes três autores entenderam a França pré-revolucionária como um processo de internalização das propostas dos textos filosóficos que estavam sendo impressos no momento: “carregadas pela palavra impressa, as novas ideias conquistavam as mentes das pessoas, moldando sua forma de ser e propiciando questionamentos. Se os franceses do final do século XVIII moldaram a revolução foi porque haviam sido, por sua vez, moldados pelos livros” (CHARTIER, 2009, p.115). Contudo, Chartier vai além: propõe que o que moldou o pensamento dos franceses não foi o conteúdo de tais livros filosóficos, mas novas práticas de leituras, um novo modo de ler que desenvolveu uma atitude crítica em relação às representações de ordem política e religiosa estabelecidas no momento. Como foi demonstrado por Hunt, novos significados e conceitos foram reapropriados pela linguagem e retórica revolucionária. Neste sentido, Chartier propõe uma reflexão: talvez tenha sido a Revolução que “fez” os livros, uma vez que ela deu determinado significado a algumas obras.
“Assim, a prática da Revolução somente poderia consistir em libertar a vontade do povo dos grilhões da opressão passada” (HUNT, 2007, p.98). Todavia, seríamos ingênuos de pensar que estes revolucionários almejavam uma igualdade social e política sem hierarquias, na qual todos estivessem em contato pleno com o poder. Focault afirma que o poder não está centralizado, ele constitui-se a partir de uma rede de forças que se relacionam entre si: o poder perpassa por tudo e por todos. Contudo, admite que há assimetrias no exercício e nas apropriações do poder (FOUCAULT, 2006). E neste contexto revolucionário não poderia ser diferente: os republicanos, através de seus discursos, buscaram disciplinar o povo de acordo com seus interesses.
Devemos relembrar que o próprio conceito de política foi ampliado. Neste sentido, Hunt afirma que as eleições estiveram entre as principais práticas simbólicas: “ofereciam participação imediata na nova nação por meio do cumprimento de um dever cívico” (Ibid, p.155). Como consequência disto, expandiu-se a noção do que significava a divisão política e a partir de então diversas denominações surgiram: democratas, republicanos, patriotas, exclusivos, jacobinos, monarquistas, entre vários outros. Mais significante ainda foi a divisão da Assembleia Nacional em “direita” e “esquerda”; termos que perduram até hoje.
Durante este processo surgiu uma nova classe política revolucionária, conforme a autora. Contudo, não devemos pensar esta classe como completamente homogênea: ela é composta por interesses e intenções individuais, mas define-se por oportunidades comuns e papéis compartilhados em um contexto social. “Nessa concepção, os revolucionários foram modernizadores que transmitiram os valores racionalistas e cosmopolitas de uma sociedade cada vez mais influenciada pela urbanização, alfabetização e diferenciação de funções” (Ibid, p.237).
O conteúdo simbólico foi se modificando e se moldando conforme as aspirações revolucionárias durante a década que sucedeu a Revolução. Mas a autora questiona-se como tais transformações foram percebidas e recebidas nas diferentes regiões da França e de que maneira os diversos grupos lidaram com elas. Seria equivocado pensarmos que a cultura política revolucionária foi homogênea em todos os lugares, até porque tal política estava sendo construída no momento. Sendo assim, Hunt também procura contextualizar socialmente a Revolução. Ela nos propõe uma análise da sua geografia política, considerando que “a identidade social fornece importantes indicadores sobre o processo de inventar e estabelecer novas práticas políticas” (Ibid, p.153). Neste sentido, o contexto social da ação política se deu conforme as condições sociais e econômicas; laços, experiências e valores culturais de cada local.
“A Revolução foi, em um sentido muito especial fundamentalmente ‘política’” (Ibid, p.246). O estudo de Hunt nos mostra como as novas formas simbólicas da prática política transformaram as noções contemporâneas sobre o tema. Talvez este tenha sido o principal legado da Revolução Francesa e talvez ela ainda nos fascine porque gestou muitas características fundamentais da política moderna. Ela conclui, portanto, que houve uma revolução na cultura política. Mais do que enxergarmos as origens e resultados da Revolução, é fundamental compreendermos como ela foi pensada pelos revolucionários e de que maneira estes sujeitos históricos se modificaram a si próprios e a própria Revolução.
Nota
1. Resenha produzida para a disciplina de História Moderna II, ministrada pela professora Dra. Silvia Liebel, do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Referências
CHARTIER, Roger. Origens Culturais da Revolução Francesa. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
FOUCAULT, Michel. Estratégia, Poder-Saber. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Carolina Corbellini Rovaris – Graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). E-mail: carolina.hst@hotmail.com
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Resenha de: ROVARIS, Carolina Corbellini. Outros olhares acerca da Revolução Francesa. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.12, p.284-288, jan. / jul., 2013. Acessar publicação original [DR]
Historia y Justicia | [?] | 2013
La Revista Historia y Justicia (Santiago, 2013-) es una publicación bianual que se ocupa del encuentro entre los campos científicos de la historia y de la justicia. Nace de preocupaciones compartidas por historiadoras/es es que trabajan desde archivos judiciales y legales entre otras, en Chile y otros países de habla castellana, y cubre un amplio periodo: desde fines del siglo XVI hasta tiempos actuales.
Sin limitarse a dicha área cultural, ni a la historia de la justicia en sentido estricto, se concibe como un espacio de publicación de textos inéditos que contribuyen a pensar la articulación entre historia y justicia, es decir, que analicen sus problemáticas, actores y prácticas a través del tiempo, desde la época moderna o inicio del periodo colonial, hasta el presente.
Su dimensión internacional se orienta hacia el conjunto de los países hispanoparlantes. Apoyada en el trabajo profesional de evaluadores pares anónimos, la revista publica resultados de investigación bajo la forma de dossiers temáticos o artículos autónomos.
Periodicidade semestral.
Acesso livre
ISSN 0719-4153
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos







![História e Diversidade | UNEMAT | [2014]-2018 6 Historia e Diversidade](https://www.resenhacritica.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Historia-e-Diversidade.jpg)

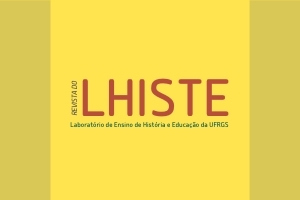



















![Historia y Justicia | [?] | 2013 28 Historia y Justicia](https://www.resenhacritica.com.br/wp-content/uploads/2013/01/Historia-y-Justicia.jpg)